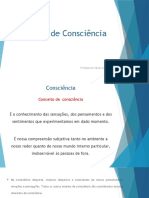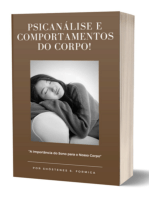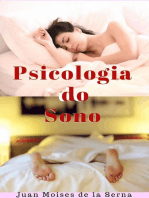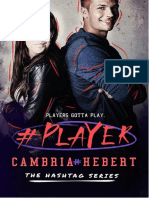Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
1 o Sono Normal1
1 o Sono Normal1
Enviado por
Felipe Duarte Augusto0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações12 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações12 páginas1 o Sono Normal1
1 o Sono Normal1
Enviado por
Felipe Duarte AugustoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 12
O SONO NORMAL
THE NORMAL SLEEP
Regina Maria Frana Fernandes
Docente. Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Mdica. Faculdade de Medicina de Ribeiro Preto USP.
CORRESPONDNCIA: Disciplina de Neurologia. Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Mdica. Hospital das Clnicas da
Faculdade de Medicina de Ribeiro Preto USP.
Avenida Bandeirantes, 3900. Campus Universitrio Monte Alegre. CEP 14048-900 Ribeiro Preto, SP, Brasil.
Fones: 016-36022546 / Fax: 016-36330866 / email: rmfferna@fmrp.usp.br.
Fernandes RMF. O sono normal. Medicina (Ribeiro Preto) 2006; 39 (2): 157-168.
RESUMO: O sono um estado fisiolgico cclico, caracterizado no ser humano por 5 estgios
fundamentais, que se diferenciam de acordo com o padro do eletrencefalograma (EEG) e a
presena ou ausncia de movimentos oculares rpidos (rapid eye movements : REM), alm de
mudanas em diversas outras variveis fisiolgicas, como o tono muscular e o padro cardio-
respiratrio. O EEG mostra alentecimento progressivo com o aprofundamento do sono sem
movimentos oculares rpidos (No-REM) e atividade rpida dominante de baixa voltagem, se-
melhante da viglia, durante o sono REM. Um ciclo noturno previsvel de 90 minutos marca a
variao entre os 4 estgios do sono No-REM para o sono REM, descrevendo uma arquitetura
caracterstica, com propores definidas de cada estgio, que variam segundo a faixa etria. Um
bio-ritmo neuroqumico acompanha as variaes circadianas do chamado ciclo viglia-sono,
com mudanas especficas da temperatura corporal e da secreo de diversos hormnios e
neurotransmissores, relacionados aos diferentes estgios do sono e da viglia. O conhecimento
dos aspectos fisiolgicos e das variaes patolgicas deste ciclo complexo deu margem ao
desenvolvimento da Medicina do Sono e compe as bases do estudo dos distrbios do sono na
prtica clnica.
Descritores: Sono; fisiologia. Fases do Sono. Sono REM. Ritmo Circadiano. Movimentos
Oculares.
157
Medicina, Ribeiro Preto, Simpsio: DISTRBIOS RESPIRATRIOS DO SONO
39 (2): 157-168, abr./jun. 2006 Captulo I
1 INTRODUO
O sono um estado fisiolgico especial que
ocorre de maneira cclica em uma grande variedade
de seres vivos do reino animal, tendo sido observados
comportamentos de repouso e atividade, compondo
um ciclo viglia-sono rudimentar, em animais to infe-
riores na escala zoolgica como os insetos. Mas, a
caracterizao do sono por parmetros eletrofisiol-
gicos j foi feita em anfbios, rpteis e mamferos, alm
do ser humano.
Definir o sono no tarefa simples, seja sob o
ponto de vista fisiolgico, seja com base na descrio
comportamental do indivduo que dorme. Assim, como
veremos adiante, algumas fases do sono mostram ca-
ractersticas eletrofisiolgicas semelhantes s da vig-
lia (no eletrencefalograma, no padro respiratrio, na
presena de movimentos oculares e de alguns movi-
mentos corporais), diferindo de outras etapas do sono,
em que h completa quietude e elevado teor de ondas
lentas no eletrencefalograma (EEG). Isto evidencia a
natureza no homognea de diferentes etapas do sono,
quando avaliado por registros poligrficos, dificultan-
do uma definio simplista deste estado.
Do mesmo modo, podemos dizer que, em sono,
os indivduos apresentam-se imveis, ou com um re-
158
Fernandes RMF
pertrio limitado de movimentos, os quais so de natu-
reza involuntria, automtica, sem propsitos defini-
dos. A reatividade a estmulos auditivos, visuais, tc-
teis e dolorosos reduzida ou abolida em relao
viglia, particularmente em fases de sono profundo,
sendo necessrio o aumento da intensidade do est-
mulo para trazer o indivduo de volta viglia, o que
nem sempre observado, mesmo sob estimulao in-
tensa, particularmente nas crianas. Durante o sono,
o indivduo mantm-se de olhos fechados ou entrea-
bertos e no mostra interao produtiva com o ambi-
ente. Nestes termos, o sono pode ser visto como um
estado similar ao coma, especialmente nos casos de
coma de menor profundidade, em que no h com-
prometimento das funes cardio-respiratrias. Assim,
o grande diferencial entre tais estados, simples ob-
servao do ser que dorme, a caracterstica de re-
verso espontnea e mais ou menos programada ao
longo do tempo do estado de sono para a viglia, o que
no o caso do coma.
A evoluo do conhecimento sobre o sono, tan-
to em mbito experimental, quanto na prtica clnica,
foi possvel a partir do domnio sobre o registro das
ondas cerebrais atravs do EEG, o que permitiu a dis-
criminao objetiva entre viglia relaxada e sono, bem
como, entre os seus diferentes estgios. Tal conheci-
mento culminou, ao longo do sculo XX, com o desen-
volvimento de registros poligrficos, valendo-se de
outras variveis funcionais alm do EEG, para a docu-
mentao da fisiologia do sono e a melhor caracteri-
zao dos seus distrbios, com o nascimento da Me-
dicina do Sono.
2- DADOS HISTRICOS
O primeiro registro das ondas cerebrais na su-
perfcie do crnio foi obtido pelo neuropsiquiatra ale-
mo, Hans Berger, em 1929 (apud Niedermeyer E,
2005)
1
, marcando o incio da eletrencefalografia, que
foi incorporada prtica clnica partir de 1930.
Berger j havia ressaltado as diferenas entre as on-
das cerebrais registradas na viglia e durante o sono,
no qual dominavam ondas lentas e de amplitude cres-
cente, conforme se dava seu aprofundamento. Assim,
do ponto de vista do EEG, o sono era vinculado a uma
atividade eltrica cerebral mais lenta e de padro sin-
cronizado, em comparao com a atividade mais
dessincronizada e de baixa voltagem da viglia. Estes
dados foram reforados pelos trabalhos bsicos de-
senvolvidos em gatos por Frederick Bremer, em 1935
e 1936
2
. O autor fez duas preparaes nestes ani-
mais, uma com seco da parte inferior do bulbo, de-
nominada encphale isol, e outra com seco em
nvel mesenceflico, logo acima da origem dos nervos
oculomotores, a que denominou cerveau isol. Na
primeira preparao, foi observada manuteno de uma
atividade eltrica cortical dessincronizada, com ritmos
rpidos e irregulares, em resposta a estmulos visuais,
olfativos, vestibulares, auditivos e msculo-cutneos.
No cerveau isol, os estmulos ficaram restritos s
esferas olfativa e visual, no sendo suficientes para
elicitar um padro de viglia no EEG, que mostrava
atividade lenta sincronizada, como num sono profun-
do. Assim, o autor postulou que o sono seria a repro-
duo de um estado de deaferentao cortical rever-
svel. Ao mesmo tempo, estudos em controles nor-
mais e pacientes com queixas diversas relativas ao
sono estavam sendo realizados por Kleitman e cola-
boradores, na Universidade de Chicago, desde o ano
de 1938
2
. Estes autores faziam diversas tomadas do
EEG durante a noite, na tentativa de avaliar os pa-
dres encontrados no decorrer da mesma, em associ-
ao com o comportamento observado do indivduo.
Kleitman passou a se interessar pelo registro dos mo-
vimentos oculares, juntamente com o EEG, buscando
um outro marcador de profundidade do sono. A razo
disto era o grande campo eltrico produzido no escalpo
pelos movimentos dos globos oculares, muito superior
a qualquer atividade motora detectvel na superfcie
do crnio. Em 1951, Kleitman designou a funo de
observar os movimentos corporais e oculares durante
o sono a seu aluno de graduao, Eugene Aserinsky.
Estes pesquisadores observaram a presena de movi-
mentos oculares em momentos nos quais o paciente
parecia dormir profundamente, em associao com
movimentos corporais e irregularidade respiratria,
inferindo a possvel associao de tais episdios com
a ocorrncia de sonhos. Posteriormente, esta obser-
vao foi comprovada atravs do registro dos movi-
mentos oculares pelo eletro-oculograma (EOG) e do
tono muscular na regio submentoniana, o qual se
mostrava extremamente reduzido, ou abolido, nestes
perodos em que o indivduo freqentemente referia
estar sonhando, caso fosse despertado. Assim,
Aserinsky e Kleitman caracterizaram pela primeira
vez a ocorrncia de um estgio particular durante o
sono em que ocorriam os sonhos, sendo marcado pela
presena de movimentos oculares, alm de atonia ou
hipotonia muscular, o que foi documentado na revista
Science, em 1953
3
. Somente dois anos mais tarde, tais
159
O sono normal
autores estabeleceram diferenciao entre movimen-
tos oculares do sono, numa publicao de 1955
4
, dis-
criminando os movimentos oculares rpidos (do In-
gls: Rapid Eye Movements, ou REM), associados
com o estgio de sono em que ocorriam sonhos, dos
movimentos oculares lentos, registrados no incio do
sono, ou fase I, no-REM. A publicao de 1953 su-
gerindo a existncia do sono REM no mereceu cr-
dito do mundo cientfico, uma vez que o sono era clas-
sicamente associado presena de atividade lenta e
sincronizada no EEG e a idia de um sono profundo
de padro eletrogrfico rpido, dessincronizado, pare-
cia inconcebvel. Aserinsky e Kleitman, associados a
Dement, persistiram em sua pesquisa, desenvolvendo
estudos poligrficos sistemticos do sono, com regis-
tro contnuo durante a noite. Demonstraram a marcada
hipotonia do sono REM, documentando a ausncia do
reflexo H nesta fase e diferenciando-a definitivamen-
te da viglia, do ponto de vista eletroneuromiogrfico.
Em 1957, Dement, Aserinsky e Kleitman descreve-
ram a existncia de um ciclo bsico de sono noturno,
caracterizado pela ocorrncia de sono REM a cada
90 minutos, aps uma seqncia dos estgios do sono
No-REM, repetindo-se 5 a 6 vezes durante a noite, o
que resultou na publicao do trabalho seminal destes
autores com a clssica descrio do sono REM
5
.
O estudo poligrfico do sono, batizado de polis-
sonografia, foi inicialmente aplicado a quadros de so-
nolncia excessiva diurna vinculada especialmente
hiptese de Narcolepsia. Entretanto, em 1965, a
descrio da sndrome da Apnia Obstrutiva do Sono,
por dois grupos independentes, (Gastaut, Tassinari e
Duron, na Frana
6
; Jung e Kuhlo, na Alemanha)
7
,
abriu um campo vasto no conceito de Medicina do
Sono, sendo este um dos distrbios do sono mais
prevalentes, ainda na atualidade. Na verdade, esta sn-
drome foi caracterizada em pacientes com quadros
clnicos j de longa data conhecidos pelos pneumolo-
gistas e genricamente citados como Sndrome de
Pickwick. O conhecimento sobre os distrbios do sono
levou formao de sociedades mdicas internacio-
nais, devotadas Medicina do Sono e elaborao
das classificaes internacionais dos distrbios do sono,
surgindo a primeira em 1990
8
, seguida por outra em
1997
9
e, finalmente, pela mais atual classificao, pro-
posta no ano de 2005
10
. Com esta breve histria sobre
a evoluo do conhecimento referente ao sono e sua
aplicao na Medicina, passaremos a uma descrio
mais objetiva de aspectos relevantes sobre a fisiologia
do sono no ser humano.
3- ESTGIOS DO SONO
A caracterizao das fases do sono pode ser
feita com base em 3 variveis fisiolgicas que com-
preendem o EEG, o EOG e o eletromiograma (EMG)
submentoniano (Figura 1). Atravs delas so caracte-
rizados 2 padres fundamentais de sono: sem movi-
mentos oculares rpidos (NREM) e com movimentos
oculares rpidos (REM). O sono NREM composto
por 4 etapas em grau crescente de profundidade, os
estgios I, II, III e IV. No sono NREM, h relaxamen-
to muscular comparativamente viglia, porm, man-
tm-se sempre alguma tonicidade basal. O EEG exibe
aumento progressivo de ondas lentas, conforme se
avana do estgio I para o estgio IV do sono NREM.
Figura 1: Parmetros essenciais para o estadiamento do
sono. EEG: eletrencefalograma; EOG: eletro-oculograma:
EMG: eletromiograma submentoniano.
Durante a viglia, predomina o ritmo alfa, uma ativida-
de eltrica cerebral em freqncia de 8 a 13 ciclos
por segundo (Figura 2), que passa a se fragmentar,
surgindo em menos de 50% dos trechos analisados,
conforme se inicia a sonolncia superficial, a qual j
se caracteriza como estgio I do sono NREM. Em
seguida, o ritmo alfa desaparece, dando lugar a uma
atividade mista nas faixas de freqncia teta (4 a 7
ciclos por segundo) e beta (acima de 13 ciclos por
segundo), com poucos componentes delta de mdia
amplitude, surgindo as Ondas Agudas do Vrtex, que
marcam a sonolncia profunda, ainda designada de
estgio I do sono NREM (Figura 3). Com o aprofun-
damento para o estgio II, alm de um certo aumento
160
Fernandes RMF
IV compem o chamado sono delta ou de ondas len-
tas, devido ao elevado teor de ondas na faixa de fre-
qncia delta (0,5 a 3,5 ciclos por segundo) de alto
potencial (> 70 microvolts). No estgio III, o EEG
ocupado por 20 a 50% destas ondas (Figura 5), que
passam a se registrar em mais de 50% do traado no
estgio IV (Figura 6), sendo esta a fase mais profun-
da do sono NREM. As caractersticas gerais do sono
NREM so resumidas no Quadro I. Mais detalhes so-
bre estes componentes podem ser vistos no captulo
deste simpsio referente Polissonografia.
Figura 2: Trecho de 30 segundos de viglia em traado polissonogrfico. Observe o predomnio de ritmo alfa nos canais de EEG.
EOG-1 = Eletro-oculograma do olho esquerdo; EOG-2 = Eletro-oculograma do olho direito; EMG = eletromiograma submentoniano;
EEG = canais de eletrencefalograma
Figura 3: Trecho de derivaes EEGrficas (EEG1 e EEG2) em estgio I do sono NREM. EOG-1 e EOG-2= Eletro-oculograma do olho
esquerdo e direito; EMG = eletromiograma submentoniano; Seta = Ondas Agudas do Vrtex.
no componente de ondas delta no traado, surgem os
Fusos de Sono (surtos de atividade rtmica de 12 a 14
ciclos por segundos, com durao mdia entre 1 e 5
segundos) e os Complexos K (ondas lentas bifsicas
de alta amplitude, acompanhadas, ou no, de fusos do
sono, ambos registrados na regio do vrtex e frontal
sagital) (Figura 4). Outros grafoelementos de desta-
que so os chamados POSTS (do ingls, Positive
Occipital Sharp Transients of Sleep: elementos
transientes positivos agudos occipitais do sono), que
podem se manter em todos os estgios. As fases III e
161
O sono normal
Figura 4: Trecho de derivaes EEGrficas (EEG1 e EEG2) em estgio II do sono NREM. EOG-1 e EOG-2 =
Eletro-oculograma do olho esquerdo e direito; EMG = eletromiograma submentoniano; Seta escura = Complexo
K; Seta clara = fuso de sono.
Figura 5: Trecho de derivaes EEGrficas (EEG1 e EEG2) em estgio III do sono NREM. EOG-1 e EOG-2 =
Eletro-oculograma do olho esquerdo e direito; EMG = eletromiograma submentoniano. A atividade do EEG gera
ondas amplas em 20% a 50% de traado.
Figura 6: Trecho de derivaes EEGrficas (EEG1 e EEG2) em estgio IV do sono NREM. EOG-1 e EOG-2 =
Eletro-oculograma do olho esquerdo e direito; EMG = eletromiograma submentoniano. A atividade do EEG gera
ondas amplas em mais de 50% do traado.
162
Fernandes RMF
O sono REM recebe tambm as denominaes
de sono paradoxal e de sono dessincronizado. Apesar
de ser um estgio profundo no tocante dificuldade
de se despertar o indivduo nesta fase, exibe padro
eletrencefalogrfico que se assemelha ao da viglia com
olhos abertos, ou mesmo do sono NREM superficial
(estgio I), sendo este um dos seus aparentes parado-
xos. Alm disto, apesar da atonia muscular que acom-
panha este estgio, observam-se movimentos corpo-
rais fsicos e errticos, de diversos grupamentos mus-
culares, principalmente na face e nos membros, bem
como, emisso de sons. Ou seja, mesmo em meio a
inibio motora, h liberao fsica de atividade mus-
cular de localizao multifocal, outro aparente para-
doxo. O padro predominantemente rpido e de baixa
voltagem das ondas cerebrais neste sono justifica o
termo dessincronizado para o mesmo (Figura 7). En-
contram-se nesta fase as chamadas ondas em dente
de serra, atividade rtmica na faixa delta a teta (habi-
tualmente, 2 a 5 ciclos/segundo) de aspecto serrilhado,
que so uma das marcas do EEG no sono REM. As
caractersticas gerais do sono REM so descritas no
Quadro II. No sono REM, a atividade metablica, ava-
liada por mtodos funcionais e de medida de fluxo san-
gneo cerebral encontra-se aumentada em compara-
o com a da viglia, em diversas reas do encfalo.
Isto demonstra que o sono no pode ser entendido
necessriamente como um estado de repouso, para
economia energtica, em comparao com a viglia,
como se postulava inicialmente.
Figura 7: Trecho de derivaes EEGrficas (EEG1 e EEG2) em sono REM. EOG-1 = Eletro-oculograma do olho esquerdo; EOG-2 = Eletro-
oculograma do olho direito; EMG = eletromiograma submentoniano. A atividade eltrica no EEG constituida por ondas de baixa voltagem.
Seta = movimentos oculares rpidos.
163
O sono normal
4- ARQUITETURA DO SONO
Em condies normais, um indivduo inicia o sono
noturno pelo estgio I do sono NREM, aps um tempo
de latncia aproximada de 10 minutos. Uma latncia
muito baixa para incio do sono NREM pode ocorrer
nos indivduos privados de sono, ou muito cansados,
sendo tambm encontrada em sndromes que cursam
com sono no reparador, como os distrbios respirat-
rios do mesmo. Aps uns poucos minutos em sono I,
h o aprofundamento para o sono II, em que se torna
mais difcil o despertar do indivduo. Aps 30 a 60 mi-
nutos, instala-se o sono de ondas lentas, respectiva-
mente, os estgios III e IV, com interpenetraes de
ambos no decorrer desta etapa mais profunda do sono
NREM. Passados aproximadamente 90 minutos, acon-
tece o primeiro sono REM, que costuma ter curta du-
rao no incio da noite (5 a 10 minutos), completan-
do-se o primeiro ciclo NREM-REM do sono noturno
(Figura 8). A sada do sono REM pode se fazer com
intruso de microdespertares (3 a 15 segundos de du-
rao), sem um despertar completo do paciente, mu-
dando-se para o estgio I e, em seguida, o estgio II
do sono NREM, ou passando diretamente para este
ltimo estgio e, em seguida, aprofundando-se nova-
mente nos estgios III e IV. Desta forma, cumprem-
se cerca de 5 a 6 ciclos de sono NREM-REM, duran-
te uma noite de 8 horas de sono. Os despertares po-
dem ocorrer a qualquer momento durante o sono, a
partir de qualquer estgio, seja de forma espontnea,
ou eventualmente provocada por fatores extrnsecos
Movimentos oculares de padro lento e ondu-
lante marcam o estgio I do sono NREM (Figura 3),
enquanto os movimentos rpidos do sono REM so
salvas de abalos amplos e multidirecionais dos globos
oculares (Figura 7). A respirao regular partir da
fase II do sono NREM, atingindo-se mxima regulari-
dade cardio-respiratria no sono profundo de ondas
lentas, fase IV. Por outro lado, o sono REM marca-
do por irregularidades do padro respiratrio, com
episdios de bradipnia, alternados com taquipnia e
pausas centrais, inferiores a 10 segundos, em que h
interrupo transitria do esforo respiratrio. Uma
irregularidade fisiolgica na freqncia cardaca co-
mumente acompanha a variabilidade respiratria do
sono REM. Neste, ocorre tambm tumescncia pe-
niana e clitoriana, que no so documentadas em re-
gistros polissonogrficos de rotina.
Os sonhos so uma manifestao de contedo
visual, auditivo, verbal, somestsico e emocional, em
geral, com enredo seqencial, passvel de rememora-
o pelo paciente e de ativao autonmica, relacio-
nada ao seu contedo (Exemplo: ativao simptica
em sonhos que elicitam sensaes de medo ou apre-
enso). Pode haver emisso de sons ou de fala duran-
te os mesmos e a possibilidade de recapitulao dos
sonhos varivel, dependendo da durao do perodo
REM em que ocorrem (maior quanto mais longo o
perodo), ou de seu significado do ponto de vista afeti-
vo, referente a memrias relevantes do indivduo e,
ainda, na dependncia de ocorrer um despertar cons-
ciente no decorrer ou no final do perodo REM em que
o sonho se manifesta.
A exata funo e significa-
do dos sonhos ainda no pde ser
explicada de forma objetiva pela
medicina, havendo, contudo, evi-
dncias de que ele seja importante
na reorganizao sinptica e pro-
cessamento de funes plsticas,
referentes homeostase em reas
cerebrais relacionadas com mem-
ria, aprendizado e funes psqui-
cas. A interpretao dos sonhos,
baseada nas relaes causais en-
tre determinantes internos e exter-
nos da vida psquica do indivduo e
do chamado inconsciente, foi e ain-
da motivo de grandes especula-
es e pesquisa clnica na rea de
Psiquiatria. Porm, tal aprofunda-
mento foge ao escopo deste texto.
Figura 8: Hipnograma do sono noturno
Fase I
Fase II
Fase III
Fase IV
164
Fernandes RMF
Figura 9: Curva de variao da temperatura corporal ao longo das 24 horas do dia.
(exemplo: rudo) ou eventos patolgicos (como apni-
as, conforme citado em captulos seguintes). comum
que o indivduo no tenha conscincia destes desper-
tares, especialmente quando de curta durao e no
relacionados com eventos anormais (pesadelos, qua-
dros respiratrios, etc...).
Na primeira metade da noite, ocorre sono de
ondas lentas, estgios III e IV, em alternncia com os
demais estgios, como se pode observar no hipnograma
da Figura 9. Porm, o sono delta, III e IV, tende a no
mais ocorrer na segunda metade da noite e no ama-
nhecer, quando h alternncia entre os estgios I, II e
REM, especialmente nos adultos. Em crianas at o
perodo escolar, comum a ocorrncia de sono de
ondas lentas ainda no final da madrugada, em geral,
de menores durao e profundidade do que na primei-
ra metade da noite. Nos idosos, pode haver mudanas
na arquitetura do sono, de tal forma que o sono IV no
mais se registra, havendo reduo de sono III e au-
mento do nmero de despertares noturnos. Isto expli-
ca em parte porque alguns idosos so mais sonolentos
durante o dia, em vista de mudanas na fisiologia do
sono com a idade, sem relao necessria com pato-
logia definida. Por outro lado, esta no uma regra
geral e muitos idosos podem manter uma arquitetura
relativamente preservada como no padro do adulto.
Alm disto, a avaliao cuidadosa costuma identificar
a presena de alteraes psquicas (depresso, ansie-
dade), fsicas (dores, distrbios respiratrios do sono,
problemas urinrios, quadros neurolgicos) provocan-
do a fragmentao do sono do idoso, com aumento
dos despertares e superficializao do sono. Assim,
este conceito geral sobre mudanas do hipnograma
com o envelhecimento deve ser aceito com ressalvas.
As propores de cada estgio do sono duran-
te uma noite tpica, sem fenmenos anormais e com
durao compatvel com as necessidades do indivduo
so: 5 a 10% de estgio I, 50 a 60% de estgio II, 20
a 25% de estgios III e IV, em conjunto, e 20 a 25%
de estgio REM. A chamada eficincia de sono com-
preende a proporo do tempo em que um indivduo
dorme, em relao ao tempo total e que se manteve
na cama para o sono noturno. considerada normal a
partir de 85%. Entretanto, uma eficincia de 100%
rara, considerando-se a presena de despertares no-
turnos, mesmo que inconscientes.
A necessidade diria de sono varia de acordo
com a idade e de forma individual. O recm-nascido
prematuro, at a idade ps-concepcional de 32 sema-
nas, apresenta apenas o sono REM. Ao nascer, este
ainda predomina sobre o NREM, que aumenta pro-
gressivamente em propores no decorrer dos primei-
ros meses de vida, at atingir as propores do adulto,
por volta do segundo ano. O neonato dorme cerca de
80% do perodo das 24 horas de um dia, intercalando
a viglia de acordo com seu ciclo alimentar, mais ou
menos a cada 3 ou 4 horas. No decorrer do primeiro
ano, h aumento no tempo de viglia durante o dia e do
165
O sono normal
perodo de sono sustentado noite. O lactente dorme
13 a 15 horas por dia, contando com uma mdia de
dois perodos de sono diurno; o pr-escolar dorme
entre 12 e 13 horas, habitualmente com um perodo de
sono diurno. A necessidade diria de sono da criana
escolar situa-se entre 10 e 12 horas, no perodo no-
turno, havendo grande resistncia ao sono no decor-
rer do dia, nesta faixa etria. Isto resulta em difi-
culdade de se observar sonolncia excessiva diurna
em crianas escolares com distrbios que reduzem a
quantidade total de sono. Nestes contextos, mais co-
mumente elas manifestaro irritabilidade, dficits de
ateno e de aprendizado do que franca sonolncia
diurna. A necessidade diria de sono do adolescente
situa-se em torno de 8 e 10 horas, sendo este mais
propenso ao sono no perodo da tarde do que o esco-
lar. Entre os adultos, a necessidade diria de sono va-
ria de 5 a 8 horas, em mdia. A maioria dos adultos
no se sente completamente refeito de sua necessi-
dade de sono com menos de 7 horas por dia, embora
as demandas socio-culturais habitualmente o impinjam
a dormir menos do que sua necessidade endgena.
Pessoas com necessidade de sono muito reduzida
como 3 horas/dia, sem qualquer comprometimento f-
sico, mental ou intelectual, so raras.
A privao total do sono em uma noite leva ao
fenmeno de rebote de sono, nas duas noites seguin-
tes: assim, h tendncia a aumento nas propores de
sono REM, na noite seguinte privao, e aumento
do sono NREM na segunda noite, voltando-se ar-
quitetura normal do sono noturno somente na terceira
noite. Isto algo problemtico para trabalhadores no-
turnos, que mudam de turno freqentemente, sem um
esquema fixo. Eles podem exibir uma arquitetura de
sono sempre conturbada, alm de sintomas de cansa-
o, irritabilidade, alteraes de intelecto e sonolncia
excessiva diurna, alternada com insnia.
5- CRONOBIOLOGIA E CICLO CIRCADIANO
A capacidade do indivduo de adequar seu ci-
clo de sono e viglia ao ciclo noite-dia da terra guia-
da por diversos elementos externos e internos que in-
teragem para a manuteno de um ciclo circadiano
(do latim: circa = em torno de; dies = do dia). Assim,
a luminosidade e o calor do dia, a escurido e a redu-
o da temperatura ambiental noite, as variaes de
incidncia de luz no decorrer do dia, os relgios, os
sons das cidades e de animais (galo, pssaros, etc...)
so elementos que nos condicionam a manter um rit-
mo de atividade alternada com repouso e intercalada
com funes de ingesto e eliminao, dentro do pa-
dro circadiano.
Experimentos com voluntrios humanos em
ambientes dos quais so retirados todos estes elementos
indicadores do ciclo dia-noite mostram que, no ser
humano, o ciclo endgeno situa-se em torno de 25
horas, no obedecendo necessariamente as 24 horas
do dia geolgico. Tais ambientes experimentais eram
inicialmente cavernas com acampamento improvisa-
do com luz artificial, ou, mais modernamente, aparta-
mentos fechados e isolados de qualquer som ou luz
externos, bem como, desprovidos de relgio, TV ou
Internet, que possam dar pistas ao indivduo sobre os
horrios do dia. Nesta situao, observa-se que os
sujeitos comeam a organizar suas atividades de modo
a iniciar seu sono noturno com atraso de uma hora a
cada dia, em relao ao dia anterior, perfazendo um
perodo de 25 horas, a contar do momento do desper-
tar aps perodo de sono sustentado, correspondente
ao sono noturno, at o prximo despertar. No final de
um perodo de 25 dias, o sujeito entra novamente no
horrio em que comeou o experimento. Este o cha-
mado ciclo livre ou free running cycle, como cita-
do na literatura em Ingls. Algumas pessoas tm difi-
culdades de sincronizar seu ciclo circadiano de repou-
so-atividade, ou viglia-sono com o ciclo geolgico e
social, mesmo diante de todos os parmetros de con-
dicionamento encontrados no ambiente. Assim, tm
um perodo de sono irregular, com tendncia a sempre
atrasar uma hora a cada dia em relao ao momento
do incio do sono noturno. Tal dificuldade, quando
endgena e no provocada por m-higiene do sono,
tem sido classificada como um distrbio do ciclo
circadiano, designado ciclo diferente de 24 horas.
Do ponto de vista endgeno, o organismo hu-
mano apresenta ciclos complexos de secreo hor-
monal e de neurotransmissores, bem como, padres
de atividade de determinados centros enceflicos, que
se acoplam aos sincronizadores externos para permi-
tir uma variao do bio-ritmo de repouso e atividade,
em sintonia com o ciclo circadiano da terra. Um dos
centros enceflicos mais importantes nesta sincroni-
zao o ncleo supra-ptico, no hipotlamo anterior,
que recebe impulsos luminosos carreados pelo nervo
ptico, tendo a luz como um dos elementos que con-
trolam o funcionamento deste centro. Os estmulos
luminosos tambm atuam sobre a glndula pineal, que
secreta a melatonina, um neuro-hormnio implicado
na cronobiologia do ciclo viglia-sono. A secreo de
166
Fernandes RMF
melatonina segue um padro programado, influencia-
do pela luminosidade ambiental, com seu pico mximo
nas primeiras horas da noite, participando da tendn-
cia do indivduo a conciliar o sono. Este pico consi-
derado um dos portes de entrada no sono. Assim,
se um indivduo fora o estado de viglia, lutando con-
tra o sono neste momento propcio, perde a entrada
atravs deste porto determinado pelo pico de secre-
o de melatonina, tendo dificuldades de conciliao
do sono aps. Obviamente, a melatonina no o nico
elemento determinante desta periodicidade do ciclo vi-
glia-sono no ser humano, mas certamente reconhe-
cida como um dos neuro-hormnios mais importantes.
Alguns hormnios e neurotransmissores tm sua
secreo vinculada ao ciclo viglia-sono, facilitando o
estado de viglia ou o estado de sono. Assim, nas pri-
meiras horas da manh, h aumento da secreo do
hormnio tireoideano, de cortisol e de insulina, que so
facilitadores da viglia, seja por aumento da taxa me-
tablica para a iniciao das atividades do dia, ou indi-
retamente pelo aumento da glicemia e da utilizao de
glicose pelas clulas
11
.
O hormnio do crescimento tem seu pico de
secreo durante o sono NREM de ondas lentas, as-
sim como a testosterona. Distrbios que levam frag-
mentao do sono em crianas (como asma brnqui-
ca e distrbios respiratrios do sono) podem ter re-
percusses negativas no crescimento pondo-estatural
das mesmas. Tambm, os sintomas de disfuno ertil
masculina encontrados no contexto da Sndrome da
Apnia Obstrutiva do Sono, embora de fisiopatogenia
complexa, que tambm envolve ativao simptica
repetitiva durante as apnias e fatores psicognicos,
podem ter em parte relao com dficit de testosterona
decorrente de privao crnica de sono. O hormnio
antidiurtico tambm tem seu pico de secreo notur-
na, o que, numa viso teleolgica, pode se relacionar
com a necessidade de se reduzir a produo de urina
durante a noite, evitando-se o despertar causado pela
plenitude vesical. Especula-se que crianas com enu-
rese noturna idioptica possam ter imaturidade neste
controle da secreo noturna do hormnio antidiurti-
co. Alguns peptdeos produzidos no trato gastro-intes-
tinal, durante o processo de digesto, como a colecis-
tocinina e a bombesina, atingem a circulao sang-
nea e so comprovadamente indutores do sono NREM.
Isto explica em parte a sonolncia ps-prandial, alm
da mar alcalina do sangue provocada pelo aumento
da secreo gstrica.
Outros neuro-transmissores so importantes na
induo do sono, como a hipocretina, ou orexina, a
beta-endorfina, a encefalina, a dinorfina e a prosta-
glandina D2, e da viglia, como a substncia P, o fator
de liberao da corticotrofina (CRF), o fator de libe-
rao da tireotrofina (TRF) e o peptdeo intestinal
vasoativo (VIP). Maior aprofundamento neste tema
foge aos objetivos deste texto
11
.
Dentre tantos mecanismos endgenos sincro-
nizadores do ciclo viglia-sono, destaca-se a curva de
variao da temperatura corporal interna. Esta sofre
mudanas em torno de meio grau centgrado nas 24
horas, o que suficiente para facilitar ou dificultar a
ocorrncia de sono, conforme se observa na Figura 9.
Nas primeiras horas da manh, a curva comea a as-
cender, facilitando a manuteno da viglia. A tempe-
ratura interna mxima atingida no perodo da tarde,
entre as 16:00 e 18:00 horas, comeando a decair len-
tamente partir do incio da noite. Esta queda
facilitadora da conciliao do sono. Na madrugada, o
indivduo atinge a temperatura corporal interna mais
baixa, o que favorecedor do sono REM. Esta queda
trmica ocorrer mesmo que a pessoa se mantenha
acordada em determinada noite. A seguir, partir das
6:00 horas da manh, a temperatura comea a ascen-
der, facilitando o despertar matinal
11
.
Um indivduo que mude subitamente para um
fuso horrio muito diferente ter que se ajustar do ponto
de vista neuroqumico e da curva trmica a um novo
bio-ritmo. Enquanto isto, tender a sentir sonolncia
excessiva em horrios em que deveria estar desperto
e insnia no perodo destinado ao sono. Um exemplo
banal a ocorrncia de despertar, com sensao de
calor, por volta das 2:00 da manh, em indivduos que
viajaram de So Paulo para a Califrnia nos meses de
vero do Brasil, quando h diferena de 6 horas entre
os dois locais. Mesmo cansados do processo de via-
gem e atividades dirias, tais indivduos tendem a des-
pertar por volta das 2:00 horas da manh, que cor-
responderia s 8:00 horas de seu horrio original, em
decorrncia de elevao de temperatura corporal, pico
de cortisol, de hormnio tireoideano e insulina neste
horrio. Por outro lado, existe grande chance destas
pessoas sentirem sonolncia insuportvel por volta das
16:00 horas, que corresponderiam s 22:00 horas do
seu horrio original. Os sintomas decorrentes dos
desajustes de fusos horrios so considerados ainda
mais intensos em viagens no sentido do leste. Isto ilustra
o fato de que o ciclo viglia-sono regido por bio-ritmo
neuroqumico e funcional complexo, que no tolera
desajustes abruptos e requer um tempo de adaptao
s mudanas impostas por novos hbitos ou por gran-
des mudanas de fusos horrios.
167
O sono normal
6- CENTROS ENCEFLICOS GERADORES
DO SONO
Em linhas gerais, o estado de viglia promovi-
do pela ativao constante do sistema reticular ascen-
dente do tronco enceflico, em decorrncia de est-
mulos diversos que adentram a formao reticular.
Todos os estmulos somato-sensoriais, como o prprio
fato do indivduo estar em posio ereta, com a esti-
mulao proprioceptiva caracterstica, bem como, os
estmulos visuais, auditivos, olfativos, gustativos e ves-
tibulares, so carreados ao tlamo e ao crtex cere-
bral, promovendo a viglia. Outros centros que condu-
zem estimulao ao crtex promotora da viglia so: -
o hipotlamo posterior, que contm neurnios histami-
nrgicos, cuja inibio pelos anti-histamnicos induz ao
sono; -o ncleo basal de Meynert e o ncleo septal,
nas pores basais e anteriores do diencfalo. A ativi-
dade tnica de neurnios catecolaminrgicos e coli-
nrgicos da substncia reticular ativadora ascendente
modula a ativao de neurnios destes centros sub-
corticais e do crtex cerebral, promovendo a viglia.
O sono NREM, ou sincronizado, iniciado pela
ativao de neurnios serotoninrgicos da rafe no tron-
co enceflico, que inibem a transmisso de impulsos
sensoriais para o crtex cerebral, diretamente, ou atra-
vs do tlamo, assim como inibem a atividade motora.
A transmisso sinptica atravs do tlamo obliterada
durante a sonolncia e bloqueada no sono de ondas
lentas. Neurotransmissores como a adenosina e o
GABA (cido gama-amino-butrico), os opiides en-
dgenos, a somatostatina e o hormnio alfa-melanoc-
tico-estimulante facilitam o sono NREM. Neurnios
que contm adenosina, situados no hipotlamo, so
sensveis a bloqueadores do receptor de adenosina,
como a cafena e as xantinas, que atuam inibindo o
sono. Os benzodiazepnicos ligam-se a receptores
gabargicos ps-sinpticos, facilitando o sono NREM.
O sono REM caracterizado por uma cascata
de fenmenos, desencadeados principalmente na por-
o lateral do ncleo reticular pontino oral, situado
ventralmente ao locus ceruleus (rea peri-locus-
ceruleus). No sono REM, a inibio talmica sobre o
crtex revertida, como na viglia, gerando o padro
dessincronizado no EEG. Neurnios da rea peri-
locus-ceruleus estimulam clulas inibitrias do n-
cleo reticular magnocelular da ponte que, atravs do
trato tegmento-reticular, inibem os motoneurnios
medulares, causando a atonia muscular. A rede de
neurnios do tronco enceflico que promovem a inibi-
o do tono muscular no sono REM usa acetilcolina e
glutamato como seus principais neurotransmissores.
A ativao de neurnios das pores dorso-la-
terais da ponte, adjacentes ao brao conjuntivo, co-
nhecida como rea peribraqueal X, estimula a produ-
o de potenciais eltricos no corpo geniculado late-
ral, relacionados com funes visuais, e no crtex ce-
rebral, principalmente occipital. Este sistema, relacio-
nado com a produo de potenciais eltricos conheci-
dos como ondas ponto-geniculo-occipitais, parece es-
tar envolvido na produo dos movimentos oculares
rpidos e na gerao do contedo visual dos sonhos.
A complexidade dos sistemas enceflicos ge-
radores da viglia e dos sonos NREM e REM ainda
vem sendo elucidada atravs de pesquisa bsica e os
dados acima citados fornecem apenas uma viso
simplista do conhecimento atual sobre os centros
enceflicos controladores do sono e da viglia
11,12
.
Fernandes RMF. The normal sleep. Medicina (Ribeiro Preto) 2006; 39 (2): 157-168.
ABSTRACT: Sleep is a cyclic state characterized in the human being by 5 fundamental stages,
based on the electroencephalogram (EEG) pattern and the presence or absence of rapid eye
movements (REM), as well as changes in other physiologic variables, like muscle tonus and
cardio-respiratory pattern. The EEG shows progressive slowing with the deepening of the sleep
without rapid eye movements (Non-REM) which evolves into REM sleep each 90 minutes during
night sleep, comprising a predictable nocturnal sleep architecture, with definite proportions of
each sleep stage. A neurochemical bio-rhythm follows sleep-wake cycle, with changes in body
temperature and variations in the secretion pattern of neurotransmitters and hormones, related to
different stages of sleep and wakefulness. The knowledge about physiological features and
pathological variations of this complex cycle has enabled the development of Sleep Medicine and
has given basis to the study of sleep disorders.
Keywords: Sleep; physiology. Sleep Stages. Sleep, REM. Circadian Rhythm. Eye Movements.
168
Fernandes RMF
REFERNCIA
1 - Niedermeyer E. Historical aspects. In: Niedermeyer E, Silva
FL, eds. Electroencephalography, basic principles, clinical
applications and related fields. 5
th
ed. Baltimore: Lippincot
Williams & Wilkins; 2005. p. 1-15.
2 - Dement WC. History of sleep physiology and medicine. In:
Kryger MH, Roth T, Dement WC, eds. Principles and practice
of sleep medicine. 4
th
ed. Philadelphia: Elsevier Saunders;
2005. p. 1-12.
3 - Aserinsky E, Kleitman N. Regularly occurring periods of eye
motility, and concomitant phenomena, during sleep. Science
1953; 118: 273-4.
4 - Aserinsky E, Kleitman N. Two types of ocular motility occur-
ring in sleep. J Appl Physiol 1955; 8: 11-8.
5 - Dement W, Kleitman N. Cyclic variations in EEG during sleep
and their relation to eye movements, body motility, and dream-
ing. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1957; 9: 673-90.
6 - Gastaut H, Tassinari C, Duron B. tude polygraphique des
manifestations episodiques (hypniques et respiratoires) du
syndrome de Pickwick. Rev Neurol 1965; 112: 568-79.
7 - Jung R, Kuhlo W. Neurophysiological studies of abnormal
night sleep and pickwickian syndrome. Prog Brain Res 1965;
18: 140-59.
8 - Diagnostic Classification Steering Committe. International
Classification of Sleep Disorders. Diagnostic and Coding
Manual. Rochester, Minn.: American Sleep Disorders Asso-
ciation; 1990.
9 - American Sleep Disorders Association. International Classi-
fication of Sleep Disorders. Diagnostic and Coding Manual,
Revised. Rochester, Minn.: American Sleep Disorders As-
sociation; 1997.
10 - American Academy of Sleep Medicine. International Classifi-
cation of Sleep Disorders: Diagnostic and Coding Manual,
2
nd
ed. Westchester, Ill: American Academy of Sleep Medi-
cine; 2005.
11 - Culebras A. The biology of sleep. In: Culebras A, ed. Clinical
handbook of sl eep di sorders. Oxford: Butterworth-
Heinemann, 1996. p. 13-5.
12 - Jones BE. Brain mechanisms of sleep-wake states. In: Kryger
MH, Roth T, Dement WC, eds. Principles and practice of
sleep medicine. 4
th
ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2005.
p 136-53.
Você também pode gostar
- Bíblia Dos Candles PDFDocumento168 páginasBíblia Dos Candles PDFÁlvaro Neto67% (90)
- Projeto de Vida DinâmicasDocumento134 páginasProjeto de Vida DinâmicasMichelli Stuchi De Souza100% (5)
- Esboços Bíblicos de Salmos - C. H. SpurgeonDocumento58 páginasEsboços Bíblicos de Salmos - C. H. SpurgeonRobert Brenner0% (1)
- Saia Da Sua Mente e Entre Na Sua Vida PreviewDocumento29 páginasSaia Da Sua Mente e Entre Na Sua Vida Previewdumkoliveira92% (13)
- Atividade AssincronaDocumento2 páginasAtividade AssincronaBrendo Calado da Silva100% (1)
- Neurofisiologia Do Sono PDFDocumento11 páginasNeurofisiologia Do Sono PDFYasmin Oliveira100% (1)
- CEFALÉIA - José Geraldo SpecialiDocumento475 páginasCEFALÉIA - José Geraldo SpecialiClaudio LopesAinda não há avaliações
- Desvio Produtivo Do Consumidoer PDFDocumento17 páginasDesvio Produtivo Do Consumidoer PDFadriano silvaAinda não há avaliações
- Aula 8 - Sono e Vigília - Relógio BiológicoDocumento19 páginasAula 8 - Sono e Vigília - Relógio BiológicoGiovanna Amaral MarquesAinda não há avaliações
- Fisioterapia Nos Distúrbios Respiratórios...Documento32 páginasFisioterapia Nos Distúrbios Respiratórios...cesar fialhoAinda não há avaliações
- Vigilia e Sono 2Documento4 páginasVigilia e Sono 2api-26429188100% (1)
- Sono Normal e PaotológicoDocumento98 páginasSono Normal e Paotológicogabrielvflima07Ainda não há avaliações
- 6 - Atividades Humanas Básicas - Sono e RepousoDocumento26 páginas6 - Atividades Humanas Básicas - Sono e Repousocaetanodiana907Ainda não há avaliações
- Fisiologia Humana e AnimalDocumento11 páginasFisiologia Humana e AnimalcosmedafatimaAinda não há avaliações
- 8-Neurofisiologia Do Sono e HormonalDocumento38 páginas8-Neurofisiologia Do Sono e HormonalValeskaSenaAinda não há avaliações
- Sono Normal e Transtornos Do Sono-VigíliaDocumento100 páginasSono Normal e Transtornos Do Sono-Vigíliagabrielvflima07Ainda não há avaliações
- Sono e CanabidiolDocumento21 páginasSono e CanabidiolMateus MagalhãesAinda não há avaliações
- Resumo Sono e VigíliaDocumento5 páginasResumo Sono e VigíliaLevi Sena100% (1)
- Sonho e SonhosDocumento3 páginasSonho e SonhosIuri GabrielAinda não há avaliações
- O Sono e Sua Relação Com o Comportamento NoDocumento17 páginasO Sono e Sua Relação Com o Comportamento NoOberlandio AquinoAinda não há avaliações
- Fisiologia Do SonoDocumento8 páginasFisiologia Do SonoCarla Dal PiazAinda não há avaliações
- Cromoterapia Narcolepsia Valcapelli)Documento31 páginasCromoterapia Narcolepsia Valcapelli)Patricia Cardoso100% (1)
- A Biologia Do Sono RemDocumento10 páginasA Biologia Do Sono RemFonoaudiologiaAinda não há avaliações
- Sleep and Nutrition Interactions Implications For Athletes PTDocumento21 páginasSleep and Nutrition Interactions Implications For Athletes PTbrennan.nutrejrAinda não há avaliações
- Teoria Do SonoDocumento4 páginasTeoria Do SonoErickson Gonçalves de Jesus100% (1)
- Exercicio e o SonoDocumento9 páginasExercicio e o SonocontatoupperagencyAinda não há avaliações
- Resumo Aulas AydaDocumento11 páginasResumo Aulas AydaGabriela Andrade de CarvalhoAinda não há avaliações
- Sono Vigília EC2019Documento71 páginasSono Vigília EC2019ubsjaimedejesusAinda não há avaliações
- Fases Do SonoDocumento15 páginasFases Do SonoAnne CarvalhoAinda não há avaliações
- Aula 8 - Psico - Neurociencias - SonoDocumento40 páginasAula 8 - Psico - Neurociencias - SonoVitória CaetanoAinda não há avaliações
- Sono e MemóriaDocumento12 páginasSono e MemóriaCatarina FernandesAinda não há avaliações
- Aula 1 Da Unidade IIIDocumento26 páginasAula 1 Da Unidade IIINathalia FreitasAinda não há avaliações
- Resumo Fisio Cap 13 Sono e SonhosDocumento3 páginasResumo Fisio Cap 13 Sono e SonhosGuilhermeAinda não há avaliações
- Trabalho Neurofisiologia Do SonoDocumento18 páginasTrabalho Neurofisiologia Do Sonokote518911Ainda não há avaliações
- O Que É ConsciênciaDocumento4 páginasO Que É ConsciênciaNAinda não há avaliações
- Distúrbios Do SonoDocumento4 páginasDistúrbios Do SonoMarcelly TavaresAinda não há avaliações
- Neuropsicologia Do SonoDocumento3 páginasNeuropsicologia Do SonoBeatriz GomesAinda não há avaliações
- Psicopatologia Do SonoDocumento22 páginasPsicopatologia Do SonoEduardo Carnello JatobáAinda não há avaliações
- E-Book - Sono Na Prática Clínica - Coimbra AcademyDocumento13 páginasE-Book - Sono Na Prática Clínica - Coimbra AcademyRogerio MoraesAinda não há avaliações
- Aula Ritmos Biológicos, Sono e SonhosDocumento5 páginasAula Ritmos Biológicos, Sono e Sonhosmrneves22Ainda não há avaliações
- Os Estágios Do SonoDocumento13 páginasOs Estágios Do SonoMarcos A. PeixotoAinda não há avaliações
- 18 Disturbios Do Sono PDFDocumento24 páginas18 Disturbios Do Sono PDFMilena Brasil100% (1)
- CONSCIÊNCIADocumento5 páginasCONSCIÊNCIAppico1963Ainda não há avaliações
- Resumo NeuroPsicologia - Sono e Sistema ReprodutivoDocumento7 páginasResumo NeuroPsicologia - Sono e Sistema ReprodutivoJoao Pedro de Macedo BritoAinda não há avaliações
- Ritmos Biológicos e Ciclo SonoDocumento2 páginasRitmos Biológicos e Ciclo SonoFláviaAinda não há avaliações
- Aula - Estados de Conciência 2Documento42 páginasAula - Estados de Conciência 2Luma BiaggiAinda não há avaliações
- ACiS 2847 Uma Análise Psicanalítica Da Paralisia Do SonoDocumento10 páginasACiS 2847 Uma Análise Psicanalítica Da Paralisia Do SonoCrisRTCAinda não há avaliações
- SONO-Bases Gerais Cronobiológicas e ClínicasDocumento19 páginasSONO-Bases Gerais Cronobiológicas e ClínicasHeitor Santos ReisAinda não há avaliações
- Fisiologia Do SonoDocumento2 páginasFisiologia Do SonoAna JesséAinda não há avaliações
- Resenha FeitaDocumento6 páginasResenha FeitaCatarina FernandesAinda não há avaliações
- Morfeu Era EsquizofrenicoDocumento6 páginasMorfeu Era EsquizofrenicoLaura CostaAinda não há avaliações
- Morfeu Era EsquizofrênicoDocumento3 páginasMorfeu Era EsquizofrênicoRavielKhAinda não há avaliações
- Sono NREM e Sono REM PDFDocumento3 páginasSono NREM e Sono REM PDFJehonnesAinda não há avaliações
- Neuropsicologia Do SonoDocumento12 páginasNeuropsicologia Do SonoANA TEREZA DIAS VASQUESAinda não há avaliações
- Os Sonhos - Dudley, G. ADocumento85 páginasOs Sonhos - Dudley, G. AAndrey Sartóri100% (1)
- Introdução - SonolóquiDocumento14 páginasIntrodução - SonolóquiManuel dos Santos SantosAinda não há avaliações
- PPB NP2Documento16 páginasPPB NP2Yasmin BrascioliAinda não há avaliações
- 8B Ta EcpaDocumento30 páginas8B Ta EcpaLuzia MonteiroAinda não há avaliações
- Sono e Vigília - Anhanguera 2022Documento16 páginasSono e Vigília - Anhanguera 2022Camilla PereiraAinda não há avaliações
- CerebeloDocumento4 páginasCerebeloGiovanna Oliveira FernandesAinda não há avaliações
- Problema 3Documento70 páginasProblema 3Vitor HipolitoAinda não há avaliações
- Desenvolvimento - EletroencefalografiaDocumento3 páginasDesenvolvimento - Eletroencefalografiagiovanaao88Ainda não há avaliações
- Sono e TCC - Aula 1Documento98 páginasSono e TCC - Aula 1Adriana CamposAinda não há avaliações
- A Psicanálise E Os Comportamentos Do Corpo Durante O Sono"No EverandA Psicanálise E Os Comportamentos Do Corpo Durante O Sono"Ainda não há avaliações
- Captain Sonar - Regras PDFDocumento8 páginasCaptain Sonar - Regras PDFakira.miyakeAinda não há avaliações
- Aula 021614777909Documento11 páginasAula 021614777909Olegário BobeAinda não há avaliações
- Sisal - Catu: BADocumento10 páginasSisal - Catu: BAPaulo souza costaAinda não há avaliações
- E-Book - ESCOLHAS - Você No ControIe de Sua VidaDocumento39 páginasE-Book - ESCOLHAS - Você No ControIe de Sua VidaÁlex André Jr.Ainda não há avaliações
- Guia PNLD 2022 ApresentacaoDocumento34 páginasGuia PNLD 2022 ApresentacaoCarlos BrazAinda não há avaliações
- Paradoxem - Encare Seu Futuro de - Laura ReggianiDocumento408 páginasParadoxem - Encare Seu Futuro de - Laura ReggianiCamila IngridAinda não há avaliações
- Marjorie Norrell - Abismo de Amor (Bianca 122)Documento115 páginasMarjorie Norrell - Abismo de Amor (Bianca 122)Maria Luiza Da Costa100% (2)
- Cus Damato KindleDocumento64 páginasCus Damato KindleWeltonRamoneFernandesAinda não há avaliações
- Francis Paul Wilson - ImplanteDocumento321 páginasFrancis Paul Wilson - ImplanteTamires ResendeAinda não há avaliações
- #1-01 A Iniciação em AbsalomDocumento69 páginas#1-01 A Iniciação em AbsalomThiago LucasAinda não há avaliações
- Nessahan Alita - Textos Complement Ares II - Livro VerdadeiroDocumento46 páginasNessahan Alita - Textos Complement Ares II - Livro VerdadeiroCereal_killerAinda não há avaliações
- #Player - Cambria HebertDocumento389 páginas#Player - Cambria HebertCamila DouradoAinda não há avaliações
- Estatística Aplicada À Educação BasicaDocumento192 páginasEstatística Aplicada À Educação BasicaJanaina FerreiraAinda não há avaliações
- Saga Godstone 02-Fôlego de Vida-Revisão GLH 2021Documento467 páginasSaga Godstone 02-Fôlego de Vida-Revisão GLH 2021bianka de jesusAinda não há avaliações
- Geografia Histórica e Ativismos SociaisDocumento28 páginasGeografia Histórica e Ativismos Sociais0000SCRIBD0000Ainda não há avaliações
- Apostila Teologia FundamentalDocumento44 páginasApostila Teologia FundamentalRobert Rautmann100% (2)
- Aula 8 - MORAES, Lucas - Hordas Do Metal Negro - Cap 3Documento218 páginasAula 8 - MORAES, Lucas - Hordas Do Metal Negro - Cap 3Francine NunesAinda não há avaliações
- Tecnologias Imersivas Da EducaçãoDocumento178 páginasTecnologias Imersivas Da EducaçãoThiago Laurindo 2Ainda não há avaliações
- 7 623 AcDocumento12 páginas7 623 AcFelipe GeorgeAinda não há avaliações
- O Cine Teatro Municipal de Barbalha - CeDocumento15 páginasO Cine Teatro Municipal de Barbalha - CeMaxAinda não há avaliações
- Entrando No Rio de DeusDocumento11 páginasEntrando No Rio de DeusMirian AlmeidaAinda não há avaliações
- Integração MM-IM - FI Com Procediment..Documento6 páginasIntegração MM-IM - FI Com Procediment..apolizeliAinda não há avaliações
- Como Estudar Corretamente - Prof. Rubens Sampaio - Ebook 1 DE 10Documento11 páginasComo Estudar Corretamente - Prof. Rubens Sampaio - Ebook 1 DE 10Como Estudar (Rubens Sampaio)Ainda não há avaliações
- Introducao Ao Estudo Dos TimerDocumento27 páginasIntroducao Ao Estudo Dos TimerFrancisco JosivanAinda não há avaliações