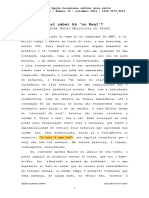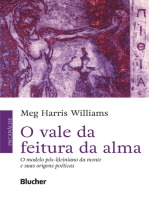Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
04 02 05sexo Lei Kantlacan
04 02 05sexo Lei Kantlacan
Enviado por
Grrützz IdilTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
04 02 05sexo Lei Kantlacan
04 02 05sexo Lei Kantlacan
Enviado por
Grrützz IdilDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O SEXO E A LEI EM KANT E A TICA DO DESEJO EM LACAN.
Daniel Omar Perez
PUCPR
Resumo:
O objetivo deste trabalho demonstrar que a tica do desejo, tal como se
entende na psicanlise lacaniana (a partir do Seminrio 7 e de Kant com
Sade), herdeira de uma reformulao da tica kantiana luz da
contraposio com a cena sadiana. Esta operao terica nos permite
pensar lei e sexualidade como constitutivas do sujeito em uma experincia
analtica. Nesta situao, no nos referimos a esta ou aquela lei positiva,
mas condio de possibilidade de qualquer lei. Do mesmo modo, no nos
referimos apenas a sexo, mas condio de qualquer sexualidade. Deste
modo, podemos pensar na psicanlise, e especificamente na articulao de
lei e sexualidade, na possibilidade da emergncia de um sujeito que pode vir
a se confrontar com aquilo que ele tem de mais radical: seu desejo.
Palavras-chave:
Psicanlise tica Kant Sade Lacan gozo.
Abstract:
The goal of this work is to demonstrate that the ethics of desire, in the
Lacanian psychoanalysis (into the Seminar 7 and Kant with Sade), is an
elaboration of the Kantian ethics in opposition with the sadian scene. This
theoretical operation allows us to think law and sexuality as constitutive of the
subject in an analytic experience. In this situation we do not refer just to sex,
but to the condition of any sexuality, in the same way, we do not refer to a
positive law, but to the possibility of the condition of any law. In this sense,
we can think of psychoanalysis, specifically of the articulation between law
and sexuality, in the emergence of the possibility of a subject who could
confront with what he has of more radical in herself: the desire.
Key-words:
Psychoanalysis ethics Kant Sade Lacan
Posio do problema
Se, por um lado, na filosofia de Kant nos interrogamos pelas condies de possibilidade
das proposies sintticas recriando uma semntica1 e, apartir desse horizonte esboamos a
possibilidade de uma natureza humana numa antropologia pragmtica, por outro lado, na
psicanlise nos interrogamos pelas condies de possibilidade do desejo recriando o circuito
pulsional ou dominio no qual se inscreve sua emergncia, circulao e produo. Isto nos coloca
num nvel de trabalho que nos direciona para a indagao das condies de possibilidade do
prprio sujeito como pesquisa transcendental. Nesse sentido, retomo aqui os termos
apresentados por Zizek, 19932 no seu uso do conceito transcendental para se referir ao trabalho
de Lacan:
And why should we not also claim for Lacan the title of transcendental philosopher? Is not
his entire work an endeavor to answer the question of how desire is possible? Does he not
offer a kind of critique of pure desire, of the pure faculty of desiring? Are not all his
fundamental concepts so many keys to the enigma of desire? Desire is constituted by
symbolic castration, the original loss of the Thing; the void of this loss is filled out by objet
petit a, the fantasy-object; this loss occurs on account of our being embedded in the
symbolic universe which derails the natural circuit of our needs; etc., etc. (Zizek 1993, p.
3, o destaque meu)
Se se concede, pelo menos a princpio, este ponto de partida, ento podemos comear a
reconhecer o alcance e tambm o limite da filosofia transcendental kantiana e da psicanlise
105
Daniel Omar Prez
freudiano-lacaniana. No caso de Kant, especificamente, na su a filosofia prtica, a sexualidade
gera alguns paradoxos em relao com a lei moral dificeis de conciliar, o exemplo mais
emblemtico est na noo de matrimonio, que reduz o outro a objeto de gozo, desconhecendo
a humanidade que o kantiano deveria reconhecer. No caso da psicanlise, a sexualidade
incorporada a partir da instanciao da lei, mas gera alguns inconvenientes em relao com o
sujeito nas psicoses. Sendo que nas psicoses no haveria propriamente desejo, devido
foracluso do nome do pai (tal como Lacan articula em O Seminrio 3), pouco restaria para um
trabalho psicanaltico entendido como tica do desejo e, neste sentido, dificilmente poderiamos falar
de sujeito nesses casos.
Este trabalho apresentar o paradoxo da lei moral e jurdica que nos constitui como
sujeitos a partir de Kant, a tentativa de ultrapassamento pela via do gozo sadiano que acaba
aprofundando a situao de objeto e, finalmente, a experincia psicanaltica como experincia
tica perante o Real.
A tica de Kant
De acordo com uma definio kantiana da Metafsica dos Costumes, Doutrina da Virtude, a
virtude a fortaleza moral da vontade de um homem no cumprimento do seu dever, que uma coero moral da
sua prpria razo legisladora, na medida em que esta se constitui a si mesma como poder executivo da lei.
Embora a virtude se realize particularmente no indivduo segundo sua educao, sua cultura e,
at mesmo, sua crena e suas capacidades fsicas, isto , dependendo das circunstncias e do
contexto, ela no faz outra coisa que realizar a lei moral vlida universalmente. Esta lei articula
uma causalidade diferente da causalidade mecnica, embora seus efeitos recaiam sobre o domnio
dos fenmenos. Dito de outro modo, trata-se da causalidade livre que mediante uma mxima, no
mbito da razo prtica pura, determina uma ao, essa ao executada com os elementos que
esto ao alcance do sujeito. Mas no devemos nos confundir, no se trata de um conselho para
se fazer o que puder, a lei manda tirnicamente, (Kant cita na Crtica da razo prtica a Juvenal na
expresso Sic volo, sic jubeo), na medida em que a reconhecemos atravs de um sentimento de
humilhao que um sentimento de respeito (Achtung) e que Kant chama de sentimento moral,3
porm, alheio ao mbito dos sentimentos patolgicos. Diferentemente das afeces patolgicas
como inclinaes, apetites e desejos provenientes da sensibilidade e que determinam uma ao
mecanicamente, a lei moral se reconhece por um sentimento sui generis proveniente da prpria lei.
A lei moral no obriga apenas por meio de um clculo, mas por uma fora. Quer dizer, no
obedeo a lei apenas porque sei que como ser racional devo obedecer, mas porque sinto a fora
da lei mandando em mim, nesse sentido que o mandamento imperativo, ele s manda por
coero. A lei como fora obriga sem restrio agir por dever sem um contedo preciso, mas
segundo uma forma presente no enunciado da Crtica da razo prtica, 7: age de tal modo que a
mxima da tua vontade possa ser elevada como lei da natureza. Kant oferece outras frmulas para o
imperativo categrico.4 Alm da forma fundamental retirada da Fundamentao da metafsica dos
costumes, Age somente de acordo com aquela mxima mediante a qual possas ao mesmo tempo querer que ela se
torne uma lei universal podemos referir a outros trs modos a mais de representao para o
princpio moral relativos forma, matria e determinao das mximas. Desta maneira temos,
1) Age de modo tal, como se a mxima de tua ao devesse tornar-se pela tua vontade lei
universal da natureza, mostra o conceito formal de natureza ;
2) Age de modo tal que uses a humanidade tanto em tua pessoa como na pessoa de todo
outro sempre ao mesmo tempo como fim, jamais simplesmente como meio, aponta para a
representao material e,
3) devem todas as mximas, a partir de uma legislao prpria, concordar com um reino
de fins como um reino da natureza, diz respeito da determinao das mximas.
Embora existam estudos sobre o tipo de necessidade e relao de cada um dos
enunciados, preciso levar em conta cada um deles para observar a sua aplicao.
Revista AdVerbum 4 (2) Ago a Dez de 2009: pp. 104-112.
O Sexo e a Lei em Kant e a tica do Desejo em Lacan.
106
Fora e forma so os dois elementos fundamentais da lei moral (kantiana) que permitem
fazer funcionar o dispositivo da razo enquanto prtica. Embora seja no materialmente
determinada, essa forma imperativa para o ser racional finito contm as marcas da humanidade
que reconhece uma relao de finalidade com a prpria ao. Assim, podemos dizer que,
segundo a lei moral, niguem pode ser tratado apenas como meio, mas tambm como fim em si
mesmo. Trata-se de reconhecer a humanidade em cada pessoa. Isto pauta no apenas as relaes
morais entre os seres humanos, tambm uma marca do direito desde um ponto de vista
racional. Tratar o outro como fim em si mesmo no s estaria na base de um agir moral em
sentido kantiano, tambm est na base da declarao universal dos direitos do homem. No ser
tratado apenas como meio significa no ser tratado apenas como objeto, reconhecer o outro no
apenas como sujeito de deveres, mas tambm como sujeito de direitos da humanidade na sua
totalidade.
Assim sendo, o sujeito de direito deveria poder manter a dignidade da humanidade
impossibilitando a sua objetificao. Toda a teoria kantiana do direito se pauta pela relao entre
sujeitos, isto estabelece uma hierarquia e umas restries na relao de posse de objetos e de
pessoas. Do mesmo modo, podemos dizer que por princpio os direitos humanos tambm
impedem tomar posse de um corpo humano como quem toma posse de uma ma ou uma
caneta. Esta restrio no s vale para o corpo dos outros, tambm no somos proprietrios do
prprio corpo e no podemos dispor dele como bem entender, por exemplo, no podemos
estabelecer contratos de escravido voluntria nem podemos comercializar livremente nossos
orgos ou membros sem estar atacando a base dos direitos humanos, da lei moral e da lei jurdica
kantina. Entretanto, h um caso totalmente aceito em Kant e na legislao vigente, respeituosa
dos diteiros humanos, que nos obriga e repensar a nossa posio de sujeitos perante a lei.
preciso perguntar: o que um matrimonio?
De acordo com Kant, na Matafsica dos costumes, especificamente na doutrina do direito, no
que refere ao direito de familia, a unio sexual ou comercium sexuale definida como o uso
recproco que um ser humano faz dos rgos e das capacidades sexuais de outro (usus membrorum
et facultatum sexualium alterius). Segundo a classificao kantiana, a unio sexual pode ser realizada
entre animais e pessoas, pessoas do mesmo sexo e entre pessoas de sexo diferente. No
consederarei os dois primeiros casos por serem, do ponto de vista kantiano, mais fceis de
dirimir. No entanto, o ltimo caso carrega algumas peculiaridades que nos estimulam a repensar
a questo da realizao da lei e a unio sexual, quer dizer da possibilidade de legislar sobre o
usufruto.
Por um lado, a unio sexual entre pessoas de diferente sexo pode ser entendida como
vaga libido, venus volgivaga ou fornicatio e, por outro lado, como matrimonio. O primeiro modo,
segundo Kant, pode ser considerado como uma unio meramente animal ou circunstancial, onde
s haveria que considerar o componente do apetite sexual (instintivo). A unio seria apenas
animal porque a satisfao sexual imediata seria o que aproxima a aquela condio. Como vaga
libido a relao apenas temporaria, sem qualquer outro vnculo que merea ateno. Ainda
dentro desse primeiro grupo a unio pode ser compreendida por meio de um contrato
temporario. No pactum fornicationis diz Kant- se contrata ocasionalmente uma pessoa como
objeto de gozo, mas a reciproca no necessria. Entretanto, quando a unio se estabelece
segundo leis duradouras temos um matrimonio. Esta a questo que gostaria de considerar.
Em que consistem estas leis do matrimonio? Segundo Kant, o contrato matrimonial no
se define nem pela procriao nem pelo amor, mas pelo direito do uso reciproco dos atributos e
capacidades sexuais e pelo prazer que eventualmente pode surgir dessa atividade. Quer dizer, um
matrimonio uma unio de duas pessoas de diferente sexo pela posse e usufruto exclusivo de
cada um dos atributos sexuais do outro. Nesse ato o ser humano se torna ele mesmo objeto para
o outro. O direito privado kantiano segue coerentemente a ordem da posse e usufruto sobre uma
coisa, sobre o trabalho de outro e sobre a genitalia do outro. Porm, esta a questo mais
Revista AdVerbum 4 (2) Ago a Dez de 2009: pp. 104-112.
107
Daniel Omar Prez
importante do matrimonio kantiano: o outro se torna objeto de gozo para mim, mas eu tambm
me torno objeto de gozo para o outro. Isto coloca a unio sexual entre dois sujeitos como uma
relao de gozo sob a lei do direito onde eu adquiro uma pessoa como objeto de gozo no
mesmo momento que eu procuro ser adquirido, me tornar objeto de gozo. Podemos dizer, sem
temor a quebrar a letra do texto da Metafsica dos costumes que uma exigncia do contrato
kantiano (e da legislao vigente) que haja uma reduo a objeto de gozo para que o matrimonio
funcione como unio sexual segundo leis de direito. Torno-me sujeito de direito de usufruto na
medida em que opera uma reduo do outro a objeto de gozo e reciprocamente. Kant no
ignorava o problema que acarretava a questo assim apresentada e na carta a Schtz de 10 de
julho de 1797 responde a diferentes objees dizendo que o auxlio mutuo da relao sexual
uma conseqncia necessaria do matrimonio juridicamente estabelecido, tratar-se-a de um fato
que se derivaria de uma situao de direito e no de um elemento de fundamentao. Michel
Foucault, na sua Introduo Antropologia em sentido pragmtico, procura argumentar em
favor de kant afirmando que se trata de nol moralizar a situao, isto de no confundir o
direito de matrimonio e a situao do sexo no contrato com uma questo moral (Foucault 2009,
58 ss). A pesar da defesa de Kant, que tambm ocorre na prpria doutrina do direito, a questo
no colocada de tal forma que o gozo aparea apenas como uma conseqncia entre outras, e
isso no acontece apenas no texto kantiano. Atualmente podem se fazer contratos matrimoniais
ou considerar por direito uma unio estvel contemplando as mais diversas variveis, por
exemplo, podemos fazer comtratos matrimoniais com separao de bens (parcial ou total),
podemos legalizar a relao entre pessoas do mesmo sexo, mas em nenhum caso podemos
pautar a possibilidade contratual do uso da genitalia fora da relao entre os contratantes. Por
exemplo, um cartrio poderia aceitar um contrato matrimonial que declarasse que os bens
(fazendas, barcos, investimentos financeiros, etc.) no sero compartilhados, mas nenhum
cartrio aceitaria um contrato matrimonial que declarasse que a genitalia ser utilizada uma vez
por semana fora do contrato e para usufruto pessoal. O ncleo do contrato se sustenta sim na
questo sexual, e o ato sexual, mesmo sob lei, se apresenta como uma relao de objeto que
diferencia o matrimonio da prostituio por dois elementos fundamentais, porm problemticos:
a reciprocidade dos parceiros e a no limitao no tempo. Quer dizer, no pode se fazer um
contrato matrimonial onde apenas um dos parceiros tenha direito a se apossar da genitalia do
outro ou onde o matrimonio tenha a priori uma durao limitada no tempo (por exemplo, trs
vezes por semana ou durante 24 meses). Nesses casos estariamos no mbito de um contrato de
prostituio. A questo no de moralismo, mas tambm no se reduz a uma mera
conseqncia. Trata-se de um problema de fundamentao e, portanto, do que constitui o sujeito
de usufruto ou gozo.
A lei, a sexualidade e o gozo
Este caso da doutrina do direito kantiano mostra uma questo fundamental das relaes
humanas, do direito contemporneo e da psicanlise. Trata-se de pensar a posio do sujeito
como objeto de gozo do outro pautado pela lei.
Kantianamente falando a relao entre sujeitos est determinada pela lei. Eu s posso ter
relaes racionais com outro que tambm esteja submetido mesma lei qual eu estou obrigado.
Aquilo que me constitui como sujeito a relao com a lei que me impe relaes de
reciprocidade (ou no) e me manda considerar na minha prpria pessoa e na pessoa do outro a
humanidade inteira. Assim, surge a pergunta: At onde possvel legislar sobre as relaes
sexuais segundo princpios considerando a idia da humanidade na relao? Dito por outras
palavras: possvel considerar a humanidade, quer dizer, possvel considerar o outro no
como objeto (segundo a forma do princpio dos direitos humanos) no prazer sexual e no gozo?
Se por um lado, a noo de humanidade e de pessoa como um fim em si mesmo nos torna
sujeitos, por outro lado, fica dificil pensar a possibilidade de um ato sexual entre duas pessoas
Revista AdVerbum 4 (2) Ago a Dez de 2009: pp. 104-112.
O Sexo e a Lei em Kant e a tica do Desejo em Lacan.
108
que representam a humanidade em si mesmas, onde nenhuma seja colocada como objeto. Da
derivamos uma ltima questo: possvel um gozo regulado pela lei?
Kant e o Marques de Sade
O dever kantiano, a obedincia perante a lei da razo, tem seu avesso no imperativo
sdico que estabeleceria a condio de poder gozar da totalidade ou de uma parte do corpo do
outro e viceversa. Um dever universal se impe na determinao do agir do sdico: Goza!!.
Lacan formula o enunciado da suposta mxima sadiana do seguinte modo: Tenho direito de gozar do
teu corpo, pode dizer-me qualquer um, e exercerei esse direito, sem que nenhum limite me detenha no capricho das
extorses que me d o gosto de nele saciar (Lacan 1998, p. 780). Num caso (o kantiano) e noutro (o
sadiano) " a partir do Outro que sua ordem nos solicita" (Lacan 1998, p. 781). por isso que
Lacan consegue opor Kant com Sade em uma relao de complementariedade. "A Filosofia na
alcova escreve Lacan- surge oito anos depois da Crtica da razo prtica. Se depois de ter visto que
compatvel com esta, demonstrarmos que ela a completa, diremos que ela fornece a verdade da
Crtica" (Lacan 1998, pp. 776-777).
A filosofia na alcova pode ser entendida como uma obra de literatura ertica, mas tambm
como um ensaio de propedutica libertina, como uma pedagogia prtica que no deixa de ter a
virtude como alvo. Lacan compara a alcova sadiana com as escolas da filosofia antiga como a
Academia, o Liceu e a Sto (Lacan 1998, p.776). Sade nos seus escritos no descreve apenas uma
relao sexual do aristocrata libertino com a doncela virgem, ele age segundo um mtodo contra
a virtude representada na virgindade da jovem doncela. O marqus age de acordo e segundo uma
lei da anti-virtude. No se trata de realizar um desejo, mas de efetivar uma lei que manda sem
necessidade de dar prazer na troca. Rigorosamente falando podemos dizer que no de usufruto
que se trata aqui, mas da obedincia de uma lei da natureza contra a virtude. Mais ainda, o
carrasco, executor da lei, deve ser apatico. Sade reivindicaria algo como a apatia kantiana na
obedincia e Lacan percebe claramente isso. Trata-se da "rejeio radical do patolgico, de
qualquer considerao por um bem, uma paixo ou mesmo uma compaixo". Assim como o
executor da lei kantiana deve determinar a sua ao como um fim em si mesmo, sem qualquer
determinao sensvel "patolgica", assim tambm a finalidade da cena sadiana a realizao da
prpria lei que manda sem restries e se pauta pelo consumo de toda a energia liberada no
exerccio orgistico at a extino do prprio universo que a sustenta. O sistema tende a zero,
tende sua morte.
Assim, se o dever kantiano seria um recalque ou pelo menos o controle dos impulsos
do desejo- pela obedincia da lei, o gozo sdico no seria propriamente um para-alm-da-lei, uma
transgreso da lei, mas uma afirmao da lei de que possvel alcanar O Gozo que a lei, a outra
lei, proibe, na tentativa de regular, determinar as relaes entre os sujeitos.
Assim, em Sade se trata da desmentida da lei, um modo (perverso) da renegao da
castrao simblica que dirije a pulso (pulso sado-masoquista) para uma tentativa de satifao
que retorna no modo invertido. Dito ilustrativamente, o Marques no satisfaz seu desejo numa
relao sexual com a doncela virgem, ele quer mais, ele quer destruir o que a doncela representa
como significante da virtude e aquilo que retorna no modo invertido o castigo que o prprio
Sade padece no presidio e no hospcio. O Marqus goza pelo movimento pulsional que o leva
para as instituies de disciplinamento.
O Marqus Goza! pela lei no sentido inverso ao kantiano. O Marqus promulga a lei do
Gozo e sua realizao na execuo da ao do carrasco no interiror do universo fechado da
orgia. Kant procura legislar sobre o gozo nos limites do matrimonio. Um (Sade) cria um sistema
entropico (conceito elaborado por Francisco Bocca na sua pesquisa de ps-doutorado), o outro
(Kant) um paradoxo, ambos revelam a posio de objeto na situao apresentada.
Alguem poderia pensar que nossa interpretao conduz a afirmar que em Sade haveria
um gozo na prpria obedincia da lei at as ltimas conseqncias. Isto poderia tambm levar a
fazer a pergunta sobre a possibilidade de um gozo na prpria obedincia at as ltimas
Revista AdVerbum 4 (2) Ago a Dez de 2009: pp. 104-112.
109
Daniel Omar Prez
conseqncias da lei kantiana. Um exemplo nesse sentido encontramos no caso de obedecer a
lei mesmo que isso custe tua vida e a vida dos teus amigos. Kant tratou disso no Suposto direito de
mentir por amor ao prximo. Nenhuma das duas consideraes seria descabida, pelo contrrio,
seriam pertinentes para avanar nas consideraes sobre a estrutura da neurose obssessiva e da
perverso.
Uma psicanlise como uma tica
Certamente, aqui a questo da psicanlise no a da legislao interna ou externa acerca
de um suposto direito do prazer ou do gozo, mas a da posio do sujeito com relao ao desejo e
ao gozo. preciso dizer mais uma vez para destacar: o que ns temos na psicanlise no outra
coisa seno a questo da posio do sujeito. A questo da psicanlise como questo acerca do
sujeito no pode ser colocada nem nos termos de uma filosofia como viso do mundo, nem de
uma literatura, nem de uma cincia ou de algo assim como uma cincia do sujeito. Todas as
articulaes que sustentam a clnica so absolutamente estranhas viso do mundo, ao exerccio
literrio ou cincia. A psicanlise no nem pode ser cincia do geral nem do particular,
porque no se trata nem de generalizaes nem de casos seriados que possam produzir um
conhecimento estatstico. Por outro lado, falar em uma cincia da singularidade um contrasenso ou um modo muito peculiar de entender o significado e os limites da noo de cincia
margem de qualquer epistemologia. Dito por outras palavras, a psicanlise no se articula como
uma narrativa fundacional nem como teoria explicativa, como uma cincia fsico-matemtica ou
emprica, qualquer tentativa de explicar fenmenos regulares no outra coisa seno a prtica de
uma psicanlise selvagem que s pensa em charutos e injees.
Freud e Lacan apresentariam as condies de possibilidade daquilo que permite explicar
as manifestaes inconscientes, mas na sua singularidade e no em uma regularidade normativa.
Enquanto Freud recorre aos mitos, Lacan modela com matemas, grafos e conjuntos. Assim, o
aparelho do psiquismo humano se estrutura a partir do registro do real, do simblico e do
imaginrio. Registros estes que permitem trabalhar a relao do sujeito com o desejo no como
uma relao entre dois termos, mas como uma experincia tica. assim que Lacan chama
quilo que est no prprio princpio da entrada na psicanlise traduzindo e interpretanto a frase
freudiana Wo es war, soll Ich werden. Assim, Lacan formula a pergunta que atravessa o analisante no
inicio da sua experincia analtica:
Deve ele submeter-se ou no ao imperativo do supereu, paradoxal e mrbido, semi-inconsciente e que,
alm do mais, revela-se cada vez mais em sua instncia na medida em que a descoberta analtica progride, e que o
paciente v que se enveredou em sua vida? (Lacan 1959-60, p. 16).
H uma peculiaridade para a qual direcionaremos nosso trabalho e precisamos declarar
isso de imediato: O Deve da citao lacaniana como elemento fundamental da interrogao no se
resolve numa tica do dever, mas tambm no o caso de uma tica da prudncia ou da
utilidade.
Com efeito, a partir de O Seminrio 7 de Lacan podemos ver o alcance e o limite que
aparece nas reflexiones ticas de Aristteles, Kant e o utilitarismo. Em cada caso o agir se
determina segundo um bem supremo em Aristteles, segundo um imperativo categrico em
Kant ou de acordo com um bem comum em Jeremy Bentham. Em todos estes modos de
determinao do agir alcanzamos um bem (em todos os sentidos possveis), em definitiva: uma
coisa. O agir do sujeito alcana uma coisa como bem e com isso se pauta a ao da sua
experincia como tica. No se trata de nivelar ou igualar as diferentes reflexes filosficas como
se se estivesse falando do mesmo, mas de indicar aquilo que aparece como o limite delas: a coisa
na qual se fixa a determinao do agir.
para avanar para alm desse limite do bem da coisa oferecida pela tradio filosfica
que Lacan recorre ao conceito de Coisa. Assim sendo, Lacan, ultrapassando aquilo que se
apresenta na coisa que aparece na histria da tica, chama a ateno para aquela Coisa (das Ding)
que condio de possibilidade de que qualquer coisa ou bem da realidade do sujeito possa vir a
Revista AdVerbum 4 (2) Ago a Dez de 2009: pp. 104-112.
O Sexo e a Lei em Kant e a tica do Desejo em Lacan.
110
aparecer. A Coisa anterior a qualquer coisa rememora Freud e seu trabalho intitulado Projeto de
uma psicologia para neurlogo , mas sobretudo Heidegger e seu escrito Das Ding.
O Real da Coisa
Este das Ding em Lacan dito de diferentes modos, a sabar: prximo-estranho, primeiro
exterior, anterior a todo recalque, afeto primario fora-do-significado, o perdido nunca perdido e
impossvel de retornar, o Outro absoluto do sujeito em torno do que se orienta todo o seu
encaminhamento e que o sujeito trata de reencontrar (Lacan 1959-60, pp. 69-71). Assim, essa
Coisa no propriamente algo seno um vazio em torno do qual algo se organiza (Lacan 195960, p. 169). E em direo a essa Coisa que as derivas pulsionais esto orientados e se articulam
pelo princpio de prazer princpio de realidade, neste nvel encontramos a lei como interdio
que, na mesma medida em que est ligada prpria estrutura do desejo marca a impossibilidade
da consumao ltima, num gozo absoluto, numa Coisa. No entanto, as pulses (como derivas)
do sujeito no cessam de se orientar para esse punto mtico da Coisa impossvel de ser expresso
ou representado. Em definitiva, segundo Lacan, a Coisa o que do real padece dessa relao
fundamental, inicial, que induz o homen nas vias do significante, pelo fato mesmo de ele ser submetido ao que
Freud chama de princpio de prazer (Lacan 1959-60, p. 168). A Coisa como impossvel seria a
possibilidade do significante e do prazer. Assim, a deriva teria como direo o inorgnico, o
vazio, a morte, mas sua direo no sem demoras. O que refere a das Ding est, neste sentido,
para alm do princpio de prazer (Lacan 1959-60, p. 131) e do princpio de realidade e, no
entanto, condio. O princpio de prazer guia o homem de significante em significante, mas a
Coisa, que no um significante, precede e antecede sempre exteriormente, como fora da srie.
Por isso, refere morte, um pulo para fora do simblico. Neste sentido, e isto decisivo para
entendermos a experincia analtica, para Lacan a questo tica articula-se por meio de uma orientao
do referenciamento do homem em relao ao real (Lacan 1959-60, p. 21).
O que est em questo que enquanto as reflexes da tradio filosfica apontam para
um bem, uma coisa, um ideal, Lacan (fazendo uso de Freud, mas tambm de Heidegger) chama a
ateno para o anterior-exterior, o fora de lugar, do Real da Coisa que como impossvel
possibilita que alguma coisa aparea.
Aquilo que se compe na tica do desejo
Se nos detemos aqui certamente temos um paradoxo: na medida em que ficamos para
aqum da lei e do deves do supereu estamos retidos nas vias do nosso desejo, mas na medida em
que o desejo est para alm da lei o risco de nos encontrar com nada inevitvel. Porm, a
experincia analtica como experincia tica no deve ser confundida com o direcionamento de
um conflito moral dicotomico ou de qualquer tipo na tentativa de alguma escolha de modelo de
vida ou ideal, sexual ou asctico, do analisante. O ativismo sexual ou o cultivo de um ideal de si
operam como a promessa de uma felicidade flica e no disto que se trata. Em Cinco Lies sobre
a psicanlise Freud nos diz que o psicanalista quer suspender o recalque no paciente. Todas as
condies artificiais da situao da anlise e as intervenes, segundo uma tcnica, do
psicanalista, vo no sentido de uma renncia, mas no dos desejos ou das pulses e sim de uma
renuncia ao sacrificio que est implicado na obedincia pura da voz do Grande Outro na forma
da Lei ou do Gozo. A posio do analista no a de um adiestrador ou um educador (nem
mesmo libertino) ou um filsofo, a de algum que tem um s desejo diz Freud em Introduo
psicanlise-: o de ver o paciente tomar as decises por si prprio. Eis aqui a questo da cura, de uma cura
das iluses que retm o analisante em relao com seu desejo (Lacan, 1959-60, 267). Assim, a
experincia psicanaltica seria ento uma experincia tica, experincia moral diz Lacan no
Seminrio 7- da relao do sujeito com o prprio desejo e com as barreras que o interditam. Esta
tica no seria uma tica da lei que de fato possibilita o desejo, mas tambm sua interdio (e
que provocam ou a inibio ou o sintoma ou a angustia)- tambm no seria uma tica do
reconhecimento do Outro que de fato fundamental para obter aquilo que eu quero, mas que
Revista AdVerbum 4 (2) Ago a Dez de 2009: pp. 104-112.
111
Daniel Omar Prez
me coloca na posio de objeto-, seno de um para alm da lei e seu imperativo no seria o de
um dever ou uma dvida nem o de uma meta definida materialmente, mas de um agir conforme o
prprio desejo tornando-se assim sujeito. A questo no seria obedece ou goza, mas agiste conforme
teu prprio desejo? neste sentido que digo que a psicanlise no explica, apenas acolhe a
experincia singular de um sujeito e isso o que formalizado em Freud e em Lacan. A
formalizao diz respeito experincia e no a qualquer explicao. O sujeito, entanto sujeito de
desejo, se constitui a partir de um conjunto de elementos, mas basicamente s pode vir a
acontecer a partir da castrao simblica que instaura o desejo como falta (falta de um objeto
perdido desde sempre) que procura ser preenchida com objetos causa de desejo, categorizado
por Lacan como objeto a. A lei, entanto interdio, possibilita o desejo e o aparecimento do objeto
a, mas tambm estabelece uma barrera que se articula atravs da sublimao ou se manifesta no
modo da inibio, do sintma ou da angustia. O recalque cria o sintoma como uma defesa e um
modo de satisfao do desejo recalcado. Assim, o Eu busca assimilar esse sintoma, torna-se seu
cumplice, procura acobert-lo. Uma psicanlise como uma experincia tica cria as condies de
possibilidade de articular um saber e uma relao singular com esse saber que no pode ser
pautado exemplarmente pela relao que eu tenho com o Outro ou os outros, quer dizer, com a
lei, a sociedade, a cultura, a linguagem e as outras pessoas. Mas isso no signifique que negue
essas relaes ou possam ser meramente indiferentes.
Consideraes Finais
Agora, estamos em condies de formular a pergunta fundamental: agiste em conformidade
com teu desejo? (Lacan 1959-60, p. 373). A pergunta, claro, no busca um final feliz, at porque
sabemos desde Kant que nada garante a felicidade, nem mesmo uma tica dos bens. O que a
experincia analitica busca um para alm do dever, dos bens, da lei. O que busca uma certa
transgreso do sujeito perante a interdio, uma certa funo tica do erotismo que nos permite,
em definitiva, que algo, como efeito, aparea como sujeito de desejo. Assim, a experincia que
acolhe a relao entre sujeito e objeto do desejo no se resolve em uma relao cognitiva, mas
tica. Kant e Sade marcam um privilegio da dor como sentimento nevrlgico da ao. A dor, a
humilhao um sentimento a priori em Kant. Mas preciso dizer que este sentimento deve ser
ultrapassado at alcanar a apatia nos dois casos. Para alm desta situao, a tica do desejo no
se articula pelo sentimento de culpa, mas pelo da responsabilidade. A implicao subjetiva
(momento decisivo da experincia analtica) no outra coisa que ter-que-se-haver com o
prprio desejo, inclusive nos sonhos ou qualquer outra forma de apresentao das fantasias. No
ter-que-se-haver com as fantasias como o que so, com tudo o que isso implica para a vida de
um sujeito, talvez seja o momento afetivamente mais duro da experincia analtica como
experincia tica. Nessa situao no h culpa, nem prpria, nem alheia. No h alibi na
obrigao, no dever, na necessidade natural ou histrica. S resta um gesto tico.
Notas
Para um estudo aprofundado da semntica transcendental kantiana em diferentes perspectivas ver Loparic 2000;
Hanna 2001; Perez 2008.
2
Ver tambm Baas 2001, especialmente p. 15.
3
Ver KANT, I. Crtica da razo prtica, especialmente no captulo III sobre o Triebfeder.
4
Para um estudo dos diferentes enunciados da lei moral ver Paton 1971, 129ss.
1
Referncias Bibliogrficas
BAAS, B. (2001). O desejo puro. Rio de Janeiro: Livraria e Editora Revinter.
Revista AdVerbum 4 (2) Ago a Dez de 2009: pp. 104-112.
O Sexo e a Lei em Kant e a tica do Desejo em Lacan.
112
BENTHAM, J. (1932). Theory of fictions. London, Kegan Paul, Trench, Trbner, edited by C.K.
Ogden.
FREUD, S. (1986). Obras Completas. 23 vol. BsAs: Hyspamerica.
_______ (1995). Projeto de uma psicologia. Trad. Osmyr Faria Gabbi Jr. RJ: Imago.
HANNA, R. (2001). Kant and the Foundations of Analytic Philosophy. Clarendon: Oxford Univ. Press.
KANT, I. (1997) Kants Gesammelte Schriften /hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen Akademie
der Wissenschaften. Berlin: W. de Gruyter, 1902-1997.
_______ (2009). Crtica da razo prtica. So Paulo: Martins Fontes.
_______ (2007). Fundamentao da metafsica dos costumes. Lisboa: Edies 70.
LACAN, J. (1997). O seminrio. Livro 7 a tica da psicanlise. 1959-60. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor.
________ (1998). Escritos. RJ: Jorge Zahar Editor, 1998.
LOPARIC, Z. (2000). A Semntica Transcendental de Kant. Campinas: Unicamp.
PATON, H. J. (1971). The categorical imperative. A study in Kants Moral Philosophy. Pennsylvania:
Pennsylvania University Press.
PEREZ, D.O. (2008). Kant e o problema da significao. Curitiba: Editora Champagnat.
SADE, MARQUES DE. (2009). A filosofia na alcova. So Paulo: Iluminuras.
ZIZEK, S. (1993). Tarring with the negative. Durham: Duke University Press..
Recebido em 05/08/2009.
Aprovado em 14/10/2009.
Revista AdVerbum 4 (2) Ago a Dez de 2009: pp. 104-112.
Você também pode gostar
- La Divina Commedia - Vasco Garça MouraDocumento146 páginasLa Divina Commedia - Vasco Garça MouraLabCEO UFFAinda não há avaliações
- 4 - 22114 56780 1 SMDocumento8 páginas4 - 22114 56780 1 SMAbenon MenegassiAinda não há avaliações
- Ernest Jones - The Early Development of Female SexualityDocumento11 páginasErnest Jones - The Early Development of Female Sexualitymarcelo-viana100% (1)
- VERTZMAN Julio - Vergonha Honra e ContemporaneidadeDocumento25 páginasVERTZMAN Julio - Vergonha Honra e ContemporaneidadeEugenio LaraAinda não há avaliações
- Paradoxo Ou Ambivalência Hospício e Prisão o Caso Do Hospital de Custódia e Tratamento HCT BADocumento17 páginasParadoxo Ou Ambivalência Hospício e Prisão o Caso Do Hospital de Custódia e Tratamento HCT BAfsalfsl djksadlnAinda não há avaliações
- Hamlet-A Psicanálise e o Complexo de ÉdipoDocumento16 páginasHamlet-A Psicanálise e o Complexo de ÉdipoericapedroAinda não há avaliações
- A Familia Lacan - Jacques Lacan - A Família - LIVRODocumento68 páginasA Familia Lacan - Jacques Lacan - A Família - LIVROAline Santos SoaresAinda não há avaliações
- La Antroopologia y El Estudio de La Politica Publica Cris Shore en CastellanoDocumento29 páginasLa Antroopologia y El Estudio de La Politica Publica Cris Shore en Castellanoanita_desafio100% (1)
- Aula Inaugural - Lévi - StraussDocumento5 páginasAula Inaugural - Lévi - StraussJuVSampaioAinda não há avaliações
- O Milagre Do Amor e Seu Gozo - Silvia TendlarzDocumento9 páginasO Milagre Do Amor e Seu Gozo - Silvia TendlarzMario Cesar da SilvaAinda não há avaliações
- O FantasmaDocumento10 páginasO FantasmaWilliam MagalhãesAinda não há avaliações
- O Analista Como Parceiro Dos Sintomas InclassificáveisDocumento13 páginasO Analista Como Parceiro Dos Sintomas InclassificáveisDaniela PimentelAinda não há avaliações
- Platão e Lacan - o Amor Entre A Completude e A FaltaDocumento10 páginasPlatão e Lacan - o Amor Entre A Completude e A FaltaStephany Rodrigues CarraraAinda não há avaliações
- Universidade Federal Do Rio de Janeiro Instituto de Psicologia Programa de Pós-Graduação em Teria PsicanalíticaDocumento149 páginasUniversidade Federal Do Rio de Janeiro Instituto de Psicologia Programa de Pós-Graduação em Teria PsicanalíticaCíntia Faria100% (1)
- Os Discursos Éticos de FreudDocumento10 páginasOs Discursos Éticos de FreudWal DirAinda não há avaliações
- Figuras Da Racionalidade - Neokantismo e FenomenologiaDocumento8 páginasFiguras Da Racionalidade - Neokantismo e FenomenologiaAngela DeanAinda não há avaliações
- AUTISMO(s) - E. LAURENTDocumento3 páginasAUTISMO(s) - E. LAURENTEscola Brasileira Psicanálise Ebp SpAinda não há avaliações
- Lacan e FoucaultDocumento18 páginasLacan e FoucaultarquipelagoAinda não há avaliações
- Comentário Falado Sobre A Verneinung de Freud Por Jean HyppoliteDocumento6 páginasComentário Falado Sobre A Verneinung de Freud Por Jean HyppolitebcdpaulaAinda não há avaliações
- Wunsch 17Documento50 páginasWunsch 17WiesengrundLudwigAinda não há avaliações
- III - Acerca de Uma Visão de MundoDocumento2 páginasIII - Acerca de Uma Visão de MundoRodolfo RodriguesAinda não há avaliações
- O Que É o Real - PommierDocumento10 páginasO Que É o Real - PommierMaxsander Almeida de SouzaAinda não há avaliações
- Gozo, Corpo e Linguagem Na Clínica PsicanalíticaDocumento6 páginasGozo, Corpo e Linguagem Na Clínica PsicanalíticaJuliana FalcãoAinda não há avaliações
- Vladimir Safatle - Espelhos Sem Imagens - Mimesis e Reconhecimento em Lacan e AdornoDocumento25 páginasVladimir Safatle - Espelhos Sem Imagens - Mimesis e Reconhecimento em Lacan e AdornoGervando Braga CastorAinda não há avaliações
- Direcao Da CuraDocumento9 páginasDirecao Da CuraFelix Jose LescinskieneAinda não há avaliações
- 1991 - Estetica Da Psicanalise II 2 Ed. Ebook 07092016Documento405 páginas1991 - Estetica Da Psicanalise II 2 Ed. Ebook 07092016bruno.tarpaniAinda não há avaliações
- OS QUATRO DISCURSOS DE LACAN E O DISCURSO DA CIÊNCIA - Convergências e DivergênciasDocumento8 páginasOS QUATRO DISCURSOS DE LACAN E O DISCURSO DA CIÊNCIA - Convergências e DivergênciasAugusto PereiraAinda não há avaliações
- As Sombras e o SoproDocumento23 páginasAs Sombras e o SoproRafaelLosadaAinda não há avaliações
- O Adolescente e Seus EnlacesDocumento9 páginasO Adolescente e Seus EnlacesLUIZ CARLOS DE OLIVEIRAAinda não há avaliações
- Conceito de Amor Segundo Aristófanes em "O Banquete" de Platão.Documento4 páginasConceito de Amor Segundo Aristófanes em "O Banquete" de Platão.Juliano Gustavo Ozga100% (1)
- O Desencantamento Da Psicanalise Jacques-Alain MillerDocumento34 páginasO Desencantamento Da Psicanalise Jacques-Alain Millerfabioazeredo100% (1)
- A Direção Da CuraDocumento55 páginasA Direção Da Curaestigmadrogas100% (1)
- Ondina Machado A Clinica Do Sinthoma e o Sujeito Contemporaneo AsephlusDocumento7 páginasOndina Machado A Clinica Do Sinthoma e o Sujeito Contemporaneo AsephlusAdil_sonAinda não há avaliações
- Por Que o Discurso Capitalista Diz Respeito A Psicanalise Joaquin CARETTI RIOS SDocumento3 páginasPor Que o Discurso Capitalista Diz Respeito A Psicanalise Joaquin CARETTI RIOS SJaciany SerafimAinda não há avaliações
- Askofare - Do Social Ao Individual PDFDocumento17 páginasAskofare - Do Social Ao Individual PDFCibele GugelAinda não há avaliações
- ARBEX, José. O Poder Da TV.Documento5 páginasARBEX, José. O Poder Da TV.Marcelo Alves Dos Santos JuniorAinda não há avaliações
- Relações Entre A Histeria e A PerversãoDocumento13 páginasRelações Entre A Histeria e A PerversãoWender Marques100% (1)
- David-Ménard - Identificação e HisteriaDocumento24 páginasDavid-Ménard - Identificação e HisteriaLu TonatoAinda não há avaliações
- Zeferino Rocha - Atos Obsessivos e Exercícios ReligiososDocumento17 páginasZeferino Rocha - Atos Obsessivos e Exercícios ReligiososMarcela Maria AzevedoAinda não há avaliações
- Mascarada PDFDocumento1 páginaMascarada PDFnelson.horoAinda não há avaliações
- Performatividade e Transexualidade: Judith Butler e Sua Teoria Da Performatividade de GêneroDocumento6 páginasPerformatividade e Transexualidade: Judith Butler e Sua Teoria Da Performatividade de GêneroBea TnikAinda não há avaliações
- TEMPO E ATO ANALITICO (Ram Mandil)Documento6 páginasTEMPO E ATO ANALITICO (Ram Mandil)Clarice Tulio100% (1)
- Alain Didier-Weill - Quando o Que Não Cessa de Se Escrever Cessa de Não Se EscreverDocumento6 páginasAlain Didier-Weill - Quando o Que Não Cessa de Se Escrever Cessa de Não Se EscreverAmandaAinda não há avaliações
- A Erótica Do LutoDocumento100 páginasA Erótica Do LutoLídia SilvaAinda não há avaliações
- Comentário Sobre A "Introdução À Edição Alemã de Um Primeiro Volume Dos Escritos", de Jacques LacanDocumento2 páginasComentário Sobre A "Introdução À Edição Alemã de Um Primeiro Volume Dos Escritos", de Jacques LacanSergiodeMaracaja100% (2)
- A LOUCA DOS GATOS? ? Ou Sobre Como Gaslaitear o Feminino: Um Estudo Sobre A Violência Psicológica No Âmbito Do GêneroDocumento24 páginasA LOUCA DOS GATOS? ? Ou Sobre Como Gaslaitear o Feminino: Um Estudo Sobre A Violência Psicológica No Âmbito Do GêneroCarlos Henrique Lucas LimaAinda não há avaliações
- Entre o Couro e A Carne - Jacques Lacan PDFDocumento244 páginasEntre o Couro e A Carne - Jacques Lacan PDFDianaBeenAinda não há avaliações
- SIMANKE, R. - Freud e Sua BahnungDocumento30 páginasSIMANKE, R. - Freud e Sua BahnungGabriel Lima100% (1)
- A Prevalência Do FaloDocumento7 páginasA Prevalência Do FaloLucas BavieraAinda não há avaliações
- Qual Saber Há No Real - Terezinha PradoDocumento11 páginasQual Saber Há No Real - Terezinha PradoMateusAinda não há avaliações
- Celso Renno O Desejo Do Analista o Pivo Do Tratamento1Documento5 páginasCelso Renno O Desejo Do Analista o Pivo Do Tratamento1milenanadierAinda não há avaliações
- O Real No Séc. XXI (2012)Documento6 páginasO Real No Séc. XXI (2012)DiegoAinda não há avaliações
- Miller, J.-A. Leitura Crítica Dos Complexos FamiliaresDocumento16 páginasMiller, J.-A. Leitura Crítica Dos Complexos FamiliaresPatricia VitorAinda não há avaliações
- Lacan - Aula 10Documento6 páginasLacan - Aula 10ilkaAinda não há avaliações
- O Brincar Como Processo Psicanalitico - Modulo 4 PDFDocumento23 páginasO Brincar Como Processo Psicanalitico - Modulo 4 PDFJoao L. AndretaAinda não há avaliações
- Sidi Askofaré - O Amor DesmetaforizadoDocumento11 páginasSidi Askofaré - O Amor Desmetaforizadomarcelo-vianaAinda não há avaliações
- Derrida Estados Da Alma Da Psicanalise Crueldade ResenhaDocumento7 páginasDerrida Estados Da Alma Da Psicanalise Crueldade ResenhabrunofnAinda não há avaliações
- O vale da feitura da alma: O modelo pós-kleiniano da mente e suas origens poéticasNo EverandO vale da feitura da alma: O modelo pós-kleiniano da mente e suas origens poéticasAinda não há avaliações
- Daniel Omar Perez Os Significados Do Conceito de Hospitalidade em KantDocumento12 páginasDaniel Omar Perez Os Significados Do Conceito de Hospitalidade em KantDaniel Omar PerezAinda não há avaliações
- A Relação Entre A Teoria Do Juizo e Natureza HumanaDocumento26 páginasA Relação Entre A Teoria Do Juizo e Natureza HumanaDaniel Omar PerezAinda não há avaliações
- Daniel Omar Perez A Semântica Transcendental de KantDocumento2 páginasDaniel Omar Perez A Semântica Transcendental de KantDaniel Omar PerezAinda não há avaliações
- Daniel Omar Perez A Filosofia Como Literatura em Jorge Luis BorgesDocumento9 páginasDaniel Omar Perez A Filosofia Como Literatura em Jorge Luis BorgesDaniel Omar PerezAinda não há avaliações
- Daniel Omar Perez Os Significados Da História em KantDocumento43 páginasDaniel Omar Perez Os Significados Da História em KantDaniel Omar PerezAinda não há avaliações
- Daniel Omar Perez A Semântica Transcendental de KantDocumento2 páginasDaniel Omar Perez A Semântica Transcendental de KantDaniel Omar PerezAinda não há avaliações
- (Des-) Articulação Dos Problemas Da MetafísicaDocumento41 páginas(Des-) Articulação Dos Problemas Da MetafísicaFranzé MatosAinda não há avaliações
- Temas de Redação - 4 ANO - PROFDocumento4 páginasTemas de Redação - 4 ANO - PROFLilian Lopes Pinheiro100% (1)
- Estruturalismo, A Psicologia Como Ciência Da MenteDocumento13 páginasEstruturalismo, A Psicologia Como Ciência Da MenteLUCAS CONCEICAOAinda não há avaliações
- WIKIPEDIA. Heráclito (Tradução Do Alemão)Documento29 páginasWIKIPEDIA. Heráclito (Tradução Do Alemão)Luiz SouzaAinda não há avaliações
- Aula 1 - Origem Do Câncer PDFDocumento12 páginasAula 1 - Origem Do Câncer PDFGilberto Catalino Franco JuniorAinda não há avaliações
- 03 - A Natureza de Nossa PrisãoDocumento94 páginas03 - A Natureza de Nossa PrisãoJunior ViniciusAinda não há avaliações
- Exercicios de Portugues 1Documento89 páginasExercicios de Portugues 1ivanadesouzabarros100% (1)
- Caracterização Geológica e Geotécnica Do Lixão Desativado de São Carlos - SP PDFDocumento3 páginasCaracterização Geológica e Geotécnica Do Lixão Desativado de São Carlos - SP PDFSimone Rocha OliveiraAinda não há avaliações
- Fichamento Hermenêutica SoaresDocumento10 páginasFichamento Hermenêutica SoaresSara LiraAinda não há avaliações
- Apostila - Estudo Do MovimentoDocumento11 páginasApostila - Estudo Do MovimentoAlyne SantosAinda não há avaliações
- Aristóteles - A Felicidade Como Sabedoria PráticaDocumento2 páginasAristóteles - A Felicidade Como Sabedoria Práticastealthninja911Ainda não há avaliações
- Projeto de Unidades Produtivas - Questionario de PupDocumento10 páginasProjeto de Unidades Produtivas - Questionario de PuprodrigoAinda não há avaliações
- Trabalho de HermenêuticaDocumento1 páginaTrabalho de HermenêuticaMaxwell TrindadeAinda não há avaliações
- Mateus Coutinho TCC Maio 22 REV BRUNODocumento37 páginasMateus Coutinho TCC Maio 22 REV BRUNOMateus CoutinhoAinda não há avaliações
- Trabalho de Didactica Geral - Mateus CastigoDocumento15 páginasTrabalho de Didactica Geral - Mateus CastigoZeca NoaAinda não há avaliações
- James Clavell - Turbilhão 2Documento419 páginasJames Clavell - Turbilhão 2NishelyAinda não há avaliações
- Bases Morfológicas E Funcionais Do Sistema Nervoso: Proposta de ResoluçãoDocumento3 páginasBases Morfológicas E Funcionais Do Sistema Nervoso: Proposta de ResoluçãoMarcia CostaAinda não há avaliações
- Aula 5Documento8 páginasAula 5gabriel ChavesAinda não há avaliações
- E DISSE DEUS HAJA CRUZ, E HOUVE CRUZ - Caio FábioDocumento2 páginasE DISSE DEUS HAJA CRUZ, E HOUVE CRUZ - Caio FábioRogerio LázaroAinda não há avaliações
- Enfermagem Obst - Trica e NeonatalDocumento49 páginasEnfermagem Obst - Trica e NeonatalBruna YagamiAinda não há avaliações
- Pratica Da Fe para Vencer As DificuldadesDocumento3 páginasPratica Da Fe para Vencer As DificuldadesGustavo SantanaAinda não há avaliações
- Admin, 02 ComprimidoDocumento13 páginasAdmin, 02 ComprimidoJames HaperAinda não há avaliações
- Worshop Yummy EnglishDocumento4 páginasWorshop Yummy EnglishTany FolleAinda não há avaliações
- Prova Objetiv Apism 3Documento19 páginasProva Objetiv Apism 3Dimas GuidoAinda não há avaliações
- Antropologia Rural e Urbana UniasselviDocumento210 páginasAntropologia Rural e Urbana UniasselviRachelAinda não há avaliações
- Quimica - Propriedades Dos Líquidos e SólidosDocumento3 páginasQuimica - Propriedades Dos Líquidos e SólidosQuímica Qui0% (2)
- Aplicações Da Integral DefinidaDocumento16 páginasAplicações Da Integral DefinidaAnonymous BxUSxSAinda não há avaliações
- Caetana Garcia - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocumento3 páginasCaetana Garcia - Wikipédia, A Enciclopédia LivreRichard LucianoAinda não há avaliações
- Jean Jacques RousseauDocumento23 páginasJean Jacques RousseauPatricia Caldeira Tolentino CzechAinda não há avaliações
- Correção Das Atividades Página 146-147Documento18 páginasCorreção Das Atividades Página 146-147Luan100% (5)