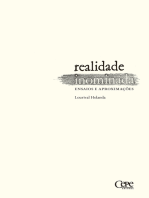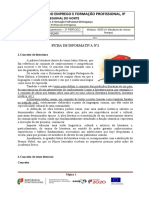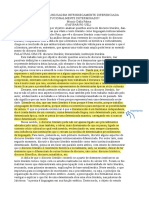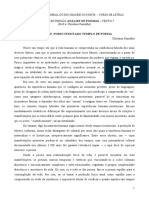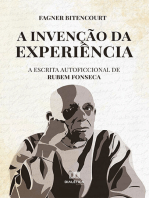Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Análise Literária
Enviado por
Rafael0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
37 visualizações8 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
37 visualizações8 páginasA Análise Literária
Enviado por
RafaelDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 8
1
A Anlise Literria: uma introduo
A linguagem um fenmeno que agrega muitas teorias. A propagao cientfica das
problemticas que ela engendra, coube tambm teoria literria. As artes, como linguagem
essencial que so, merecem uma atitude cientfica, que perquira hipteses dentro de problemas,
acentue uma investigao metodolgica e defina resultados dentro de uma linha ideolgica de
estudo. Ter atitude cientfica sobre a literatura o primeiro passo para compreend-la. Muito se
tem dito da literatura popular, daquela desvencilhada de aparatos tcnicos; outros acentuam o
poder da arte de consumo, art pop, cult art, literatura descartvel de fruio rpida e
descompromissada; mas at mesmo estas apresentam motivos para problematizaes: so
realmente arte? possuem literariedade?
O grande pedestal da atitude crtica e cientfica sobre o objeto de arte verbal a ANLISE
LITERRIA; encarada como uma sistematizao da obra de arte por alguns; vista como
libertadora dos sentidos segundo outros; o que basta para uma investigao sobre a anlise
literria saber o que ela consegue engendrar sobre si: portanto, deixo claro aqui trs grandes
pilares da Anlise Literria em sua operao sobre a linguagem artstica.
A anlise literria como libertadora dos sentidos poticos;
A anlise literria como desmistificadora e mistificadora do texto e seu funcionamento;
A anlise literria como grau essencial para a crtica literria;
Nos primrdios da comunicao, a ato de compor peas literrias, amarradas s canes, faziam
de seus autores verdadeiros magos; tratados como msticos pelos filsofos do centurio Greco-
Romano, mal sabiam estes que seus recursos podiam ser explicados facilmente um pouco mais a
frente, pelo que ento seria conhecida por Lingstica e semitica;
O poeta re-organizador da linguagem; ele compila as palavras certas e combina estas palavras
para causar o efeito literrio; nesta busca de selecionar os termos certos e combinar da melhor
maneira possvel, ele at que se assemelha ao comunicador comum, que de certo modo tambm
escolhe as palavras e combina no cotidiano; a diferena latente entre um escritor literrio e outro
no literrio, a necessidade potica que existe no ato de seleo e combinao; valorizar a
funo potica um dos preceitos bsicos do artista literata; seu discurso deve impulsionar
significaes e no priv-las e/ou limit-las; o poeta liberta o cdigo de sua condio de
mesmice, de cotidiano, de regularidade; ele provoca na linguagem aquilo que ela possui de
mxima potencialidade de representar: visualmente, sonoramente, graficamente e
conceitualmente.
Nota-se que o discurso literrio no aprisiona conceitos, no dogmatiza, no se priva no tempo;
na verdade ele abre lacunas, possibilita brechas em seus interstcios, impessoaliza, procura
2
abster-se de solues fceis para o leitor e torna a obra literria um elemento coletivo, onde sua
realizao completa encontra-se no leitor
"no existe texto literrio sem um leitor literrio"
Ora, se no existe uma obra sem um leitor apto, a primeira habilidade a anlise.
A partir do postulado acima, todo texto fruto de um preparo, de seleo e combinao,
surtindo efeitos que ainda no foram designados: o efeito mor da literatura a ligeira sutileza
entre o belo e o sentido;
Captar o sentido a tarefa do analista literrio; mas no capt-lo somente em uma leitura
individual, apenas substituindo metforas; captar o sentido tambm prever onde e como eles
se originaram; quais termos o poeta escolheu para surtir polissemia e porque escolheu; por que
combinou e quais as possibilidades que ele conseguiu potencializar no ato desta combinao;
Notem que aqui estamos a frisar o primeiro pilar, j assinalado logo acima, de Anlise como
Libertadora de Sentidos.
Esta condio de descobrir os sentidos atravs da combinao e seleo j foi intensamente
explicitada pelos formalistas Russos, principalmente por Roman Jakobson; mas, onde realmente
o sentido surge, somente a semitica moderna vem adentrando no problema. Greimas j previu
que o sentido surge nas diferenas. Estas combinaes smicas que se d entre tropos
(construes unitrias) perfaz o caminho terico suscitado por Zilberberg.
De um modo geral, fechando esta primeira premissa (Anlise como Libertadora de Sentidos),
temos que entender o analista como um investigador do texto, procurando os "ns" (como
afirmava Derrida) de sentido, que sempre estaro nos porqus da escolha daquele vocbulo
junto a aquele outro. Ento, estabelecer um estudo sistemtico dos sentidos, aquilo que ele nos
suscita, nos provoca e explicar este processo, anlise literria.
Por outro lado, mistificar sempre foi uma forma de poder. Mistificavam para combater na Idade
mdia pobres coitados (Hereges), porque assim eles poderiam estar ao mesmo nvel da Igreja,
detentora do saber divino e nico caminho com o oculto, legitimando assim as fogueiras.
Mistificavam os poetas gregos porque neles estaria a representao cabal do pover divino. Ora,
ento porque mistificar o texto literrio? Sabendo desta condio de poder, a anlise tem a
possibilidade de agregar potencialidades ao discurso literrio, que ora pode agir como elemento
suplementar s necessidades humanas.
Como exemplo podemos analisar textos de auto-ajuda. Este rtulo faz com que meras metforas
toscas (ratos e humanos) "Quem ...eu meu queijo" possam ser consideradas prolas do
imaginrio humano, e mais do que isso, possam ser consideradas elementos salvadores. Por que
no utilizar o ritual, o mistificar o texto literrio para agregar a ele seu valor devido? Notem que
este um fenmeno lingstico e no moral. mistificar para des-mistificar. Valorizar a
construo a tal ponto que sua explicao seja a nica forma de contempl-la totalmente, de no
3
deixar escapar nenhuma gota de sua seiva polifnica. Valorizar a obra como quem valoriza,
posteriormente, o prprio ato de analis-la.
Descortinar as possibilidades constitutivas da literatura uma amlgama da ordem humana, e
no simplesmente cientfica ou escolar. Vrios homens de talento perderam seu precioso tempo
estudando a arte verbal. deste ponto que vem o cerne das questes sobre a intencionalidade
textual, objeto to caro aos analistas semiticos. O ato de tornar a arte literria a presentificao
de um real que no pode ser tocado seno pela linguagem (Lyotard) faz com que esta seja
crucial ao andamento cultural da humanidade. A linguagem tem a fora e propriedade de
referendar o mundo atravs de sua categoria "representativa". Mas a literatura, feita de
linguagem, tem a fora para alm de referendar o mundo, dot-lo de vivacidade, colorao,
intensidade, fora, emoo. Isto presentificao. Pontuar na intencionalidade de dado texto
literrio, a frmula de transformar signos em paixes, textos em tragdias e narrativas e picos
humanos.
O ato de presentificar no discurso uma poro humana, no deixa de ser uma mistificao cabal
do discurso. Desmistificar o texto literrio seno torn-lo inteligvel aos olhos da cultura. Aos
olhos de um interpretante (Peirce) cada vez mais dotado de valores semiticos.
Por fim, a crtica literria compreende-se de uma postura cientfica sobre dado objeto artstico
verbal. Avaliar uma construo e julg-la, antes de tudo prever as relaes que existe entre a
forma e o contedo; articular as noes de potica e literariedade frente uma interface de
escrita / saber / poder, que suscita variaes artsticas, lingsticas e humanizadoras. atentar ao
"desempenho" do signo enquanto portador de verdades sociais, filosficas e estticas. O
rascunho operacional e tcnico deste processo aparentemente abstrato e especulativo, a anlise
integral dos componentes construtores "constructos" da inteno artstica. Descortinar processos
de composio, bem como possibilitar empreendimentos de sentido, norteaiam s aes
analticas literrias.
Encarar o texto como um "processo", o que requer uma explicao dinmica (Lotman) e no
determinada do conjunto (vocbulos / signos / marcas representativas) conflui em anlise
literria. Descrever a relatividade e intencionalidade dos sistemas representativos, bem como
seus componentes inerentes e explcitos, valoriza a proposio simblica da linguagem bem
como legitima sua condio de grande metfora humana.
No se tem crtica literria sem uma anlise literria bem arquitetada e explicativa. Da mesma
forma que no entendemos um texto potico e ou narrativo sem um prembulo de mistrio e
ritual. A literatura est dentro de um circuito complexo de variveis cientficas, onde o aspecto
formal (linguagem) dialoga com inferncias culturais, emocionais e ideolgicas. Cabe-nos
reconhecer a anlise literria como instrumento eficiente e cientfico ao contato direto com a
potica.
4
RECURSOS PARA ANLISE LITERRIA
ASPECTOS FORMAIS (DESCRIO)
1. Disposio grfica do texto (formato visual, extenso do verso)
2. Ritmo; (Sintaxe e pontuao)
3. Melopia: (sonoridades: fludas, speras, duras, etc)
4. Versificao (classificao quanto ao perodo)
5. Escolhas morfolgicas:
a) aes; (verbos) Implica em presena forte do ser / fazer / parecer / oposies e embates com
algo (passion)
b) nominalizaes (substantivos) Implica descries / estados / visualidade / referncias /
pictrico
c) caracterizaes (adjetivos); Implica opinies / parcialidade
6. Identificao do Eu potico
a) Quais os conflitos?
b) Com quem?
ASPECTOS DA FORMA QUE PROJETAM INFORMAES SEMNTICAS
(DESCRIO COM FORMAO DE SENTIDOS)
1. Figuras de Sentido
a)metforas
b)smbolos
c)paradoxos
d)antteses, etc
2. Perverses Sintticas
3. Imagens: logopia (realizao)
4. Signos dominantes;
a) ttulo
5
b) determinantes
- Por que o autor quis colocar isto aqui?
- O que a forma projeta de sentidos;
- Quais as informaes que ela me proporciona
- qual a hiptese de leitura que irei desenvolver;
- quais os dados que ela me fornece para prosseguir em minha escolha de sentido;
RESSALTAR A LITERARIEDADE
- O que a obra tem de valor literrio;
- quais os cdigos visveis de Arte, presentes no texto;
SISTEMAS SEMITICOS
- posso conduzir a anlise a uma leitura de outro sistema semitico: pintura; sociedade; vida;
etc.
- Sempre deve existir citaes do texto para comprovar minhas idias;
Isotopias - Relaes smicas (semas) e novos sentidos (vertical)
Criao de elementos pr-simblicos
Isotopias - Relaes smicas dentro do sistema; procura de identidades
(classemas) sema contextual
DICAS PARA A ANLISE LITERRIA
DICAS PARA A ANLISE LITERRIA
Prof. Rmulo Gicome de Oliveira Fernandes
D MARGENS S PRIMEIRAS IMPRESSES;
- Destaque o Valor Denotativo das palavras primeiro, pois preciso conhecer o referencial para
desvendar os sentidos;
6
- Valorize as Imagens; realize-as com fidelidade e clareza de detalhes; elas daro informaes
valiosas sobre o texto
PROCURE AS CONTRADIES:
- Segundo a semntica Greimasiana, o sentido sempre est na diferena; faa uma leitura
inspecional procurando estranhamentos ou referncias no determinadas; procure tambm os
exageros;
SAIBA DISTINGUIR O GNERO:
- Um poema tambm pode estabelecer contatos com gneros narrativos; observe se ele mais
descritivo, dando nfase aos adornos ou detalhes nas imagens; ou se narrativo, valorizando
uma ao, uma cena, um momento; Ou totalmente lrico, valorizando um devaneio, um
pensamento, uma digresso;
DESCUBRA O EU LRICO E SUAS RELAES
- Um poema, classicamente, sempre um falar emotivo sobre algo ou algum, ou quase sempre
de si mesmo; por mais que um sujeito fale de outro ou de outra coisa na poesia, ele sempre
estar implicando um estado dalma prprio. Procure estabelecer relaes do eu lrico com
aquilo (algo ou algum) que ele fala.
RECURSOS
- A metodologia bsica de anlise parte da proposio:
a. Descrever e Classificar os recursos;
b. Analisar a intencionalidade do autor em propor aquele recurso;
c. Analisar a composio daquele recurso, ou aquilo que faz dada metfora (por exemplo)
funcionar como tal, representando uma significao a partir das possibilidades de sentido;
d. Efetuar uma leitura original sobre a obra, interpretando-a a partir dos sentidos conotados dos
signos postos (significado).
Comprovar a leitura original a partir dos fundamentos textuais.
- Observe que qualquer signo posto em uma obra literria um recurso; uso de adjetivos,
imagens, substantivos, verbos, neologismos; a escolha de um termo em detrimento de outro
marca do recurso;
- As figuras de linguagem de um modo geral so sempre recursos importantes na poesia;
- A escolha de um ritmo ou de uma rima, bem como aliteraes e assonncias tambm so
intencionalmente recursos poticos que iro concentrar significao;
1. A crtica literria dividida em duas aes: (metodologia bsica)
a) Desdobrar a obra do ponto de vista dos sentidos, propondo releituras e revises
interpretativas, relatando estas leituras atravs de meta-textos;
7
b) Averiguar e descrever a qualidade da obra segundo parmetros centrais da crtica literria
atual.
Estas aes esto pautadas na estratgia e postura central da cincia TEORIA DA
LITERATURA: a anlise literria. Atravs desta, poderemos desmontar o texto, procurando
diagnosticar os recursos / terminolgicos logo abaixo citados.
2. A questo da qualidade:
2.1. A qualidade enquanto constructo; matria verbal trabalhada de modo a propiciar
as categorias centrais estudadas pela Teoria da Literatura: (eis abaixo as terminologias que so
seno componentes operacionais identidades que a anlise propicia diagnosticar)
a) Modulao: (capacidade de abstrao do signo; do denotativo para o conotativo) Iuri
Lotman; Greimas
b) Literariedade: (relao harmnica do sentido com a forma; a beleza esttica da
escolha e combinao para erigir sentidos mltiplos) Ezra Pound; Terry Eagleton
c) Polissemia: (uma obra aberta e neutra do ponto de vista semntico; sem necessidades
de compreenses literais e possibilidades de mltiplas escolhas e substituies) Greimas e
Todorov.
d) Significao: (a potncia de relacionar-se com determinado contexto elocutrio e
significativo e a partir dele conseguir manter-se nova e viosa, apontando novas possibilidades
culturais, antropolgicas, tericas e interpretativas); Roland Barthes
e) Funo Potica: (a relao entre o eixo da seleo e o da combinao verificando a
literariedade deste processo, bem como se a funo dominante a potica ou metalingstica)
2.2. A qualidade enquanto sistema representativo de dada cultura (manifestao
humana) e histrica na confeco do discurso da humanidade:
a) Performance do Signo: Seu poder de dilogo com outros signos dentro do sistema
potico, possibilitando relaes multi-dimensionais;
b) A representao do discurso: se o discurso possibilita links com outros discursos
prontos ou no, evidenciando o carter de hipertexto da teia verbal; (o sentido de um texto
outro texto; o sentido de um signo outro signo).
c) Coeso Semitica: ao nvel da teia e signos e semas, a existncia de coeso das
clulas semnticas entre si;
2.3. A qualidade enquanto processo estilstico da forma e da retrica potica:
a) Logopia: beleza das imagens (descrio); carter inovador das imagens, coerncia
imagtica, acabamento visual;
b) Melopia: beleza da sonoridade; criatividade nas harmonias; possibilidade de
sentidos e grau esttico dos ritmos (pontuao, cadncia dos versos, classificao das rimas,
numerao tnica); relao do sentido com a msica do poema;
c) Figuras de linguagem: acabamento na confeco das metforas e alegorias; uso dos
smbolos; as metonmias; figuras de inverso;
2.4. A qualidade do texto enquanto ente fundado no cnone esttico; (Harold Blom,
Yale, 2004)
a) Perceber relaes do texto com um cnone esttico, possuidor de caractersticas
literrias, histricas e scio-culturais; definir qual este cnone;
8
b) Detectar e descrever as relaes existentes entre o poeta analisado com autores
especficos do cnone a que a obra reside; (fazer contraponto com um ou dois autores)
c) A qualidade do texto estar determinada pelo uso do cnone potico com suas
variveis:
a. O autor conseguiu manter coerncia a um cnone; esta verossimilhana cannica
propiciou ao autor qualidade de manuteno dos atributos bsicos da poesia naquele momento;
b. O autor evoluiu e inovou seu cnone; trouxe a tona novos procedimentos e novas
vises poticas; sua qualidade estar analgica a seu valor de inovao e transcendncia
norma esttica;
c. O autor est margem e inferior ao seu cnone; sua obra reproduz um censo-comum,
com quantidade exorbitante de clichs poticos que esto desatualizados e no causam
estranhamento;
d. O autor no possui cnone aparente; a semiose destitui a obra de no estar ancorada
em algum cnone; ou temos um mix cannico ou uma obra primitiva, sem embasamento formal
e potico de construo;
Notas sobre o discurso crtico:
Existem muitas maneiras de construir um discurso crtico. (a resultante de todo este
trabalho crtico). Por existir frmulas perfeitas, algumas dicas tornam-se relevantes:
a) O discurso crtico possui um juzo baseado em valores muitas vezes parciais. O DC
deve apresentar a obra ao leitor, mostrando o que ela possui de sentido (via de sua interpretao
no meta-texto) e indicando sua potncia de significao (o que ainda podemos extrair dela);
deve reapresent-la em suas caractersticas positivas e tambm negativas, apresentando
neutralidade; cabe ao leitor ponderar sobre os atributos dados pelo DC e concluir se a obra boa
ou ruim;
b) Quanto mais sentidos um crtico consegue extrair da obra, teremos mais
possibilidades do leitor evoluir o processo; o crtico o primeiro a garimpar o texto; as
pegadas deixadas por seu trabalho conduziro a novas hipteses do leitor; nunca o DC deve
fechar a obra a outras interpretaes, mais sim motiv-la e incit-la;
c) O crtico o primeiro a divulgar uma obra; muitos leitores lem o texto pelos olhos
do crtico; criar esteretipos prejudica o processo de significao; por outro lado, propiciar ao
leitor comum maneiras mais fceis de abordar a obra latente; o crtico sempre deve ser um
divulgador e empolgado pela obra, um admirador da qualidade.
d) A linguagem deve ser objetiva e clara; acessvel a todas as categorias verbais e
culturais; esclarecer os critrios apresentando as provas (anlises) e diagnosticando a qualidade
segundo padres lcidos e informativos.
Você também pode gostar
- Orientações para Aplicação Do TCLPPDocumento4 páginasOrientações para Aplicação Do TCLPPmariellem6marchiolli100% (5)
- Resumo LatimDocumento6 páginasResumo LatimTristan Fedyushhyna Chazov100% (1)
- A Literatura e A Formação Do HomemDocumento10 páginasA Literatura e A Formação Do HomemDeimisonVitorianoAinda não há avaliações
- Os Pré-SocráticosDocumento353 páginasOs Pré-SocráticosDouglas Oliveira Soares100% (2)
- As Funções Da LiteraturaDocumento5 páginasAs Funções Da LiteraturaClarice GhisiAinda não há avaliações
- O Que Eu Odeio em FoucaultDocumento3 páginasO Que Eu Odeio em FoucaultRafaelAinda não há avaliações
- Candido A - A Literatura e A Formação Do HomemDocumento10 páginasCandido A - A Literatura e A Formação Do HomemRhuana LimaAinda não há avaliações
- Coelho Neto e Sua Obra, Péricles MoraesDocumento210 páginasCoelho Neto e Sua Obra, Péricles MoraesSamanta MAinda não há avaliações
- Terry EagletonDocumento26 páginasTerry EagletonPedro FortunatoAinda não há avaliações
- Verbos - Modos-Tempos Simples e Compostos PortuguesDocumento6 páginasVerbos - Modos-Tempos Simples e Compostos Portuguesnidia cecchetto100% (1)
- Dia 14-3 - Terry EagletonDocumento27 páginasDia 14-3 - Terry EagletonNúbia RamalhoAinda não há avaliações
- Nova Gramatica Do Portugues Brasileiro SumarioDocumento17 páginasNova Gramatica Do Portugues Brasileiro SumarioVinicius Neves100% (1)
- Advérbios e Locuções AdverbiaisDocumento3 páginasAdvérbios e Locuções AdverbiaisJane Cristina da Silva100% (1)
- Espanhol para Eventos PDFDocumento168 páginasEspanhol para Eventos PDFedison1968Ainda não há avaliações
- Resumo LiteraturaDocumento4 páginasResumo LiteraturaAndreia CostaAinda não há avaliações
- Introducao Aos Estudos LiterariosDocumento10 páginasIntroducao Aos Estudos LiterariosMalquito Rafael ChaprecaAinda não há avaliações
- Conjugacion de Verbos en PortuguesDocumento13 páginasConjugacion de Verbos en PortuguesmonicaAinda não há avaliações
- Forma e FicçãoDocumento267 páginasForma e Ficçãoeduardo françaAinda não há avaliações
- Herlanda IELDocumento9 páginasHerlanda IELneopoldoAinda não há avaliações
- A Funcao Da Critica Literaria e Seus DescontentesDocumento12 páginasA Funcao Da Critica Literaria e Seus DescontentesLu MendesAinda não há avaliações
- Unidade:1 Evolução Histórica e Semântica Do Lexema LiteraturaDocumento10 páginasUnidade:1 Evolução Histórica e Semântica Do Lexema LiteraturaDel K MozAinda não há avaliações
- Literatura e Texto LiterárioDocumento4 páginasLiteratura e Texto LiterárioSílvia AlfaiateAinda não há avaliações
- FICHA INFORMATIVA #2 - Conceito de Literatura e Tipos de TextosDocumento4 páginasFICHA INFORMATIVA #2 - Conceito de Literatura e Tipos de TextosPaula100% (1)
- Formalismo RussoDocumento13 páginasFormalismo RussoSara MartinsAinda não há avaliações
- O Jogo Do Avesso, em O Intestino Grosso, de Rubem FonsecaDocumento21 páginasO Jogo Do Avesso, em O Intestino Grosso, de Rubem Fonsecakarmanegativo1213Ainda não há avaliações
- Frankenstein e A Estética Da Recepção PDFDocumento4 páginasFrankenstein e A Estética Da Recepção PDFRoberto XavierAinda não há avaliações
- Guiadocrocheebook SpessoDocumento14 páginasGuiadocrocheebook SpessoYara FerroAinda não há avaliações
- Artigo 12Documento6 páginasArtigo 12DANIELA NAYANE FRANCO GOUVEIAAinda não há avaliações
- Estudos LiterariosDocumento8 páginasEstudos LiterariosMalquito Rafael ChaprecaAinda não há avaliações
- Funções Da LiteraturaDocumento8 páginasFunções Da LiteraturaAssaxnho OmarAinda não há avaliações
- ARQUIVO HELIONIACERES - criticamarxistaRosaliadasvisoesANPUHDocumento16 páginasARQUIVO HELIONIACERES - criticamarxistaRosaliadasvisoesANPUHVersátil IdiomasAinda não há avaliações
- Aula 2Documento40 páginasAula 2Marcia PinheiroAinda não há avaliações
- Discurso LiterarioDocumento8 páginasDiscurso Literarioservilio Vieira brancoAinda não há avaliações
- Literatura Luso - BrasileiraDocumento9 páginasLiteratura Luso - BrasileiraElvis Da Maidei ZinioAinda não há avaliações
- FICHAMENTO DO TEXTO Introducao - Antonio CandidoDocumento3 páginasFICHAMENTO DO TEXTO Introducao - Antonio CandidoLuis Gustavo Machado DiasAinda não há avaliações
- Frank MarconDocumento9 páginasFrank MarconSilvio De Almeida Carvalho FilhoAinda não há avaliações
- FICHAMENTO DO TEXTO Introducao - Antonio CandidoDocumento3 páginasFICHAMENTO DO TEXTO Introducao - Antonio CandidoAcauam OliveiraAinda não há avaliações
- Texto Literário e Texto CientíficoDocumento3 páginasTexto Literário e Texto CientíficoCelene NascimentoAinda não há avaliações
- A Linguagem Da Poesia ResumidoDocumento6 páginasA Linguagem Da Poesia Resumidosilva.hudsonAinda não há avaliações
- Aula Do Dia 22 de FevereiroDocumento27 páginasAula Do Dia 22 de FevereiroJeniffer YaraAinda não há avaliações
- APOSTILA 01 - Literatura Clássica Grécia e Roma - 1 SérieDocumento7 páginasAPOSTILA 01 - Literatura Clássica Grécia e Roma - 1 SérieRamon DiegoAinda não há avaliações
- O Ensaio Como VocaçãoDocumento20 páginasO Ensaio Como VocaçãoKarolina de AbreuAinda não há avaliações
- Resumo Primeiro Parcial OralDocumento71 páginasResumo Primeiro Parcial OralGabi ArámburuAinda não há avaliações
- Análise de Poemas 7Documento20 páginasAnálise de Poemas 7Jason LimaAinda não há avaliações
- O Que É Literatura? Provocações Metalinguísticas em Narrativas de Luci CollinDocumento20 páginasO Que É Literatura? Provocações Metalinguísticas em Narrativas de Luci CollinLuciana BarretoAinda não há avaliações
- Fichamento - CullerDocumento14 páginasFichamento - Culleralyne_asg100% (3)
- A CRÍTICA in Manual Da Teoria LiteráriaDocumento6 páginasA CRÍTICA in Manual Da Teoria Literáriafrancivan168401Ainda não há avaliações
- A Escrita Clariceana Como Possibilidade de LiberdadeDocumento17 páginasA Escrita Clariceana Como Possibilidade de LiberdadeElias BarrosoAinda não há avaliações
- Literatura e FilosofiaDocumento39 páginasLiteratura e FilosofiaMharkos CaetannoAinda não há avaliações
- A Arte e Os Homens PROENEMDocumento7 páginasA Arte e Os Homens PROENEMThays BrandãoAinda não há avaliações
- Aula Sobre Roland BarthesDocumento6 páginasAula Sobre Roland BarthesTarsilla Couto de Brito100% (1)
- CULLER. J. Teoria Literária - Uma IntroduçãoDocumento5 páginasCULLER. J. Teoria Literária - Uma IntroduçãoNicole DiasAinda não há avaliações
- Resumo LiteraturaDocumento4 páginasResumo LiteraturaWendel BronholoAinda não há avaliações
- Literatura DefiniçõesDocumento2 páginasLiteratura DefiniçõesRivaldo Santana0% (1)
- A Relevância Do Ensino Da LiteraturaDocumento8 páginasA Relevância Do Ensino Da LiteraturaJoel Joukin BragaAinda não há avaliações
- Formalismo RussoDocumento10 páginasFormalismo Russopitagolas linsAinda não há avaliações
- Trabalho FinalDocumento11 páginasTrabalho FinalAna Luiza de Souza MacedoAinda não há avaliações
- Características Das Escolas LiteráriasDocumento6 páginasCaracterísticas Das Escolas LiteráriasAntonio José AlvesAinda não há avaliações
- O Que É LiteraturaDocumento8 páginasO Que É LiteraturaUeliton JeromeAinda não há avaliações
- Linhas Da Crítica (3 Parte) Prof. Dr. Alexandre de Melo Andrade A Nova Crítica (New Criticism)Documento5 páginasLinhas Da Crítica (3 Parte) Prof. Dr. Alexandre de Melo Andrade A Nova Crítica (New Criticism)Jéssica SantosAinda não há avaliações
- Anotação Oq e Teoria Jonathan CullerDocumento4 páginasAnotação Oq e Teoria Jonathan CullermarcellyAinda não há avaliações
- Roteiro de Literatura Do Prof Fernando Antônio Brasil de Araújo Versão 26022024Documento127 páginasRoteiro de Literatura Do Prof Fernando Antônio Brasil de Araújo Versão 26022024sofiatanosloureiroAinda não há avaliações
- ResumoDocumento14 páginasResumoCrimildoAinda não há avaliações
- Literatura Comparada - M1Documento20 páginasLiteratura Comparada - M1Marice GonçalvesAinda não há avaliações
- A invenção da experiência: a escrita autoficcional de Rubem FonsecaNo EverandA invenção da experiência: a escrita autoficcional de Rubem FonsecaAinda não há avaliações
- Curso Basico Completo Marcondes JuniorDocumento83 páginasCurso Basico Completo Marcondes Juniormarcio_santosAinda não há avaliações
- Psicologia Social ConformismoDocumento24 páginasPsicologia Social ConformismoRafael100% (1)
- Argumentacao JuridicaDocumento73 páginasArgumentacao JuridicaRafaelAinda não há avaliações
- Walton - Logica Informal Cap 1Documento18 páginasWalton - Logica Informal Cap 1RafaelAinda não há avaliações
- Deus Filosofia CristaDocumento91 páginasDeus Filosofia CristaJohnLockeAinda não há avaliações
- Classificação Dos CriminososDocumento15 páginasClassificação Dos CriminososLuciano Junior100% (1)
- Psi Co SocialDocumento19 páginasPsi Co SocialRafaelAinda não há avaliações
- CorelDRAW Graphics Suite X7Documento1 páginaCorelDRAW Graphics Suite X7RafaelAinda não há avaliações
- O GTA Tem Vários Tipos de Armamentos Dividos em Sets PDFDocumento2 páginasO GTA Tem Vários Tipos de Armamentos Dividos em Sets PDFRafaelAinda não há avaliações
- Radiacaoeletromagneticaf PDFDocumento9 páginasRadiacaoeletromagneticaf PDFAlan FerreiraAinda não há avaliações
- Envelhecimento Morte CelularDocumento17 páginasEnvelhecimento Morte CelularRafaelAinda não há avaliações
- 06 Compreensao de CulturaDocumento19 páginas06 Compreensao de Culturanessa08Ainda não há avaliações
- Semiótica ProfDocumento1 páginaSemiótica ProfRafaelAinda não há avaliações
- Mat 08042011182510Documento21 páginasMat 08042011182510RafaelAinda não há avaliações
- Diego Alberto - Chave PBDocumento1 páginaDiego Alberto - Chave PBRafaelAinda não há avaliações
- Teses e DissertacoesDocumento1 páginaTeses e DissertacoesRafaelAinda não há avaliações
- Modelo de Projeto de Pesquisa-UnimarDocumento20 páginasModelo de Projeto de Pesquisa-UnimarFrancis CirinoAinda não há avaliações
- 146 Seminario de Pesquisa 2 Diretrizes Referencial Teorico-1Documento14 páginas146 Seminario de Pesquisa 2 Diretrizes Referencial Teorico-1Thomas JeziorowskiAinda não há avaliações
- Conjunções BoasDocumento3 páginasConjunções BoasWagner AtaidesAinda não há avaliações
- Apostiladesemitica 110813160428 Phpapp01Documento24 páginasApostiladesemitica 110813160428 Phpapp01Maurício ZoueinAinda não há avaliações
- Conceito de Fenômeno para PeirceDocumento6 páginasConceito de Fenômeno para PeirceRafael100% (1)
- Digital I Zar 0001Documento1 páginaDigital I Zar 0001RafaelAinda não há avaliações
- Narcisismo NoDocumento2 páginasNarcisismo NoRafaelAinda não há avaliações
- Vocab UlosDocumento6 páginasVocab UlosRafaelAinda não há avaliações
- Os Núcleos Da BaseDocumento10 páginasOs Núcleos Da BaseRafaelAinda não há avaliações
- Será Que A Beleza ExisteDocumento4 páginasSerá Que A Beleza ExisteRafaelAinda não há avaliações
- 5Documento10 páginas5Mane UchoaAinda não há avaliações
- Melissa MariaDocumento19 páginasMelissa MariaRafaelAinda não há avaliações
- Informacoesgerias ProlibrasDocumento17 páginasInformacoesgerias ProlibrasclailsoAinda não há avaliações
- Ass AdmDocumento66 páginasAss AdmPedro Pereira da CruzAinda não há avaliações
- Audiojus - Interpretação de Textos e Gramática Na PráticaDocumento73 páginasAudiojus - Interpretação de Textos e Gramática Na PráticaMarcos Silva100% (1)
- MetamodeloDocumento57 páginasMetamodeloVictor LawrenceAinda não há avaliações
- 2016 Artigo Edespecial Unicentro MarilenedomanovskiDocumento25 páginas2016 Artigo Edespecial Unicentro MarilenedomanovskiDenise OliveiraAinda não há avaliações
- Fichamento Cleudemar FernandesDocumento12 páginasFichamento Cleudemar FernandesanacachinhoAinda não há avaliações
- Guillherme Adolfo Dos Santos Mendes TeseDocumento319 páginasGuillherme Adolfo Dos Santos Mendes TesewcruzAinda não há avaliações
- Aula1 LinguaPortuguesaDocumento5 páginasAula1 LinguaPortuguesacvilberAinda não há avaliações
- Texto PoéticoDocumento3 páginasTexto PoéticoEva Nunes ValenteAinda não há avaliações
- Morfologia Substantivo Adjetivo Numeral...Documento8 páginasMorfologia Substantivo Adjetivo Numeral...Anne CastroAinda não há avaliações
- AS NOVAS TECNOLOGIAS E O ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS - LOPES, Diana PDFDocumento17 páginasAS NOVAS TECNOLOGIAS E O ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS - LOPES, Diana PDFTiego SantiagoAinda não há avaliações
- Lição 15 - Nomes em ER e Outros Da 2 DeclinaçãoDocumento2 páginasLição 15 - Nomes em ER e Outros Da 2 DeclinaçãoManoelFilhuAinda não há avaliações
- Conjugação Do Verbo PermearDocumento4 páginasConjugação Do Verbo PermearLuiz Carlos Ferreira LeiteAinda não há avaliações
- Apostila Sobre Pontuação - Língua PortuguesaDocumento6 páginasApostila Sobre Pontuação - Língua PortuguesaAlexsandro PiresAinda não há avaliações
- Correlativos Do EsperantoDocumento4 páginasCorrelativos Do EsperantoLarissa MeloAinda não há avaliações
- Ficha Informativa - Verbos - Tempos Do IndicativoDocumento1 páginaFicha Informativa - Verbos - Tempos Do IndicativoAndreia CarvalhoAinda não há avaliações
- A Linguagem PUADocumento4 páginasA Linguagem PUAVedervander CordeiroAinda não há avaliações
- Da Inseparabilidade Entre o Ensino Da Lingua e o Ensino Da Literatura PDFDocumento3 páginasDa Inseparabilidade Entre o Ensino Da Lingua e o Ensino Da Literatura PDFCláudiaSilvaAinda não há avaliações
- Diderot OKDocumento243 páginasDiderot OKadoroflanAinda não há avaliações
- Personal PronounsDocumento8 páginasPersonal PronounsMaira GriggioAinda não há avaliações
- Exercicios Lingua Portuguesa 1Documento36 páginasExercicios Lingua Portuguesa 1Luiza FreitasAinda não há avaliações
- Análise Textual Usos Gerais Da CraseDocumento9 páginasAnálise Textual Usos Gerais Da CraseJardel Felipe SantosAinda não há avaliações
- Oexp12 Matriz Teste 1 Pessoa CaeiroDocumento2 páginasOexp12 Matriz Teste 1 Pessoa CaeiroAnonymous y7GA7Jza1Ainda não há avaliações