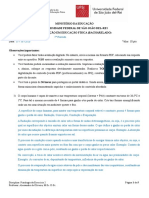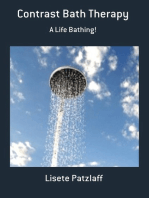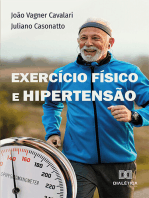Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
FDM CEC Cap 15
FDM CEC Cap 15
Enviado por
AdrianaHeloisaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FDM CEC Cap 15
FDM CEC Cap 15
Enviado por
AdrianaHeloisaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
HIPOTERMIA
Entende-se por hipotermia, o estado
em que a temperatura de um animal
homeotrmico, inclusive o ser humano,
est abaixo do valor normal.
A hipotermia acidental conhecida de
longa data, nos pases de clima frio da Europa. A hipotermia com fins teraputicos
faz parte de numerosos relatos desde o sculo XVIII, tendo sido preconizada para
uma variedade de condies, com resultados, em geral, pobres [1].
A primeira sugesto do uso da hipotermia em cirurgia cardaca, data de 1950
e, deve-se McQuiston [2], que postulou
seu uso durante a anestesia para a cirurgia
paliativa de cardiopatias congnitas
cianticas, em lactentes, como uma forma
de reduzir as necessidades metablicas.
Bigelow [3,4], demonstrou em animais,
a possibilidade de se interromper completamente a circulao, por perodos de 15
minutos, temperaturas entre 20o e 25o C.
Logo a seguir, em 1952, Lewis e Tauffic
[5,6]
publicaram casos bem sucedidos de hipotermia 28o C, associada interrupo
do retorno venoso pelas veias cavas, para
correo de comunicao interatrial.
Gollan [7,8,9] e Peirce [10,11,12] estudaram
a associao da hipotermia circulao
extracorprea, em animais, e Sealy e cola-
15
boradores [13,14,15], em seguida, a introduziram na prtica clnica.
O oxignio o elemento fundamental
para a manuteno dos processos metablicos; o sangue arterial faz a sua distribuio por todos os tecidos do organismo. A
reduo da temperatura desacelera as reaes qumicas e enzimticas das clulas e,
em consequncia, reduz a taxa metablica
dos tecidos. Nessas circunstncias, o consumo de oxignio pelos tecidos menor. A
reduo de 10o C na temperatura do organismo capaz de diminuir em duas a trs
vzes a velocidade da maioria das reaes
qumicas celulares.
Os mecanismos celulares, como a difuso e a osmose, podem ser afetados por
temperaturas muito baixas. Prximo aos 4o
C ou 5o C, parte da gua intracelular cristaliza, o lquido restante se torna hiperosmtico, e produz edema celular e rotura
das membranas celulares. Estas leses so
irreversveis e determinam a morte celular. Na prtica, contudo, no h vantagem
aprecivel em reduzir a temperatura de
qualquer rgo abaixo dos 15o C [1,3,12].
A hipotermia foi associada circulao extracorprea com o objetivo de reduzir as necessidades metablicas dos pacientes e, portanto, o seu consumo de oxig253
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
nio, oferecendo proteo adicional ao organismo, especialmente os rgos vitais.
Dessa forma, o fluxo de sangue para reas
vitais, pode ser reduzido, ou mesmo interrompido por perodos variveis, sem causar leses por anxia.
A reduo ou a interrupo do fornecimento de oxignio ao organismo, temperatura normal, causa leses importantes
dos rgos nobres, principalmente o crebro, o miocrdio e os rins, dos quais o crebro o menos tolerante. Se a hipxia ultrapassar a trs minutos, frequentemente,
surgem leses irreversveis, ou mesmo a
morte cerebral.
A circulao extracorprea pode alterar a distribuio normal do fluxo de
sangue para diversos rgos, e comprometer a oferta de oxignio para os processos metablicos. Nessas circunstncias, um certo grau de resfriamento, pode
proporcionar proteo adicional ao paciente contra eventuais perodos de
hipxia. Se, durante a perfuso, houver
problemas mecnicos com o equipamento, oxigenador, bombas, circuitos, etc.
que requeiram a sua substituio, a hipotermia decisiva na proteo do organismo contra a hipxia, durante o tempo necessrio ao reparo ou substituio
do componente danificado [16,17].
A hipotermia desde a sua introduo
inicial em cirurgia cardaca, tem sido,
ciclicamente redescoberta e abandonada.
Os dias atuais testemunham o surgimento
de um novo perodo de uso mais restrito,
face ao grande entusiasmo com a proteo
miocrdica normotrmica da cardioplegia
sangunea.
254
REGULAO DA TEMPERATURA
A temperatura interna ou central dos
animais homeotrmicos, inclusive o ser
humano, em condies normais, se mantm constante e independente das variaes da temperatura ambiente. Se um indivduo for colocado em um ambiente
temperatura de 12o C , ou num ambiente
temperatura de 50o C, a sua temperatura
central (nasofaringe ou reto) se mantm
entre 36,5o C e 37o C [18].
A temperatura superficial, ou da pele,
ao contrrio, aumenta ou diminui de acordo com a temperatura do meio ambiente,
dentro de certos limites. O organismo utiliza a camada externa, pele e tecido subcutneo, como um regulador auxiliar da sua
temperatura interna.
O calor para a regulao trmica corporal produzido continuamente pelo
metabolismo dos tecidos. A perda de calor
para o ambiente pela pele, o meio mais
efetivo de manter a temperatura central.
O calor para a pele cedido pelo sangue; a
conduo do calor para a pele depende da
atividade das arterolas e das anastomoses
artrio-venosas da pele e do plexo subcutneo. Essa atividade vasomotora controlada por estmulos locais e pelo sistema
nervoso simptico, em resposta s alteraes da temperatura interna ou da temperatura ambiente. A vasodilatao permite
maior perda de calor, enquanto a vasoconstrio tem o efeito oposto [19].
Em situaes normais, o calor produzido pelo metabolismo radiado do corpo
para o ambiente, de acordo com a temperatura de ambos. Se o ambiente mais
quente que o corpo, este ganha calor; se o
CAPTULO 15 HIPOTERMIA
ambiente mais frio, o corpo perde calor.
Quando a temperatura ambiente
baixa, o organismo produz contraes
musculares muito rpidas e repetidas, os
calafrios, que aceleram o metabolismo e
a produo de calor, com o objetivo de
manter a temperatura central inalterada.
Quando a temperatura ambiente alta,
o organismo estimula a secreo de gua
e sdio pela pele (sudorese), cuja evaporao elimina calor.
No crebro, na poro anterior do
tlamo e do hipotlamo, uma pequena regio chamada centro termoregulador, sensvel s alteraes da temperatura do sangue e da pele. Quando a temperatura na
pele, detectada por terminaes nervosas
cutneas especiais (receptores trmicos),
baixa ou, quando o sangue que perfunde
o hipotlamo, est frio, o organismo estimulado produo de calafrios. O centro
termoregulador, nestas condies, estimula tambm a medula da glndula supra-renal e outros componentes nervosos autnomos, que liberam adrenalina na circulao. Esta, acelera o metabolismo para
produzir mais calor e produz vasoconstrio cutnea, que reduz a perda de calor. A
frequncia cardaca, a presso arterial e o
dbito cardaco se elevam [19-21].
A regulao da temperatura central
complexa e depende de diversos fatores.
Para que haja queda da temperatura do
organismo necessrio que todos esses sistemas de regulao trmica sejam exauridos, em seus mecanismos de compensao.
A anestesia geral inibe a resposta
hipotalmica de produzir calafrios [22].
Quando o organismo humano expos-
to ao frio intenso, seja por imerso em gua
gelada, por revestimento da pele com sacos de gelo ou pelo resfriamento extracorpreo do sangue, os mecanismos reguladores, cutneos e nervosos se exaurem rapidamente e a temperatura cai, resultando a
hipotermia. A produo de calor deprimida e o resfriamento do sistema nervoso
central leva supresso dos controles
hipotalmicos. Com a continuidade do processo, ocorre progressiva depresso do sistema nervoso central e colapso circulatrio [18,19]. No resfriamento pela circulao
extracorprea, a queda da temperatura se
faz mais rapidamente; os mecanismos de
regulao se esgotam mais precocemente
e as trocas trmicas no permutador de calor so mais rpidas e eficientes.
MTODOS DE INDUO
DA HIPOTERMIA
Em cirurgia cardiaca, duas maneiras de
induzir hipotermia podem ser utilizadas: a
tpica ou de superfcie e atravs da circulao central.
Na hipotermia de superfcie utilizamos a
pele como elemento de trocas trmicas.
Colocam-se sacos de gelo cobrindo a maior superfcie possvel do corpo do paciente, evitando as extremidades. A resposta
local vasoconstritora limitada e os rgos
tendem a resfriar atravs da pele e dos demais tecidos, adquirindo uma temperatura bastante uniforme. Esse mtodo de
resfriamento lento e pode se acompanhar
de arritmias cardacas, principalmente a
fibrilao ventricular.
A hipotermia central, induzida pelo
resfriamento do sangue no permutador tr255
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
mico do oxigenador. A perfuso dos rgos
com o sangue frio, promove o seu resfriamento. O resfriamento por este mtodo
mais rpido porm, sob certas circunstncias, como vasoconstrio excessiva, por
exemplo, pode resultar num resfriamento
menos homogneo, sendo mais acentuada
a queda da temperatura dos rgos e tecidos com maior fluxo sanguneo.
Em 1963, Horiuchi e colaboradores [23],
no Japo, reintroduziram a hipotermia profunda com resfriamento e reaquecimento
de superfcie, para a correo de comunicao interventricular, em crianas com
menos de 1 ano de idade, durante um perodo de parada circulatria total temperaturas entre 16o C e 18o C, medidas no nasofaringe. Mohri [24] e Dillard [25], aperfeioaram a tcnica para evitar a fibrilao
ventricular durante o resfriamento e prolongar o tempo de parada circulatria para
50 a 60 minutos. O grupo da Universidade
de Kyoto, liderado por Hikasa [26], modificou a tcnica inicial, promovendo o reaquecimento com a circulao extracorp-
Fig. 15.1. Cmara de hipotermia para induo de hipotermia de superfcie, desenhada por Subramanian, que obteve
excelentes resultados com o mtodo. A cmara era usada
para resfriar os lactentes at os 22 a 24o C.
256
rea, mais rpido, alm de propiciar suporte
circulatrio aps a correo intracardaca,
enquanto a temperatura ainda est baixa.
Esta associao de hipotermia induzida por
resfriamento da superfcie corporal e reaquecimento pela circulao extracorprea, foi difundida e modificada por diversos
autores [27-30], tendo permitido a correo de uma grande variedade de cardiopatias congnitas, em crianas de baixo
peso, inclusive neonatos. As dificuldades com o resfriamento fizeram surgir
reservatrios especiais para a imerso das
crianas e vrios modelos de cmaras de
refrigerao [31] (Fig. 15.1).
Ao final dos anos setenta, a induo
de hipotermia por resfriamento da superfcie corporal foi abandonada, em virtude do
longo tempo consumido para o resfriamento, da instabilidade hemodinmica e das
arritmias que acompanhavam o mtodo.
O resfriamento e reaquecimento pela circulao central, atravs dos permutadores
trmicos, na prtica, o nico mtodo em
uso, na atualidade. Os gradientes de temperatura entre os diversos rgos podem
ser abolidos pelo uso de vasodilatadores,
durante o perodo de induo da hipotermia, favorecendo o resfriamento homogneo dos pacientes [32-35].
Os efeitos favorveis da hipotermia na
circulao extracorprea, podem ser resumidos em: maior segurana e flexibilidade
do procedimento; possibilidade de reduzir
os fluxos de perfuso e de oxignio, com menor trauma aos elementos do sangue; maior
proteo metablica; e, proteo para lidar
com eventuais acidentes ou falhas mecnicas do equipamento, durante a perfuso.
CAPTULO 15 HIPOTERMIA
Inmeras vidas foram resgatadas pela
substituio de oxigenadores danificados e
de linhas arteriais rotas, durante a circulao extracorprea sob hipotermia. Este fator de segurana adicional, por s, j justifica a utilizao rotineira de algum grau de
hipotermia, durante os procedimentos de
circulao extracorprea.
CONSUMO DE OXIGNIO
NA HIPOTERMIA
As clulas e tecidos do organismo, para
todos os efeitos prticos, no tem reserva de oxignio. A atividade celular e
tissular (metabolismo) dependem do contnuo fornecimento de oxignio pela circulao do sangue. A atividade metablica
pode, portanto, ser medida pela quantidade de oxignio consumida pelo organismo.
O consumo de oxignio pelo organismo baixa gradualmente, medida que a
temperatura reduzida, tanto no resfriamento de superfcie como no resfriamento
central.
Durante o resfriamento de superfcie,
a queda da temperatura lenta e o resfriamento se processa da superfcie para os
rgos internos, no existindo gradientes
superiores a 2oC, entre os diferentes rgos
em que a temperatura medida. O consumo de oxignio ci a 75% do normal, quando a temperatura atinge os 30o C; reduz-se
a 50% do normal aos 26o C e, aos 20o C de
temperatura, o consumo de oxignio corresponde a apenas 17% do normal [36,37].
Durante o resfriamento central pela
perfuso hipotrmica, o consumo de oxignio varia conforme o fluxo arterial, a velocidade do resfriamento e os gradientes
de temperatura entre os rgos. Quando
se utilizam fluxos de perfuso elevados e o
resfriamento induzido lentamente, h
maior homogeneidade entre as temperaturas dos diferentes rgos. Nessas condies a queda do consumo de oxignio
semelhante queda verificada durante o
resfriamento de superfcie [38-40]. O consumo de oxignio uma determinada temperatura se mantm constante e estvel por
longos perdos, desde que a temperatura
se mantenha inalterada.
Diversos estudos em animais e em humanos, sob condies controladas, permitiram avaliar o consumo de oxignio diferentes temperaturas. Os principais dados
permitiram a construo da tabela 15.1 que
correlaciona o consumo de oxignio s temperaturas medidas no nasofaringe.
O consumo total de oxignio em um
indivduo durante a circulao extracorprea normotrmica, teoricamente, deve
ser o mesmo consumo do indivduo intacto
e sob anestesia geral, desde que a microcirculao esteja adequadamente perfundida. O consumo de oxignio de um indivduo em circulao extracorprea normotrmica, determinado por Kirklin [37], variou
entre 110 e 150 ml O2/min/m2 de superfcie corprea, com um valor mdio de 130ml
Tabela 15.1. Correlaciona o consumo de oxignio com a
temperatura do nasofaringe. O consumo de oxignio
36,5o C o padro de comparao.
257
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
O2/min/m2. Aceita-se que o consumo de
oxignio cai aproximadamente 7%, para
cada grau centgrado de reduo da temperatura central. A correlao entre o consumo de oxignio e o fluxo de perfuso no
linear. Kirklin, utilizando dados obtidos
em normotermia e dados obtidos 20o C,
desenvolveu equaes matemticas e um
conjunto de curvas que relacionam o consumo de oxignio e o fluxo de perfuso,
diferentes temperaturas (Fig. 15.2).
Fig. 15.2. Curvas que relacionam o consumo de oxignio
e os fluxos de perfuso, diferentes temperaturas. Para
cada curva, o ponto x representa o fluxo recomendado
para a perfuso, temperatura representada na curva.
Por exemplo: o ponto X, temperatura de 30o C, representa o fluxo de perfuso de 1,91/min/m2.
GRAUS DE HIPOTERMIA
O consumo de oxignio, bem como o
conjunto de alteraes bioqumicas, reolgicas e hemodinmicas, desencadeados
pela hipotermia, tem relao com o grau de
reduo da temperatura. Os diferentes estgios ou graus de hipotermia, habitualmente utilizados em circulao extracorprea, podem ser assim divididos:
Hipotermia Leve ........... 36,5o C a 31o C
Hipotermia Moderada ...... 30oC a 21o C
Hipotermia Profunda ....... 20o C a 15o C
258
Temperaturas abaixo de 18o C, no
acrescentam benefcios e no so utilizadas nas condies habituais em que a
hipotermia indicada; ao contrrio, temperaturas abaixo de 15 o C podem ser
detrimentais estrutura e funo de
determinados rgos.
Durante a circulao extracorprea
com hipotermia, o fluxo de perfuso pode
ser reduzido ou mesmo interrompido, se
necessrio, com preservao funcional e
orgnica, desde que um tempo mximo,
que varia com a temperatura, seja respeitado. Este perodo de segurana contra o
desenvolvimento de leses neurolgicas,
tem relao com o consumo de oxignio.
Sob o ponto de vista prtico, a parada circulatria total, tem maiores probabilidades
de no produzir complicaes neurolgicas, quando um limite de tempo, que depende da temperatura, respeitado. A tabela 15.2 lista os perodos de segurana para
diversas temperaturas.
Tabela 15.2. Relaciona o tempo mximo recomendado
para a parada circulatria total ou reduo do fluxo arterial, conforme a temperatura do nasofaringe.
A interrupo do fluxo de perfuso ou
a parada circulatria total, para correo
de leses cardiovasculares, quando necessria, feita temperatura de 18o C, medida no nasofaringe. A parada circulatria
total, nos dias atuais, reservada a casos
especiais ou neonatos de muito baixo peso,
CAPTULO 15 HIPOTERMIA
geralmente inferior a 3 Kg, pelas excelentes condies de exposio do campo operatrio que oferece. Em adultos, a utilizao atual da parada circulatria total se
restringe a casos de aneurismas do arco
artico e a determinados procedimentos
especiais, geralmente de natureza no cardiovascular.
ALTERAES PRODUZIDAS
PELA HIPOTERMIA
Apesar dos inmeros efeitos favorveis
que pode acrescentar aos procedimentos
de circulao extracorprea, a hipotermia
um estado de profunda anormalidade do
ser humano, que antagoniza um complexo
e sofisticado mecanismo de defesa contra
variaes da temperatura central. Quando induzida nos animais homeotrmicos e
no homem, a hipotermia produz uma srie
de alteraes fisiolgicas, que devem ser
compreendidas pelos que a utilizam. De
um modo geral, as alteraes observadas
na hipotermia, tem relao com o grau de
resfriamento do organismo, sendo tanto
mais acentuadas quanto mais baixas forem
as temperaturas.
ALTERAES CARDIOVASCULARES
A presso arterial se mantm relativamente estvel at os 28o C e comea a cair
progressivamente, atingindo a 40% do valor inicial, com temperaturas em torno dos
18o C, medidas no nasofaringe [41].
A frequncia cardaca se reduz paralelamente presso arterial, partir de
28 a 25o C e, rapidamente atinge a 50%
do normal. Na ausncia de fibrilao
ventricular, o corao pra em distole
entre os 18o C e 15o C [42,43].
A contratilidade e o tnus miocrdico
se acentuam at os 22o C a 18o C e, em virtude da baixa frequncia cardaca, o volume de sangue ejetado a cada batimento aumenta. O dbito cardaco, contudo, diminui proporcionalmente queda do
consumo de oxignio. Aos 32o C, o dbito
cardaco 75% do normal e aos 28o C, cai
para 55%. Aos 18o C, o dbito cardaco
de apenas 20% do normal. O fluxo
coronariano diminui entre 36 e 28o C; sua
reduo no proporcional reduo do
dbito cardaco, havendo um fluxo
coronariano maior que o esperado pela queda do consumo de oxignio. Nos pacientes com disfuno da vlvula artica, a
fibrilao ventricular pode ocorrer entre 28
e 30o C, pela diminuio da fora contrtil
do ventrculo esquerdo e incapacidade
de vencer a estenose ou o volume de
regurgitao valvar [44-46].
Arritmias cardacas se desenvolvem,
com frequncia, durante a hipotermia.
Entre os 30o C e 32o C, ocorre bloqueio
trio-ventricular que progride do primeiro
ao terceiro grau, com dissociao trioventricular total, em torno dos 20o C. Podem ocorrer alteraes do segmento ST e
das ondas T do eletrocardiograma, abaixo
dos 25o C. Fibrilao atrial e extrasstoles
podem ocorrer entre os 30o C e 20o C e, a
fibrilao ventricular pode ocorrer, geralmente abaixo dos 28o C [47-49]. Em crianas,
a fibrilao ventricular pode ocorrer imediatamente aps o incio da perfuso,
quando o perfusato est muito frio em relao ao paciente. A causa da fibrilao,
nesses casos, parece ser a brusca perfuso
259
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
coronariana hipotrmica, que cria elevados gradientes de temperatura no miocrdio [17,35,50,51].
A resistncia vascular perifrica aumenta gradualmente, durante a hipotermia, atingindo o seu ponto mximo aos 25o C, quando pode alcanar os 300% [52]. O mecanismo dessa elevao a vaso-constrio
perifrica que a hipotermia determina, via
estimulao simptico-adrenrgica. Abaixo dos 18o C, pode ocorrer uma brusca reduo da resistncia vascular perifrica por
exausto dos mecanismos vasoconstritores
(vasoplegia) que pode sequestrar, na circulao visceral intra-abdominal, cerca de
300 ml de sangue em crianas e 500 ml em
adultos [53-55]. Este sequestro de volume
fcilmente identificado durante a perfuso.
Dependendo da velocidade de resfriamento
e dos gradientes de temperatura entre a gua
e o sangue, o resfriamento brusco das paredes arteriais e arteriolares, pode determinar vasoplegia importante e precoce,
antes que os tecidos estejam adequadamente resfriados.
A microcirculao tambm sofre alteraes, com a reduo da temperatura corporal. O fluxo sanguneo capilar se torna
mais lento; e a resistncia dos capilares se
eleva; pode ocorrer sequestro de lquidos
no espao intersticial, formando edema.
Estas alteraes esto relacionadas ao aumento da viscosidade do sangue e ao efeito de aglutinao ou empilhamento das
hemcias que ocorre, principalmente, abaixo dos 20o C [56,57]. Os efeitos na microcirculao so muito importantes e so completamente antagonizados pela hemodiluio, que deve, sempre, acompanhar os
260
procedimentos com hipotermia [58,59]. Ocorre ainda elevao do hematcrito e grande reduo do nmero de glbulos brancos e plaquetas circulantes, principalmente abaixo dos 28o C. O total de leuccitos e
plaquetas circulantes pode alcanar 40%
do normal aos 25o C, chegando a apenas
25%, aos 20o C [60].
O fgado, o bao e o sistema capilar
podem sequestrar fatores de coagulao do
sangue [61-63] que, juntamente com o sequestro e ativao das plaquetas, so responsveis pelas maiores dificuldades com a
hemostasia, quando nveis profundos de
hipotermia so utilizados.
ALTERAES METABLICAS
A hipotermia determina elevao da
glicose no sangue, ligada ao aumento da
sua produo e diminuio da utilizao.
A liberao das catecolaminas, pela estimulao simptico-adrenrgica, aumenta
a produo da glicose partir do glicognio
heptico [64,65]. A utilizao da glicose
deprimida pela reduo da atividade metablica do fgado, pela inibio da atividade de enzimas que favorecem a entrada
da glicose nas clulas e pela reduo da produo de insulina no pncreas. Mesmo a
administrao de insulina, insuficiente
para normalizar a glicemia, durante a hipotermia [66]. Certos agentes anestsicos
podem acentuar os efeitos da hipotermia
na produo da hiperglicemia e, nos diabticos, essa tendncia mais acentuada
[67]
. Os nveis da glicose tendem a se reduzir e estabilizar ao final do reaquecimento
dos pacientes.
A hipotermia tende a reduzir os nveis
CAPTULO 15 HIPOTERMIA
do potssio plasmtico que, contudo, so
influenciados por outros fatores, como a
acidose metablica que, quando presente,
tende a elevar o potssio. A circulao extracorprea aumenta a eliminao renal de
potssio. Os demais eletrolitos, como o
sdio, clcio e magnsio, apresentam pequenas oscilaes, de difcil avaliao, em
virtude de outros fatores ligados ao procedimento, como a hemodiluio e composio do perfusato, a infuso de solues
eletrolticas pelos anestesistas e a administrao de solues cardioplgicas.
ALTERAES DA AFINIDADE DA
HEMOGLOBINA PELO OXIGNIO
A hipotermia aumenta a afinidade da
hemoglobina pelo oxignio, em proporo reduo da temperatura. Quando
a temperatura do sangue est baixa, a hemoglobina fixa o oxignio sua molcula, tornando mais difcil a sua liberao
nos tecidos [68].
Este fenmeno o desvio para a esquerda da curva de dissociao da hemoglobina. Um baixo teor de dixido de carbono no sangue (pCO2 < 27mmHg) tem
efeito semelhante sobre a hemoglobina.
Alcalose e hipotermia, portanto, determinam uma menor liberao de oxignio nos
tecidos. Em compensao, a quantidade de
oxignio dissolvido no plasma, de 0,3 vol%
temperatura normal, aumenta cerca de
sete vzes, temperatura de 20o C; o oxignio dissolvido pode ser livremente extrado pelos tecidos [69]. A afinidade dos tecidos pelo oxignio, tambm varia na hipotermia [70]. Quando o sangue e os tecidos
so resfriados mesma velocidade, no h
deficit de oxignio nos tecidos. A prtica
da hipotermia demonstra o adequado fornecimento de oxignio aos tecidos, mesmo temperaturas abaixo de 20oC.
ALTERAES DA FUNO RENAL
O fluxo sanguneo renal, o consumo
de oxignio pelos rins e a filtrao glomerular para a formao de urina diminuem,
gradativamente, com a hipotermia. A filtrao glomerular menos afetada at os
28o C, permanecendo em cerca de 85% do
normal. Temperaturas mais baixas tendem
a reduzir a filtrao glomerular mais acentuadamente, at os 20o C, quando a diurese
mnima ou nula. da observao diria,
que os pacientes operados em normotermia ou sob hipotermia leve, tem diurese
maior que os pacientes operados sob hipotermia profunda. Abaixo dos 25oC, a capacidade de reabsoro tubular de parte do
filtrado fica deprimida [71-73]. A hemodiluio antagoniza os efeitos da hipotermia
sobre a funo renal e a adio do manitol
ao perfusato, prtica quase universal, favorece a formao de urina, em todas as
fases da perfuso, mesmo em hipotermia.
A funo renal de pacientes submetidos
hipotermia profunda no se recupera imediatamente; so comuns elevaes das escrias nitrogenadas, uria e creatinina, nas
primeiras horas ou dias de ps-operatrio.
ALTERAES DO
EQUILBRIO CIDO-BASE
A reduo da temperatura corporal,
tem efeitos importantes no transporte e no
consumo do oxignio. Durante a hipotermia, a afinidade da hemoglobina pelo oxi261
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
gnio aumentada e, por outro lado, os
tecidos necessitam menos oxignio para os
seus processos metablicas. A reduo do
consumo de oxignio no metabolismo, contribui para diminuir a produo de dixido
de carbono, e, em consequncia a presso
parcial do dixido de carbono (PCO2), no
sangue fica mais baixa.
A neutralidade da gua, depende da
temperatura. Quando se reduz a temperatura do organismo, o ponto de neutralidade e, em consequncia os mecanismos de
dissociao inica, ficam alterados de tal
modo que, com o resfriamento da gua do
organismo, o nmero de ons hidrognio
livres no lquido intracelular tende a aumentar. Isso torna difcil, a correta anlise
e interpretao dos principais parmetros
do equilbrio cido-base, pH e PCO2, durante a hipotermia [74].
Via de regra o pH se eleva medida
que a temperatura cai, na proporo aproximada de 0,0147 para cada grau centgrado de reduo da temperatura. Dessa forma podemos considerar adequado 28o C
de temperatura, um pH de 7,58.
As alteraes do dixido de carbono,
durante a hipotermia, esto tambm relacionadas modificaes complexas produzidas pelas baixas temperaturas nos sistemas tampo, especialmente no sistema bicarbonato/cido carbnico [75].
White [76], Swan [77] e diversos outros
autores demostraram a necessidade de permitir a elevao do pH intracelular, durante
a hipotermia com parada circulatria total, pela necessidade de manter o contedo de dixido de carbono constante, o que
equivale a permitir a reduo da PCO2,
262
uma vez que a produo de cido carbnico est aumentada.
A PCO2 do sangue arterial ci cerca de
4%, para cada grau de reduo da temperatura. Dessa forma, pode ser considerado
normal uma PCO2 de 29,6 mm Hg, quando a temperatura do sangue de 30o C [78].
A maioria das mquinas modernas para
a anlise da gasometria, pode corrigir os
resultados do exame para a temperatura em
que o sangue se encontra, facilitando a
compreenso dos resultados.
Redues significativas da PCO2, em
qualquer temperatura, podem produzir
vasoconstrio cerebral e contribuir para
o desenvolvimento de complicaes neurolgicas. Os demais efeitos da hipotermia sobre o sistema nervoso central, so
complexos e no completamente conhecidos. Esto, entretanto, relacionados
variaes do fluxo sanguneo cerebral,
que dependente dos mecanismos de
auto-regulao e da presso parcial do
dixido de carbono [79,80]
ASPECTOS PRTICOS
DA HIPOTERMIA
A hipotermia permaneceu estreitamente ligada circulao extracorprea,
ao longo dos anos. A possibilidade de controlar a temperatura dos tecidos e, dessa
forma, influir no seu metabolismo, til
em numerosas situaes clnicas.
A temperatura mais adequada circulao extracorprea convencional foi, e
continua sendo, objeto de longas e difceis
controvrsias; a convecionada temperatura ideal, ao longo do tempo j oscilou
entre 20 e 36,5o C. Na atualidade, a ten-
CAPTULO 15 HIPOTERMIA
dncia ao uso eletivo da cardioplegia sangunea normotrmica tem estimulado o
retorno circulao extracorprea temperatura normal ou prxima dela. A maioria das equipes, associa graus leves de hipotermia aos procedimentos, pela segurana adicional que pode conferir.
As alteraes da temperatura do paciente, durante o resfriamento e o reaquecimento, devem ser induzidas lentamente.
Existe um gradiente mximo de temperatura, de 10o C, entre a gua e o sangue do paciente que deve ser observado, no sentido de
evitar reaes adversas, de natureza
hemodinmica, fsica ou qumica.
A correta aplicao da hipotermia implica na monitorizao das temperaturas
da gua, do perfusato e do paciente.
A temperatura da gua medida no
reservatrio da bomba dgua, que possui
um termmetro para aquela finalidade. Em
nehuma circunstncia, deve-se utilizar
gua temperaturas superiores a 42o C,
durante o reaquecimento dos pacientes.
Para evitar essa ocorrncia acidental, as
bombas dgua tem um mecanismo de servo-controle, que desliga automaticamente a resistncia eltrica, quando a gua alcana aquela temperatura.
A temperatura do sangue deve ser continuamente monitorizada, uma vez que, na
prtica, o sangue recebe ou cede calor ao
permutador trmico; a temperatura do paciente pode estar abaixo da temperatura
da gua, durante o resfriamento, ou acima
dela, durante o reaquecimento. Temperaturas demasiadamente elevadas, no sangue,
produzem a desnaturao das proteinas e
podem ser causa de coagulopatias. A tem-
peratura do sangue arterial o indicador
mais preciso das alteraes trmicas
induzidas pela hipotermia. A temperatura
do sangue venoso o melhor indicador da
temperatura central mdia do organismo
em circulao extracorprea e retrata mais
fielmente a temperatura dos rgos nobres.
A temperatura do paciente pode ser
monitorizada em diversas regies e rgos,
como o nasofaringe, reto, esfago, bexiga
e membrana timpnica. A temperatura do
tmpano reflete bem a temperatura cerebral, contudo, exige um eletrodo especial
que, eventualmente, pode traumatizar
aquela membrana. A temperatura da bexiga um bom indicador da temperatura
central do organismo, porm, semelhana da anterior, requer eletrodo especial, j
incorporado sonda de Folley, na sua construo. A temperatura retal um indicador pobre da temperatura central; reflete,
principalmente, a temperatura das grandes
massas musculares e dos rgos internos
abdominais. A imerso do eletrodo em fezes, pode mascarar o valor exato da temperatura. Frequentemente a temperatura
retal monitorizada em associao temperatura do nasofaringe; gradientes maiores que 4o C entre ambas, indicam um estado de vasoconstrio perifrica. A temperatura retal cai mais lentamente que a
do nasofaringe, durante o resfriamento dos
pacientes. A temperatura do esfago no
um bom indicador da temperatura central, em virtude da vascularizao pobre e
diversificada de suas paredes. A temperatura do esfago reflete melhor os rgos
intra-torcicos. Alm disso, quando a cavidade pleural aberta, durante a cirurgia,
263
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
os soros para irrigar o corao ou outras
solues, podem ser derramados na pleura
e alterar a temperatura do esfago, confundindo o perfusionista. A temperatura
do nasofaringe a que melhor reflete as
temperaturas central e cerebral e se constitui no melhor guia para a hipotermia, especialmente quando se programa uma parada circulatria.
Os fluxos de perfuso podem ser reduzidos, de acordo com a temperatura central. Contudo, o fluxo deve ser reduzido
aps o organismo atingir a temperatura selecionada e no, progressivamente, durante
o resfriamento do paciente.
Uma grande parte das complicaes,
principalmente cerebrais, atribudas hipotermia, no raramente, podem ser melhor relacionadas s tcnicas utilizadas para
a sua induo e reverso.
MANIPULAO DO
pH NA HIPOTERMIA
A hipotermia um estado de anormalidade no ser humano, induzida com o objetivo de acrescentar proteo metablica
durante o perodo em que o organismo
perfundido pelo sistema de circulao extracorprea. No se conhece, na verdade,
qual o valor adequado para o pH em hipotermia. Sabe-se que o resfriamento altera
o coeficiente de dissociao da gua e das
264
demais substncias que participam da regulao do equilbrio cido-base do organismo. Para compreender as alteraes do
equilbrio cido-base durante a hipotermia, os autores buscaram modelos da natureza para comparao. Um modelo o
dos animais cuja temperatura acompanha
a temperatura do meio ambiente em que
se encontram. Nesses animais, medida
em que a temperatura cai, o pH se eleva.
Esse comportamento denominado alfastat e, de acordo com o que se conhece,
representa um estado de alcalose progressiva. Esses animais so chamados ectotrmicos. O sistema alfa-stat mantm um
ambiente timo para a funo enzimtica
intracelular.
Ao contrrio dos animais ectotrmicos,
os animais hibernantes mantm o pH constante em qualquer temperatura, caracterizando o comportamento pH-stat. Aparentemente, os neonatos submetidos parada circulatria ou baixo fluxo de perfuso em
hipotermia recebem melhor proteo cerebral quando o pH mantido constante s
custas da elevao do C02. Pacientes adultos,
ao contrrio, parecem receber melhor proteo cerebral sob o regime alfa-stat. A adio
de C02 ao gs instilado no oxigenador eleva a
PaC02 e produz vasodilatao cerebral o que
aumenta substancialmente a oferta de oxignio ao tecido cerebral [81-83].
CAPTULO 15 HIPOTERMIA
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
and controlled cardiac arrest for open heart surgery.
Surg. Gynec. & Obst. 104, 441-445, 1957.
1.
Mohri, H.; Merendino, K.A. Hypothermia with
or without a pump oxygenator. Gibbon, J.H.,Jr.;
Sabiston, D.C.; Spencer, F.C. Surgery of the Chest.
W.B. Saunders Co., 2nd. ed., philadelphia, 1969.
14. Sealy, W.C.; Brown, I.W.; Young, W.G.,Jr. A report
on the use of both extracorporeal circulation and
hypothermia for open heart surgery. Ann. Surg. 147,
603-607, 1958.
2.
McQuiston, W.O. Anesthesia in cardiac surgery.
Observations on three hundred and sixty-two cases. Arch. Surg. 61, 892-895, 1950.
3.
Bigelow, W.G.; Lindsay, W.K.; Greenwood, W.F.
Hypothermia: Its possible role in cardiac surgery; an
investigation of factors governing survival in dogs at
low body temperatures. Ann. Surg. 132, 849-856, 1950.
15. Sealy, W.C.; Brown, I.W.,Jr.; Young, W.G.,Jr.; Smith,
W.W.; Lesage, AM. Hypothermia and
extracorporeal circulation for open heart surgery. Its
simplification with a heat exchanger for rapid cooling
and rewarming. Ann. Surg. 150, 627-630, 1959.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bigelow, W.G.; Lindsay, W.K.; Harrison, R.C.;
Gordon, R.A.; Greenwood, W.F. Oxygen transport
and utilization in dogs at low body temperatures.
Am. J. Physiol. 160, 125-128, 1950.
Lewis, F.J.; Tauffic, M. Closure of atrial septal
defects with aid of hypothermia; experimental
accomplishments and the report of one successful
case. Surgery, 33, 52-57, 1953.
Swan, H.; Virtue, R.W.; Blount, S.G..Jr.; Kircher,
L.T.,Jr. Hypothermia in surgery, analysis of 100
clinical cases. Ann. Surg. 142, 382-389, 1955.
Gollan, F.; Blos.,P.; Shuman, H. Studies on
hypothermia by means of a pump oxygenator. Am.
J. Physiol. 171, 331-334, 1952.
Gollan, F.; Blos, P.; Shuman, H. Exclusion of heart
and lung from the circulation in the hypothermic,
closed-chest dog by means of a pump oxygenator. J.
Appl. Physiol. 5, 180-183, 1952.
Gollan, F.; Hamilton, E.C.; Meneely, G.R.
Consecutive survival of of open-chest, hypothermic
dogs after prolonged by-pass of heart and lungs by
means of a pump-oxygenator. Surgery, 35, 88-93, 1954.
10. Peirce, E.C.,II.; Pollye, V.B. Differential
hypothermia for intracardiac surgery; preliminary
report of a pump-oxygenator incorporating a heat
exchanger. Arch. Surg. 67, 521-526, 1953.
11. Peirce, E.C.,II. The value of a low flow pump
oxygenator combined with hypothermia. Trans.
Amer. Soc. Artif. Intern. Organs. 2, 28-31, 1956.
12. Peirce, E.C.,II.; Dabbs, C.H.; Rogers, W.K.; Rawson,
F.L.; Tompkins, R. Reduced metabolism by means
of hypothermia and the low flow pump oxygenator.
Surg. Gynec. & Obst. 107, 339-342, 1958.
13. Sealy, W.C.; Brown, I.W.,Jr.; Young, W.G.,Jr.;
Stephen, C.R.; Harris, J.S.; Merritt, D.
Hypothermia. Low flow extracorporeal circulation
16. Berger, E.C. Hypothermia. The physiology of
Adequate Perfusion. The C.V. Mosby Co. St.
Louis, 1979.
17. Souza, M.H.L. Estudo Geral da Circulao Extracorprea. Bombas Propulsoras e Oxigenadores. Introduo Circulao Extracorprea. Mdulo Terico No1. Sociedade Brasileira de Circulao Extracorprea. Rio de Janeiro, 1985.
18. Guyton, A.C. Temperatura Corporal, Regulao
Trmica e Febre. Tratado de Fisiologia Mdica. 6a
edio, Edit. Guanabara, Rio de Janeiro, 1981.
19. Bullard, R.W. Temperature Regulation. Selkurt,
E.E., Physiolgy, 3rd. edit. Little, Brown & Co.,
Boston, 1971.
20. DuBois, E.F. Fever and the Regulation of Body
Temperature. C. C. Thomas, Springfield, 1948.
21. Hammel, H.T. Regulation of internal body
temperature. Ann. Rev. Physiol. 30, 641-710, 1968.
22. Vander, A.J.; Sherman, J.H.; Luciano, D.S. The
mechamisms of Body Function. Human Physiology.
McGraw-Hill, New York, 1975.
23. Horiuchi, T.; Koyamada, K.; Matano, I. et al. Radical operation for ventricular septal defect in infancy. J.
Thorac. Cardiovasc. Surg. 46, 180-185, 1963.
24. Mohri, H.; Hessel, E.A.,II.; Nelson, R.J.; Matano,
I.; Anderson, H.N.; Dillard, D.H.; Merendino, K.A.
Use of rheomacrodex and hyperventilation in
prolonged circulatory arrest under deep hypothermia
induced by surface coolong. Method for open heart
surgery in infants. Am. J. Surg. 112, 241-247, 1966.
25. Dillard, D.H.; Mohri, H.; Hessel, E.A.,II et al.
Correction of total anomalous pulmonary venous
drainage in infants utilizaing deep hypothermia with
total circulatory arrest. Circulation, 35-36 (Suppl.
I), 25-29, 1967.
26. Hikasa, Y.; Shirotani, H.; Satomura, K.; Muraoka,
R.; Abe, K. et al. Open heart surgey in infants
with the aid of hypothermica anesthesia. Archiv.
Japan Chirurgie. 36, 495-501, 1967.
265
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
27. Barrat-Boyes, B.G.; Simpson, M.; Neutze, J.M.
Intracardiac surgery in neonates and infants using
deep hypothermia with surface cooling and limited
cardiopulmonary by-pass. Circulation, 43 (Suppl. 1),
25-30, 1971.
28. Venugopal, P.; Olszowka, J.; Wagner, H. et al. Early
correction of congenital heart disease with surfaceinduced deep hypothermia and circulatory arrest. J.
Thorac. Cardiovasc. Surg. 66, 375-379, 1973.
29. Kirklin, J.W.; Pacifico, A.D.; Hannah, H.,III;
Allarde, R.R. Primary Definitive Intracardiac
Operations in Infants: Intraoperative Support
Techniques. Kirklin, J.W. Advances in Cardiovascular Surgery. Grune & Stratton, New York, 1973.
30. Elias, D.O. Trataemento Cirrgico da Comunicao Interventricular sob Hipotermia Profunda em
crianas de Baixo Peso Corporal. Rev. Bras. Cir. 5,
57-62, 1978.
31. Subramanian, S. Management of Cardiopulmonary
Bypass in Infants and Children. Deep Hypothermia
end Circulatory Arrest. Glenn, W.W.L. Thoracic and
Cardiovascular Surgery. 4th. ed. Appleton-CenturyCrofts, Norwalk, 1987.
38. Civalero, L.A.; Moreno, J.R.; Senning, A.
Temperature conditions and oxygen consumption
during deep hypothermia. Acta chir. Scandinav. 123,
178-182, 1962.
39. Gordon, A.S. Cerebral blood flow and temperature
during deep hypothermia for cardiovasculars surgery.
J. Cardiov. Surg. 3, 299-234, 1962.
40. Kameya, S.; Oz, M.; Neville, W.E.; Clowes, G.H.,Jr.
A study of oxygen consumption during
hypothermia induced by perfusion of the entire body.
S. Forum, 11, 190-191, 1960.
41. Blair, E.; Austin, R.R.; Blount, S.G.; Swan, H.
A study of the cardiovascular changes during
cooling and rewarming in human subjects
undergoing total circulatory occlusion. J. Thorac.
Surg. 33, 707-710, 1957.
42. Galindo, A.; Baldwin, M. Profound hypothermia
and ventricular fibrilation during neurosurgery. Ann.
Surg. 156, 30-33, 1962.
43. Ross, D.N. Hypothermia: II. Physiologic
observations during hypothermia. Guys Hosp. Rep.
103, 116-118, 1954.
32. Castaeda, A.R.; Lamberti, J.; Sade, R.M.; Williams,
R.G.; Nadas, A.S. Open-heart surgery during the
first three months of life. J. Thorac. Cardiovasc. Surg.
68, 719-723, 1974.
44. Remensnyder, F.H.; Austen, W.G. Diastolic
pressure-volume relationships of the left ventricle
during hypothermia. J. Thorac. Cardiov. Surg. 49,
339-342, 1965.
33. Souza, M.H.L. Aspectos Especiais da Perfuso em
Lactentes. Introduo Circulao Extracorprea.
Mdulo Terico No2. Sociedade Brasileira de Circulao Extracorprea. Rio de Janeiro, 1986.
45. Sabiston, D.C.; Theilen, E.O.; Gregg, D.E. The
relationship of coronary blood flow and cardiac
output and other parameters in hypothermia.
Surgery. 38, 498-450, 1955.
34. Fiorelli, A.I.; Gomes, O.M.; Dallan,L.A.O.; Jotta,
M.P.; Moraes, N.L.T.B.; Higa, S.S.; Toloza, M.A.;
Armelin, E.; Bittencourt, D.; Verginelli, G.; Zerbini,
E.J. Alteraes metablicas durante circulao
extracorprea com hipotenso controlada. Torac. &
Cardiovasc. 1, 31-33, 1982.
46. Delin, N.A.; Pollock, L.; Kjartonsson, K.B.; Schenk,
W.G.,Jr. Cardiac performance in hypothermia: an
experimental study of left ventricular power, oxygen
consumption and efficiency in dogs. J. Thorac.
Cardiov. Surg. 47, 774-777, 1964.
35. Elias, D.O.; Souza, M.H.L.; Lacerda, B.S.; Fagundes,
F.E.S.; Lino, F.J.S.; Tiraboschi, M. Injria orgnica
da circulao extracorprea nos trs primeiros meses de vida. Rev. Bras. Cir. Cardiovasc. 5, 1-8, 1990.
36. Watanabe, A.; Okamura, H.; Takahashi, T.;
Toyoshima, J.; Koyamada, K.; Tomita, Y.; Matano,
I.; Murakami, A; Horiuchi, T. Etude exprimentale
de la ranimation cardiaque aprs interruption
circulatoire prolonge pratique trs basse
temprature. Path. Biol. 7, 1017-1023, 1959.
37. Kirklin, J.W.; Barratt-Boyes, B.G. Hypothermia,
Circulatory Arrest, and Cardiopulmonary Bypass.
Cardiac Surgery, 1st. edit., Jonh Wiley & Sons, New
York, 1986.
266
47. Johansson, B.; Biorck, G.; Haeger,K.; Sjostrom, B.
Electrocardiographic observations on patients
operated upon in hypothermia. Acta med. scandinav.
155, 257-259, 1956.
48. Swain, J.A.; White, F.N.; Peters, R.M. The effect
of pH on the hypothermic ventricular fibrillation
threshold. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 87, 445451, 1984.
49. Blasius, W.; Albers, C.; Bach, G.; Brendel, W.;
Thauer, R.; Usinger, W. On cardiac
electrophysiology in hypothermia. Exper. Med. &
Surg. 19, 258-261, 1961.
50. Covino, B.G.; Hegnauer, A.H. Hypothermic ventricular fibrillation and its control. Surgery, 40, 475478, 1956.
CAPTULO 15 HIPOTERMIA
51. Covino, B.G.; DAmato, H.E. Mechanism of ventricular fibrillation in hypothermia. Circulation Res.
10, 148-151, 1962.
65. Tyler, D.B. the effect of cooling on the mechanism
of insulin action. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med. 42,
278-283, 1939.
52. Kuhn, L.A.; Turner, J.K. Alterations in pulmonary
and peripheral vascular resistance in immersion
hypothermia. Circ. Res. 7, 366-369, 1959.
66. Davies, L.K. Hypothermia: Physiology and Clinical
Use. Gravlee, G.P.; Davis, R.F.; Utley, J.R.
Cardiopulmonary Bypass Principles and Practice.
Williams & Wilkins, Baltimore, 1993.
53. Oz, M.; Kameya, S.; Neville, W.; Clowes, G.H.A.,Jr.
The relationship of blood volume, systemic
peripheral resistance and flow rate during profound
hypothermia. Trans. Amer. Soc. Artif. Intern.
Organs. 6, 204-206, 1960.
54. Brown, I.W.,Jr.; Smith, W.W.; Young, W.G.,Jr.; Sealy,
W.C. Experimental and clinical studies of
controlled hypothermia rapidly produced and
corrected by a blood heat exchanger during
extracorporeal circulation. J. Thorac. Surg. 36, 497499, 1958.
55. Drew, C.E. Profound hypothermia in cardiac
surgery. London Clin. Med. J. 7, 15-18, 1966.
56. Gelin, L-E.; Lofstrom, B. A preliminary study on
peripheral circulation during deep hypothermia:
observations on decreased suspension stability of
blood and its prevention. Acta chir. scandinav. 108,
402-405, 1955.
57. Gupta, S.; Basu, A.K. Rapid hypothermia and
intravascular aggregation in total body perfusion.
Acta chir. scandinav. 128, 678-684, 1964.
58. Long, D.M., Jr.; Sanches, L.; Varco, R.L.; Lillehei,
C.W. The use of low molecular weight dextran
and serum albumin as plasma expanders in
extracorporeal circulation. Surgery, 50, 12-17, 1961.
59. Grossman, R.; Lewis, F.J. The effect of cooling and
low molecular weight dextran on blood sludging. J.
Surg. Res. 4, 360-366, 1964.
60. Willson, JT.; Miller, W.R.; Eliot, T.S. Blood studies
in the hypothermic dog. Surgery, 43, 979-982, 1958.
61. Villalobos, T.J., Adelson, E.; Barila, T.G.
Hematologic changes in hypothermic dog. Proc. Soc.
Exper. Biol. & Med. 89, 192-198, 1955.
62. Bjork, V.O.; Hultquist, G. Contraindications to
profound hypothermia in open heart surgery. J.
Thorac. Cardiov. Surg. 44, 1-7, 1962.
63. Helmsworth, J.A.; Cole, W.R. Comparison of two
methods for induction of hypothermia in dogs. Arch.
Surg. 73, 481-486, 1956.
64. Dill, D.B.; Forbes, W.H. Respiratory and metabolic
effects of hypothermia. Amer. J. Physiol. 132, 685688, 1941.
67. Fuhrman, F.A.; Crismon, J.M. The influence of
acute hypothermia on the rate of oxygen
consumption and glycogen content of the liver and
on the blood glucose. am. J. Physiol. 149, 522-526,
1947.
68. Brown, W.E.L.; Hill, A.V. The oxygen dissociation
curve of blood and its thermodynamic basis. Proc.
Roy. Soc. London. 94, 297-299, 1923.
69. Gollan, F.; Hoffman, J.E.; Jones, R.M. Maintenance
of life of dogs below 10oC, without hemoglobin. Am.
J. Physiol. 179, 640-645, 1954.
70. Longmuir, I.S. The effect of hypothermia on the
affinity of tissue for oxygen. Life Sci. 7, 297-299, 1962.
71. Minor, T.; Shumaker, H.B.,Jr.; Wideman, F.
Comparison of renal oxygen consumption and blood
flow with cooling and rewarming. Surgery. 61, 256261, 1967.
72. Moyer, J.H.; Morris, G.C.; Handley, C.
Hypothermia III. The effect of hypothermia on renal damage resulting from ischemia. Ann. Surg. 146,
152-158, 1957.
73. Karin, F.; Reza, H. Effect of induced hypothermia
and rewarming on renal hemodynamics in
anesthetized dogs. Life Sci. 9, 1153-1160, 1970.
74. Mitchell, B.A. Profound Hypothermia with
Circulatory Arrest and Acid-Base Balance. A
Review. American Society of Extra-corporeal
Technology, Reston, 1988.
75. Berger, E.C. The Physiology of Adequate Perfusion.
The C.V. Mosby Co. St. Louis, 1979.
76. White, F.N. A Comparative Physilogical Approach
to Hypothermia. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 82, 820831, 1981.
77. Swan, H. The Hydroxyl-Hydrogen Ion
Concentration Ratio During Hypothermia. Surg.
Gynecol. Obstet. 155, 897-912, 1983.
78. Reed, C.C.; Kurusz, M.; Lawrence, A.E., Jr. Safety
and Techniques in Perfusion, Quali-Med, Inc.,
Stafford, 1988.
79. Thomson, I.R. The influence of cardiopulmonary
bypass on cerebral physiology and function. In
Tinker, J.H.: Cardiopulmonary Bypass: Current
267
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
Concepts and Controversies. W.B. Saunders, Co.
Philadelphia, 1989.
80. Prough, D.S.; Stump, D.a.; Roy, R.C., et al.
Response of cerebral blood flow to changes in carbon
dioxide
tension
during
hypothermica
cardiopulmonary bypass. Anesthesiology, 64, 576581, 1986.
81. Lloyd-Thomas. Acid base balance. In
Cardiopulmonary Bypass In Neonates, Infants and
Young Children. Ed by Jonas RA. And Elliott M
J,8:100-109; 1994.
82. Sakamoto,T.; Zurakowski,D.; Duebener,L.F.;
Hatsuoka, S.;Lidov,H.G.W.; Holmes G.L; et al.
Combination of Alpha-Stat Strategy and
Hemodilution Exacerbates Neurologic Injury Injury
in a Survival Piglet Model With Deep Hypothermic
Circulatory Arrest. Ann Thotac Surg 73:18090,2002.
83. Bradley S.M. and Andrew M. Atz. Postoperative
Management: The Role of Mixed Venous Oxygen
Saturation Monitoring.Semin Thorac Cardiovasc
Surg Pediatr Card Surg Ann 8:22-27,2005.
268
Você também pode gostar
- Fisiologia Da Termorregulação NormalDocumento3 páginasFisiologia Da Termorregulação NormalPatricia Rubim RossnerAinda não há avaliações
- Termoregulacao - Fisiologia Termoregulação NormalDocumento6 páginasTermoregulacao - Fisiologia Termoregulação NormalRoger RonconiAinda não há avaliações
- Apostila Educação Física e Meio Ambiente - OkDocumento5 páginasApostila Educação Física e Meio Ambiente - OkSandra MottaAinda não há avaliações
- TERMORREGULAÇÃODocumento35 páginasTERMORREGULAÇÃOAnnajô Mauriz100% (1)
- Recursos Estéticos Manuais: Celio Takashi HiguchiDocumento18 páginasRecursos Estéticos Manuais: Celio Takashi HiguchiLorraneAinda não há avaliações
- A Hipotermia É A Temperatura Central Do CorpoDocumento12 páginasA Hipotermia É A Temperatura Central Do CorpoLoide ManuelAinda não há avaliações
- Crio e TermoterapiaDocumento3 páginasCrio e Termoterapiatiago-wmAinda não há avaliações
- Regulação Térmica Conforto TérmicoDocumento51 páginasRegulação Térmica Conforto TérmicoengetarcioAinda não há avaliações
- Biologia 2Documento5 páginasBiologia 2Deimaru M Garcia LAinda não há avaliações
- Ap2 Neurofisiologia Tema Temperatur8Documento9 páginasAp2 Neurofisiologia Tema Temperatur8Ada Cristine Araujo CostaAinda não há avaliações
- Termoregulação BiofísicaDocumento4 páginasTermoregulação BiofísicaRafael SilvaAinda não há avaliações
- 1 Avaliação FISEXAMBESPDocumento5 páginas1 Avaliação FISEXAMBESPJANAINA NASCIMENTOAinda não há avaliações
- Hipertermia e Exercício Físico - 20210821115209 - U2FsdDocumento8 páginasHipertermia e Exercício Físico - 20210821115209 - U2FsdRaissa BarbosaAinda não há avaliações
- Artigo de IntermaçãoDocumento9 páginasArtigo de IntermaçãoMarília Cruz50% (2)
- Tematica C BiotermologiaDocumento3 páginasTematica C BiotermologiaRiani WeberAinda não há avaliações
- Introduçãotermo CarlosDocumento27 páginasIntroduçãotermo CarlosAugusto ManoelAinda não há avaliações
- Introduçãotermo CarlosDocumento27 páginasIntroduçãotermo CarlosAugusto ManoelAinda não há avaliações
- Apostila Calor e FrioDocumento32 páginasApostila Calor e Frioital1961Ainda não há avaliações
- Higiene Do TrabalhoDocumento9 páginasHigiene Do TrabalhoCleide Márcia R.SAinda não há avaliações
- HipotermiaDocumento5 páginasHipotermiaRoque Junior Carozo100% (1)
- Tese de Oliveira A.M. Cap 1 3Documento36 páginasTese de Oliveira A.M. Cap 1 3Adelmo FilhoAinda não há avaliações
- Febre e InflamaçãoDocumento10 páginasFebre e InflamaçãoBárbara DiasAinda não há avaliações
- Cho QuesDocumento10 páginasCho QuesAminodine Eugenio InruleAinda não há avaliações
- TermorregulaçãoDocumento6 páginasTermorregulaçãoAgeu SalgadoAinda não há avaliações
- Termoregulacao Aula Vet 2021pptDocumento60 páginasTermoregulacao Aula Vet 2021pptAdriano RafaelAinda não há avaliações
- A Capitulo 22 TermorregulaçãoDocumento8 páginasA Capitulo 22 TermorregulaçãoBrunoAinda não há avaliações
- TermorregulaçãoDocumento14 páginasTermorregulaçãokteste20009178Ainda não há avaliações
- Atividades HomeostasiaDocumento3 páginasAtividades HomeostasiaMaria Luíza SaavedraAinda não há avaliações
- Exercício Físico No Calor 2Documento19 páginasExercício Físico No Calor 2MariSunAinda não há avaliações
- Homeostase TérmicaDocumento23 páginasHomeostase TérmicaAndreia FurtadoAinda não há avaliações
- Aula HipotermiaDocumento16 páginasAula Hipotermiahugo benedito hugoAinda não há avaliações
- Sinais VitaisDocumento5 páginasSinais VitaisFernando NaizeAinda não há avaliações
- Problema 6 - Sempre DoentinhaDocumento14 páginasProblema 6 - Sempre DoentinhaMiguel PereiraAinda não há avaliações
- Prevenção, Controle e Tratamento Da Hipotermia Perioperatória em Caes - Matheus de Brito AlvesDocumento49 páginasPrevenção, Controle e Tratamento Da Hipotermia Perioperatória em Caes - Matheus de Brito AlvesTarciana MartinsAinda não há avaliações
- Circulacao Extrcorporea CardioDocumento32 páginasCirculacao Extrcorporea CardioTiffani KarolineAinda não há avaliações
- Semiologia FebreDocumento24 páginasSemiologia Febrelaninhas0102Ainda não há avaliações
- O Trabalho em Ambientes QuentesDocumento3 páginasO Trabalho em Ambientes Quentesapi-3704990100% (1)
- Regulação Da Temperatura CorporalDocumento8 páginasRegulação Da Temperatura CorporalMarta SousaAinda não há avaliações
- Resposta ZooDocumento3 páginasResposta ZooGabriel BonaldoAinda não há avaliações
- Fisiologia TemperaturaDocumento9 páginasFisiologia TemperaturaMarcelo SousaAinda não há avaliações
- 12 Emergências Ambientais 2007.2Documento27 páginas12 Emergências Ambientais 2007.2auericon pessoaAinda não há avaliações
- Apostila Sobre CalorDocumento17 páginasApostila Sobre CalorMarco CarvalhoAinda não há avaliações
- Efeitos Fisiologicos Da ImersãoDocumento2 páginasEfeitos Fisiologicos Da Imersãoerilane.sousaAinda não há avaliações
- AfogamentoDocumento27 páginasAfogamentogislanekaAinda não há avaliações
- TermorregulaçãoDocumento5 páginasTermorregulaçãoVet_arquivosAinda não há avaliações
- Fisiologia Exercicio Fixação 03Documento6 páginasFisiologia Exercicio Fixação 03Fábio TelesAinda não há avaliações
- Mecanismo de Controle de Temperatura CorporalDocumento28 páginasMecanismo de Controle de Temperatura CorporalAnonymous Mu8WMuToAinda não há avaliações
- Efeitos Da Hidroterapia Baseados em Evidências Científicas em Vários Sistemas Do CorpoDocumento16 páginasEfeitos Da Hidroterapia Baseados em Evidências Científicas em Vários Sistemas Do CorpoElvineia Barbosa100% (1)
- Sinais Vitais XDocumento5 páginasSinais Vitais XBeatriz RibeiroAinda não há avaliações
- 1 - TermoterapiaDocumento24 páginas1 - TermoterapiaAdriano SilvaAinda não há avaliações
- Medicina Legal - ResumoDocumento19 páginasMedicina Legal - ResumoMateusAinda não há avaliações
- Você Sabe o Que É HomeostaseDocumento5 páginasVocê Sabe o Que É HomeostaseMilton AlencarAinda não há avaliações
- Medicina+Legal+ +tanatologiaDocumento29 páginasMedicina+Legal+ +tanatologiaKenia AraujoAinda não há avaliações
- Choque - PatologiaDocumento3 páginasChoque - PatologiaDeyse AgathaAinda não há avaliações
- Metabolismo e TermoregulaçãoDocumento20 páginasMetabolismo e TermoregulaçãoJoão BarbosaAinda não há avaliações
- Actividade Experimental - Sensibilidade Da PeleDocumento5 páginasActividade Experimental - Sensibilidade Da PeleHelena AlvesAinda não há avaliações
- Aromaterapia - Manual Técnico de AromaterapiaDocumento56 páginasAromaterapia - Manual Técnico de AromaterapiaSilvia Ortega100% (2)
- Relatório ReflexosDocumento12 páginasRelatório ReflexosLady Anny AlmeidaAinda não há avaliações
- Ctic5 em Pag 115 Vgowin Investigar As Penas Prop ResolucaoDocumento1 páginaCtic5 em Pag 115 Vgowin Investigar As Penas Prop ResolucaoLúciaHenriques100% (1)
- Dermato Funcional No Pós-Operatório de Lifting PDFDocumento14 páginasDermato Funcional No Pós-Operatório de Lifting PDFIzabelle OliveiraAinda não há avaliações
- Biogeo10 18 19 Teste 5 2Documento7 páginasBiogeo10 18 19 Teste 5 2Alex AndreAinda não há avaliações
- Es TriasDocumento23 páginasEs TriasIzabella KieferAinda não há avaliações
- Amplified PeptideDocumento11 páginasAmplified PeptideHilda KuchtaAinda não há avaliações
- William Fiel A Origem Divina de Todas As CoisasDocumento165 páginasWilliam Fiel A Origem Divina de Todas As Coisasbusivesmatos100% (1)
- Micoses Superfciais e CutneasDocumento5 páginasMicoses Superfciais e CutneasVitor PontesAinda não há avaliações
- Hyaxel PDFDocumento19 páginasHyaxel PDFSANDRA SOUZAAinda não há avaliações
- Mod1 - Ua2 Odontologia Legal e Do TrabalhoDocumento27 páginasMod1 - Ua2 Odontologia Legal e Do TrabalhoJúlio BragaAinda não há avaliações
- Fases Da VidaDocumento14 páginasFases Da VidaIsabelle KarensantosAinda não há avaliações
- Quiz de Dermatofuncional (1-34) (1) Notas RetificadasDocumento8 páginasQuiz de Dermatofuncional (1-34) (1) Notas RetificadasBruno MatsonAinda não há avaliações
- ARGILAS Na EstéticaDocumento2 páginasARGILAS Na EstéticaJulia T. TodescatoAinda não há avaliações
- Ciências Morfofuncionais Dos Sistemas Tegumentar, Reprodutor e Locomotor-1Documento89 páginasCiências Morfofuncionais Dos Sistemas Tegumentar, Reprodutor e Locomotor-1Camila Silva pereiraAinda não há avaliações
- Programa OficialDocumento23 páginasPrograma OficialCharles Lopes0% (1)
- Protocolos Jato de PlásmaDocumento35 páginasProtocolos Jato de PlásmaAdriana VasconcelosAinda não há avaliações
- EpidermeDocumento2 páginasEpidermeHygo NadabeAinda não há avaliações
- PDFDocumento59 páginasPDFThays W. OliveiraAinda não há avaliações
- Integridade Tecidual Parte I 2012-02-20130320085339Documento6 páginasIntegridade Tecidual Parte I 2012-02-20130320085339Luciano Rodrigues SimoesAinda não há avaliações
- ATIVIDADE CONTEXTUALIZADA Fundamentos EsteticosDocumento2 páginasATIVIDADE CONTEXTUALIZADA Fundamentos EsteticosTamires Rodrigues100% (1)
- Melhor Idade Oportunidade de NegocioDocumento20 páginasMelhor Idade Oportunidade de NegocioJessika DutraAinda não há avaliações
- Modelo Entrega MAPADocumento2 páginasModelo Entrega MAPAvaleria galliAinda não há avaliações
- Miniglossario SemiologiaDocumento2 páginasMiniglossario SemiologiaPriscilla Catalane Bianchi0% (1)
- 4 - UltraVioleta - UVDocumento26 páginas4 - UltraVioleta - UVAdriano SilvaAinda não há avaliações
- Herus Ultrassom Microfocado Fismatek 1Documento34 páginasHerus Ultrassom Microfocado Fismatek 1AlexandredeAguiar100% (1)
- Ficha de Avaliação Trimestral de Estudo Do Meio (1º Período) - 4º Ano (EUREKA)Documento6 páginasFicha de Avaliação Trimestral de Estudo Do Meio (1º Período) - 4º Ano (EUREKA)Sílvia PintoAinda não há avaliações
- Artigo - Análise Da Eficácia de Um Trabalho Fonoaudiologico Com Enfoque Estetico (Fono Esstetica, M.O)Documento20 páginasArtigo - Análise Da Eficácia de Um Trabalho Fonoaudiologico Com Enfoque Estetico (Fono Esstetica, M.O)Emanuellen MirandaAinda não há avaliações
- Curso de CosmetologiaDocumento36 páginasCurso de CosmetologiaAguinaldo SilvestreAinda não há avaliações
- Aula02 PDFDocumento8 páginasAula02 PDFNatiele BarbalhoAinda não há avaliações