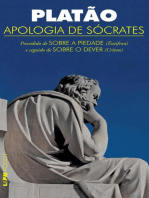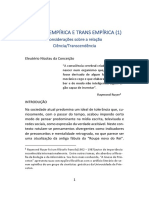Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Estudo Moira Filosofia
Enviado por
Igor BiggieDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Estudo Moira Filosofia
Enviado por
Igor BiggieDireitos autorais:
Formatos disponíveis
www.aquinate.
net/estudos ISSN 1808-5733
OBSERVAÇÕES SOBRE O CONCEITO DE MOIRA E O LIVRE ARBÍTRIO CRISTÃO
Luiz Augusto Astorga
Ó céus! Como nos acusam injustamente os mortais, dizen-
do que somos a causa dos seus males, quando na realidade
são eles que com suas loucuras acarretam sobre si os sofri-
mentos que o destino não lhes tinha decretado!
Homero, Odisséia I, 32-34
1. Introdução.
Ao se consultar o renomado dicionário grego-francês de Anatole Bailly,
tem-se logo um indício da questão que norteia este trabalho. Consta: Moira1, as,
(he) Destino personificado, imperioso, inflexível e que dirige todas as coisas a seus fins (Il. 24,
209; Eschl. Eum. 334; Pr. 511) .2 Logo depois, cita-se curiosamente outra afirma-
ção: Um Deus não pode senão retardar seu cumprimento (Hdt. 1, 91), que nem mesmo Zeus
impediria sem se contradizer (v. moiragetes).3 Observando-as atentamente, podemos no-
tar que não são exatamente iguais. Em verdade, creio que diferem não em teor,
mas em natureza. Ambas parecem apresentar o conceito ressaltando sua inflexi-
bilidade e irrevogabilidade; no entanto, a primeira refere-se a um âmbito, julgo,
filosófico, enquanto a segunda penetra em seu significado teológico.
De fato, a primeira concerne antes a direção de todas as coisas a seus fins,
dando-lhe razão de ordenação, sem penetrar a essência de uma causa primeira, mas
apenas algo que preside à concatenação de causas segundas. Sua personificação, a-
qui, não é o ponto principal. Em contrário, na segunda afirmação, o excerto de
Heródoto acusa a presença de um decreto ou lei (visto que comenta um cumpri-
mento ), os quais não existem sem algo que os profira, e, que, neste caso suben-
tende-se como a dita Moira. Prosseguindo, comenta outro aspecto interessante, o
1
As transliterações do alfabeto grego, para o presente trabalho, necessárias por questões técni-
cas, foram feitas pelo padrão mais simples, sem acentos, sinais diacríticos ou marcações de
quantidade é exceção o suspiro forte inicial, representado, onde presente, por um h . Os
iota subscritos foram postos ao lado da vogal longa correspondente.
2
BAILLY, Anatole. Dictionnaire grec-français. Paris: Hachette, 2000, p. 1292, col. 2. [Traduções
minhas.]
3
Id, Ibid.
Aquinate, n° 3, (2006), 111-122 111
www.aquinate.net/estudos ISSN 1808-5733
de que Zeus não a impediria sem se contradizer4. Vê-se aqui não apenas um caráter
racional ou, para pensarmos em termos etimológicos gregos, lógico da Moira,
mas que ela se funde com a própria pessoa de Zeus, deus que transparece como
justo e sábio, de Homero a Eurípides. Na remissão final de Bailly ao verbete moi-
ragetes, sugere-se mesmo a subordinação desta a Zeus. Ora, se pudermos obser-
var, durante este trabalho, que a quase mecanicista ordenação de todas as coisas a
seus fins ocorre em determinados âmbitos de existência, e em nada repugna ao li-
vre arbítrio humano, e ainda que os gregos conseguissem (progressivamente, é
verdade) conciliar este Zeus onipotente e onisciente com sua liberdade de esco-
lha, então teremos meios de afirmar que eles não se distanciavam tanto da visão
cristã no que tange à autodeterminação e responsabilidade de escolha. Ademais,
poder-se-á ver também que, no âmbito em que por vezes imperava certo fatalis-
mo (as camadas populares), tinha-se apenas uma manifestação de cultura primiti-
va, que, na Grécia, tanto quanto ocorre hoje, coexistia com as meditações e des-
cobertas dos filósofos e sábios mais argutos.
Nesse exame pretendo lançar breve vista principalmente a tragédias como
Agamêmnon, de Ésquilo, e Édipo rei e Antígona, de Sófocles, assim como a Odisséia
e a Ilíada. Na filosofia, recorro a exemplos em Platão, fazendo contraponto aos
raros exemplos de fatalismo filosófico (mesmo que mitigado) na filosofia grega,
como o materialismo estóico e o epicurista. Ademais, busco ressaltar algumas di-
ferenças e semelhanças entre a justiça grega e a cristã, e a presença na tragédia da
primeira, como formação moral do homem grego.
2. Fatalismo e livre arbítrio.
Cabe isolar um conceito mais firme de fatalismo, antes que se queira pro-
clamar a existência de um livre arbítrio que aquele faria excluir. Tendo-se, para a
língua portuguesa, o termo latino fatum como sua raiz, o qual deriva de fari, fa-
lar , aponta António Freire seu equivalente grego: A palavra grega heimarmene
que Cícero (De.div., I, 55) traduziu por fatum , atribuíam os autores antigos dupla etimolo-
gia. Segundo a primeira, derivaria de eiro dizer; segundo a outra derivaria de heirmos ca-
deia, série. 5 Esta palavra, atrelada à noção de Moira, poderia tratar-se tanto co-
mo indicando um decreto divino , quanto como uma concatenação férrea de
fatos . Uma das características centrais do fatalismo, no sentido em que pretendo
aqui adotar este conceito, é a impotência da iniciativa humana em reger seu pró-
4
fr. démentir .
5
FREIRE, António. Conceito de moira na tragédia grega. Braga: Livraria Cruz, 1969, p. 15.
Aquinate, n° 3, (2006), 111-122 112
www.aquinate.net/estudos ISSN 1808-5733
prio destino, este posto em ato por uma força externa; outra é que este princípio
seja cego e desprovido de consciência. Note-se que este conceito repugna, em
última instância, a presença dominante de uma altíssima Sabedoria ou Providência.
Em distinção do que se poderia denominar de acaso , que se estende às causas
naturais, em que não penetra a deliberação humana, o fatalismo as inclui em sua
determinação.
Antes de verificarmos sua possível presença em algumas das principais
manifestações do pensamento grego, devemos no entanto analisar suas conse-
qüências necessárias, de modo que estas também sirvam de guia para sua detec-
ção. Em termos puramente filosóficos, admitir que o universo é regido por uma
força cega e irracional é admitir que nós, seres racionais, estamos subordinados a
um ente de natureza inferior à nossa. É de uma injustiça esmagadora.6 Em qual-
quer lugar ou época em que este tipo de pensamento tenha se manifestado (mais
ou menos conscientemente), gerou-se descontentamento e pessimismo, como
transparece em Byron e Schopenhauer. Ademais, admitindo-se a presença de algo
que tudo ordene, mesmo que este se identifique com esta própria ordenação, e pos-
tulando-se a incapacidade do homem em se responsabilizar por seus erros e cri-
mes, vemo-nos obrigados a atribuir os males do universo a este princípio orde-
nador. Assim, têm-se três soluções possíveis para o problema do mal: ou nega-se
a existência do bem e temos um princípio mau (o pessimismo é aí necessário,
pois estaríamos no pior dos mundos), ou postulam-se dois princípios, um mau e
um bom (o que gera, como o maniqueísmo, uma torrente de conseqüências con-
traditórias), ou apenas um princípio bom, situação na qual, ou nega-se a existên-
cia do mal, o que é igualmente absurdo ou se adota a conclusão aristotélica do
mal como privação, que apenas exige do princípio que seja bom e permita o mal, o
que não pode ser implementado num universo onde a liberdade humana é inexis-
tente.
Com certa segurança, podemos afirmar que um dos sintomas mais mar-
cantes da presença do fatalismo, um peso sobre o espírito humano, que veria em
sua livre vontade inata uma doença, uma ilusão torturante e indesejável que pare-
ceria todo dia enganá-lo, seria um pessimismo ao menos perceptível. Este fata-
lismo, que condenava o ser humano por atos que não eram de sua consciente de-
liberação, que era superior e independente da justiça dos deuses, assim como o
pessimismo dele decorrente, é o que teríamos de encontrar.
6
Antes que se possa, por exemplo, cobrar do Deus judaico-cristão que ele tenha exigido que
Lúcifer se curvasse ao homem, este ser material e corruptível, lembremo-nos que o curvar-se a
nós era um ato que denotaria no anjo, em última instância, não submissão a nós, mas a Ele.
Aquinate, n° 3, (2006), 111-122 113
www.aquinate.net/estudos ISSN 1808-5733
Pois é este pessimismo que, seguindo a opinião de António Freire, expo-
nho que não era presença significativa na Grécia, de Homero a Eurípides. Nem
pessimismo, nem fatalismo. O livre arbítrio humano e a responsabilidade moral
de uma pessoa por seus próprios atos eram defendidos, e a eles não podia ser a-
lheio aquele grande povo, especialmente na manifestação artística do ideal de jus-
tiça e moralidade gregos, a tragédia particularmente a esquiliana e a sofocliana.
Por isto, primeiro passo à breve análise de um suposto fatalismo na filosofia, na
obra homérica, e na tragédia.
Na filosofia, a questão da presença ou ausência do fatalismo não era ponto
central dos pré-socráticos. A contenda mais significativa parece ter surgido inici-
almente entre Platão e os materialistas estóicos e epicuristas. Platão era aberta-
mente antifatalista, pregando a importância da iniciativa individual na busca pelo
conhecimento, no Mênon, e a responsabilidade individual sobre o destino da alma
no Fédon e no mito de Er, ao fim da República. Seus discípulos manteriam esta o-
pinião, como Aristóteles, que conseguia conciliar sua tese das quatro causas com
a responsabilidade humana, deixando isentos de qualquer necessidade mecanicis-
ta os atos de deliberação intelectual. Seu próprio discípulo, Alexandre de Afrodí-
sias, seguiria esta posição. Quanto aos estóicos, mesmo dentre estes devem-se
fazer ressalvas, como quando deles se afirmava: os estóicos falam como sendo uma
mesma coisa a heimarmene e Zeus 7; isto é, mesmo na divindade imanente que con-
cebiam, era visível a tentativa de alguns de conciliá-la com o livre arbítrio iden-
tificando a fatalidade, carregada de ananke, com a providência dos deuses o que
no entanto terminava por transformá-lo numa espécie de instinto animal. Entre
aqueles em que tampouco isto ocorria, viam como objetivo-mestre livrar-se das
vontades, que, postas lado a lado com os desejos, eram obstáculos em seu cami-
nho à tão buscada ataraxia. Ter identificado como solução para este sofrimento a
extirpação dos desejos seria um dos fatos que os levaria a advogar o suicídio.8
Apoiando novamente A. Freire, comento a observação de Keimpe Algra, segun-
do quem esta oração de Marco Aurélio (que, embora de tardia cultura romana,
era também estóico) era um exemplo de súplica estóica por racionalidade :
7
Hoi Stoikoi de phasin hos tauton heimarmene kai Zeus In: FREIRE, op. cit., p. 18 [Tradução mi-
nha.]
8
Nas religiões ou filosofias que partilham deste tão longínquo ideal, como o budismo, mitiga-
se a sua inacessibilidade com o conceito da reencarnação, em que esta busca poderia então o-
cupar o espaço de várias vidas. No materialismo estóico, no entanto, isto não era concebível, e
o suicídio passava a ocupar um primeiro plano.
Aquinate, n° 3, (2006), 111-122 114
www.aquinate.net/estudos ISSN 1808-5733
Quem te disse que os deuses não estão também nos ajudando no
que tange ao que está em nosso poder? Então começa a rezar por es-
tas coisas e verás o que acontece. O homem ali reza como consigo
fazer para dormir com ela? tu rezas: como posso parar de querer
dormir com ela (...)? 9
Ora, a pessoa pode desejar que a razão supere seus desejos, mas não pode
rezar para parar de desejar, pois isto é extirpar uma função essencial de sua alma.
Rezar por isto não é rezar pela supremacia da racionalidade, como nos exortaria a
fazer Platão, mas rezar que fossem extirpadas funções de algo mesmo que nos
torna humanos. Desejar isto é, paradoxalmente, irracional: é contraditório desejar
profundamente que se deixe de desejar. A busca de tal ataraxia é contraditória, porque
esta é sempre um estado que se busca.
Buscando a possibilidade da coexistência de um futuro predeterminado
(independentemente de nossa vontade) com o livre arbítrio humano, e procuran-
do comentar o chamado argumento do preguiçoso10, advoga Dorothea Frede da se-
guinte maneira:
A necessidade de se tratar seres humanos como seres autônomos é
devida à ignorância humana do grande escopo da ordem do mundo.
É precisamente porque não sabemos o que está em jogo no futuro
que temos de agir do melhor modo que pudermos. Em cada caso, o
que fazemos pode ou não ser a condição decisiva. Dado nosso pre-
sente estado de conhecimento, temos de agir do modo que parece
melhor, ainda que saibamos ou não com certeza se nossas ações irão
levar ao melhor resultado. 11
No entanto, este argumento não parece contornar o problema da motiva-
ção humana no determinismo estóico, pelo simples motivo de que, se não é você
9
ALGRA, Keimpe. Stoic theology . In: INWOOD, Brad (Ed.). The Cambridge companion to the
stoics. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 175. [Traduções minhas.]
10
Exemplo: Se já está predeterminado que vou me curar desta doença, por que deveria ir ao
médico? É evidente que este argumento parte do problema que ele de algum modo soubera o seu
futuro, embora este mesmo fato vá participar, de algum modo, na determinação deste mesmo
futuro.
11
FREDE, Dorothea. Stoic determinism . In: INWOOD, Brad (Ed.). The Cambridge companion
to the stoics. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 204.
Aquinate, n° 3, (2006), 111-122 115
www.aquinate.net/estudos ISSN 1808-5733
que, em verdade, está fazendo o melhor que pode , o que te impele a fazê-lo? O
que importa é se de fato se é livre para decidir, ou se esta vontade, presente na
consciência, é tida como uma ilusão. A ignorância do destino não impele nin-
guém, se este não tiver na consciência que seus atos são realmente seus.
Abreviando esta contenda, limito-me a incluir um comentário ao epicu-
rismo, com relação ao qual A. Freire é categórico, pouco desenvolvendo discus-
são:
Os deuses do epicurismo são materiais; a única realidade de que go-
zam, é o dinamismo de que são dotados. Epicuro nega a providência:
os deuses não se importam do mundo nem dos homens. A sua felici-
dade consiste precisamente em não se preocuparem com nada. São
deuses de pensão . É expressivo o quadro que dos deuses epicuristas
pintou Melli: Se se comparam os deuses de Epicuro de perfis tênues,
ondulantes, com os deuses de Homero, parecem uma sombra daque-
les... Este Olimpo de Epicuro assemelha-se mais a um desterro de
moribundos do que a um palácio real de deuses imortais . 12
Assim, a despeito do caráter absurdo de atribuir à Moira a natureza de um
princípio cego, superior e regente dos deuses, em um âmbito filosófico e teológi-
co, foi possível também observar as contradições e desditas em que caem os que
tentam fazê-lo. Pode-se, então, verificar brevemente se era válida esta atribuição
anteriormente, em Homero. Homero pouco faz desvincularem-se os decretos da
Moira das deliberações de Zeus; em última instância, não termina este contraria-
do nem na Ilíada, nem na Odisséia. As pequenas tramas que os deuses executam
entre si têm mais caráter lírico do que de negação efetiva da vontade de Zeus. A
Moira, quando não aparece identificada com ele ou com sua vontade, apresenta-
se como destino, mas não como série determinada de fatos , e sim o termo da
vida, e o quinhão merecido.13 Não à toa seria de uso o epíteto moiragetes. Ora,
Zeus deliberadamente salva da morte Sarpédon, sua prole. Quando este não se
identificava com ela, regia-a.14 Novamente, observa Freire:
12
FREIRE, op. cit., pp. 32-33.
13
Posteriormente, em Édipo rei, Sófocles utilizará termos como boa moira e má moira, reforçando
a idéia primitiva de quinhão, parte devida.
14
Se retornarmos a Hesíodo, vemos mesmo que a Moira, quando personificada na trindade
Lakhesis¸ Klotho, Atropos, nasce do encontro de Zeus com Têmis.
Aquinate, n° 3, (2006), 111-122 116
www.aquinate.net/estudos ISSN 1808-5733
Dir-se-ia que a imaginação popular preconcebia inconscientemente
o que paulatinamente viria a ser formulado por uma filosofia sã e
evoluída: a moira, na sua matizada forma, personificaria os atributos
divinos, mormente a justiça e a bondade, que embora não se distingam
realmente de Deus, admitem, no entanto, uma distinção que os filó-
sofos tomistas denominam virtual late praecisiva, com fundamento im-
perfeito nos efeitos de tais atributos. 15
Não à toa abri este trabalho com o citado verso da Odisséia. Meu intuito,
pessoal, de utilizar a bela tradução de Odorico Mendes, deparou-se com o empe-
cilho de, justamente num ponto crucial, ter o poeta feito uso de uma liberdade16,
que, para este âmbito, dissolveria o efeito da frase. A tradução foi provida, pois,
por este mesmo autor que acima citei. De fato, consta no original: O popoi, hoion
de theous brotoi aitioontai, spheisin atasthalieisin hypermoron alge ekhousin .
Em Homero, vê-se a vontade de Zeus se perfazendo, ainda que seja a von-
tade, por exemplo, de atender a Tétis, quando da ira de Aquiles. Não aparece a
Moira como cego determinante, ao qual se submete Zeus. As inúmeras interfe-
rências que outros deuses realizavam, inclusive numes como Posêidon, ou eram
previstas, ou corrigidas pelo deus supremo. E dava ele liberdade, em sua onisci-
ência (ainda que sempre com as ditas ressalvas líricas), para os homens, para que
agissem conforme julgassem ser apropriado. Aquiles pôde mesmo ter o luxo de
decidir seu futuro com conhecimento prévio das possíveis conseqüências de sua
escolha. Pôde Agamêmnon não lhe tirar Criseida. Pôde Páris não raptar Helena.
Sempre estava presente, mesmo em vezes que interferiam os deuses, o livre arbí-
trio humano. Pois estava também, acompanhado deste livre arbítrio, a eqüidade
do julgamento de Zeus. E isto transparece em toda a Ilíada, em toda a Odisséia: há
tanto tristeza quanto alegria; tanto otimismo quanto pessimismo, que variavam,
verossimilmente, com o temperamento dos homens. Ainda que soubesse Zeus
de todos os acontecimentos previamente, isto nada pugna (assim como no caso
do Deus cristão), com a liberdade humana. Homero não era fatalista.
Em Ésquilo, o refinamento da eqüidade e bondade em Zeus é impressio-
nante. É o autor que melhor pôs em cena a justiça e a imparcialidade. Em sua
tragédia Suplicantes, aponta como faltoso aquele que comete a hybris de querer se
15
FREIRE, op. cit., p. 95.
16
(...) Os mortais, ah!, nos imputam / os males seus, que ao fado e à própria incúria / devem
somente! (...) HOMERO. Odisséia I, 26-28. [Grifo meu.]
Aquinate, n° 3, (2006), 111-122 117
www.aquinate.net/estudos ISSN 1808-5733
igualar a Zeus.17 Em Agamêmnon, podemos observar um aspecto especialmente
interessante: não apenas se observa o cumprimento da justiça divina (que condiz
com sua vontade, em um deus bom), mas sua perfeita simultaneidade com os atos
livres humanos. É uma diferença de aspectos de um mesmo ato. Agamêmnon ti-
nha a opção de escolher não sacrificar Ifigênia18, e cancelar a expedição. Mas o
fez. A ausência do fatalismo está não apenas na imputação da responsabilidade
do ato a Agamêmnon, mas no seu julgamento por Zeus, o que repugna a idéia de
um princípio cego e irracional. A morte de Agamêmnon é, ao mesmo tempo, ato
livre e deliberado de Clitemnestra, e sob aspecto teológico justiça executada por
Zeus pelo mal do marido. Por sua vez, ela mesma, por ter cometido tal ato deli-
beradamente, é então punida por Zeus, mediante a vingança de seu filho Orestes.
Tanto Orestes quanto Clitemnestra são responsáveis por seus atos, e, ao mesmo
tempo, sob outro prisma, agentes de Zeus.
Este quadro, pintado com coerência impressionante, aqui vemos desviar-
se do que afirmará a revelação cristã: esta teologia apontará que a justiça de Deus
não se executa definitivamente em vida, ou na interrupção desta vida; dá-se no
post mortem. Ora, de fato, não à toa era tão importante a presença no espetáculo
teatral para o cidadão grego: ele era instrução moral. Era paideia. Uma tragédia es-
quiliana como Agamêmnon exaltava e inspirava a virtude e a justiça. No entanto,
um cidadão não podia esperar sem ressalvas a infalibilidade desta justiça, em seu
dia-a-dia, sem uma ponta de insegurança, pois lhe transparecia que, por vezes,
pessoas injustas viviam vidas felizes, e vice-versa. Faltavam-lhes detalhes como
este. Em Ésquilo, idealizando-se a justiça, tinha-se um infalível aqui se faz, aqui
se paga .
Quanto a Sófocles, vemos nele a exaltação por excelência da liberdade
humana. E isto pode ser afirmado sem ressalvas diante de obras como Antígona e
mesmo Édipo rei. Autor que dispensa elogios, Sófocles diferenciou-se de Ésquilo
por ter dado a forma mais perfeita à caracterização do humano; trouxe a tragédia
dos deuses à Terra. De Eurípides, distingue-se fundamentalmente por retratar o
homem tal como deve ser .19 Sobre a liberdade de seus personagens, Jaeger:
A maldição familiar da casa dos Labdácidas, cuja ação aniquiladora
Ésquilo acompanha durante várias gerações na trilogia tebana, per-
17
Curiosamente, no panorama cristão, apontará posteriormente Agostinho, na Cidade de Deus,
esta falta dos anjos caídos, inflados de soberba.
18
ÉSQUILO, Agamêmnon. 206-217. In: FREIRE, op. cit., p. 175, n. 113.
19
JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 326.
Aquinate, n° 3, (2006), 111-122 118
www.aquinate.net/estudos ISSN 1808-5733
manece ainda em Sófocles a causa originária, mas situada num plano
de fundo. Antígona cai como sua última vítima, do mesmo modo que
em Sete de Ésquilo, Etéocles e Polinices. Sófocles leva Antígona e o
seu opositor Creonte a participarem na realização do seu destino pelo
vigor das suas ações, e o coro não se cansa de falar da transgressão da
medida e da participação de ambos no seu infortúnio. Todavia, ainda
que este elemento sirva também para fundamentar o destino no sen-
tido esquiliano, a luz concentra-se toda na figura do homem trágico e
tem-se a impressão de que ela basta para centralizar em si mesma to-
do o interesse. O destino não desperta a atenção, como problema in-
dependente; ela se dirige, de certo modo essencialmente, para a forma
do homem sofredor, cujas ações não são necessariamente determina-
das do exterior. 20
Aos poucos, cresce em Sófocles o refinamento de abandonar o dogma
primitivo da culpabilidade hereditária dogma este não apenas grego, mas pre-
sente em diversas das culturas mais antigas, quer indo-européias, quer ameríndias,
por exemplo , que não podia ser totalmente extirpado, mesmo porque a tragédia
tinha de ser palatável ao público; o gosto popular não podia ser deixado de lado.
Mas cada vez mais se vê a construção de um homem que é responsável por, nada
mais, nada menos, seus próprios atos deliberados. Em Antígona, a personagem
sabia que infringia o decreto de Creonte, e desrespeitava a lei deliberadamente.
Nesta obra, porém, não é demais ressaltar outro ponto, que converge com uma
característica do cristianismo: a de preferir a lei de Deus à dos homens. Prefere
sofrer o castigo de Creonte a incorrer na ira divina. Nisto, respeita ela uma ordem
mais sagrada que a de um legalismo arbitrário do tirano:
É que essas leis não foi Zeus que as promulgou, nem a justiça que
coabita com os deuses subterrâneos estabeleceu tais leis para os ho-
mens. Entendi que os teus éditos não tinham poder para levar um
mortal a infringir os decretos divinos, não escritos, mas imutáveis.
Estes não são de hoje, nem de ontem, mas estão sempre em vigor, e
ninguém sabe quando surgiram .21
20
Id., Ibid., p. 329.
21
Sófocles, Antígona. 441-470. In: FREIRE, op. cit., p. 241.
Aquinate, n° 3, (2006), 111-122 119
www.aquinate.net/estudos ISSN 1808-5733
Em Édipo rei, nenhuma das ações realizadas por deliberação de Édipo lhe é
forçada. Aquelas, por sua vez, que se realizavam deliberadamente, mas, sem que
se conhecesse sua real natureza, não o faziam vil e condenável, apenas desditoso.
O que se pode notar foi que de nada de hediondo se pode culpar Édipo. Ele não é
condenável por seus atos incestuosos, por exemplo, porque, embora os tivesse
cometido deliberadamente, ignorava o que fazia. Ironicamente, Édipo culpou a si
mesmo, e isto de puro livre arbítrio. A profecia não tolhia a liberdade de Édipo. Era
apenas a manifestação da presciência dos deuses com relação aos fatos que viri-
am a ocorrer pelas próprias deliberações humanas, diante das situações que dian-
te deles se colocavam. As tristezas que tanto padece Édipo, estas se atribuem à
maldição da família, cedendo Sócrates à tradição popular. Assim, comenta Wila-
movitz-Moellendorff, quem quiser achar no Rei Édipo de Sófocles o castigo de uma culpa,
falseia o poema e peca contra a religião do poeta. 22 A culpa existiu, mas em Laio. O cas-
tigo é que se propagou. Assim, complementa Freire:
Consideramos também infeliz a designação freudiana de complexo
de Édipo , aplicada ao estado psíquico da psicanálise sobre a atracção
incestuosa dos sexos. Édipo mostrou sempre repugnância e uma co-
mo que impossibilidade psíquica de ser incestuoso. 23
3. Consideração final.
Nem todos os pontos encaixavam-se com a revelação do cristianismo, é
claro. Por isto mesmo deve-se antes, por exemplo, ver Antígona como mártir pa-
gã. Sua bravura e solidez de propósito, contrastando com seu triste desespero fi-
nal diante da morte, apontam a divergência crucial com o mártir cristão.24 Mas
tocam-se na escolha da lei divina à humana, na sua assumida vocação para com-
partir o amor, e na eleição para a dor, embora enfatize Jaeger as condições de tal
eleição: Esta eleição para a dor, alheia a qualquer manifestação cristã, revela-se de modo e-
minente no diálogo do prólogo entre A ntígona e as suas irmãs 25.
22
WILAMOVITZ, U. von. Griechische tragödien I, 1922, pp14-15. In: FREIRE, op. cit., p. 217.
23
FREIRE, op. cit., p. 217.
24
A A ntígona de Sófocles não é uma mártir cristã, cuja morte tem carácter de triunfo, e inspira mais admira-
ção do que compaixão, e por isso mesmo induz a esquecer o tirano atormentador. FREIRE, op. cit., pp.
250-251.
25
JAEGER, op. cit., p. 329.
Aquinate, n° 3, (2006), 111-122 120
www.aquinate.net/estudos ISSN 1808-5733
Quanto ao tema central deste trabalho, o conceito cristão de um Deus o-
nipotente, onisciente e onipresente mostra gradualmente desenvolver-se no refi-
namento da grande cultura helênica. A Grécia antiga e clássica era rica em um
povo que conquistava, sem auxílio efetivo de uma revelação divina, a extrema co-
erência de pensamento. Sua recusa ao fatalismo em Homero, sua refutação na
filosofia, e seu gradual e didático abandono na tragédia, que compunha a pai-
deia de seu povo, eram momentos que serviriam de exemplo a todos os povos
que tivessem a oportunidade de conhecer sua cultura.
Assim, os gregos transcenderam sozinhos o erro da cega Moira, e, divini-
zando o homem, conseguiram conceber e confiar numa justiça infinita, represen-
tando-a no palco para educar o mundo. Nem otimistas, nem pessimistas, define-
os brilhantemente Noirfalise:
Humanos, humanos o são todos, em sua grandiosidade e em sua
fraqueza, em sua fidelidade ou em seu desespero, em sua generosida-
de ou em seu egoísmo: Homens e nada senão homens, porque não
podiam olhar mais alto. Grandes, porque era necessário ser grande
para se resignar ao humano. 26
Bibliografia
BAILLY, Anatole. Dictionnaire grec-français. Paris: Hachette, 2000. 2230 p.
BÍBLIA. Português. Bíblia sagrada. Tradução de Padre Antônio Pereira de Figuei-
redo. Rio de Janeiro: Livros do Brasil S.A., 1965. 4 v.
FREIRE, António. Conceito de moira na tragédia grega. Braga: Livraria Cruz, 1969.
350 p.
GILSON, Étienne. Introduction à l´étude de saint A ugustin. Paris: Librairie Philoso-
phique J. Vrin, 1943. 370 p.
GILSON, Étienne; BOEHNER, Philotheus. História da filosofia Cristã. Petrópolis:
Vozes, 2004. 582 p.
HOMERO. Odisséia; tradução: Manuel Odorico Mendes. São Paulo: Martin Cla-
ret, 2004. 416 p.
INWOOD, Brad (Ed.). The Cambridge companion to the stoics. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2003. 438 p.
26
NOIRFALISE, A. Les auteurs anciens et l´homme d´aujourd´hui in Études Classiques,
Outubro, 1953, pp. 318-329. In: FREIRE, op. cit., p. 90. [Tradução minha.]
Aquinate, n° 3, (2006), 111-122 121
www.aquinate.net/estudos ISSN 1808-5733
JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes,
2003. 1413 p.
PEREIRA, Maria Helena da Rocha. Estudos de história da cultura clássica. Porto:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. 2 v.
ROSENSTOCK-HUESSY, Eugen. A origem da linguagem. Rio de Janeiro: Record,
2002. 270 p.
SANTO AGOSTINHO. O livre arbítrio. São Paulo: Paulus, 1995. 296 p.
SANTO AGOSTINHO. Obras de San Augustín. Edición bilíngüe. Tomo VI. Ma-
drid: Editorial Catolica S.A., 1949. 943 p. [Bilbioteca de autores cristianos]
SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. São Paulo: Loyola, 2002. 8v.
SÓFOCLES. Tragédies completes. Préface de Pierre Vidal-Naquet. Paris: Éditions
Gallimard, 2002. [Collection Folio Classique].
Aquinate, n° 3, (2006), 111-122 122
Você também pode gostar
- "O Estatuto Da Razão" (Gerd Bornheim)Documento38 páginas"O Estatuto Da Razão" (Gerd Bornheim)Matheus Patrick S. FagundesAinda não há avaliações
- Émile Bréhier-A Teoria Dos Incorporais No Estoicismo Antigo-Autêntica Editora (2013) PDFDocumento62 páginasÉmile Bréhier-A Teoria Dos Incorporais No Estoicismo Antigo-Autêntica Editora (2013) PDFMytchells100% (2)
- Origem dos mitos gregos e do pensamento filosóficoDocumento11 páginasOrigem dos mitos gregos e do pensamento filosóficoEsterfrequentAinda não há avaliações
- Hume e A Razão Dos Animais Silvio Chibeni 2014Documento25 páginasHume e A Razão Dos Animais Silvio Chibeni 2014Fernanda CardosoAinda não há avaliações
- Henriper, Gerente Da Revista, Ensaios de Literatura e Filologia V04n01a07Documento13 páginasHenriper, Gerente Da Revista, Ensaios de Literatura e Filologia V04n01a07GuilhermeAinda não há avaliações
- Origens do pensamento filosófico gregoDocumento5 páginasOrigens do pensamento filosófico gregoRenato BarbosaAinda não há avaliações
- Filosofia - Apologia de SócratesDocumento4 páginasFilosofia - Apologia de SócratesIzaque Farias RiperAinda não há avaliações
- Geertz - Anti Anti RelativismoDocumento19 páginasGeertz - Anti Anti RelativismoAlexander MagalhãesAinda não há avaliações
- Mito e Filosofia na Grécia AntigaDocumento211 páginasMito e Filosofia na Grécia AntigaCassamo Ussene MussagyAinda não há avaliações
- Liberdade, Filosofia e Política: o nascimento comum do OcidenteDocumento9 páginasLiberdade, Filosofia e Política: o nascimento comum do OcidenteSUZANNY MAMEDIOAinda não há avaliações
- O Conceito de Esclarecimento na obra Dialética do EsclarecimentoDocumento7 páginasO Conceito de Esclarecimento na obra Dialética do EsclarecimentoFrancine Cruz100% (1)
- A Sabedoria Estóica e o Seu DestinoDocumento8 páginasA Sabedoria Estóica e o Seu DestinoJoana SantosAinda não há avaliações
- A Descoberta Do Homem - Sofistas - Protagoras - Gorgias - ProdicoDocumento7 páginasA Descoberta Do Homem - Sofistas - Protagoras - Gorgias - ProdicoMateus KavalaAinda não há avaliações
- Filosofia - Aula - 02 - Mito - Ao - Logos - Caracteristicas - Da - Filosofia ClaDocumento3 páginasFilosofia - Aula - 02 - Mito - Ao - Logos - Caracteristicas - Da - Filosofia ClaraianyprausemartinsAinda não há avaliações
- Os principais empiristas Bacon, Hume e sua crítica do conhecimentoDocumento11 páginasOs principais empiristas Bacon, Hume e sua crítica do conhecimentoANNA KARIENINAAinda não há avaliações
- Mitologia Grega - Questões de Vestibular - 3º AnoDocumento6 páginasMitologia Grega - Questões de Vestibular - 3º AnoSidney PiresAinda não há avaliações
- Antropologia Filosofia DireitoDocumento30 páginasAntropologia Filosofia DireitoMartinho PedroAinda não há avaliações
- O Antropos Metron de Protagoras Como OriDocumento12 páginasO Antropos Metron de Protagoras Como OriMardem LeandroAinda não há avaliações
- O Conceito de Risco Na Modernidade Reflexiva: Uma Nova Forma de Descaracterização Do Trágico?Documento14 páginasO Conceito de Risco Na Modernidade Reflexiva: Uma Nova Forma de Descaracterização Do Trágico?Claudio Luis Gastal100% (2)
- 679-Texto Do Artigo-1202-1-10-20170424Documento7 páginas679-Texto Do Artigo-1202-1-10-20170424mauro gomesAinda não há avaliações
- Resumo Filosofia AntigaDocumento5 páginasResumo Filosofia AntigaGabriel AbelinAinda não há avaliações
- Gilles Deleuze - Cursos Sobre Foucault III - A Questão Da Filosofia Na GréciaDocumento35 páginasGilles Deleuze - Cursos Sobre Foucault III - A Questão Da Filosofia Na GréciaOABAinda não há avaliações
- Dhâranâ Online 21Documento24 páginasDhâranâ Online 21Arnaldo Oliveira100% (1)
- Resumo Filosofia PDFDocumento3 páginasResumo Filosofia PDFMárcio CordeiroAinda não há avaliações
- Prudência e JurisprudênciaDocumento14 páginasPrudência e JurisprudênciaMárcio Limberger100% (1)
- Autonomia SocráticaDocumento8 páginasAutonomia SocráticaMilena TarziaAinda não há avaliações
- Os sofistas: do relativismo à igualdade humanaDocumento5 páginasOs sofistas: do relativismo à igualdade humanaCarolina L. BiasuzAinda não há avaliações
- Aula Cof 146Documento6 páginasAula Cof 146Diego VillelaAinda não há avaliações
- Os Pré-Socrátivos - Texto e Atividade 2Documento2 páginasOs Pré-Socrátivos - Texto e Atividade 2antoniosdahoraAinda não há avaliações
- CELERDocumento6 páginasCELERGesildaAinda não há avaliações
- Logos X MithosDocumento6 páginasLogos X MithosidemabAinda não há avaliações
- AULA 4 - Questões de Revisão para A Avaliação de FilosofiaDocumento8 páginasAULA 4 - Questões de Revisão para A Avaliação de FilosofiaWeslley MatosAinda não há avaliações
- Os filósofos pré-socráticosDocumento64 páginasOs filósofos pré-socráticosFabiano Carlos FerreiraAinda não há avaliações
- Correcção exame Antiga I 2022Documento4 páginasCorrecção exame Antiga I 2022JorgeAinda não há avaliações
- SAFATLE, Vladimir. Uma Arqueologia Do Conceito de Liberdade No OcidenteDocumento140 páginasSAFATLE, Vladimir. Uma Arqueologia Do Conceito de Liberdade No OcidenteRodrigo895Ainda não há avaliações
- Origem da FilosofiaDocumento8 páginasOrigem da FilosofiarafaelAinda não há avaliações
- Unidade 2 (Heraclito e Parminedes)Documento20 páginasUnidade 2 (Heraclito e Parminedes)Ademar RamosAinda não há avaliações
- Maisa Martorano,+04-+amandioDocumento10 páginasMaisa Martorano,+04-+amandioIreneAinda não há avaliações
- TRABALHO CECÍLIA - Capitulo 03Documento33 páginasTRABALHO CECÍLIA - Capitulo 03celioAinda não há avaliações
- 219444_arquivoDocumento9 páginas219444_arquivoluisa GonçalvesAinda não há avaliações
- Mito CosmologiaDocumento42 páginasMito CosmologiaLuciane Silva MarquesAinda não há avaliações
- CH Mod01 Vol1 Unidade-9-Nova Eja-Aluno PDFDocumento30 páginasCH Mod01 Vol1 Unidade-9-Nova Eja-Aluno PDFPaulo SchneiderAinda não há avaliações
- Ordem Empírica e Trans Empírica 1Documento25 páginasOrdem Empírica e Trans Empírica 1Eleutério Nicolau da ConceiçãoAinda não há avaliações
- Estudos Humeanos - Aproximação Entre Hume e Spinoza13-20 PDFDocumento18 páginasEstudos Humeanos - Aproximação Entre Hume e Spinoza13-20 PDFRebert SantosAinda não há avaliações
- Medo e Esperança em Agostinho: uma proposta ontológicaDocumento24 páginasMedo e Esperança em Agostinho: uma proposta ontológicaRaissaAinda não há avaliações
- Simulado de Filosofia Pré-SocráticaDocumento6 páginasSimulado de Filosofia Pré-SocráticaPatoPATATAAinda não há avaliações
- WOORTMANN, Klaas. O Selvagem e A HistóriaDocumento27 páginasWOORTMANN, Klaas. O Selvagem e A HistóriaJosé Antonio M. AmeijeirasAinda não há avaliações
- Filosofia Antiga - Surgimento Da Filosofia - Passagem Do Mito Ao LogosDocumento7 páginasFilosofia Antiga - Surgimento Da Filosofia - Passagem Do Mito Ao LogosMaria EduardaAinda não há avaliações
- Execuções públicas e desejos reprimidosDocumento21 páginasExecuções públicas e desejos reprimidosjulio2000Ainda não há avaliações
- Do Mito À RazãoDocumento7 páginasDo Mito À RazãomarcoheliosAinda não há avaliações
- Apostila de Fil. Uecevest.Documento24 páginasApostila de Fil. Uecevest.Departamento de LiteraturaAinda não há avaliações
- Mythos e LogosDocumento17 páginasMythos e LogosFábio Gerônimo Mota DinizAinda não há avaliações
- Periculosidade como justificativa para medidas de segurançaDocumento30 páginasPericulosidade como justificativa para medidas de segurançaKamandrilAinda não há avaliações
- A Critica Da Noção Do SujeitoDocumento3 páginasA Critica Da Noção Do SujeitoDelmo FonsecaAinda não há avaliações
- Streck 1999 A Viragem Linguistica Da Filosofia e o Rompimento Com A Metafisica Ou de P 137 154Documento20 páginasStreck 1999 A Viragem Linguistica Da Filosofia e o Rompimento Com A Metafisica Ou de P 137 154Jiovane Peixoto100% (2)
- A Teoria Do ConhecimentoDocumento8 páginasA Teoria Do ConhecimentoÁlvaro AntunesAinda não há avaliações
- 16 - ADORNO, T. HORKHEIMER, M. - Dialetica Do Esclarecimento Cap.1Documento34 páginas16 - ADORNO, T. HORKHEIMER, M. - Dialetica Do Esclarecimento Cap.1Danilo Uzeda100% (1)
- Livro Dos Remedios Contra Hos Sete Peccados Mortays (1543)No EverandLivro Dos Remedios Contra Hos Sete Peccados Mortays (1543)Ainda não há avaliações
- São João Damasceno e a defesa das imagens sagradasDocumento77 páginasSão João Damasceno e a defesa das imagens sagradasElizabeth Justino75% (4)
- Artigo 5 Faitanin MateriaDocumento12 páginasArtigo 5 Faitanin MateriaIgor BiggieAinda não há avaliações
- As Heresias do Vaticano II sobre a Igreja UniversalDocumento64 páginasAs Heresias do Vaticano II sobre a Igreja UniversalIgor BiggieAinda não há avaliações
- NamoroDocumento5 páginasNamoroIgor BiggieAinda não há avaliações
- Breve Crônica Da Ocupação NeoDocumento48 páginasBreve Crônica Da Ocupação NeoIgor BiggieAinda não há avaliações
- Porque Recebemos o Pecado OriginalDocumento3 páginasPorque Recebemos o Pecado OriginalIgor BiggieAinda não há avaliações
- A Propósito de São Vicente de LérinsDocumento50 páginasA Propósito de São Vicente de LérinsIgor BiggieAinda não há avaliações
- Gettier 1963 E - A Crenc - A Verdadeira Justificada Conhecimento PDFDocumento3 páginasGettier 1963 E - A Crenc - A Verdadeira Justificada Conhecimento PDFJose Francisco Lopes XarãoAinda não há avaliações
- Via Sacra - Jesus cai pela segunda vezDocumento12 páginasVia Sacra - Jesus cai pela segunda vezIgor BiggieAinda não há avaliações
- NamoroDocumento5 páginasNamoroIgor BiggieAinda não há avaliações
- O Espirito Da Fraternidade Sao Pio - XDocumento5 páginasO Espirito Da Fraternidade Sao Pio - XIgor BiggieAinda não há avaliações
- Ora Et Labora Beneditinos Da TradiçãoDocumento6 páginasOra Et Labora Beneditinos Da TradiçãoIgor BiggieAinda não há avaliações
- DANTEDocumento5 páginasDANTEIgor BiggieAinda não há avaliações
- Os Decretos Do Vaticano II Comparados Com Os Ensinamentos Da Igreja Infalíveis Do PassadoDocumento14 páginasOs Decretos Do Vaticano II Comparados Com Os Ensinamentos Da Igreja Infalíveis Do PassadoIgor BiggieAinda não há avaliações
- Sermões de São João Maria Vianney, O Cura D'ArsDocumento21 páginasSermões de São João Maria Vianney, O Cura D'ArsIgor BiggieAinda não há avaliações
- Sete Pecados CapitaisDocumento27 páginasSete Pecados CapitaisIgor BiggieAinda não há avaliações
- Novena N Sra Do CarmoDocumento1 páginaNovena N Sra Do CarmoIgor BiggieAinda não há avaliações
- Setenário das Dores de MariaDocumento8 páginasSetenário das Dores de MariaIgor BiggieAinda não há avaliações
- Novena a São JoséDocumento4 páginasNovena a São JoséIgor BiggieAinda não há avaliações
- Novena de Nossa Senhora Da AssunoDocumento4 páginasNovena de Nossa Senhora Da AssunoIgor BiggieAinda não há avaliações
- 01 Fiorenzo Facchini RevisadoDocumento6 páginas01 Fiorenzo Facchini RevisadoIgor BiggieAinda não há avaliações
- Memento Fitoterápico Da Farmacopéia Brasileira PDFDocumento115 páginasMemento Fitoterápico Da Farmacopéia Brasileira PDFAroldo J. de OliveiraAinda não há avaliações
- 01-A PeleDocumento4 páginas01-A PeleRenan MaiaAinda não há avaliações
- Autorização para importação e comercialização de melatoninaDocumento9 páginasAutorização para importação e comercialização de melatoninaIgor BiggieAinda não há avaliações
- 01 Imaculada ConceicaoDocumento5 páginas01 Imaculada ConceicaoRenan MarquesAinda não há avaliações
- Spinoza Por Henri Bergson PDFDocumento11 páginasSpinoza Por Henri Bergson PDFenrolaAinda não há avaliações
- Melatonin ADocumento4 páginasMelatonin AGuilherme Giacominni100% (1)
- 01 Celulas TroncoDocumento13 páginas01 Celulas TroncoIgor BiggieAinda não há avaliações
- Spinoza Por Henri Bergson PDFDocumento11 páginasSpinoza Por Henri Bergson PDFenrolaAinda não há avaliações
- Beneditinos Santa CruzDocumento12 páginasBeneditinos Santa CruzIgor BiggieAinda não há avaliações
- A Teoria Platônica da Beleza AbsolutaDocumento17 páginasA Teoria Platônica da Beleza AbsolutaSeverino BernardoAinda não há avaliações
- Filosofia - 1º Ano Aula 30 - A CIÊNCIA NA ANTIGUIDADEDocumento2 páginasFilosofia - 1º Ano Aula 30 - A CIÊNCIA NA ANTIGUIDADECauê Alves de AndradeAinda não há avaliações
- ArteterapiaDocumento135 páginasArteterapiaTainã XavierAinda não há avaliações
- A Razão Áurea: Uma Proporção Matemática UbíquaDocumento5 páginasA Razão Áurea: Uma Proporção Matemática UbíquaCarlos Messias Righe Dias DiasAinda não há avaliações
- Platao - Fichamento Do Sofista PDFDocumento7 páginasPlatao - Fichamento Do Sofista PDFSavio LimaAinda não há avaliações
- Verdade em HabermasDocumento190 páginasVerdade em HabermasRegio Quirino50% (2)
- Escolas Filosóficas - Filosofia - Manual Do Enem PDFDocumento5 páginasEscolas Filosóficas - Filosofia - Manual Do Enem PDFMarcus Vinicios P da SilvaAinda não há avaliações
- A origem da filosofia grega e o surgimento do logosDocumento34 páginasA origem da filosofia grega e o surgimento do logosLeonardo Borges MendonçaAinda não há avaliações
- Grandes mentes da ciênciaDocumento41 páginasGrandes mentes da ciênciaVictor Luciano ZagoAinda não há avaliações
- QuestoesgregosDocumento22 páginasQuestoesgregosPedro MenezesAinda não há avaliações
- A Natureza Flutuante Da Mimese em Platão PDFDocumento17 páginasA Natureza Flutuante Da Mimese em Platão PDFEdilsonAlvesdeSouzaAinda não há avaliações
- O feminino e o homem gregoDocumento19 páginasO feminino e o homem gregoLílian Do ValleAinda não há avaliações
- Fundamentos Do DireitoDocumento4 páginasFundamentos Do Direitopaty_fabenAinda não há avaliações
- A Busca Pela Verdade - Santo AgostinhoDocumento115 páginasA Busca Pela Verdade - Santo AgostinhoMarcinha Marques VernequeAinda não há avaliações
- FILOSOFIA 11 EM ACTUALIZAÇÃO (Salvo Automaticamente)Documento29 páginasFILOSOFIA 11 EM ACTUALIZAÇÃO (Salvo Automaticamente)robbenvagnerAinda não há avaliações
- Três ideias sobre aprendizagem: inatismo, empirismo e construtivismoDocumento5 páginasTrês ideias sobre aprendizagem: inatismo, empirismo e construtivismoRodrigo CrepaldeAinda não há avaliações
- O Início Da História e As Lágrimas de TucídidesDocumento13 páginasO Início Da História e As Lágrimas de TucídidesLeandro100% (1)
- Imago DeiDocumento26 páginasImago DeiWagner Patrick100% (1)
- Principais Filósofos GregosDocumento11 páginasPrincipais Filósofos GregosADRIANA CLARO MURETTO CAVALCANTE DOS SANTOSAinda não há avaliações
- Prof. Dr. Paulo Rogério Da Silva Claretiano - Centro Universitário CrátiloDocumento14 páginasProf. Dr. Paulo Rogério Da Silva Claretiano - Centro Universitário CrátiloIr Diego Faustino,MSAinda não há avaliações
- Part 2-Modifique - Seu - Futuro - Atrav - S - de - Aberturas - Temporais - Lucile - e - Jean-Pierre - Garnier-Malet - 23072023214657 - M4a (146 KBPS)Documento21 páginasPart 2-Modifique - Seu - Futuro - Atrav - S - de - Aberturas - Temporais - Lucile - e - Jean-Pierre - Garnier-Malet - 23072023214657 - M4a (146 KBPS)Ramalho Patricio100% (1)
- EstéticaDocumento22 páginasEstéticaJucelino Moreira De CarvalhoAinda não há avaliações
- O Diálogo - Mênon PlatãoDocumento5 páginasO Diálogo - Mênon PlatãoLincoln SouzaAinda não há avaliações
- Curso Repensar a mímesis - PUC-RJ 2007Documento3 páginasCurso Repensar a mímesis - PUC-RJ 2007Anonymous 0Y3E2O5mAAinda não há avaliações
- História da gramática tradicionalDocumento418 páginasHistória da gramática tradicionalPATRICIA GODINAinda não há avaliações
- Eu, Lucio - Memorias de Burro, Uma Historia Veridica, O Mentiroso Ou o Incredulo, Os Dois Amores, A Dança, Hermotimo Ou As Escolas Filosoficas Luciano de SamosataDocumento292 páginasEu, Lucio - Memorias de Burro, Uma Historia Veridica, O Mentiroso Ou o Incredulo, Os Dois Amores, A Dança, Hermotimo Ou As Escolas Filosoficas Luciano de SamosataJoão Pedro Souza Matos100% (3)
- O devir-animal na filosofia de DeleuzeDocumento50 páginasO devir-animal na filosofia de DeleuzeFrederico CanutoAinda não há avaliações
- Moral e Ética: Teorias ClássicasDocumento11 páginasMoral e Ética: Teorias ClássicasJoão Marcos Maciel LuizAinda não há avaliações
- Pórtico de Epicteto - Revista 1Documento72 páginasPórtico de Epicteto - Revista 1DL100% (2)
- Eduardo GuimaraesDocumento11 páginasEduardo GuimaraesIgor Soares Públio BragaAinda não há avaliações