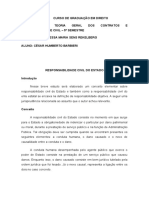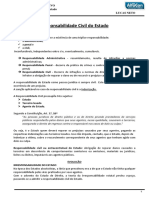Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Covid-19 e Responsabilidade Civil - Vista Panorâmica Mafalda Miranda Barbosa
Enviado por
Filippe OliveiraDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Covid-19 e Responsabilidade Civil - Vista Panorâmica Mafalda Miranda Barbosa
Enviado por
Filippe OliveiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
COVID-19 E RESPONSABILIDADE CIVIL:
VISTA PANORÂMICA
Mafalda Miranda Barbosa
1. Introdução
O mundo vê-se a braços com uma pandemia avassaladora que atinge praticamente todos
os países. Portugal não é exceção. Sendo o direito um dever-ser que é, que não é alheio à
realidade que o circunda – quer porque esta o provoca, suscitando casos novos e eivados
de uma intencionalidade diversa dos anteriores, quer porque não as especificidades da
tessitura social não deixam intocável a decisão judicativa –, o impacto pessoal, social e
económico da epidemia que se enfrenta não pode deixar de ter reflexos ao nível jurídico.
Muitas são as questões que se colocam, a implicar a mobilização dos mais variados ramos
do direito. O direito civil não é exceção. Neste quadro, os problemas são também
múltiplos. Não pretendemos trata-los a todos. Nas páginas que se seguem, limitar-nos-
emos a apontar algumas ideias-chave em matéria de responsabilidade civil. O nosso
propósito é tentar perceber, em primeiro lugar, se, em situações hipotéticas por nós
consideradas, poderá algum sujeito ser responsabilizado pela contaminação de outros
com a doença covid-19, e, em segundo lugar, qual o impacto que a presença (contida ou
disseminada) do vírus pode ter na dogmática da responsabilidade civil. Para cumprir o
nosso desiderato, partimos de hipóteses concretas, embora ficcionadas, e orientar-nos-
emos pelas diversas fases de proliferação da doença.
Repare-se que o tema é relevante não só do ponto de vista pessoal, mas também
corporativo. De facto, como veremos, os danos que se verificam – real ou hipoteticamente
– não resultam, apenas, da repercussão negativa da lesão da integridade física ou da vida,
mas experimentam-se também no plano puramente económico, o que suscita outro tipo
de considerações.
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 250
2. A eventual responsabilidade pelo contágio
2.1. A eventual responsabilidade do Estado
a) O problema da ilicitude
Ao ponderarmos as implicações que a covid-19 pode ter em sede de responsabilidade
civil, a primeira hipótese com que temos de nos confrontar tem de nos fazer viajar no
tempo, para recuarmos ao momento em que a epidemia era apenas uma ameaça. Surgida
na China, em finais de dezembro de 2019, rapidamente se percebeu que, fruto da
globalização, seria exportada para o resto do mundo. Os infetados iam-se multiplicando
um pouco por toda a parte, ao ponto de, repentinamente, a entrada de nacionais de
determinados países ou de portugueses que houvessem viajado para certos destinos
configurar um risco com que as autoridades de saúde haveriam de ter de lidar. A verdade,
porém, é que a estratégia dos responsáveis pela área nunca passou por uma política de
contenção severa, com imposição de formas de quarentena obrigatória. Por outro lado,
mesmo conscientes da existência de um período de incubação, as autoridades sanitárias
não foram pródigas em aconselhar o distanciamento social, levando, em alguns casos,
pessoas que estavam infetadas a trabalhar em ambientes partilhados por muitas pessoas
(escolas, fábricas, etc.). A pergunta que se coloca, em primeiro ligar, é: pode o Estado ser
responsabilizado?
A questão não pode ser respondida sem mais. Pelo contrário, haveremos de ter em conta
diversas sub-hipóteses. Pode ou não o Estado ser responsabilizado pela lesão da saúde
e/ou da vida de uma pessoa contagiada? Pode ou não o Estado ser responsabilizado pelas
perdas patrimoniais sofridas por uma sociedade comercial que, fruto desse mesmo
contágio, teve de suspender a produção de uma unidade fabril de que é proprietária?
Vejamos.
A afirmação da responsabilidade civil do Estado é relativamente recente, se tivermos em
conta todo o período de evolução do instituto, desde a Lex Aquilia. Compreende-se que
assim seja. Desde logo porque o Estado é uma invenção da modernidade; depois porque
os diversos períodos históricos por que passou a construção do Estado não eram, por
motivos teóricos e práticos, favoráveis à responsabilização dos entes públicos. Se a época
absolutista ficou conhecida pelo brocardo the king can do no wrong; no período liberal,
caracterizado pela escassa intervenção do Estado, poucas seriam as situações em que se
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 251
impunha responsabilizá-lo1. Será, portanto, com a emergência do Estado Social que a
responsabilidade dos entes públicos se impõe. Começando por não existir, tal era a força
do princípio da irresponsabilidade do Estado, o instituto vai lentamente sendo desenhado,
com um tímido impacto prático, em virtude do carácter não intervencionista do período
liberal2, só ganhando um novo fôlego no período subsequente.
A razão para a previsão da obrigação de indemnizar por parte do Estado é simples.
Usando as palavras de Maria da Glória Garcia, “se a atividade administrativa se
desenvolve no interesse de todos, para satisfação das necessidades coletivas, não há
fundamento para que algum ou alguns sofram um sacrifício – que seria sempre
discriminatório – equivalente a danos não ressarcidos decorrentes daquela atividade. Só
um princípio que viabilize a indemnização desses danos poderia restabelecer o equilíbrio,
eliminar a discriminação negativa. A regra da responsabilidade civil do Estado por atos
do poder administrativo aparecia como natural consequência de um princípio que poderia
ser equacionado como o da igualdade dos cidadãos perante os encargos públicos”3. E
continuando a acompanhar a autora, acrescentamos que “o nascimento desta específica
responsabilidade não afastou, no entanto, a responsabilidade civil do Estado resultante da
sua ação despida de ius imperii”, continuando o regime do direito privado a “aplicar-se
em relação às atividades que as pessoas publicam exercem submetidas às regras de direito
privado”4. O fundamento da transformação do princípio da irresponsabilidade no seu
oposto encontra-o a autora nos ecos transfronteiriços, quais sejam a “ideia de que seria
injusto alguém sofrer um prejuízo especial com uma atividade que a todos beneficia”, a
“necessidade de manter a igualdade de repartição dos encargos públicos”, ou a ideia “de
um seguro social a cargo do erário público, em benefício de todos quantos sofreram
prejuízos resultantes do funcionamento dos serviços públicos”5.
1 Diogo Freitas do AMARAL, “A responsabilidade da Administração no Direito Português”, Separata da Revista
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 25, 1973; Margarida CORTEZ, A responsabilidade civil da Administração
por Actos Administrativos Ilegais e Concurso de Omissão Culposa do Lesado, 2000, 11-23; Francisca Costa GONÇALVES,
“A Desvalorização da Culpa na Responsabilidade Civil pelo Exercício da Função Administrativa”, Revista de
Direito da Responsabilidade, I-2019, 1405 s.; João Pacheco de AMORIM, Direito Administrativo da Economia, I,
Coimbra, Almedina, 2014, 67 s.
2 Cf. Maria da Glória GARCIA, A responsabilidade civil do Estado e demais pessoas colectivas públicas – Parecer à Comissão
Permanente de Concertação Social sobre a figura da responsabilidade civil, contratual e extracontratual do Estado e demais pessoas
colectivas públicas, Lisboa, 1997, 5.
3 Cf. Maria da Glória GARCIA, A responsabilidade civil do Estado, 7-8.
4 Cf. Maria da Glória GARCIA, A responsabilidade civil do Estado, 8
5 Cf. Maria da Glória GARCIA, A responsabilidade civil do Estado, 13.
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 252
Para lá da diversidade fundacional, é a ideia de justiça distributiva que parece trilhar o
caminho de sustentação da responsabilidade do Estado. E na base desta perceção não está
só a referência, implícita ou não, ao facto do dano dever ser suportado por quem beneficia
da atividade que o origina, pois que, se, a propósito da responsabilidade pelo risco ao
nível civilístico, ainda encontramos uma forma de compatibilizar a contaminação do
instituto pelas notas distributivas com o radical de fundamentação comutativo, a apelar
ao sentido ético da responsabilização, aqui, pode não existir uma esfera de
responsabilidade delimitada a montante6, dizendo a responsabilidade do Estado respeito
a todas as formas de interação das pessoas coletivas públicas, como aquele não é mais do
que uma abstração financiada pela comunidade em geral. Donde se conclui que a
cobertura do dano pelo erário público não é outra coisa senão uma forma de repartição
dos custos com a prestação de determinados serviços de interesse geral.
Compreende-se, por isso, que historicamente a galvanização da importância da
responsabilidade do Estado surja paredes-meias com a afirmação da dimensão social
daquele. É que não só o crescente intervencionismo estadual potencia as situações
danosas, como a ideologia que lhe subjaz aconselha essa redistribuição a que se alude. E
por isso se percebe, também, que a coberto dela sejam indemnizados muitos danos que,
no plano civilístico, não obteriam ressarcimento. A lógica passa a ser a da conexão
administrativa. Se a comunidade em geral beneficia com a execução de uma miríade de
funções públicas, predispostas em nome do interesse coletivo, então deve suportar, na
proporção da sua capacidade contributiva, os encargos que elas envolvem. Ora, se se
permitisse que uma pessoa coletiva pública ou órgão do Estado pudesse pôr em causa
direitos ou interesses dos cidadãos sem ser obrigado a reparar os danos causados, tal
implicaria que, a despeito da lógica de financiamento dos serviços, aquele cidadão
estivesse a contribuir pessoalmente de forma mais intensa para o bem geral da
comunidade do que os restantes7. A correção de tal distorção busca-se, assim, no instituto
6 Estamos aqui a referir-nos a uma esfera de responsabilidade como correlativa da liberdade/autonomia. Mas,
como veremos, tudo dependerá da específica conformação da hipótese de responsabilidade com que se lide.
As eventuais diferenciações que se possam estabelecer autorizar-nos-ão, como veremos, a estabelecer cisões
categoriais.
7 Cf. Vaz SERRA, “Responsabilidade civil do Estado e dos seus órgãos ou agentes”, Boletim do Ministério da Justiça,
85, 1959, 453, sintetizando duas das ideias chave apontadas pela doutrina: “(…) sempre que, prosseguindo uma
finalidade pública, se cause dano especial e grave de interesses particulares lícitos, pelos menos se houver
verdadeiros direitos, afigura-se-lhe justo que se redistribua o sacrifício e tal é o que deriva do princípio da
igualdade dos cidadãos perante os encargos públicos e da necessidade de impedir um como injusto
locupletamento da coletividade à custa do prejudicado”.
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 253
da responsabilidade do Estado, razão bastante para que, sempre que o agente, funcionário
ou titular do órgão seja passível de um juízo de censura ético-jurídica mais intensa, por
via da desvelação de uma conduta dolosa ou grosseiramente negligente, se lhe impute,
em última instância, a obrigação de pagamento da indemnização8.
Entre nós, a responsabilidade civil do Estado foi consagrada especificamente no Decreto
Lei nº48051, de 21 de novembro de 1967, diploma que acabaria por ser revogado apenas
em 2007, pela Lei nº67/2007, de 31 de dezembro, que disciplina atualmente a
Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Pessoas Coletivas de Direito Público.
A Lei nº67/2007 disciplina a responsabilidade extracontratual do Estado e demais pessoas
coletivas de direito público pelos danos que resultem do exercício da função legislativa,
jurisdicional e administrativa, bem como a responsabilidade civil dos titulares dos órgãos,
dos funcionários, agentes públicos e demais trabalhadores ao serviço das entidades
abrangidas pelos danos decorrentes de ações ou omissões praticadas no exercício das
funções administrativa e jurisdicional e por causa desse exercício. Além disso, as normas
referentes à responsabilidade pelo exercício da função administrativa são também
aplicáveis à responsabilidade civil das pessoas coletivas de direito privado e respetivos
trabalhadores, titulares de órgãos sociais, representantes legais e auxiliares, por ações ou
omissões que adotem no exercício de prerrogativas de poder público ou que sejam
reguladas por disposições ou princípios de direito administrativo.
A limitação dessa responsabilidade, por via da exigência da ilicitude/ilegalidade e culpa, prende-se, também de
acordo com o testemunho do autor, com o facto de “as soluções mais justas não [poderem] por vezes ser
praticamente efetivadas, obstando, por exemplo, o encargo financeiro excessivo que importariam”.
8 Cremos, pois, que a razão de ser do agravamento da situação do funcionário nas situações em que atue com
dolo ou culpa grave se prende com o paulatino abandono, pelas características do seu comportamento, da esfera
de conexão administrativa, a qual permite estabelecer este jogo contributivo comunitário.
Historicamente, parecem encontrar-se razões que depõem não num sentido de agravamento da posição
subjetiva do agente individual, mas no sentido da flexibilização da sua responsabilidade nos casos inversos (de
culpa leve). Contudo, não só não cremos que tal corresponda ao melhor entendimento da norma, no cotejo
com os princípios que a informam e enformam, como interpretação historicista está arredada do nosso
horizonte de referência.
Veja-se, também, no quadro do direito anterior, a posição expendida por Marcello Caetano, a permitir um juízo
valorativo próximo do que inscrevemos em texto – Manual de Direito Administrativo, 4ª edição, nº178 (fala o autor
de culpa funcional, quando “a prática do ato ilegal haja decorrido em circunstâncias tais que possa considerar-
se consequência natural do exercício de funções, por oposição a culpa pessoal, quando “o agente [se afastou]
das regras essenciais disciplinadoras da sua atuação como tal, por forma que a função haja sido postergada”) e
Vaz SERRA, “Responsabilidade civil do Estado e dos seus órgãos ou agentes”, Boletim do Ministério da Justiça,
nº85, 1959, p. 455 (note-se, porém, que Vaz Serra fala expressamente de uma ideia de irresponsabilidade dos
funcionários, para proteção dos mesmos).
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 254
Estando em causa a responsabilidade pelo exercício da função administrativa, a Lei
nº67/2007 fixa diversos regimes9. A saber:
a) responsabilidade do Estado por factos (ações ou omissões) ilícitos e culposos dos
titulares dos órgãos, agentes ou funcionários, quando a culpa seja leve, nos termos
do artigo 7º/1;
b) responsabilidade do Estado pelo funcionamento anormal do serviço, nos termos
do artigo 7º/3;
c) responsabilidade solidária do Estado pelos factos (ações ou omissões) ilícitos e
culposos dos titulares dos órgãos, agentes ou funcionários, quando haja da parte
destes dolo ou atuação com zelo ou diligência manifestamente inferiores àqueles
a que se encontravam obrigados em razão do cargo e desde que tais ações ou
omissões tenham sido cometidas por estes no exercício das suas funções e por
causa desse exercício, havendo depois direito de regresso, de exercício
obrigatório, nos termos dos artigos 8º/1, 2 e 3 e artigo 6º10;
d) responsabilidade objetiva do Estado, pelos danos decorrentes de atividades, coisas
ou serviços administrativos especialmente perigosos, nos termos do artigo 11º/1.
Excluindo, a priori, a hipótese de atuação dolosa das autoridades de saúde, haveremos de
ter em conta a possibilidade de atuação negligente ou de um comportamento com o zelo
ou diligência manifestamente inferiores àqueles a que se encontravam obrigados em razão
do cargo. Não basta, porém, a culpa. No quadro da responsabilidade por factos ilícitos e
culposos, a responsabilidade estrutura-se em torno de dois conceitos fundamentais: a
ilicitude e a culpa.
9 Para uma síntese, cf. A. Menezes CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português, II/III, Almedina, Coimbra, 2010,
648 s.
10 Repare-se que a diferença entre a responsabilidade solidária e a responsabilidade exclusiva do Estado em
função do grau de culpa pode evidenciar, em termos dogmáticos, que se imputa diretamente ao ente público a
responsabilidade pelos atos dos seus agentes e representantes. Sobre o ponto, numa perspetiva que não é a
nossa, quanto ao artigo 165º CC, cf. A. Menezes CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português, II/III, 646.
Cremos, contudo, que pode haver diferenças entre o domínio privado e o domínio público. Na verdade, se ali
a responsabilidade extracontratual se compreende como uma garantia em face do lesado, no domínio publicista,
em muitas situações, a responsabilidade, não sendo contratual, não pode ser senão explicada pelo especial papel
funcional que o ente público exerce, não podendo responsabilizar outrem que não o ente público. V.g. a
situação em que há desaplicação indevida de um regulamento válido: neste caso, ainda que o ato seja praticado
pela pessoa física, é-o como se fosse o Estado. A intencionalidade destas hipóteses e daqueloutras que
convocam a aplicação do artigo 500º CC são, portanto, absolutamente, díspares. Já não será assim naquelas
hipóteses em que a atuação da administração se consubstancia num ato material. Aí a explicação para a solução
consagrada pela Lei nº67/2007 poderá não se encontrar no plano estrutural/funcional, mas no plano
teleológico.
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 255
Nos termos do artigo 9º, consideram-se ilícitas as ações ou omissões dos titulares de
órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios constitucionais,
legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem técnica ou deveres objetivos de
cuidado e de que resulte a ofensa de direitos ou interesses legalmente protegidos. A
propósito do preceito, Menezes Cordeiro aduz que “tomou-se, pois, à letra o artigo 483º/1
e desenvolveu-se o ilicitamente, aí referido; todavia, ilicitamente postula a ausência de
causas de justificação, sendo que a ilicitude advém (diretamente) da violação de direitos
subjetivos ou de normas de proteção. A originalidade do RRCEE conduziria a que
pudesse, a contrario, haver violações lícitas de direitos subjetivos ou de normas de
proteção, independentemente de causas de justificação, o que seria absurdo: tal ocorrência
traduziria, só por si, a violação da lei”11. O nº2 do artigo 9º acrescenta que existe ilicitude
quando a ofensa de direitos ou interesses legalmente protegidos resulte do funcionamento
anormal do serviço. Pela leitura do preceito reforça-se a conclusão a que chegou Menezes
Cordeiro. Na verdade, o legislador parece ter confundido ilicitude e imputação, pois, se a
primeira se desvela pelo resultado – violação do direito ou de um interesse legalmente
protegido –, a recondução daquela ofensa ao mau funcionamento do serviço e não ao
funcionário ou titular do órgão apenas diz respeito à dimensão imputacional do problema,
que da primeira se aparta, embora com ela dialogue e por ela seja condicionada.
A norma faz apelo, em simultâneo, à ilicitude do resultado e à ilicitude da conduta 12, ao
exigir a violação de princípios e normas constitucionais, legais ou regulamentares, a
infração de regras de ordem técnica ou de deveres objetivos de cuidado, por um lado, e,
por outro lado, a lesão de um direito ou interesse legalmente protegido. Na medida em
que se presume a culpa a partir da prática de um ato ilícito e a culpa leve a partir da
violação de deveres de vigilância, podemos ir mais longe e afirmar – não sem críticas à
formulação legal13 – que se verifica a penetração do modelo da faute napoleónica no
quadro da responsabilidade do Estado. Repare-se que se presume a culpa a partir da
violação de deveres de vigilância. Ora, se os deveres de cuidado em que eles se
11 A. Menezes CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português, II, Direito das Obrigações, tomo III, Almedina, Coimbra,
2010, 649.
12 Nesse sentido, no quadro da doutrina administrativista, cf. Margarida CORTEZ, Responsabilidade Civil da
Administração por Actos Administrativos Ilegais, 50; Marcelo Rebelo de SOUSA, “Responsabilidade dos
Estabelecimentos Públicos de Saúde: Culpa do Agente ou Culpa da Organização?”, Direito da Saúde e Bioética,
AAFDL, Lisboa, 1996, 172; Ana Raquel MONIZ, “A ilicitude na responsabilidade civil do Estado e demais
entidades públicas: notas esparsas sobre o problema da frustração da confiança”, Novos desafios da responsabilidade
civil, IJ, Coimbra, 2019, 33 s.
13 Para essas críticas, cf. A. Menezes CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português, II/III, 649
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 256
consubstanciam, quando violados, configuram a culpa, a dimensão objetiva da ilicitude –
a traduzir uma ilicitude da conduta – parece presumir-se em simultâneo, de uma forma
quase simbiótica.
No que à culpa respeita, de facto, determina o artigo 10º/2 Lei nº67/2007 que se presume
a culpa leve nos atos jurídicos ilícitos. A este propósito, Menezes Cordeiro refere, em tom
crítico das opções legislativas, que “a culpa é um juízo de valor: induz-se, mas não se
presume. As presunções de culpa civil são, consabidamente, presunções de factos
indutores de culpa e de ilicitude”14. Se verificada uma lesão se presume a culpa leve, está-
se necessariamente a fazer confluir a culpa e a ilicitude, tanto mais que se exige, para que
esta exista, que ocorra no mínimo a violação de um dever de cuidado, cuja preterição
afinal consubstancia a própria culpa. Nas hipóteses em que o que está em causa é a lesão
de um interesse por via da violação de uma norma legal, então a presunção de culpa já
funcionaria nos termos gerais em que a doutrina admite, pelo menos, a inversão do ónus
da prova da culpa no caso da segunda modalidade de ilicitude extracontratual. A
presunção de culpa estende-se, ainda, às situações em que há violação dos deveres de
vigilância.
Pese embora o paralelo a que se refere Menezes Cordeiro, há diferenças assinaláveis entre
a responsabilidade do Estado e a responsabilidade de direito privado. Desde logo, não
somos, ao nível da dogmática civilística, confrontados com a necessária combinação entre
a ilicitude da condute e a ilicitude do resultado15.
Por outro lado, parece que somos confrontados com uma maior amplitude quando
comparado o âmbito da ilicitude a este nível com o âmbito do conceito homólogo previsto
no artigo 483º CC. De facto, se no domínio civilístico se exige, para que o comportamento
seja ilícito, que haja violação de direitos absolutos, de disposições legais de proteção de
interesses alheios, ou que se verifique uma situação de abuso do direito, no campo da
responsabilidade do Estado, parecem acolher-se os interesses patrimoniais puros sem que
haja uma exigência tão grande quanto à qualificação da norma como disposição de
proteção16. Contudo, esta ampliação não é total. Ao exigir-se o resultado lesivo, afastam-
14
A. Menezes CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português, II/III, 649.
15 A combinação entre o desvalor de conduta e o desvalor de resultado não se confunde com a articulação
conjunta entre ilicitude da conduta e ilicitude do resultado.
16 De facto, importa não esquecer que os autores são particularmente cautelosos no que toca à delimitação, para
efeitos da mobilização do artigo 483º CC, do conceito de disposição legal de proteção de interesses alheios.
Sobre o ponto, cf. Claus Wilhelm CANARIS, “Schutzgesetze-Verkehrspflichten-Schutzpflichten”, in Festschrift
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 257
se do ressarcimento hipóteses em que há violação de um princípio jurídico e, não obstante,
não se lesa nenhuma posição jurídica subjetiva17. Pense-se, por exemplo, na hipótese
tratada por Ana Raquel Moniz de danos causados pela recusa de aplicação (devida) de
regulamentos inválidos. Entende a autora que, mesmo que seja violado o princípio da
confiança, não haverá responsabilidade por não se lesar uma posição jurídica, já que o
regulamento seria inválido, não conferindo, por força dessa invalidade, qualquer direito18.
A posição não gera, contudo, unanimidade na doutrina. Em sentido contrário depõe Hong
Cheng Leong, que dá o exemplo de uma norma ilegal ou inconstitucional que concede
um benefício fiscal, recusando-se a AT a aplicar com fundamento na sua ilegalidade ou
inconstitucionalidade19. Para o autor, é certo que, “neste caso, como o benefício fiscal
previsto na norma é ilegal ou inconstitucional, o potencial destinatário não tem direito à
sua aplicação uma vez que ninguém tem direito de exigir à Administração a execução de
uma norma inválida”20. Contudo, adverte que “os danos não podem consistir na mora em
concessão do benefício fiscal em causa. Se existirem, os danos só podem ser os derivados
da lesão da confiança legítima que o potencial destinatário da norma investiu na previsão
da efetiva concessão do benefício fiscal, sem perceber a ilegalidade ou a
inconstitucionalidade da norma em causa, estando de boa-fé”21. Assim, continua
afirmando que, “por isso, para saber se a desaplicação indevida provoca qualquer ilicitude
de resultado (lesão da confiança legítima in casu), constitui tarefa central a compreensão
für Karl Larenz zum 80. Geburtstag am 23. April 1983, Beck, München, 1983, 49 s. („Norme di protezione, obblighi
del traffico, doveri di protezione”, Rivista Critica del Diritto Privato, Anno, I, n.º3, 1983, 574 s.); Sinde MONTEIRO,
Responsabilidade por conselhos, recomendações ou informações, Almedina, Coimbra, 1987, 253 s.; Heinrich DÖRNER,
“Zur Dogmatik der Schutzgesetzverletzung”, Juristische Schulung. Zeitschrift für Studium und Ausbildung, 27.
Jahrgang, 1987, 522 s. Em sentido divergente, cf. Adelaide Menezes LEITÃO, Normas de protecção e danos puramente
patrimoniais, Almedina, Coimbra, 2009, 429 s.
Veja-se, quanto a esta questão, quando afirma que no campo da responsabilidade do Estado se acolhem danos
puramente patrimoniais, tanto quanto ao nível delitual – e com caráter de excecionalidade – eles já seriam
indemnizados – cf. L. Menezes LEITÃO, “A responsabilidade civil das entidades reguladoras”, Estudos em
homenagem ao Professor Doutor Sérvulo Correia, III, Coimbra Editora, Coimbra, 2010 (<http://icjp.pt/estudos>).
Repare-se, contudo, que o autor não aponta claramente esta nuance entre o regime publicista e o regime do
direito privado.
17 A esse propósito, v. a interessante análise de Ana Raquel MONIZ, “A ilicitude na responsabilidade civil do
Estado e demais entidades públicas: notas esparsas sobre o problema da frustração da confiança”, 34 s., a
propósito de uma eventual chamada à colação da responsabilidade pela confiança nas hipóteses de recusa de
aplicação (devida) de regulamentos inválidos.
18 Cf. nota anterior
19 Hong Cheng LEONG, Da imputação obietiva na responsabilidade extracontratual do estado decorrente do exercício da função
administrativa – algumas questões atinentes à delimitação em geral da esfera de responsabilidade da administração, Coimbra,
2017, 120
20
Hong Cheng LEONG, Da imputação obietiva na responsabilidade extracontratual do estado decorrente do exercício da
função administrativa, 120.
21
Hong Cheng LEONG, Da imputação obietiva na responsabilidade extracontratual do estado decorrente do exercício da
função administrativa, 120
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 258
da ratio da imposição das condições objetivas e subjetivas para a desaplicação, sabendo
se tem como um dos seus fins a proteção da confiança legítima dos particulares de boa-
fé”22.
O autor distingue, claramente, dois resultados – a lesão do direito subjetivo, que, in casu,
inexiste (por o regulamento ser inválido) e os danos da confiança. Parece-nos que bem.
Simplesmente, o dano da confiança não se pode consubstanciar – pela necessária presença
do resultado imposto pelo artigo 9º - na frustração da confiança, tendo de materializar-se,
pelo contrário, na preterição de determinados interesses legalmente protegidos. O que se
há de, então, descobrir é quais os interesses lesados (v.g. interesses económicos) e se eles
se integram ou não entre aqueles que o respeito pelo princípio da confiança visava
acautelar. Não se pode, pois, concluir que o princípio da confiança não terá qualquer papel
na dogmática responsabilizatória do Estado. O que se impõe é a investigação acerca do
resultado e a sua recondução ao núcleo de violação do princípio, donde se pode concluir
que a anteriormente chamada causalidade deve ser entendida como verdadeira imputação,
importando para a própria fundamentação da responsabilidade, tanto quanto a ilicitude
não se compreende sem ela.
O que aqui ficou dito permite-nos, já, tecer algumas considerações acerca da eventual
responsabilidade do Estado nas hipóteses de contaminação por covid-19.
O cerne do problema reside na ilicitude. Atentemos em duas hipóteses.
A é contagiado por B, que tinha chegado a Portugal poucos dias antes, vindo de um país
de contágio. As autoridades de saúde desvalorizaram o facto e informaram-no que poderia
ir trabalhar, desde que cumprisse determinadas orientações de higienização das mãos e
de etiqueta respiratória. Verificando-se o contágio, há claramente violação de um direito
absoluto de A, o que nos permite concluir que o desvalor do resultado se cumpre. Resta,
portanto, indagar pelo desvalor da conduta. O problema está em saber se, com a conduta,
os agentes do Estado violaram ou não determinadas regras técnicas, determinados deveres
de cuidado ou mesmo (e eventualmente) um princípio jurídico, qual seja o princípio da
precaução23. A resposta que para ele se encontre passará pela descoberta das orientações
22
Hong Cheng LEONG, Da imputação obietiva na responsabilidade extracontratual do estado decorrente do exercício da
função administrativa, 120
23 Este surgiu nos anos 80, embora só tenha obtido uma consagração formal em 1992, na conferência do Rio
sobre questões ambientais. Essa e outras consagrações formais que o princípio tenha obtido até hoje levaram
a concluir que ele se desenhava como uma injunção dirigida às autoridades, não consubstanciando uma regra
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 259
técnico-científicas vigentes no momento da prestação do conselho/informação, para o que
será relevante conhecer as instruções fornecidas pela OMS. Se é verdade que o princípio
da precaução nos pode fazer recuar as medidas preventivas, também é certo que a sua
mobilização em concreto pode ficar dependente da perceção do risco que seja ou tenha
sido oferecida pelos organismos internacionais em matéria de saúde pública. A eventual
responsabilidade do Estado pelo contágio com covid-19 fica, assim, dependente da
resposta que se encontre para estas questões, a envolver uma análise técnico-científica.
Sublinhe-se, porém, a abertura que se verifica no sentido da possível responsabilização.
Os termos da equação diferem, contudo, se a nossa hipótese se centrar no dano sofrido
pela pessoa coletiva proprietária da unidade fabril que deixou de laborar. Nesse caso, se
a questão da violação do dever, norma ou princípio se mantém inalterada, difere a
ponderação da ilicitude do resultado, já que pode não ser imediatamente discernível a
violação de um direito ou interesse protegido. De todo o modo, pode aventar-se a possível
lesão de um direito à liberdade de iniciativa económica, consoante os contornos do caso
concreto. Fora desta hipótese heurística, a única via para afirmar a ilicitude passa pela
consideração do princípio da precaução na sua ligação aos interesses patrimoniais
afetados. O que se terá de questionar é se entre os diversos interesses tutelados pela norma
jurídica com valor normativo autónomo. Mas a posição não é clara. Para os responsáveis pelo relatório dirigido
ao Primeiro-ministro francês, Geneviève Viney e Philippe Kourilsky, o princípio deve ser visto como uma regra
colocada à disposição do julgador, que deve ser concretizada caso a caso. Cf. Philippe KOURILSKY/Geneviève
VINEY, Le príncipe de précaution, rapport au Premier Ministre, Edition Odile Jacob, La documentation française,
Janvier, 2000. Outros autores vão mais longe e entendem que o princípio da precaução pode ser integrado na
ordem jurídica pela assimilação a um princípio de direito. Cf. BOUTONNET/GUEGAN, “Historique du principe
de précaution”, Le principe, annexe 1, 253. O princípio da precaução surge, então, como uma máxima ordenadora
da conduta de decisores públicos e privados, que determina a antecipação de medidas preventivas, atenta a
importância de determinados bens jurídicos que possam ser lesados com o comportamento humano. Se o
princípio da precaução era inicialmente convocado apenas no âmbito ambiental, rapidamente se estendeu a
domínios como a segurança alimentar e a saúde. Vários são os autores que afirmam não se descortinar qualquer
razão para restringir o campo de aplicação do princípio aos tradicionais casos onde ele é chamado à colação.
Assim, vemos Philippe Kourilsky e Geneviève Viney afirmarem que se tornou imperioso alargar o princípio a
diversos sectores, especialmente quando em causa esteja a proteção contra acidentes coletivos, como os que
são provocados por obras públicas com barragens, túneis, autoestradas, aeroportos. Consideram igualmente
que o princípio da precaução pode funcionar perante catástrofes naturais como inundações e sismos, no sentido
de as consequências que tais fenómenos possam ter para as populações em geral poderem ser atenuadas com a
chamada à colação de medidas de precaução consideradas adequadas. Repare-se que prevenção e precaução
não se confundem: as duas realidades podem distinguir-se em moldes que se aproximam dos que se mobilizam
para distinguir o perigo e o risco. Kourilsky e Geneviève Viney afirmam que a distinção entre os riscos
potenciais e os riscos verificados funda a diferença entre precaução e prevenção. Na verdade, continuam os
autores, a precaução é relativa a riscos potenciais e a prevenção diz respeito a riscos verificados. Tudo
dependeria, pois, do grau de probabilidade de ocorrência do prejuízo, devendo a precaução ser entendida como
um prolongamento dos métodos de prevenção aplicados a riscos incertos. Cf., também, Alexandra ARAGÃO,
O princípio do poluidor pagador – pedra angular da política comunitária do ambiente, Studia Iuridica, 23, Coimbra Editora,
Coimbra, 1997, 68.
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 260
ou princípio violados se integravam ou não os interesses patrimoniais. O problema é,
portanto, o da causalidade (imputação) a este nível. Repare-se, porém, que tal problema
não se elimina quando se consiga discernir a violação do direito de propriedade. E a
resposta que pare ele se encontre não surge automaticamente, antes suscitando muitas
dúvidas e requerendo uma análise mais alargada sobre o tópico.
b) O problema da causalidade
Se reconhecidamente se chega à conclusão de que é necessário enfrentar de forma
comprometida o tópico da causalidade, não é menos verdade que o problema não pode
ser solucionado à luz das teorias tradicionais causais. Conditio sine qua non e causalidade
adequada não nos servem para encontrar uma resposta materialmente justa e
normativamente fundada para os casos que nos ocupam24. Os defeitos que se apontam às
doutrinas em questão parecem galvanizar-se num cenário de incerteza.
É, portanto, à luz da pessoalidade livre e responsável que vamos ter de compreender o
pressuposto causal. Ora, se assim é, então isso significa que o que se debate não é o
estabelecimento de uma relação causa-efeito, mas a justeza de se imputar objetivamente
uma lesão ao comportamento de um sujeito, tido como autor daquela. Ou seja, o nosso
problema não reside na causalidade, mas na imputação objetiva, o que, por seu turno,
implica que a própria estrutura do ilícito de que se parte condicione os exatos termos de
estabelecimento dessa imputação.
Ademais, esta causalidade vertida em imputação deve deixar de ser pensada em termos
unitários, para passar a ser compreendida em termos binários. Se, tradicionalmente, o
nexo de causalidade era entendido de forma unívoca, estabelecendo a ligação entre a
conduta ilícita e culposa e os danos sofridos pelo lesado, embora os autores acabassem
por evidenciar – de forma mais ou menos clara – que este liame era chamado a cumprir
uma dupla função: ao mesmo tempo que seria entendido como um pressuposto da
responsabilidade, era visto como um problema atinente ao cálculo da indemnização 25,
24Para uma crítica às teorias, cf. Mafalda Miranda BARBOSA, Do nexo de causalidade ao nexo de imputação. Contributo
para a compreensão da natureza binária e personalista do requisito causal ao nível da responsabilidade civil extracontratual,
Princípia, 2013, cap. II.
25 Entre nós, abordando unitariamente o problema, Pereira COELHO, “O nexo de causalidade na
responsabilidade civil”, 113 a 115. Tradicionalmente o problema da causalidade era tratado ao nível da
obrigação de indemnizar. Tal corresponde à estrutura sistemática das diversas codificações e, entre nós, respeita
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 261
hoje, fruto da boa influência de além-fronteiras, a doutrina portuguesa passou a distinguir
dois nexos de causalidade. Melhor dizendo, o nexo de causalidade comunga, naquela que
nos parece ser a melhor visão do problema, de uma natureza binária.
Lado a lado concorrem a causalidade fundamentadora da responsabilidade e a causalidade
preenchedora da responsabilidade. A primeira liga o comportamento do agente à lesão do
direito ou interesse protegido; a segunda liga a lesão do direito ou interesse protegido aos
danos consequenciais (segundo dano) verificado. A bifurcação a que se alude é análoga
à estabelecida no quadro do ordenamento jurídico germânico, onde os autores distinguem
a haftungsbegründende Kausalität da haftungsausfüllende Kausalität, e acaba por ser
conexa com cisões estabelecidas no quadro de outros ordenamentos jurídicos. A nitidez
da distinção pode esbater-se em face de determinadas formas de desvelação da ilicitude,
mas afigura-se tanto mais imprescindível quanto mais vincada seja a predicação daquela
ilicitude no resultado26.
Por outro lado, a causalidade deixa, nesta perspetiva, de ser entendida exclusivamente do
ponto de vista dogmático, para ser compreendida do ponto de vista ético-axiológico27. A
ação, de onde se parte, deve ser vista como uma categoria onto-axiológica, o que, no
diálogo com a pressuposição do risco, nos permite inverter alguns dos aspetos tradicionais
do problema. Assim, e desde logo, podemos afirmar que o filão fundamentador da
imputação objetiva não pode deixar de se encontrar numa esfera de risco que se assume.
Mas, não basta contemplar a esfera de risco assumida pelo agente de uma forma
atomística, desenraizada da tessitura antropológico-social e mundanal em que ele está
inserido. Dito de outro modo, e relacionando-se isso com o pertinentemente aceite em
matéria de definição da conduta juridicamente relevante, salienta-se aqui que, porque o
referencial de sentido de que partimos é a pessoa humana, matizada pelo dialético
encontro entre o eu, componente da sua individualidade, e o tu, potenciador do
desenvolvimento integral da sua personalidade, há que cotejá-la com a esfera de risco
encabeçada pelo lesado, pelos terceiros que compõem teluricamente o horizonte de
a orientação expendida nos trabalhos preparatórios do diploma mãe em matéria de direito civil – cf. Vaz SERRA,
“Obrigação de indemnização. Colocação. Fontes. Conceito e espécies de dano. Nexo causal. Extensão do dever
de indemnizar. Espécies de indemnização. Direito de abstenção e de remoção”, 7.
26 Mafalda Miranda BARBOSA, “Haftungsbegründende kausalität e haftungsausfüllende kausalität Causalidade
fundamentadora e causalidade preenchedora da responsabilidade”, Revista da Faculdade de Direito e Ciência Política
da Universidade Lusófona do Porto, 10, 2017, 14 s.
27 Cf., para maiores desenvolvimentos, Mafalda Miranda BARBOSA, Do nexo de causalidade ao nexo de imputação,
890 s. e 1130 s., bem como a demais bibliografia aí citada.
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 262
atuação daquele, e ainda com a esfera de risco geral da vida. Ao que, aliás, não será
também estranho o facto de todo o problema vir enervado pela teleologia primária da
responsabilidade delitual, ou seja, pelo escopo eminentemente reparador do instituto.
A pessoa, ao agir, porque é livre, assume uma role responsibility, tendo de, no encontro
com o seu semelhante, cumprir uma série de deveres de cuidado. Duas hipóteses são,
então, em teoria, viáveis: ou a pessoa atua investida num especial papel/função ou se
integra numa comunidade de perigo concretamente definida e, neste caso, a esfera de
risco apta a alicerçar o juízo imputacional fica a priori desenhada; ou a esfera de
risco/responsabilidade que abraça não é suficientemente definida para garantir o acerto
daquele juízo. Exige-se, por isso, que haja um aumento do risco, que pode ser
comprovado, exatamente, pela preterição daqueles deveres no tráfego, entre os quais se
incluem os deveres de segurança no tráfego.
Estes cumprem uma dupla função. Por um lado, permitem desvelar a culpa (devendo,
para tanto, haver previsibilidade da lesão e exigibilidade do comportamento contrário
tendo como referente o homem médio); por outro lado, alicerçam o juízo imputacional,
ao definirem um círculo de responsabilidade, a partir do qual se tem de determinar,
posteriormente, se o dano pertence ou não ao seu núcleo.
Note-se que a culpabilidade não se confunde com a “causalidade”. Pode o epicentro da
imputação objetiva residir na imputação subjetiva firmada, sem que, contudo, os dois
planos se confundam. Condicionam-se dialeticamente, é certo, não indo ao ponto de se
identificar. O condicionamento dialético de que se dá conta passa pela repercussão do
âmbito de relevância da culpa em sede de imputação objetiva. Isto é, a partir do momento
em que o agente atua de forma dolosa, encabeçando uma esfera de risco, as exigências
comunicadas em sede do que tradicionalmente era entendido como o nexo de causalidade
atenuam-se. Acresce que, ainda que a previsibilidade releve a este nível, a referência dela
será diferente. Assim, a previsibilidade de que se cura deve ser entendida como
cognoscibilidade do potencial lesante da esfera de risco que assume, que gera ou que
incrementa. Ela não tem de se referir a todos os danos eventos. Designadamente, não terá
de se referir aos danos subsequentes ou àqueles que resultem do agravamento da primeira
lesão. Por isso, quando afirmamos que, ao nível da primeira modalidade de ilicitude, a
culpa tem de se referir ao resultado, acompanhamos, entre outros, autores como
Lindenmaier, Von Caemmerer ou Till Ristow, para sustentar que a previsibilidade que
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 263
enforma a culpa deve recuar, no seu ponto referencial, até ao momento da edificação da
esfera de risco que se passa a titular.
Assim, para que haja imputação objetiva, tem de verificar-se a assunção de uma esfera
de risco, donde a primeira tarefa do julgador será a de procurar o gérmen da sua
emergência. São-lhe, por isso, em princípio, imputáveis todos os danos que tenham a sua
raiz naquela esfera, ou seja, todas as lesões que se inscrevam no âmbito do risco definido
ou que devessem ser evitadas pelo cumprimento do dever preterido.
A priori, podemos fixar dois polos de desvelação da imputação: um negativo, a excluir a
responsabilidade nos casos em que o dano se mostra impossível (impossibilidade do
dano), ou por falta de objeto, ou por inidoneidade do meio; outro positivo, a afirmá-la
diante de situações de aumento do risco. Exclui-se a imputação quando o risco não foi
criado (não criação do risco), quando haja diminuição do risco e quando ocorra um facto
fortuito ou de força maior. Impõe-se, ademais, a ponderação da problemática atinente ao
comportamento lícito alternativo.
Na indagação da pertinência funcional da lesão do direito à esfera de responsabilidade
que se erige e assume, importa ter sempre presente que esta é mais ampla que o círculo
definido pela culpa, como atrás se constatou. Contudo, pese embora a ideia da
extrapolação da vontade que acompanha o resultado, há que ter em conta, no juízo
imputacional, uma ideia de controlabilidade do dado real pelo agente. Esta
controlabilidade há de, pois, ser entendida no sentido da evitabilidade do evento lesivo.
Com isto, exclui-se a possibilidade de indemnização dos danos que resultem de
acontecimentos fortuitos ou de casos de força maior.
No fundo, o que se procura com as categorias é retirar da esfera de risco edificada algumas
das consequências que, pertencendo-lhe em regra, pela falta de controlabilidade
(inevitabilidade, extraordinariedade, excecionalidade e invencibilidade), não apresentam
uma conexão funcional com o perigo gerado. Note-se, porém, que a judicativa decisão
acerca da existência ou não de um facto fortuito ou caso de força maior poderá implicar,
em vez de uma estanque análise das características elencadas, um cotejo de esferas de
risco. De facto, poderá haver situações em que o pretenso lesante não tem controlo efetivo
sobre a situação que gera o dano, mas pode e deve minorar os efeitos nefastos dela. Com
isto, mostramos que não é ao nível da culpa que as duas categorias derramam a sua
eficácia. No entanto, isso não nos leva a optar inexoravelmente por uma perspetiva que
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 264
as funde no conceito de causalidade. Num dado sentido, o facto fortuito e a força maior
retiram do núcleo de responsabilidade do lesante o resultado verificado. Num outro
sentido, reclamam a repartição de esferas de risco, convidando-nos a um cotejo entre elas.
Abre-se, portanto, o segundo patamar da indagação “causal” do modelo que edificamos.
Este segundo patamar terá lugar depois de se constatar que o dano-lesão pertence ao
núcleo da esfera edificada. Para tanto, é necessário que haja possibilidade do dano e que
ele se integre dentro dos eventos que deveriam ser evitados com o cumprimento do dever.
Só depois faz sentido confrontar a esfera titulada pelo potencial lesante com outras esferas
de risco/responsabilidade.
Contemplando, prima facie, a esfera de risco geral da vida, diremos que a imputação
deveria ser recusada quando o facto do lesante, criando embora uma esfera de risco,
apenas determina a presença do bem ou direito ofendido no tempo e lugar da lesão do
mesmo. O cotejo com a esfera de risco natural permite antever que esta absorve o risco
criado pelo agente, porquanto seja sempre presente e mais amplo que aquele. A pergunta
que nos orienta é: um evento danoso do tipo do ocorrido distribui-se de modo
substancialmente uniforme nesse tempo e nesse espaço, ou, de uma forma mais simplista,
trata-se ou não de um risco a que todos – indiferenciadamente – estão expostos?
O confronto com a esfera de risco titulada pelo lesado impõe-se de igual modo. São a
este nível ponderadas as tradicionais hipóteses da existência de uma predisposição
constitucional do lesado para sofrer o dano. Lidando-se com a questão das debilidades
constitucionais daquele, duas hipóteses são cogitáveis. Se elas forem conhecidas do
lesante, afirma-se, em regra, a imputação, exceto se não for razoável considerar que ele
fica, por esse especial conhecimento, investido numa posição de garante. Se não forem
conhecidas, então a ponderação há de ser outra. Partindo da contemplação da esfera de
risco edificada pelo lesante, dir-se-á que, ao agir em contravenção com os deveres do
tráfego que sobre ele impendem, assume a responsabilidade pelos danos que ali se
inscrevam, pelo que haverá de suportar o risco de se cruzar com um lesado dotado de
idiossincrasias que agravem a lesão perpetrada. Excluir-se-á, contudo, a imputação
quando o lesado, em face de debilidades tão atípicas e tão profundas, devesse assumir
especiais deveres para consigo mesmo. A mesma estrutura valorativa se mobiliza quando
em causa não esteja uma dimensão constitutiva do lesado, mas sim uma conduta dele que
permita erigir uma esfera de responsabilidade, pelo que, também nos casos de um
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 265
comportamento não condicionado pelo seu biopsiquismo, a solução alcançada pelo cotejo
referido pode ser intuída, em termos sistemáticos, a partir da ponderação aqui posta a nu.
Há que determinar nestes casos em que medida existe ou não uma atuação livre do lesado
que convoque uma ideia de autorresponsabilidade pela lesão sofrida. Não é outro o
raciocínio encetado a propósito das debilidades constitucionais dele, tanto que a
imputação só é negada quando se verifique a omissão de determinados deveres que nos
oneram enquanto pessoas para salvaguarda de nós mesmos.
Não se estranha, por isso, que o pensamento jurídico – mormente o pensamento jurídico
transfronteiriço – tenha gizado como critério guia do decidente o critério da provocação.
Tornam-se, também, operantes a este nível ideias como a autocolocação em risco ou a
heterocolocação em risco consentido. Do mesmo modo, chamam-se à colação outros
critérios, como o critério da autoridade, o critério do desnível informacional.
Havendo essa atuação livre do lesado, temos que ver até que ponto os deveres que
oneravam o lesante tinham ou não como objetivo obviar o comportamento do lesado.
Tido isto em mente, bem como a gravidade da atuação de cada um, poderemos saber que
esfera de risco absorve a outra ou, em alternativa, se se deve estabelecer um concurso
entre ambas. Chama-se à colação, a este nível, o problema do concurso de culpas do
lesado.
O artigo 570º CC abre-nos, de facto, uma dupla possibilidade interpretativa: deve ser
mobilizado ao nível da fundamentação da responsabilidade e ao nível do cálculo da
indemnização. No que ao primeiro segmento respeita, os critérios de apreciação da culpa
do lesado – que não pode ser entendida num sentido culpabilístico – inserem-nos no
modelo de imputação objetiva, baseado no cotejo de esferas de risco. Este primeiro
segmento estará em causa sempre que o que esteja em debate seja o agravamento do dano-
lesão/dano-evento. O segundo segmento entrará em cena quando esteja em causa o
comportamento do lesado depois de verificada a lesão e, portanto, ao nível do cômputo
da indemnização. Aí, os critérios a mobilizar deverão ser diferentes, remetendo-se a sua
explicitação para um momento posterior do programa da disciplina.
O juízo comparatístico encetado, ao nível do confronto entre a esfera de
risco/responsabilidade do lesante e do lesado, não dista sobremaneira daquele a que
somos conduzidos quando a titularidade da segunda esfera de risco, concorrente com
aquela, pertence a um terceiro. A triangular assunção problemática a que nos referimos
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 266
leva implícita uma prévia alocação imputacional, posto que ela envolve que, a jusante, se
determine que o comportamento dele não é simples meio ou instrumento de atuação do
primeiro lesante. Donde, afinal, o que está em causa é a distinção entre uma autoria
mediata e um verdadeiro concurso de esferas de risco e responsabilidade, a fazer
rememorar a lição de Forst, embora não a acolhamos plenamente. O segundo agente, que
causa efetivamente o dano sofrido pelo lesado, não tem o domínio absoluto da sua
vontade, ou porque houve indução à prática do ato, ou porque não lhe era exigível outro
tipo de comportamento, atenta a conduta do primeiro agente (o nosso lesante, a quem
queremos imputar a lesão). Neste caso, ou este último surge como um autor mediato e é
responsável, ou a ulterior conduta lesiva se integra ainda na esfera de responsabilidade
por ele erigida e a imputação também não pode ser negada.
Maiores problemas se colocam, portanto, quando existe uma atuação livre por parte do
terceiro que conduz ao dano. Há, aí, que ter em conta alguns aspetos. Desde logo, temos
de saber se os deveres do tráfego que coloram a esfera de risco/responsabilidade
encabeçada pelo lesante tinham ou não por finalidade imediata obviar o comportamento
do terceiro, pois, nesse caso, torna-se líquida a resposta afirmativa à indagação
imputacional. Não tendo tal finalidade, o juízo há de ser outro. O confronto entre o círculo
de responsabilidade desenhado pelo lesante e o círculo titulado pelo terceiro –
independentemente de, em concreto, se verificarem, quanto a ele, os restantes requisitos
delituais – torna-se urgente e leva o jurista decidente a ponderar se há ou não consunção
de um pelo outro. Dito de outro modo, a gravidade do comportamento do terceiro pode
ser de molde a consumir a responsabilidade do primeiro lesante. Mas, ao invés, a
obliteração dos deveres de respeito – deveres de evitar o resultado – pelo primeiro lesante,
levando à atualização da esfera de responsabilidade a jusante, pode implicar que a lesão
perpetrada pelo terceiro seja imputável àquele. Como fatores relevantes de ponderação
de uma e outra hipótese encontramos a intencionalidade da intervenção dita interruptiva
e o nível de risco que foi assumido ou incrementado pelo lesante. Entre ambas, pode
também estabelecer-se o devido concurso28.
Do que ficou dito, podemos concluir que a causalidade se transmuta, de acordo com um
correto entendimento metodológico do problema da realização do direito, num juízo de
Para outros desenvolvimentos, cf. Mafalda Miranda BARBOSA, Do nexo de causalidade ao nexo de imputação, cap.
28
XVIII.
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 267
imputação e que, se assim é, então ele não pode deixar de ser condicionado pela específica
modelação do ilícito de que se parte. O condicionamento a que se alude pode discernir-
se a dois níveis: por um lado, a determinação da ilicitude a partir do resultado faz com
que seja necessário liga-lo ao comportamento do sujeito; por outro lado, a cisão entre a
causalidade fundamentadora e a causalidade preenchedora da responsabilidade assume-
se como variável em função das especificidades da ilicitude.
Recordando os termos dessa distinção, voltamos a dizer que a causalidade
fundamentadora da responsabilidade liga o comportamento do sujeito à violação do
direito ou do interesse legalmente protegido; enquanto a causalidade preenchedora da
responsabilidade liga a violação do direito ou do interesse aos danos subsequentes.
Significa isto que ela se torna imprescindível quando a ilicitude se desvela pelo resultado,
tornando-se mais nebulosa quando se parta da ilicitude da conduta. Ao nível do
ordenamento jurídico português, temos boas razões para sustentar a primeira perspetiva,
o que não implica que o desvalor de conduta não esteja presente em todas as hipóteses de
ressarcimento. Simplesmente, a forma como se articula o binómio desvalor de
resultado/desvalor de conduta (não equivalente ao binómio ilicitude do resultado/ilicitude
da conduta) é variável consoante se parta exclusivamente da violação do direito ou da
violação de uma disposição legal de interesses alheios. Neste último caso, tudo fica
dependente da própria estrutura normativa.
Percebe-se, então, que a transposição de um modelo pensado para a responsabilidade civil
em geral tenha de ser ponderada, quando estamos a lidar com a responsabilidade civil do
Estado. É que aí, como anteriormente sublinhámos, a ilicitude é configurada de forma
híbrida, a conjugar, segundo os autores, a ilicitude da conduta e a ilicitude do resultado.
Repare-se numa subtil diferença que parece haver entre a ilicitude desvelada por via da
preterição de disposições legais de proteção de interesses alheios (nos termos do artigo
483º CC) e a ilicitude a que somos conduzidos no contexto da responsabilidade do Estado.
Enquanto ali o resultado que determina a ilicitude é a própria violação normativa, à qual
depois se liga a violação do interesse, no âmbito da responsabilidade do Estado, a ilicitude
é oferecida pela lesão do direito ou interesse conjugada com a lesão de uma norma ou
princípio jurídicos, de determinados deveres de ordem técnica ou simples deveres de
cuidado. Entende-se a discrepância subtil: enquanto no domínio privatístico o que está
em causa é a tutela de determinados interesses que, não sendo protegidos por via do
reconhecimento ou atribuição de um direito absoluto, são tidos em conta na norma que
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 268
proíbe ou impõe um determinado comportamento exatamente para proteger um grupo de
pessoas contra um certo tipo de perigo, ao nível da responsabilidade civil do Estado,
prevalece a ideia de que, por força dos poderes de imperium de que está munido, a lesão
de um direito ou um interesse legalmente protegido só será reveladora da ilicitude quando
o ente público se afaste de uma norma habilitante ou atue em violação de um princípio.
De acordo com Leong, “a ilicitude na RCEA há de possuir uma dimensão capaz de
denotar o desvalor da conduta da Administração emanante do seu desvio objetivo dos
padrões da legalidade”29.
Isto permite-nos extrair uma outra conclusão. De facto, se a esfera de responsabilidade,
no sentido da role responsibility, no tocante às pessoas singulares e no quadro do direito
civil, é edificada a partir de uma ideia de liberdade axiologicamente conformada,
indissociável da responsabilidade pelo outro, sendo ela que permite depois, pela violação
de determinados deveres no tráfego, a emergência da esfera de responsabilidade, no
sentido da liability, a partir da qual se pensa a imputação, que será tributária do mesmo
fundamento ético, no âmbito do direito administrativo, estando em causa a atuação do
Estado-administrador, o ponto de ancoragem da esfera de responsabilidade/risco de que
se cura será necessariamente diverso. Conforme explicita Leong Hong Cheng, “no caso
do Estado-administração, a “liberdade” não é congénita, mas sim, no nosso sistema
político-constitucional, concedida derivadamente através do mecanismo democrático. E
sendo derivada da “confiança” do verdadeiro dono de soberania – o povo (artigo 3.º/1,
CRP), face à nossa Constituição, é jurídico-politicamente absurdo afirmar que esta
liberdade é um arbítrio “ontológico” que engloba a hipótese de agir desconforme o direito,
sob a pena de esvaziar o sentido da soberania popular e o princípio do Estado de direito.
Portanto, esta ideia da liberdade do Estado-administração deve ser entendida como
“legitimidade política” e “competência jurídica” cuja amplitude está, ab initio, delimitada
pelo princípio da subordinação do Estado à Constituição”30. Assim, o autor propõe que o
binómio liberdade v. responsabilidade seja, ao nível público, compreendido como
legitimidade-competência v. responsabilidade. O Estado atua, no quadro da competência
que lhe foi atribuída por lei, e, ao fazê-lo, deve agir sob o manto da legalidade: é por isso
que, preterida uma norma ou princípio jurídico, se assume como ente responsável.
29 Hong Cheng LEONG, Da imputação obietiva na responsabilidade extracontratual do estado decorrente do exercício da
função administrativa, 24
30 Hong Cheng LEONG, Da imputação obietiva na responsabilidade extracontratual do estado decorrente do exercício da função
administrativa, 24.
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 269
Voltando ao verbo de Leong, podemos dizer que “o direito administrativo, ao contrário
do direito privado, encontra o seu pilar axiológico até suprapositivo no princípio da
legalidade (agora entendida como princípio da juridicidade). Portanto, é natural que os
juristas do direito administrativo tenham sempre reclamado a importância de ancorar o
critério da ilicitude civil delitual da Administração no princípio da legalidade
administrativa”31.
Há, porém, como vimos casos em que o ato lesivo de direitos ou interesses é
materialmente análogo ao ato de um particular, bem como casos em que, estando
especificamente em causa o exercício de poderes de imperium, o ente público atua no
quadro da interação generalizada dos outros sujeitos, não estabelecendo uma específica
relação de soberania com um cidadão.
Parece, então, que podemos lidar com duas situações diferenciadas na sua base de
fundamentação. Nestas últimas que mantêm uma ponte de comunicação muito forte com
o domínio privatístico, o alicerce de conformação da esfera de responsabilidade poderá
encontrar-se, ainda, numa ideia de responsabilidade pelo outro; nas outras o recorte dos
contornos externos da esfera de responsabilidade estadual deverá ser encontrado na ideia
de competência/legalidade, a implicar que os cidadãos devem ficar livres de intervenções
lesivas dos seus interesses ou direitos.
Em qualquer dos casos, porém, a ilicitude resulta, como sabemos, da violação de uma
norma, princípio ou regra.
Verificada tal violação, haveremos de determinar em que medida a lesão do direito ou
interesse pode ser aí reconduzida. Ora, neste caso, o nosso juízo é simples: o Estado-
administrador será responsável por todas as lesões que teriam sido evitadas com o
cumprimento da norma habilitante para a sua atuação. Deixará de sê-lo se a lesão se
mostrar impossível, se ocorrer um facto fortuito ou um caso de força maior ou mesmo se
se invocar procedentemente um comportamento lícito alternativo.
A questão, contudo, complexifica-se noutro tipo de situações. Na verdade, estando em
causa a violação de um princípio e não de uma norma, na medida em que aquele perde
concretude em relação a este, podemos temer ficar desamparados na hora de estabelecer
31Hong Cheng LEONG, Da imputação obietiva na responsabilidade extracontratual do estado decorrente do exercício da
função administrativa, 24
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 270
a ligação a que se alude. Os receios parecem, contudo, ser infundados. Com efeito,
havendo de se partir do caso concreto como o prius metodológico, a abstração do
princípio violado cede lugar à sua conformação concreta – a preterição dele é analisada
em função de um determinado comportamento, que só o põe em causa por força das suas
especificidades. Ora, o que se procurará determinar é se aquela lesão era uma das que em
abstrato tinha podido ser evitada com o respeito pelo princípio.
Se nos confrontamos com uma ilicitude desvelada a partir da preterição de determinados
deveres de cuidado, no âmbito de operações materiais, então facilmente conseguiremos
perceber que a legitimidade-competência terá de ser articulada com a ideia de liberdade
responsável. É que, em muitas situações, o Estado-administrador não surge como sujeito
único, organicamente atuante pelos seus funcionários, mas surge como aquele que
legitima a atuação livre e responsável de pessoas físicas. Pense-se, por exemplo, na
atuação do médico no SNS. A transposição dos critérios pensados ao nível da
responsabilidade disciplinada pelo direito privado torna-se, então, mais simples.
O covid-19 faz-nos confrontar com uma situação intermédia: não está em causa uma mera
operação material, assente em critérios técnicos; não está apenas em causa o cumprimento
ou não cumprimento de uma norma habilitante. Estamos num domínio de atuação eivado
pela nota da incerteza, que convoca um nível de discricionariedade muito amplo, fazendo
confluir critérios técnico-sanitários e critérios políticos. O ponto de partida para a
construção de uma esfera de risco/responsabilidade terá de ser então encontrado numa
posição de soberania animada por uma ideia de cuidado com o outro, por ser a
salvaguarda da vida e da saúde dos cidadãos um dos aspetos prioritários da atuação do
Estado. As especificidades, contudo, não são de molde a alterar a ponderação que há de
ser feita em sede de imputação. O busílis da questão reside em saber se as autoridades
sanitárias violaram ou não algum dever. Posto isto, serão responsáveis por qualquer lesão
que abstratamente pudesse ter sido evitada pelo seu cumprimento. Fundamental é,
também, determinar até que ponto a emergência pandémica constituiria, para este efeito,
um caso de força maior ou facto fortuito. No fundo, haveremos de questionar se estava
dentro do controlo do Estado conter a epidemia ou se a inevitabilidade, a
extraordinariedade, a excecionalidade e a invencibilidade eram as palavras de ordem. No
fundo, do que se trata é, também, de aferir o grau de eficácia das medidas que não foram
adotadas.
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 271
Impõe-se, ademais, tal como ao nível da responsabilidade de direito privado, o confronto
com outras esferas de risco, designadamente a esfera de risco geral da vida, a esfera de
risco do lesado e a esfera de risco de um terceiro.
No que à primeira diz respeito, podemos afirmar que não haverá imputação se o
comportamento do sujeito apenas determinou a presença do bem jurídico no tempo e
espaço da lesão. Tudo depende, então, como veremos mais pormenorizadamente no ponto
expositivo subsequente, do momento da epidemia em que a contaminação ocorre. Se a
entidade pública sanitária aconselha um sujeito a ir trabalhar, sabendo que tinha sido
detetado nas instalações uma infeção por covid-19, haverá responsabilidade se os factos
ocorrerem num momento de contenção da doença, em que o risco não está igualmente
disseminado por todo o lado. Mas já não numa situação de transmissão comunitária, em
que o contágio se poderia dar em qualquer circunstância.
No tocante à esfera de risco/responsabilidade do lesado, haveremos de ter em conta todos
os parâmetros a que aludimos a propósito da responsabilidade de direito privado. É claro
que nem todos serão mobilizáveis por referência à globalidade das constelações fácticas.
Particularmente importante é, no quadro da atuação do Estado-Administrador, o disposto
no artigo 4º Lei nº67/2007, nos termos do qual, “quando o comportamento culposo do
lesado tenha concorrido para a produção ou agravamento dos danos causados,
designadamente por não ter utilizado a via processual adequada à eliminação do ato
jurídico lesivo, cabe ao tribunal determinar, com base na gravidade das culpas de ambas
as partes e nas consequências que delas tenham resultado, se a indemnização deve ser
totalmente concedida, reduzida ou mesmo excluída”. O preceito reproduz, adaptado à
intencionalidade das relações jurídico-publicistas, a lição do artigo 570º CC. O que resulta
dele, portanto, é a possibilidade de dupla interpretação, quer no sentido da fundamentação
da responsabilidade, quer no sentido do seu preenchimento. Note-se, contudo, que o
preceito só é mobilizável quando o comportamento do lesado seja livre, e para aferir a
liberdade inerente ao mesmo haveremos de lançar, também, mão dos critérios atrás
mencionados. O estatuto de autoridade do ente público e dos seus agentes e funcionários
será aqui determinante.
Acresce que, em causa pode, eventualmente, não estar o contágio em si mesmo, mas o
agravamento do quadro clínico do sujeito por não haver um diagnóstico atempado, pela
recusa de submissão a testes. A predisposição constitucional do lesado – o seu estado de
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 272
saúde prévio – não é de molde a afastar a responsabilidade do ente público. Ademais,
numa situação em que o lesado/contagiado assume um comportamento que agrava a
sintomatologia e o prognóstico, estando ele guiado pelas instruções das autoridades
sanitárias, podemos dizer que o seu comportamento não é livre: a omissão de informações
ou a prestação de informações incorretas determina que o ente público avoque para si
uma esfera de risco que corria naturalmente por conta da vítima.
Finalmente, haveremos de ter em conta a esfera de risco/responsabilidade de um terceiro.
Esse terceiro não terá de ser um ente público. Aplicam-se, aqui, os mesmos critérios que
analisámos a propósito do confronto homólogo no quadro do direito privado.
2.2. A responsabilidade de uma pessoa singular
A questão da responsabilização pode ocorrer também por referência a uma pessoa
singular. A contagia B com o covid-19. Poderá ser por isso responsabilizado? A resposta
não é inequívoca. Tudo depende das especificidades do caso concreto. Desde logo,
haveremos de estabelecer uma distinção entre as situações em que A sabe que contraiu a
doença ou suspeita que pode ter contraído e as situações em que A julga estar saudável.
Nesta última hipótese, é de excluir a responsabilidade. Falha, a priori, a culpa – a A não
era exigível, em face do que conhecia, que adotasse um outro comportamento. Mas,
estando ciente da sua doença ou sendo-lhe exigível que dela desconfiasse, a
responsabilidade afirmar-se-á. Não só é, nesse caso, desvelável a culpa, como se constata
a ilicitude. Esta pode, aliás, ser determinada por duas vias. Em primeiro lugar, pela
violação de um direito absoluto (saúde ou vida), lesão essa que terá de ser reconduzida
ao comportamento do lesante segundo os critérios de imputação objetiva. E quanto a
estes, perante o circunstancialismo que estamos a considerar, parecem não surgir dúvidas.
Em segundo lugar, pela violação de uma disposição legal de proteção de interesses
alheios, com as consequências dogmáticas, sobretudo ao nível da prova da culpa, que se
conhecem32. Na verdade, o artigo 283º/1 a) C. Penal condena quem propagar doença
contagiosa, podendo compreender-se a disposição criminal como uma dessas normas
legais de proteção de interesses alheios a que nos referimos. Não obstante esta nota,
importa sublinhar que, tratando-se de um crime de resultado, o impacto dogmático da sua
32 Os autores apontam, também, consequências ao nível da causalidade, mas, como tivemos oportunidade de
sublinhar a outro ensejo, elas não devem ser sobrevalorizadas. Cf. Mafalda Miranda BARBOSA, Lições de
responsabilidade civil, Princípia, 2017, 168 s.
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 273
chamada à colação para efeitos de responsabilidade civil será diminuto33. Em qualquer
dos casos exige-se o conhecimento prévio da doença, a sua cognoscibilidade ou a suspeita
de que a mesma possa existir. Mais relevante podem ser, por isso, as normas decretadas
no quadro da declaração de estado de emergência. Sendo normas emanadas por um órgão
com legitimidade para impor comandos normativos, visando proteger não só a saúde
pública, mas também os interesses particulares dos possíveis infetados, contra um risco
específico, parece não haver dúvidas que as mesmas podem ser qualificadas como
disposições legais de proteção de interesses alheios, antecipando-se a tutela34. A sua
violação permite assim desvelar a ilicitude, restando saber se a lesão concretamente
verificada se pode ou não reconduzir à esfera de proteção da norma.
Ocorrendo um contágio, não será difícil estabelecer um início de imputação, nestes
termos. Maiores dificuldades haverá, contudo, no que diz respeito à lesão dos interesses
patrimoniais das pessoas coletivas. A resposta ficará dependente da análise que se possa
estabelecer da norma, quanto ao seu âmbito de proteção. Poderemos encontrar no seu
âmbito de proteção a tutela de interesses patrimoniais (ainda que não puros)?
De todo o modo, a imputação de que se cura não pode dar-se por solucionada sem mais.
Tal como vimos anteriormente, impõe-se o confronto com outas esferas de
risco/responsabilidade. Ora, é exatamente a contemplação da esfera de risco geral da vida
que nos pode conduzir a interrogações várias. O critério é o de que o lesante não deve ser
responsabilizado quando o facto do lesante, criando embora uma esfera de risco, apenas
determina a presença do bem ou direito ofendido no tempo e lugar da lesão do mesmo35.
Trimarchi oferece-nos o arrimo doutrinal aqui abraçado, justificando-o à luz da teleologia
primária da responsabilidade extracontratual e da sua finalidade essencialmente ou
primacialmente reparatória, e refratando-o em dois pontos essenciais: a vítima não tem
direito a ser garantida contra o risco a que estaria substancialmente exposta mesmo que o
33 Sinde MONTEIRO, Responsabilidade por conselhos, recomendações e informações, Almedina, Coimbra, 1989, 239 s.
34 Gert BÜGGERMEIER, Haftungsrecht. Struktur, Prinzipen, Schutzbereich zur Europäisierung des Privatrechts, Springer,
Berlin, Heidelberg, New York, 2006, 537 s. Veja-se, ainda, RÜMELIN, ““Die Verwendung der Causalbegriffe
im Straf und Civilrecht”, Archiv für die civilistiche Praxis, 90, Heft 2, 1900, 186 s.; Robert KNÖPFLE, “Zur
Problematik der Beurteilung einer Norm als Schutzgesetz um Sinne des § 823 Abs. 2 BGB”, Neue Juristische
Wochenschrift, 1967, 697-702; C.-W. CANARIS, “Schutzgesetze-Verkehrspflichten-Schutzpflichten”, Festschrift für
Karl Larenz zum 80. Geburtstag am 23. April 1983, München, Beck, 1983, 49 s; Heinrich DÖRNER, “Zur Dogmatik
der Schutzgesetzverletzung”, Juristische Schulung. Zeitschrift für Studium und Ausbildung, 27. Jahrgang, 1987, 522 s.
35 A ideia é a da mera coincidência espacial e temporal que afasta a imputação.
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 274
ato ilícito não tivesse tido lugar; e desde que o risco do evento danoso daquele tipo se
distribua de modo substancialmente uniforme nesse tempo e nesse espaço36.
Aceitando como prestimoso o dado, não deixamos de sublinhar que a ancoragem
imputacional nele se compreende, aos nossos olhos, à luz da falta de conexão funcional
com a esfera de risco demarcada pelo agente. Pois não é verdade que se a vítima sempre
estivesse exposta a esse risco aquela se perde? No fundo, voltamos a socorrer-nos da lição
italiana para sustentar que a vítima não está coberta pelo risco a que de igual modo estaria
sujeita, isto é, e agora com o nosso verbo, o cotejo com a esfera de risco natural permite
antever que esta absorve o risco criado pelo agente, porquanto seja sempre presente e
mais amplo que aquele. Donde se mostra, ademais, que o nosso ponto de partida,
contaminado ainda pelas notas da subjetivação, só se vai densificar, preencher e, com
isso, perder os contornos esfumados quando operarmos o salto para este segundo patamar
criteriológico37. Se no primeiro nível dialógico o que nos importava era o facto de ter sido
erigida uma esfera de risco/responsabilidade, cumprindo-se com isso as exigências
comunicadas por uma ideia de liberdade positiva que arvorámos em pórtico de entrada
das nossas lucubrações, só com o cotejo de esferas de risco, das quais contemplámos até
ao momento a que integra o risco geral da vida, se consegue dilucidar cabalmente até que
ponto o dano lesão sobrevindo apresenta ou não uma conexão funcional com aquela.
36 Cf., novamente, TRIMARCHI, Causalità e danno, Giuffrè Editore, Milano, 1967, 57-58. Exceção feita, segundo
o testemunho do autor, à situação em que alguém furta coisa alheia, devendo responder pelo seu perecimento
fortuito. Isto mostra-nos a incidência de juízos ético-axiológicos na ponderação feita pelo autor e ilumina-nos
no sentido de perceber que a correta solução dos problemas só pode ser encontrada num cotejo de esferas de
responsabilidade que tenha em conta o centro gravitacional de edificação de cada uma delas.
Veja-se, ainda, pág. 62. A mesma ideia conduziria, segundo o testemunho do autor, a que não haja
responsabilidade sempre que o ato ilícito leve o lesado a adotar um determinado comportamento da vida
ordinária que implique a exposição a um risco considerado tolerável.
Repare-se, contudo, que o polo de ancoragem dos subcritérios imputacionais plasmados por Trimarchi acaba
por não permitir a perfeita sintonia argumentativa. Na verdade, o autor foca-se na função reparadora da
responsabilidade civil e na ideia de que o dano há de avultar sempre como limite da obrigação ressarcitória. Por
isso, refere que, em concretização da ideia maior de que parte, a imputação também deve ser recusada quando
“o ato ilícito é concausa do dano por ter oferecido a um terceiro a ocasião e o instrumento, facilmente
substituível, para provocar o dano dolosamente”, já que o intento doloso do terceiro teria levado a realizar o
ato de qualquer forma e com efeitos análogos. A discrepância passa não só pela remissão do problema para o
ponto de cotejo da esfera de responsabilidade do lesante com a esfera de responsabilidade de um terceiro, como
pela consciência de que não é só a comutatividade que ilumina a solução que trazemos a lume, mas a própria
teleonomologia responsabilizatória. O que se procura determinar, com efeito, é a pertinência da lesão a uma
esfera que é pensável no exercício da liberdade da pessoa.
37 O primeiro patamar criteriológico aponta inequivocamente para uma ideia de validade, e portanto, de
ancoragem personalista. O segundo patamar de que aqui se fala, não perdendo, no refluxo dialético que o une
àquele, a coloração ético-axiológica, vai pensado na projeção com o dado real, matizando-se, também, com as
notas da eficácia que o direito vigente há de conter.
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 275
Significa isto que, no quadro problemático que estamos a considerar, haveremos de ter
em conta algumas nuances. Mesmo partindo do pressuposto de que para haver
responsabilidade é necessária a contaminação, ou seja, a lesão do direito absoluto à vida
ou à saúde, há que considerar as diferenças de cada momento temporal. Dito de outro
modo, a nossa ponderação judicativa, atento o critério de imputação objetiva de que
lançámos mão, não pode ser a mesma consoante nos situemos numa época de contenção
estrita da epidemia, ou numa fase que o vírus se encontra disseminado, com transmissão
comunitária.
A consideração das especificidades do caso concreto no que respeita à fase epidémica em
causa é também relevante para o tratamento de outras hipóteses práticas. Pense-se na
situação em que A fere com pouca gravidade B, forçando-o a ir ao hospital, onde o mesmo
acaba por contrair a doença.
Um caso com uma estrutura e uma intencionalidade problemática idênticas foi
considerado e decidido no ordenamento jurídico alemão. A tinha sido atingido a tiro por
um polícia, sendo internado no hospital, onde contrai gripe, na sequência da qual vem a
morrer. Coloca-se a questão de saber se aquele que desfere o disparo pode ou não ser
responsabilizado pelo resultado morte, sendo certo que naturalisticamente o mesmo
deriva diretamente da doença que afetou A. Considerou o tribunal de recurso que a gripe
era “uma doença acidental subsequente”. Mais sustentou que, naquele período em que
grassava uma epidemia, o risco de infeção era tão elevado dentro do hospital como fora
dele, pelo que acaba por negar a conexão causal entre o tiro e a morte do senhor.
Criticando esta posição, o Reichsgericht vem manifestar-se no sentido previamente
proferido pelo Landgericht, que estabeleceu o nexo causal, responsabilizando o polícia38.
À época, o problema foi solucionado com base na probabilidade própria da causalidade
adequada. A ideia seria a de responsabilizar o primeiro lesante, se a probabilidade de
verificação do contágio no hospital ao qual o lesado teve de recorrer fosse grande. À
pergunta “é normal e provável que, indo para o hospital, possa contrair o vírus, num
momento de pandemia?” responde-se sim. Conduzir-se-ia, portanto, à responsabilização
num momento epidémico.
38Cf. a decisão de 13 de outubro de 1922 do Reichsgericht (RGZ 105, 264), citada por MARKESINIS, The German
Law of Obligations, vol. II, The Law of Torts: A comparative introduction, 3rd. Edition, Clarendon Press, Oxford, 1997,
599 s., e por Menezes CORDEIRO, Da responsabilidade civil dos administradores das sociedades comerciais, Lex, Lisboa,
1997, 534).
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 276
A solução afigura-se privada de sentido, aos nossos olhos. Na verdade, numa fase
exponencial de contágio, ele pode ocorrer em qualquer lugar e em qualquer circunstância.
A ida para o hospital não aumenta exponencialmente a exposição ao risco, de tal modo
que se pode afirmar que a vida ou a saúde do lesado não são postas em causa pelo
comportamento lesante. Esta solução ditada pelo tribunal de recurso não pode, contudo,
ser alicerçada na causalidade adequada, sendo imperioso substituir o critério por uma
ideia de imputação objetiva.
O confronto com a esfera de risco/responsabilidade do lesado/contagiado é também
fundamental, importando ter em conta todos os critérios de imputação objetiva que
especificámos anteriormente e que nos podemos conduzir a uma atenuação ou exclusão
da responsabilidade do lesante, nos termos do artigo 570º CC. Basta pensar, por exemplo,
na circunstância de o lesado ter, ele próprio, violado as recomendações das autoridades
sanitárias que diminuem o risco de contaminação. Fundamental é que o seu
comportamento tenha sido livre para que tal ponderação possa ter lugar.
Do mesmo modo, haverá que ter em conta a esfera de risco de um terceiro que interfere
na situação lesiva.
3. Outros aspetos problemáticos. Reflexão final.
A primeira preocupação em termos de responsabilidade civil, no contexto da pandemia
de covid-19, passa pela possível responsabilização de um sujeito. Ora, se assim é, importa
ainda ter em conta outras hipóteses problemáticas, das quais apenas daremos breve nota.
Se a responsabilidade extracontratual nos tem ocupado até agora, há que não esquecer a
possibilidade de emergirem pretensões indemnizatórias no quadro da responsabilidade
contratual. Pense-se na hipótese de A se ter dirigido ao consultório de B, médico, para ser
consultado, depois de registar sintomas compatíveis com a covid-19, tendo o segundo,
em violação das leges artis, errado no diagnóstico e, como isso, diminuído as
possibilidades de recuperação do paciente. Se a responsabilidade delitual pode continuar
a assimilar o âmbito de relevância problemática do caso, importa não esquecer – aceite
que seja uma ideia de concurso de fundamentos de uma mesma pretensão indemnizatória
– a viabilidade de se mobilizar, igualmente, a responsabilidade contratual.
Mas os problemas a equacionar não se esgotam neste elenco. O efeito exponencial dos
contágios, associado a uma letalidade ainda não totalmente definida, mas real, e à
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 277
paralisação da vida económica, pode determinar a emergência de danos puramente
patrimoniais. A, infetado com covid-19, força à paralisação da empresa x, que assim se
vê impossibilitada de fornecer determinadas matérias-primas, fundamentais para a
laboração da empresa y. Esta sofre avultados prejuízos, não havendo, contudo, lesão de
um direito absoluto. É, portanto, a categoria dos danos puramente patrimoniais que se
torna problemática.
Este simples exemplo motiva-nos duas considerações importantes.
Em primeiro lugar, a covid-19 pode ter impacto em sede de responsabilidade contratual.
Ao tornar-se impossível uma determinada prestação, por força das consequências
pandémicas, poder-se-á excluir a responsabilidade pela intervenção da ideia de caso de
força maior. Em rigor, não se chegará, nessas hipóteses abstratamente consideradas, a
verificar o incumprimento – na medida em que este seja indissociável da culpa,
assumindo-se que o modelo de responsabilidade consagrado nos artigos 798º e 799º CC
se baseia na faute –, gerando-se uma situação de impossibilidade de cumprimento não
imputável ao devedor, que conduzirá à extinção da obrigação, nos termos do artigo 790º
CC, ou, caso seja temporária, ao afastamento das consequência da mora, nos termos do
artigo 792º CC.
Em segundo lugar, a proliferação da epidemia, com a consequente paralisação de um país,
em termos económicos, sociais, religiosos, pode determinar uma magnitude de danos que,
ainda que se denote a lesão de direitos subjetivos absolutos ou interesses legalmente
protegidos (e repare-se que poderemos presenciar a lesão de outros direitos para além da
vida, saúde e integridade física, como a liberdade religiosa, a liberdade de movimentos,
a integridade moral, a integridade psíquica, etc.), escapando-se assim à problemática dos
danos puramente patrimoniais, desaconselha a intervenção da responsabilidade civil,
tanto quanto nos conduz a situações de hiper-responsabilidade. Dito de outro modo, a
responsabilidade civil não será apta a repor o equilíbrio quebrado em muitas situações.
Ela só poderá intervir quando o sujeito, como o seu comportamento, aumente o risco
conatural a uma pandemia, por um lado, e, por outro lado, deve ficar circunscrita ao
âmbito de proteção dos deveres preteridos, surjam eles por força do princípio da
responsabilidade pessoal (pelo outro), resultem eles de normas legais aplicáveis à
situação.
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 278
Violada a saúde ou a vida, haverá, contudo, uma série de danos – alguns referentes a
dimensões da pessoalidade consideradas nesta reflexão (a pessoa sofre por ter de estar
distante dos seus familiares e entes queridos, a pessoa fica privada do seu trabalho, a
pessoa fica privada do seu culto religioso, a pessoa sofre danos patrimoniais, etc) – que
se terão de reconduzir à lesão do direito, lidando-se, então, com o problema do
preenchimento da responsabilidade. Mas, na afirmação da responsabilidade, há que ser-
se especialmente cauteloso. É que, de outro modo, dois sujeitos em situações de vida
muito similares podem receber um tratamento diametralmente oposto. Pense-se na
hipótese em que A é contaminado, podendo responsabilizar-se B, mas não desenvolve
sintomas particularmente graves ou nem desenvolve sintomas; e na hipótese de C que,
não tendo sido contaminado, vê-se, não obstante, forçado aos mesmos constrangimentos,
fruto das medidas de contenção decretadas pelo Estado.
REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 2 - 2020 279
Você também pode gostar
- Simulado INSS 2022 - 123 PasseiDocumento26 páginasSimulado INSS 2022 - 123 PasseiMaria Júlia Fonseca Nascimento100% (1)
- A Teoria do Risco Integral na Responsabilidade Civil do EstadoDocumento16 páginasA Teoria do Risco Integral na Responsabilidade Civil do EstadoMarcos GonçalvesAinda não há avaliações
- Sistema de Gestão Ambiental na AgriculturaDocumento25 páginasSistema de Gestão Ambiental na AgriculturaRaquel V. M. Miranda100% (2)
- A CAUSALIDADE NA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADODocumento50 páginasA CAUSALIDADE NA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADOFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- Trabalho de Campo - D.A - 91210195Documento8 páginasTrabalho de Campo - D.A - 91210195Abacar JabirAinda não há avaliações
- Direito Privado - concepções jurídicas sobre o particular e o social: Volume 1No EverandDireito Privado - concepções jurídicas sobre o particular e o social: Volume 1Ainda não há avaliações
- 111-Texto Do Artigo-284-2-10-20210524Documento22 páginas111-Texto Do Artigo-284-2-10-20210524Mateus AlmeidaAinda não há avaliações
- Responsabilidade Civil do EstadoDocumento19 páginasResponsabilidade Civil do EstadoIdilson Alberto Massuanganhe Massuanganhe100% (1)
- Covid Estado ResponsabilidadeDocumento6 páginasCovid Estado ResponsabilidadeLeandro AugustoAinda não há avaliações
- Responsabilidade Civil Do Estado e A Denunciação Da Lide Ao Funcionário PúblicoDocumento15 páginasResponsabilidade Civil Do Estado e A Denunciação Da Lide Ao Funcionário PúblicoRogério GomesAinda não há avaliações
- 03 Responsabilidade Civil Do EstadoDocumento4 páginas03 Responsabilidade Civil Do EstadoAline RodriguesAinda não há avaliações
- 3866 371375488 1 PBDocumento15 páginas3866 371375488 1 PBIbn Santa RitaAinda não há avaliações
- Responsabilidade civil do Estado em caso de queda em bueiroDocumento14 páginasResponsabilidade civil do Estado em caso de queda em bueiroEllen NevesAinda não há avaliações
- Aula 12Documento52 páginasAula 12clebersonrobertoAinda não há avaliações
- Resp Civ Adm PúbDocumento4 páginasResp Civ Adm PúbAbacar JabirAinda não há avaliações
- Vii Responsabilidade Civil Do EstadoDocumento24 páginasVii Responsabilidade Civil Do EstadoNatan Lisboa SoaresAinda não há avaliações
- Aula 07 AdministrativoDocumento22 páginasAula 07 Administrativoquein3100% (2)
- Responsabilidade Civ. Do EstadoDocumento20 páginasResponsabilidade Civ. Do EstadoIsack SampaioAinda não há avaliações
- Estado e responsabilidade civil na COVIDDocumento18 páginasEstado e responsabilidade civil na COVIDCícero Dantas BisnetoAinda não há avaliações
- Responsabilidade Civil do Estado emDocumento10 páginasResponsabilidade Civil do Estado emLeticia LopesAinda não há avaliações
- Resp Civil. Aula 15. Resp Civil EstadoDocumento26 páginasResp Civil. Aula 15. Resp Civil EstadonuridiasleticiaAinda não há avaliações
- Alexandra Da Costa BarbosaDocumento41 páginasAlexandra Da Costa BarbosaTemos de TudoAinda não há avaliações
- Responsabilidade Civil Do EstadoDocumento4 páginasResponsabilidade Civil Do EstadoIsabela sanchesAinda não há avaliações
- Responsabilidade Civil Do EstadoDocumento5 páginasResponsabilidade Civil Do EstadoPedro WittelsbachAinda não há avaliações
- 8. Responsabilidade Civil do EstadoDocumento4 páginas8. Responsabilidade Civil do EstadojclaviejaAinda não há avaliações
- Fichamento Do Texto "A Responsabilidade Civil Pela Perda de Uma Chance No Direito Brasileiro"Documento3 páginasFichamento Do Texto "A Responsabilidade Civil Pela Perda de Uma Chance No Direito Brasileiro"Laís Leite0% (1)
- Trabalho de Campo - D.O - LurdesDocumento16 páginasTrabalho de Campo - D.O - LurdesJamal AmadeAinda não há avaliações
- 3Documento15 páginas3Enzo MuzikAinda não há avaliações
- Aula 17 - Responsabilidade Civil Do EstadoDocumento62 páginasAula 17 - Responsabilidade Civil Do EstadopauloAinda não há avaliações
- Responsabilidade Civil Do EstadoDocumento11 páginasResponsabilidade Civil Do EstadoIvana NicacioAinda não há avaliações
- Responsabilidade civil: origem e pressupostosDocumento13 páginasResponsabilidade civil: origem e pressupostosMiguel MPAinda não há avaliações
- Rev 630311 Responsabilidade Dano Ambiental Infra AdminDocumento10 páginasRev 630311 Responsabilidade Dano Ambiental Infra Adminmichael.atakiamaAinda não há avaliações
- Trabalho de Resposabilidade CivilDocumento10 páginasTrabalho de Resposabilidade CivilEdson NevesAinda não há avaliações
- Administrativo CyonilDocumento53 páginasAdministrativo CyonilAlan SantosAinda não há avaliações
- Responsabilidade Civil do Estado emDocumento25 páginasResponsabilidade Civil do Estado emCesar RonconiAinda não há avaliações
- 6.A Responsabilidade Civil Da Administração No Direito BrasileiroDocumento9 páginas6.A Responsabilidade Civil Da Administração No Direito BrasileiroGiovanni BritoAinda não há avaliações
- RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Reflexões A Partir Do Direito Fundamental À Boa Administração Pública. OLIVEIRA, Gustavo Justino.Documento13 páginasRESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Reflexões A Partir Do Direito Fundamental À Boa Administração Pública. OLIVEIRA, Gustavo Justino.Leandro AugustoAinda não há avaliações
- Direito Administrativo - Aula 4Documento40 páginasDireito Administrativo - Aula 4thayany sharonAinda não há avaliações
- Breve Reflexão Sobre Responsabilidade Civil Do Profissional FarmacêuticoDocumento18 páginasBreve Reflexão Sobre Responsabilidade Civil Do Profissional FarmacêuticoJorge CarlosAinda não há avaliações
- Responsabilidade Contratual e Extracontratual Do EstadoDocumento73 páginasResponsabilidade Contratual e Extracontratual Do Estadoapi-3840713100% (3)
- ADM 10 - A Responsabilidade Civil Do EstadoDocumento10 páginasADM 10 - A Responsabilidade Civil Do EstadoThiago SouzaAinda não há avaliações
- Aula 09 01 ResumoDocumento7 páginasAula 09 01 ResumoTanaina BrignolAinda não há avaliações
- Responsabilidade por facto de outrem: estruturas e sentidosDocumento13 páginasResponsabilidade por facto de outrem: estruturas e sentidoszemanel3Ainda não há avaliações
- A Aplicação Da Teoria Do Risco Nos Casos de Responsabilização Do Estado Por Danos Difusos e ColetivosDocumento21 páginasA Aplicação Da Teoria Do Risco Nos Casos de Responsabilização Do Estado Por Danos Difusos e Coletivoswirton wAinda não há avaliações
- Responsabilidade Civil Do Estado Completo 5e26Documento59 páginasResponsabilidade Civil Do Estado Completo 5e26brenda costaAinda não há avaliações
- Responsabilidade Civil do Estado emDocumento5 páginasResponsabilidade Civil do Estado emRayanne NathiellyAinda não há avaliações
- AULA 23 - 23.09.11 - Responsabilidade Civil Do EstadoDocumento10 páginasAULA 23 - 23.09.11 - Responsabilidade Civil Do EstadoJoaquim InativoAinda não há avaliações
- Responsabilidade civil da Administração Pública em MoçambiqueDocumento19 páginasResponsabilidade civil da Administração Pública em MoçambiqueGeraldo da Rosa SandramoAinda não há avaliações
- Responsabilidade Civil Do Estado (Livro)Documento47 páginasResponsabilidade Civil Do Estado (Livro)vanessaxbarrosAinda não há avaliações
- Responsabilidade Civil Do EstadoDocumento5 páginasResponsabilidade Civil Do EstadoRafael PereiraAinda não há avaliações
- Evolução da responsabilidade civil do EstadoDocumento11 páginasEvolução da responsabilidade civil do EstadoraylaniAinda não há avaliações
- Responsabilidade Pelo Risco/ Flávio ChimbundiDocumento66 páginasResponsabilidade Pelo Risco/ Flávio ChimbundiHamiltonAinda não há avaliações
- Responsabilidade Civil do Estado emDocumento11 páginasResponsabilidade Civil do Estado emrafael guilhermeAinda não há avaliações
- Responsabilidade Civil do Estado: evolução histórica e princípios geraisDocumento20 páginasResponsabilidade Civil do Estado: evolução histórica e princípios geraisMaurício Novela JúniorAinda não há avaliações
- Responsabilidade Do EstadoDocumento25 páginasResponsabilidade Do EstadoÉlis GonçalvesAinda não há avaliações
- Responsabilidade civil por danos de medidas de contenção da COVID-19Documento26 páginasResponsabilidade civil por danos de medidas de contenção da COVID-19Filippe OliveiraAinda não há avaliações
- Responsabilidade Civil Do EstadoDocumento42 páginasResponsabilidade Civil Do EstadoDeivison VieiraAinda não há avaliações
- 3º Estágio Dir. Admin.Documento29 páginas3º Estágio Dir. Admin.Tiago LealAinda não há avaliações
- Responsabilidade Tributaria Pessoas ColetivasDocumento7 páginasResponsabilidade Tributaria Pessoas ColetivassampaioemelojAinda não há avaliações
- Responsabilidade Civil: Evolução Histórica (Dano Moral)Documento27 páginasResponsabilidade Civil: Evolução Histórica (Dano Moral)Eloísa AssisAinda não há avaliações
- A Natureza Jurídica Da Responsabilidade Civil Do Estado Pela Demora Na Prestação JurisdicionalDocumento24 páginasA Natureza Jurídica Da Responsabilidade Civil Do Estado Pela Demora Na Prestação JurisdicionalIvanilton Mendes Andrade JuniorAinda não há avaliações
- Comparticipação nos delitos civisDocumento29 páginasComparticipação nos delitos civisFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- Comparticipação nos delitos civisDocumento29 páginasComparticipação nos delitos civisFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- TESE Final - Sónia PalmaDocumento140 páginasTESE Final - Sónia PalmaFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- Caderno 1 - Lex Medicinae 2018Documento85 páginasCaderno 1 - Lex Medicinae 2018Filippe OliveiraAinda não há avaliações
- Fiscalização Concreta Da Constitucionalidade de Normas de Regulamentosda União EuropeiaDocumento29 páginasFiscalização Concreta Da Constitucionalidade de Normas de Regulamentosda União EuropeiaFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira - A Natureza Jurídica Da Cláusula de Declarações e Garantias em Alienação de Participação Societária (2019)Documento116 páginasGREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira - A Natureza Jurídica Da Cláusula de Declarações e Garantias em Alienação de Participação Societária (2019)AlexandreAguilarAinda não há avaliações
- Letra de CâmbioDocumento54 páginasLetra de CâmbioFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- Artigo IMT para Estudo GeralDocumento14 páginasArtigo IMT para Estudo GeralFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- A Limitação Constitucional Do Défice-2Documento20 páginasA Limitação Constitucional Do Défice-2luamaltaAinda não há avaliações
- Informatica, Direito de Autor e Propriedade TecnodigitalDocumento863 páginasInformatica, Direito de Autor e Propriedade TecnodigitalFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- A privacidade na era da Internet das CoisasDocumento61 páginasA privacidade na era da Internet das CoisasFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- Responsabilidade civil no fornecimento de eletricidadeDocumento20 páginasResponsabilidade civil no fornecimento de eletricidadeFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- Fake news e fact-checkers: uma perspetiva jurídico-civilísticaDocumento34 páginasFake news e fact-checkers: uma perspetiva jurídico-civilísticaFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- A Cláusula de Reserva de Propriedade Na DirectivaDocumento70 páginasA Cláusula de Reserva de Propriedade Na DirectivaFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- Mariza nomeada Embaixadora da UNICEF PortugalDocumento2 páginasMariza nomeada Embaixadora da UNICEF PortugalFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- Globalização, Globalismo e DigitalismoDocumento42 páginasGlobalização, Globalismo e DigitalismoFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- ModelocontinenteDocumento6 páginasModelocontinenteFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- Modelos Convencionais de Regulação e Distribuição Do Risco Contratual. em Especial, As Cláusulas Hardship - Rui AtaídeDocumento22 páginasModelos Convencionais de Regulação e Distribuição Do Risco Contratual. em Especial, As Cláusulas Hardship - Rui AtaídeFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- Modelocontinente 2Documento7 páginasModelocontinente 2Filippe OliveiraAinda não há avaliações
- IntercambiorotaryDocumento2 páginasIntercambiorotaryFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- Fipaflash 63Documento2 páginasFipaflash 63Filippe OliveiraAinda não há avaliações
- SubsidiosDocumento4 páginasSubsidiosFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- Interpretação do artigo 1792o CC à luz dos princípios do casamentoDocumento54 páginasInterpretação do artigo 1792o CC à luz dos princípios do casamentoFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- W Paper13Documento41 páginasW Paper13Filippe OliveiraAinda não há avaliações
- Ind Jul05 BancoportDocumento18 páginasInd Jul05 BancoportFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- A Problemática Da Extensão Dos Direitos de Personalidade Às Pessoas Colectivas, Maxime, Às Sociedades ComerciaisDocumento22 páginasA Problemática Da Extensão Dos Direitos de Personalidade Às Pessoas Colectivas, Maxime, Às Sociedades ComerciaisFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- CodigoDocumento7 páginasCodigoFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- Responsabilidade Civil Por Violação Dos Deveres ConjugaisDocumento34 páginasResponsabilidade Civil Por Violação Dos Deveres ConjugaisFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- Assinatura InformaçãoDocumento4 páginasAssinatura InformaçãoFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- Passageiros e Bagagem - Reg889 - PTDocumento2 páginasPassageiros e Bagagem - Reg889 - PTFilippe OliveiraAinda não há avaliações
- Edital Verticalizado INSSDocumento23 páginasEdital Verticalizado INSSGilsonmar VianaAinda não há avaliações
- NF BaependiDocumento1 páginaNF BaependiRaphael TavaresAinda não há avaliações
- Resumo Obra Sexta FeiraDocumento3 páginasResumo Obra Sexta FeiraFilipa BatistaAinda não há avaliações
- História e música de SP: Banda da Força Pública 1890-1930Documento259 páginasHistória e música de SP: Banda da Força Pública 1890-1930eliezer da silva nascimentoAinda não há avaliações
- Bader Sawaia - ComunidadeDocumento11 páginasBader Sawaia - ComunidadeFabiane100% (1)
- Trabalho KriegsspielDocumento12 páginasTrabalho KriegsspielMister XreAinda não há avaliações
- Iptu - Hilario Marco 2024Documento1 páginaIptu - Hilario Marco 2024fabioanascimento.argentinaAinda não há avaliações
- Ética e Ciência: reflexões sobre o pensar científicoDocumento62 páginasÉtica e Ciência: reflexões sobre o pensar científicoMarcosCamargoAinda não há avaliações
- A Paixão de CristoDocumento2 páginasA Paixão de CristoIngrid BarbosaAinda não há avaliações
- Recibo de pagamento de boletoDocumento1 páginaRecibo de pagamento de boletoDaniel RibeiroAinda não há avaliações
- Inaugurada A Estrada de Marrere Na Cidade de Nampula - Wamphula FaxDocumento7 páginasInaugurada A Estrada de Marrere Na Cidade de Nampula - Wamphula FaxAtumane momade BraimoAinda não há avaliações
- Cultura em movimento: diferentes formas de narrar a experiência humanaDocumento26 páginasCultura em movimento: diferentes formas de narrar a experiência humanaEducador Ricardo67% (3)
- A Diferença Entre A Bíblia Católica e A ProtestanteDocumento2 páginasA Diferença Entre A Bíblia Católica e A ProtestanteJanaina GentilAinda não há avaliações
- Resultados Da 7 Jornada Do Campeonato Distrital Da AF Évora em FutsalDocumento3 páginasResultados Da 7 Jornada Do Campeonato Distrital Da AF Évora em FutsalalentejosporAinda não há avaliações
- OAB Estudo Direito Constitucional 1Documento10 páginasOAB Estudo Direito Constitucional 1procontabil eleiçoesAinda não há avaliações
- Atividade de português sobre sinônimos, antônimos e uso de porquêsDocumento3 páginasAtividade de português sobre sinônimos, antônimos e uso de porquêsshandler goncalvesAinda não há avaliações
- O Paraíso na Outra EsquinaDocumento217 páginasO Paraíso na Outra EsquinaFelipe Prestes BatistaAinda não há avaliações
- A formação do leitor e o papel do professorDocumento6 páginasA formação do leitor e o papel do professorSamuel CostaAinda não há avaliações
- As organizações vistas como máquinasDocumento5 páginasAs organizações vistas como máquinascassiAinda não há avaliações
- Datasheet - Gaxeta Termoceram 630 Teadit - Ancco VedaçõesDocumento1 páginaDatasheet - Gaxeta Termoceram 630 Teadit - Ancco VedaçõesAlan SantosAinda não há avaliações
- História do dinheiro no BrasilDocumento42 páginasHistória do dinheiro no Brasilcleusa pereiraAinda não há avaliações
- Artigo Leandro de Castro Tavares - Seminário Interno - Leandro Castro TavaresDocumento17 páginasArtigo Leandro de Castro Tavares - Seminário Interno - Leandro Castro TavaresLeandro Castro TavaresAinda não há avaliações
- Aprender CPS IFPR IHSDocumento33 páginasAprender CPS IFPR IHSJuliana Piccoli De Bastiani100% (1)
- Análise da produção de leite na Fazenda XandoqueDocumento4 páginasAnálise da produção de leite na Fazenda XandoqueIsis PrizonAinda não há avaliações
- Termo de Requerimento - RTDocumento3 páginasTermo de Requerimento - RTVitória FirmianoAinda não há avaliações
- Atividades escolares de Matemática e Língua PortuguesaDocumento39 páginasAtividades escolares de Matemática e Língua PortuguesaCaroline BritoAinda não há avaliações
- JP IdenirDocumento1 páginaJP Idenirdebora oliveiraAinda não há avaliações
- Retificação 01 Edital 10.2022 - Cead - UfpiDocumento2 páginasRetificação 01 Edital 10.2022 - Cead - UfpiMr. OtahAinda não há avaliações