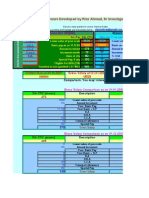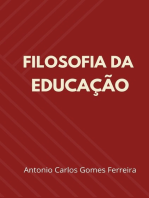Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
TextoComplementar PDF
TextoComplementar PDF
Enviado por
Sabrina AlmeidaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
TextoComplementar PDF
TextoComplementar PDF
Enviado por
Sabrina AlmeidaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FILOSOFIA E FORMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR
Marcos Antônio Lorieri*
Resumo.
Este texto tem como objetivo apresentar considerações que indiquem que o
estudo da Filosofia e o exercício do filosofar podem oferecer um valioso
aporte formativo aos futuros profissionais que cursam a Universidade. As
temáticas de que trata a Filosofia e a maneira como as aborda trazem, por si
mesmas, o seu conteúdo formativo.
Palavras-chave: Filosofia; formação; ensino superior.
Necessidade da Filosofia.
A Filosofia é uma necessidade porque é através dela que as pessoas podem
produzir, de uma forma reflexiva, crítica, metódica, abrangente e profunda, algum
significado, algum sentido, para suas existências, o que engloba produzir algum
significado ou sentido para a realidade de que fazem parte. E isso inclui produzir
significado ou sentido para suas ações, para o próprio esforço de busca de
conhecimentos, para sua atitude de dizer que algo é belo ou não belo, para o esforço de
dizer da “vida-com-os-outros” e da necessidade, ou não, da regulação de tal vida em
comum, etc..
Ao afirmar isso parte-se do pressuposto de que as pessoas necessitam de
sentidos ou significados para suas vidas.
As religiões são formas de conhecimento que oferecem sentidos ou
significados, mas não são produções que se oferecem a um exame reflexivo e crítico:
elas são doutrinas que pedem adesão pela fé e não pela compreensão a que chamamos
*
Docente e pesquisador no Programa de Pós-Graduação em Educação da UNINOVE, São Paulo.
Contatos: lorieri@sti.com.br.
Revista Páginas de Filosofia, v.2, n.1, p. 47-60, jan/jun 2010.
48 FILOSOFIA E FORMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR
de “racional”. Ainda que eu não julgue a atitude de fé uma atitude irracional. Há
argumentos racionais que podem, de alguma forma, justificar o ter fé.
Na atual situação histórica da humanidade, marcada pela maneira ocidental de
pensar a existência humana, de pensar a realidade em geral e as produções humanas
nela (a vida social, a organização do poder, as morais, os conhecimentos, as
manifestações artísticas, a linguagem, a própria História), os sentidos ou significados
hegemônicos têm sido “dados” pela produção filosófica. Quando uma produção
filosófica se torna hegemônica como “doadora de sentidos”, constitui-se como uma
ideologia. Exemplo marcante é a ideologia liberal: se observarmos bem é dentro dela e
“de dentro dela” que são veiculados os significados ou os sentidos para tudo o que se
refere à existência humana e à realidade na qual a mesma acontece. É uma “grande
referência”. Assim foi, também, a visão teológico-filosófica da Escolástica medieval.
Ora, se é verdade que as grandes referências de uma época como a nossa são
“dadas” por uma filosofia que se tornou ideologia, nada mais urgente e necessário, para
todas as pessoas, que uma compreensão desta mesma ideologia e a capacidade de
examiná-la reflexivamente, criticamente, metodicamente, profundamente; ou seja, à
maneira filosófica.
Ou as pessoas fazem esta análise e decidem se querem, ou não, tal “filosofia”,
ou outra, (seria possível não querer nenhuma?), ou elas a receberão “dada” por uma
imposição nada clara: a imposição possibilitada pela força da persuasão publicitário-
ideológica e possibilitada, mais ainda, pela falta de condições de análise filosófica à
qual as pessoas são condenadas. Não é permitido que as pessoas possam aprender a
filosofar. Não é permitido que as pessoas possam aprender a analisar “respostas”
Revista Páginas de Filosofia, v.2, n.1, p. 47-60, jan/jun 2010.
REVISTA PÁGINAS DE FILOSOFIA 49
filosóficas às questões de fundo e nem que as pessoas tomem e retomem essas
“questões de fundo”, sem as escamotear, e aprendam a colocá-las e recolocá-las cada
vez de forma melhor. Tudo isso precisa ser permitido. Tudo isso precisa acontecer
porque é uma necessidade participar da construção das referências que indicam
sentidos, ou direções para a vida das pessoas. Compete a cada um, somado sempre aos
outros, viver sua vida. Viver a vida implica em decidir pelos seus sentidos ou direções.
Implica, pois, em filosofar. Filosofar é um direito por ser uma necessidade.
Necessidade da Filosofia na formação do jovem universitário.
Filosofar se aprende. Os jovens de modo geral e os universitários em
particular, precisam e, por isso, têm o direito, de aprender a serem reflexivos, críticos,
rigorosos, radicais e abrangentes na análise das “questões de fundo” e na análise das
“respostas aprontadas” com que se defrontam no seu cultural.
Severino afirma que a presença da Filosofia na formação dos jovens
universitários é “uma exigência do processo formativo em geral e não de uma formação
específica, em particular.” (SEVERINO, 2006, p 1). Para isso, diz ele, é necessário
“partir de uma concepção muito clara do que vem a ser essa formação humana geral,
que deve estar envolvida em qualquer outra modalidade de formação técnico-
profissional e por ela pressuposta.” (Idem, ibidem.) Indica, a seguir, como concebe o
processo formativo de modo geral e, dentro dele, aponta características da formação
universitária.
Revista Páginas de Filosofia, v.2, n.1, p. 47-60, jan/jun 2010.
50 FILOSOFIA E FORMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR
Formação: “é processo do devir humano como devir humanizador, mediante o
qual o indivíduo natural devém um ser cultural, uma pessoa.” (Idem, ibidem). A
educação em geral e a educação escolarizada em particular é “uma mediação universal e
insubstituível dessa formação”. A escolarização em nível superior faz parte da
escolarização em geral e do processo formativo das pessoas e pode ser entendida assim,
segundo ele:
mediação intencional e sistemática de uma educação voltada para a
qualificação científica e técnica, com vistas à preparação de profissionais dos
diversos campos da atividade humana, incluindo daqueles profissionais que
vão se dedicar ao próprio exercício de construção e disseminação do
conhecimento científico. Prepara, então, os cientistas, os técnicos, os
especialistas, todos direcionados para atuar no universo da produção material,
no âmbito da vida social e na esfera da cultura simbólica, os três grandes
espaços em que se dão as práticas fundantes do existir humano. (SEVERINO,
2006, p. 2)
Mas, isso não esgota a necessidade formativa dos jovens universitários. Há
algo que é necessário para eles como seres humanos e a que se deve somar sua
formação científica e técnica. Este algo é o que Severino denomina de
“desenvolvimento ao máximo da sensibilidade ética e estética das pessoas, com vistas
ao delineamento do telos da vida e da própria educação, o que só pode ser feito graças a
uma profunda percepção da condição humana.” (Idem, p. 3) Em outros textos Severino
dirá também da necessidade de desenvolvimento da sensibilidade epistêmica.
Ora, desenvolver as sensibilidades epistêmica, ética, estética, política e
antropológica, esta última voltada à percepção da condição humana, nada mais é que
desenvolver-se com a ajuda da formação filosófica. Pois, como dito acima, responde a
uma exigência do processo formativo em geral. As pessoas têm necessidade, em sua
formação, de desenvolverem em si mesmas estas “sensibilidades”. Profissionais
Revista Páginas de Filosofia, v.2, n.1, p. 47-60, jan/jun 2010.
REVISTA PÁGINAS DE FILOSOFIA 51
formados em nível superior são pessoas que, com mais razão ainda, as devem ter
desenvolvidas.
Pensemos num profissional da área das engenharias. Mais especificamente um
engenheiro civil que deverá orientar a construção de residências. Deve, com certeza, ser
capaz de se perguntar pela segurança dos conhecimentos que utiliza (sensibilidade
epistêmica), pela honestidade na definição de ambientes nos quais pessoas irão morar
ou trabalhar (sensibilidade ética e antropológica), pelas condições de os edifícios serem
provocadores de sensações positivas quanto a diversas satisfações relacionadas ao gosto
(sensibilidade estética), na definição de padrões de moradia, por exemplo, que auxiliem
tanto no acesso das pessoas a este direito, quanto na facilidade de relações de boa
vizinhança entre os moradores (sensibilidade política).
Pensemos nestes mesmos aspectos em relação à formação de médicos. São
óbvias as implicações éticas desta formação. Mas, devem ser ressaltadas também as
implicações do desenvolvimento das demais sensibilidades. Não se pode pensar um
médico que não se preocupe com a segurança dos conhecimentos de que dispõe para
diagnosticar o que afeta a saúde das pessoas e para indicar, ou não, medicação. Como
não se pode pensar um médico que não seja sensível ao debate e aos melhores
encaminhamentos possíveis sobre o que significa respeito às pessoas e o que significa
ser uma pessoa. Ou às implicações políticas dos cuidados com a saúde e seu papel
diferenciado nesses cuidados.
Pensemos na formação dos advogados. Quanto de implicações não apenas
éticas, mas de implicações epistêmicas, antropológicas e políticas estão presentes na sua
atuação e, por conseguinte, devem estar presentes na sua formação. Há, por exemplo,
Revista Páginas de Filosofia, v.2, n.1, p. 47-60, jan/jun 2010.
52 FILOSOFIA E FORMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR
uma forte influência das referências epistêmicas positivistas no entendimento do direito
naquilo que se convencionou denominar de jus positivismo. Estas referências estão
presentes de maneira muito forte nos manuais de Introdução ao Direito que são
utilizados nos anos iniciais dos Cursos de Direito. Há análises e debates suficientes
capazes de esclarecer os futuros bacharéis em Direito sobre esta referência epistêmica
que acabará por rebater nas referências éticas do trabalho importantíssimo do
advogado?
Que dizer então dos cursos que se propõem formar educadores? Educadores,
por exemplo, de escolas, precisam ser sensíveis a muitíssimos aspectos que envolvem o
conhecimento (epistemologia), as regras do bom agir (moral e ética), o que significa
ajudar a formar pessoas (antropologia), as influências sociais e políticas na educação e,
por sua vez, as implicações sociais e políticas de toda ação educativa (filosofia social e
política) e a necessidade de uma boa formação estética para crianças e jovens.
Podemos pensar em todos os campos da atividade humana: todos, sem
exceção, exigem das pessoas que neles atuarão uma formação que implique o
desenvolvimento das sensibilidades mencionadas sob pena de a Universidade prestar-se
a formar sonâmbulos, no dizer de Hannah Arendt. Segundo ela, pessoas que não
pensam e refletem criticamente sobre o que ela denomina de perguntas irrespondíveis,
são pessoas que se tornam banais e que banalizam o mundo e as relações que nele se
estabelecem. São pessoas às quais faltam estas sensibilidades. Dentre elas a
sensibilidade epistêmica que é condição para as demais. Em A vida do espírito diz ela:
“Uma vida sem pensamento é totalmente possível, mas ela fracassa em fazer
desabrochar sua própria essência - ela não é apenas sem sentido; ela não é totalmente
Revista Páginas de Filosofia, v.2, n.1, p. 47-60, jan/jun 2010.
REVISTA PÁGINAS DE FILOSOFIA 53
viva. Homens que não pensam são como sonâmbulos.” (ARENDT, 1995, p. 143).
Pensamento, ainda segundo a autora, é a busca e a produção do significado, por sua vez
distinto do conhecimento que é o processo de busca e de produção de verdades. Sobre
esta distinção ela diz:
Quando distingo verdade e significado, conhecimento e pensamento, e
quando insisto na importância desta distinção, não quero negar a conexão
entre a busca de significado do pensamento e a busca da verdade do
conhecimento. Ao formular as irrespondíveis questões de significado, os
homens afirmam-se como seres que interrogam. Por trás de todas as questões
cognitivas para as quais os homens encontram respostas escondem-se as
questões irrespondíveis que parecem inteiramente vãs e que, desse modo,
sempre foram denunciadas. É bem provável que os homens - se viessem a
perder o apetite pelo significado que chamamos pensamento e deixassem de
formular questões irrespondíveis - perdessem não só a habilidade de produzir
aquelas coisas-pensamento a que chamamos obras de arte, como também a
capacidade de formular todas as questões respondíveis sobre as quais se
funda qualquer civilização. (idem, p. 48).
Ou seja, o pensar é fundamental para a vida humana e é necessário para todos,
mas possível de não acontecer a contento: é necessário cuidar para que aconteça. Deve
haver esforços que ajudem na sua realização. Pois, “homens que não pensam são como
sonâmbulos”. Sem a contribuição da Filosofia o desenvolvimento a contento da
capacidade de pensar pode não acontecer. A Universidade deve prover esta formação a
todos os profissionais que por ela passam, pois que, a educação universitária não pode
se restringir apenas á formação científica e técnica e, menos ainda, apenas à preparação
técnica dos futuros profissionais que atuarão na sociedade. Até porque nenhum
profissional atuará apenas como técnico: ele atuará como cidadão, como alguém que se
posiciona politicamente, esteticamente, antropologicamente, epistemologicamente,
eticamente.
Revista Páginas de Filosofia, v.2, n.1, p. 47-60, jan/jun 2010.
54 FILOSOFIA E FORMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR
Adorno (2003) já alertava para o fato de que “Os homens inclinam-se a
considerar a técnica como sendo algo em si mesma, um fim em si mesmo, uma força
própria, esquecendo-se que ela é a extensão do braço dos homens.” (ADORNO, 2003,
p. 132). Quando pensam assim tendem à sua supervalorização e esvaziamento dos
pressupostos humanizadores da ação humana e caem no que é denominado de
racionalidade instrumental. Esta racionalidade instrumental é a que levou os
engenheiros e técnicos a serviço do nazismo a projetarem “um sistema ferroviário para
conduzir as vítimas a Auschwitz com maior rapidez e fluência, (e) a esquecer (em) o
que acontece com estas vítimas em Auschwitz.” (ADORNO, 2003, p. 133). A
Universidade não pode querer que os profissionais formados por ela sejam desprovidos
da sensibilidade antropológica e ética que rebate necessariamente na sensibilidade
política.
Vivemos numa época em que se dá muito prestígio à informação. Mas temos
que saber utilizá-la: saber articular as informações; saber avaliar da sua veracidade;
saber da sua pertinência para os problemas que nos são postos pela vida.
Somos informados pelas ciências da natureza, pelos técnicos, pelos jornais,
por alguns programas de televisão... mas não há informação “filosófica”. (...)
... a filosofia é incompatível com as notícias e a informação é feita de
notícias. Muito bem, mas é só informação que buscamos para entendermos
melhor a nós mesmos e o que nos rodeia? (SAVATER, 2001, p. 5).
Com certeza não: precisamos das informações, mas precisamos saber articulá-
las para construir entendimentos, explicações e significados. Para tanto há necessidade
do trabalho do pensamento. Um trabalho que demanda certas qualidades: a reflexão, a
criticidade que inclui a problematização, o rigor, a profundidade, a contextualização. A
Filosofia ajuda nesta direção e é o grande espaço de construção, de preferência coletivo,
dos significados fundamentais para nossas vidas.
Revista Páginas de Filosofia, v.2, n.1, p. 47-60, jan/jun 2010.
REVISTA PÁGINAS DE FILOSOFIA 55
Sérgio Paulo Rouanet em artigo publicado no “Caderno Mais” do jornal a Folha
de São Paulo (2002) discute, dentre outros assuntos, a diferença entre informação e
conhecimento. Nele é dito que há uma dissimulação básica em “tratar informação e
conhecimento como se fossem sinônimos, o que implica redefinir a sociedade de
conhecimento como sociedade de informação”. (ROUANET, 2002, p. 14) Somos
bombardeados por uma multidão de informações e somos levados a reagir a elas
mecanicamente, como autômatos e não como pensadores autônomos. Citando Kurz, ele
alerta que “a informação dispensa o trabalho reflexivo que transformaria os conteúdos do
mundo exterior, devidamente processados por nosso aparelho psíquico, em verdadeiros
conhecimentos”. (Idem , ibidem).
A informação, por si mesma, não é ruim: pelo contrário, ela é fundamental. Sem
ela não há conhecimento. Este, na verdade, é uma elaboração significativa, organizada
com informações. Sem informações não há conhecimento. “Mas é este que é decisivo” e
não a pura informação. Talvez porque o conhecimento, diferentemente da pura
informação, questiona finalidades, questiona o uso de meios, coloca necessidades humanas
fundamentais acima de puros êxitos técnicos ou funcionais. Só que, para isso, um
conhecimento realmente humano, não pode ser um processamento de informações sem o
concurso da reflexão que é promovida de maneira especial pelas humanidades e, dentro
delas, pela Filosofia.
Finalmente, para que o conhecimento não se limite à ciência natural e à
técnica, o que daria traços odiosamente tecnocráticos ao novo modelo de
sociedade, transformando-a num paraíso de engenheiros e de analistas de
sistemas, é preciso dar uma ênfase idêntica a outros tipos de conhecimento,
como as ciências humanas, a filosofia e as humanidades. (Idem, p. 15).
Revista Páginas de Filosofia, v.2, n.1, p. 47-60, jan/jun 2010.
56 FILOSOFIA E FORMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR
Nada contra os engenheiros e os analistas de sistema bem formados na
perspectiva acima colocada. Tudo contra os profissionais de qualquer área que não tenham
esta boa formação.
Nenhum profissional será efetivamente em sua prática histórica, apenas um
técnico; ele será necessariamente um sujeito interpelado pela história, pela
sociedade, pela cultura e pela humanidade, devendo dar-lhes respostas que
vão muito além de seu desempenho puramente operacional no âmbito da
produção. (SEVERINO, 2006, p. 3)
Se faltar a boa formação aos profissionais formados em nível superior corremos
riscos de desumanização devido a este processo acelerado de tecnização e de
fragmentação da informação que tem sua fonte na tecnização e na fragmentação da própria
vida ou da maneira como a produzimos. O convite ao pensamento que interliga e que
produz referências amplas e que as avalia constantemente é apanágio do filosofar. Este
filosofar é uma necessidade da humanização: ou da formação humana. A educação não
pode ficar alheia a ela. É esta a proposta de Severino. Ele argumenta que se a educação
procura passar conhecimentos, valores, normas de conduta, etc., só faz sentido se forem
apresentadas, para tudo isto, justificativas que possam ser assimiladas compreensivamente
pelos estudantes. No tocante, por exemplo, aos conhecimentos ele diz:
Assim, se os conhecimentos científicos nos ajudam a entender as coisas, são
os conhecimentos filosóficos que nos ajudam a compreendê-las, ou seja, a
situá-las no conjunto de sentidos que norteiam a existência humana, a
atribuir-lhes um sentido articulado numa rede maior de sentidos dessa
existência, em sua complexa condição de unidade e de totalidade.
(SEVERINO, 2002, p. 189).
Revista Páginas de Filosofia, v.2, n.1, p. 47-60, jan/jun 2010.
REVISTA PÁGINAS DE FILOSOFIA 57
Gallo e Kohan apontam na mesma direção ao indicarem o “para quê” da
filosofia. Este “para quê” “envolve a dimensão do sentido”. (...) “A filosofia contribui para
se manter aberta e sempre presente a pergunta pelo sentido de como vivemos e do que
fazemos (LARROSA, 1994:80). Essa é sua função social principal.” (GALLO E KOHAN,
2000, p. 188-189).
Estes autores apontam que a filosofia é necessária numa educação que se propõe
ajudar a formar pessoas autônomas, como o reclama Rouanet. Só podem ser pessoas
autônomas aquelas que tenham passado por experiências de pensamento crítico, radical e
criativo. Daí que
... é importante que todo jovem, ao ter contato com a filosofia, possa
desenvolver experiências de pensamento, aprendendo a reconhecer e a
produzir, em seu nível, conceitos, a fazer a experiência da crítica e da
radicalidade sobre a sua própria vida, a desenvolver uma atitude dialógica
frente ao outro e ao mundo e, fundamentalmente, possa aprender uma atitude
interrogativa frente ao mundo e a si mesmo.
Pensamos que uma educação para a autonomia, no sentido da formação de
indivíduos que possam escolher por si mesmos em que mundo querem viver,
só pode ser tal se nela tiver lugar a filosofia. (GALLO E KOHAN, 2000, p.
195).
Por todas essas razões pode-se ver e justificar a necessidade da Filosofia na
formação dos jovens no ensino superior: “A justificativa da necessidade da filosofia no
ensino superior encontra-se nessa finalidade intrínseca da educação como formação
integral das pessoas, à vista de seus compromissos com a própria humanidade”.
(SEVERINO, 2006, p. 4).
Dados da realidade mundial, colhidos pela UNESCO já neste Século XXI,
numa grande enquete feita junto a Universidades de quase todos os países, inclusive o
Brasil, apontam que há um quase consenso a respeito da necessidade da presença da
Revista Páginas de Filosofia, v.2, n.1, p. 47-60, jan/jun 2010.
58 FILOSOFIA E FORMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR
Filosofia nos cursos superiores. A enquete não se restringiu ao ensino superior. Buscou
ver a presença da Filosofia em todos os níveis de ensino escolar. Seus resultados estão
apresentados em uma publicação da UNESCO que tem como título “La Philosophie:
une école de la liberté. Enseignement de la philosophie et apprentissage du philosopher:
État des lieux et regards pour l’avenir” e pode ser acessado em
http://unesdoc.unesco.org No Capítulo sobre a presença da Filosofia no ensino superior
é dito o seguinte:
No nível do ensino superior porta-se muito bem e está presente de maneira
generalizada: disciplinas sob a denominação de “filosofia” são ensinadas
quase que em todos os lugares. Das pessoas que responderam o questionário
somente 12 disseram que a Filosofia não figura como disciplina específica no
ensino superior em seus países. São eles: África do Sul, Burundi, El
Salvador, Emirados Árabes Unidos, Guiana, Irlanda, Jordânia, Mônaco,
Uganda, Venezuela e Vietnan. (Burkina Faso). (Tradução livre nossa).
Mesmo assim, ressalta o relatório, nesses países há o ensino de conteúdos de
Filosofia com outras denominações. Ou seja, sua presença é praticamente total no
ensino superior no mundo. O que indica o reconhecimento de sua importância na
formação dos jovens que demandam este nível de educação. Acresça-se a isso o fato de
70% dos que responderam o questionário terem afirmado que não vêem ameaças de
redução da duração deste ensino e que 85% excluem qualquer risco de supressão do
mesmo. E a análise conclui: “apesar de certas dificuldades, a Filosofia na Universidade
é percebida como sólida e estável e apenas em alguns casos particulares é vista como
ameaçada por políticas ministeriais ou acadêmicas.”
Esta pesquisa da UNESCO e os dados do relatório publicado trazem-nos bons
elementos para reflexão. Um deles é a constatação da importância dada por esta
organização internacional ao ensino da Filosofia em geral e, em particular, ao seu
Revista Páginas de Filosofia, v.2, n.1, p. 47-60, jan/jun 2010.
REVISTA PÁGINAS DE FILOSOFIA 59
ensino na Universidade. Em segundo lugar a constatação do reconhecimento da
importância da Filosofia na formação dos jovens universitários em praticamente todos
os países do mundo. Mas, o documento não deixa de mencionar uma preocupação: com
o entendimento do papel da Filosofia nessa formação o que passa por duas outras
preocupações. A preocupação com os conteúdos que são trabalhados no ensino da
Filosofia e com a forma como são trabalhados que envolve, por sua vez, o entendimento
do que seja Filosofia e do que seja formação filosófica das pessoas. Há sempre grandes
questões envolvendo a Filosofia. Cabe-nos não temê-las e não nos deixar intimidar
pelos perigos de políticas ministeriais e acadêmicas, como mencionado no relatório da
UNESCO. Cabe-nos continuar os diálogos a respeito da necessária formação filosófica
de todas as pessoas e da melhor maneira de a oferecermos no Ensino Superior. Este é
um desafio, de certa forma novo, aos Departamentos de Filosofia de todas as
Universidades.
Bibliografia.
ADORNO, T. W. Educação e emancipação. Trad. Wolfgang Leo Maar. 3ªed. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 2003.
ARENDT, Hanna. A vida do espírito. 3ª. ed. Trad. Antônio Abranches, César Augusto
M. de Almeida, Helena Martins. Rio de Janeiro: Relume Dumará,1995.
CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. São Paulo. Ática, 1994.
GALLO, S. e KOHAN, W. O. Filosofia no Ensino Médio. Petrópolis. Vozes, 2000.
GOUCHA, Moufida. La Philosophie: une école de la liberté. Enseignement de la
philosophie et apprentissage du philosopher: État des lieux et regards pour l’avenir.
Paris: UNESCO, 2007. Acesso internet: http://unesdoc.unesco.org
LORIERI, M. A. Filosofia: fundamentos e métodos. São Paulo. Cortez, 2002.
Revista Páginas de Filosofia, v.2, n.1, p. 47-60, jan/jun 2010.
60 FILOSOFIA E FORMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR
ROUANET, S.P. Fato, Ideologia,Utopia. In: Folha de São Paulo: Caderno Mais. São
Paulo, 24/03/2002, p. 14-15.
SAVATER, F. As perguntas da vida. Trad.: Monica Stahel. São Paulo. Martins Fontes,
2001.
SEVERINO, A. J. A filosofia na formação do jovem e a ressignificação de sua
experiência existencial. In: KOHAN, W. Ensino de filosofia: perspectivas. Belo
Horizonte. Autêntica, 2002, p. 183-194.
___________ A razão de ser da filosofia no ensino superior. In: Anais do XIII ENDIPE.
Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2006.
Revista Páginas de Filosofia, v.2, n.1, p. 47-60, jan/jun 2010.
Você também pode gostar
- TCC Faveni - Fabiano NevesDocumento21 páginasTCC Faveni - Fabiano NevesJuliana Costa Silva100% (1)
- 6th Central Pay Commission Salary CalculatorDocumento15 páginas6th Central Pay Commission Salary Calculatorrakhonde100% (436)
- APOSTILA ARTE 3º Ano - 1º BimDocumento7 páginasAPOSTILA ARTE 3º Ano - 1º Bimlindisay100% (1)
- Tde - FilosofiaDocumento4 páginasTde - FilosofiaMaria EduardaAinda não há avaliações
- Filosofia no Ensino Superior - 20 fevDocumento4 páginasFilosofia no Ensino Superior - 20 fevKLIMBERT SOUZAAinda não há avaliações
- CBC FilosofiaDocumento37 páginasCBC FilosofiaFábio CoimbraAinda não há avaliações
- Documento (2) (1) TCC Fil e SocDocumento12 páginasDocumento (2) (1) TCC Fil e Socfernandanerisrcc12345Ainda não há avaliações
- Módulo R2 de FilosofiaDocumento34 páginasMódulo R2 de FilosofiaangelapratesAinda não há avaliações
- Filosofia Ens. MédioDocumento15 páginasFilosofia Ens. MédioSelma DigitadoraAinda não há avaliações
- Filosofia Da EducaçãoDocumento36 páginasFilosofia Da EducaçãoFlavia LeandraAinda não há avaliações
- Ciclo 2Documento12 páginasCiclo 2Amanda R. TillmannAinda não há avaliações
- Material de ApoioDocumento11 páginasMaterial de ApoioVanessa NunesAinda não há avaliações
- Baeta Psicologia e Educacao Profa Yara Marconi 31-03-2012Documento72 páginasBaeta Psicologia e Educacao Profa Yara Marconi 31-03-2012caarolme100% (1)
- Milena Bessa Costa UFPADocumento13 páginasMilena Bessa Costa UFPAapi-3720110100% (1)
- Fiolosofia EDU UN03 00 22-04-2015Documento25 páginasFiolosofia EDU UN03 00 22-04-2015William PimentelAinda não há avaliações
- A Importância Do Ensino Da Filosofia em Nossas VidasDocumento10 páginasA Importância Do Ensino Da Filosofia em Nossas VidasPaulo LalesAinda não há avaliações
- Filosofia No Brasil Antonio Joaquim SeveDocumento10 páginasFilosofia No Brasil Antonio Joaquim SeveNicole MachadoAinda não há avaliações
- Potência Libertária Do EstudoDocumento36 páginasPotência Libertária Do EstudocirobezerraAinda não há avaliações
- PPC FilosofiaDocumento10 páginasPPC FilosofiaMAYKON WILLIAM DA SILVA RODRIGUESAinda não há avaliações
- Portfólio Ensino Na SaúdeDocumento37 páginasPortfólio Ensino Na SaúdeAngelo BritoAinda não há avaliações
- 1 2 3 MergedDocumento63 páginas1 2 3 Mergedjosecarlosxavierr2023Ainda não há avaliações
- Fundamentos Filosóficos Da Educação - Módulo IDocumento23 páginasFundamentos Filosóficos Da Educação - Módulo Ijosecarlosxavierr2023Ainda não há avaliações
- A Formação Do Si Mesmo e A Mestria Socrárica em Pierre HadotDocumento18 páginasA Formação Do Si Mesmo e A Mestria Socrárica em Pierre HadotVitor Hugo SchmitzAinda não há avaliações
- Estudo PPP IdalinaDocumento4 páginasEstudo PPP IdalinaValquíria Dourado MontalvãoAinda não há avaliações
- Psicologia e Educaçao Apostila Escola PreparatoriaDocumento69 páginasPsicologia e Educaçao Apostila Escola PreparatoriaBárbara MelloAinda não há avaliações
- A Importância Da Filosofia Na Formação Do Educador - Pesquisa de CampoDocumento16 páginasA Importância Da Filosofia Na Formação Do Educador - Pesquisa de CampoAna Maria dos SantosAinda não há avaliações
- Filosofia Da Educação BrasileiraDocumento16 páginasFilosofia Da Educação Brasileiraprofjonex100% (7)
- Sociologia Filosofia e EticaDocumento196 páginasSociologia Filosofia e EticaJunior CorrêaAinda não há avaliações
- Apontamentos de Filosofia da Educacao 2020-1Documento32 páginasApontamentos de Filosofia da Educacao 2020-1Grupo ChibaAinda não há avaliações
- Filosofia e Ética - EbookDocumento140 páginasFilosofia e Ética - EbookDaniel OliveiraAinda não há avaliações
- O Ensino De Filosofia: O Problema Politico No Contrato Social De RousseauNo EverandO Ensino De Filosofia: O Problema Politico No Contrato Social De RousseauAinda não há avaliações
- 3 - Metodologia CientíficaDocumento14 páginas3 - Metodologia CientíficaRenata FerreiraAinda não há avaliações
- Sobre Boécio Da PatristicaDocumento22 páginasSobre Boécio Da PatristicaRenan OAAinda não há avaliações
- TCC Filosofia Da EducaçaoDocumento25 páginasTCC Filosofia Da EducaçaoDiáconoAntonioMarcosAinda não há avaliações
- TCC CLEBERSON EditadoDocumento15 páginasTCC CLEBERSON EditadoCLEBERSON SILVAAinda não há avaliações
- Aula Não Presencial # Relação Entre A Educação e A FilosofiaDocumento3 páginasAula Não Presencial # Relação Entre A Educação e A FilosofiananacardozoAinda não há avaliações
- Mitos e EducaçãoDocumento24 páginasMitos e Educaçãonijox32625Ainda não há avaliações
- Artigo Científico - Filosofia e ÉticaDocumento8 páginasArtigo Científico - Filosofia e Éticaeng.gustavobritesAinda não há avaliações
- Reflexão Do Texto A Filosofia, o Filosofar e A Filosofia Da EducaçãoDocumento4 páginasReflexão Do Texto A Filosofia, o Filosofar e A Filosofia Da EducaçãoEmerson AlvesAinda não há avaliações
- Módolo de Filosofia Da EducaçãoDocumento67 páginasMódolo de Filosofia Da EducaçãoSinélcio SamuelAinda não há avaliações
- Zacaias AntropologiaDocumento4 páginasZacaias AntropologiaHelfas SamuelAinda não há avaliações
- Filósofos e EducaçãoDocumento54 páginasFilósofos e EducaçãoSwanson AbreuAinda não há avaliações
- A Legitimidade das Ciências da Educação: A Investigação Científica e o Pensamento Humanitário nas Mudanças Educativas e SociaisNo EverandA Legitimidade das Ciências da Educação: A Investigação Científica e o Pensamento Humanitário nas Mudanças Educativas e SociaisAinda não há avaliações
- Filosofia Educação Elucidações Conceituais e Articulações.Documento13 páginasFilosofia Educação Elucidações Conceituais e Articulações.Priscila AbadeAinda não há avaliações
- Aula 02 - Filosofia Da EducaçãoDocumento28 páginasAula 02 - Filosofia Da EducaçãoAngelo Ribeiro FroesAinda não há avaliações
- Apostilas de Filosifia Da EducacaoDocumento104 páginasApostilas de Filosifia Da EducacaoRosely Modesto100% (2)
- PPC Filosofia 2022Documento27 páginasPPC Filosofia 2022MAYKON WILLIAM DA SILVA RODRIGUESAinda não há avaliações
- 1-Apostila Teórica de Metodologia CientíficaDocumento19 páginas1-Apostila Teórica de Metodologia CientíficasidAinda não há avaliações
- Lorieri Filosofia Na Educac3a7c3a3o Bc3a1sica 2010 PDFDocumento7 páginasLorieri Filosofia Na Educac3a7c3a3o Bc3a1sica 2010 PDFThiago RodriguesAinda não há avaliações
- Filosofia Da Educacao-Texto-1.1Documento19 páginasFilosofia Da Educacao-Texto-1.1Germano CossaAinda não há avaliações
- PDF Fundamentos Filosófico UniDocumento22 páginasPDF Fundamentos Filosófico UniKelinha SaturnoAinda não há avaliações
- Filosofia Da Educacao PDFDocumento59 páginasFilosofia Da Educacao PDFthyago noronhaAinda não há avaliações
- Personalismo Como Filosofia de La EducacionDocumento10 páginasPersonalismo Como Filosofia de La EducacionFranlorenAinda não há avaliações
- Praticas de Ensino em Humanidades A Partir Da FilosofiaDocumento8 páginasPraticas de Ensino em Humanidades A Partir Da FilosofiaPriscila BaratelaAinda não há avaliações
- LP Filosofia Aula1Documento15 páginasLP Filosofia Aula1FernandoCosta8Ainda não há avaliações
- Filosofia Aplicada A EducaçãoDocumento53 páginasFilosofia Aplicada A EducaçãoJassiara QueirozAinda não há avaliações
- Capítulo 2 - HEDocumento38 páginasCapítulo 2 - HERaquel MaschmannAinda não há avaliações
- FASICULO Tema-1. Ped Geral. 1º Ano. Cursos de Quím e Geog. Nov 2021Documento6 páginasFASICULO Tema-1. Ped Geral. 1º Ano. Cursos de Quím e Geog. Nov 2021israelarmindo7Ainda não há avaliações
- Filosofia, Exercicio Do Filosofar e Prática Educativa PDFDocumento10 páginasFilosofia, Exercicio Do Filosofar e Prática Educativa PDFMilene LimaAinda não há avaliações
- Herois Do Clima 4 23Documento20 páginasHerois Do Clima 4 23lindisayAinda não há avaliações
- 17387-Texto Do Artigo-73457-1-10-20171003Documento26 páginas17387-Texto Do Artigo-73457-1-10-20171003lindisayAinda não há avaliações
- Resenha LuckesiDocumento7 páginasResenha Luckesilindisay100% (1)
- O Curso de Pedagogia No BrasilDocumento20 páginasO Curso de Pedagogia No BrasillindisayAinda não há avaliações
- 819 3285 2 PBDocumento9 páginas819 3285 2 PBlindisayAinda não há avaliações
- Trabalho Docente Sob Fogo CruzadoDocumento264 páginasTrabalho Docente Sob Fogo CruzadolindisayAinda não há avaliações
- Avaliação Concepção Dialética-Libertadora Do Processo de Avaliação EscolarDocumento8 páginasAvaliação Concepção Dialética-Libertadora Do Processo de Avaliação EscolarlindisayAinda não há avaliações
- Metodologia CientíficaDocumento358 páginasMetodologia CientíficaSandra M. FankAinda não há avaliações
- DIDÁTICA DA MATEMÁTICA EspecializaçãoDocumento108 páginasDIDÁTICA DA MATEMÁTICA EspecializaçãoJean NascimentoAinda não há avaliações
- Direito EfolioADocumento5 páginasDireito EfolioAEsmeralda ToméAinda não há avaliações
- TCC O Poder Da Persuasão Da Propaganda No Comportamento de Compra Do Consumidor 10-11Documento5 páginasTCC O Poder Da Persuasão Da Propaganda No Comportamento de Compra Do Consumidor 10-11nathanaugustorodrigues9Ainda não há avaliações
- Cultura Digital - ConteúdoDocumento2 páginasCultura Digital - ConteúdoTainara Luana WeiandAinda não há avaliações
- Artigo 3 - Os Desafios de Desenvolver-Se Na Era DigitalDocumento7 páginasArtigo 3 - Os Desafios de Desenvolver-Se Na Era DigitalCharlisson MendesAinda não há avaliações
- A Didatica Dos Campos de ExperienciaDocumento6 páginasA Didatica Dos Campos de ExperienciaStephanie RMMAinda não há avaliações
- Apresentação Centurium ProduçãoDocumento37 páginasApresentação Centurium ProduçãoJorge ReisAinda não há avaliações
- Artigo Parâmetros Psicométricos Do Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test - MSCEITDocumento9 páginasArtigo Parâmetros Psicométricos Do Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test - MSCEITJuliannaAinda não há avaliações
- APENAS RESENHA Conceitos e TemasDocumento11 páginasAPENAS RESENHA Conceitos e TemasNatália SilvaAinda não há avaliações
- Efeitos Da Supressão de Rituais Fúnebres Durante A Pandemia de COVID-19 em Familiares EnlutadosDocumento9 páginasEfeitos Da Supressão de Rituais Fúnebres Durante A Pandemia de COVID-19 em Familiares EnlutadosGabriela MullerAinda não há avaliações
- Resultado PosComp 2017Documento3 páginasResultado PosComp 2017Vinicius AndradeAinda não há avaliações
- 000642879Documento133 páginas000642879D. Cavalcanti - Design GráficoAinda não há avaliações
- 14 - Gestão Da MudançaDocumento3 páginas14 - Gestão Da MudançaPaula A MarquesAinda não há avaliações
- The ACT Matrix Wilson Kelly G Polk KevinDocumento281 páginasThe ACT Matrix Wilson Kelly G Polk KevinBreno NegreirosAinda não há avaliações
- Vetinho EstagioDocumento28 páginasVetinho EstagioVetinho Patrício RaimundoAinda não há avaliações
- Educação Infantil - BNCCDocumento5 páginasEducação Infantil - BNCCGabriela AraújoAinda não há avaliações
- Historia Da Memoria Local 01 OkDocumento31 páginasHistoria Da Memoria Local 01 OkJailson SilvaAinda não há avaliações
- Ficha Resumo Nee 2Documento7 páginasFicha Resumo Nee 2Rangel Goque KlausAinda não há avaliações
- SlidesDocumento49 páginasSlidesKesia L.100% (2)
- Cruzadinha Indústria CulturalDocumento1 páginaCruzadinha Indústria CulturalCristiani Favoretti100% (1)
- Roteiro TRILHAS - ANUAL 2º Ano CNTDocumento6 páginasRoteiro TRILHAS - ANUAL 2º Ano CNTWesley NogueiraAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Humano No Século XXIDocumento49 páginasDesenvolvimento Humano No Século XXIgestevamdiasAinda não há avaliações
- Aula 3 - Apresentação Da 3 AulaDocumento1 páginaAula 3 - Apresentação Da 3 AulaBruno Henrique Gomes da SilvaAinda não há avaliações
- Ebook Andrea Knabem Ryqr1lDocumento392 páginasEbook Andrea Knabem Ryqr1lPat Egg SerraAinda não há avaliações
- 10 - SEDIEF - PDF OP 05Documento4 páginas10 - SEDIEF - PDF OP 05Marivalda CastroAinda não há avaliações
- Matematica e Musica PDFDocumento4 páginasMatematica e Musica PDFCarolina EndiAinda não há avaliações
- Horário e Local Da ProvaDocumento26 páginasHorário e Local Da ProvaCaio VictorAinda não há avaliações
- Performance Uma Intr - CritícaDocumento138 páginasPerformance Uma Intr - CritícaArthur JungstedtAinda não há avaliações
- 1 APOL 1 SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL 100 - Passei DiretoDocumento14 páginas1 APOL 1 SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL 100 - Passei Diretodiego FeraAinda não há avaliações