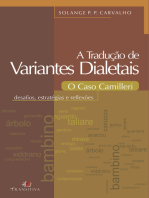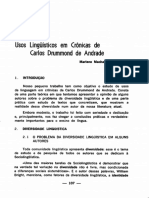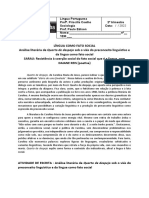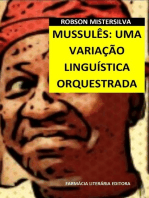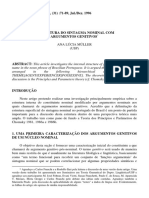Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
9 Revisao Trad Compl 1
Enviado por
Marcos LisboaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
9 Revisao Trad Compl 1
Enviado por
Marcos LisboaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Algumas reflexões sobre a ética na tradução
Lenita Maria Rimoli Esteves1
1
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – Universidade de São Paulo (USP)
São Paulo– SP – Brasil
leries@uol.com.br
Resumo. Este trabalho apresenta reflexões geradas a partir de uma situação
real em que a questão da representação de variantes dialetais em traduções
estava em discussão. O principal intuito é não só abordar essa delicada
questão, mas também enfatizar que ela é muito mais delicada do que
geralmente se pensa. Além de várias concepções equivocadas que costumam
rondar a discussão, fica patente a existência de uma enorme carga afetiva no
trato com a língua e suas variantes, sejam ou não elas consideradas desvios
da norma padrão.Pretende-se argumentar que o descontentamento gerado por
essas representações é muito mais fruto dessa carga afetiva do que - como em
geral se supõe - de uma incompetência técnica da descrição lingüística.
Palavras-chave. Tradução literária; ética; variações dialetais;
sociolingüística.
Abstract. This paper presents some reflections generated by a real situation in
which the issue of representing dialectal variants in translations was being
discussed. The main objective is not only to approach this delicate issue, but
also to highlight that it is much more delicate than we generally think.
Besides the several misconceptions that cloud the discussion, there is an
undeniable affective load when we deal with language and its variants,
whether or not they are considered to be a deviation from the norm. This
paper argues that the dissatisfaction generated by these representations is
mainly due to this affective load rather than to – as is generally supposed – a
technical incompetence of the linguistic description.
Keywords. Literary translation; ethics; dialectal variants; sociolinguistics
1. Introdução
Este trabalho apresenta reflexões geradas por uma situação real, quando se
apresentava um trabalho sobre variações dialetais e traduções. A apresentação
específica tratava da tradução de um romance inglês do século XIX em que um dos
personagens usava uma variante dialetal diferente do inglês padrão. Essa forma
diferente de falar, devidamente contextualizada dentro do enredo, contribuía para
caracterizar o personagem como uma pessoa humilde, cujo falar identificava uma
determinada região da Inglaterra. A apresentadora mostrava como em várias traduções
do mesmo romance para o português essa diferença lingüística havia sido apagada,
homogeneizada completamente. O mesmo personagem, nas traduções, usava uma
variante do português que podia ser identificada com a norma culta. Isso mudava, até
certo ponto, a própria caracterização do personagem na obra, que talvez figurasse com
trejeitos lingüísticos menos localizados e diferenciados.
Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 340-344 2005. [ 340 / 344 ]
A apresentadora então discutia como fazer uma tradução que incorporasse essa
diferença lingüística, principalmente levando-se em conta que, para que houvesse uma
correspondência no texto em português, o personagem deveria ser identificado com
alguma região específica. E aí complicava-se a questão. Com uma região brasileira?
Caso a tradução fosse levar em conta e tentar reproduzir a diferença regional da fala do
tal personagem, como fazer isso em português? Que região do país poderia ser
escolhida? Qual falar brasileiro ficaria mais adequado/menos estranho nessa
caracterização: o caipira de São Paulo? O gaúcho? O nordestino?
Houve então uma imediata e intempestiva reação de um dos presentes que,
identificando-se como nordestino, protestou contra o preconceito que, segundo ele,
estaria embutido na fala e na própria pesquisa da apresentadora do trabalho, pois, “nas
entrelinhas”, ela estava alinhando ou igualando o nordestino a pessoas pobres, humildes
e sem cultura.
Pouco efeito surtiu a tentativa da apresentadora de dizer que, no seu caso, o
nordestino havia sido citado como exemplo, junto com outros tipos “locais” brasileiros,
e o exemplo era trazido apenas para iluminar a dimensão do falar regional. O ouvinte,
visivelmente inflamado, já não escutava mais, e avançava em um ataque furioso contra
as novelas da Rede Globo e várias outras obras que circulam na mídia e trazem sempre
a figura do nordestino com características inferiores e depreciativas. Ficou claro que as
duas partes não conseguiam comunicar-se e a discussão não levou a lugar nenhum.
Mesmo assim, a situação põe a descoberto a delicada questão da representação
do discurso de um “outro”, um “diferente”, uma pessoa (fictícia ou real) que pertence ao
grupo do “eles”. No acontecimento relatado, a pessoa na platéia estava na verdade
protestando porque se sentia colocada no grupo do “eles” e por isso percebia uma forma
de exclusão. Sentindo-se assim colocada no grupo dos “outros”, a pessoa reclamava da
representação feita, julgando-a caricata e irreal. É nesse ponto justamente que devemos
parar e refletir mais a fundo sobre a questão.
Não é de hoje que tradutores deparam com o problema de lidar com uma
variante lingüística não padrão em seu trabalho. E também se sabe que, em geral, o
tradutor opta por não reproduzir a diferença, nivelando os discursos e, talvez, tentando
caracterizar a diferença que na obra se manifesta por outros meios que não o da
representação da fala. O fato de essa opção ser a mais freqüentemente observada indica,
entre muitas outras coisas, a dificuldade de resolver o problema.
Entre os teóricos da tradução que abordam a questão, cito John Milton que, em
seu O Clube do livro e a tradução, afirma que a tendência no mercado editorial
brasileiro é homogeneizar as diferenças de registros lingüísticos, apesar de existirem
alguns romances nacionais que trazem essas diferenças (Milton 2002:52-9). As razões
dessa tendência dominante, segundo o autor, são várias, estando entre elas uma visão
essencialista da linguagem, segundo a qual o importante é a mensagem veiculada pelo
personagem e não o modo como ele a veicula. Atrelada a essa visão essencialista está a
concepção de que o uso da gíria é errado (idem).
Investigando razões “especificamente brasileiras”, Milton cita o atraso no
desenvolvimento nos estudos lingüísticos acerca dos falares brasileiros não
considerados padrão, além da visão conservadora da classe média, que domina o
mercado editorial. (Idem). Num ambiente assim, o tradutor não é livre para escolher
como traduzir, e muitas vezes não tem tempo nem disponibilidade para fazer uma
tradução mais cuidada:
Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 340-344 2005. [ 341 / 344 ]
Creio que as normas culturais e editoriais cumprem um grande papel na
aceitação ou não do uso de dialeto na tradução. Na Alemanha, espera-se que os
tradutores de romances encontrem uma linguagem equivalente. No Brasil, não.
Se eles o fazem, podem esbarrar na possibilidade de o editor não permitir que
ela passe. ...
Sou levado a acreditar, também, que muitos tradutores de romances, pelo menos
no Brasil, onde são pagos por tarefa, teriam pouca motivação para buscar tais
inovações. Se observarmos alguns ganhadores de prêmios de tradução,
poderemos ver que muitas dessas traduções foram feitas em condições não
comerciais. (Milton 2002: 61)
Milton cita a teórica Gillian Lane-Mercier, canadense que, abordando essa
questão, defende a postura de substituir o dialeto ou a variante não padrão que aparece
no original por um dialeto ou variante não padrão da língua de chegada. Essa postura
seria inspirada na proposta de “tradução ética” de Antoine Berman. Milton ainda
comenta que Lane-Mercier insiste que o tradutor deve assumir a responsabilidade sobre
suas escolhas e, se possível, explicá-las aos leitores em notas do tradutor. Milton de
certa forma critica Lane-Mercier, dizendo justamente que aos tradutores não é dada
tanta liberdade nem tanto espaço para exercitar seu poder de escolha e nem para
justificá-lo (idem).
Apesar dessa crítica de Milton, acho fundamental comentar um texto de Lane-
Mercier que trata do assunto, embora não seja esse o texto comentado por Milton em
seu livro. Em “Translating the untranslatable”, Lane-Mercier define a tradução dialetal
como uma “representação textual de padrões de fala ‘não padrão’ que manifestam
fenômenos sócio-culturais formadores da competência lingüística do falante como
também dos vários grupos sociais a que o falante pertença ou tenha pertencido”
(1999:45, grifo meu, tradução minha). Essa definição aponta para a diferença entre uma
descrição lingüística e a representação textual de uma variante dialetal. Insisto que essa
diferença é, na maioria dos casos, a fonte de vários mal-entendidos quando se discute a
tradução de variantes dialetais.
Ninguém negaria que existe uma abismal diferença entre uma descrição
lingüística de uma variante dialetal (seja ela padrão ou não) e sua representação dentro
de um romance. O problema estaria justamente em julgar que o autor, ou tradutor, deve,
ou pode, representar uma variante dialetal de forma exata e sem distorções.
Portanto, quando alguém critica a representação de um dialeto feita na televisão
(numa minissérie, por exemplo) por ela não ser fiel à realidade e por isso caricata e
preconceituosa, esse crítico está partindo de um pressuposto falso, a saber, o de que
qualquer representação textual de variante dialetal conseguiria ser fiel à realidade.
Sem entrar no mérito de questões mais básicas e profundas, entre elas a questão
das diferentes percepções que as pessoas têm da realidade, acho importante ressaltar
essa diferença entre descrição científica e representação textual. Aos textos da segunda
categoria, só resta mesmo uma representação “falsa”, que vai destacar alguns pontos e
ignorar outros, e apresentar-se como uma visão “caricata” ou “estilizada” daquela
variante lingüística.
Os exemplos são inúmeros, e a já mencionada Rede Globo é vítima de muitos
ataques nesse âmbito. Os personagens nordestinos das novelas globais falam uma
variante que simplesmente não existe, é falsa, mistura fonemas de estados diferentes e
as pessoas que vivem nas regiões representadas pelas novelas não se sentem
Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 340-344 2005. [ 342 / 344 ]
identificadas. Na minissérie O quinto dos infernos, é possível notar que os personagens
têm uma fala que difere do português padrão atual (em aspectos lexicais e sintáticos),
mas também deve afastar-se do português realmente falado no Brasil colônia. O que se
observa é atores falando com sintaxe lusa e fonemas e inflexões brasileiros. Do ponto de
vista científico, lingüístico, essa representação talvez assuma as formas de um
monstrengo exótico, mas ela serve, na minissérie, ao intuito de diferenciar a linguagem
e ao mesmo tempo torná-la minimamente inteligível para o grande público.
Os protestos costumam surgir, como já foi sugerido anteriormente, quando a
pessoa se sente (mal) representada na novela, na minissérie ou no texto. “Aquilo” não é
o “nosso” modo de falar... Mais uma vez, caímos nas representações que dividem o
mundo no grupo do “nós” e do “deles”, e uma voz ofendida grita “nós” não somos
assim. Lembro-me de uma festa de abertura de Copa do Mundo, se não me engano a de
1974, que foi televisionada. O espetáculo de abertura foi estruturado da seguinte forma:
grupos regionais “típicos” de cada país participante fariam uma apresentação. Os grupos
apareciam ocultos por enormes bolas que se abriam para dar início ao espetáculo.
Lembro-me de escutar os adultos na sala comentando cada um dos shows, que pareciam
estar razoavelmente dentro das expectativas, até que chegou a vez do Brasil. Da enorme
bola saiu uma escola de samba completa, com cabrochas, mestres-salas, baianas e
pessoas com fantasias caras. Como já se poderia imaginar, o comentário geral foi “os
estrangeiros vão pensar que aqui no Brasil só tem negros”. Estilizar é a única maneira
de apresentar algo como típico. O problema é quando você se sente “tipificado”.
2. Conclusão e possíveis soluções
O fato de constatarmos que a estilização e a caricatura são a única forma
possível de representar textualmente uma variante dialetal não nos livra de possíveis
acusações de racismo, preconceito e elitismo. O tradutor deve se conscientizar dos
efeitos do texto que produz, e aqui volto a concordar com Lane-Mercier. Mesmo que
não goze de tanta liberdade ou autonomia, o tradutor é um produtor de sentidos e
precisa estar atento para os efeitos do que escreve. Uma das soluções possíveis é
assumir explicitamente o caráter de representação estilizada e, na medida do possível,
criar um falar que não tente identificar especificamente uma região ou estado.
Nessa opção, o tradutor estaria perdendo a caracterização regional (que, de
qualquer maneira, seria artificial, já que não existe correspondência entre regiões e
falares de países diferentes), mas ganharia ao marcar uma diferença discursiva, que com
quase toda a certeza é relevante para o texto em questão (senão o autor provavelmente
não a teria usado). O processo de tradução, em todas as suas fases, é um processo de
negociação. Negociam-se sentidos, éticas, visões, efeitos, preços, prazos e modos de
trabalho. Quanto mais o tradutor estiver ciente dessa negociação, mais capacitado estará
para atuar nela. Não se trata de “entregar o ouro” para os editores, já que não resta
nenhuma escolha ao tradutor. Não se trata de “passar o rolo compressor” no texto,
homogeneizando tudo, só porque não temos tempo, ganhamos mal e nosso trabalho
nunca será reconhecido. Também não se trata de empunhar bandeiras em praça pública
em prol do reconhecimento do valor dos tradutores. A negociação é “minimalista”, feita
em passo de formiga, mas não deixará de surtir seus efeitos.
Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 340-344 2005. [ 343 / 344 ]
Referências
LANE-MERCIER, Gillian. Translating the untranslatable: the translator’s
aesthetic, ideological and political responsibility. Target, Amsterdam, v. 9, n. 1,
p. 43-68, 1997.
MILTON, J. O clube do livro e a tradução. São Paulo: EDUSC, 2002.
Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 340-344 2005. [ 344 / 344 ]
Você também pode gostar
- Traducao_e_Contexto_LiterarioDocumento20 páginasTraducao_e_Contexto_LiterariorallanAinda não há avaliações
- DSDDocumento11 páginasDSDLuciano AlmeidaAinda não há avaliações
- Português - Aula 1Documento11 páginasPortuguês - Aula 1Clotilde CamposAinda não há avaliações
- Faraco - Por Uma Pedagogia Da Variacao Linguistica1Documento11 páginasFaraco - Por Uma Pedagogia Da Variacao Linguistica1Mariana SatoAinda não há avaliações
- A Tradução de Variantes Dialetais: O Caso Camilleri: Desafios, estratégias e reflexõesNo EverandA Tradução de Variantes Dialetais: O Caso Camilleri: Desafios, estratégias e reflexõesAinda não há avaliações
- Aula 1 Variacao LinguisticaDocumento26 páginasAula 1 Variacao LinguisticaJanus JuniorAinda não há avaliações
- A relevância cultural na traduçãoDocumento7 páginasA relevância cultural na traduçãohunterthorAinda não há avaliações
- Análise da abordagem da variação linguística em livros didáticosDocumento8 páginasAnálise da abordagem da variação linguística em livros didáticosBruno SalvianoAinda não há avaliações
- Resenha-L. Escrita, Poder-Gnerre, M.Documento2 páginasResenha-L. Escrita, Poder-Gnerre, M.rtriano100% (6)
- Resenha - Critica e DescritivaDocumento4 páginasResenha - Critica e DescritivaFelipe VieiraAinda não há avaliações
- A 1 2022 2 Linguistica AplicadaDocumento4 páginasA 1 2022 2 Linguistica AplicadaWannda BlancoAinda não há avaliações
- Henriper, Gerente Da Revista, RELPv01n01a07Documento15 páginasHenriper, Gerente Da Revista, RELPv01n01a07Lauriane LiviAinda não há avaliações
- Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel: O manifesto inaugural do materialismo históricoNo EverandIntrodução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel: O manifesto inaugural do materialismo históricoAinda não há avaliações
- Resumo Estudos de traducao 5Documento14 páginasResumo Estudos de traducao 5jpll1996Ainda não há avaliações
- Antoine Berman e a tradutologiaDocumento14 páginasAntoine Berman e a tradutologiaWilliam Campos da Cruz0% (1)
- O Lugar de Fala Do/a Tradutor/a e o Seu Pertencimento A Grupos SociaisDocumento3 páginasO Lugar de Fala Do/a Tradutor/a e o Seu Pertencimento A Grupos SociaisLais LopesAinda não há avaliações
- ResenhaDocumento4 páginasResenhaHeibaby importAinda não há avaliações
- RENKEN Je Ne Sais Plus Ce Que Je Lis La Traduct PTDocumento24 páginasRENKEN Je Ne Sais Plus Ce Que Je Lis La Traduct PTMarcia LabresAinda não há avaliações
- Para a história do português brasileiro: Tomo I e IINo EverandPara a história do português brasileiro: Tomo I e IIAinda não há avaliações
- Resenha Bortoni RicardoDocumento4 páginasResenha Bortoni Ricardoartur_araujo06Ainda não há avaliações
- PRETI. Lexico Na Lingua Oral e Escrita - ResenhaDocumento2 páginasPRETI. Lexico Na Lingua Oral e Escrita - ResenhaLiliane BarreirosAinda não há avaliações
- Fichamento Sociolinguística "Para Compreender Labov"Documento3 páginasFichamento Sociolinguística "Para Compreender Labov"CAROLINE RODRIGUES DO PILARAinda não há avaliações
- Introdução à linguística: domínios e fronteirasNo EverandIntrodução à linguística: domínios e fronteirasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Resenha Texto em VENUTI L. A Formacao deDocumento3 páginasResenha Texto em VENUTI L. A Formacao deana p. legendasAinda não há avaliações
- Anais SILLiC Volume II - A TRADUÇÃO PORTUGUÊS-LIBRAS FACE AODocumento13 páginasAnais SILLiC Volume II - A TRADUÇÃO PORTUGUÊS-LIBRAS FACE AOTania MartinsAinda não há avaliações
- Linguagem não-binária: reflexão sobre identidades performativasDocumento21 páginasLinguagem não-binária: reflexão sobre identidades performativasGracilariopsis TenuifronsAinda não há avaliações
- Argumentos Prova 1Documento3 páginasArgumentos Prova 1sentadaabeiradesiAinda não há avaliações
- A representação do discurso outroDocumento39 páginasA representação do discurso outroDiscurso10Ainda não há avaliações
- Aspectos fundamentais da linguagem: signos e variações linguísticasDocumento6 páginasAspectos fundamentais da linguagem: signos e variações linguísticasKevinAinda não há avaliações
- Uma proposta diferente para a Análise do DiscursoDocumento6 páginasUma proposta diferente para a Análise do DiscursoNell LinsAinda não há avaliações
- A invisibilidade do tradutor: Uma história da traduçãoNo EverandA invisibilidade do tradutor: Uma história da traduçãoAinda não há avaliações
- Aprendendo Português Através dos Gêneros: PoesiaNo EverandAprendendo Português Através dos Gêneros: PoesiaAinda não há avaliações
- Peculiaridades do falar amazonenseDocumento32 páginasPeculiaridades do falar amazonensedrikelly100% (1)
- Itens Culturais Específicos em TraduçãoDocumento31 páginasItens Culturais Específicos em TraduçãoAlice CrivanoAinda não há avaliações
- As letras se dissolvem na traduçãoDocumento10 páginasAs letras se dissolvem na traduçãogleisonAinda não há avaliações
- Bersntein, R. - Experiência Após A Virada LinguísticaDocumento31 páginasBersntein, R. - Experiência Após A Virada LinguísticaJoseph JRAinda não há avaliações
- Educação em Língua Materna PDFDocumento3 páginasEducação em Língua Materna PDFCleriston CruzAinda não há avaliações
- Fichamento - IELP II - Prof. Jorge VianaDocumento8 páginasFichamento - IELP II - Prof. Jorge VianamarinasilvaAinda não há avaliações
- Português Ou BrasileiroDocumento4 páginasPortuguês Ou BrasileiroFabio Cury Guarani-KaiowàAinda não há avaliações
- Artigo Capao Pecado FErrez Estilo SociolinguisticoDocumento10 páginasArtigo Capao Pecado FErrez Estilo SociolinguisticomachadorvdAinda não há avaliações
- Gêneros textuais: teoria e conceitosDocumento14 páginasGêneros textuais: teoria e conceitosMenina_Emilia100% (2)
- Trabalho Intermodular (Resumo + Introdução + Fundamentação)Documento5 páginasTrabalho Intermodular (Resumo + Introdução + Fundamentação)Bruna BrittiAinda não há avaliações
- Análise da obra Quarto de despejo sob a ótica do preconceito linguísticoDocumento3 páginasAnálise da obra Quarto de despejo sob a ótica do preconceito linguísticoGabriela RaeleAinda não há avaliações
- Três Gramáticas de Referência para o Estudo Do PortuguêsDocumento8 páginasTrês Gramáticas de Referência para o Estudo Do PortuguêsPedro FonteneleAinda não há avaliações
- Gêneros do discurso: manual e vídeoDocumento30 páginasGêneros do discurso: manual e vídeoAndressa BordignonAinda não há avaliações
- Texto TrabantDocumento2 páginasTexto TrabantGENIVALDO ALVESAinda não há avaliações
- Resenha do livro A Pesquisa SociolinguísticaDocumento2 páginasResenha do livro A Pesquisa SociolinguísticaTadeu VasconcelosAinda não há avaliações
- Gabarito Das Autoatividades: Estudos Da Tradução E Interpretação em Língua de SinaisDocumento19 páginasGabarito Das Autoatividades: Estudos Da Tradução E Interpretação em Língua de SinaisJoão MaylsonAinda não há avaliações
- Resumo de linguísticaDocumento3 páginasResumo de linguísticaAna Luísa BragaAinda não há avaliações
- COMUNICAÇÃO - Linguagem e LínguaDocumento4 páginasCOMUNICAÇÃO - Linguagem e LínguaJuliana de LuccaAinda não há avaliações
- Traduções Dylan transcriaçãoDocumento20 páginasTraduções Dylan transcriaçãoJairo LunaAinda não há avaliações
- Entre A Oralidade e A EscritaDocumento6 páginasEntre A Oralidade e A EscritaCaroline SilvaAinda não há avaliações
- AD2 Língua PortuguesaDocumento3 páginasAD2 Língua PortuguesaRosana CristinaAinda não há avaliações
- Introdução à linguística: domínios e fronteiras - volume 1No EverandIntrodução à linguística: domínios e fronteiras - volume 1Nota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Palavra e imagem na literatura contemporâneaNo EverandPalavra e imagem na literatura contemporâneaAinda não há avaliações
- DawkinsDocumento1 páginaDawkinsMarcos LisboaAinda não há avaliações
- Filosofia TeorizacaoDocumento5 páginasFilosofia TeorizacaoMarcos LisboaAinda não há avaliações
- Resenha de DiltheyDocumento5 páginasResenha de DiltheyLynda LelesAinda não há avaliações
- Metodologia JurídicaDocumento12 páginasMetodologia JurídicaMarcos LisboaAinda não há avaliações
- Filosofia Da LinguagemDocumento7 páginasFilosofia Da LinguagemMarcos LisboaAinda não há avaliações
- Filosofia Adm 2019Documento15 páginasFilosofia Adm 2019Marcos LisboaAinda não há avaliações
- Metodologia JurídicaDocumento12 páginasMetodologia JurídicaMarcos LisboaAinda não há avaliações
- Metodologia de raciocínio indutivo e dedutivoDocumento11 páginasMetodologia de raciocínio indutivo e dedutivoMarcos LisboaAinda não há avaliações
- Conjugar Os Verbos No Presente e Imperfeito Do IndicativoDocumento1 páginaConjugar Os Verbos No Presente e Imperfeito Do IndicativoMarcos LisboaAinda não há avaliações
- PUC-Campinas vídeos formatar trabalhos ABNTDocumento1 páginaPUC-Campinas vídeos formatar trabalhos ABNTMarcos LisboaAinda não há avaliações
- Links Hqs MarvelDocumento1 páginaLinks Hqs MarvelMarcos Lisboa100% (1)
- Metodologia Do Trabalho CientíficoDocumento16 páginasMetodologia Do Trabalho CientíficoMarcos LisboaAinda não há avaliações
- Links de Mídia IndependenteDocumento2 páginasLinks de Mídia IndependenteMarcos LisboaAinda não há avaliações
- Projeto de pesquisa sobre etapas e definiçãoDocumento9 páginasProjeto de pesquisa sobre etapas e definiçãoflavioguimaAinda não há avaliações
- Latim XI XII XIII GradusDocumento2 páginasLatim XI XII XIII GradusMarcos LisboaAinda não há avaliações
- Chalmers, ADocumento17 páginasChalmers, AMarcos LisboaAinda não há avaliações
- História Do Futuro - Padre Antonio VieiraDocumento102 páginasHistória Do Futuro - Padre Antonio VieiragersonicoAinda não há avaliações
- Gram Tica LatinaDocumento99 páginasGram Tica LatinaallanmalheiroAinda não há avaliações
- De Profecia e Inquisição - Padre Antônio Vieira-Www - LivrosGratisDocumento309 páginasDe Profecia e Inquisição - Padre Antônio Vieira-Www - LivrosGratisEliane Lee LeeAinda não há avaliações
- Aulão Black November Língua Portuguesa Prof Tiago Omena 1Documento47 páginasAulão Black November Língua Portuguesa Prof Tiago Omena 1rooseveltanonymous123Ainda não há avaliações
- EXERCÍCIO - Ete - Português - (Substantivo e Adjetivo)Documento3 páginasEXERCÍCIO - Ete - Português - (Substantivo e Adjetivo)Espaço Profa Myllena MatiasAinda não há avaliações
- 50 Erros de Portugues Mais ComunsDocumento7 páginas50 Erros de Portugues Mais ComunsAlexandre NevesAinda não há avaliações
- Processo de Ensino Aprendizagem Do VocabularioDocumento18 páginasProcesso de Ensino Aprendizagem Do VocabularioSergio Alfredo Macore100% (3)
- Planejamento Anual de Português - 1º Ano Alinhado À BNCCDocumento7 páginasPlanejamento Anual de Português - 1º Ano Alinhado À BNCCLuciana MalaquiasAinda não há avaliações
- Língua Portuguesa 10 ClasseDocumento224 páginasLíngua Portuguesa 10 ClassechipecolunaAinda não há avaliações
- Prova de Fonética e FonologiaDocumento4 páginasProva de Fonética e FonologiaEllen FreitasAinda não há avaliações
- Atividade de Gramática e Leitura - Eja Semana de 12 A 16-3Documento4 páginasAtividade de Gramática e Leitura - Eja Semana de 12 A 16-3Aline OliveiraAinda não há avaliações
- Port Exercícios - Divisão SilábicaDocumento23 páginasPort Exercícios - Divisão SilábicaMaique NunesAinda não há avaliações
- Notícia Com Calor de Quase 40ºC, Bataguassu Registrou Nesta Quarta-Feira A Nona Maior Temperatura Do BrasilDocumento17 páginasNotícia Com Calor de Quase 40ºC, Bataguassu Registrou Nesta Quarta-Feira A Nona Maior Temperatura Do BrasilceliaAinda não há avaliações
- SLD 3Documento49 páginasSLD 3Paulo HenryqueAinda não há avaliações
- Muy y MuchoDocumento3 páginasMuy y MuchoSIMONE BEATRIZ CARRERA DE ARAUJOAinda não há avaliações
- Método Fônico Parte 1Documento64 páginasMétodo Fônico Parte 1Mirian Mendes de LimaAinda não há avaliações
- Atividades de Língua PortuguesaDocumento7 páginasAtividades de Língua PortuguesaJosé ÍcaroAinda não há avaliações
- Moodle - Ficha de Gramática I - 5º Ano - Outubro - 2021 - 2022Documento4 páginasMoodle - Ficha de Gramática I - 5º Ano - Outubro - 2021 - 2022Teresa PauloAinda não há avaliações
- O enigma da Esfinge e o oráculo de DelfosDocumento3 páginasO enigma da Esfinge e o oráculo de DelfosGISLENE DE PAULA ALMEIDAAinda não há avaliações
- NomeDocumento1 páginaNomeDiana CoutoAinda não há avaliações
- Vozes no texto: discurso direto e indiretoDocumento2 páginasVozes no texto: discurso direto e indiretoLage LetíciaAinda não há avaliações
- 8 Ano Plano de Língua InglesaDocumento6 páginas8 Ano Plano de Língua InglesaMariah SoaresAinda não há avaliações
- Estrutura do sintagma nominal com argumentos genitivosDocumento19 páginasEstrutura do sintagma nominal com argumentos genitivosRonaldo NogueiraAinda não há avaliações
- Teoria Da Comunicação-Funçoes Da LinguagemDocumento29 páginasTeoria Da Comunicação-Funçoes Da LinguagemPaula Adilson BezerraAinda não há avaliações
- Minitestes de GramáticaDocumento37 páginasMinitestes de GramáticasoniaAinda não há avaliações
- Orações Coordenadas e Subordinadas IIDocumento18 páginasOrações Coordenadas e Subordinadas IIEdson VilanculosAinda não há avaliações
- Flexão verbal e formação de palavras em texto sobre emigraçãoDocumento27 páginasFlexão verbal e formação de palavras em texto sobre emigraçãomaria lopes0% (1)
- Atividade - Dígrafo, Fonema e LetraDocumento1 páginaAtividade - Dígrafo, Fonema e LetraAline Oliveira100% (1)
- A busca da felicidadeDocumento6 páginasA busca da felicidadePaula OliveiraAinda não há avaliações
- TeoricoDocumento20 páginasTeoricoTania VazAinda não há avaliações
- LPII2013 - Exercícios de Análise Da Variação LinguísticaDocumento25 páginasLPII2013 - Exercícios de Análise Da Variação LinguísticaCesar CasellaAinda não há avaliações
- Resumo Pre Inss Part 4Documento80 páginasResumo Pre Inss Part 4Vivian Pacheco dos SantosAinda não há avaliações
- Fases da aquisição da língua: balbúcio, holofrástica, duas palavras e telégrafo para o infinitoDocumento3 páginasFases da aquisição da língua: balbúcio, holofrástica, duas palavras e telégrafo para o infinitoMoisesAinda não há avaliações