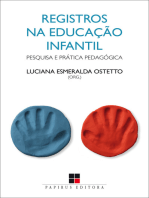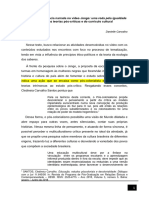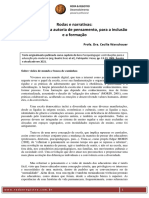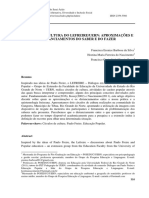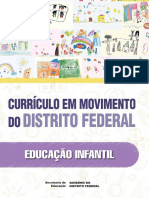Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Canto Coral Como Prática Social
O Canto Coral Como Prática Social
Enviado por
Raffaell FerreiraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Canto Coral Como Prática Social
O Canto Coral Como Prática Social
Enviado por
Raffaell FerreiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
107
O canto coral como prática social: reflexões
para além do fazer música
Mariana GALON1
Resumo: A pesquisa aqui apresentada buscou identificar as práticas sociais e
os processos educativos presentes em aulas de canto coral de um projeto social
na cidade de Batatais, interior de São Paulo. Para tanto, partiu de uma inserção
dentro desse espaço, para que essa identificação acontecesse no convívio com
alunos e alunas, nas aulas de canto coral e no intervalo do lanche desses alunos e
alunas. As inserções ocorreram em 5 encontros em que me tornei aluna de Canto
Coral, participando ativamente das aulas. As coletas de dados foram feitas por
meio de diálogos com os alunos e alunas, e registro em diário de campo. Por
meio do diálogo com autores da educação, foi possível identificar a prática social
e também alguns processos educativos presentes na prática do “coral”. Após essa
identificação, objetivou-se a reflexão sobre o processo de inserção, e os proces-
sos educativos vivenciados com os alunos de canto coral.
Palavras-chave: Processos Educativos. Canto Coral. Convivência.
1
Mariana Galon. Mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
Especialista em Arte-Educação pela Universidade de Brasília (UnB). Atualmente é docente nos
cursos de Licenciatura em Música e Pós-Graduação em Educação Musical do Claretiano – Centro
Universitário e na Universidade Federal de São Carlos. E-mail: <marianagalon@gmail.com>.
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez.2016
108
Coral corner as social practice: reflections
beyond making music
Mariana GALON
Abstract: The research presented here sought to identify the current social
practices in choral singing classes in a social project in the city of Batatais, São
Paulo. To do so, left an insertion within this space, so that the identification
happened in living with male and female students in the classes of choral singing
and lunch break these students. Insertions occurred in 5 meetings that I became a
student of Choral Singing, actively participating in lessons. The data collections
were made through dialogues with students and students, and journaling field.
Through dialogue with authors such as Paulo Freire, Maria Fiori Ernane and
Enrique Dussel, it was possible to identify the social practice and also some
educational processes present in choir practice. After identifying aimed to
reflect on the process of integration, and educational processes experienced with
students and students of coral.
Keywords: Educational Processes. Choir. Coexistence.
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez. 2016
109
1. INTRODUÇÃO
A prática do canto coral atualmente é algo muito presente nas
instituições de ensino (DIAS, 2012). Hoje, em nosso país, o can-
to coral está intimamente ligado à educação. O número crescente
de coros nas escolas, em diversas regiões do Brasil, e o interesse
acadêmico pela formação coral na área de educação musical levam-
-nos a considerar o canto coral não só como uma prática de música
vocal, mas também como uma ferramenta socioeducativa efetiva.
Nascemos carregando um instrumento musical, que é a nossa voz.
Desse modo, todos podemos cantar, ou seja, fazer música, sem que
tenhamos de comprar um instrumento musical. Isso, por si só, torna
a prática do canto coral acessível, o que motiva empresas, esco-
las, centros comunitários, projetos sociais e igrejas a escolherem
essa prática para ser desenvolvida em seu meio (JUNKER, 1999).
Dentro das escolas de educação básica, o canto coral ganhou espa-
ço principalmente pelo cumprimento da Lei 11.769/08, que torna
obrigatório o ensino de música na escola e pelas facilidades eco-
nômicas que envolvem essa prática. Além dessas facilidades já
mencionadas, o canto coral é uma ferramenta de integração, mo-
tivação, desenvolvimento de múltiplas habilidades e competências
(FUCCI-AMATO, 2007).
Por apresentar-se como um trabalho em grupo, identificamos
que o canto coral é uma prática social que pode desenvolver não
só a capacidade vocal, mas também a interação, a convivência, a
inclusão social e as relações interpessoais em um grupo social.
A pesquisa que será relatada buscou, por meio de uma inser-
ção nas aulas de canto coral em um projeto social, observar e par-
ticipar dos processos educativos ali desencadeados. Desse modo,
buscou-se ampliar o olhar para o ensino de música, mostrando que
ele pode estar inserido em um contexto humanizador de educação.
Na convivência com os educandos de canto coral, buscou-
-se por meio do diálogo, da relação amorosa e respeitosa, aprender
com eles, e observar como eles se educam na coletividade dentro
de um contexto de ensino musical. Nesse convívio relações afetivas
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez.2016
110
foram construídas, aprendizados ocorreram, confirmando a nossa
constante transformação no mundo.
2. EU, O OUTRO E NOSSAS CONSTITUIÇÕES
No fluxo contínuo da vida, nos encontramos, distanciamos,
nos fazemos e refazemos em uma constante transformação no mun-
do. A vida é um processo contínuo de conhecimento e criação. Nes-
sa transformação que se dá no viver, nos relacionamos com o ou-
tro e criamos vínculos de cooperação. Desse modo, “[...] vivemos
com os outros seres vivos, e, portanto, compartilhamos com eles o
processo vital. Construímos o mundo em que vivemos durante as
nossas vidas. Por sua vez ele também nos constrói ao longo des-
sa viagem comum” (MATURANA; VARELA, 2004, p. 10). Esse
processo de constante construção conjunta dos seres humanos só
é possível por conta de sua inconclusão. Freire (2011b) define ho-
mens e mulheres como seres inconclusos, conscientes de sua in-
completude, o que possibilita vários caminhos vitais.
Essa dinâmica da vida que leva ao encontro e à partilha pro-
porciona que pessoas se eduquem por meio de práticas sociais em
diferentes ambientes. “Se a vida é um processo de conhecimento,
os seres vivos constroem esse conhecimento não a partir de uma
atitude passiva e sim pela interação” (MATURANA; VARELA,
2004, p. 12).
Compreendemos que “[...] práticas sociais decorrem de e ge-
ram interações entre os indivíduos e entre eles e os ambientes, na-
tural, social, cultural em que vivem” (OLIVEIRA et al., 2009, p. 4),
transmitindo valores e significados, criando identidades dentro de
uma sociedade. Como faz parte do encadeamento da vida, práticas
sociais estão presentes em toda a história da humanidade, nas mais
diversas culturas que se organizam em sociedade, e permitem que
as pessoas se construam, se eduquem na coletividade (OLIVEIRA
et al., 2009).
Entendemos também que toda prática social desencadeia pro-
cessos educativos. Partindo desse pressuposto compreende-se que
o aprendizado “para a vida” dentro das mais diversas sociedades
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez. 2016
111
ocorre pela interação, pelas experiências que se tem junto, ou seja,
das práticas sociais. Interação e vivência que é um processo con-
tínuo e permanente, em que as pessoas se educam na convivência.
Desse modo, é possível considerar que o aprendizado e a educação
não estão restritos e destinados somente à educação formal, eles
ocorrem em vários momentos e ambientes, dentro e fora da escola,
onde há convivência e comunhão entre as pessoas.
O educar se constitui no processo em que a criança ou o
adulto convive com o outro e, ao conviver com o outro, se
transforma espontaneamente, de maneira que seu modo de
viver se faz progressivamente mais congruente com o do
outro no espaço de convivência. O educar ocorre, portan-
to, todo o tempo e de maneira recíproca (MATURANA,
1998, p. 29).
Acreditando que “[...] eu me construo enquanto pessoa no
convívio com outras pessoas; e, cada um ao fazê-lo contribui para a
construção de ‘um’ nós em que todos estão implicados” (OLIVEI-
RA et al., 2009, p. 1), e que as pessoas se educam na coletividade
por meio da interação, essa pesquisa foi desenvolvida objetivando
a inserção dentro de uma determinada prática social, participando
ativamente com as pessoas que fazem parte dessa prática, a fim de
reconhecer quais os processos educativos ali gerados.
Segundo Freire (2011b), homens e mulheres se criam e re-
criam no encontro, na comunhão das consciências, mediatizados
pelo mundo, ou seja, em práticas sociais.
Não posso entender os homens e as mulheres, a não ser
mais do eu simplesmente vivendo, histórica, cultural e
socialmente existindo, como seres fazedores de seu cami-
nho que ao fazê-lo, se expõem ou se entregam ao caminho
que estão fazendo e que assim os refaz também (FREIRE,
2011a, p. 135, grifos do autor).
Homens e mulheres autônomos constroem sua história atra-
vés da troca e da partilha. E nesse encontro se educam uns com os
outros, de maneira colaborativa, na convivência. É na comunicação
e na fecundidade criativa do encontro que a vida humana ganha
sentido (FREIRE, 2011a). A comunicação é o que proporciona pen-
sarmos juntos, criarmos juntos, em práticas sociais, sem que haja
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez.2016
112
superposição de uns sobre os outros, nem dominação, somente a
fecundidade das relações fundamentadas no diálogo.
“O diálogo é esse encontro dos homens, mediatizados pelo
mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação
eu-tú”, nesse encontro em que homens e mulheres refletem e agem
sobre o mundo, o diálogo torna-se uma exigência existencial, pois
“[...] se impõe como caminho pelo qual os homens ganham signi-
ficação enquanto homens” (FREIRE, 2011b, p. 109). Desse modo,
os seres humanos só se reconhecem como tal no encontro com o
outro. Por meio do diálogo homens e mulheres ganham significa-
ção no mundo, se historicizam, se fazem e refazem, autenticam-se,
humanizam-se, tornando-se sujeitos de suas ações.
Ao pronunciarem sua própria palavra homens e mulheres
tornam-se agentes transformadores, criadores e produzem “[...] não
somente os bens materiais, as coisas sensíveis, os objetos, mas tam-
bém as instituições sociais, suas ideias, suas concepções” (FREI-
RE, 2011b, p. 128). Pela sua ação no mundo os seres humanos
constroem sua própria história, como sujeito autônomo e crítico,
educando-se, humanizando-se, e libertando-se.
É pelo diálogo e pela convivência, em práticas sociais, que
o homem se liberta. De modo que “[...] ninguém liberta ninguém,
ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão”
(FREIRE, 2011b, p. 71).
No entanto, as relações dialógicas, em que os seres humanos
se educam e se libertam, só são possíveis quando há humildade,
respeito e amorosidade: “Se não amo o mundo, se não amo a vida,
se não amo os homens não me é possível o diálogo” (FREIRE,
2011b, p. 111).
Nesse sentido, Maturana e Varela complementam o pensa-
mento de Freire quando manifestam que o diálogo, o linguagear,
é elemento central na relação que produz o conhecimento e esta só
é possível quando há amor. “O central na convivência humana é o
amor, as ações que constituem o outro como um legítimo outro na
realização do ser social que tanto vive na aceitação e respeito por si
mesmo quanto na aceitação e respeito pelo outro” (MATURANA,
1998, p. 32).
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez. 2016
113
O conceito de amor, definido pelos autores como aceitação
do outro como legítimo outro na convivência, é o afeto que possi-
bilita esse encontro fecundo e alteritário das relações. Nas práticas
sociais em que o amor e o respeito fazem-se presente, por meio do
diálogo as pessoas se educam em comunhão e conservam no viver
o mundo que vivem com o outro, no conviver:
Sem amor, sem aceitação ao outro ao nosso lado, não há
socialização, e sem socialização não há humanidade. Só
temos o mundo que criamos com o outro, e que só o amor
nos permite criar esse mundo em comum (MATURANA;
VARELA, 2004 p. 253).
Nesse caminho da vida trilhado junto como o outro, diante
de sua inconclusão, homens e mulheres podem se humanizar ou
desumanizar.
Mas, se ambas são possibilidades, só a primeira nos parece
ser o que chamamos de vocação dos homens. Vocação ne-
gada, mas também afirmada na própria negação. Vocação
negada na injustiça, na exploração, na opressão, na violên-
cia dos opressores. Mas afirmada no anseio de liberdade,
de justiça, de luta dos oprimidos, pela recuperação de sua
humanidade roubada (FREIRE, 2011b, p. 16).
Historicamente os povos da América Latina foram marcados
por fortes processos de desumanização e desenraizamento (DUS-
SEL, 1995).
A colonização violenta a qual experienciamos nos colocou
como exterioridade em face de uma totalidade2 imposta pelos colo-
nizadores, nos categorizou como coisas e não como seres humanos
(DUSSEL, 1995).
Dussel aponta que o problema da totalidade vigente é quan-
do, entendendo o mundo como nosso, passa a ser dominadora, do-
minando homens como se fossem coisas. Quando não reconhece o
outro como igual, o coisifica e o usa como meio de se chegar a seu
projeto de existência. O que não é reconhecido pela experiência não
2
A totalidade é o mundo em que vivemos e reconhecemos por meio de nossas experiências. Dentro
desse mundo o homem relaciona-se com coisas (ente), as reconhece, atribui a esses objetos valor, de
modo que ganham sentindo em sua existência. O que não faz parte dessa totalidade é exterioridade,
portanto não reconhecido como algo legitimo (DUSSEL, 1995).
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez.2016
114
pertence à totalidade. O outro é aquele que estando além da totali-
dade não é ouvido, reconhecido como ser, é negado.
Essa relação de dominação, em que há um opressor e um
oprimido, também se faz presente nas relações existentes no siste-
ma educacional, principalmente nas relações entre professor/aluno
(FREIRE, 2011b).
Quanto mais analisamos as relações educador-educandos,
na escola, em quaisquer de seus níveis (ou fora dela), pare-
ce que mais nos podemos convencer de que essas relações
apresentam um caráter especial e marcante – o de serem
relações fundamentalmente, narradoras, dissertadoras.
[...] Narração ou dissertação que implica num sujeito – o
narrador – e em objetos pacientes, ouvintes – os educandos
(FREIRE, 2011b, p. 67, grifo do autor).
A ideia de um professor detentor do saber que o transmite
aos alunos por meio de uma educação bancária3 ainda é recorrente
dentro das salas de aulas. Nesses espaços muitas vezes são negados
os processos educativos oriundos da coletividade e da convivência
entre as pessoas, “o saber de experiência feito” (FREIRE, 2011a)
do aluno não é levado em conta na ação educativa. Ao contrário
disso, pesquisas nos mostram e apresentam exemplos de que os
processos educativos gerados de práticas sociais, baseadas em rela-
ções de alteridade, levam a processos de humanização (OLIVEIRA
et al., 2009).
Para a superação desse pensamento “civilizatório”, Dussel
aponta que devemos nos autovalorizar e nos reconhecermos como
sujeitos e, ao nos reconhecermos, olhar o outro como igual, em uma
relação de alteridade.
Dussel define alteridade como o estar cara a cara com o ou-
tro, reconhecendo-o como igual e essencial em minhas ações e
em minha existência. É na aceitação do outro como legítimo que
abrimo-nos ao diálogo, pois somente quando amo o outro posso
escutar e confiar em sua palavra. “A pedagógica se desenvolve es-
3
Paulo Freire define educação bancária como aquela em que o professor deposita o seu conhecimento
nos alunos. “Dessa maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os
depositários e o educador, o depositante. [...] Eis aí a concepção ‘bancária’ da educação, em que a única
margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los”
(FREIRE, 2011b, p. 81).
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez. 2016
115
sencialmente na bipolaridade palavra-ouvido, interpretação-escuta,
acolhimento da Alteridade para servir o Outro como Outro” (DUS-
SEL, 1977, p. 191). Argumenta que o processo de humanização e
de libertação se apresenta na aceitação do outro enquanto sujeito
de sua história, sendo sujeito participante do processo de humani-
zação. Propõe que somente pelas relações baseadas na alteridade o
processo de humanização torna-se viável.
Para que nas práticas sociais entre os diferentes haja “mútua
fecundidade criadora”, homens e mulheres precisam autovalorizar-
-se, e reconhecerem suas práticas e culturas como legítimas. Desse
modo, temos práticas sociais que não desumanizam, mas que ge-
ram processos educativos que possibilitam a criação de identidades
sociais, que fomentam a autonomia, a criticidade, a valorização de
si e dos outros, por meio de uma educação conscientizadora.
Fiori, ao refletir sobre o processo de conscientização e educa-
ção, pontua que ambas fazem parte do mesmo processo de huma-
nização. Conscientização e educação estão intrinsicamente ligadas,
pois, ao tomar consciência de si, o ser humano refaz seu mundo, e
ao refazê-lo se constitui nele: “[...] educar, pois, é conscientizar, e
conscientizar equivale a buscar essa plenitude da condição huma-
na” (FIORI, 1986, p. 1). O autor, assim como Freire, aponta que é
no diálogo que homens e mulheres se conscientizam na intersubje-
tividade das consciências, ou seja, o ser consciente se completa no
reconhecimento do outro. Destaca que “[...] a intersubjetividade,
em que as consciências se enfrentam, dialetizam-se, promovem-se,
é a tessitura última do processo histórico de humanização” (FIORI,
2011, p. 17). Desse modo, recriar-se no mundo só é possível perante
a tomada de consciência que leva homens e mulheres a historicizar-
-se, tornar-se sujeitos e criadores de sua cultura autônoma.
Fiori entende a cultura como a renovação de homens e mu-
lheres humanizados no mundo: “A forma humana se recria em dife-
rentes formas de vida na concretização histórica: a cultura se refaz e
se reassume na diversidade das culturas” (FIORI, 1986, p. 7). Con-
sidera que a cultura autônoma, cultura viva, é aquela que é fruto da
práxis de homens e mulheres autônomos(as), que se constituem e
reconstituem no mundo, e tornam-se sujeito de seu próprio projeto
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez.2016
116
histórico-social. A cultura está intrinsicamente ligada à criticidade e
à consciência histórica dos homens. “A cultura é um processo vivo
de permanente criação: perpetua-se refazendo-se em novas formas
de vida. Só cultiva, quem participa desse processo ao refazê-lo e
refazer-se nele realmente. A transmissão do já feito, é cultura mor-
ta” (FIORI, 1986, p. 8).
É nas práticas sociais baseadas no diálogo, no convívio, na
autovalorização, na criticidade, na alteridade que os seres humanos
constroem a sua cultura autônoma, se historicizam, se enraízam,
humanizam-se e libertam-se, modificando o mundo pela sua práxis
libertadora. Desse modo, na prática social do canto coral, é possí-
vel aos educandos tornar-se sujeitos, construírem sua história em
comunhão com o outro, ou seja, em práticas sociais.
3. CONTEXTUALIZANDO O CAMPO DE INSERÇÃO
A inserção aconteceu em uma turma de canto coral em um
projeto sociocultural da cidade de Batatais. Esse projeto oferece
ensino de música coletivo para crianças e adolescentes de 08 a 18
anos, gratuitamente. O Projeto oferece o ensino de diversos ins-
trumentos e Canto Coral. Os alunos ingressantes não precisam ter
instrumento musical, pois há a política de empréstimo de instru-
mentos. O acesso é universal, não há renda mínima para os educan-
dos poderem fazer parte do projeto, e nem testes de aptidão musical
para os ingressantes, a única obrigatoriedade é estarem matricula-
dos em uma escola regular.
Quando o ensino coletivo de instrumentos musicais surgiu na
Europa e posteriormente foi levado aos Estados Unidos, havia um
interesse pela lucratividade em torno do uso dessa modalidade de
ensino:
As academias possuíam três fontes de renda conjuntas ou
não: as taxas, a venda de instrumentos musicais e acessó-
rios e ainda, a venda dos métodos de uso exclusivo. Portan-
to, a lucratividade foi um grande incentivo para a utiliza-
ção de aulas coletivas (CRUVINEL, 2004, p. 76).
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez. 2016
117
No entanto, a escolha por essa modalidade de ensino feita
pelo Projeto vai além de fatores econômicos. Essa escolha foi por
acreditar que é possível compartilhar conhecimento e que a intera-
ção e a diferença são partes importantes do aprendizado, de modo
que é possível todos aprenderem com todos (TOURINHO, 2007).
Os educandos “[...] trabalham juntos e se ajudam mutuamente sob
a supervisão do professor quem sabe mais ensina a quem sabe me-
nos” (TOURINHO, 2007, p. 5).
Na cidade de Batatais, interior de São Paulo, o Projeto está
presente desde 2006, e conta com a parceria da prefeitura. O Proje-
to atende 150 crianças e adolescentes nos cursos de sopros, cordas
friccionadas, percussão e canto coral. Esses educandos frequentam
o projeto de segunda-feira e quarta-feira no período da tarde.
A maioria dos educandos que ali estuda faz parte da rede mu-
nicipal e estadual de ensino. Por estar situada em uma cidade pe-
quena, a maioria dos alunos, mesmos os menores, vai até o projeto
de bicicleta ou caminhando. A minoria dos educandos chega e vai
embora das aulas acompanhada pelos pais. Esse fato também favo-
rece a interação dos educandos, já que muitos combinam de irem
juntos ao projeto, estendendo a convivência que ocorre durante as
aulas para outros espaços, como o caminho para casa.
4. IDENTIFICANDO UMA PRÁTICA SOCIAL
Esse trabalho foi realizado dentro das perspectivas da pesquisa
qualitativa que privilegia a compreensão dos comportamentos
a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação (BOGDAN;
BIKLEN, 1994).
Por meio da convivência nas aulas de canto coral e nos in-
tervalos das aulas, com as crianças que fazem parte de um projeto
sociocultural em Batatais, buscou-se identificar as práticas sociais
ali presentes, bem como os processos educativos decorrentes delas.
Essa busca se deu pela convivência com os alunos, por meio da
observação e do diálogo pautado no respeito mutuo. No decorrer
do processo foi possível produzir conhecimento juntos, e educar-se
a partir da convivência.
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez.2016
118
A escolha da disciplina de canto coral se deu por ser a prática
musical mais distante de mim naquele momento. Outra questão foi
que participar de um coro infantil sendo adulta seria uma experiên-
cia nova.
Após obter a autorização da coordenadora do projeto e da
educadora de coral, iniciei a minha inserção. O próximo passo foi
conversar com os educandos de coral. O grupo era formado por 17
meninos e meninas de 9 a 12 anos.
Planejei participar de 5 aulas. Há duas aulas por semana,
segunda-feira e quarta-feira, e eu estaria junto com os educandos
somente nas segundas-feiras, ou seja, durante 5 semanas. A minha
estratégia de trabalho era participar da aula de coral e também ficar
com os alunos durante o intervalo de 15 minutos antes de volta-
rem para a segunda aula e durante esses dois momentos observar,
interagir e conviver com os educandos, para compreender quais
eram os processos educativos decorrentes daquela prática social.
Para tanto, era preciso uma participação ativa junto ao grupo. Se-
gundo Oliveira (2009), para compreender e dialogar com o outro,
há a exigência de uma vivência próxima, afetiva e comprometida,
pois muitos aspectos das relações sociais só são percebidos desta
forma: “É a convivência, com olhar e escuta atentos, que nos leva a
compreender a diversidade” (OLIVEIRA, 2009, p. 314).
Para compreender o porquê desses educandos escolherem fa-
zer parte desse projeto, por que continuavam frequentando as aulas
mesmo sem uma obrigatoriedade, o que pretendiam naquele espa-
ço, era necessário me assumir enquanto aluna de coral e descobrir
com eles o que havia ali.
Após a participação nas aulas, essas vivências eram relatadas
em um diário de campo. Busquei redigir o diário de campo sempre
no mesmo dia da inserção, tentando ser fiel ao relatar a experiência
vivida, e tentando rememorar fatos e diálogos que me chamavam a
atenção. Esses relatos foram fonte de material para a reflexão futura
sobre o que vivi junto aos educandos de coral. Segundo Oliveira
(2009, p. 315), “[...] quanto mais mergulhados estamos na realidade
que queremos compreender criticamente, mais molhados dela esta-
remos quando nesse afastamento”. Isso se confirmou ao voltar aos
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez. 2016
119
diários de campos a fim de compreender os processos educativos
vivenciados por mim juntamente com os educandos de canto coral.
Quando estamos envolvidos em processo dinâmico, que é a
vida, nem tudo segue o curso que planejamos inicialmente. Ao me
inserir, tinha em mente um número de aulas, um número de se-
manas, lugares onde estaria inserida, mas na vivência dinâmica e
conjunta com o grupo, algumas coisas tomaram novos caminhos.
Inicialmente planejei participar das aulas e dos intervalos, mas por
convite dos educandos acabei participando também de uma apre-
sentação do coro. A vivência com o grupo me levou a perceber o
quão importante seria estar com eles também nesse momento da
apresentação, assumindo um compromisso social com todos os par-
ticipantes, me tornando parte efetiva do coro.
Ao final da minha inserção pude identificar, nesse espaço em
que as pessoas escolheram estarem presentes e consequentemente
conviverem com outros nas suas diferenças, não só a prática social
de pessoas que se encontram para cantar juntas, mas também, a
prática da convivência amorosa, presente no prazer que sentem ao
cantar juntas, práticas que fomentam autonomia, diálogo e conse-
quentemente humanização.
5. O “CORAL4” COMO PRÁTICA SOCIAL
Na prática musical pode haver processos agregadores ou não.
A vaidade, a competição pode afastar os indivíduos, mesmo que
eles estejam fazendo música juntos, levando a processos desuma-
nizadores. Em contrapartida, o fazer musical quando feito no com-
partilhar, na troca de experiências, na relação amorosa de quem
participa, agrega e leva a processos humanizadores. Desse modo,
o ensino de música favorece a convivência que, por sua vez, leva
os seus participantes a se educarem juntos, em uma educação para
além do aprendizado musical.
Ao me tornar aluna da turma de canto coral, participei de
uma prática social que me levou à reflexão sobre as dificuldades
4
A escolha pela utilização da palavra “coral” e não coro se deu pelo fato de as crianças denominarem
assim essa prática.
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez.2016
120
de ser aluna, à análise sobre minha ação como educadora de músi-
ca, e sobre o que é fazer parte de um grupo e as responsabilidades
que isso traz. A prática social identificada em minha inserção foi
a prática do “coral”, assim denominada pelos alunos e alunas que
fazem parte dela.
Práticas sociais são construídas pelas relações estabelecidas
entre as pessoas, com objetivos e em um período de tempo determi-
nado por aqueles que dela participam, permitindo que os indivíduos
se construam na coletividade (OLIVEIRA et al., 2009). Durante
os meus encontros com o grupo pude observar algumas dessas ca-
racterísticas. As crianças que ali estavam interagiam dentro e fora
de sala de aula, estavam ali com o objetivo de fazer parte do coral,
tinham um compromisso social com o grupo e aprendiam umas
com as outras, apesar da diversidade de idade, escolaridade, crença,
etnia e a presença de uma aluna especial.
Não tive a oportunidade de conversar com todas as crianças,
pois a inserção ocorreu em um período em que o coral estava se
preparando para várias apresentações e, por uma questão de bom
senso, não seria lícito que eu utilizasse o tempo de ensaio para rea-
lizar rodas de conversas com todos. No horário do lanche foi quan-
do eu tive oportunidade de dialogar mais livremente com os alunos
e alunas; no entanto, muitos dispersavam para brincar, impossibili-
tando o meu contato com todos.
Os alunos e alunas com que eu conversei relataram que o
tempo que cada um participava do coral era distinto. A aluna Sue-
len5, por exemplo, fazia parte do grupo há 4 anos, enquanto a aluna
Paola há 6 meses. Perguntei se isso era comum, e por que os alunos
não continuavam no projeto.
Começaram a falar que alguns começam e param, falaram
isso com tom de crítica. Perguntei o motivo de pararem e
Paola disse que a prima dela, que também entrou no come-
ço do ano, parou porque começou a trabalhar, e que não
sabia dos outros alunos. Suelen disse que em tom de críti-
ca: Tem gente que não quer saber de nada... (D.C 24/046).
5
Durante o trabalho foram utilizados nomes fictícios com o objetivo de preservar a identidades dos
alunos e alunas.
6
Os trechos do diário de campo utilizados no decorrer do trabalho serão identificados com a sigla D.C
e a data do encontro de inserção.
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez. 2016
121
Em outros momentos questionei alunos e alunas sobre por
que faziam parte do coral e as respostas que eu obtive foram “que
estavam no coral porque era legal. Gostavam de cantar. Paola me
disse que ficar em casa era chato, então que preferia ir até o polo”
(D.C 29/04). O aluno Breno em uma conversa comigo me disse
“que gostava bastante das aulas, porque a professora dava umas
brincadeiras para eles e porque gostava de cantar” (D.C 08/05).
Durante a minha convivência com o grupo, nenhum aluno
ou aluna manifestou durante os diálogos comigo, ou com os outros
alunos(as) ou com a educadora, o objetivo de se profissionalizar no
campo musical. Os diálogos que tive com parte dos alunos e alunas
do coral demonstraram que eles participavam daquela prática por
prazer, pelo gosto de cantar.
Além de poder identificar a prática social do coral, a experi-
ência da inserção me levou a outras reflexões.
Antes de iniciar a minha inserção, imaginei que seria muito
fácil participar das aulas de canto coral, afinal participei de corais
durante boa parte da minha vida. Baseada na minha experiência
com esse tipo de atividade musical, não imaginei o quanto seria
diferente ser uma aluna adulta em um coro infantil, e nem o quanto
as crianças poderiam me auxiliar e me ensinar nesse processo.
Já na primeira aula me surpreendi pela dificuldade que tive
em fazer os exercícios de aquecimento vocal que eles faziam com
tanta naturalidade e pelo desconforto físico que senti durante a aula.
Em vários momentos da aula senti dores nas costas por ficar senta-
da na ponta da cadeira com as costas ereta. Nesses momentos pude
refletir sobre a minha prática como educadora. Quantas vezes eu
não devo ter deixado os meus alunos em “posição de coral” sentin-
do dores? E quantas vezes eu não dei broncas nesses alunos quando
saiam dessa posição?
Dussel (2001) afirma que só podemos compreender a razão
da vítima, quando assumimos o lugar dela. A inserção me propor-
cionou esse momento de assumir o lugar de aluna de música e per-
ceber um pouco as razões dos alunos(as) e, mais que isso, repensar
a minha prática docente.
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez.2016
122
No decorrer dessa aula, recebi ajuda de uma aluna que divi-
diu comigo a sua pasta, e observei que o mesmo aconteceu com
outros alunos que também estavam sem pasta, de maneira natural,
sem que a professora solicitasse.
Ainda nessa aula pude observar que, mesmo a aula não favo-
recendo a comunicação entre os alunos por meio do diálogo verbal,
eles encontraram uma maneira de se comunicar, mantendo assim a
interação característica de uma pratica social. “Várias vezes vi as
meninas se comunicando por gestos. O pouco que deu para enten-
der me pareceu que falavam sobre um livro” (D.C dia 17/04/2013).
Aqueles gestos não tinham muito significado para mim, mas sim
para elas que já conviviam há mais tempo, que tinham construído
significados juntas. Essa interação se estendeu até o momento do
lanche, quando as alunas se reuniram para continuar a conversa ini-
ciada por gestos durante a aula. Em práticas sociais os atores criam
suas identidades e são participantes ativos nas relações sociais, sig-
nificando e ressignificando valores e comportamentos (OLIVEIRA
et al., 2009).
Em um momento da aula um grupo de alunos foi mostrar para
a educadora uma música que tinham ouvido juntos, e que gostariam
que ela ensinasse ao coral. Nessa ação os alunos estavam buscan-
do exercer sua autonomia por meio do diálogo com a educadora,
participando ativamente da construção da aula e consequentemente
do processo de aprendizagem deles mesmos, se colocando como
sujeitos naquele espaço educacional. Em vários momentos da mi-
nha inserção observei atitudes autônomas dos alunos e alunas, seja
expressando suas opiniões ou organizando-se; em todos esses mo-
mentos o diálogo estava presente.
A comunicação observada nesse momento e em vários outros
da prática social do coral é o que possibilita o pensar juntos, criar
juntos, sem que haja superposição de uns sobre os outros, somente
a fecundidade das relações fundamentadas no diálogo (FREIRE,
2011b).
O diálogo se torna fundamental na convivência, em que todos
ensinam e todos aprendem, não há depósitos unilaterais, mas trocas
entre os sujeitos. Freire nos diz sobre o diálogo: “Neste lugar de
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez. 2016
123
encontro, não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: há
homens que, em comunhão, buscam saber mais” (FREIRE, 2011b,
p. 93).
Entre os vários momentos de diálogo entre os alunos e alu-
nas, vale destacar um que aconteceu no horário do lanche. Algumas
crianças pediram um pouco de salgadinho para uma aluna e ela
permitiu que pegassem, mas eles “atacaram” o salgadinho dela. A
aluna disse: “Não põem a mão, façam fila que eu dou um pra cada
um” (D.C 17/04). Ela se aborreceu, mas logo resolveu o problema
dialogando com os demais.
Outra questão foi que em todas as aulas pude observar os alu-
nos se ajudando e me ajudando em minhas dificuldades também.
Em momentos como esse, pude observar que os alunos educavam-
-se na convivência uns com os outros, a todo tempo de maneira
recíproca (MATURANA, 1998).
Em uma das aulas foi feito um ensaio especificamente para
duas apresentações que o grupo faria. Quando o coral começou a
cantar a canção “Cuitelinho”, eu não tinha a letra da música e a
aluna Luiza me ofereceu a sua pasta, e seguimos lendo a letra da
música juntas. Mesmo quando a professora me mudou de lugar,
ela me seguiu com a pasta. Em alguns momentos eu me perdia du-
rante a música e ela colocava o dedo na letra me mostrando onde
estávamos. Luiza me corrigiu algumas vezes e me ensinou que em
determinada parte da música deveríamos cantar “laia” ao invés da
letra. A aluna, reconhecendo que eu precisava de ajuda, se dispôs a
me ajudar em uma ação baseada na alteridade, pois me reconheceu
como outro, como parte daquele coro, e que necessitava da sua aju-
da naquele momento (DUSSEL,1995). Nessa mesma aula a aluna
Luiza também teve dificuldades com a música e pedimos ajuda a
um aluno que estava atrás de nós. “Ele me explicou como era para
ser feito, e ficou do nosso lado nos ajudando” (D.C 24/04). No
decorrer da minha inserção presenciei vários momentos como este,
em que os alunos ensinavam uns aos outros e construíam laços de
afetividades que se estendiam para além das aulas, se construindo
juntos na prática social do coral.
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez.2016
124
Em uns dos encontros em que não houve aula, pude presen-
ciar mais uma vez os laços de afetividade entre as crianças e o com-
promisso com o grupo do qual faziam parte. Nesse dia, durante um
diálogo com as alunas Luiza e Paola, Luiza perguntou a Paola:
Luiza: Paola você vai na apresentação da escola?
Paola: Vou, não posso faltar...
Mariana: Por que você não pode faltar?
Paola: Se todo mundo faltar estraga a apresentação (D.C
29/04).
O que a aluna queria dizer é que só existe o coral quando to-
dos estão presentes, cantando juntos. O coral só pode acontecer na
coletividade. Ela tinha um compromisso social com aquele grupo e
como agora eu fazia parte daquele grupo também, compreendi, por
meio da fala da aluna, que eu também tinha esse compromisso com
eles, e por isso também precisava me apresentar com eles. A fala
da aluna também demostra uma autovalorização, pois ela se enten-
de como um elemento importante e fundamental dentro daquele
grupo. Autovalorização construída nas experiências com o coral,
vivências baseadas em relações de alteridade fomentando esse re-
conhecimento da sua importância frente ao grupo.
A educadora e pesquisadora Leila Martins Dias (2012) apon-
ta que
[...] a prática coral torna-se possível a partir do agrupamen-
to das pessoas que dela participam de modo contínuo e
regular. Portanto, para se tornar factível no processo e nos
resultados a que se propõe, é necessário o ingresso, a assi-
duidade e o compromisso das pessoas para trazer resulta-
dos musicais que fazem parte da sua própria condição de
existência (DIAS, 2012, p. 133).
Mesmo sem conhecer as pesquisas na área de educação mu-
sical e canto coral, a aluna Paola percebeu, a partir de sua prática
junto ao coro e do convívio com os demais, a necessidade não só
do agrupamento de pessoas para que o coro exista, mas também a
necessidade de um comprometimento com esse grupo.
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez. 2016
125
O meu último encontro foi a apresentação do coral em uma
escola municipal. Fomos de ônibus e, durante o percurso, fomos fa-
zendo exercícios de aquecimento vocal conduzidos pela educadora
e, ao chegarmos, fomos direto ao palco.
No caminho de volta, imaginei que haveria grande algazar-
ra dentro do ônibus, mas, ao contrário disso, os alunos voltaram
o tempo todo cantando. Ninguém falou para eles cantarem, mas
mesmo assim cantaram todo o caminho de volta. Essa experiência
me mostrou que para aqueles alunos a música não se resume ao
espaço da sala de aula, ela está presente na vida deles, no seu coti-
diano, a música é parte do que eles são, é parte das suas identida-
des. Como vimos no decorrer do trabalho, “As práticas sociais nos
encaminham para a criação de nossas identidades” (OLIVEIRA et
al., 2009), ao conviverem em um círculo virtuoso e colaborativo,
os alunos e alunas do coro se constituem, se criam e recriam na
convivência.
Durante nossos encontros, pude observar a prática social do
coral que acontecia na sala de aula e se estendia aos corredores do
prédio, e no convívio que acontece na praça no horário do lanche.
Nesse curto espaço de tempo pude participar de alguns processos
educativos.
Observei como as crianças aprendem a cantar uns com os
outros, aprendem a conviver com as diferenças, e se educam na
coletividade. Em alguns momentos da aula, breves discussões en-
tre os alunos ocorriam, envolvendo inclusive a disputa de quem
canta melhor, mas que logo eram dissipadas, pois para o resultado
do conjunto ser bom, todos têm igual importância. Pude perceber
que, no aprendizado colaborativo do coral, esses alunos aprende-
ram que:
[...] podemos jogar as nossas diferenças não para ven-
cermos os outros, mas para sairmos todos como os que
vencem juntos ao criarem entre todos algo melhor do que
faríamos se estivéssemos jogando com ideias, sozinhos
(BRANDÃO, 2005, p. 58, grifo do autor).
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez.2016
126
Ao entenderem que o coro é um corpo constituído por várias
pessoas, aprenderam a transformar a competição em cooperação
(BRANDÃO, 2005).
Maturana (1998) define a educação como um processo de
transformação na convivência, em que o aprendiz se transforma
junto com os professores e com os demais companheiros com os
quais convive em seu espaço educacional. Tal processo de trans-
formação envolve tanto o aprendizado específico dos envolvidos
quanto toda construção coletiva enquanto pessoa. Participei des-
se processo de transformação ao me tornar novamente uma aluna
adulta de coral junto às crianças do Projeto.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer deste trabalho, definiu-se o que são práticas so-
ciais, e a sua importância na educação dos seres humanos. Também
buscou-se explicitar que essas práticas estão presentes em toda a
história da humanidade e em ambientes destinados à educação es-
colar ou não.
No diálogo com autores, estabeleceu-se a ligação dessas prá-
ticas sociais e dos processos educativos delas gerados com a cons-
trução da autonomia, do diálogo, da criticidade, e consequentemen-
te da humanização de homens e mulheres.
Esse trabalho teve como objetivo principal identificar a práti-
ca social presente nas aulas de canto coral de um Projeto sociocul-
tural de Batatais, e os possíveis processos educativos decorrentes
dessa prática. Na inserção nas aulas de canto coral e no interva-
lo do lanche do Projeto foi possível observar como essa prática
ocorre durante as aulas, e também fora delas, e como as crianças
envolvidas nessa prática convivem e, ao conviverem, se educam
na coletividade. Ao fazerem parte de um grupo que se reúne duas
vezes por semana para fazer parte do coral, acredito que aprende-
ram a ter respeito uns pelos outros, dividir, conviver em grupo, a
se autovalorizar-se dentro desse grupo e, principalmente, que todos
fazem parte desse “um”.
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez. 2016
127
Fazer parte dessa prática social do “coral” também desenca-
deou em mim processos educativos. Ao compreender que ali exis-
tia um compromisso social, firmado naturalmente na convivência,
percebi que esse compromisso também se estendia a mim. Quando
me tornei aluna de canto coral, passei a fazer parte daquele corpo,
constituído por membros de igual importância, que juntos formam
o coro.
A convivência com esses alunos me levou a perceber o quan-
to há por trás de uma prática, aparentemente, unicamente musical.
Pude ver que a música parte do ambiente da sala de aula para a vida
desses alunos, se fazendo presente no seu cotidiano. Ela também
pode proporcionar o encontro entre pessoas que passam a dialogar
pela linguagem musical.
O entendimento de que a educação musical pode possibilitar
o encontro e processos educativos que ensinam “[...] a viver e a
controlar o viver, enfim, manter a sobrevivência material e simbó-
lica das sociedades humanas” (OLIVEIRA et al., 2009, p. 4) pode
colaborar com o trabalho dos educadores musicais, levando à re-
flexão sobre o que a música pode proporcionar àqueles que com
ela interagem. A prática social musical pode desencadear processos
educativos humanizadores ou desumanizadores, cabe aos que estão
envolvidos nela decidirem o que pretendem priorizar. Nessa refle-
xão constante faz-se necessário perguntar-se “para quê, contra que,
a favor de quê” (FREIRE, 2011) eu estou utilizando a música.
Vivenciei, como aluna de canto coral, que quando o ensino
musical favorece a interação entre os alunos, proporcionando o
diálogo, dando espaço para exercerem sua autonomia, geram pro-
cessos educativos que contribuem para a humanização dos alunos
envolvidos, levando-os a se reconhecerem como sujeito perante o
mundo.
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez.2016
128
REFERÊNCIAS
BOGDAN, C. R.; BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação. Porto:
Porto Editora, 1994.
BRANDÃO, C. R. Qualidade de vida, vida de qualidade e qualidade da vida.
In: ______. A canção das sete cores: educando para a paz. São Paulo: Contexto,
2005. p. 28-72.
CRUVINEL, F. M. Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais: aspectos
históricos. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO COLETIVO DE
INSTRUMENTOS MUSICAIS, 1, 2004, Goiânia, GO. Anais... Goiânia, 2004.
p. 76-80.
DIAS, M. M. L. Interações pedagógico-musicais da prática coral. Revista da
ABEM, Londrina, v. 20, n. 27, p. 131-140, jan./jun. 2012. Disponível em
<http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/
revistaabem/article/view/166/101>. Acesso em: 04 out. 2016.
DUSSEL, E. Para uma ética da libertação latino-americana III: erótica e
pedagógica. Piracicaba: Unimep; São Paulo: Loyola, 1977.
______. Introducción a la filosofía de la liberación. Colombia: Nueva América,
1995.
______. Sobre el concepto de “ética” y de ciencia “crítica”. In: ______. Hacia
una filosofia política crítica. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2001, p. 303-318.
______. Transmodernidad e interculturalidad (interpretación desde la filosofía
de la liberación). In: FORNET-BETANCOURT, R. Crítica intercultural de la
filosofia latino-americana actual. Madrid: Trotta, 2004, p. 123-160.
FIORI, E. M. Conscientização e educação. Educação e Realidade, Porto Alegre,
v. 11, n. 1, p. 3-10, jan./jun.1986.
______. Prefácio. In: FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 50. ed. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 2011. p. 5-12.
FREIRE, P. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do
oprimido. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011a.
______. Pedagogia do oprimido. 50. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011b.
FUCCI-AMATO, R. C. O canto coral como prática sócio-cultural e educativo-
musical. Opus, Goiânia, v. 13, n. 1, p. 75-96, 2007. Disponível em: <http://www.
anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/295>. Acesso em: 14 out.
2016.
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez. 2016
129
JUNKER, D. O movimento do canto coral no Brasil: breve perspectiva
administrativa e histórica. In: CONGRESSO DA ANPPOM, 9, 1999. Salvador,
BA. Anais... Salvador, 1999, p. 1-8. Disponível em <file:///C:/Users/102907/
Downloads/desenv%20do%20canto%20no%20BR%20sec.%20XX.pdf>.
Acesso em: 04 out. 2016.
MATURANA, H.; VARELA, F. A árvore do conhecimento: as bases biológicas
do conhecimento humano. São Paulo: Palas Athena, 2004.
MATURANA, H. Emoções e linguagem na educação e na política. Belo
Horizonte: UFMG, 1998.
OLIVEIRA, M. W. Pesquisa e trabalho profissional como espaços e processos
de humanização e de comunhão criadora. Cadernos CEDES, v. 29, n. 79, p. 309-
321, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v29n79/02.pdf>.
Acesso em: 04 out. 2016.
OLIVEIRA, M. W. et al. Processos educativos em práticas sociais: reflexões
teóricas e metodológicas sobre pesquisa educacional em espaços sociais. In:
REUNIÃO DA ANPED, 32, 2009, Caxambú, MG. Anais... Caxambú, 2009. p.
1-17. Disponível em: <http://32reuniao.anped.org.br/arquivos/trabalhos/GT06-
5383--Int.pdf>. Acesso em: 04 out. 2016.
TOURINHO, A. C. Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais: crenças, mitos,
princípios e um pouco de história. Anais XVI Encontro Nacional da ABEM e
Congresso Regional da ISME na América Latina. Campo Grande: UFMS, 2007.
Educação, Batatais, v. 6, n. 2, p. 107-129, jul./dez.2016
Você também pode gostar
- Projeto de Estagio Ensino Fundamental LL Uniasselvi Meirilene e Maria SandersDocumento22 páginasProjeto de Estagio Ensino Fundamental LL Uniasselvi Meirilene e Maria SandersMeirilene Diorio67% (9)
- Registros na educação infantil: Pesquisa e prática pedagógicaNo EverandRegistros na educação infantil: Pesquisa e prática pedagógicaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Ebook Hackeando Cerebro 60 SegundosDocumento26 páginasEbook Hackeando Cerebro 60 SegundosBruno Guimaraes100% (1)
- Joana Ricardo - Manual de Radiestesia - RevistoDocumento23 páginasJoana Ricardo - Manual de Radiestesia - Revistojoanaricardo100% (9)
- TEXTO 1 - Circulo de CulturaDocumento3 páginasTEXTO 1 - Circulo de CulturaIngrid SantosAinda não há avaliações
- 1 5050901979845362087Documento159 páginas1 5050901979845362087MarcoAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Psicomotor e Desenvolvimento HumanoDocumento58 páginasDesenvolvimento Psicomotor e Desenvolvimento HumanotulioAinda não há avaliações
- A Escola Como Lugar Da Cultura Mais Elaborada PDFDocumento16 páginasA Escola Como Lugar Da Cultura Mais Elaborada PDFsuegre2011Ainda não há avaliações
- Instruções Práticas 02Documento12 páginasInstruções Práticas 02amanda100% (1)
- Psicoterapia Breve - Cap 4 09.05.16 PDFDocumento51 páginasPsicoterapia Breve - Cap 4 09.05.16 PDFrosi100% (1)
- Caderno Metodologico XFBPJF PDFDocumento126 páginasCaderno Metodologico XFBPJF PDFSilier Andrade Cardoso BorgesAinda não há avaliações
- Cultura Escolar e MulticulturalismoDocumento15 páginasCultura Escolar e MulticulturalismorosileideAinda não há avaliações
- Manual Formacao Hst-cgtp-InDocumento100 páginasManual Formacao Hst-cgtp-InpelosirosnanetAinda não há avaliações
- Alfabetização, Letramento e Tecnologias DigitaisDocumento14 páginasAlfabetização, Letramento e Tecnologias DigitaisJó gomes0% (1)
- Grelha ObservaçaoAulas Excel FátimaDocumento6 páginasGrelha ObservaçaoAulas Excel Fátimanelitabotelho100% (1)
- TCC AutismoDocumento27 páginasTCC AutismoDaniela Albino100% (1)
- Praticas Sociais e Processos EducativosDocumento9 páginasPraticas Sociais e Processos Educativostiago costaAinda não há avaliações
- Motricidade Humana Na Educação MusicalDocumento13 páginasMotricidade Humana Na Educação MusicalThales NogueiraAinda não há avaliações
- 0 Projeto Versao Teorica 2024 - Emeb Alice Couto em Sinfonia Dos AnimaisDocumento22 páginas0 Projeto Versao Teorica 2024 - Emeb Alice Couto em Sinfonia Dos AnimaisDenise PeruzzoAinda não há avaliações
- Rpessina,+600 612 SilvaDocumento13 páginasRpessina,+600 612 Silvawell.salvistaAinda não há avaliações
- O Movimento e A CriançaDocumento3 páginasO Movimento e A CriançaInfraestrutura ImbitubaAinda não há avaliações
- UntitledDocumento6 páginasUntitledGraziela Paula LucasAinda não há avaliações
- SILVA E SOUSA. Dança, Corpo e MovimentoDocumento16 páginasSILVA E SOUSA. Dança, Corpo e MovimentoBianca BedoAinda não há avaliações
- Apresentação Reunião Pedagógica Dia 12 - 09Documento22 páginasApresentação Reunião Pedagógica Dia 12 - 09Deise De OliveiraAinda não há avaliações
- A Importância Da Musicalização No Processo Da EducaçãoDocumento27 páginasA Importância Da Musicalização No Processo Da EducaçãoKarla Rafaella Souza100% (1)
- Artigo A DIMENSO DIALGICA NO ESTUDO-PESQUISA-VIDADocumento18 páginasArtigo A DIMENSO DIALGICA NO ESTUDO-PESQUISA-VIDAbrenno richardAinda não há avaliações
- Ensino de Língua e Pluriculturalismo para A Construção de Identidades Na Sociedade Pós-ModernaDocumento23 páginasEnsino de Língua e Pluriculturalismo para A Construção de Identidades Na Sociedade Pós-ModernaMariana S. FalkowskiAinda não há avaliações
- Inclusão Social de Crianças Com Dificuldade de Comportamento Por Meio Da Arte Na Educação Infantil e Ensino Fundamental. ArtigoDocumento9 páginasInclusão Social de Crianças Com Dificuldade de Comportamento Por Meio Da Arte Na Educação Infantil e Ensino Fundamental. ArtigoTatiana LoboAinda não há avaliações
- Narrativas CriançasDocumento12 páginasNarrativas CriançasBruna SerenaAinda não há avaliações
- 66-Texto Do Artigo-225-1-10-20140428Documento6 páginas66-Texto Do Artigo-225-1-10-20140428guilhermequadradoatorAinda não há avaliações
- B3 Texto Complementar 3 - 9pgDocumento9 páginasB3 Texto Complementar 3 - 9pgEmmanuella CalazansAinda não há avaliações
- PROCÓPIO, Daniele Freire (2019)Documento6 páginasPROCÓPIO, Daniele Freire (2019)Jessica CunhaAinda não há avaliações
- Portfólio 2 Projeto de Intervenção JuventudesDocumento66 páginasPortfólio 2 Projeto de Intervenção JuventudesPatrícia Cássia DuarteAinda não há avaliações
- Contribuições Do Canto Coral Na EscolaDocumento18 páginasContribuições Do Canto Coral Na EscolaVANESSA GIMENEZ DA SILVAAinda não há avaliações
- SAMPAIODocumento4 páginasSAMPAIONathália AmorimAinda não há avaliações
- Modelo Atividades Estrutural 28 02 2024Documento7 páginasModelo Atividades Estrutural 28 02 2024joaomarcello.ribeiro1Ainda não há avaliações
- DANIELLE CARVALHO - Trabalho Final Prof. Marcos NeiraDocumento7 páginasDANIELLE CARVALHO - Trabalho Final Prof. Marcos NeiraDanielle CarvalhoAinda não há avaliações
- Sumario 8Documento16 páginasSumario 8Maná MoraisAinda não há avaliações
- Sexualidade InfantilDocumento10 páginasSexualidade InfantilDavidkassongo CaiomboAinda não há avaliações
- Trabalho Ev073 MD1 Sa9 Id9062 11102017111143Documento12 páginasTrabalho Ev073 MD1 Sa9 Id9062 11102017111143Marcia LobAinda não há avaliações
- Gênero e Dança Na Educação Física EscolarDocumento6 páginasGênero e Dança Na Educação Física EscolarpablopaudosferrosAinda não há avaliações
- 314-Texto Do Artigo-649-1-10-20200324 PDFDocumento17 páginas314-Texto Do Artigo-649-1-10-20200324 PDFÁquila RibeiroAinda não há avaliações
- TARAGÔ, L., HABOWSK, C. e CONTE, E. A Inclusão Social Por Meio Das Artes Possibilidades e Limites Na EducaçãoDocumento13 páginasTARAGÔ, L., HABOWSK, C. e CONTE, E. A Inclusão Social Por Meio Das Artes Possibilidades e Limites Na EducaçãoJose JesusAinda não há avaliações
- Bondioli e MantovaniDocumento18 páginasBondioli e MantovaniFabio Rogerio Silva100% (1)
- Por Um Método Psicossocial de Alfabetização de AdultosDocumento136 páginasPor Um Método Psicossocial de Alfabetização de AdultosAlbertoAinda não há avaliações
- juciene,+OMosaico7 Artigo10 GuarienteDocumento14 páginasjuciene,+OMosaico7 Artigo10 GuarienteRamon Santos AssuncaoAinda não há avaliações
- Porva de p2.2018.2Documento3 páginasPorva de p2.2018.2emanuellesouzaAinda não há avaliações
- Música para Todos Desenvolvendo A Autonomia DiscenteDocumento9 páginasMúsica para Todos Desenvolvendo A Autonomia DiscentejkimieckAinda não há avaliações
- DISCIPLINA - História Da Educação e Das Ideias PedagógicasDocumento25 páginasDISCIPLINA - História Da Educação e Das Ideias PedagógicasFran VasconcelosAinda não há avaliações
- A Importância Da Escuta Na Trajetória de Vida - Formação DocenteDocumento15 páginasA Importância Da Escuta Na Trajetória de Vida - Formação DocenteAdriana CarlaAinda não há avaliações
- Trabalho de FundamentosDocumento11 páginasTrabalho de FundamentosJosé Maria Claudino AlbanoAinda não há avaliações
- Pesquisas sobre as práticas escolares: experiências formativasNo EverandPesquisas sobre as práticas escolares: experiências formativasAinda não há avaliações
- Equipe 1 A Relação Entre Cultura e Corporeidade Na Educação de Crianças No Século XXIDocumento10 páginasEquipe 1 A Relação Entre Cultura e Corporeidade Na Educação de Crianças No Século XXICarlos Henrique CruzAinda não há avaliações
- OBRAS DE CLOVIS EditadoDocumento7 páginasOBRAS DE CLOVIS Editadojoaomarcello.ribeiro1Ainda não há avaliações
- Dissertação Ed. Musical em Projetos SociaisDocumento156 páginasDissertação Ed. Musical em Projetos SociaisMiliene SouzaAinda não há avaliações
- Rodas e Narrativas Caminhos para A Autoria de Pensamento, para A Inclusão e A Formação ATUALIZADODocumento8 páginasRodas e Narrativas Caminhos para A Autoria de Pensamento, para A Inclusão e A Formação ATUALIZADOElisangela MeloAinda não há avaliações
- Pedagpgia Da Cultura CorporalDocumento16 páginasPedagpgia Da Cultura CorporalMarcela PereiraAinda não há avaliações
- Cantigas de Roda e Sua Contribuição para o Fortalecimento Das Identidades Culturais Nas Comunidades CampesinasDocumento11 páginasCantigas de Roda e Sua Contribuição para o Fortalecimento Das Identidades Culturais Nas Comunidades CampesinasARTES VISUAISAinda não há avaliações
- Ap1 - Antropologia (22.01.24)Documento6 páginasAp1 - Antropologia (22.01.24)marialuizaad214Ainda não há avaliações
- Street Dance - Um Novo Ritmo Contagiando o Espaço Escolar - 2014 - Utfpr - Edfis - PDP - Fabiane - de - Cassia - RosaDocumento48 páginasStreet Dance - Um Novo Ritmo Contagiando o Espaço Escolar - 2014 - Utfpr - Edfis - PDP - Fabiane - de - Cassia - RosaPedro hyorowAinda não há avaliações
- Uma Estratégia para Refletir Os Princípios Da Carta Da TerraDocumento18 páginasUma Estratégia para Refletir Os Princípios Da Carta Da TerraValéria GuimarãesAinda não há avaliações
- PRE PROJETO - Texto Inicial Da DissertaçãoDocumento9 páginasPRE PROJETO - Texto Inicial Da DissertaçãoRodrigo JoséAinda não há avaliações
- Narrativa Def IntelectualDocumento11 páginasNarrativa Def IntelectualEmanuelle AlmeidaAinda não há avaliações
- Suportes Pedagógicos No Ensino e Na Formação de ProfessoresDocumento103 páginasSuportes Pedagógicos No Ensino e Na Formação de ProfessoresGraziele EntreportesAinda não há avaliações
- Eperiencia Poetica Arte Na IndanciaDocumento7 páginasEperiencia Poetica Arte Na IndanciaPamela RosaAinda não há avaliações
- Ludicidade - Continuidade - e - Significativid CAMPOS ESPERIENCIasssssssssssssssssssssDocumento17 páginasLudicidade - Continuidade - e - Significativid CAMPOS ESPERIENCIasssssssssssssssssssssCONCEICAOAinda não há avaliações
- TCC Vanessa de Fátima Magalhães 1Documento14 páginasTCC Vanessa de Fátima Magalhães 1MENOR tvAinda não há avaliações
- A Dança Na EscolaDocumento15 páginasA Dança Na EscolaSoraia OliveiraAinda não há avaliações
- 7382-Texto Do Artigo-37266-1-10-20171031Documento11 páginas7382-Texto Do Artigo-37266-1-10-20171031Glauber PinheiroAinda não há avaliações
- IDENTIDADESDocumento6 páginasIDENTIDADESJoao RibeiroAinda não há avaliações
- Desenhos-estórias e narrativas de adolescentes: representações sociais de estudantes moradores de periferia, qualidade de vida e suas leituras de mundoNo EverandDesenhos-estórias e narrativas de adolescentes: representações sociais de estudantes moradores de periferia, qualidade de vida e suas leituras de mundoAinda não há avaliações
- Modelo PortifolioDocumento2 páginasModelo PortifolioRaffaell FerreiraAinda não há avaliações
- Estetica para Educação MusicalDocumento97 páginasEstetica para Educação MusicalRaffaell FerreiraAinda não há avaliações
- Plano de EnsinoDocumento12 páginasPlano de EnsinoRaffaell FerreiraAinda não há avaliações
- Exercício de Aquecimento n1Documento1 páginaExercício de Aquecimento n1Raffaell FerreiraAinda não há avaliações
- 000livro 4 - Educação e Diversidades - DIGITALDocumento518 páginas000livro 4 - Educação e Diversidades - DIGITALvenus bezerraAinda não há avaliações
- Orientação PráticaDocumento2 páginasOrientação PráticaEduardo Souza0% (1)
- O Jogo e A Educação InfantilDocumento4 páginasO Jogo e A Educação InfantilLinetizinha100% (2)
- ? Avaliação 4Documento12 páginas? Avaliação 4daniepaulaAinda não há avaliações
- PROFMAT MA36 C04 (Geogebra)Documento60 páginasPROFMAT MA36 C04 (Geogebra)Mancuso SebastiánAinda não há avaliações
- Aprendizagem de Conceitos Matemáticos em Pessoas Com Deficiência IntelectualDocumento6 páginasAprendizagem de Conceitos Matemáticos em Pessoas Com Deficiência IntelectualBia1325Ainda não há avaliações
- Trabalho Fatima UhrDocumento9 páginasTrabalho Fatima UhrRaquel PessanhaAinda não há avaliações
- O Caminho Do DragãoDocumento55 páginasO Caminho Do DragãoRaoAinda não há avaliações
- Lógica de ProgramaçãoDocumento6 páginasLógica de ProgramaçãoTSCHERLY KLEBER DA SILVA NEIVAAinda não há avaliações
- Currículo em Movimento Ed Infantil - 19dez18Documento106 páginasCurrículo em Movimento Ed Infantil - 19dez18Lunah80Ainda não há avaliações
- 5 Passos para Ler MelhorDocumento16 páginas5 Passos para Ler MelhorastronautavirtualAinda não há avaliações
- Tarefas de Desenvolvimento Do Adulto Idoso1 PDFDocumento6 páginasTarefas de Desenvolvimento Do Adulto Idoso1 PDFbrhelioAinda não há avaliações
- Artigo ArlindoDocumento7 páginasArtigo ArlindoarlindonhavotsoAinda não há avaliações
- Livro PublicadoDocumento1.114 páginasLivro PublicadoMANOEL PEREIRA DA SILVA JUNIORAinda não há avaliações
- Ebook 3 Pilares NoreleiDocumento16 páginasEbook 3 Pilares NoreleiCarlos AugustoAinda não há avaliações
- Entrevista CPII Maria LuizaDocumento48 páginasEntrevista CPII Maria LuizaAlan PimentaAinda não há avaliações
- Planejamento Anual de Língua Portuguesa: Escola Estadual Irmã Gislene de 1º e 2º GrausDocumento22 páginasPlanejamento Anual de Língua Portuguesa: Escola Estadual Irmã Gislene de 1º e 2º GrausCassia CarolinaAinda não há avaliações
- Currículo 1 EtapaDocumento56 páginasCurrículo 1 EtapaLéa Rosane Barcelos100% (4)
- Sistema de Abastecimento de Águas - LivroDocumento156 páginasSistema de Abastecimento de Águas - LivroEnore SantanaAinda não há avaliações