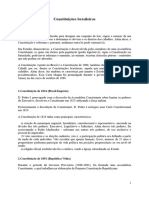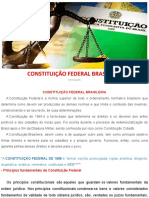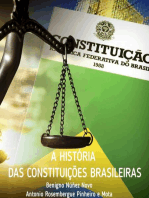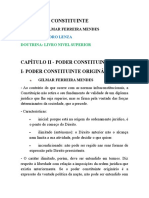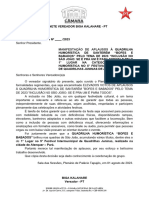Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Curso de Direito Constitucional Gilmar Mendes
Curso de Direito Constitucional Gilmar Mendes
Enviado por
GABYPORTO0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
17 visualizações6 páginasTítulo original
curso-de-direito-constitucional-gilmar-mendes
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
17 visualizações6 páginasCurso de Direito Constitucional Gilmar Mendes
Curso de Direito Constitucional Gilmar Mendes
Enviado por
GABYPORTODireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 6
VIII — CONSTITUIÇÕES NO BRASIL — DE
1824 A 1988
À parte o curtíssimo período de vigência da Constituição de
Cádiz entre nós1, a história das nossas constituições tem início
com a Independência. A Constituição de 1824 foi outorgada por
D. Pedro I, depois de dissolvida a assembleia constituinte convo-
cada no ano anterior. Foi a mais longeva das constituições
brasileiras, durando 65 anos, somente tendo sido emendada uma
vez, em 1834. Instituiu a monarquia constitucional e o Estado
unitário, concentrando rigorosamente toda a autoridade política na
Capital.
O art. 98 da Carta estatuía que o Poder Moderador, novid-
ade mais frequentemente mencionada quando se fala na Constitu-
ição de 1824, “é a chave de toda a organização Política, e é deleg-
ada privativamente ao Imperador, como Chefe Supremo da
Nação”. O art. 99 estabelecia, ainda, que “a pessoa do Imperador
é inviolável, e sagrada: ele não está sujeito a responsabilidade al-
guma”. A ele incumbia nomear os senadores, dissolver a Câmara
dos Deputados, nomear e demitir ministros de Estado e, mais, sus-
pender juízes, por queixas contra eles feitas. Os juízes não dispun-
ham das garantias da inamovibilidade e da irredutibilidade de
vencimentos. O voto, nesse regime, era censitário e era recon-
hecido a pouco mais de 1% da população.
No dia 15 de novembro de 1889, o Decreto n. 1 proclamou
a República Federativa, passando o país a ser dirigido por um
governo provisório, encabeçado por Deodoro da Fonseca. A partir
de 15 de novembro de 1890, um congresso constituinte funcionou
no que fora o Palácio Imperial (hoje, a Quinta da Boa Vista, no
Rio de Janeiro), até 24 de fevereiro de 1891, quando a primeira
Constituição republicana foi promulgada, erigida sobre o
propósito de consolidar o regime republicano e o modo de ser fed-
eral do Estado. A inspiração do presidencialismo norte-americano
era evidente. A Constituição de 1891 foi a mais concisa das
nossas cartas, com 91 artigos e outros 8 artigos inseridos nas
151/2051
Disposições Transitórias. Apesar dessa brevidade, ainda houve es-
paço para normas como a que determinava a compra pelo
Governo Federal da casa em que faleceu Benjamin Constant, de-
terminando que nela fosse aposta “uma lápide em homenagem à
memória do grande patriota”.
A Constituição de 1891 criou a Justiça Federal, ao lado da
Estadual, situando o Supremo Tribunal Federal no ápice do Poder
Judiciário. Ao STF cabia, além de competências originárias, jul-
gar recursos de decisões de juízes e tribunais federais e recursos
contra decisões da Justiça estadual que questionassem a validade
ou a aplicação de lei federal. Também lhe foi atribuída competên-
cia recursal para os processos em que atos estaduais fossem con-
frontados com a Constituição Federal. Os juízes não mais poderi-
am ser suspensos por ato do Executivo, tendo-lhes sido assegura-
das a vitaliciedade e a irredutibilidade de vencimentos. A Con-
stituição de 1891 reservou uma zona de 14.400 km², no Planalto
Central, para a fixação da futura Capital. As antigas Províncias
passaram a ser chamadas de Estados-membros, e a elas se recon-
heceu competência para se regerem por constituições próprias, re-
speitados, sob pena de intervenção federal, os princípios constitu-
cionais da União. Os Estados eram livres para adotar regime le-
gislativo bicameral, e muitos tinham deputados e senadores
estaduais.
Essa Constituição, que, como a anterior, possuía uma de-
claração de direitos, foi emendada numa única vez, em 1926.
Culminando as frequentes crises da República Velha, sobre-
veio a Revolução de 1930. As forças exitosas ficaram devendo,
no entanto, uma nova Constituição para o país, reclamada com
derramamento de sangue, em São Paulo, em 1932. Em 1933,
reuniu-se, afinal, uma assembleia constituinte, que redundou no
documento constitucional do ano seguinte. Nota-se nele a influên-
cia da Constituição de Weimar, de 1919, dando forma a preocu-
pações com um Estado mais atuante no campo econômico e
social.
A Constituição de 1934 buscou resolver o problema da falta
de efeitos erga omnes das decisões declaratórias de inconstitu-
cionalidade do STF, instituindo o mecanismo da suspensão, pelo
Senado, das leis invalidadas na mais alta Corte. No campo do
controle de constitucionalidade, ainda, a intervenção federal em
152/2051
Estados-membros por descumprimento de princípio constitucional
sensível foi subordinada ao juízo de procedência, pelo STF, de
representação do Procurador-Geral da República. A Constituição
previu expressamente o mandado de segurança.
O diploma teve curta duração. Em 1937, o país já estava
sob a regência de uma Constituição outorgada pelo Presidente
Getúlio Vargas, acompanhando o golpe de Estado do mesmo ano.
A Constituição foi apodada de polaca, devido à influência que
nela se encontrou da Constituição polonesa, de linha ditatorial, de
1935. A tônica da Carta do Estado Novo foi o fortalecimento do
Executivo. O Presidente da República era, por disposição ex-
pressa do art. 37, a “autoridade suprema do Estado”. Podia adiar
as sessões do parlamento, além de lhe ser dado dissolver o Legis-
lativo. Habilitou-se o Presidente da República a legislar por
decreto-lei. A Constituição eliminou a justiça federal de primeira
instância, reduziu os direitos fundamentais proclamados no dip-
loma anterior e desconstitucionalizou o mandado de segurança e a
ação popular. No plano do controle de constitucionalidade, o art.
96, parágrafo único, estabelecia que o Presidente da República
poderia submeter uma decisão do Supremo Tribunal Federal de-
claratória da inconstitucionalidade de lei à revisão pelo Parla-
mento, que poderia afirmar a constitucionalidade do diploma e
tornar sem efeito a decisão judicial. A Carta também previa que,
em sendo declarado o estado de emergência ou o de guerra, os
atos praticados sob esse pressuposto seriam insindicáveis em
juízo. Os direitos fundamentais ganharam referência, mas apenas
simbólica. A pena de morte voltou a ser adotada, agora para
crimes políticos e em certos homicídios. Institucionalizaram-se a
censura prévia da imprensa e a obrigatoriedade da divulgação de
comunicados do Governo.
As casas legislativas foram dissolvidas e o parlamento não
funcionou no regime ditatorial, desempenhando o Presidente da
República, por si só, todas as atribuições do Legislativo, inclusive
a de desautorizar a declaração de inconstitucionalidade de lei pelo
STF. Com isso, tornaram-se irrisórios os juízos de inconstitucion-
alidade que o Tribunal se animasse a formular sobre atos normat-
ivos do Presidente da República.
O término da Segunda Guerra Mundial e a derrocada dos
regimes autoritários influíram sobre os acontecimentos políticos
153/2051
brasileiros, erodindo as bases ditatoriais do Estado Novo. Vargas
foi deposto em outubro de 1945, e, em fevereiro de 1946, instala-
se a a assembleia constituinte. A nova Constituição é promulgada
em setembro do mesmo ano.
A Constituição de 1946 exprime o esforço por superar o
Estado autoritário e reinstalar a democracia representativa, com o
poder sendo exercido por mandatários escolhidos pelo povo, em
seu nome, e por prazo certo e razoável. Reaviva-se a importância
dos direitos individuais e da liberdade política. Volta-se a levar a
sério a fórmula federal do Estado, assegurando-se autonomia real
aos Estados-membros. A Constituição era presidencialista, exceto
pelo período compreendido entre setembro de 1961 e janeiro de
1963, em que durou o parlamentarismo, implantado pela Emenda
n. 4, como providência destinada a amenizar crise política que se
seguiu à renúncia de Jânio Quadros à Presidência da República. O
Legislativo reassumiu o seu prestígio, reservando-se somente a
ele a função de legislar, ressalvado o caso da lei delegada. Na
vigência dessa Constituição, foi instituída a representação por in-
constitucionalidade de lei, reforçando o papel do Judiciário no
concerto dos três Poderes. Da mesma forma, proclamou-se que
nenhuma lesão de direito poderia ser subtraída do escrutínio desse
Poder. Ficaram excluídas as penas de morte, de banimento e do
confisco. A Constituição ocupava-se da organização da vida econ-
ômica, vinculando a propriedade ao bem-estar social e fazendo
dos princípios da justiça social, da liberdade de iniciativa e da val-
orização do trabalho as vigas principais da ordem econômica. O
direito de greve apareceu expresso no Texto.
Em março de 1964, depois de período de conturbação polít-
ica, as Forças Armadas intervieram na condução do país, por
meio de atos institucionais e por uma sucessão de emendas à Con-
stituição de 1946. De toda sorte, o Diploma não mais correspon-
dia ao novo momento político. Em 1967, o Congresso Nacional,
que se reuniu de dezembro de 1966 a janeiro de 1967, aprovou
uma nova Constituição, gestada sem mais vasta liberdade de de-
liberação. A Constituição era marcada pela tônica da preocupação
com a segurança nacional — conceito de reconhecida vagueza,
mas que tinha por eixo básico a manutenção da ordem, sobretudo
onde fosse vista a atuação de grupos de tendência de esquerda, es-
pecialmente comunista. A Constituição de 1967 tinha cariz
154/2051
centralizador e entregava ao Presidente da República copiosos
poderes. Possuía um catálogo de direitos individuais, que per-
mitia, porém, que fossem suspensos, preenchidos certos pres-
supostos. O Presidente da República voltou a poder legislar, por
meio de decretos-leis.
A crise política se agravou nos anos subsequentes e chegou
às ruas. Em 13 de dezembro de 1968, o Governo editou o Ato In-
stitucional n. 5, que ampliava ao extremo os poderes do Presid-
ente da República, ao tempo em que tolhia mandatos políticos e
restingia direitos e liberdades básicas. Pelo AI 5, o Presidente da
República podia fechar as casas legislativas das três esferas da
Federação, exercendo as suas funções, enquanto não houvesse a
normalização das circunstâncias. Os atos praticados com funda-
mento nesse Ato ficavam imunes ao controle pelo Judiciário.
Em 1969, a Junta composta pelos Ministros que chefiavam
cada uma das três Armas, e que assumiu o governo, depois de de-
clarada a incapacidade, por motivo de saúde, do Presidente, pro-
moveu uma alargada reforma da Constituição de 1967, por meio
de ato que ganhou o nome de Emenda Constitucional n. 1/69. O
Congresso Nacional havia sido posto em recesso. O novo texto
tornou mais acentuadas as cores de centralização do poder e de
preterimento das liberdades em função de inquietações com a se-
gurança, que davam a feição característica do texto de 1967. Não
poucos autores veem na Emenda n. 1/69 uma nova Constituição,
outorgada pela Junta Militar.
Em 27 de novembro de 1985, foi promulgada a Emenda à
Constituição n. 26, que deu forma jurídico-constitucional à ex-
austão do regime. A Emenda convocou uma Assembleia Nacional
Constituinte “livre e soberana”. Os anseios de liberdade, parti-
cipação política de toda a cidadania, pacificação e integração so-
cial ganharam preponderância sobre as inquietações ligadas a
conflitos sociopolíticos, que marcaram o período histórico que se
encerrava.
Com antecedência de pouco mais de um ano da impre-
visível queda do muro de Berlim, valores de integração social,
econômica e política, sob novo clima de liberdade, se impuseram
ao quadro de suspeitas dissolventes e de controle estatal rígido e
centralizador da vida em coletividade, que a Guerra Fria inspirara
na década de 1960. A Constituição promulgada em 5 de outubro
155/2051
de 1988 restaurou a preeminência do respeito aos direitos indi-
viduais, proclamados juntamente com significativa série de direit-
os sociais. O Estado se comprometia a não interferir no que fosse
próprio da autonomia das pessoas e a intervir na sociedade civil,
no que fosse relevante para a construção de meios materiais à
afirmação da dignidade de todos. As reivindicações populares de
ampla participação política são positivadas em várias normas,
como na que assegura as eleições diretas para a chefia do Exec-
utivo em todos os níveis da Federação. Dava-se a vitória final da
campanha que se espalhara pelo país, a partir de 1983, reclaman-
do eleições “diretas já” para Presidente da República; superava-se
a abrumadora frustração decorrente da rejeição, em abril de 1984,
da Proposta de Emenda apresentada com esse intuito. A Constitu-
ição, que, significativamente, pela primeira vez na História do
nosso constitucionalismo, apresentava o princípio do respeito à
dignidade da pessoa humana e o Título dos direitos fundamentais
logo no início das suas disposições, antes das normas de organiza-
ção do Estado, estava mesmo disposta a acolher o adjetivo cid-
adã, que lhe fora predicado pelo Presidente da Assembleia Con-
stituinte no discurso da promulgação.
É esta a Constituição que se buscará melhor apreender nos
próximos capítulos deste Curso.
1 Na esteira da revolução liberal portuguesa, D. João VI, por meio do
Decreto de 21-4-1821, mandou que fosse observada no Brasil, e até que en-
trasse em vigor a Constituição que se achava em elaboração, a Constituição
espanhola, liberal, de 1812, a chamada Constituição de Cádiz. No dia
seguinte, novo Decreto de D. João revogava a ordem, e a Constituição espan-
hola perdia vigência.
Você também pode gostar
- O MÍNIMO SOBRE DIREITO (Danelon, Thaméa) (Z-Library)Documento59 páginasO MÍNIMO SOBRE DIREITO (Danelon, Thaméa) (Z-Library)LuizEduardoDuartedeOliveira100% (1)
- Processo Legislativo Federal Modulo 3Documento7 páginasProcesso Legislativo Federal Modulo 3Rhenan Teixeira100% (7)
- Exercícios de Fixação - Módulo II - O Poder LegislativoDocumento5 páginasExercícios de Fixação - Módulo II - O Poder LegislativoSARAH PORTELLA DOMINGOSAinda não há avaliações
- Resumo Poder LegislativoDocumento3 páginasResumo Poder LegislativoDavis AndradeAinda não há avaliações
- Historia Da Constituição BrasileiraDocumento7 páginasHistoria Da Constituição BrasileiraRodnaldo MateusAinda não há avaliações
- Dia 03 - Constitucionalismo No BrasilDocumento25 páginasDia 03 - Constitucionalismo No Brasilvictorsantos0701.profissionalAinda não há avaliações
- Constituições BrasileirasDocumento5 páginasConstituições BrasileirasGiovana AlmeidaAinda não há avaliações
- Constituição Escrita e Não EscritaDocumento49 páginasConstituição Escrita e Não EscritaemanoelsoaresAinda não há avaliações
- Histórico Das Constituições BrasileirasDocumento17 páginasHistórico Das Constituições BrasileirasGuilherme SanchesAinda não há avaliações
- Constituições - DemocraciaDocumento5 páginasConstituições - DemocraciaRaíssa NunesAinda não há avaliações
- Resumo D. FundamentaisDocumento11 páginasResumo D. FundamentaisIsabela FontouraAinda não há avaliações
- AULA 03 - Constitucional 2Documento26 páginasAULA 03 - Constitucional 2Matheus CutrimAinda não há avaliações
- Direito Constitucional Blog CompletoDocumento34 páginasDireito Constitucional Blog CompletoAndreAinda não há avaliações
- Formação Constitucional BrasilDocumento15 páginasFormação Constitucional BrasilBruno SilvaAinda não há avaliações
- Constituições BrasileirasDocumento5 páginasConstituições BrasileirasAlexandre DelgadoAinda não há avaliações
- Constituições Brasileiras - Senado NotíciasDocumento4 páginasConstituições Brasileiras - Senado NotíciasHenrique AndradeAinda não há avaliações
- Constituição de 1891 PDFDocumento7 páginasConstituição de 1891 PDFbetaniaholandaAinda não há avaliações
- Resumo Constituições Do BrasilDocumento9 páginasResumo Constituições Do BrasiljuniorlmjAinda não há avaliações
- Faculdade Gospel Respostas Livro IDocumento49 páginasFaculdade Gospel Respostas Livro IPierre Stark86% (7)
- Resumo Constitucional - SlidesDocumento20 páginasResumo Constitucional - SlidesLidia OlintoAinda não há avaliações
- CONSTITUIÇÃODocumento11 páginasCONSTITUIÇÃOandersonbigu011Ainda não há avaliações
- Uma Breve História Das Constituições Do BrasilDocumento5 páginasUma Breve História Das Constituições Do BrasilmiqueiasAinda não há avaliações
- Aula CFDocumento13 páginasAula CFMatheus HenriqueAinda não há avaliações
- Classificação Da Constituição de 1946 e 1988Documento8 páginasClassificação Da Constituição de 1946 e 1988ChristopherAlmenara100% (1)
- Constituições BrasileirasDocumento5 páginasConstituições BrasileirasBiank Garcia da silvaAinda não há avaliações
- Resumo - Constituições Federais Do BrasilDocumento6 páginasResumo - Constituições Federais Do BrasilDouglas GomesAinda não há avaliações
- A história das constituições brasileiras: Constituições brasileirasNo EverandA história das constituições brasileiras: Constituições brasileirasAinda não há avaliações
- Direitos Humanos UNIDADE 07Documento4 páginasDireitos Humanos UNIDADE 07Ark LokiAinda não há avaliações
- A Constituição de 1934 Foi Uma Consequência Direta Da Revolução Constitucionalista de 1932Documento6 páginasA Constituição de 1934 Foi Uma Consequência Direta Da Revolução Constitucionalista de 1932Ana Patrícia OlivieraAinda não há avaliações
- As 7 constituições brasileiras: Constituições do BrasilNo EverandAs 7 constituições brasileiras: Constituições do BrasilAinda não há avaliações
- Controle de Const. Na CF1891Documento24 páginasControle de Const. Na CF1891anaAinda não há avaliações
- Faculdade Funorte de Januária Curso de Bacharelado em DireitoDocumento9 páginasFaculdade Funorte de Januária Curso de Bacharelado em Direitolu souzaAinda não há avaliações
- As Práticas Institucionais Do Poder Judiciário Brasileiro: Da Primeira República À Constituição Federal de 1934Documento18 páginasAs Práticas Institucionais Do Poder Judiciário Brasileiro: Da Primeira República À Constituição Federal de 1934fenomenotextesAinda não há avaliações
- Constituição de 1946Documento5 páginasConstituição de 1946arouca2Ainda não há avaliações
- Apostila Direito Constitucional - Organização Do Estado PDFDocumento65 páginasApostila Direito Constitucional - Organização Do Estado PDFVivian KalledAinda não há avaliações
- Texto de Apoio 1 Prova 2Documento4 páginasTexto de Apoio 1 Prova 2Matheus BerbelAinda não há avaliações
- Remédios CF BrasilDocumento8 páginasRemédios CF BrasilMateus ÁvilaAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido - Teoria Da Constituição RaoniDocumento13 páginasEstudo Dirigido - Teoria Da Constituição RaoniLahra LopesAinda não há avaliações
- Direito Constitucional I - SlidesDocumento76 páginasDireito Constitucional I - SlidesKallil AlvesAinda não há avaliações
- Direito Constitucional I - Parte 1Documento7 páginasDireito Constitucional I - Parte 1Heitor A. PereiraAinda não há avaliações
- Cópia de Cópia de Documento Sem TítuloDocumento7 páginasCópia de Cópia de Documento Sem TítulocruzkathyleAinda não há avaliações
- Fundamentos Constitucionais Do Direito Penal - 1Documento21 páginasFundamentos Constitucionais Do Direito Penal - 1Monique AndradeAinda não há avaliações
- Captura de Tela 2023-07-11 À(s) 22.01.21Documento42 páginasCaptura de Tela 2023-07-11 À(s) 22.01.21Stheffany SouzaAinda não há avaliações
- Disciplina 01 - Direito Constitucional MilitarDocumento37 páginasDisciplina 01 - Direito Constitucional MilitarRoger José MendesAinda não há avaliações
- Dirconstflaviabahia 04Documento28 páginasDirconstflaviabahia 04Dennis M. Ribeiro DedezinAinda não há avaliações
- Aula - 4.4 - Constituicao 1988 Constituicao CidadaDocumento14 páginasAula - 4.4 - Constituicao 1988 Constituicao CidadaLup Tênis100% (1)
- Resumo de Todas As Constituições BrasileirasDocumento7 páginasResumo de Todas As Constituições BrasileirasVictor ValeAinda não há avaliações
- Direito ConstitucionalDocumento34 páginasDireito ConstitucionalRossana CarinaAinda não há avaliações
- Poder ConstituinteDocumento25 páginasPoder ConstituinteBurg NetoAinda não há avaliações
- RESUMO Evolução Histórica Do Constitucionalismo BrasileiroDocumento3 páginasRESUMO Evolução Histórica Do Constitucionalismo Brasileirovitor fariasAinda não há avaliações
- Anotações Livro STFDocumento12 páginasAnotações Livro STFrafaela.eldebrandoAinda não há avaliações
- HIST - Constituições Do BrasilDocumento3 páginasHIST - Constituições Do BrasilCibele ErdmannAinda não há avaliações
- STF e Sua Dependência Do Poder PolíticoDocumento18 páginasSTF e Sua Dependência Do Poder PolíticoLouco por Carros (Louco por Carros)Ainda não há avaliações
- Constitucional IDocumento19 páginasConstitucional IAfonso FeitosaAinda não há avaliações
- Para Que Serve Uma ConstituiçãoDocumento4 páginasPara Que Serve Uma ConstituiçãosamuelribAinda não há avaliações
- Direito ConstitucionalDocumento23 páginasDireito ConstitucionalAndreia MorgadoAinda não há avaliações
- Direito Constitucional o Que É Conceitos e Noções FundamentaisDocumento8 páginasDireito Constitucional o Que É Conceitos e Noções FundamentaisElton Roberto SilvaAinda não há avaliações
- Direito Constitucional IIDocumento66 páginasDireito Constitucional IIMêlissa FerreiraAinda não há avaliações
- O ESTADO CONSTITUCIONAL, de Dallari (RESUMO)Documento3 páginasO ESTADO CONSTITUCIONAL, de Dallari (RESUMO)Thiago PastoreAinda não há avaliações
- Direito Constitucional - 1º TesteDocumento24 páginasDireito Constitucional - 1º Testenhrvnwgxj5Ainda não há avaliações
- Anotações Sobre Poder Constituinte - Direito ConstitucionalDocumento4 páginasAnotações Sobre Poder Constituinte - Direito ConstitucionalDouglas LeiteAinda não há avaliações
- História Do Direito 2Documento27 páginasHistória Do Direito 2Ashley SilvaAinda não há avaliações
- Constituições BrasileirasDocumento4 páginasConstituições BrasileirasRodrigo LealAinda não há avaliações
- Força de Defesa 04Documento51 páginasForça de Defesa 04Henrique Maximiano Barbosa de SousaAinda não há avaliações
- 1º Resumo de CPDC IIDocumento57 páginas1º Resumo de CPDC IICatarina Casanova100% (1)
- Discurso de Helmut Schmidt No Congresso Do SPDDocumento10 páginasDiscurso de Helmut Schmidt No Congresso Do SPDInstituto da Democracia PortuguesaAinda não há avaliações
- Funções Do Poder Executivo No BrasilDocumento3 páginasFunções Do Poder Executivo No BrasilVânia SargesAinda não há avaliações
- Nota Biográfica de Abílio Augusto Monteiro DuarteDocumento3 páginasNota Biográfica de Abílio Augusto Monteiro DuarteOdair TavaresAinda não há avaliações
- Cartilha MonarquiaDocumento32 páginasCartilha MonarquiaLuiz Henrique da CostaAinda não há avaliações
- Ae Nlha11md Avaliar Teste1 EnunciadoDocumento7 páginasAe Nlha11md Avaliar Teste1 EnunciadoPatricia Almeida AlvesAinda não há avaliações
- Exercícios de Fixação - Módulo IV (Tentativa 02)Documento4 páginasExercícios de Fixação - Módulo IV (Tentativa 02)Leandra AlvesAinda não há avaliações
- Aula 00Documento50 páginasAula 00Confessor Pos MorteAinda não há avaliações
- Ed 1896 - Toque e LeiaDocumento251 páginasEd 1896 - Toque e LeiaErnandes GuevaraAinda não há avaliações
- Ética e Administracao Pública Modulo IIIDocumento9 páginasÉtica e Administracao Pública Modulo IIIAndréia PereaAinda não há avaliações
- Committees Members Afet Leg9 PTDocumento14 páginasCommittees Members Afet Leg9 PTVicente CastroAinda não há avaliações
- CAPITULO XXI Barra Do Corda Último Quartel Do Século XXIDocumento21 páginasCAPITULO XXI Barra Do Corda Último Quartel Do Século XXILeonardo DelgadoAinda não há avaliações
- Governadores STFDocumento39 páginasGovernadores STFMetropolesAinda não há avaliações
- Mapa Mental Atualizado 220602 084145Documento1 páginaMapa Mental Atualizado 220602 084145Nathália SouzaAinda não há avaliações
- Entre A Jurisdição Constitucional e o Estado de Sítio: o Fantasma Do Poder Moderador No Debate Político-Constitucional Da Primeira RepúblicaDocumento52 páginasEntre A Jurisdição Constitucional e o Estado de Sítio: o Fantasma Do Poder Moderador No Debate Político-Constitucional Da Primeira RepúblicaSebastião De Castro JuniorAinda não há avaliações
- Constituicao 1824 EjaDocumento1 páginaConstituicao 1824 EjaGisele Lucowicz CostaAinda não há avaliações
- Tese - Ícaro Joathan (2020) - Versão Final - Ícaro JoathanDocumento355 páginasTese - Ícaro Joathan (2020) - Versão Final - Ícaro JoathanJenny AguiarAinda não há avaliações
- Apontamentos de Direito ConstitucionalDocumento84 páginasApontamentos de Direito ConstitucionalRita Nogueira100% (2)
- Moção de Aplausos - BOFES E BABADOSDocumento1 páginaMoção de Aplausos - BOFES E BABADOSfagnerecuperaAinda não há avaliações
- Analise Sintatica Com ExerciciosDocumento17 páginasAnalise Sintatica Com ExerciciosBruno HenriqueAinda não há avaliações
- O Movimento Das Forças Armadas 25 AbrilDocumento3 páginasO Movimento Das Forças Armadas 25 AbrilRita Gorgulho50% (2)
- Critérios de Correção - Exame de RecursoDocumento8 páginasCritérios de Correção - Exame de RecursoSofia LucasAinda não há avaliações
- Trabalho O Constitucionalismo Ingles PDFDocumento12 páginasTrabalho O Constitucionalismo Ingles PDFhelderAinda não há avaliações
- As Espécies Normativas Do Art 59 Da CFDocumento4 páginasAs Espécies Normativas Do Art 59 Da CFAlfredo Luiz CostaAinda não há avaliações
- HISTDocumento5 páginasHISTLeonor RamalhoAinda não há avaliações