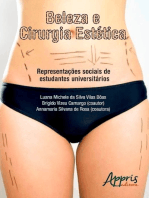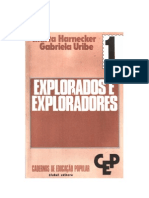Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Caderno de Resumos
Enviado por
joebarduzziDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Caderno de Resumos
Enviado por
joebarduzziDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Caderno de Resumos
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
PROGRAMAS E
RESUMOS
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Caderno de Resumos. IV Seminrio Internacional do Programa de Ps-Graduao
em Sociologia da UFSCar Olhares e dilogos sociolgicos sobre as mudanas no
Brasil e na Amrica Latina. So Carlos: UFSCar, 2013. ISSN 2236-1138 188 p.
So Carlos
2013
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Universidade Federal de So Carlos UFSCar
Prof. Dr. Targino de Arajo Filho Reitor
Centro de Educao e Cincias Humanas
Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann Diretora
Departamento de Sociologia
Prof. Dr. Maria da Gloria Bonelli - Chefe
Programa de Ps-Graduao em Sociologia
Prof. Dr. Maria Ins Rauter Mancuso - Coordenadora
Coordenadores
Prof. Dr. Andr Ricardo de Souza
Prof. Dr. Fbio Jos Bechara Sanchez
Prof. Dr. Valter Roberto Silvrio
Comisso Organizadora
Alexandro Elias Arbarotti
Cau Gomes Flor
Dafne Arajo
David Esmael Marques da Silva
Evelyn Louyse Godoy Postigo
Giulliano Placeres
Henrique de Linica dos Santos Macedo
Henrique Yagui Takahashi
Keith Diego Kurashige
Larissa Ap. C. do Nascimento
Letcia Canonico de Souza
Luiz Fernando Costa de Andrade
Maria Carolina de Camargo Schlitter
Marcos Roberto Mariano Pina
Paulo Csar Ramos
Renan Rossi
Vinicius Manduca
Comisso Cientfica
Prof. Dr. Andr Ricardo de Souza
Prof. Dr. Anete Abramowicz
Prof. Dr. Cibele Saliba Rizek
Prof. Dr. Fbio Jos Bechara Sanchez
Prof. Dr. Gabriel de Santis Feltran
Prof. Dr. Jacqueline Sinhoretto
Prof. Dr. Jacob Carlos Lima
Prof. Dr. Jorge Leite Junior
Prof. Dr. Fabiana Luci de Oliveira
Prof. Dr. Maria Ap. de Moraes Silva
Prof. Dr. Maria da Gloria Bonelli
Prof. Dr. Maria Ins Rauter Mancuso
Prof. Dr. Norma Felicidade Valencio
Prof. Dr. Oswaldo Mario Serra Truzzi
Prof. Dr. Richard Miskolci
Prof. Dr. Rodrigo Constante Martins
Prof. Dr. Rosemeire Ap. Scopinho
Prof. Dr. Tnia Pellegrini
Prof. Dr. Valter Roberto Silvrio
Apoio Tcnico
Silmara Dionsio e Luciane Cristina de Oliveira
Departamento de Sociologia
Financiadores/Apoio
UFSCar PROEX (Pr-Reitoria de Extenso) e FAI
CAPES
FAPESP
So Carlos
2013
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sumrio
APRESENTAO ....................................................................................................................... 5
PROGRAMAO GERAL ......................................................................................................... 6
GT 1: CULTURAS, IDENTIDADES E DIFERENAS ................................................... 11
GT 2: TRABALHO, MERCADOS E MOBILIDADES .................................................... 16
GT 3: CONFLITOS SOCIAIS, INSTITUIES E POLTICA...................................... 19
GT 4: SOCIOLOGIA DAS CRENAS RELIGIOSAS .................................................... 23
GT 5: VIOLNCIA, ESTADO E CONTROLE DO CRIME ........................................... 27
GT 6: RURALIDADES E MEIO AMBIENTE .................................................................. 30
RESUMOS .................................................................................................................................. 32
GT 1: CULTURAS, IDENTIDADES E DIFERENAS ................................................... 33
GT 2: TRABALHO, MERCADOS E MOBILIDADES .................................................... 67
GT 3: CONFLITOS SOCIAIS, INSTITUIES E POLTICA...................................... 92
GT 4: SOCIOLOGIA DAS CRENAS RELIGIOSAS .................................................. 121
GT 5: VIOLNCIA, ESTADO E CONTROLE DO CRIME ......................................... 145
GT 6: RURALIDADES E MEIO AMBIENTE ................................................................ 165
INDICE DE PRIMEIROS(AS) AUTORES(AS) ...................................................................... 178
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
APRESENTAO
com imensa satisfao que apresentamos o IV Seminrio Internacional do
Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar Olhares e dilogos
sociolgicos sobre as mudanas no Brasil e na Amrica Latina.
Sendo realizado desde 2010 por discentes e docentes do PPGS/UFSCar, esta IV
edio do Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da Universidade
Federal de So Carlos visa o intercmbio acadmico, propiciando o debate, em mbito
nacional e internacional, entre ps-graduao, estudantes de graduao e pesquisadores
e pesquisadoras em Sociologia e reas afins em torno do tema Olhares e dilogos
sociolgicos sobre as mudanas no Brasil e na Amrica Latina.
Desta maneira, a temtica escolhida para este evento prope fomentar o debate
das linhas e temas tradicionais da sociologia com o contexto de mudanas em que se
encontra o Brasil e a Amrica Latina. O objetivo oferecer aos participantes e s
participantes atividades e debates sobre temas de fronteira das cincias sociais
contemporneas.
Pretende tambm contribuir para fortalecer e divulgar o Programa de PsGraduao em Sociologia da UFSCar, consolidando e qualificando a disseminao da
produo cientfica de suas linhas pesquisas, assim como incentivar a integrao entre
ensino, pesquisa e extenso universitria na Ps-Graduao.
Agradecemos a todas e todos que compareceram e enviaram seus trabalhos para
serem expostos, ouvidos e debatidos, sobretudo aqueles que se deslocaram a partir de
vrias regies do pas, quando no de outros pases. Compartilhamos com vocs o
sucesso em nossa inteno de expandir o evento e torn-lo mais relevante na circulao
e divulgao da produo sociolgica.
Sejam muito bem-vindas e bem-vindos!
Comisso Organizadora
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
PROGRAMAO GERAL
SEGUNDA-FEIRA 26 DE AGOSTO
18h30 Mesa de abertura Local: Anfiteatro Bento Prado Jr. (rea norte da
UFSCar)
Prof. Dr. Targino de Arajo Filho (Reitor da UFSCar)
Prof. Dr. Wanda Aparecida Machado Hoffmann (Diretora do Centro de Educao e
Cincias Humanas/CECH/UFSCar)
Prof. Dr. Maria Ins Rauter Mancuso (Coordenadora do Programa de Ps-Graduao
em Sociologia/PPGS/UFSCar)
Prof. Dr. Maria da Gloria Bonelli (Chefe do Departamento de Sociologia/DS/UFSCar)
19h Conferncia de Abertura: Entre o poder e a diferena. Poltica e etnicidade
na Amrica Latina contempornea Local: Anfiteatro Bento Prado Jr. (rea norte
da UFSCar)
Prof. Dr. Srgio Costa (Freie Universitt Berlin / FU-Berlin/Alemanha)
Aps a Conferncia de Abertura Coquetel de boas vindas
TERA-FEIRA 27 DE AGOSTO
9h Mesa 1: Colonialidade e emancipao do saber e do poder no contexto latinoamericano Local: Anfiteatro Bento Prado Jr. (rea norte da UFSCar)
Prof. Dr. Rita Laura Segato (UnB)
Prof. Dr. Ramn Grosfoguel (University of California, Berkeley/EUA)
Prof. Dr. Patrcia Scarponetti (Universidade Nacional de Crdoba/Argentina)
Coordenao: Prof. Dr. Valter Roberto Silvrio (UFSCar)
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
9h - Mesa 2: Perspectivas geracionais na Amrica Latina Local: Auditrio do
CECH (Edifcio AT2 - rea sul da UFSCar)
Prof. Dr. Anete Abramowicz (UFSCar)
Prof. Dr. Helena Abramo (Secretaria Nacional de Juventude Secretaria Geral da
Presidncia da Repblica)
Coordenao: Prof. Dr. Maria Ins Rauter Mancuso (UFSCar)
14h Sesso dos Grupos de Trabalhos (Locais divulgados em programao anexa)
17h Frum: As novas polticas sociais brasileiras Local: Auditrio do
Departamento de Cincias Sociais (rea sul da UFSCar)
Prof. Dr. Marco Ceballos (Universidade Andrs Bello/Chile)
Prof. Dr. Isabel Pauline Hildegard Georges (UFSCar)
Prof. Dr. Cibele Saliba Risek (USP)
Prof. Dr. Yumi Garcia dos Santos (UFMG)
Prof. Dr. Gabriel de Santis Feltran (UFSCar)
19h - Mesa 3: Ilegalidade, poltica e territrio na Amrica Latina Local:
Anfiteatro Bento Prado Jr. (rea norte da UFSCar)
Prof. Dr. Rafael Soares Gonalves (PUC RJ)
Prof. Dr. Salvador Maldonado Aranda (El Colgio de Michoacn/Mxico)
Prof. Dr. Leonardo Damasceno de S (UFC)
Coordenao: Prof. Dr. Gabriel de Santis Feltran (UFSCar)
19h - Mesa 4: As mudanas no cristianismo latino-americano Local: Auditrio do
CECH (Edifcio AT2 - rea sul da UFSCar)
Prof. Dr. Andr Ricardo de Souza (UFSCar)
Prof. Dr. Dario Paulo Rivera (UMESP)
Prof. Dr. Ricardo Mariano (USP)
Coordenao: Prof. Dr. Antnio Mendes da Costa Braga (UNESP/Marlia)
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
QUARTA-FEIRA 28 DE AGOSTO
9h Mesa 5: Ao sul da teoria: pesquisas sobre gnero, sexualidade e teoria queer no
contexto brasileiro e latino-americano Local: Anfiteatro Bento Prado Jr. (rea
norte da UFSCar)
Prof. Dr. Pedro Paulo Gomes Pereira (UNIFESP)
Prof. Dr. Larissa Maus Pelcio Silva (UNESP/Bauru)
Prof. Dr. Richard Miskolci (UFSCar)
Coordenao: Prof. Dr. Jorge Leite Jr. (UFSCar)
9h - Conversa com o autor I: Trabalho e suas novas configuraes com o Prof.
Dr. Elsio Estanque (Universidade de Coimbra/Portugal) Local: Auditrio do
CECH (Edifcio AT2 - rea sul da UFSCar)
Prof. Dr. Elsio Estanque (Universidade de Coimbra/Portugal)
Coordenao: Prof. Dr. Jacob Carlos Lima (UFSCar)
14h Sesso dos Grupos de Trabalhos (Locais divulgados em programao anexa)
17h Conversa com o autor II: Descolonizacion del poder y el conocimientos
com o Prof. Dr. Ramn Grosfoguel (University of California, Berkeley/EUA)
Local: Anfiteatro Bento Prado Jr. (rea norte da UFSCar)
Prof. Dr. Ramn Grosfoguel (University of California, Berkeley/EUA)
Coordenao: Prof. Dr. Valter Roberto Silvrio (UFSCar)
19h Conferncia de encerramento Local: Anfiteatro Bento Prado Jr. (rea norte
da UFSCar)
Prof. Dr. Roberto Kant de Lima (UFF)
22h Festa de encerramento com lanamento de livros e novas edies das revistas
Contempornea e skesis no Almanach Bar e Restaurante
Endereo: Av. So Carlos, 2338 Centro
8
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
http://www.osabordesaocarlos.com.br/restaurantes/almanach-bar-e-restaurante/
Minicurso El debate poscolonial latinoamericano: debates sobre el poder?
(de 26 30 de agosto) Local: Auditrio do Departamento de Sociologia
Prof. Dr. Patrcia Scarponetti (Universidade Nacional de Crdoba - Argentina)
Programao do Minicurso:
Sesso I Segunda-feira, dia 26, s 14h
Sesso II - Tera feira, 27, s 14h (Mesa 1 - Colonialidade e emancipao do saber e do
poder no contexto latino-americano)
Sesso III Quarta-feira, dia 28, s 14h
Sesso IV Quinta-feira, dia 29, s 14h
Sesso V Sexta-feira, 30, s 14h
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
SESSES DOS GRUPOS DE TRABALHO
10
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
GT 1: CULTURAS, IDENTIDADES E DIFERENAS
Sesso I: Relaes tnicas e Raciais
Dia 27/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Valter Roberto Silvrio (UFSCar)
NOME
INSTITUIO
AGUIAR, Marcio Mucedula
UFGD
ANDRADE, Luiz Fernando
Costa de
UFSCar
CONCEIO, Eliane Barbosa
da
FGV
COSTA, Jacqueline
UFSCar
GONZALEZ ZAMBRANO,
Catalina
USP
LERSCH, Thelma Beatriz
Carvalho Cajueiro
PUC RIO
MEDEIROS, Priscila
UFSCar
MORAIS, Danilo
UFSCar
RIOS, Flavia
USP
SANTOS, Elisangela
UNESP
SANTOS, Jose Ricardo
Marques
Faculdades
Barretos
SOUZA, Srgio
UNIFIMES
TAFURI, Diogo Marques
UFSCar
TINCANI, Daniela
UNISEB
BORDA, Erik
(PSTER)
GAVERIO, Marco
(PSTER)
UFSCar
UFSCar
TTULO DO ARTIGO
EDUCAO E DIVERSIDADE: uma anlise dos
planos nacionais de educao, de educao em direitos
humanos e do referencial curricular da rede estadual de
ensino de Mato Grosso do Sul ensino mdio.
ESTADO DEMOCRTICO, RECONHECIMENTO E
CONSCINCIA DE SI: um exerccio
reflexivo a partir do debate racial.
POLTICAS DE PROMOO DA IGUALDADE
RACIAL PARA O MERCADO DE TRABALHO:
lies prendidas.
PROGRAMA DE INCLUSO E INTEGRAO
TNICO RACIAL (PIIER) DA UNIVERSIDADE DO
ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT): um
estudo comparativo entre os campi de Cceres e Sinop.
A INSTITUCIONALIZAO DOS MOVIMENTOS
DE MULHERES NEGRAS: o Brasil e a Colmbia em
perspectiva comparada.
CIDADANIA, RECONHECIMENTO E JUSTIA
ESTADO BRASILEIRO E AS AES
AFIRMATIVAS COM CRITRIO RACIAL:
descentramento e desracializao do nacional
DISPUTA HEGEMNICA E POLTICA DE
RECONHECIMENTO NO BRASIL
CONTEMPORNEO
RAA, GNERO E REPRESSO MITIRAR: ensaio
sociolgico e histrico sobre a trajetria artstica e
poltica de Thereza Santos.
DO CURURU PAULISTA COMO
PECULIARIDADE IDENTITRIA, ALGUNS
APONTAMENTOS
A FIXAO DO SUJEITO NA BIBLIOGRAFIA
SOBRE CULTURA CAIPIRA E SERTANEJA.
DAS RELAES ENTRE RAA-ETNIA, CLASSE
E STATUS: discutindo a conformao da hierarquia
social no brasil.
A POLTICA COMO DESCOLONIZAO:
reflexes sobre o estado-nao brasileiro e sua
democracia constitucional.
A IDENTIDADE CULTURAL E O INVESTIMENTO
EM POLTICA PBLICA CULTURAL: um estudo
sobre Ribeiro Preto
ESTUDOS CULTURAIS NO BRASIL: do que
estamos falando?
CORPOS COLONIZADOS reflexes sobre raa e
deficincia
11
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso II: Multiculturalismo e Identidades
Dia 28/08/13 s 14h
Debatedora: Prof. Dr. Maria Ins Rauter Mancuso (UFSCar)
NOME
INSTITUIO
ARAGON, Luiza
UFF
BERTELLI,
Giordano
UFSCar
BORGES, Virginia
UFPel
FLOR, Cau Gomes
UFSCar
GESSA, Marilia
UNICAMP
MACEDO, Marcio
New School
NACKED, Rafaela
PUC/SP
NASCIMENTO,
Larissa
SANTOS, Gilberto
de Assis Barbosa
UFSCar
UNESP
SILVA, Cinthia
UNESP
SILVA, Eliane
UNESP
SOUZA, Valtey
Martins
UFPA
VITORINO, Diego
UNESP
TTULO DO ARTIGO
DA CONSIDERAO AO RESPEITO: construo de
gramticas e diferenas na ladeira Sacop
A FRICA NO CABE NO BRASIL? aspectos (ps)
coloniais da potica de Oswald de Andrade
A TRANSFORMAO DO ESPAO SOCIAL
CONTIDA NA ATUAO JUVENIL NO
COTIDIANO
TRADUZIR-SE UMA PARTE NA OUTRA PARTE: a
construo de marcadores sociais da diferena na
dispora.
RAP E TERRITORIALIDADE NA CIDADE DE SO
PAULO
A ARTE DA POLTICA E A POLITICA DAS ARTES:
militantes e artistas na construo de uma esfera pblica
negra no Brasil
REFAVELA (1977): negritude na potica musical de
Gilberto Gil
REPENSANDO CULTURA E IDENTIDADE NEGRA:
o que os moradores do Bixiga tm a nos dizer?
A PRESENA DO NEGRO NOS ROMANCES DE
MACHADO DE ASSIS: ocorrncias em Esa e Jac
LUGARES DA MEMRIA. O recompor da cultura
migrante entre avs e netos
CAROLINA MARIA DE JESUS: marginalizao social
e escrita literria.
UMA BREVE ANLISE DO PROCESSO DE
IDENTIFICAO DAS QUEBRADEIRAS DE COCO
BABAU NO MUNICIPIO DE SO DOMINGOS DO
ARAGUAIA-PA
NO ENCALO DO PONTO PERDIDO: a memria do
jongo em Bananal SP
12
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso III: Subjetividades, Identidades e Diferenas
Dia 27/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Richard Miskolci
NOME
INSTITUIO
AGUIRRE, Alexandra
UERJ
ARAUJO, Marivnia
Conceio
FANTINATO,
Manuela
FRANOSO, Luis
Michel
PUC-Rio
GOMES, Cleber
UNICAMP
LEAL, Lu
UNICAMP
MASSUIA, Rafael. R.
UNESP
ROIM, Talita
UNESP
TENCHENA, Sandra
Mara
AKEL, Georgia
(PSTER)
UEM
UNESP
PUC/SP
TTULO DO ARTIGO
INVESTIGAO SOBRE PROCESSOS DE
INTERSUBJETIVIDADE NA RECEPO DE
OBRAS DE ARTE
TAMBM EXISTE ALEGRIA NO BAIRRO
SANTA FELICIDADE
VILM FLUSSER E O EXLIO COMO
IDENTIDADE EM TRNSITO
A MODERNIDADE UMA SERPENTE
A EDUCAO NA PS-MODERNIDADE E A
ERA DA CIBERCULTURA
IDENTIDADE NACIONAL E INDSTRIA
CULTURAL: a msica popular brasileira entre
apropriaes e disputas
CULTURA E SOCIEDADE NO BRASIL
SEGUNDO CARLOS NELSON COUTINHO
MERCADO MUNICIPAL PAULISTA: relaes
socioculturais como formao de uma identidade
cultural do ser paulistano
CULTURA E IDENTIDADE NA CIDADADE
DE PRUDENTPOLIS - PR
UNICAMP
MEXEU COM UMA. Mexeu com todas
IBRAHIM, Ismael
(PSTER)
UFMS
VIOLNCIA E PRECONCEITO: a identificao
das ocorrncias de bullying homofobico no
ambiente escolar
PATRIOTA, Beatriz
(PSTER)
UFSCar
TATUAGEM: corpo e arte
ZAMIAN, Gabriel
(PSTER)
UFMS
HOMOFOBIA E SEXUALIDADE: a
agressividade do palavro como forma de
manifestao do bullying no ambiente escolar
13
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso IV: Gnero, Corpos e Conflitos.
Dia 28/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Jorge Leite Jr.
NOME
INSTITUIO
ALVES, Paula
UFU
AZEVEDO, Paulo
PUC-Rio
BONALDI, Eduardo
USP
DEODATO, Eder
UFPE
FEITOSA, Ricardo
UFC
LEAO, Natalia
UFMG
LIMA, Priscilla
UFAM
PINTO, Renata Pires
PUC/SP
ROSSI, Vanberto
UFSCar
SILVA, Wanessa
UFAL
TTULO DO ARTIGO
A LEI MARIA DA PENHA SOB A
PERSPECTIVA DO
RECONHECIMENTO
NEM MENINOS, NEM MENINAS.
As ruas esto cheias de ningum
MULHERES INVESTIDORAS E
ENGENHEIRAS: socializao,
habitus de gnero e lutas
concorrenciais
GAROTOS DE PROGRAMA: uma
etnografia da prostituio masculina
em Recife
"O OUTING COMO QUESTO":
trnsito de prticas e conceitos.
GNERO E DESIGUALDADE EM
SADE NAS MACROREGIES
DO
BRASIL
MULHERES AMAZNICAS
SEGUNDO ELIZABETH
AGASSIZ EM
VIAGEM AO BRASIL (1865-1866)
IDENTIDADE NACIONAL: a
Embratur como construtora de
imagem da mulher brasileira
FORMA E CONTEDO: algumas
consideraes sobre a
possvel reconfigurao do conceito
de obreira da
vida na atualidade
O CORPO DE QUEM?
protagonismo feminino e cultura do
parto mdico
14
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso V: Culturas e Identidades Indgenas
Dia 27/08/13 s 14h
Debatedora: Prof Dr Clarice Cohn (UFSCar)
NOME
INSTITUIO
TTULO DO ARTIGO
GODOY, Marilia
Gomes Ghizzi
UNISA
LIMA, Selma
UFGD
MELO, Betania
UFRN
LVI-STRAUSS: mito e msica
RIBEIRO JR,
Ribamar
IFPA/CRMB
TERRA INDGENA ME MARIA: os Akrtikatj
no processo de resistncia
TRUJILLO MIRAS,
Julia
UnB
A POLTICA INDIGENISTA E O PATRIMNIO
IMATERIAL
novas abordagens, novas relaes
A MSICA E A DANA GUARANI MBYA COMO
RECURSOS DE CIDADANIA E IDENTIDADE
TNICA
ALUNOS INDGENAS NAS ESCOLAS PBLICAS
NA CIDADE DE
DOURADOS MS: perspectivas e tenses.
15
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
GT 2: TRABALHO, MERCADOS E MOBILIDADES
Sesso I: Desenvolvimento Regional e Economia Solidria
Data: 27/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Fbio Bechara Sanchez (UFSCar)
Nome
Instituio
Ttulo do Trabalho
BELTRAME,
Gabriella
PUC-MG
MUTIRO AUTOGESTIONRIO E ALTERNATIVA
PRODUO IMOBILIRIA DO URBANO: reflexes sobre
apropriao da cidade
UFRGS
AS POTENCIALIDADES E OS PROBLEMAS DAS CIDADES
DOS ARCOS SUL E CENTRAL DA FRONTEIRA DO BRASIL
UNISINOS
SATISFAO: um tema em definio
UFPA
MIGRAO, TRABALHO E MINERAO: maranhenses tomam
rumo de Parauapebas, no sudeste do Par
FIT (PA)
REDES DE SOCIABILIDADE E COMRCIO NA FLORESTA
UFBA
O CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES DA BAHIA E A
ELABORAO DA POLITICA ESTADUAL DE RESDUOS
SLIDOS
OLIVEIRA
FILHO, Marco
Aurlio
UFSCar
ASPECTOS RELACIONADOS COMERCIALIZAO DO
ARTESANATO SOLIDRIO EM MUNICPIO DO INTERIOR
PAULISTA dificuldades e possibilidades
POSSEBON,
Daniela
UFRGS
A ECONOMIA CRIATIVA E OS NOVOS REFLEXOS
INSTITUCIONAIS SOBRE O TRABALHO ARTESANAL EM
PORTO ALEGRE
UFCG
CONSIDERAES GERAIS SOBRE A DEMOCRACIA E OS
PRINCPIOS DEMOCRTICOS DA ECONOMIA SOLIDRIA
UNIFIMES
A OCUPAO DOS CERRADOS NO CENTRO-OESTE
BRASILEIRO: trabalhadores, expanso do agronegcio e questes
socioambientais
USP
ASPECTOS DA GOVERNANA LOCAL: insero internacional
das cidades atravs de redes de cidades
CRUZ, Milton
FILHO, Camilo
Pereira Carneiro
DAROS, Marilene
Lige
EID, Farid
SOUZA, Andr
Santos de
MEDEIROS,
Thais Helena
Schweickardt,
Katia
MENEZES, Diego
Matheus Oliveira
de
SILVA, Luiz
Antonio Coelho
BATISTA, Ozaias
Antonio
SILVA, Joo
SOUZA, Srgio
BARBOSA,
Nilvan
VITAL, Graziela
MOURA, Rosene
de Jesus
(POSTER)
PELLEGRINO,
Lucas Nunes
(POSTER)
UFRB
UNESP
O TRABALHO DAS MULHERES NA PRODUO DE
FARINHA DE MANDIOCA NO RECNCAVO BAIANO:
comunidade Iriquiti, Maragojipe Bahia
A ZONA FRANCA DE MANAUS SOB A PERSPECTIVA DO
DESENVOLVIMENTO HISTRICO-ECONMICO DA
AMAZNIA OCIDENTAL (2002-2012)
16
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso II: Trabalho
Data: 28/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Jacob Carlos Lima (UFSCar)
Nome
BAHIA, Ryanne F.
Monteiro
BRITTO, Denise
Fernandes
Instituio
UFC
UFSCar
Ttulo do Trabalho
TRABALHO E MOBILIDADE: a experincia laboral de
motoristas de nibus urbano em Fortaleza
A CULTURA ORGANIZACIONAL NO DISCURSO DA
MDIA
UENF
REESTRUTURAO, PRECARIZAO E O
PROGRAMA BOLSA FAMLIA: anlises a partir da
flexibilidade
LIMA, Angela Maria de
Sousa
UEL
O REDIMENSIONAMENTO DO TRABALHO
SUBCONTRATADO DAS MULHERES NAS FACES
DOMICILIARES E NAS COOPERATIVAS DE
COSTURA DE CIANORTE-PR
NELI, Marcos Accio
UNESP
OLIVEIRA, Daniela
Ribeiro
UFSCar
PASSOS, Daniela
Oliveira Ramos dos
UFMG
PIRES, Aline Suelen
UFSCar
OS DESAFIOS DO TRABALHO ASSOCIADO: a
experincia das fbricas recuperadas no Brasil
RANGEL, Felipe
UFSCar
NOS BASTIDORES DA TERCEIRIZAO: o trabalho
informal na indstria caladista
ROCHA DE FREITAS,
Gabriella
UFRGS
A IMERSO EM NOVAS REDES SOCIAIS E AS
MUDANAS NO TRABALHO INFORMAL DE RUA: o
Shopping do Porto Cameldromo de Porto Alegre
TAVARES NETO, Joo
UFPA
TRABALHO E FLEXIBILIDE EM NARRATIVAS: um
estudo sobre trajetrias ocupacionais de trabalhadores da
indstria de construo
CARMO, Priscila
Pacheco
(PSTER)
UNESP
MULHER E TRABALHO: a vida diria das teleatendentes
CAVALCANTE, Isaac
Ferreira (PSTER)
UFPI
O PERFIL DOS DIRIGENTES DOS SINDICATOS
FILIADOS A CUT, NO MUNICPIO DE TERESINAPIAU, EM 2012
MARTINS, Amanda
Coelho
(PSTER)
UFSCar
DISCURSO EMPREENDEDOR E REALIDADE
PRECRIA: a categoria dos profissionais de TI
SIQUEIRA, Wellington
(PSTER)
UFSCar
PARALEGAIS NA CIDADE DE SO PAULO: um
estudo de processos e discursos de profissionalizao
GONALVES, Marilene
Parente
O ETHOS OPERRIO E O ADOECIMENTO NAS
AGROINDSTRIAS AVCOLAS BRASILEIRAS
ESTAGIRIOS EM EMPRESAS DE SOFTWARE:
flexibilidade e qualificao
INTITUIES SOCIAIS E A POSSVEL RESOLUO
DE UM PROBLEMA DE AO COLETIVA: um estudo
das associaes trabalhistas de Belo Horizonte no incio do
sculo XX
17
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso III: Sociologia Econmica e Polticas Pblicas
Data: 28/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Fbio Bechara Sanchez (UFSCar)
Nome
Instituio
Ttulo do Trabalho
BAROUCHE, Tnia
UNESP
TRANSPORTE PBLICO MUNICIPAL E A
PROBLEMTICA DO SUBSDIO CRUZADO: mobilidade
social e tarifa mdica para quem?
CARVALHO, Jucineth
G. E. S. V. de
PERARO, M. A
UFSCar
ORIGENS E OCUPAO DO LOTEAMENTO QUARTAFEIRA: um estudo sobre a sua relevncia no contexto da
urbanizao de Cuiab (1968-1990)
GALVO, Cassia Bmer
PUC -SP
OS PORTOS MARTIMOS BRASILEIROS uma
investigao inicial sobre suas reais contribuies ao
nacional-desenvolvimento
OLIVEIRA, Arlete
UNISINOSRS
MIGRAO E IDENTIDADE: relao intrnseca ou um
processo consequente?
SILVA, Alenicon Pereira
da
SILVA, Ricardo Lima da
PEDROSA, Ana Paula
Amorim
UEPB
DESLOCAMENTO DO SONHO: um olhar sobre a
qualificao e empregabilidade dos refugiados haitianos em
Manaus AM
SILVA, Newton
UNESP
O FURACO WALL STREET: impactos da ltima crise
capitalista sobre a economia cubana
SILVA, Ricardo Lima da
PEDROSA, Ana Paula
Amorim
UFAM/UFT
A DINAMICA DO MERCADO IMOBILIRIO DE
MANAUS
SOUZA, Andr
UFPA
ZAPATA, Sandor
UNESP
ZUCCOLOTTO, Eder
UNESP
CASSIANO, Andr V. da
Nbrega (PSTER)
UNESP
FLORES, Mariana Seno
(PSTER)
UFSCar
SIQUEIRA DE
CARVALHO, Lucas
(PSTER)
UNESP
ROYALTIES DE MINERAO E O FINANCIAMENTO
DE PROBLEMAS SOCIAIS NO MUNICPIO DE
PARAUAPEBAS (PA)
AS RECENTES REFORMAS ESTRUTURAIS
REALIZADAS NO PROGRAMA DE SEGURODESEMPREGO BRASILEIRO
CAFEICULTORES E IMIGRANTES COMO HOMENS DE
NEGCIOS E/OU EMPREENDEDORES NO INTERIOR
DE SO PAULO: o caso de So Carlos, 1890 1950
GRANDES CONGLOMERADOS E ACUMULAO DE
CAPITAL NA AMAZNIA: o caso Belo Monte
REPRESENTAES SOCIAIS SOBRE O PROGRAMA
BOLSA FAMLIA: sobre as dimenses cognitivas dos
direitos sociais
INCIO DA CEPAL E SUA INFLUNCIA NO BRASIL
COM FOCO NA AMAZNIA E NO GOVERNO DE
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (1995-2002)
18
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
GT 3: CONFLITOS SOCIAIS, INSTITUIES E POLTICA
Sesso I: Desafios das Polticas Setoriais Frente aos Conflitos Sociais
Dia 27/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Eduardo Jos Marandola Jr. (UNICAMP)
NOME
INSTITUIO
CORDEIRO, Tiago
Gomes
PUC - SP
DAMAS, Helton
Luiz Gonalves
UFSCar
DUMONT, Tiago
Vieira Rodrigues
UNESP
A HABITAO POPULAR NO INCIO DO SCULO XXI:
a construo de uma iluso
GALVANIN NETO,
Tito
UEL
O COMBATE A POBREZA EM PARCERIA COM A PNUD:
projetos desenvolvidos no Brasil
HENNING, Ana
Clara Correa
FAGUNDES, Mari
Cristina de Freitas
PUC - RS
ANALISANDO FENMENOS SOCIAIS: interpretao
sociolgica de movimentos de contracultura atravs do RAP
brasileiro, frente ao sistema constitucional e coercitivo Estatal
MATOS, sis
Oliveira Bastos
UFPel
A QUESTO SOCIAL DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
MOTTA, Luana
Dias
UFSCar
PROGRAMA VIVA-BH DE URBANIZAO FAVELAS:
relaes de poder, significao e ressignificao de espao
PAIVA, Larissa
Nunes
UFRN
CONFLITO ENTRE ONGS EM FELIPE CAMARO: estes
pobres so meus, vai procurar os teus!
QUEIROZ, Jos
Fernando
UFSP
PROJETOS SOCIAIS: limites e possibilidades redistributivas
de capital social
UFSCar
CONFLITOS SOCIAIS E PODER PATRIMONIAL NA
FORMAO DA ESTRUTURA FUNDIRIA EM SO
CARLOS-SP DURANTE A SEGUNDA METADE DO
SCULO XX.
UFU
A ATUAO DAS ELITES LOCAIS E A SEGREGAO
SOCIOESPACIAL NA CIDADE DE UBERLNDIA - MG
USP
IDOSOS NOS DESASTRES: uma anlise das dimenses
envolvidas no contexto paraibano
WAGNER, Bruna
Kucharski
UFPel
OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS EM INVASES
IRREGULARES E AS POLTICAS PBLICAS COMO
RECURSO A ESSA SUBVERSO
ALCOCER, Laura
Marcondes Ferraz
ANDRADE, Thales
Haddad Novaes de
(PSTER)
UFSCar
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NO BRASIL: o caso da
UHE Belo Monte
SILVA, Joo Paulo
da
SILVA, Leandro
Oliveira
EVANGELISTA,
Cleiber Wesley
VIANA, Aline
Silveira
SATORI, Juliana
Satori
TTULO DO ARTIGO
AS POLTICAS SOCIAIS E OS DIREITOS SOCIAIS NO
BRASIL E NA AMRICA LATINA: conflitos e perspectivas
POLTICAS PBLICAS DE TURISMO E A CRIAO DE
ESPAOS DE SUJEIO E RESISTNCIA - estudo de caso
sobre a favela Santa Marta RJ
19
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso II: A produo Sociopoltica de Novos Sujeitos entre Tenses e Mobilidades
Transescalares
Dia 28/08/13 s 14h
Debatedora: Prof. Dr. Norma Felicidade Valncio (UFSCar)
NOME
INSTITUIO
TTULO DO ARTIGO
AZEVEDO, Leonardo
Francisco de
UFJF
QUANDO O DESLOCAMENTO SE TORNA UM
VALOR: cosmopolitismo como projeto nos intercmbios
acadmicos
BRAGA, Patrcia
Benedita Aparecida
UEMS
A ALIANA DOS PEQUENOS ESTADO INSULARES
(AOSIS) E O FUNDAMENTO REIVINDICATIVO
CLIMTICO POLTICO
BRITO, Srgio
Roberto Urbaneja
UNESP
DESENVOLVIMENTO E PODER LOCAL: anlise dos
processos de descentralizao do Brasil e da Argentina sob
a perspectiva do Mercosul
DUTRA, Dbora
Vogel da Silveira
UFSC
CONFLITOS SOCIAIS NA LUTA PELA TERRA NO
BRASIL: uma anlise sob a perspectiva do pluralismo
jurdico comunitrio participativo
GUIMARES,
Mariana T.
MAGALHES, Snia
Barbosa
UFPA
TRANSFORMAES AMBIENTAIS E
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS: uma comunidade
jusante da Barragem de Tucuru
RODRIGUS,
Leonardo Henrique
Gomes
UNESP
O NEOLIBERALISMO NO BRASIL E NO CHILE: uma
anlise sobre os modelos de insero desta ideologia na
Amrica Latina
ROSA, Rafaela Euges
UFPel
A SOCIOLOGIA DO CONFLITO E A SOCIOLOGIA DO
CONSENSO ENQUANTO MEIOS PARA ANALISAR
OS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
SANTOS, Deborah
Schimidt Neves dos
UNIFESP
CONFLITOS E PARTICIPAO SOCIAL NA
ELABORAO DE POLTICAS PBLICAS
AMBIENTAIS: o caso da lei especfica da Billings
SANTOS, Valdirene
Ferreira
UNESP
SOBRE A IMIGRAO ILEGAL NA EUROPA E OS
ESPAOS EXCEO: o caso dos centros de internamento
de estrangeiros na Espanha
VARGAS, Carlos
Alberto Castillo
Universidad
Nacional Mayor
de San Marcos
EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO,
GUERRILLA Y PARAMILITARISMO
MENEZES, Vitor
Matheus Oliveira de
(PSTER)
UFBA
ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL: a
discusso acadmica como problematizadora de novas
experincias urbanas
20
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso III: Profisses e Poltica
Dia 27/08/13 s 14h
Debatedora: Prof. Dr. Maria Glria Bonelli (UFSCar)
NOME
INSTITUIO
TTULO DO ARTIGO
ARAUJO, George Freitas
Rosa de
UFF
IMAGINANDO UM BRASIL EM JORNAIS: uma interpretao
do corporativismo do Oliveira Vianna articulista
AUGUSTINHO, Aline
Michele Nascimento
UNESP
O GRUPO E O ATOR NAS MOBILIZAES SOCIAIS: o
comportamento poltico dos militantes de 1968
BENEDITO, Camila de Pieri
UFSCar
PROFISSIONALISMO, GNERO E SUBJETIVIDADES NA
JUSTIA PAULISTA
BOGADO, Adriana Marcela
UFSCar
"EM LUCHA": presena feminina no protesto social
LIMA, Bruna Della Torre C.
SANTOS, Eduardo A. C.
PUZONE, Vladimir Ferrari
USP
A ESQUERDA EM TRANSE: apontamentos para a discusso
sobre a situao social no Brasil atual
MELO, Marina Flix de
FITS
ORGANIZAES E CONFLITOS SOCIAIS: a profissionalizao
no terceiro setor
MORENO, Meire Ellen
UEL
POLTICAS PBLICAS E TEORIA POLTICA FEMINISTA:
reflexes sobre as prticas do Conselho Municipal dos Direitos das
Mulheres no Municpio de Londrina/PR
PORTELA JR, Aristeu
UFPE
CONTRADIES DO PROCESSO DE DEMOCRATIZAO
BRASILEIRO: um estudo do pensamento de Florestan Fernandes
SILVA, Rodrigo Pereira da
UNESP
A ADOO DO CONCURSO PBLICO NO BRASIL: a ideia de
atualizao no Estado brasileiro no Governo Provisrio (19301934) de Getlio Vargas
SOUZA, Luana Silva de
UNESP
CONDICIONANTES DA CRIAO E DESENVOLVIMENTO
DO CURSO DE CINCIAS SOCIAIS NA FACULDADE DE
FILOSOFIA E CINCIAS DE MARLIA
ALVES, Tatiana Teixeira
(PSTER)
PUC - MG
A INTERNET COMO FERRAMENTA DE MOBILIZAO
POLTICA
SANTOS, Adrielma S. dos
OLIVEIRA, Wilson Jos F.
(PSTER)
UFSE
MOVIMENTOS SOCIAIS, REDES SOCIAIS E PROTESTOS
PBLICOS
21
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso IV: Polticas Pblicas instituies e atores sociais
Dia 28/08/13 s 14h
Debatedora: Prof. Dr. Fabiana Luci de Oliveira (UFSCar)
NOME
INSTITUIO
TTULO DO ARTIGO
CARVALHO,
Rodrigo de
PUC - SP
A IDEOLOGIA DOS JORNAIS
DANTAS, Daniele
Cristina
ENCE - IBGE
INFORMAO: o caminho para a reivindicao de polticas pblicas
de cultura com equidade de acesso
MAUERBERG JR,
Arnaldo
STRACHMAN,
Eduardo
FGV
A INTERAO ENTRE SENADORES BRASILEIROS NO
PROCESSO DE PROPOSIO E JULGAMENTO DE PROJETOS
DE LEI
PROLO, Felipe
UFRGS
POSSIBILIDADES E OPORTUNIDADES DE UMA ATUAO
POLTICA: estudos sobre a formao do grupo de trabalho de aes
afirmativas no processo de reivindicao por cotas de ingresso na
UFRGS
RABESCO, Rafaela
UFSCar
IMPLICAES SOCIAIS DAS POLTICAS DE ESCOLA EM
TEMPO INTEGRAL: concepes, prticas e perspectivas
ROCHA, Dcio
Vieira da
UENF
JUDICIALIZAO DA POLTICA COMO BUSCA DE UMA
MORALIDADE POLTICA: um estudo sobre a lei da ficha limpa
RUGGIERI NETO,
Mrio Thiago
UNESP
O PROBLEMA POLTICO DA JUVENTUDE NO BRASIL
CONTEMPORNEO
SEVES, Natlia
Cabau
UEL
JORNAL MOVIMENTO: um ensaio sobre as frentes jornalsticas na
transio poltica brasileira
SILVA, Maria
Aparecida Ramos da
UFRN
INTERNET E CAMPANHAS ELEITORAIS: uma relao dialtica
nas eleies 2012 em Natal/RN
ZAMBELLO, Aline
Vanessa
UFSCar
ENSINO SUPERIOR PBLICO BRASILEIRO: a estrutura da
poltica de expanso
22
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
GT 4: SOCIOLOGIA DAS CRENAS RELIGIOSAS
Sesso I: Diversidade Religiosa Contempornea
Dia 27/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Antnio Mendes da Costa Braga (UNESP/Marlia)
NOME
INSTITUIO
TTULO DO ARTIGO
ARAUJO, Marcelo da Silva
Colgio Pedro II
CHINESES NO RIO DE JANEIRO: notas
sobrea a nao, territrio e identidade atravs da
prtica comercial e religiosa
BERTAPELI, Vladimir
UNESP
JCOMO, Luiz Vicente
Justino
USP
MAGALHES, Rafaela
Melo
UNEB
MAK, Denise
PUC-SP
MARTINS, Marques Alves
PUC-GO
OLIVEIRA, Wellington
Cardoso de
UFG
PINHEIRO, Marcos Filipe
Guimares
UFMG
RELIGIOSIDADE E JUVENTUDE NA
AMRICA LATINA: reflexes a partir da
Universidade Federal de Minas Gerais/Brasil
ROSA, Patrcia
UNESP
PESSOA E SOCIEDADE: dilogos e desafios
antropolgicos
BAPTISTA, Jamile Carla
(PSTER)
UEL
CAMARGO, Bruna Quinsan
(PSTER)
UFSCar
E': a corporalidade guarani atravs de sua
religiosidade
A PRESTAO DE SERVIOS RELIGIOSOS
NA POLCIA MILITAR DO ESTADO DE SO
PAULO
"SE A ESCOLA NO FALA DA MINHA
RELIGIO, ELA ME CALA TAMBM":
experincia religiosa dos estudantes no
IFBA/Salvador
A PRESENA DA RELIGIO EM AES
DOCENTES DE ESCOLAS PBLICAS DE
EDUCAO INFANTIL
A REALIDADE DO BRASIL - uma leitura do
CENSO demogrfico de 2010
JUVENTUDE E RELIGIO: as novas formas de
crer da juventude na contemporaneidade
CANDOMBL EM LONDRINA: anlise
histrica e social do processo de luta e resistncia
A CURA PELAS MOS: A imposio das mos
nas religies crists e no Reiki
23
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso II: Mudanas e Controvrsias Evanglicas
Dia 27/08/13 s 14h
Debatedora: Dr. Claudirene Aparecida de Paula Bandini (UFSCar)
NOME
INSTITUIO
TTULO DO ARTIGO
NEOPENTECOSTALISMO E A "ESCOLA DO
AMOR": o papel das representaes de gnero para o
projeto poltico-assistencial da Igreja Universal do
Reino de Deus (IURD)
CONCEPO DE CULTURA E RELIGIO DA
GEERTZ APLICADA ANLISE DO
NEOPENTECOSTALISMO
NOVA TOLERNCIA INTOLERANTE: mudana das
relaes de gnero nas Assembleias de Deus
A TEOLOGIA DA PROSPERIDADE E A IGREJA
UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
A RELIGIOSIDADE EVANGLICO E O
NEOLIBERALISMO: relaes de interdependncia
A RELIGIO NA SOCIEDADE
CONTEMPORNEA: o caso da relao imigraopentecostalismo
AZEVEDO, Pedro Costa
BARBOSA, Julia Guimares
UENF
CESARINO, Flavia Tortul
UNESP
COSTA, Otvio Barduzzi
Rodrigues da
GALLO, Fernanda
Vendramini
Universidade
Metodista
MORAIS, Edson Elias de
UEL
RODRIGUES, Donizete
UBI - Portugal
SARUWATARI, Gabrielly
Kashiwaguti
UFGD
COMUNIDADE QUILOMBOLA DEZIDRIO
FELIPE DE OLIVEIRA: compreendendo porque as
igrejas evanglicas foram bem recebidas pelo grupo
CARVALHO, Joyce Gomes
de
(PSTER)
UFRRJ
AGNCIA E PENTECOSTALISMO: uma anlise das
relaes de gnero na Assembleia de Deus dos ltimos
Dias (ADUD)
UFSCar
ESTUDO DA RELAO DE ADAPTAO NAS
DIFERENTES VERTENTES DO
PENTECOSTALISMO BRASILEIRO: anlise da
igreja da onda de cura divina Deus Amor e da onda
neopentecostal Igreja Universal do Reino de Deus
SABADIN, Ana Carina
(PSTER)
UEL
24
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso III: Diferentes Faces do Catolicismo.
Dia 28/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Flvio Munhoz Sofiati (UFG)
NOME
INSTITUIO
ALMEIDA, Detian Machado
de
SOUZA, Sueli Ribeiro Mota
UNEB
BERTO, Vanessa de Faria
UNESP
COSTA, Guilherme Borges
Ferreira
USP
FEITOSA, James de Sousa
UNESP
LANZA, Fabio
GUIMARES, Luiz Ernesto
NEVES JR., Jos Wilson A.
UEL
OLIVEIRA, Heythor Santana
de
OLIVEIRA, Christian Dennys
Monteiro de
UFSCar
PLACERES, Giulliano
UFSCar
ROSSI, Renan
UFSCar
SILVA, Mariana Gama Alves
da
UFSCar
MORENO, Pedro
(PSTER)
UFSCar
ROSA, Lucas Rogrio
(PSTER)
UFSCar
TTULO DO ARTIGO
LINGUAGENS E GESTOS NA GLOSSLALIA:
falar em lnguas como experincia e crenas
religiosas em uma Comunidade da Renovao
Carismtica Catlica
"OS FILHOS DE FRANCISCO": gnero/poder
nas ordens Catlicas de Marlia - SP
IGREJA E SECULARIZAO POLTICA: as
tentativas eclesisticas de controle dos corpos e
dos sexos
ENTRE A EXPERINCIA E A RELIGIO:
comparando o Brasil e Portugal por meio das
viglias de Carismticos Catlicos
REPRESSO E CENSURA AO SEMINRIO
CATLICO O SO PAULO (1972-1978): as
demandas populares fomentadas pela Teologia da
Libertao
RENOVAO DO CATOLICISMO
BRASILEIRO, ADAPTAO AO MERCADO
RELIGIOSO E APROPRIAO DE
PRINCPIOS EVANGLICOS NA MISSA
TRADICIONAL
O EMPREENDEDORISMO ECONMICOTELEVISIVO NO CATOLICISMO
BRASILEIRO
A FORMAO SACERDOTAL E O
TRABALHO RELIGIOSO NO UNIVERSO
CATLICO
IMPLICAES DO TRABALHO
ASSISTENCIAL DE DUAS ENTIDADES
CATLICAS PAULISTAS
AS JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE
E A EXPANSO DO TURISMO RELIGIOSO
PRESENA INSTITUCIONAL CRIST NO
CONJUNTO DE ENTIDADES TERAPUTICAS
DE TOXICMANIOS
25
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso IV: Religio e Poltica
Dia 28/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Antnio Mendes da Costa Braga (UNESP/Marlia)
NOME
INSTITUIO
ALCHORNE, Murilo de
Avelar
UFPE
BANDINI, Claudirene A. P.
UFSCar
CARVALHO, Brbara Hilda
Crespo Prado de
UENF
CASSOTA, Prisilla Leine
UFSCar
COSTA, Rogrio da
GUIMARES, Luiz Ernesto
LANZA, Fabio
BOSCHINI, Douglas
Alexandre
TTULO DO ARTIGO
REDE DE MULHERES DE TERREIRO DE
PERNAMBUCO: Estado, polticas pblicas e
religies afro brasileiras
UMA ANLISE SOBRE PODERRESISTNCIA DE LDERES FEMINISTAS
PENTECOSTAIS
POLTICAS PBLICAS
COMPENSATRIAS E RELIGIOSIDADE
AFRICANA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E A
PARTICIPAO DOS EVANGLICOS
UEL
A POLTICA RELIGIOSA "EVANGLICA":
o comportamento das lideranas protestantes e
seu engajamento no processo poltico eleitoral
nas eleies de 2010.
UEL
A TEOLOGIA DA LIBERTAO E O
DISCURSO ORAL DE LDERES
RELIGIOSOS: catlicos paulistanos e
protestantes londrinenses (1964-1985)
"PODERS PESCAR O LEVIAT COM O
ANZOL": uma perspectiva da participao
religiosa na poltica nacional
VOTO RELIGIOSO E OUTRAS NUANCES:
diferentes formas de utilizao das redes
interpessoais religiosas
O PAPEL DE BILLY GRAHAM, JERRY
FALAWELL E PAT ROBERTSON NA
RELAO ENTRE POLTICA E RELIGIO
NOS ESTADOS UNIDOS
MANDUCA, Vinicius
UFSCar
S, Lucas do Santos Cabral de
UFES
SOUZA, Marco Aurlio Dias
De
FINGUERUT, Ariel
UNESP /
UNICAMP
TEIXEIRA, Jacqueline
Moraes
USP
RELIGIO, CRIMINALIZAO DO
ABORTO E ESTADO LAICO
SABINO, Yuri
(PSTER)
UEL
A BANCADA RELIGIOSA E O "KIT GAY":
elementos de um fazer poltico cristo
26
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
GT 5: VIOLNCIA, ESTADO E CONTROLE DO CRIME
Sesso I: Marginalidades e Formas de Gesto Social
Dia 27/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Gabriel de Santis Feltran (UFSCar)
NOME
INSTITUIO
AGUILAR, Srgio Luiz Cruz
UNESP
BIZZIO, Michele Rodrigues
UNESP
CANONICO, Letcia
UFSCar
CUNHA, Carolina Flores
UFPEL
GUADAGNIN, Renata
PUC-RS
OLIVEIRA, Luciano Mrcio
Freitas de
UFSCar
PEREIRA, Juliano Gonalves.
SILVA, Edmar Pereira da
SANTOS, Snia Beatriz dos
UFU
PEREIRA, Luiz Fernando
UFSCar
SILVA, Jenair Alves
DIOGO, Joo Paulo dos Santos
UFRN
SILVA, Livia Sousa da
MENDONA, Katia
UFPA
COSTA, Annelise
(PSTER)
UNESP
FROMM, Deborah
(PSTER)
UFSCar
TTULO DO ARTIGO
VIOLNCIA E REFORMA DO SETOR DE
SEGURANA: o caso da MINUSTAH no Haiti
A URBANIZAO DOS CONDOMNIOS
RESIDENCIAIS FECHADOS: uma anlise do
Dahma
NOTAS SOBRE A GESTO DOS USURIOS DE
CRACK NA CIDADE DE SO PAULO
OCULTAR MOSTRANDO: a cobertura do crime no
telejornalismo brasileiro
COTIDIANO ENTRE-MUROS: a (re)significao
do olhar a partir da arte e culturas marginais na priso
SETE CORPOS DE SANGUE DERRAMADO:
reflexes sobre uma chacina em So Carlos SP
JUVENTUDES NEGRAS NO BRASIL: a
interseccionalidade de gnero, raa e juventude na
busca por direitos sociais e polticos
DAS VIOLNCIAS: entre a gesto e o atendimento
populao em situao de rua
REFLEXES SOBRE O EXTERMNIO DA
JUVENTUDE NEGRA NO NORDESTE E AES
DE INCIDNCIA POLTICA DO CAMPO DA
JUVENTUDE
A VIOLNCIA ESCOLAR EM MATRIAS DE
JORNAL: um imaginrio construdo em Belm-PA
MDIA- RECURSO PARA UM FIM: o caso da
MINUSTAH no Haiti
DE "CRACOLNDIA" A "CRISTOLNDIA":
notas etnogrficas da Poltica Batista de Combate ao
Crack
27
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso II: Polcia, Justia e Prises
Dia 28/08/13 s 14h
Debatedora: Prof. Dr Jacqueline Sinhoretto (UFSCar)
NOME
INSTITUIO
BARROS, Rodolfo Arruda Leite de
UNESP
CIFALI, Ana Claudia
PUC RGS
GONALVES, Rosangela Teixeira
UNESP
JESUS, Maria Gorete Marques
USP
MACEDO, Henrique
UFSCar
OLIVEIRA, Marlia
PUC RJ
SANTOS, Joo Henrique
FEMA
SCHLITTLER, Maria Carolina
UFSCar
SOUZA, Guilherme Augusto
Dornelles de
PUC RS
BARBIM, Marina Graziela
(PSTER)
UNESP
TTULO DO ARTIGO
INVESTIGAES SOBRE A EXPANSO
PRISIONAL NO ESTADO DE SO PAULO:
uma anlise sobre a reestruturao do poder
punitivo (1993 - 2013)
A POLTICA CRIMINAL BRASILEIRA
DURANTE OS GOVERNOS LULA-DILMA
(2002-2012) continuidades e rupturas
A JUSTIA INFANTO JUVENIL: a apreenso, o
julgamento e a internao na CASA Centro de
Atendimento Socioeducativo ao Adolescente do
Estado de So Saulo Fundao CASA
EM DEFESA DA SOCIEDADE: anlise do caso
Isaas no tribunal do jri da cidade de So Paulo
FAZENDO RONDA: misses, prticas e tica
policial da ROTA
OS CRIMES DE SENSAO E OS EMBATES
SOBRE AS DEFINICES DE PROVAS DE
CULPABILIDADE CRIMINAL: as discusses
sobre os direitos dos cidados durante a primeira
repblica brasileira
OS JULGAMENTOS PELO TRIBUNAL DO
JRI EM ASSIS-SP
SEGURANA PBLICA E RELAES
RACIAIS: notas sobre a formao de soldados e
oficiais da PMESP
O MNIMO NECESSRIO DE FORA
PUNITIVA: continuidades e rupturas nos
discursos sobre crime e punio nas leis 9.605/98
(crimes ambientais), 9.714/98 (penas alternativas)
e 11.343/06 (txicos).
ATOS INFRACIONAIS NAS VARAS DA
INFNCIA E JUVENTUDE NO ESTADO DE
SO PAULO (1991-2011)
28
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso III: Controle Social, Crime e Instituies Penais
Dia 28/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Luis Antonio Francisco de Souza (UNESP/Marlia)
NOME
INSTITUIO
BONESSO, Mrcio
UFSCar
FERNANDES, Alan
UNIFESP
LAMOUNIER SENA, Lucia
SAPORI, Luis Flvio
LIMA, Maria Mayara de
OLIVEIRA, Hilderline Cmara
de
ALVES, Deyse Dayane
PUC MG
TTULO DO ARTIGO
TEORIAS E GESTES DE SEGURANA PBLICA:
notas preliminares entre as influncias mundiais e
brasileiras no estado de Minas Gerais
O USO DA VIOLNCIA DA ORDEM SOCIAL: uma
anlise do bairro Furnas-Trememb do municpio de
So Paulo
ESPAO URBANO E REDES DE
COMERCIALIZAO DAS DROGAS ILCITAS
UFRN
A FORMAO DE GRUPOS NAS PRISES: uma
anlise da realidade do presidio de Alcauz e
penitenciria estadual de Parnamirim
OLIC, Mauricio Bacic
UNESP
OPRESSO, GALINHAGEM E DISCIPLINA:
dinmicas e lutas no interior da Fundao CASA
ROCHA, Rafael Lacerda Silveira
UFMG
A GUERRA COMO FORMA DE RELAO - uma
anlise das rivalidades violentas entre gangues em um
aglomerado de Belo Horizonte
SILVA, David Esmael Marques
da
UFSCar
SILVA, Jos Douglas dos Santos
UFSCar
SILVESTRE, Giane
UFSCar
CHIARADIA, Raquel
(PSTER)
UGF
MEDO E MODERNIDADE: o imprescindvel dilogo
EVAGELISTA, Cleiber Wesley
(PSTER)
UFU
A VIOLNCIA EM UBERLNDIA: narrativas entre a
periferia e a penitenciria
LGICAS ESTATAIS E DINMICAS CRIMINAIS
NO INTERIOR PAULISTA
SE O IRMO FALOU, MEU IRMO, MELHOR
NO DUVIDAR: politicas estatais e politicas
criminais referentes a homicdios na cidade de Luzia
(2001-2011).
REPRESSO E JUDICIALIZAO: estratgias
estatais de controle do crime em face s novas
dinmicas criminais.
29
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
GT 6: RURALIDADES E MEIO AMBIENTE
Sesso I: Terra e Trabalho Rural
Dia 27/08/13 s 14h
Debatedora: Dr Beatriz Medeiros de Melo
NOME
INSTITUIO
FERREIRA, Karoline Coelho
UFS
HASEGAWA, Aline Yuri
UFSCar
JESUS, Claudia Kathyuscia
Bispo de
TTULO DO ARTIGO
TERRA DE VIDA E DE TRABALHO: pensando o
campesinato por meio de seus valores
MODO DE VIDA RURAL NIKKEI: aspectos da
formao do japons caipira
O CAMPONS E SEU PROTAGONISMO: o
exemplo pelo MST e sua luta pela permanncia e
garantia de qualidade de vida nos assentamentos de
reforma agrria no municpio de Nossa Senhora da
Glria SE
O CEAR E A SECA DE 1877-79: migrao de
fome no interior nordestino
RURALIDADE EM UM CONTEXTO DE
MODERNIDADE PERIFRICA: uma leitura a
partir do acampamento Joo do Vale em Aailndia
Maranho
"TERRAS NAS MOS DOS PEQUENOS":
relaes produtivas e sociabilidade dos pequenos
fornecedores de cana e terra para as usinas de
acar e lcool do interior paulista
MAIA, Janille Campos
UFRRJ
RODRIGUES, Fabiano dos
Santos
UFCG
ROVIERO, Andria
UNESP
SANTOS, Priscila Tavares dos
UFF
SUPERANDO OS LIMITES: o caso dos assentados
rurais no PA Che Guevara
VIEIRA, Ana Carolina C.
UFPA
TRANSFORMAES NO ESPAO RURAL
AMAZNICO: o plantio de dend em comunidades
camponesas do baixo Tocantins, o municpio de
Moju/PA
CAMPREGHER, Raiza
(PSTER)
UFSCar
O DISCURSO DAS GUAS: estudo de caso da
cobrana pelo uso da gua no interior paulista
UFRRJ
UNIDADE DE PROTEO INTEGRAL E
INSTRUMENTOS DE RESISTNCIA DA
POPULAO LOCAL FRENTE AO MITO QUE
PREGA A INCOMPATIBILIDADE ENTRE
PRESERVAO AMBIENTAL E PRESENA
HUMANA NO PARQUE ESTADUAL DA
PEDRA BRANCA
DIAS, Marcia Cristina de
Oliveira
(PSTER)
30
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso II: Do Rural ao Ambiental: novos temas e dilemas conceituais
Dia 28/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Rodrigo Constante Martins (UFSCar)
NOME
INSTITUIO
BACCHIEGGA, Fbio
UNICAMP
BERTAZI, Marcio Henrique
UNESP
DA SILVEIRA, Dauto J.
DA SILVA, Osvaldo H.
UFPR
FREITAS, Geane Ferreira
UEPB
KOMARCHESKI, Rosilene.
DENARDIN, Valdir Frigo
UFPR
MACIEL, Lidiane Maria
UNICAMP
MADUREIRA, Gabriel Alarcon
UFSCar
MIGUEL, Jean Carlos
Hochsprung.
VELHO, La Maria Leme Strini
UNICAMP
SILVA, Leinir Aparecida
Mainardes da
TAWFEIQ, Reshad
UEPG
WERMELINGER, Renata de
Souza
UFRRJ
WOLFF, Ana Carolina
UNESP
TTULO DO ARTIGO
SUSTENTABILIDADE E A ANLISE
SOCIOLGICA: reviso de artigos selecionados
ENTRE A SUSTENTABILIDADE E A
REALIDADE: o caso do Prolcool (1975-2003)
POLTICAS PBLICAS E MODERNIZAO:
avanos e limites do plano desenvolvimento
sustentvel Mais Pesca e Agricultura no territrio
do baixo Vale do Itaja e Tijucas
O TURISMO RURAL COMO ESTRATGIA
PARA A DIVERSIFICAO DA RENDA DO
AGRICULTOR FAMILIAR
A DIMENSO (AGRO) ECOLGICA DA
SUSTENTABILIDADE DA PRODUO DE
FARINHA DE MANDIOCA EM
GUAREQUEABA PR
CONDIES DE TRABALHO E
EMPREGABILIDADE NA CITROCULTURA
DO ESTADO DE SO PAULO
PARA ALM DOPARADOXO DE GIDDENS:
percepes cognitivas da questo ambiental no
municpio de Brotas/SP
A FORMAO DE FRENTES DE INTERESSE
NAS AUDINCIAS PBLICAS SOBRE O
NOVO CDIGO FLORESTAL BRASILEIRO
AS AES DA SOCIEDADE CIVIL
ORGANIZADA E AS POLTICAS PBLICAS
NO ENFRENTAMENTO DA QUESTO
AMBIENTAL NA MICRORREGIO DE
PONTA GROSSA
TURISMO RURAL E AGRICULTURA
FAMILIAR: uma anlise do distrito de Campo do
Coelho, Nova Friburgo-RJ
A RECONSTRUO DA RURALIDADE SOB
O PARADIGMA DO ECOCENTRISMO
NATURALISTA E DO ESTADO
PLURINACIONAL LATINO-AMERICANO
31
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
RESUMOS
O contedo dos resumos de plena responsabilidade dos respectivos autores.
32
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
GT 1: CULTURAS, IDENTIDADES E DIFERENAS
Sesso I: Relaes tnicas e Raciais
Dia 27/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Valter Roberto Silvrio (UFSCar)
EDUCAO E DIVERSIDADE: uma anlise dos planos nacionais de
educao, de educao em direitos humanos e do referencial curricular
da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul ensino mdio
AGUIAR, Mrcio Mucedula (UFGD)
FAISTING, Andr Luiz (UFGD)
marciomuceag@uol.com.br, faisting@uol.com.br
O texto pretende apresentar uma breve reflexo sobre a (des)articulao entre o Plano
Nacional de Educao em Direitos Humanos (2003), a proposta do Plano Nacional de
Educao (2011-2020) e os Referencial Curricular da Rede Estadual de Ensino de Mato
Grosso do Sul Ensino Mdio, no que se refere s temticas relativas educao para a
diversidade e para os direitos humanos. Buscar-se- identificar se as preocupaes e as
metas relacionadas ao combate das desigualdades tnico-raciais so coerentes com uma
nova proposta de educao que combine incluso social e desconstruo do imaginrio
racista presente na sociedade brasileira e, especificamente, no espao escolar. Neste
sentido ser necessrio observar se os planos estariam ou no em consonncia com as
leis 10.639/03 e 11.645/08 que dispem, respectivamente, sobre o ensino da Histria da
frica, da Cultura Afro-brasileira e Histria Indgena. Considerando, ainda, que os
estados da Unio participaram da elaborao das Conferncias Nacionais de Educao
que culminaram na proposta do Plano Nacional de Educao, pretende tambm observar
se tal (des)articulao se reflete no Referencial Curricular da Rede Estadual de Ensino
de Mato Grosso do Sul Ensino Mdio. A escolha desse Estado se justifica pelo fato de
que o mesmo apresenta uma realidade fortemente marcada pela condio de fronteira e
pela dificuldade de reconhecimento das demandas de diversidade tnico-racial,
especialmente no que se refere s demandas dos povos indgenas. No caso especfico de
Dourados, alm da influncia dos povos que vieram do sul do pas e de outras regies,
de outros pases, cabe destaque aos povos indgenas e quilombolas. Apesar dessa
diversidade, nem sempre ou na maioria das vezes, a educao no tem sido capaz de
traduzi-la em fonte de conhecimento que combata o racismo e a discriminao.
33
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
ESTADO DEMOCRTICO, RECONHECIMENTO E
CONSCINCIA DE SI: um exerccio reflexivo a partir do debate
racial
ANDRADE, Luiz Fernando Costa (UFSCar)
luizfernando_cso@yahoo.com.br
CAPES
Cada vez o debate terico em torno das polticas de reconhecimento, dentro dos marcos
constitucionais dos Estados democrticos liberais, da dignidade igual e das identidades
individuais, vem sofrendo presses para incorporar em sua pauta de discusses a
questo dos direitos coletivos, de reconhecimento da autenticidade (particularidades) de
grupos culturalmente distintos, composto por indivduos com experincias sociais
igualmente distintas, que por este fato so subalternizados e tratados desigualmente em
sociedade. Este texto tem como ideia discutir em termos tericos a condio destes
grupos, que precisam de identidade, que precisam afirmar sua autenticidade ante uma
cultura hegemnica , e lutam pelo reconhecimento e respeito s suas particularidades,
para que sejam finalmente tratados de modo digno e igual de fato. Nossa inteno
propor esta reflexo a partir do debate racial, da relao entre negros e brancos. Um
desafio seria ento o de pensar, a questo do reconhecimento de si que para Frantz
Fanon Pele Negra, Mscaras Brancas (2008) fundamental para a conscincia de
si, geralmente dada de modo imediato, superar a simples ideia de ser para si, j que
(numa perspectiva hegeliana) a realizao da ideia de si acontece na medida em que este
si se relaciona com seu outro e luta pela obteno do reconhecimento de sua
condio humana por este outro. Temos conosco que esta reflexo no deve ser feita
unilateralmente, mas enquanto um movimento dialtico, visando destacar as possveis
contradies deste processo. Para fazermos a discusso a qual nos pretendemos,
partiremos da reflexo em torno do reconhecimento feita por Frantz Fanon dialogando
com autores como Boa Ventura Sousa Santos, Stuart Hall e Charles Taylor.
POLTICAS DE PROMOO DA IGUALDADE RACIAL PARA O
MERCADO DE TRABALHO: lies aprendidas
CONCEIO, Eliane Barbosa (CEAPG, MACKENZIE)
elianebarbosa.c@gmail.com
CNPQ
Nos ltimos anos o Brasil tem avanado no sentido de enfrentar as desigualdades raciais
e proporcionar mobilidade ascendente para populao negra. A criao da SEPPIR, em
2003 e a aprovao do Estatuto da Igualdade Racial, em 2010, e do sistema de cotas
para negros no ensino superior, em 2011, so marcos importantes nessa trajetria. O
mercado de trabalho lcus privilegiado para a reproduo da desigualdade de
rendimentos, visto que, no pas, mais de 75% da renda das famlias provm do salrio
constitui-se em setor ainda pouco alcanado pelas polticas de promoo da igualdade
racial. Desde 1996, quando foi constitudo, no mbito do Ministrio do Trabalho, um
Grupo para definir programas e aes que visassem ao combate da discriminao,
nenhuma outra poltica governamental dessa natureza foi desenhada para o setor. Diante
dessa ausncia, em 2005, o Ministrio Pblico do Trabalho criou o Programa de
Promoo da Igualdade de Oportunidade para Todos (PPIOT), por meio do qual
34
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
objetivou levar organizaes bancrias a adotar aes afirmativas para a reduo da
desigualdade de gnero e raa no trabalho. O artigo visou analisar a implementao do
PPIOT. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa, adotando-se diversas tcnicas
de pesquisa, como entrevistas semiestruturadas e anlise de documentos e de outras
materialidades. Os dados construdos no processo da pesquisa foram analisados luz da
teoria sobre a desigualdade categrica durvel, do socilogo Charles Tilly. Os
resultados sugerem que, tanto o judicirio brasileiro como as agncias bancrias, ainda
se mostram muito resistentes adoo de aes afirmativas para reduo das
desigualdades raciais no trabalho e que uma ao estatal com esse objetivo se apresenta
como uma promissora soluo para o problema.
PROGRAMA DE INCLUSO E INTEGRAO TNICO RACIAL
(PIIER) DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
(UNEMAT): um estudo comparativo entre os campi de Cceres e
Sinop
COSTA, Jacqueline da Silva (UFSCar)
MANCUSO, Maria Ins Rauter (UFSCar)
costajak@hotmail.com, inesmancuso.ds@gmail.com
Este trabalho insere-se em pesquisa de doutoramento que ora desenvolvo sobre
estudantes cotistas na Universidade do Estado de Mato Grosso, particularmente nos
campi de Cceres e Sinop. Trata-se de trabalho qualitativo e quantitativo, por meio do
qual busco acompanhar o impacto da poltica de ao afirmativa no cotidiano
acadmico dos cotistas dos dois campi. O municpio de Cceres Segundo Chaves (2000,
pp. 17) tem um histrico de presena de escravos a partir de sua fundao, em 1778,
como atestam os quilombos e comunidades tradicionais remanescentes. Sinop
(Sociedade Imobiliria Noroeste do Paran), originou-se de um ncleo de colonizao,
atraindo migrantes da regio Sul do pas, principalmente do Paran (VIEIRA, 2003, p.
3). Segundo, em Cceres a presena de pessoas de cor preta e parda mais significativa,
com aproximadamente 70%, do que em Sinop com aproximadamente 50%. Os dois
municpios apresentam no apenas diferenas histricas significativas, mas tambm
quanto s condies socioeconmicas. Os indicadores sociais apontam desigualdade de
renda, de escolaridade, de esperana de vida e de mortalidade infantil entre brancos e
negros, desigualdade est mais evidente em Cceres. Portanto, perceber como essas
diferenas interferem nas relaes no interior da universidade, e da no desempenho dos
alunos cotistas, fundamental para acompanhar o desempenho do programa de ao
afirmativa implementado pela UNEMAT. Toma-se por anlise dados de ingressantes
cotistas e no-cotistas, de acordo com o sexo e por curso, e o de formados e desistentes,
segundo o sexo e o curso.
35
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
A INSTITUCIONALIZAO DOS MOVIMENTOS DE
MULHERES NEGRAS: O Brasil e a Colmbia em perspectiva
comparada
GONZLEZ ZAMBRANO, Catalina (PPGS/FFLCH/USP)
CNPQ
As oportunidades para a ao coletiva dos grupos afrodescendentes no Brasil e na
Colmbia tm se estruturado de formas diferentes, mas nos dois casos podemos
constatar mudanas normativas e um reconhecimento institucional da diversidade tnica
e cultural que aparecem nas constituies de ambos os pases. A nova Constituio
Poltica da Colmbia em 1991 deu o parmetro para que novos grupos de ativistas
negros se organizassem e constitussem estratgias de mobilizao voltadas para a
construo de uma identidade compartilhada. A institucionalizao do Movimento
Negro nesse pas se d, por um lado, na prpria conjuntura poltica de 1991 e, por outro
lado, impulsionada pelos momentos crticos de violncia que atravessava a regio de
maioria negra do pas, a regio do Pacfico colombiano, nesse momento. No Brasil, ao
contrrio, esse processo de institucionalizao do Movimento Negro se deu na fase de
abertura e consolidao democrtica no pas, estando ligada ao modo pelo qual o
movimento se apropriou das oportunidades polticas oferecidas pelo Estado e pelo
ambiente civil. A proposta aqui pensar a institucionalizao dos movimentos sociais
como forma de mediao entre sociedade civil e o regime poltico com foco no processo
de institucionalizao dos movimentos de mulheres negras nos dois paises. O enfoque
de gnero a pauta para analisar a institucionalizao de movimentos sociais de
minorias (mulheres-negras) como meio que favorece a sua democratizao; isto ,
acesso diferenciado aos recursos e s condies de interao com o Estado e a
manuteno de canais de participao para estes movimentos como atores polticos.
CIDADANIA, RECONHECIMENTO E JUSTIA
LERSCH, Thelma Beatriz Carvalho Cajueiro (PUC-RJ)
thelmalersch@gmx.de
O tema do presente artigo a discusso acerca das aes afirmativas para negros no
acesso ao ensino superior no Brasil atual. Sob a perspectiva da sociologia e da filosofia
poltica, tenho o intuito de problematizar a legitimidade poltica e moral de tais aes no
seio da sociedade brasileira, ainda to frontalmente - e racialmente - desigual e marcada
por preconceitos de cor. Como bem afirma Roberto DaMatta em sua fbula das trs
raas, presenciamos no Brasil uma juno ideolgica bsica entre um sistema
hierarquizado real, concreto e historicamente dado e a sua legitimao ideolgica num
plano muito profundo. Tal legitimao ideolgica persiste e, ainda sob a
tranquilizadora capa da democracia racial brasileira, mostra-se em toda sua plenitude
em pesquisas em que cerca de noventa por cento dos brasileiros admitem haver racismo
no pas, porm o mesmo nmero de pessoas garante no ser, si prprio, racista. luz de
tal cenrio e pensando na construo de uma sociedade democrtica e igualitria de fato,
este artigo parte de uma compreenso das aes afirmativas raciais como um direito
necessrio realizao da plena cidadania da populao negra brasileira,
36
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
compreendendo-se direitos aqui, nas palavras de Vera Telles, como prticas, discursos
e valores que afetam o modo como desigualdades e diferenas so figuradas no cenrio
pblico, como interesses se expressam e os conflitos se realizam. Para tal fim, ser
mobilizada a perspectiva terica da sociologia poltica do reconhecimento e de aguns de
seus expoentes, quais sejam, Charles Taylor, Nancy Fraser e Axel Honneth.
Complementarmente, problematizar-se-o os conceitos de mrito, justia e cidadania
luz de autores como Michael Sandel, Celso Lafer e Rainer Forst, entre outros.
ESTADO BRASILEIRO E AS AES AFIRMATIVAS COM
CRITRIO RACIAL: descentramento e desracializao do nacional
MEDEIROS, Priscila Martins (UFSCar)
medeiros.ufms@gmail.com
Neste trabalho analisamos como que o Estado brasileiro, em suas diferentes dimenses,
tem agido e se colocado frente s demandas sociais e aos debates acadmicos em torno
das relaes raciais. Nossa tese que a categoria raa e as aes afirmativas com
critrio racial desestabilizam, desarticulam e implodem alguns dos pilares do discurso
nacional brasileiro construdos ao longo sculo XX, quais sejam: o povo brasileiro
condensado no discurso da nacionalidade morena; o mito da convivncia harmoniosa
entre os grupos tnico-raciais; e a noo de que o racismo brasileiro seria inofensivo ou
residual. Para refletir sobre essas transformaes, esta pesquisa se sustenta em trs
ncleos: a produo intelectual no Brasil; as aes do Movimento Negro e as aes do
Estado. Em termos temporais, o foco sobre a dcada de 1980 que, a nosso ver,
inaugura um novo cenrio para se pensar criticamente o racismo brasileiro. Os objetivos
que guiam este trabalho so: observar os conceitos que orientaram a produo
intelectual brasileira no que toca s relaes raciais; resgatar os principais elementos
presentes nas lutas do movimento negro brasileiro no perodo destacado; observar a
atuao do Estado brasileiro frente s demandas nacionais e transnacionais no
tratamento da questo racial, dando nfase a cada uma das trs esferas de poder;
perceber quais os dilogos e quais os impasses entre o Estado e outros dois ncleos da
pesquisa. A anlise se concentra em alguns eventos crticos, tais como: a Lei Ca
(1985); o processo constituinte (1987/88); o 1 Seminrio Internacional
Multiculturalismo e Racismo, realizado pelo Ministrio da Justia (1996); a Conferncia
de Durban (2001); a Lei 10.639/03; as decises do STF com relao s cotas com
critrio racial (2012), entre outros.
DISPUTA HEGEMNICA E POLTICA DE RECONHECIMENTO
NO BRASIL CONTEMPORNEO
MORAIS, Danilo de Souza (UFSCar)
d_morais_cs@yahoo.com.br
CNPQ
Considerando algumas das significativas transformaes nas relaes entre as esferas da
sociedade civil e do Estado no Brasil a partir do fim do regime autoritrio (1964-1985),
passo a pens-las a partir da crtica informada por Stuart Hall (1980, 1997; 2003a;
2003b) e seus fundamentos gramscianos a alguns dos trabalhos recentemente
considerados referenciais no campo do pensamento social e poltico no pas para
37
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
interpretar o ps-democratizao institucional e o momento presente, tais como:
Francisco de Oliveira (2010), Carlos Nelson Coutinho (2010), Luiz Werneck Vianna
(2009) e Andr Singer (2009). Para passar ao campo de uma sociologia poltica que
introduz a importncia das relaes tnico-raciais no Brasil, acrescento ainda a este
debate a perspectiva de Antnio Srgio Alfredo Guimares (2006), que chama a ateno
para a centralidade, na modernizao conservadora brasileira, de um padro de
integrao subalterna, tanto simblica como material, dos no-brancos, chamado
democracia racial. O objetivo do artigo apresentar as limitaes de noes como
hegemonia s avessas (Oliveira, 2010), hegemonia da pequena poltica (Coutinho,
2010), revoluo passiva (Vianna, 2009) e lulismo (Singer, 2009) e de certa
forma tambm a reduo das atuais demandas por reconhecimento como oriundas
principalmente de uma ideologia multiculturalista (Guimares, 2006) , para
caracterizar a disputa poltico-cultural em curso no Brasil. Isso, pois, tais interpretaes
parecem subestimar cada uma sua maneira, as diferenas tnico-raciais como
elemento da disputa hegemnica, presente na transformao atual da poltica de
reconhecimento das diferenas (Taylor, 2000), com a eroso da democracia racial e a
emergncia das polticas afirmativas na cena pblica nacional.
RAA, GNERO E REPRESSO MITIRAR: ensaio sociolgico e
histrico sobre a trajetria artstica e poltica de Thereza Santos
RIOS, Flavia (USP)
flaviamrios@yahoo.com.br
FAPESP
A experincia poltica de negros e negras brasileiros na resistncia Ditadura Militar
pouco conhecida. A dificuldade maior de compreender esse perodo est no fato de que
as atividades polticas eram realizadas, na maior parte das vezes, na clandestinidade e
sob a vigilncia dos rgos de represso. Alm disso, essas atividades dos negros so
mais frequentemente associadas ao discurso de classe, por estar sob a influncia das
redes comunistas e socialistas. No entanto, a sociologia e historiografia sobre as
esquerdas no Brasil nunca demonstraram interesse em tratar a presena dos negros e da
questo racial no interior dessas redes polticas. O desconhecimento dessa zona
nebulosa da histria deixou na invisibilidade trajetrias polticas que tiveram que se
confrontar tanto com a questo de classe como a racial. A trajetria de Thereza Santos
tem justamente esse efeito: revelar percursos inusitados e complexos em tempos
incertos da vida poltica brasileira. O itinerrio artstico e poltico de Thereza Santos
(1938-2012) estabelece conexes histricas e sociolgicas entre a mobilizao cultural
negra durante o regime militar, bem como seus arranjos polticos junto s organizaes
partidrias que agiam na clandestinidade. Em contraste com outros ativistas com perfil
similar, ela personagem central para compreender as sutilezas complexas desses
arranjos articulados luta contra o racismo e o sexssimo, bem como ao movimento
contra o colonialismo. Para tanto, sero utilizados na anlise a imprensa nacional e
local, e, sobretudo, as correspondncias pessoais, discursos, projetos polticos e
autobiografia de Thereza Santos, doados UFSCAR.
38
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
DO CURURU PAULISTA COMO PECULIARIDADE
IDENTITRIA, ALGUNS APONTAMENTOS
SANTOS, Elisngela de Jesus (UNESP)
lili.libelula@gmail.com
FAPESP
A comunicao em questo rene as principais concluses da etnografia realizada
durante pesquisa de doutorado recm-concluda acerca do cururu paulista na regio do
Mdio Tiet, SP. Dentre os aspectos importantes a ser observados enfatizamos o cururu
enquanto prtica cultural que marca a especificidade do grupo caipira estudado. Neste
sentido, e atravs do cururu, articulam-se diversas estratgias polticas para assegurar
uma identidade diversa e especfica que muitas vezes destoa de padres culturais
estabelecidos e valorizados socialmente enquanto cnones. No cururu caipira, os
elementos corporais, de linguagem e de memria so acionados para garantir a
manuteno da forma identitria do caipira no contexto interno do Mdio Tiet e para
alm dele, estabelecendo dilogos com outros grupos na atualidade. Para alm de seu
carter especfico de potica-musical, cantoria de improviso e desafio entre duplas
acompanhado pela viola caipira, a abordagem aqui proposta observa o cururu como
prtica cultural que ocorre em simultneidade a outras modalidades culturais e gneros
musicais mais amplamente difundidos quando a ele comparados. Neste sentido, h que
se (re)pensar as hierarquias culturais estabelecidas entre formas identitrias/culturais
diversas e no estabelecimento de limites e desigualdades entre prticas que, do ponto de
vista da atualidade e pertencimento vivenciado por quem as realiza so to significativas
quanto qualquer prtica cultural alinhada aos cnones e padres tidos como
hegemnicos em nossa sociedade.
A FIXAO DO SUJEITO NA BIBLIOGRAFIA SOBRE CULTURA
CAIPIRA E SERTANEJA
SANTOS, Jos Ricardo Marques (Faculdades Barretos)
domcso@gmail.com
Nos ltimos anos, diversas teses e dissertaes tem retomado como tema a cultura
caipira e sertaneja. Subjaz a estes textos o interesse em descrever um choque cultural
decorrente da transformao da ordem social brasileira. Este choque seria o
responsvel pela dicotomia entre msica caipira e msica sertaneja. O primeiro
termo desta oposio representaria um modo de vida tradicional que estaria dando lugar
a uma nova forma de relaes sociais e integrao social construda a partir do
consumo. Neste sentido, o segundo termo representaria a Modernidade. Entrementes,
esta dicotomia tambm representaria um recorte geracional. Os valores estariam
sendo transformados durante o processo de absoro da msica caipira ao modo de
produo capitalista generalizado pela indstria cultural, sendo os jovens os sujeitos
da incorporao dos novos valores, negando a gerao anterior. Segundo nossa hiptese
poderamos dividir em dois blocos de textos estas teses e dissertaes: a) as que
descrevem o caipira enquanto um modo de vida em vias de extino e b) os que
estabelecem uma relao direta entre indstria cultural e msica sertaneja. Propomos
realizar aqui uma anlise do conjunto desta nova produo a partir da hiptese de que
39
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
estes (as) autores (as) trabalham a partir de alguns consensos subjacentes. Em primeiro
lugar reproduziriam alguns consensos que existem em dois clssicos da sociologia
Brasileira, Florestan Fernandes e Gilberto Freyre. A saber: a da existncia de duas
ordens sociais que coexistiriam em determinado momento, mas, contudo, possuindo
um sentido de mudana. Em segundo lugar, este consenso, levaria os autores a
pressupor uma homogeneidade da cultura do interior, como uma cultura nacionalpopular. No obstante, este trabalho pretende descrever como esta construo terica
no circunscreve uma subjetividade reconhecida no discurso social, e apagaria uma
srie de sujeitos, no reconhecendo diferenas. A transformao da indstria cultural
tematizada por esta bibliografia que pretendemos abordar identifica esta srie de
transformaes econmicas com a fixao de um sujeito, representaria toda uma ordem
social.
DAS RELAES ENTRE RAA-ETNIA, CLASSE E STATUS:
discutindo a conformao da hierarquia social no Brasil
SOUZA, Srgio Luiz
SILVA, Joo Amorim Charlesdan
SILVA, Nilvan Domingos
MARTINS, Ricardo Wesley
(UNIFIMES; UNESP; UNITAU)
srgioluz@fimes.edu.br, joaoamorin@fimes.edu.br, nilvan@fimes.edu.br,
profricmartins@gmail.com
CAPES; CNPQ
Este texto refere-se a uma das discusses que perfazem nossa tese de doutorado sobre os
processos sociais de produo das diferenas e construo das identidades,
desenvolvidos pelas populaes negras no Nordeste Paulista e no Tringulo Mineiro, ao
longo do sculo XX. Pensamos aqui no sistema de representaes que traduzem crenas
e estabelecem um dado ordenamento social. No sentido de perceber as redes de sentidos
que circulam na luta que os grupos estabelecem pela hegemonia, atuando para
expressarem verdades acerca do vivido. Abordamos o imaginrio social e suas
imbricaes nas prticas dialetizadas em processos de confabulaes, entendimentos,
ritualizaes e crenas produtoras de sentidos, que circulam socialmente e interferem na
regulao dos comportamentos e na identificao e distribuio dos papis sociais,
processos vivenciados pelos agentes sociais como representaes do que tido como
verdadeiro. Percebemos o desenrolar social, como processo dinmico, gerador de
possibilidades. Estabelecemos um debate com Jess Souza que, baseado no que
denomina ideologia do desempenho, estabelece seu entendimento sobre a hierarquia
tnico-racial presente na sociedade brasileira. Distanciamo-nos desta perspectiva e
estabelecemos um dilogo com a mesma a partir de um questionamento dos parmetros
utilizados para seu entendimento. Pretendemos expor nosso distanciamento quanto ao
entendimento do autor sobre uma hierarquia das causas da desigualdade na sociedade
brasileira, em que o preconceito racial situado enquanto causa secundria e
contingente, posto que para o estudioso este um fator sobre determinado por questes
relativas ao ordenamento das classes sociais.
40
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
A POLTICA COMO DESCOLONIZAO: reflexes sobre o estadonao brasileiro e sua democracia constitucional
TAFURI, Diogo Marques (PPGE/ CECH/ UFSCar)
diogotafuri@gmail.com
CAPES
Tomando como mote a atual crise do sistema de segurana pblica no estado de So
Paulo, manifestada tanto em momentos particulares de intensificao dos conflitos
violentos armados como pela adoo de polticas de encarceramento em massa,
fenmenos conjugados a um contexto de crescente marginalizao e criminalizao da
populao empobrecida, o presente trabalho pretende refletir e problematizar sobre a
efetividade do sistema constitucional democrtico vigente no Brasil, especialmente no
tocante sua capacidade de garantir a isonomia de seus cidados no acesso a seus
direitos civis, jurdicos e polticos. Para tanto, pretendemos argumentar, a partir da
perspectiva de anlise histrico estrutural proposta por Anbal Quijano e em dilogo
com as proposies de Hannah Arendt e de Jacques Rancire acerca da ao poltica e
dos Estados-Nao modernos, que a permanncia de dois elementos de colonialidade
presentes na base de nossa sociedade, a saber, a classificao social da populao a
partir da ideia de raa e o controle do trabalho em torno do capitalismo mundial, os
quais se constituram ao longo da histria como eixos fundamentais para a produo e
reproduo do atual padro de poder hegemnico mundial, ainda deve ser tomada
enquanto condio sine qua non das contradies inerentes existncia simultnea de
um ordenamento hierrquico das relaes econmicas e polticas e do princpio formal
da igualdade poltica democrtica.
A IDENTIDADE CULTURAL E O INVESTIMENTO EM POLTICA
PBLICA CULTURAL UM ESTUDO SOBRE RIBEIRO PRETO
TINCANI, Daniela Pereira (UNISEB)
tincani@uniseb.com.br
Em 2010 a Secretaria Municipal de Cultura de Ribeiro Preto apresentou no 3 Frum
Permanente de Cultura o Relatrio do Programa Caf com Leite, que entre outras
pesquisas e propostas mostrou resultados de uma pesquisa junto aos muncipes sobre a
identidade cultural. Este artigo relaciona os resultados da pesquisa sobre a identidade
cultural, usando como referencial terico Stuart Hall. Para traar um cenrio sobre a
identidade cultural da populao ribeiro-pretana, fez-se um resgate da histria do
perodo do caf tendo como base memorialistas que estudaram as tradies da cidade. O
ponto de vista apresentado o das polticas pblicas culturais.
41
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
PSTER
ESTUDOS CULTURAIS NO BRASIL: do que estamos falando?
BORDA, Erik Wellington Barbosa (UFSCar)
ewbborda@gmail.com
O estudo da cultura no recente no Brasil e na Amrica Latina, tendo sua origem nas
ricas tradies ensasticas do sculo XIX e incio do sculo XX. Nesse sentido, diversos
autores no Brasil dedicaram-se ao debate de temas decisivos tais como a questo do
nacional e as contradies da modernidade na periferia. Durante o largo processo de
formao de uma tradio de estudos da cultura no Brasil, surgia na Inglaterra do psguerra tambm um movimento intelectual que buscava tratar de um novo modo a
cultura; eram os Estudos Culturais. O trabalho aqui apresentado visa a analisar os
impactos que os Estudos culturais, e um de seus produtos, os Estudos ps-coloniais,
tiveram nas Cincias Sociais brasileiras. Como essas perspectivas foram recebidas aqui?
A verificao das diferentes propostas de dilogo e apropriao apresentadas pelas
disciplinas de Sociologia e Antropologia, o mapeamento da recepo institucional
desses estudos no Brasil e a anlise de obras que se debruaram sobre essa recepo
foram as maneiras escolhidas para lidar com a temtica.
CORPOS COLONIZADOS reflexes sobre raa e deficincia
GAVRIO, Marco Antonio (UFSCar)
marcaosemacento@gmail.com
A partir da obra Peles Negras e Mscaras Brancas de Franz Fanon, este ensaio tenta
estabelecer uma relao de analogia com alguns conceitos utilizados pelo autor sobre o
corpo negro para pensar o corpo deficiente e sua aparente zona do no-ser. Utilizando
as discusses sobre Ableism, que vem permeando as teorias sociais sobre deficincia no
marco terico dos Disability Studies, a reflexo procura colocar em dvida a noo de
funcionalidade natural dos corpos que se estabelece e fixa-se na oposio aos corpos
deficientes, considerados disfuncionais.
42
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso II: Multiculturalismo e Identidades
Dia 28/08/13 s 14h
Debatedora: Prof. Dr. Maria Ins Rauter Mancuso (UFSCar)
DA CONSIDERAO AO RESPEITO: construo de gramticas e
diferenas na ladeira Sacop
ARAGON, Luiza Ovalle (PPGA/UFF)
Ao situar a famlia Pinto num contexto histrico mais amplo, discutimos a influncia do
processo de urbanizao da cidade do Rio de Janeiro sobre as mudanas na ocupao do
bairro da Lagoa Rodrigo de Freitas. Na transformao deste antigo bairro operrio num
reduto de uma elite econmica e social, as narrativas da famlia Pinto se mostram
entretecidas em histrias de uma busca pelo reconhecimento identitrio nas arenas
pblicas. O enfretamento das foras que expulsam a populao negra e pobre do bairro
traz uma aguada visibilidade sobre esta famlia remanescente, que encontra
resistncias configuradas cada vez mais num grupo opositor. Inicialmente, estes
confrontos se valiam da gramtica da honra e do privilgio, atravs da qual a
classificao hierrquica brasileira distinguia a famlia Pinto daqueles que passaram a
residir na periferia da cidade. Aos poucos, atravs do contato com movimentos sociais e
tambm atravs do recurso jurdico identidade quilombola, advindo com a
Constituio de 1988, a reivindicao de posse do territrio e das atividades nele
realizadas passa a se impor como uma tolerncia diversidade cultural entre grupos
detentores da mesma dignidade. At que ponto direitos impostos pelo Estado moldam
moralidades que compem conflitos histricos na ladeira Sacop? Fugimos da
armadilha determinista que atribui a decises judiciais o poder opressor de
necessariamente conformar moralidades, e de trazer, atravs da fora, prticas geradoras
de uma formao cidad, de harmonia social e de compreenso duradoura da alteridade.
Direcionamos nosso objeto para o questionamento dos limites de influncia do Direito
sobre moralidades em competio pela definio do dever ser e das prticas socialmente
adequadas para esta vizinhana.
A FRICA NO CABE NO BRASIL? aspectos (ps)coloniais da
potica de Oswald de Andrade
BERTELLI, Giordano Barbin (UFSCar)
giorbertelli@yahoo.com.br
CAPES
Uma das bandeiras estticas do Modernismo brasileiro foi a auto-imputada misso de
re-descoberta do Brasil. Interrogando a nacionalidade, escritores e artistas elegiam
no s os signos e sintaxes pelos quais abrasileirar a arte do pas como tambm os
sujeitos que deveriam subsumir o habitante modelar que povoaria a ptria por eles
imaginada. Sendo assim, a re-escritura do Brasil, tarefa implicada na empreitada da
redescoberta, impunha, de alguma maneira, o confrontamento artstico e literrio do
legado histrico de quatro sculos de colonizao. Adotando como matriz identitria o
43
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
entrecruzamento do portugus, do ndio e do africano, a arte e literatura modernistas
chegaram a diferentes equacionamentos das posies e contribuies destes trs
elementos na composio da Nao. Este trabalho pretende discutir a soluo que a
potica de Oswald de Andrade esboou para esta questo capital de leitura/escritura da
nacionalidade. Nesse sentido, enfoca-se alguns dos poemas mediante os quais a potica
oswaldiana delineava as cenas inaugurais do pas, em paralelo com as passagens
programticas de seus dois manifestos da dcada de vinte. Privilegiando o tratamento
potico dispensado oscilao entre presena-ausncia do elemento africano,
argumenta-se que a literatura oswaldiana transita de uma orientao inicialmente
marcada pela problemtica identitria, acompanhada pela dificuldade de formalizao
esttica de uma suposta identidade nacional, para uma radical supresso de um regime
identitrio de pensamento acerca da dinmica cultural, em favor da instaurao de uma
inteligibilidade da e pela diferena.
A TRANSFORMAO DO ESPAO SOCIAL CONTIDA NA
ATUAO JUVENIL NO COTIDIANO
BORGES, Virgnia Oliveira (UFPel)
virgyniaborges@gmail.com
CAPES
Esse estudo mostra a possibilidade de transformao social atribuda aos jovens no
cotidiano da sua vida grupal. essa possibilidade de transformao existente no
cotidiano da realidade juvenil, focado em um grupo de jovens que existe em virtude da
cultura que os une a dana na Vila Pestano, na periferia da cidade de Pelotas no
interior do Rio Grande do Sul que este estudo apresenta. Com base em autores como
Henri Lefebvre (2008) que apresenta, a transformao social no espao das cidades e a
possibilidade que a juventude traz consigo. E Jos Machado Pais (2003), que apresenta
a compreenso dessa dimenso juvenil, que partindo do cotidiano desse grupo
constitudo da comunidade local, dentro da proposta de incluso e participao juvenil a
que o grupo se prope, pode-se perceber as relaes dos diferentes atores envolvidos no
espao social vivenciado e reconhecemos os conflitos que modificam o espao local,
pela ao juvenil ou o embate entre jovens e adultos.
TRADUZIR-SE UMA PARTE NA OUTRA PARTE: a construo de
marcadores sociais da diferena na dispora
FLOR, Cau Gomes (UFSCar)
caueflor@hotmail.com
CAPES
Desde 2004 a cidade de Lins (interior de So Paulo) recebe, proporcionalmente, o maior
fluxo de africanos do interior paulista. L, residem e estudam (na Unilins), faculdade
local, em torno de 140 africanos e africanas naturais dos mais diversos Pases Africanos
de Lngua Oficial Portuguesa (Palop): Angola, Cabo Verde, So Tom & Prncipe,
Moambique e Guine Bissau. No entanto, so preponderantes os jovens remanescentes
de Angola, cerca de 120, sendo, os nicos que se enunciam enquanto comunidade
angolana. Ao enunciar esse discurso, os estudantes africanos agenciam e manobram um
conjunto de representaes, afirmam diferenas e promovem processos de identificao.
44
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Em sntese, essa pesquisa busca compreender como e porque o Brasil apresenta-se
como destino para esses estudantes? Pretende-se tambm como objeto de reflexo
marcadamente terica, analisar os marcadores sociais de diferena (TOMAZ, 2003)
utilizados pelos estudantes angolanos residentes na cidade de Lins-SP; pois so essas
diferenas que devem nos ajudar a entender melhor as suas narrativas sobre as tenses e
dificuldades que vivenciam no contexto brasileiro, mas tambm a maneira como, neste
espao da dispora, eles constroem e reconstroem as suas identidades. Um elemento
fundamental que subsidia os objetivos dessa pesquisa no tomar qualquer posio a
priori sobre essa diferena sublinhada pela categoria - negro. Evidentemente, que no
se nega que o j refletiu historicamente sobre a mesma. As formulaes tericas dessas
reflexes so certamente fundamento analtico dessa pesquisa. Porm, esse trabalho
busca fazer outra aproximao, mais precisamente um esforo analtico orientado a
partir desse vasto campo chamado episteme Ps-Colonial e dos Estudos Culturais.
RAP E TERRITORIALIDADE NA CIDADE DE SO PAULO
GESSA, Marlia (UNICAMP)
mariliagessa@gmail.com
PROEX CAPES
As diferentes prticas do hip hop introduziram novas formas de expresso que so
contextualmente ligadas a condies de vida na cidade de So Paulo, formada por uma
amlgama de bairros com normas sociais particulares e nuances culturais. O grafite, por
exemplo, inscreve e enuncia uma presena individual e coletiva em determinado espao
(de fato em sua origem, os grafites eram marcas de gangues, avisos aos iniciados de que
aquela rea tinha dono). Tais prticas criam os laos sobre os quais as afiliaes so
forjadas em geografias sociais especficas. A linguagem cifrada dos hip hoppers, repleta
de grias e muitas vezes em desacordo com a norma padro do portugus, configura-se
no s como um dos dialetos possveis da lngua, como apontado pela cano Negro
drama (Racionais MCs), mas tambm como uma ao afirmativa da cultura dos
territrios excludos dos mapas do lado bom das cidades. As grias, em especial,
revestem-se de outras possibilidades, j que so parte de uma formao discursivopotica que define categorias dificilmente decodificadas por aqueles que no fazem
parte das comunidades de favelas. Este trabalho dedica-se a analisar como, atravs de
prticas sociais e de linguagem, o discurso do rap tambm marca territrios e redefine
parmetros valorativos. Os territrios no so trazidos s letras somente por meio de sua
nomeao, mas tambm pela evocao de prticas culturais correntes dentro de seus
permetros e por isso que, mais do que uma realidade geogrfica, entendemos aqui o
territrio como uma construo simblica. Esta posio implica que o reflitamos de um
modo semelhante ao que Pierre Bourdieu adotou no que diz respeito formalizao do
conceito de regio: certamente que ela um domnio, uma zona, uma rea, porm,
tambm o produto das condies que lhe possibilitaram ser o que . O territrio pode
ser assim entendido como uma rede de relaes sociais que define, ao mesmo tempo,
um limite, uma alteridade: a diferena entre ns (o grupo, os membros da coletividade
ou 'comunidade', os insiders) e os outros (os de fora, os estranhos, os outsiders). Desse
modo, podemos considerar a territorialidade como constituda de relaes mediatizadas,
simtricas ou dissimtricas com a exterioridade, incluindo elementos de identidade,
exclusividade e, importantemente, de limite que, mesmo no sendo traado, exprime a
relao que um grupo mantm com uma poro do espao. Exploro a ideia de que a
msica permite um automapeamento frente a um territrio simblico que permite
45
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
definir as fronteiras entre os outros e os iguais a mim. O consumo e a produo de
rap torna-se, assim, um exerccio performativo de classificaes: os espaos que a
msica permite criar implicam noes de diferenas sociais por um lado, e organizamse segundo hierarquias de ordem moral e poltica que estabelecem valores e normas por
outro.
A ARTE DA POLTICA E A POLITICA DAS ARTES: militantes e
artistas na construo de uma esfera pblica negra no Brasil
MACEDO, Mrcio (New School for Social Research)
SILVA, Uvanderson Vitor (IESP/UERJ)
mjmacedo73@gmail.com, uvanderson@yahoo.com.br
CAPES
Os anos 1990 foram marcados por profundas transformaes na relao Estado e
sociedade no Brasil. No influxo do processo de redemocratizao, novos personagens
passaram ocupar o espao pblico reivindicando o direito a ter direitos e a abertura de
canais democrticos de participao poltica. Nesse contexto, os movimentos negros
ocuparam um papel importante ao questionar a narrativa de nao baseada na ideia de
democracia racial e pela reivindicao da participao do Estado na correo da secular
desigualdade racial que caracteriza a estrutura social brasileira. No processo de
construo de um contra-discurso negro da formao da sociedade brasileira nota-se que
a construo de mecanismos e estratgias da poltica institucional (criao de conselhos,
de legislao, de polticas pblicas) anda em pari passu com uma srie de intervenes
artsticas e performticas (msica, dana, literatura) que para alm de compor uma
identidade negra brasileira amplia o arco de repertrios polticos e os espaos de
formao e atuao polticas. Seguindo os argumentos seminais de Nancy Fraser e Paul
Gilroy, pretendemos analisar se a articulao entre poltica e cultura na formao do
protesto negro brasileiro constitutiva de uma esfera pblica negra que contorna o
dilema fortemente presente no debate acadmico entre um nacionalismo que prega
harmonia racial e uma incorporao inconsequente de categorias raciais externas (mais
precisamente norte-americana). Para tanto, pretendemos analisar os discursos de atores
negros artistas e ativistas - veiculados em diversos materiais culturais (revistas,
fanzines, rdios comunitrias, etc) produzidos no contexto do movimento hip-hop em
parceria com organizaes do movimento negro.
REFAVELA (1977): negritude na potica musical de Gilberto Gil
NACKED, Rafaela Capelossa (PUC-SP)
CAPES
Nos efervescentes anos 1960-1970 o mundo atlntico foi palco de grandes
acontecimentos: a luta por Direitos Civis nos Estados Unidos, a descolonizao de
diversos pases africanos e a emergncia de diversas lutas da populao negra. No
campo da cultura, podemos destacar a ascenso do funk e do soul e a forte presena do
reggae music no cenrio musical, gneros conectados a uma tica e uma esttica de
valorizao da cultura negra. No Brasil entre essas manifestaes musicais podemos
resgatar os Bailes Black e a africanizao do carnaval de Salvador. Neste contexto,
Gilberto Gil, um dos mais conceituados performers dessa negritude artstica e
politicamente, torna-se um dos smbolos mais importantes da negritude no pas e cone
46
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
dos jovens negros baianos nas dcadas de 1970-1980. Um dos discos mais marcantes
deste perodo da carreira do artista, Refavela (1977), dedicado frica, comeou a ser
elaborado durante a viagem de Gilberto Gil ao FESTAC (Festival Mundial de Arte e
Cultura Negra) em Lagos, na Nigria. No Atlntico Negro - como nos aponta Paul
Gilroy as vivncias artsticas dos escravos e seus descendentes formam um corpo de
produes culturais que evidencia os traos de solidariedade para com a situao dos
negros em todo o mundo, pelo protesto poltico marcado pela desigualdade, pela
violncia e pelo racismo, pela lamentao e tambm pelo prazer destes sujeitos. Neste
sentido, as msicas da dispora negra sintetizam as experincias histricas dos negros,
criando um corpo nico de reflexes sobre a modernidade e seus dissabores. A partir
destes pressupostos, o trabalho apresentado no evento prope discutir o disco Refavela
dentro do contexto histrico em que est inserido.
REPENSANDO CULTURA E IDENTIDADE NEGRA: o que os
moradores do Bixiga tm a nos dizer?
NASCIMENTO, Larissa Aparecida Camargo (UFSCar)
lariss.griot@gmail.com
CAPES
O bairro Bela Vista, popularmente denominado Bixiga, localizado na regio central de
So Paulo, fora precedido pelo quilombo urbano Saracura. No final do sculo XIX
houve um intenso processo de redefinio territorial/racial que promoveu o
deslocamento de uma parcela da populao negra do centro velho paulistano para o
Bixiga, perodo concomitante chegada de imigrantes italianos no bairro. Apesar do
protagonismo da populao negra at os dias de hoje, diferentes meios representam o
Bixiga como um bairro tradicionalmente italiano, invisibilizando as contribuies de
outros segmentos populacionais. Ademais, o bairro passa por um processo de
valorizao que tem promovido o deslocamento de famlias economicamente
desfavorecidas. Diante das relaes assimtricas que se constituram, o presente estudo
pretende discutir o processo de racializao a partir da trajetria de vida de sujeitos
negros moradores do bairro. Ademais, buscamos apreender as interseces entre as
identidades destes sujeitos e a vivncia de manifestaes culturais de matriz afrobrasileira que marcam este contexto urbano. Posto que a cultura no intacta e que a
identidade dos sujeitos no fixa, coube verificar a traduo, negociao, entre as
diferentes culturas e identidades num mesmo espao, verificando as tenses,
negociaes, resistncias. Este estudo se assenta em tericos da sociologia das relaes
raciais para contextualizar as particularidades do processo de racializao no Brasil e
dos estudos culturais, principalmente aqueles que realizam um debate a partir de uma
perspectiva ps-colonial, importante para discutirmos identidade negra enquanto um
conceito posicional. Os dados foram captados por meio da observao participante e
entrevistas semiestruturadas embasadas na histria oral de vida.
47
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
A PRESENA DO NEGRO NOS ROMANCES DE MACHADO DE
ASSIS: ocorrncias em Esa e Jac
SANTOS, Gilberto de Assis Barbosa (UNESP/FCLAr)
gilbertobarsantos@bol.com.br
CAPES
Por que, em pleno sculo XXI, analisar a escravido, a abolio, bem como a presena
do negro na sociedade brasileira do sculo XIX, a partir da perspectiva do escritor
carioca Machado de Assis? Parece-me que estudar essas questes pode esclarecer a
origem de determinados problemas sociais do presente, tais como a excluso e a
desigualdade social a que muitos afrodescendentes esto sujeitos na atualidade. Esse
processo tem origem na forma como o fim do trabalho servil ocorreu no Brasil, na qual
todos os escravos viram-se da noite para o dia, livres do cativeiro, porm, sem nenhuma
condio para livrarem-se do julga das chibatadas desferidas pelos antigos proprietrios.
Se no passado, seus ancestrais eram vtimas de sevicias de escravocratas empedernidos,
e em alguns casos de alguns de outros ex-escravos, conforme ficcionalizado por
Machado de Assis no captulo O Vergalho de seu clssico Memrias Pstumas de
Brs Cubas, aps a extino do trabalho servil, os mesmos escravos passaram a ser
aviltados por salrios irrisrios. O autor de Dom Casmurro em uma crnica da srie
Bons Dias! aponta como o valor pago pela mo-de-obra afrodescendente no permitia
aos africanos e seus descendentes livres sonhar com dias melhores. Mas meu escopo
compreender como essas abordagens aparecem em Esa e Jac penltimo romance
machadiano. Obra importante para analisar a viso que seu autor desenvolveu sobre a
passagem da monarquia a Repblica, por intermdio do narrador Conselheiro Aires.
Objetivo demonstrar que o escritor carioca, ao contrrio de seus crticos, abordou sim, a
questo escravocrata em seus textos, porm, isso foi realizado atravs de jogos
apresentados aparentemente com um vis, mas que uma leitura atenta e alegrica
evidencia outra coisa: a real condio do negro.
LUGARES DA MEMRIA. O RECOMPOR DA CULTURA
MIGRANTE ENTRE AVS E NETOS
SILVA, Cinthia Xavier (UNESP)
PAIT, Heloisa (UNESP)
cinthiaxsilva@hotmail.com; hpait@marilia.unesp.br
Este trabalho parte dos resultados da pesquisa de mestrado que pretende compreender
como ocorre o dilogo intergeracional entre avs, migrantes nordestinos, e netos. A
pesquisa de campo ocorre em lugares onde a famlia se rene para trocar experincias,
forma de ser e lembrar o passado. Nestes lugares da memria os avs relembram e
socializam memrias e os netos incorporam parte da histria da famlia. Durante a
pesquisa percebemos que a identidade nordestina no era reforada no grupo
pesquisado, pois os netos no identificavam seus avs como migrantes nordestinos. A
cultura nordestina identificada nas msicas, histrias, nos adornos nas casas, a
lembrana da vida no Nordeste. Porm, a identidade nordestina no reforada entre os
migrantes pesquisados, pois a vida destes sujeitos hbridos est entre o entremear de
costumes do lugar de origem e de destino. Este trabalho pretende discutir sobre a
formao da identidade nacional brasileira e a construo da identidade nordestina;
48
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
sobre os aspectos reivindicados pelos migrantes para se identificar como nordestino e;
propor uma reflexo sobre identidades fortes e minorias identitrias no contexto de
internacionalizao das identidades.
CAROLINA MARIA DE JESUS: MARGINALIZAO SOCIAL E
ESCRITA LITERRIA
SILVA, Eliane da Conceio (UNESP)
sophiapedrop@yahoo.com.br
Capes
O presente trabalho visa a analisar a posio muito singular de Carolina Maria de Jesus
no campo cultural brasileiro no incio da dcada de 1960, uma vez que a ex-catadora de
lixo tornou-se uma escritora mundialmente conhecida, tendo sua principal obra, Quarto
de despejo: dirio de uma favelada (1960), publicada em mais de 13 lnguas. Por outro
lado, no obstante o sucesso de vendas no Brasil e no exterior, Carolina Maria de Jesus
no obteve reconhecimento por parte dos membros do campo cultural brasileiro. Assim,
pretende-se compreender a situao de marginalidade social da escritora dada sua
condio de favelada e catadora de lixo, bem como a estigmatizao em relao
sociedade letrada, enquanto mulher negra e sem educao formal como aspecto que
torna sua obra especialmente significativa do ponto de vista sociolgico, mostrando a
relao intrnseca entre atividade cultural e posio social. Desta forma, pretende-se
propor uma anlise sobre o surgimento e posterior esquecimento da autora a partir de
uma interlocuo com o campo cultural, procurando entender como sua obra situa-se no
campo cultural, aliada a um exame do contexto histrico e social mais amplo, partindo
da ideia de que uma obra literria ou artista no podem ser explicadas apenas a partir de
fatores externos a sua produo no caso de Carolina, pela excentricidade provocada
por sua origem social mas pelas condies que levaram produo e recepo, pois
so essas condies que tornam a escritora Carolina Maria de Jesus um personagem
controverso e de difcil explicao.
UMA BREVE ANLISE DO PROCESSO DE IDENTIFICAO
DAS QUEBRADEIRAS DE COCO BABAU NO MUNICIPIO DE
SO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA
SOUZA, Valtey Martins de (UFPA/PDTSA)
MELLO, Andra Hentz de Mello (UFPA)
valtey@ufpa.br, andreahentz@ufpa.br
muito complexa a discusso acerca da temtica da identidade, especialmente devido
esse conceito ser portador de uma grande ambiguidade terica e poltica, portanto,
estudar essa temtica significa que apesar de suas restries, no h a possibilidade de
substitu-lo, principalmente devido identidade ser um desses conceitos que operam no
intervalo da inverso e da emergncia. Desse modo, a identidade sempre uma
construo histrica dos significados sociais e culturais que norteiam o processo de
distino e identificao de um indivduo ou de um grupo, assim, sempre se encontra
em processo, ou seja, sempre se encontra em construo. Logo, a identidade no uma
coisa em si ou um estado ou significado fixo, porm uma relao, uma posio
relacional, uma posio-de-sujeito construda de modo relacional e contrastiva, at
49
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
mesmo porque os processos de identificao e, logo, as identidades so sempre
construdas na e pela diferena e no fora dela. Desse modo, se buscou, como objetivo
principal desse trabalho, analisar o processo de identificao das quebradeiras de coco
babau no municpio de So Domingos do Araguaia, no estado do Par, especialmente
pela contextualizao de suas aes junto ao MIQCB Movimento Interestadual das
Quebradeiras de Coco Babau -, pois, foi atravs dessa entidade que tais mulheres
passaram a ter mais visibilidade e respeito. Portanto, a metodologia para elaborao
desse trabalho passou por uma releitura da literatura que trata da temtica, alm de se
realizar uma pesquisa de campo que visava verificar a produo das quebradeiras, como
comercializam, o modo pelo qual elas se relacionam com o territrio, como elas se
declaram e como se comportam na correlao de fora com outros atores. Assim, os
resultados apontam para o entendimento de que a identidade das quebradeiras uma
construo histrica, pois desde o perodo de fundao da vila que viria a ser a sede
municipal de So Domingos do Araguaia, que as mulheres extraem o babau, se
diferenciam dos fazendeiros e se identificam como quebradeiras. Alm do mais, a
identidade dessas mulheres pode ser relacional e contrastiva, j que as quebradeiras se
identificam como quebradeiras de coco babau, contrastando com o modo pelo qual os
fazendeiros se identificam.
NO ENCALO DO PONTO PERDIDO: a memria do jongo em
Bananal SP
VITORINO, Diego da Costa (UNESP)
divitorino@yahoo.com.br
CAPES
Este trabalho apresenta dados de uma pesquisa etnogrfica cujo lcus a cidade de
Bananal SP. O pesquisador fez deste cenrio, que apresenta as magnficas paisagens
de encostas da Serra da Bocaina, uma rica hidrografia e a ainda viva Mata Atlntica do
Sudeste do pas, seu laboratrio a cu aberto. A regio do Vale Histrico do Rio Paraba
do Sul preserva elementos da cultura e da histria do Brasil oitocentista, tanto pela
arquitetura neoclssica de seus casares ou fazendas coloniais, como tambm por
costumes ou manifestaes populares que ainda permanecem na memria de seus
habitantes. Este foi o ambiente perfeito para reviver a memria do Jongo e dos
Jongueiros atravs de algumas entrevistas semi-diretivas. O Jongo foi um ritmo bastante
popular entre os negros africanos e brasileiros e se tornou um ritmo comum nos festejos
tradicionais tanto nas comunidades rurais, quanto para a populao urbana da cidade. A
abolio da escravatura foi comemorada com o Jongo que permaneceu vivo em Bananal
at 1970. A partir da articulao entre histria-oral e a memria social, o pesquisador se
defrontou com o que se pode chamar de Memria do Cativeiro, diversos saberes
popular, contos e lendas caractersticos da cosmogonia local. Os saberes e histrias
encontradas neste trabalho revelam que alguns padres culturais, estruturas sociais e
processos histricos so construdos a partir da memria individual e social calcada em
cenrios que cercam os sujeitos da pesquisa. Sem estes cenrios as memrias no seriam
como so porque dependem do contexto ao qual esto atreladas para terem significado.
Alm disso, vale ressaltar que para vir tona essas memrias dependem e necessitam da
sensibilidade e tica de pesquisadores comprometidos e em interao social com seus
entrevistados.
50
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso III: Subjetividades, Identidades e Diferenas
Dia 27/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Richard Miskolci
INVESTIGAO SOBRE PROCESSOS DE INTERSUBJETIVIDADE NA
RECEPO DE OBRAS DE ARTE
AGUIRRE, Alexandra (UERJ)
aguirrealexandra@hotmail.com
Para pensar a recepo de obras de arte como experincia intersubjetiva, partimos da
perspectiva da etnometodologia e da fenomenologia do mundo da vida cotidiana de que
a ao social orientada por mtodos e expectativas comuns aos agentes. Para chegar a
uma compreenso comum, os membros de um grupo so capazes de se colocar sob
outros pontos de vista. Na literatura, Wolfgang Iser percebe a interao entre leitor e
fico orientada pela estrutura do texto, o leitor deve estar comprometido com os
mtodos de ao da obra, e ser capaz de se colocar sob o ponto de vista do autor. A obra
resultado da convergncia entre a inteno do autor e a posio compreensiva do
leitor, que se deixa guiar. nessa interseo que est presente a intersubjetividade do
leitor/receptor com o autor, e com outros receptores que se orientam pelos mesmos
mtodos. Nas artes plsticas, as orientaes no so mais visuais, como
tradicionalmente foram a cor e a tinta, j que muitas obras so visualmente
indistinguveis de objetos comuns. Para Arthur Danto, as orientaes de sentido, como
inteno do artista, esto presentes no uso que a obra faz de objetos e ideias disponveis
no mundo, rompendo com as expectativas cotidianas que temos deles. O que remete
novamente s teorias da ao social que reconhecem na linguagem e no uso que se faz
dela, assim como nas convenes lingusticas e as expectativas do grupo, os
fundamentos da vida em sociedade. este uso e sua identificao pelo receptor, como
parte fundamental do processo de intersubjetividade, que a pesquisa pretende investigar
atravs de entrevistas com artistas e pblico e anlises de obras e crtica.
TAMBM EXISTE ALEGRIA NO BAIRRO SANTA FELICIDADE
ARAUJO, Marivnia Conceio de (UEM)
marivaniaaraujo@yahoo.com.br
O presente trabalho trata das atividades de lazer e sociabilidade entre moradores de um
bairro de baixa renda, fato que parece se constituir numa forma de enfrentar as
diversidades. A discusso aqui apresentada fruto da pesquisa etnogrfica desenvolvida
no bairro Santa Felicidade em Maring no Paran, bairro que foi meu objeto
privilegiado de estudo, foi onde obtive entrevistas, apliquei questionrios e observei
muitas situaes. Trata-se de um local na periferia da cidade, onde vivem trabalhadores
informais, estudantes, desempregados, catadores de lixo etc., que por suas condies
econmicas e sociais tm limitados espaos de dilogo com a prefeitura, so vistos de
51
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
modo pejorativo pela populao da cidade e se dizem vtimas da discriminao social.
Todavia, apesar de todos esses elementos negativos os moradores do bairro se mostram
satisfeitos com o lugar e, ao contrrio do que afirma o poder pblico municipal, tem alta
alta-estima e se mostram, em diferentes situaes, alegres.
VILM FLUSSER E O EXLIO COMO IDENTIDADE EM
TRNSITO
FANTINATO, Manuela (PUC/RJ)
manufantinato@yahoo.com.br
CNPQ
O trnsito de pessoas e culturas vem formando o mundo contemporneo, especialmente
a partir das experincias da 2 Guerra, do regime socialista da URSS e de seu desmonte,
da descolonizao da frica, at as guerras recentes. Como consequncia, desestrutura
noes de pertencimento, nacionalidade e, sobretudo, identidade. Nas palavras de
Edward Said, a moderna cultura ocidental , em larga medida, obra de exilados,
emigrantes, refugiados. Esse o caso de Vilm Flusser, filsofo tcheco chega ao Brasil
fugindo da ameaa nazista. Dentre os vrios livros que deixou em portugus durante os
30 anos que passou aqui, destaca-se sua autobiografia, Bodenlos, que foge a todas as
regras tradicionais do gnero, incluindo textos sobre pessoas que marcaram sua vida no
Brasil, influenciando seu pensamento e sua carreira, alm de textos sobre os temas aos
quais se dedicou em sua vida de professor e reflexes sobre a condio de exilado. A
obra, escrita durante 20 anos, a partir de seu retorno Europa, permanece inacabada e
publicada com a morte com autor. As relaes entre autobiografia e construo de
identidade esto, em Bodenlos, complexificadas e norteadas pela questo do exlio.
Embora no seja cronolgica e teleolgica, sua leitura leva a compreend-lo como
condio determinante construo da identidade do autor, que no se fecha em uma
unidade, mas que dialoga com vrios fatores: o tipo de escrita que escolhe e a forma em
que a empreende, a carreira de filsofo, os temas aos quais se debrua, os pares que
escolhe artistas e intelectuais, alguns exilados como ele e, por fim, a condio de
eterno migrante. Sua anlise permite refletir sobre como essa condio afeta
subjetividades e sociedades, aceitando-a como constitutiva da contemporaneidade.
A MODERNIDADE UMA SERPENTE
FRANOSO, Luis Michel (UNESP)
luismichelf@gmail.com
CNPQ
Este projeto busca analisar a construo da imagem da modernidade no municpio de
Araraquara/SP. Averiguar ainda as relaes polticas da atualidade de Araraquara luz
da lgica instituda pelo mito fundador do municpio, o chamado mito da serpente. O
mito surgiu a partir do linchamento dos irmos Brito ocorrido na Praa da Igreja Matriz,
no ano de 1897 e funda seu contedo simblico no quadriltero da referida igreja, local
que foi e continua sendo objeto de instaurao de novas centralidades do poder. O
referido mito da serpente narra uma praga rogada, pelo padre da Matriz na poca,
enunciando que Araraquara por 100 anos no teria progresso e que uma enorme
52
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
serpente ficaria em baixo da igreja e que se um dia o municpio progredisse ela sairia e
destruiria toda a cidade. Assim, o projeto tem por objeto os usos do mito e sobre como
se atualiza sua forma para a produo de novos contedos. Abordando, atravs do
instrumental da etnografia urbana um campo de sensibilidade existente a partir da lgica
do mito, que produz discursos, impe um ethos a urbe, intervenes no espao urbano e
intensos conflitos discursivos na tentativa de obter exclusividade da enunciao das
noes de modernidade. Assim o projeto reflete sobre a eficcia permanente do mito a
partir da teoria do antroplogo Lvi-Strauss e analisa as relaes de poder da atualidade
do municpio de Araraquara atravs da teoria do filsofo Michel Foucault.
A EDUCAO NA PS-MODERNIDADE E A ERA DA
CIBERCULTURA
GOMES, Cleber (UNICAMP)
clebergom@hotmail.com
Este trabalho pretende analisar o contexto da educao na sociedade ps-moderna e as
relaes que o novo aprendiz desenvolve na era da cibercultura. Partindo do pressuposto
que o aprendiz contemporneo est inserido em uma sociedade globalizada e
tecnolgica, entende-se que preciso pensar como acontece a interao no campo social
e como se oferece acesso informao e a transformao. Fenmenos sociais
contemporneos que surgem no Brasil e em pases da Amrica Latina, como Chile e
Argentina, levam jovens estudantes s ruas a fim de participarem de manifestaes
contra situaes adversas. Dessa forma, um dos objetivos desta pesquisa tambm
concentrar na anlise do cenrio dos novos movimentos sociais que se articulam por
meio das redes sociais e consequentemente vo parar nas ruas exigindo mudanas.
Sendo assim, pretende-se com este trabalho refletir sobre qual o papel da educao
quando em contato com as novas mdias digitais? Um dos problemas encontrados na
pesquisa entender como a cibercultura interfere nas relaes sociais e nas estruturas do
poder. Diante dessa complexa rede de relaes digitais em que estamos inseridos,
preciso levantar algumas questes sobre os tempos ps-modernos que afeta e transforma
a vida social. A sociedade contempornea traz novos desafios e perspectivas, assim,
observou-se por meio de metodologia qualitativa, anlise bibliogrfica e dados
empricos, que todas as sociedades evoluem, porm de formas diferente sendo
dependente de diversos fatores econmicos, polticos e sociais que esto ligados
diretamente educao. Portanto compreende-se que com o advento da globalizao as
sociedades sofrem com um desregramento, uma ausncia de regras que tpico de
perodos de rgidas transformaes econmicas e sociais.
IDENTIDADE NACIONAL E INDSTRIA CULTURAL: a msica
popular brasileira entre apropriaes e disputas
LEAL, Lu (UNICAMP)
lferreiraleal@gmail.com
CAPES
Este trabalho buscar analisar os sentidos dos discursos sobre identidade nacional
construdos por um grupo de autores interessados em preservar a histria e a memria
da msica popular brasileira. Tendo em vista o contexto do campo intelectual entre as
53
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
dcadas de 1960 e 1970, sero analisados os livros O samba agora vai... a farsa da
msica popular no exterior [1969], de Jos Ramos Tinhoro (1928 ), Razes da
msica popular brasileira [1977], de Ary Vasconcelos (1926 2003) e Pixinguinha,
Vida e Obra [1977], de Srgio Cabral (1937 ). As obras abordadas foram lanadas em
um perodo de disputas a respeito da manuteno da autenticidade no campo cultural e
de crescente consolidao da indstria fonogrfica brasileira. Dessa forma, cotejarei as
proposies dos trs autores sobre a preservao da tradio da msica popular
brasileira. A autntica msica, entendida como expresso da identidade nacional,
tornou-se elemento central nas narrativas historiogrficas empreendidas por esse grupo
de jornalistas militantes da msica popular. As obras desses autores sero abordadas
como marcos da constituio e da reformulao de uma linhagem modo ou estilo
intelectual capaz de tratar de problemticas relacionadas ao perodo original de sua
circulao, seguindo a proposio de Gildo Maral Brando interessada em debater a
identidade nacional devido s intensas transformaes.
CULTURA E SOCIEDADE NO BRASIL SEGUNDO CARLOS
NELSON COUTINHO
MASSUIA, Rafael. R. (UNESP)
massuia@gmail.com
Carlos Nelson Coutinho, filsofo baiano recentemente falecido, ao longo de sua
trajetria, buscou compreender o Brasil numa perspectiva marxista. Na tarefa e
compreender a forma especfica em que se deu o processo de desenvolvimento
capitalista do pas, de surgimento do Brasil "moderno", em contraponto ao modelo
clssico, em que o referido processo d-se de forma popular ou jacobina (de "baixo"), o
pensador baiano recorreu a dois conceitos, propondo uma sntese entre ambos: da noo
"via prussiana", melhor formulada por Lenin, ao conceito de "revoluo passiva",
defendido por Gramsci. A partir desse aporte terico Coutinho pde investigar o carter
de "modernizao conservadora" (realizada "pelo alto"), referendado pela aliana entre
os principais setores das classes dominantes (do velho ao novo), que tem por
consequncia a ruptura entre nao e povo; tal procedimento, recorrente na histria do
pas, tem por caracterstica o atendimento das demandas, sempre que alguma
reivindicao popular se coloca na pauta do dia, para dessa forma evitar-se que o povo
as efetive. Dentro desse quadro, a cultura no passa imune a essas condicionantes gerais
pois o autor sempre busca compreender os fenmenos culturais luz do solo social
que os origina , experimentando essa influncia, que se faz sentir sobre os artistas e
intelectuais, tornando-os "cmplices" do poder aquilo que, emprestando o conceito do
escritor alemo Thomas Mann, Coutinho chamou "intimismo sombra do poder".
Nesse sentido, realizaremos algumas consideraes sobre a hiptese interpretativa de
Coutinho, centrando a discusso nas consequncias, no campo da cultura, da forma
especfica do desenvolvimento scio histrico do pas estruturais no campo artstico e
reconfigurao do mercado de bens simblicos.
54
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
MERCADO MUNICIPAL PAULISTA: relaes socioculturais como
formao de uma identidade cultural do ser paulistano
ROIM, Talita (UNESP)
talitaprado.sociais@yahoo.com.br
CAPES
Com interesse de compreendermos as relaes sociais, econmicas, polticas e culturais
estabelecidas entre indivduos que compe o cenrio do Mercado Municipal de So
Paulo (vendedores, consumidores e turistas) pretende-se criar um paralelo imaginrio de
um cenrio da prpria cidade de So Paulo como lugar reconhecidamente cosmopolita,
mundial e globalizado. A partir da observao do cotidiano desses personagens percebese que o Mercado Municipal atua no mais como mercado distribuidor de alimentos,
mas como centro turstico que oferece mercadoria nacional e internacional, alm de
guloseimas que foram selecionadas como cones do Mercado e da cidade de So Paulo.
Relaes de comrcio e de trabalho so visivelmente praticadas nesse espao, porm,
por meio de anlise mais apurada identificamos relaes de lazer, de parentesco, de
tratos sociais, dentre outras formas de relaes socioculturais. Acreditamos que o
Mercado Municipal seja um espao propcio para construir reflexes acerca das
transformaes das relaes sociais estabelecidas no contexto da contemporaneidade
dos paulistanos e, enfim, de elementos que compe uma cultura identitria e o processo
civilizador dos habitantes da cidade de So Paulo.
CULTURA E IDENTIDADE NA CIDADADE DE PRUDENTPOLIS
- PR
TENCHENA, Sandra Mara (PUC/SP)
sandra.mkt@ig.com.br
Este trabalho trata da memria de mulheres descendentes de ucranianos residentes na
cidade Prudentpolis, localizada no interior do Paran, e tem como aspecto peculiar o
fato de sua populao ser constituda majoritariamente por descendentes de ucranianos.
As tradies e as festas religiosas ali presentes mantm viva a cultura ucraniana. Esta
opo levou-me a conhecer as diferentes maneiras de apropriao dos tecidos
simblicos especficos da cultura, atravs de recorte de gnero associado a
especificidades de geraes responsveis pela produo dos sistemas de significados
prprios dessa cultura. Os ucranianos, importante grupo de imigrantes que rumou para o
Paran como trabalhadores livres no incio do sculo XX, construram atividades
importantes para a vida cultural da regio e para a economia local. Partilharam a vida
com imigrantes poloneses, italianos e alemes, construindo segmento fortalecedor de
hibridizao cultural prpria da histria do Brasil. A escolha de abordagem etnogrfica,
que no s descrevesse a cultura, a religio, as festas e as tradies, mas tambm a
histria e as transformaes socioeconmicos da cidade de Prudentpolis no Estado do
Paran, visou interpretar os sentidos e significados de aes voltadas afirmao,
resistncia e identificao de sua populao. Para isso, recorri ao exerccio da pesquisa
sistemtica pela participao observante de ritos e costumes to familiares, com o
intuito de recuperar os costumes tradicionais, com vistas a produzir, inicialmente, uma
etnografia que evidenciasse, com refinamento de detalhes, os modos de viver das
mulheres e do povo ucraniano.
55
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
PSTER
Mexeu com uma, mexeu com todas
AKEL, Georgia (UNICAMP)
georgia_akel@hotmail.com
Nas ltimas dcadas intensos debates tm agitado o campo feminista no que diz respeito
ao reconhecimento da diversidade e no estabilidade do sujeito poltico do movimento,
dando origem ao que ficou conhecido como feminismo hifenizado. Esta pesquisa tem
como objetivo investigar processos de construo de identidades coletivas no
movimento feminista. Para tanto, toma como objeto emprico o Coletivo das Vadias de
Campinas, grupo ativista criado a partir da organizao da Marcha da Vadias de
Campinas em 2011 e que tem atuado na direo de produzir articulaes entre grupos
feministas locais, com diversos focos de atuao. A metodologia qualitativa, lanando
mo de observao etnogrfica e realizao de entrevistas com as integrantes do
Coletivo durante o ano de 2013. O foco analtico recai sobre as potencialidades e limites
relacionados ao uso da categoria vadias pelo movimento, concentrando-se
especialmente sobre a seguinte questo: seria vadia um substituto do sujeito poltico
mulher ou um termo a partir do qual se procura produzir uma coalizo entre vrias e
diferentes mulheres?
VIOLNCIA E PRECONCEITO: a identificao das ocorrncias de
bullying homofbico no ambiente escolar
IBRAHIM, Ismael (UFMS)
ismael.ibrahim.5@gmail.com
PIBIC - CNPQ/UFMS
O objetivo desta pesquisa verificar por meio de pesquisa de campo, de entrevista com
os membros da comunidade escolar e levantamento e reviso bibliogrfica as
ocorrncias de bullying homofbico na escola Arlindo Andrade Gomes; organizar
oficinas com alunos da escola com a finalidade de estimular a identificao dos tipos e
frequncia das ocorrncias com carter discriminatrio aos homossexuais nesse
ambiente. Atravs da observao na escola foi notado que as situaes de bullying
homofbico aparecem de forma implcita, camuflada no discurso e nas brincadeiras
entre os alunos, sempre ofendendo, discriminando e ridicularizando o homossexual. Por
no ser, muitas vezes, bvias aos interlocutores, essas situaes de violncia passam
despercebidas aos professores e outros membros responsveis da escola, que acabam
contribuindo para a manuteno dessas formas de violncia no repreendendo-as
quando se manifestam. Dessa forma, a vtima acaba sofrendo essa agresso diariamente
sem ter a quem buscar ajuda.
56
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
TATUAGEM: corpo e arte
PATRIOTA, Beatriz (UFSCar)
bia.patriota@hotmail.com
A tatuagem uma pintura, diferenciada por seu suporte, o corpo, e a tcnica utilizada.
Est relacionada busca de diferenciao e identidade, segundo Le Breton. O indivduo
que a adquire transfere a ela uma memria, marcando momentos especiais,
homenageando pessoas e animais queridos e atraindo sentimentos. No Ocidente, a
tatuagem foi introduzida por viajantes e marinheiros, no sculo XVIII, seduzidos pela
arte corporal praticada nas sociedades tradicionais. No sculo XIX, setores marginais
apropriaram-se e, em 1967, tribos urbanas a adotaram como marca corporal. J na
dcada de 1980, com o surgimento dos estdios, inicia-se um processo de
profissionalizao, conjugando saberes especficos hierarquizados ligados sua
visibilidade, talvez como estratgia de legitimao desse universo, tambm no Brasil.
Ora, na Modernidade, conforme Brs, a tatuagem uma tentativa de estabilizar o senso
de autoidentidade do indivduo. O corpo afirmado como um projeto pessoal em eterno
processo. como se sua identidade para existir necessitasse estar visvel aos outros,
segundo Pires. O corpo ferramenta, agente e objeto da tcnica, como uma memria
carrega marcas sociais de um determinado tempo e lugar. A tatuagem configura-se
como uma representao externa do eu, vinculada a saberes, tcnicas corporais,
convenes e normatividades impostas, criando coletividades. Minha proposta ,
atravs da abordagem de Gell, em que objetos, artefatos ou arte so tratados como
pessoas, enfatizando suas qualidades agentivas, pensar o quanto as tatuagens, na sua
relao com os indivduos, dizem sobre as interaes humanas, considerando-as
desenhos agentes.
HOMOFOBIA E SEXUALIDADE: a agressividade do palavro
como forma de manifestao do bullying no ambiente escolar
ZAMIAN, Gabriel (UFMS)
zamian_gabriel@hotmail.com
PIBIC CNPQ/UFMS
O objetivo desta pesquisa verificar por meio de pesquisa de campo e de entrevista com
os membros da comunidade escolar, as ocorrncias de bullying relacionadas aos
palavres na escola Arlindo Andrade Gomes com a finalidade de identificar os tipos
de palavres mais conhecidos e utilizados por alunos com o objetivo de ofender,
provocar, inferiorizar e identificar homossexuais. A principal ocorrncia de palavres
atravs de brincadeiras entre amigos, mas implicitamente, a ideia da homofobia est
presente nestas brincadeiras. O cunho homofbico dos palavres identificado pelo
significado destes, o qual se refere a expresses tambm utilizadas nas prticas de
bullying. Mesmo que a utilizao do termo seja para alguma brincadeira, reproduzida
a ideia da homossexualidade como algo ruim, sendo utilizados os palavres para
ofender tanto homossexuais quanto heterossexuais. O palavro algo muito presente no
vocabulrio dos jovens da escola e que devido s caractersticas heteronormativas da
sociedade, estes palavres com cunho homofbico so reproduzidos tanto por
heterossexuais quanto homossexuais.
57
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso IV: Gnero, Corpos e Conflitos
Dia 28/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Jorge Leite Jr.
A LEI MARIA DA PENHA SOB A PERSPECTIVA DO
RECONHECIMENTO
ALVES, Paula (UFU)
ANSELMO, Mariana (UFU)
paulafpaa@gmail.com; mariananselmo.adv@gmail.com.
O trabalho em tela tem como objeto anlise da ideia de reconhecimento presente na Lei
n 11.340/2006, verificando que esta cuida-se de uma poltica pblica de ao
afirmativa, considerando se tratar de uma medida que tem o intuito de compensar a
opresso histrica sofrida pela mulher. A escolha da abordagem justifica-se mediante a
necessidade de compreender no s a questo da chamada discriminao positiva,
caracterstica das aes afirmativas, assinalando a discriminao histrica sofrida pelo
gnero feminino, destacando-se o tratamento diferenciado conferido s mulheres em
situao de violncia domstica e familiar. O desenvolvimento do trabalho perpassa
alguns questionamentos, quais sejam: qual a importncia de reconhecer minorias
sociais? Especificamente na questo de gnero, a Lei em questo cuida de tal
perspectiva? Em quais aspectos possvel verificar a ideia de reconhecimento na Lei
Maria da Penha? Para responder as questes levantadas, trabalha-se inicialmente com a
hiptese de que no basta que a discriminao seja coibida coercitivamente, tendo em
vista que existe outro lado a ser analisado na busca pela igualdade: o reconhecimento.
Do enfoque epistemolgico, parte-se da perspectiva do materialismo dialtico,
obedecendo ao seguinte processo: delimitao do instituto a partir de sua singularidade,
contemplao de suas principais caractersticas e anlise do objeto pesquisado,
estabelecendo relaes tericas e histricas, por fim, verificao da realidade partindo
da prtica social.
NEM MENINOS, NEM MENINAS. AS RUAS ESTO CHEIAS DE
NINGUM
AZEVEDO, Paulo (PUC/RJ)
paz@aluno.puc-rio.br
Uma matilha de crianas sujas se estende no corolrio da cidade do Rio de Janeiro. As
imperfeies de suas imagens constroem um cenrio perturbador, desequilibrando por
sua vez a possibilidade harmnica e homogeneizante representativa da cidade
maravilhosa. Quem so essas crianas? So meninos ou meninas? De onde vem? Como
nascem? Como se formam? O que pensam? Como se pensam? O que se pensa e se pesa
sobre eles ou elas? Na evidncia de fazer das Cincias Sociais um espao de dilogo
ininterrupto, o que se perscruta uma anlise para identificar os significados presentes
na estrutura esttico-poltica destes corpos abjetos, isto , compreender como este
58
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
dispositivo corpo se torna no apenas imagem, mas, sobretudo, reflexo ou
representao alienada e naturalizao de um estado de excluso. Para isso, foi
necessria uma reviso na literatura, tomando como referncia a questo da sexualidade,
dos corpos abjetos e da performance, propostas num dilogo entre M. Foucault, J.
Butler e L. Leczneiski.
MULHERES INVESTIDORAS E ENGENHEIRAS: socializao,
habitus de gnero e lutas concorrenciais
BONALDI, Eduardo (USP)
eduvilarbon@gmail.com
FAPESP
O mercado de aes e o mundo das engenharias so campos reconhecidamente
masculinizados. No obstante, a atuao feminina tem aumentado nesses campos ao
longo dos ltimos anos. Nesses dois campos, as mulheres apresentam um repertrio de
disposies incorporadas, pr-conscientes e tributrias tanto das condies de
socializao exclusivas s classes mdias e altas, quanto das condies de socializao
propriamente femininas. Esse repertrio duplo agrupa tanto as disposies requeridas
para a atuao nesses campos resultantes da acumulao de capitais culturais
exclusivos s classes mdias e altas, antes restrita aos homens dessas classes, porm
hoje expandida s mulheres quanto as disposies feminizadas, isto , resultantes das
condies que tendem a modular os processos de socializao das mulheres. Na minha
dissertao sobre pequenos investidores na bolsa de valores, abordei as prticas de
investimento diferenciais entre homens e mulheres neste mercado. Recentemente, em
uma pesquisa sobre estudantes de engenharia, conduzida junto Elizabeth B. Silva,
abordamos a construo do habitus de gnero entre mulheres e homens estudantes do
campo. Logo, proponho a comparao desses dois casos de pesquisa, discutindo as
seguintes questes: 1. Como o repertrio de disposies incorporados por essas
mulheres abrange tanto inclinaes tradicionalmente associados ao polo masculino,
quanto predisposies geralmente associadas ao polo feminino, 2. Como ocorrem as
incorporaes desse repertrio duplo de disposies ao longo das trajetrias de
socializao dessas mulheres e 3. Como essas mulheres buscam apresentar esse
repertrio duplo - ou seja, seu habitus de gnero como um elemento de distino nas
lutas concorrenciais que se desenrolam nesses campos.
GAROTOS DE PROGRAMA: uma etnografia da prostituio
masculina em recife
DEODATO, Eder (UFPE)
roxedder@hotmail.com
O fenmeno da prostituio masculina vem aumentando visivelmente na capital
pernambucana. Em determinados lugares especficos para esses fins, o nmero de
garotos de programa cresce devido alta procura de pessoas por servios sexuais.
Porm, esse fenmeno no vem sendo divulgado ou evidenciado pela sociedade,
permanecendo na obscuridade e escondido aos olhos da sociedade. O objetivo central
desse estudo entender, por meio de um olhar antropolgico, como e onde ocorre a
prostituio e a circulao dos profissionais do sexo na cidade de Recife.
59
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Metodologicamente, este estudo seguir os seguintes passos: i) analisar pesquisas j
realizadas por associaes e por outros pesquisadores que trabalham com esse tema; ii)
observar e descrever a performance desses profissionais in loco; e, iii) entrevistar os
mesmos sujeitos observados, a fim de entender a constituio de sua performance.
Dessa maneira, os resultados a serem alcanados almejam trazer luz a compreenso do
universo no qual vivem e transitam os sujeitos envolvidos em uma esfera social
marginalizada e, ainda, por vezes, obscura para a compreenso da sociedade como um
todo.
O OUTING COMO QUESTO: trnsitos de prticas e conceitos
FEITOSA, Ricardo (UFC)
ricsaboia@yahoo.com.br
CNPQ
O artigo prope discutir, a partir de uma anlise de editoriais, cartas dos leitores,
reportagens e entrevistas realizadas com jornalistas de Sui Generis, a construo de uma
visibilidade calcada na valorizao do outing e de uma identidade gay nas pginas dessa
revista. A publicao, endereada a uma audincia gay e lsbica, circulou no Brasil no
perodo 1995-2000. As intersees entre uma poltica editorial centrada na sada do
armrio e os modos como jornalistas, fontes e leitores negociam, tensionam,
relativizam ou reelaboram essa mesma poltica permitem ampliar as leituras da chamada
imprensa gay brasileira, bem como debater os achados e os limites da transposio
de um referencial poltico/epistemolgico como o armrio a realidades locais. A partir
de um olhar sobre a produo discursiva das homossexualidades neste segmento de
imprensa, interrogam-se as dinmicas que situam o outing como discurso globalizante
e pretensamente unificador das experincias scio sexuais no-normativas. Esse
movimento analtico permite, por sua vez, esboar uma crtica do trnsito da teoria
queer nos estudos de sexualidade e gnero no Brasil e na Amrica Latina, na medida em
que possvel identificar tticas de atuao locais que sinalizam apropriaes, mas
tambm deslocamentos de discursos e prticas para alm das fronteiras do contexto
norte-americano/ central.
GNERO E DESIGUALDADE EM SADE NAS MACROREGIES
DO BRASIL
LEO, Natalia (PPGS/UFMG)
NEVES, Jorge (UFMG)
leao_natalia@yahoo.com.br; jorgeaneves@gmail.com
CAPES
Baseado na compreenso dos conceitos de sade e gnero e, na crena de que gnero
como uma categoria de diferenciao social pode estar fortemente correlacionada com
as condies de sade das pessoas, props-se: verificar a influncia de gnero na
desigualdade em sade, mesmo controlando por outros fatores socioeconmicos, e se tal
associao varia conforme as caractersticas regionais do Brasil, ou diferencia-se de
acordo com a varivel explicada utilizada para medir sade. Para isso estimou-se um
modelo de regresso logstica, que estimou o efeito de variveis na probabilidade de um
indivduo apresentar sade boa; e um modelo de equaes estruturais, que observou de
60
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
que forma variveis explicam o indivduo apresentar limitao de mobilidade fsica. Os
dados utilizados so secundrios, oriundos da pesquisa suplementar da PNAD 2008.
Os resultados apontaram que a categoria gnero mostrou exercer forte influncia sobre a
condio de sade dos indivduos, mas tal influncia varia conforme outras
caractersticas socioeconmicas e geogrficas. Estes resultados foram apresentados para
ambas variveis dependentes utilizadas para medir o fator sade.
MULHERES AMAZNICAS SEGUNDO ELIZABETH AGASSIZ
EM VIAGEM AO BRASIL (1865-1866)
LIMA, Priscilla (UFAM)
SOARES, Artemis, (UFAM)
priscilla.limas@gmail.com, artemisoares@yahoo.com
A partir da leitura do captulo Um olhar feminino sobre a terra e a gente do Brasil do
Renan Freitas Pinto, em seu livro Viagem das Ideias, publicado pela Valer, esboou-se
uma reflexo acerca do trabalho e do olhar de Elizabeth Agassiz sobre a Amaznia, em
sua viagem pelo Brasil (Sudeste -Rio de Janeiro, Nordeste e Amaznia), denominada
Expedio Thayer 1865-66. A presena de Elizabeth j se constitua como uma
inovao, pois em nenhuma das expedies pensadas e financiadas por Dom Pedro
havia a presena de mulheres como companhia, e nesse caso especfico, Elizabeth fazia
parte do corpo da expedio como cronista e relatora da viagem. Naturalista e defensora
da educao feminina organizou a primeira escola feminina, em sua casa em
Cambridge, a qual funcionou no perodo de 1855 a 1863. Foi Elizabeth Agassiz que em
1879, ajudou a fundar "Harvard anexo" em Cambridge e foi nomeada presidente da
ento Sociedade para a Instruo da Colegiada de Mulheres, aps sua incorporao
oficial Universidade de Havard. Contudo seu olhar e sua percepo foi profundamente
modificada ao longo da Expedio Tahyer, a qual iniciou-se no ano de 1865, com uma
Elizabeth Agassiz fortemente marcada por seu preconceito e fundamentos morais
construdos em uma sociedade sexista, patriarcal e protestante e, encerrou-se no ano
seguinte (1866) j com uma outra Elizabeth Agassiz, est olhando a sociedade sob uma
nova perspectiva, mais feminista, precursora de uma sociedade capaz de equacionar as
diferenas e os direitos entre os gneros e as classes sociais. Essa mudana foi percebida
no relato da expedio construdo por Elizabeth Agassis e publicada como o livro
Viagem ao Brasil, de uma cronista ocupada com as belezas naturais e a comprovao
das teorias anti-evolucionista, passou a uma cronista com olhares sobre a organizao
social no Brasil e as diferentes funes que a mulher exercia, bem como os diferentes
nveis de liberdade que estas possuam ao longo dos diferentes espaos percorridos pela
expedio capitaneada por seu marido Louis Agassiz.
IDENTIDADE NACIONAL: a Embratur como construtora de
imagem da mulher brasileira
PINTO, Renata Pires (PUC/So Paulo)
repiresp@gmail.com
CAPES
Esta pesquisa prope a anlise do corpo enquanto uma construo simblica, focando
na interferncia que a mdia impressa e os veculos audiovisuais tiveram nos processos
61
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
de construo de identidade de mulheres na sociedade brasileira. As mulheres
brasileiras so relacionadas a um esteretipo de corpos bem torneados portadores de
uma espcie de sensualidade natural, que remete seduo e voluptuosidade nas
formas. Pensar como se construiu esse esteretipo nos jogos de formao de identidade
nacional coloca-se como um desafio neste momento em que o Brasil assume grande
visibilidade internacional. O objetivo desta pesquisa identificar e analisar em veculos
de grande circulao, voltados para o pblico estrangeiro, quais foram os discursos
(imagticos e textuais), que historicamente alimentaram e resignificaram a construo
desta imagem sobre os corpos das brasileiras. Para tanto, utilizo como fonte principal os
materiais de mdia produzidos pela EMBRATUR (Instituto Brasileiro do Turismo),
rgo oficial que se concentra no marketing e na promoo de produtos, servios e
destinos tursticos brasileiros no exterior. Busco compreender a construo histrica
desta imagem feminina, como ela foi vinculada e explorada nos materiais promocionais
da agncia. Problematiza-se, assim, a ideia de uma identidade feminina fixa e
essencializada, demonstrando que esse esteretipo, que ainda sustentado, no d conta
de definir a categoria mulher nos dias de hoje.
FORMA E CONTEDO: algumas consideraes sobre a possvel
reconfigurao do conceito de obreira da vida na atualidade
ROSSI, Vanberto (UFSCar)
tonnyiomi@gmail.com
No incio do sculo XX existiu uma corrente de pensamento da educao fsica que
entendia a mulher como obreira da vida, algum que deveria ser educada fisicamente
para o bom parto e para as tarefas domsticas sob a gide da feminilidade, da beleza e
da fragilidade. Na contramo dos postulados dessa corrente de pensamento havia
mulheres que desafiavam os limites da hipertrofia e se comparavam, quando no
superavam os homens nos atributos relacionados a fora fsica. As strongwomen, como
ficaram conhecidas as artistas de fora fsica na primeira metade do sculo XX,
delineavam uma forma de desvio dos padres estabelecidos pela imposio de uma
sociedade masculinizada que buscava adestrar as mulheres para educarem seu corpo
com exerccios fsicos que as tornariam obreiras da vida. Atualmente, passado pouco
mais de um sculo, esse quadro foi reconfigurado e as strongwomen foram,
gradativamente, alocadas na categoria de esporte conhecida como fisiculturismo ou se
encontram diludas entre as frequentadoras de academias de ginstica e, muito embora
tenham conseguido grandes conquistas de reconhecimento e dignificao, ainda so
observadas, classificadas e avaliadas a partir dos mesmos critrios subjetivos de
obreiras da vida. O objetivo deste artigo problematizar algumas formas assumidas
por esse conceito na atualidade e demonstrar algumas maneiras pelas quais as mulheres
frequentadoras de academias de ginstica so continuamente conduzidas a treinarem
seus corpos em consonncia aos padres estticos estabelecidos pelo mercado da moda,
pela mdia e pela indstria da beleza.
62
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
O CORPO DE QUEM? protagonismo feminino e cultura do parto
mdico
SILVA, Wanessa (UFAL)
nessa_rr@hotmail.com
No bastassem as maratonas clnicas de rotina que mantm a gestante sob intensa
viglia mdica, tambm o parto, fenmeno fisiolgico, invadido por um aparato de
intervenes obsttricas e medicalizantes. As formas de controle so to sutis e
legitimadas entre as regras hospitalares, que acabam colocando em xeque o
protagonismo feminino e tornando difusa a diferena entre estar grvida e estar doente.
So vrios os procedimentos padres: A litotomia um exemplo: ainda que aumente a
dor e dificulte a sada do feto, a posio deitada obrigatria nas maternidades por
possibilitar uma viso privilegiada do mdico ao canal vaginal. A proibio de
alimentar-se e a raspagem dos pelos pubianos tambm so verificadas no ritual do
nascimento, e se somam ao uso de hormnios para acelerar o processo, anestsicos,
corte no perneo, e manipulaes como a violenta manobra de kristeller. Embora a
Medicina Baseada em Evidncias (MBE) tenha comprovado o prejuzo dessas prticas
utilizadas sob rotina, contnua a interveno nos corpos femininos sob a fardagem de
precauo. Entretanto, a que custa esse tipo de assistncia de necessrios cuidados
na mulher? At onde elas tm poder decisrio sobre os procedimentos dentro de
hospitais? Sinais como o alto ndice de cesarianas podem nortear a resposta. Outra
pesquisa em 2012 verificou que uma a cada quatro brasileiras sofreram violncia
obsttrica. O estudo acrescenta que quanto mais pobre e negra, maior a incidncia de
violncia institucionalizada sofrida com grvidas. Buscar, portanto, a relao do parto
mdico com o medo de que o corpo no funcione mister para que se encontre
respostas e se formule perguntas estratgicas sobre o protagonismo feminino diante do
controle institucional na obstetrcia.
Sesso V: Culturas e Identidades Indgenas
Dia 27/08/13 s 14h
Debatedora: Prof. Dr. Clarice Cohn (UFSCar)
A MSICA E A DANA GUARANI MBYA COMO RECURSOS
DE CIDADANIA E IDENTIDADE TNICA
GODOY, Marilia Gomes Ghizzi (UNISA)
mgggodoy@yahoo.com.br
Os ndios Guarani-Mbya destacam-se pelos seus alojamentos em aldeias no Estado de
So Paulo, caracterizadas como concentraes tnicas onde predominante o modo de
ser tradicional conhecido pela expresso nhandereko (nosso modo de ser). O sentido
de religiosidade e o misticismo tornam-se centrais na dinmica de resistncia cultural
desse povo. Destacam-se a msica e a dana como representaes significativas da
cultura e como meios de ordenar praticamente os sentidos de valor no cotidiano vivido
63
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
pelas comunidades. Tornam-se recursos de educao e por intermdio de rituais as
msicas e as danas conduzem a uma situao de reproduo das vivncias e
convices culturais inseridas no universo mtico primitivo. A comunicao visa
apresentar CDs e DVDs que foram realizados em aldeias Guarani Mbya e os quais
traduzem os contedos da cultura de forma viva entre os membros das comunidades. A
anlise tem como base os Cds Nhande Reko Arandu e Nhande Arandu Pygua,
produzidos nas aldeias de S. Paulo, So Sebastio, Ubatuba nos anos 2000, 2004. Ser
destacado o CD realizado recentemente na Aldeia do Rio Silveira (So Sebastio), o
qual segue em reforo e proeminncia das temticas anteriores O mesmo podemos
observar na obra Tenonde Por Faz. Outras produes musicais de aldeias de Santa
Catarina e do R Grande do Sul tambm sugerem os mesmos temas e desempenhos
culturais. Mediante a anlise das letras das msicas, agrupadas em temticas, e o som
dos mborai (cantos) a comunicao torna-se convincente com relao a presena de
valores da identidade e tambm cidadania dos Guarani Mbya.
ALUNOS INDGENAS NAS ESCOLAS PBLICAS NA CIDADE DE
DOURADOS MS: perspectivas e tenses
LIMA, Selma (UFGD)
selmasagali@hotmail.com
Diante de realidade social diversificada encontrada em nosso pas, podemos considerar
as diferentes relaes sociais que se estabelecem entre indivduos de culturas diversas
que convivem juntas. esse panorama existente na cidade de Dourados - MS. Por isso,
nos propomos neste trabalho, o exerccio da reflexo sobre a participao indgena, que
se faz presente na cidade de Dourados, relacionada educao pblica e a presena de
alunos indgenas nas escolas da cidade. Diante disso, uma gama de novas relaes vo
se estabelecer no interior da escola. E essas relaes muitas vezes apontam para a
repulsa pelo outro que diferente, mas tambm institui formas de cooperao e amizade
entre alunos indgenas e no indgenas. Nesse sentido, a pesquisa em desenvolvimento
procura descobrir como se do as relaes entre alunos indgenas e no indgenas no
espao das escolas pblicas de Dourados. Para isso, visitas foram feitas nas escolas para
observao, tambm foram realizadas entrevistas com pais e alunos e acompanhamento
da rotina escolar. A preocupao central investigar os motivos que levam aos alunos
indgenas a buscarem as escolas da cidade, tendo em conta que em suas aldeias
oferecido o ensino escolar, com objetivo de promover uma educao voltada para o
atendimento das caractersticas organizacionais e das prticas culturais indgenas, em
consonncia com a legislao brasileira. A pesquisadora tambm professora efetiva de
rede estadual e leciona para alguns alunos indgenas, o que facilita a proximidade com o
universo a ser pesquisado. Portanto, no intuito de redigir um texto etnogrfico, dados de
campo j coletados sero analisados luz de alguns autores estudiosos das questes
sociais e culturais.
64
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
LVI-STRAUSS: mito e msica
MELO, Betania (UFRN)
betaniamusica@gmail.com
Este trabalho fruto de tese de doutoramento que parte do estudo das Mitolgicas de
Claude Lvi-Strauss (1908-2009), no qual as linguagens, mito e msica esto
relacionadas. Lvi-Strauss prope que a compreenso dos mitos ocorre de maneira
similar com a partitura orquestral. Desta forma, a tese segue a tetralogia investigando
termos da msica usados na anlise, como tambm, na diviso dos captulos do primeiro
volume principalmente. Vrios procedimentos de composio e formas esto nomeados.
Compositores em pares so categorizados como Bach para o cdigo, Beethoven para a
mensagem e Wagner para os mitos. Nesta deduo, estruturou-se em partes: tema e
variaes, sonata e fuga com os compositores citados. Na grandeza do estudo
antropolgico, entre mais de oitocentos mitos, escolheu-se os cinco primeiros da tribo
Bororo; dois mitos com mesmo tema, a esposa do jaguar para relacionar estrutura
composicional e tambm, quatro mitos sobre a origem das mulheres. Por ltimo, na
fuga recolheu-se quatro mitos sobre a vida breve. Diante dos termos dados em oposio,
contrastes ou em simetria, questionou-se como o incesto, assassinato e demais
acontecimentos fazem parte da sociedade que eleva a natureza como extenso da
prpria vida? E como Lvi-Strauss pensou a antropologia harmonizada msica? No
desenrolar da construo, demais pensadores como: Peter Sloterdjk e Gaston Bachelard
dialogam o territrio redondo da Mitologia.
TERRA INDGENA ME MARIA: os akrtikatj no processo de
resistncia
RIBEIRO JR, Ribamar (IFPA/CRMB)
ribamar.sociologo@gmail.com
O presente trabalho apresenta uma anlise da trajetria, social do Povo Gavio
revelando as disputas e conflitos enfrentados pelo grupo Akrtikatj num processo de
resistncia coletiva na regio, construindo uma identidade nestas lutas. A pesquisa est
sendo desenvolvida a partir dos registros de trabalho de das atividades que fazem parte
do percurso formativo do Curso Tcnico de Agroecologia do IFPA, e de um Projeto de
Extenso que pretende descrever os graus de proficincia lingustica
Akrtikatj/Portugus e a histria e a luta dos Akrtikatj em defesa do seu territrio.
Neste sentido, as atividades de envolvimento da comunidade na socializao dos
trabalhos realizados pelos educandos do Curso Tcnico em rodas de conversas, tm
trazido elementos importantes que esto sendo sistematizados e analisados. Os relatos
que so feitos tm contribudo nos processos formativos do Curso e revelado como na
trajetria de luta do povo Gavio se faz presente as constantes cises. Da a importncia
de compreendermos o grupo local Akrtikatj. Esse trabalho subsidiado com a
realizao dessas atividades de campo que conta com registro audiovisual, levantamento
bibliogrfico de livros, artigos, teses e dissertaes que tratam do histrico de contato e
polticas territoriais e socioeconmicas, destinadas ao povo Gavio do Oeste, como
tradicionalmente se tem referenciado o grupo Timbira no qual se inclui os Akrtikatj.
A luta pelo territrio se dar desde o deslocamento compulsrio efetivado pela
ELETRONORTE, ao expuls-los de seu territrio tradicional, quando foi construda a
65
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Hidreltrica de Tucuru (PA), trazendo para Terra Indgena Me Maria. E
posteriormente com a construo da Rodovia PA 70; Estrada Ferro Carajs, Linho da
Celpa e Eletronorte, e mais recentemente com a ameaa de construo de uma nova
hidreltrica que consumiria parte deste territrio. So estes os processos de
transformao da Terra Indgena Me Maria a partir das aes do Estado e do Capital.
Essas mudanas revelaram estratgias permanentes de negociao, acentuando novos
conflitos internos, e outras formas de organizao. Para os Akrtikatj a reivindicao
de uma rea que compense as perdas, passa desde a diferenciao dos demais grupos,
como tambm na continuidade da luta por um territrio.
A POLTICA INDIGENISTA E O PATRIMNIO IMATERIAL
novas abordagens, novas relaes
TRUJILLO MIRAS, Julia (UnB)
juliamiras@gmail.com
CNPQ
Aps mapear como teve incio no Brasil as polticas de salvaguarda do patrimnio
imaterial, o artigo apresenta uma anlise da experincia de patrimonializao da arte
grfica Wajpi, o kusiwa. Persegue-se as consequncias do dilogo entre os povos
indgenas e os brancos na busca por traduzir conceitos como cultura, propriedade e
intangibilidade, alm de refletir sobre de que forma uma poltica pensada por brancos
pode estar no horizonte de interesses de outras culturas. No momento em que tomam
forma as polticas de salvaguarda do patrimnio imaterial, a maioria das populaes
indgenas brasileiras j se encontravam profundamente marcadas pela poltica de tutela
do Estado, inclusive no que diz respeito aos modos de pensar e criar bens culturais.
No caso dos Wajpi, foi aps estabelecerem esse modelo de relaes que se
encontraram diante das novas propostas relacionadas linguagem do patrimnio
imaterial. Linguagem esta que pensa a cultura enquanto propriedade de uma
coletividade que deve ser preservada enquanto alteridade. A experincia Wajpi revela
como as polticas de salvaguarda podem refletir o modo de pensar do branco,
reproduzindo em suas propostas, as noes de propriedade e conhecimento daqueles que
as elaboraram, e gerando conflitos interpretativos junto aos povos indgenas que se
aproximam dessas polticas. Este conflito, gerado na busca por traduzir em uma cultura
conceitos que se mostram dessemelhantes, pode ser usado como instrumento de
reflexo para os indgenas envolvidos nesses processos. Ficamos com a dvida sobre
como patrimonializar algo que tem outro(s) dono(s) e exatamente por carregar este
contrassenso que esta poltica boa para pensar.
66
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
GT 2: TRABALHO, MERCADOS E MOBILIDADES
Sesso I: Desenvolvimento Regional e Economia Solidria
Data: 27/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Fbio Bechara Sanchez (UFSCar)
MUTIRO AUTOGESTIONRIO E ALTERNATIVA
PRODUO IMOBILIRIA DO URBANO: reflexes sobre
apropriao da cidade
BELTRAME, Gabriella Caroline Rodrigues (PUC/MG)
rodriguesbeltrame@gmail.com
CAPES
Para alm da busca por estar na cidade as populaes pobres dos centros urbanos
almejam, embora a prpria localizao seja uma rdua luta ou apenas uma permisso,
apropriar-se da cidade. Apropriao que propicie ao indivduo e comunidade acesso
ao bem-estar urbano. No ambiente construdo de Ipatinga, localizado no Vale do Ao
mineiro, planejado pela Usiminas, grande empresa siderrgica, uma dicotomia
prevaleceria: de um lado a cidade-fechada, de outro a cidade-aberta. A cidade-aberta,
lugar dos no-contemplados pela moradia oferecida pela siderrgica, estaria sob jugo de
um mercado imobilirio caro, concentrado, que controlaria o acesso ao estoque de terra
urbanizada. Nesse contexto de controle imobilirio e inacesso habitao para os mais
pobres surge, na dcada de 1990, a experincia autogestionria de proviso de moradia,
pioneira em Minas Gerais, ocorrida na localidade Morro do So Francisco. Por meio
da anlise do processo de proviso de moradia, utilizada pelos mutirantes, procuramos
analisar o processo de produo do espao urbano pelo sistema de autogesto,
alternativa produo imobiliria da cidade, em relao ao binmio localizar-se na e
apropriar-se da cidade-aberta. Explicitando as dimenses urbanas do direito
localizao e as singulares prticas de acesso terra urbana daqueles segregados
socioespacialmente, que entram e permanecem nas cidades por suas franjas, terrenos
fronteirios onde tentam equilibrar-se, buscando contribuir para a compreenso e
traduo das fronteiras que unem e separam as distintas realidades sociais que convivem
na cidade-aberta. A hiptese considerada de que autogesto, como alternativa para
localizar-se na cidade implica em prticas prprias pela busca do direito de apropriar-se
da cidade.
67
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
AS POTENCIALIDADES E OS PROBLEMAS DAS CIDADES DOS
ARCOS SUL E CENTRAL DA FRONTEIRA DO BRASIL
CRUZ, Milton (UFRGS/IPEA)
CARNEIRO, Camilo Pereira (UFRGS/IPEA)
milton8253@gmail.com, camilo@fee.tche.br
Diversas especificidades e diferenas caracterizam as cidades localizadas na rea de 150
km contgua ao limite internacional do Brasil, que constitui a faixa de fronteira, um
territrio que a Constituio brasileira designa como de segurana nacional (Lei 6.634,
de 1979 e Decreto 85.064/80). O presente trabalho apresenta uma sntese dos
investimentos em polticas pblicas e em setores da economia, bem como das
infraestruturas necessrias ao desenvolvimento sustentvel dos arcos Sul e Central da
faixa de fronteira do Brasil. So analisadas as centralidades econmicas existentes, o
crescimento populacional, a migrao, os indicadores de pobreza urbana, e a
distribuio de renda nas cidades dos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Paran, e Rio Grande do Sul. Os investimentos em infraestruturas previstos e em
andamento, as lacunas, os conflitos e inconsistncias na alocao de recursos so
abordados com base no conceito de desenvolvimento sustentvel (crescimento
econmico, distribuio da renda, erradicao da pobreza absoluta, qualificao da
infraestrutura urbana, equilbrio ambiental). As fontes de pesquisa utilizadas foram:
IBGE, Censo Demogrfico 2010; Mapa da Pobreza e Desigualdade 2003; Governo
Federal, PAC, Ministrios da Integrao, dos Transportes e da Indstria e Comrcio;
Ministrio do Trabalho e Emprego, RAIS; Governos estaduais e municipais; FEE/RS; e
alguns estudos recentes sobre populao.
SATISFAO: um tema em definio
DARS, Marilene Lige (UNISINOS)
necadaros@hotmail.com
FAPERGS
Os conceitos de desenvolvimento econmico tm como objetivo a felicidade da maioria
das pessoas. Diferem na conceituao da medida para avaliar essa felicidade, para alm
de uma filosofia utilitarista. A satisfao uma emoo que colabora para essa
avaliao e definio do que se entende por felicidade. Segundo Amartya Sen, para uma
conceituao de desenvolvimento com liberdade necessrio a ao de cada pessoa
nesse processo, ou seja, a satisfao de superar privaes que so possveis mediante
instrumentos que se adquire com educao e sade. Nos estudos de economia solidria
percebe-se que muitos dos empreendimentos encontram sua vitalidade em certa
satisfao de seus membros com os empreendimentos. Mesmo que seus membros no
tenham garantidos os direitos bsicos, a satisfao, dos mesmos, colabora para
continuidade dos empreendimentos e para a luta pela conquista de direitos e cidadania.
Este artigo versa sobre a construo do objeto de pesquisa ao estudar definies de
satisfao desde a antiguidade at os dias de hoje e construir um conceito que possa
colaborar para a compreenso das relaes interpessoais dos empreendimentos de
economia solidria e para uma melhor compreenso de um conceito de
desenvolvimento que incluem esses processos de vida da economia solidria.
68
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
MIGRAO, TRABALHO E MINERAO: maranhenses tomam
rumo de Parauapebas, no sudeste do Par
EID, Farid (UFPA)
SOUZA, Andr Santos de (UFPA)
profpesquisador@hotmail.com, andrepuma@bol.com.br
At a dcada de 1970, as tentativas de desenvolvimento e ocupao foradas fizeram
marchar Amaznia milhes de migrantes, sobretudo nordestinos, o que redundou em
problemas socioambientais que se agravaram ao longo dos anos. Na atualidade, essa
marcha, sob novas perspectivas, tem-se verificado rumo ao municpio de Parauapebas,
no sudeste do Estado do Par. Os projetos mnero-metalrgicos difundidos a partir de
Parauapebas, comandados pela mineradora Vale S.A., por meio do Programa Grande
Carajs (PGC), foram responsveis pela emancipao do municpio e por transform-lo
numa meca de migrantes atrados pelas oportunidades de trabalho na minerao, que
a cada dia tem se tornado mais tecnolgica e especializada. Segundo estatsticas oficiais,
10.814 pessoas chegam anualmente ao municpio, 5.887 delas de outros estados, 80%
do Maranho. A maioria do sexo masculino e tem mais de 18 anos, sendo, portanto,
mo de obra em potencial. O Censo 2010 aponta que Parauapebas tinha 153.908
habitantes e que sua populao nordestina chegou a 67.906 residentes (44,12%), entre
os quais 54.359 pessoas (35,32%) eram maranhenses, nmero maior que a populao
nascida no municpio, 41.672 habitantes. Esse fenmeno demogrfico em que se
transformou Parauapebas vai ao encontro do que nota Bertha Becker (1990) acerca da
Amaznia, onde o controle da terra, a poltica de migrao induzida pelo Estado e o
incentivo a grandes empreendimentos asseguraram o desenvolvimento da fronteira
urbana e da migrao intensa. A questo crucial saber se o municpio, que gera divisas
em razo da explorao de minrios, tem tido condies de alcanar autonomia
financeira e ampliar a oferta de emprego, motivo que faz da unidade territorial em
questo um receptculo de migrantes maranhenses.
REDES DE SOCIABILIDADE E COMRCIO NA FLORESTA
MEDEIROS, Thais Helena (FIT)
SCHWEICKARDT, Katia H. S. C. (UFAM)
thais.ouricoamazonia@gmail.com, katia.semmas@gmail.com
CAPES
Ao abrirem-se as conexes comunicacionais transporte terrestre, energia eltrica e
acesso telefonia celular interligam-se os lugares culturais das artesanas em palha de
tucum, no Rio Arapiuns, Santarm/ Par pela abundante ocorrncia da palheira e no
singular modo de vida. Na interao, agenciando e transformando mundos numa
multiplicidade de expresses singularizadas, sobressai o fluxo de pessoas e bens, o
ecoturismo, a comercializao de objetos culturais materializados no consumo de
sistemas de mercado. Este artigo trata da fundamentao e busca da compreenso dos
processos que erigiram e remodelaram o territrio simblico e geogrfico,
presentificado na intensificao das elaboraes. O fazer artesanato uma fundio de
trabalho simblico e gerao de renda numa mistura de coisas e pessoas, de pessoas e
coisas. Ao escolherem as artesanas em palha de tucum para a autorepresentao, o ato
de tecer palha a unio de lazer e no-trabalho a relao da vida com o interior,
69
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
mental, residual com o produtivo que gera a reproduo. Primeiro nascendo de uma
necessidade domstica para, em seguida, se dinamizar com os recursos naturais no
decorrer da mobilidade espacial, culminando na intensificao das relaes
mercadolgicas na atualidade. Fenmenos caractersticos de reas de expanso ou
fronteiras na Amaznia, facilitado pelos novos acessos de mobilidade na construo do
espao rural edificando uma nova ruralidade. A mesma que redesenha a paisagem social
e as relaes entre o interior-mercados de fluxos complexos ou seu contrrio. Isso se d
quando o grupo define seu regime de propriedade, os vnculos afetivos especficos, a
narrativa da ocupao, a sociabilidade e as formas de defesa. As argumentaes
respaldaram-se em bases epistemolgicas interpretativas da cultura, elegendo os
mtodos da memria coletiva, observao e contemplao.
O CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES DA BAHIA E A
ELABORAO DA POLTICA ESTADUAL DE RESDUOS
SLIDOS
MENEZES, Diego Matheus Oliveira de (UFBA)
ego.matheus@gmail.com
Os conselhos gestores so definidos como espaos pblicos compostos de forma plural
e paritria pela sociedade civil e pelo Estado, com a funo de formular e fiscalizar a
execuo de polticas pblicas setoriais. Esse mecanismo tem sido um dos principais
instrumentos implementados pelo governo federal e governos estaduais e municipais
para atender as demandas por maior participao dos movimentos sociais e da sociedade
civil como um todo nas polticas pblicas. Diferente de outros instrumentos como
Oramento Participativo, os conselhos possibilitam o acompanhamento de todo
processo de formulao de uma poltica pblica. Neste trabalho, oriundo de uma
pesquisa monogrfica apresentada em 2012, buscamos analisar o Conselho Estadual das
Cidades da Bahia (ConCidades/BA), sua composio, sua dinmica interna, a
efetividade deliberativa do conselho e o processo de elaborao da Poltica Estadual de
Resduos Slidos. Como principal instrumento metodolgico, utilizamos a anlise
documental. Foram analisadas 25 atas das reunies do Grupo de Trabalho da Poltica
Estadual de Resduos Slidos, as atas das reunies da Cmara Tcnica de Saneamento e
reunies da assembleia plena do ConCidades/BA de 2009 at 2011, documentos oficias
e a minuta do projeto de lei da Poltica Estadual de Resduos Slidos. Dessa forma
buscamos compreender como as dinmicas internas do ConCidades/BA se relacionam
com os procedimentos de elaborao de uma poltica pblica e a capacidade dos
conselheiros representantes da sociedade civil, sobretudo os movimentos sociais, de
acompanhar e influenciar na elaborao da Poltica Estadual de Resduos Slidos.
ASPECTOS RELACIONADOS COMERCIALIZAO DO
ARTESANATO SOLIDRIO EM MUNICPIO DO INTERIOR
PAULISTA: dificuldades e possibilidades
OLIVEIRA FILHO, Marco Aurlio Maia Barbosa de (NuMI-EcoSol/UFSCar)
mambofilho@yahoo.com.br
A Economia Solidria representa um modo de organizao que opera com uma lgica
distinta quela que rege o modelo capitalista, sendo concebida como um conjunto de
70
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
atividades econmicas organizadas e realizadas cooperativamente por trabalhadores e
trabalhadoras de forma coletiva e autogestionria. As iniciativas econmicas que atuam
sob o paradigma desta outra economia, denominadas empreendimentos econmicos
solidrios, so constitudas em base coletiva e primam pelo estabelecimento de relaes
nas quais as prticas de cooperao e de solidariedade existam enquanto fatores
determinantes na realidade da produo da vida material e social. Dentre os muitos
obstculos enfrentados pelos empreendimentos de Economia Solidria, a
comercializao da produo um dos mais cruciais, uma vez que implica na prpria
sobrevivncia dos grupos. Quando o produto no se converte em ganhos econmicos
que propiciem a reproduo do trabalhador, corre-se o risco de esvaziamento do
empreendimento ou ento sua degradao, afastando-se dos princpios da Economia
Solidria. Este trabalho tratou de analisar as principais dificuldades enfrentadas pelos
empreendimentos de artesanato solidrio existentes em uma cidade de mdio porte do
interior paulista, que conta com instituies de apoio e fomento Economia Solidria.
As informaes foram levantadas por meio de entrevistas realizadas com representantes
de cada grupo, sendo que a baixa divulgao e a falta/insuficincia de espaos
adequados para a comercializao foram os pontos considerados como os mais crticos.
Acredita-se que muitos dos problemas apontados poderiam ser enfrentados mediante a
criao de polticas pblicas de fomento Economia Solidria.
A ECONOMIA CRIATIVA E OS NOVOS REFLEXOS
INSTITUCIONAIS SOBRE O TRABALHO ARTESANAL EM
PORTO ALEGRE
POSSEBON, Daniela (UFRGS)
dbpossebon@gmail.com
O presente trabalho procura investigar efeitos de dinmicas e incentivos organizacionais
e institucionais sobre atividades artesanais em Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brasil),
sob o referencial do Novo Institucionalismo Sociolgico, a partir do surgimento do
discurso da economia criativa no Brasil e no mundo tendo em vista compreender limites
e possibilidades desta mediante as alteraes percebidas. Estando o trabalho artesanal
dentro da chamada economia criativa e tendo tanto o governo federal, quanto vrios
estados, criado secretarias referentes a esta, analisamos quais os reflexos e mudanas a
partir desta referente ao aspecto econmico do artesanato tendo como objeto de estudo
de caso os artesos que expe seu trabalho no Brique da Redeno, considerado
Patrimnio Cultural Imaterial do estado e que tem sido referncia quanto a feiras de
artesanato no Brasil e na Amrica Latina. A pesquisa tem carter qualitativo e tem se
realizado a partir de dados primrios e secundrios, principalmente entrevistas. Para
responder ao objetivo, a investigao tem mapeado planos e aes de instituies
relacionadas ao artesanato na cidade; identificado mudanas recentes na organizao e
trabalho dos artesos e cadeia do artesanato e analisado mudanas nas estratgias de
criao de valor econmico, tipos de produto, acesso tecnologia, bem como mudanas
nas condies de vida e trabalho.
71
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
CONSIDERAES GERAIS SOBRE A DEMOCRACIA E OS
PRINCPIOS DEMOCRTICOS DA ECONOMIA SOLIDRIA
SILVA, Luiz Antonio Colho da (UFCG)
BATISTA, Ozaias Antonio (UFRN)
luidd@yahoo.com.br, ozaias_antonio@hotmail.com
O objetivo geral deste artigo refletir sobre o conceito de democracia e os princpios
democrticos da economia solidria e suas peculiaridades, que vo desde o seu conceito,
contexto histrico at exemplos de empreendimentos econmicos solidrios. J os
objetivos especficos so: explanar os vrios conceitos de democracia para os mais
diferentes autores e descrever os princpios democrticos e autogestionrios da
economia solidria e seus desdobramentos, observando aspectos sociais e econmicos
implementados pelos membros dos empreendimentos solidrios atuais. Os
procedimentos metodolgicos adotados foram uma pesquisa descritiva e exploratria,
com natureza qualitativa, atravs de um levantamento bibliogrfico por meio de vrias
fontes como livros, monografias, peridicos, sites e revistas especializadas a respeito da
democracia e da economia solidria como sada para o desemprego estrutural, a
formao de conscincia crtica e diminuio da excluso social. Alguns autores
analisados foram: Singer (2002), Arroyo (2004), Bobbio (2002) e Wood (2011). Assim,
concluiu-se que a democracia possui uma grande importncia na concepo e reflexo
dos cidados frente s suas demandas. J a economia solidria possui preceitos
democrticos que tratam da igualdade de condies, da democracia na tomada de
deciso, da busca pela solidariedade, da transparncia das informaes contbeis e
administrativas, do pensamento coletivo, da participao coletiva, da educao
continuada e crtica e do respeito ao prximo, alm de que melhoram a vida de todos os
envolvidos neste tipo de empreendimento. Todavia, vale salientar que novas pesquisas
devem ser feitas no sentido de gerao de novos conhecimentos a respeito do tema
democracia e dos princpios democrticos da economia solidria.
A OCUPAO DOS CERRADOS NO CENTRO-OESTE
BRASILEIRO: trabalhadores, expanso do agronegcio e questes
socioambientais
SILVA, Joo Charlesdan Amorim (UNITAU/ UNIFIMES)
SOUZA, Srgio Luiz de (UNIFIMES)
BARBOSA, Nilvan Domingos (UNIFIMES)
joaoamorim@unifimes.edu.br, srgioluz@fimes.edu.br, nilvan@fimes.edu.br.
Trazemos uma discusso de nossa pesquisa de mestrado na qual objetivamos discutir
relaes existentes entre o modelo de desenvolvimento estabelecido no Centro-Oeste
brasileiro, principalmente a partir dos anos 1980, baseado no latifndio e na
monocultura voltada exportao, sobretudo, no que diz respeito ocupao do bioma
Cerrado, aos processos de reorganizao do espao urbano e s condies de vida dos
trabalhadores. Com este foco observamos a ocorrncia de um processo de acumulao
por espoliao com grande concentrao fundiria que intensificou o carter
especulativo do uso da terra. Modelo marcado por transferncia de recursos a alguns
grupos regionais, com resultados danosos ao bem estar da maioria da populao
trabalhadora. Desta forma, as transformaes econmicas ocorridas a partir do final da
72
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
dcada de 1990, ampliaram os fluxos migratrios, com um rpido crescimento
demogrfico das cidades, sobremaneira no Sudoeste Goiano. Em Rio Verde, o maior
centro urbano regional, ocorreu uma taxa de crescimento da populao urbana de 4,4%
nesta primeira dcada do sculo XXI, mais que o dobro do Brasil (1,6%). Outro
municpio com acelerado ritmo foi Mineiros, com populao que cresceu de 35.000 no
ano de 2000 para 52.000 habitantes em 2010. O resultado de to rpido crescimento
manifesta-se em diversos aspectos, como a modificao no uso e ocupao do solo com
aumento das presses ambientais sobre o Cerrado, ocupao de reas de preservao
por parte da populao sem moradia, aumento das demandas de bens e servios
urbanos, elevao do custo de vida, formao de um crescente contingente populacional
marginalizado do mercado de trabalho e, assim, sem acesso a outros direitos sociais,
com a elevao dos ndices de criminalidade dos municpios desta regio brasileira.
ASPECTOS DA GOVERNANA LOCAL: insero internacional das
cidades atravs de redes de cidades
VITAL, Graziela C. (USP)
grazievital@hotmail.com
Os efeitos dos processos de reestruturao produtiva, de globalizao e da
implementao da agenda neoliberal ocorridos nas ltimas dcadas impulsionou o
debate acerca do papel das cidades em um contexto de aprofundamento da competio
por recursos, acesso investimentos estrangeiros, entre outros aspectos. Se por um lado
h uma transformao na estrutura produtiva das cidades, gerando processos de
excluso social, segregao urbana, desigualdade social, h por outro lado uma
intensificao do debate sobre a governana local, que procura compreender as
possveis formas de interao informais dos vrios agentes que atuam nas localidades e
que independem da atuao do governo. Neste contexto de expanso da ideia de
governana, em que ocorre o fortalecimento de outros agentes e atores polticos,
econmicos e sociais, nos quais tambm se incluem os governos subnacionais, h um
aumento na atuao internacional destes entes subnacionais. Tal aumento provoca
impactos na oferta de polticas pblicas em reas sensveis vida urbana, como
habitao, segurana, pobreza, entre outros, que so diretamente ligados aos efeitos
provocados pelos processos de globalizao, da reestruturao produtiva e em
decorrncia da aplicao da agenda neoliberal. Um dos mecanismos possveis de
insero internacional e foco deste artigo a formao de redes de cidades. Neste
contexto, o objetivo deste artigo analisar a questo da insero internacional das
cidades sob a luz dos princpios de governana local, e argumentar que tal movimento
provoca um impacto na elaborao de polticas pblicas locais. Para atingir este
objetivo, ser analisado empiricamente o exemplo da Rede de Mercocidades,
compreendida aqui como um dos instrumentos de insero internacional dos governos
subnacionais.
73
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
PSTER
O TRABALHO DAS MULHERES NA PRODUO DE FARINHA
DE MANDIOCA NO RECNCAVO BAIANO: comunidade Iriquiti,
Maragojipe Bahia
MOURA, Rosene de Jesus (UFRB)
rosene_moura@hotmail.com
A presente pesquisa busca analisar a participao das mulheres na produo de farinha
de mandioca na comunidade Requiti, distrito rural de MaragojipeBA, e qual o sentido
desse trabalho para elas. A anlise parte em compreender como se constitui o cotidiano
dessas mulheres em relao ao trabalho na produo de farinha. Para atingir tais
objetivos, foram realizadas pesquisas bibliogrficas e pesquisa emprica de cunho
qualitativa e quantitativa. Notadamente entrevistas, observao participante e aplicao
de questionrio no primeiro momento analisaram a diviso sexual do trabalho, no
segundo a jornada de trabalho exercida por essas trabalhadoras e no terceiro buscamos
compreender como constitudo o sentido do trabalho para as mulheres. Como
consideraes finais compreendemos que a participao das mulheres na produo de
farinha de mandioca luma atividade no considerada como trabalho e sim como uma
ajuda ao marido, ainda que ela trabalhe mais que ele, entretanto um fator
imprescindvel na sociabilidade da comunidade.
A ZONA FRANCA DE MANAUS SOB A PERSPECTIVA DO
DESENVOLVIMENTO HISTRICO-ECONMICO DA
AMAZNIA OCIDENTAL (2002-2012)
PELLEGRINO, Lucas Nunes (NPPA/FCLAr/UNESP)
lucasnpellegrino@gmail.com
A Amaznia importante por sua biodiversidade e recursos genticos, recursos
hdricos, madeiras, polpas, e porque poderia produzir quantidades substanciais de
produtos tropicais tpicos da regio (frutas, frutos, resinas, leo essenciais, etc.), tendo
tambm grande quantidade de minerais, gs, petrleo, etc. E medida que projetos
geopolticos nacionais como a Zona Franca de Manaus (ZFM) transformam a Regio
Amaznica Brasileira - sendo que o modelo de integrao da ZFM ocorreu de forma
extremamente pontual e concentrada aos arredores da cidade de Manaus (mantendo-se
ainda preservadas 98% das florestas da Amaznia Ocidental) - em uma regio no
sistema espacial nacional, com estrutura produtiva prpria e mltiplos projetos de
diferentes atores, as relaes e os intrincamentos econmicos com outras regies e
estados brasileiros, assim como com o comrcio exterior, pressionam pela criao e
expanso de possveis investimentos baseados na potencial explorao dos recursos ali
presentes, tornando-se de prima importncia entender a dinmica desta regio. Mediante
esses levantamentos e partindo das concepes de que 1) a unio dos pases amaznicos
fortaleceria os blocos Sul-Americanos; 2) estabeleceria uma presena coletiva e uma
estratgia comum desta regio perante o comrcio internacional; 3) geraria projetos
conjuntos quanto ao aproveitamento da biodiversidade e da gua; a totalidade da anlise
se daria pelo entendimento das atuais relaes poltico-econmicas entre a ZFM e os
74
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
blocos econmicos Sul-Americanos (Mercosul e Unasul), tendo por fundo de apoio as
medidas implementadas nos governos antes de 2002 em contraste com as que foram
implementadas aps esta data, afim de se analisar qual/como tem sido a relao do
governo federal com a ZFM nesses ltimos dez anos.
Sesso II: Trabalho
Data: 28/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Jacob Carlos Lima (UFSCar)
TRABALHO E MOBILIDADE: a experincia laboral de motoristas de
nibus urbano em Fortaleza
BAHIA, Ryanne F. Monteiro (UFC)
ryannefreire@yahoo.com.br
CAPES
Ocorrem com regular frequncia em Fortaleza, greves dos motoristas de nibus urbano.
Esses profissionais exigem melhorias nos salrios e de condies de trabalho. Essas
ltimas so consideradas precrias por motivos ergonmicos associados
especificidade laborativa tais como problemas de coluna, de audio, respiratrios, entre
outros, bem como agruras no campo da sade mental, especialmente o medo de ser
assaltado. Ademais, o ambiente de trabalho dos motoristas a rua. Esta, conforme
DaMatta (2010), representa um ambiente no controlado, onde se est mais passvel de
sofrer com os infortnios do acaso. Isso deve ser considerado no que se refere aos
imaginrios populares que associam a casa segurana e a rua ao perigo. Nesse
contexto, questiona-se: como o ambiente de trabalho dos motoristas de nibus urbano
afeta seu convvio social e sua qualidade de vida? Esse estudo justifica-se pela
emergncia dos agravos sade vinculados profisso. Carrreet al (1991) destacam as
elevadas taxas de cortisol, adrenalina e noradrenalina apresentadas; Evens et al (1987)
chama a ateno para elevao da presso sangunea; Pereira (2004) aponta a presena
de queixas desses trabalhadores acerca de fadiga, cansao mental. Nosso objetivo
compreender como os motoristas de nibus significam sua prtica no trabalho, assim
como de que modo isso afeta sua sade fsica e mental. Tal profisso encarna os
princpios do incio da modernidade: o controle do tempo, a disciplina sobre o corpo, o
adestramento dos movimentos e a produo de corpos dceis. (FOUCAULT, 1987). Em
um determinado tempo, o motorista e o cobrador devem transportar um nmero
considervel de passageiros. H uma lgica de produo de servio que semelhante ao
sistema fabril clssico.
75
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
A CULTURA ORGANIZACIONAL NO DISCURSO DA MDIA
BRITTO, Denise Fernandes (UFSCar)
jornalismo_denise@yahoo.com.br
CAPES
Considerando o cenrio de reestruturao produtiva a partir das dcadas de 1970/1980,
percebemos que os meios de comunicao de massa tm destacado em suas mensagens
valores, ideias e comportamentos relativos ao mundo do trabalho e do perfil do
trabalhador que o mercado legitima. Assim, a comunicao pode colaborar para tecer as
representaes do chamado novo esprito do capitalismo, a partir do momento em que
destaca certas pautas e angulaes em detrimento de outras temticas e abordagens.
Levando em conta essa relao entre mdia e a cultura organizacional na atualidade, este
trabalho se prope a aprofundar terica e analiticamente as questes que interligam as
mudanas nas relaes de trabalho, a nova cultura organizacional e sua legitimao a
partir do discurso disseminado pelos veculos de comunicao de massa. Para tanto, esta
pesquisa se vale de uma anlise quantitativa das reportagens da revista Voc S/A,
especificamente de sua seo Carreira. O objetivo identificar quais os principais temas
que compem a representao do perfil desejvel do trabalhador contemporneo. Como
sustentao terica, levamos em conta os autores da Sociologia do Trabalho bem como
o mercado de revistas compem e atualizam o discurso empresarial no Brasil. A anlise
quantitativa - que integra uma pesquisa mais ampla - se apoia no aporte metodolgico
da Anlise do Discurso.
REESTRUTURAO, PRECARIZAO E O PROGRAMA BOLSA
FAMLIA: anlises a partir da flexibilidade
GONALVES, Marilene Parente (UENF)
marileneparente@yahoo.com.br
O trabalho proposto pretende apresentar um ensaio analtico acerca de questes no
mundo do trabalho e o Programa Bolsa Famlia. Leva em considerao o processo de
reestruturao produtiva e flexibilidade engendrada na contemporaneidade da sociedade
capitalista e seus desdobramentos enquanto consequncias negativas para uma parcela
da populao. O Brasil sofre uma adaptao do Fordismo brasileira que marca as
relaes sociais estabelecidas e imprimem um sentido tambm diferenciado, dado as
particularidades existentes que realizam uma mescla entre aquilo que seriam aspectos
mais globais e aspectos menos globais, no se configurando enquanto um movimento
homogneo. Um estado de desemprego globalizado se torna fato constante, com uma
realidade que ainda no visualiza uma absoro satisfatria de quem oferta trabalho e
enfrenta um mercado precarizado. Neste sentido, discutimos a poltica de assistncia
social enquanto refuncionalizada pelo Estado, se apresentando como possibilidade de
enfrentamento das consequncias da reestruturao e precarizao via Programa Bolsa
Famlia, que instaura um debate sobre a sua validade frente o quadro de questo social
produzido historicamente. Tais reflexes so pensadas articuladas ao Programa Bolsa
Famlia na cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro. A pesquisa em
curso desde 2012, busca focalizar as questes a partir de entrevistas semiestruturadas
com gestores do Programa Bolsa Famlia e seus profissionais, considerando para esta
proposta, os registros de participao dos beneficirios do referido programa em aes
76
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
socioeducativas e de capacitao, e informaes oficiais no site do Ministrio do
Desenvolvimento Social e Combate Fome quanto trajetria de participao no
mercado de trabalho.
O REDIMENSIONAMENTO DO TRABALHO SUBCONTRATADO
DAS MULHERES NAS FACES DOMICILIARES E NAS
COOPERATIVAS DE COSTURA DE CIANORTE-PR
LIMA, Angela Maria de Sousa (UEL)
angellamaria@uel.br
No setor do vesturio de jeans e de modinha da regio de Umuarama-Cianorte/PR, a
confeco a principal etapa produtiva, concentra a maioria das operaes e a mais
intensiva em mo-de-obra, sobretudo feminina e informal. Por isso, pretende-se
problematizar alguns resultados da pesquisa feita nesta localidade, ao investigar a rede
de subcontratao de trabalho e as peculiaridades vivenciadas por estas mulheres no
setor da costura e do bordado. Partimos dos impactos da reestruturao produtiva nesse
aglomerado produtivo recente, mostrando como nessa regio, mantm-se uma rede de
subcontratao de trabalho, envolvendo de micro a grandes empresas, caracterizada pelo
redimensionamento do trabalho subcontratado, em cooperativas, faces industriais,
faces domiciliares e trabalhos domiciliares, revitalizados, a cada estao e a cada
oscilao da moda, mas sempre proporcionando impactos significativos sobre a diviso
sexual de trabalho. Um dos principais recortes est em debater as cooperativas criadas
neste setor, procurando compreender o que elas representam para as trabalhadoras,
como, porque se constituram e que elos estabelecessem com a cadeia produtiva de
jeans e de modinha na regio. Partimos da hiptese de que estas cooperativas de
produo, como fenmeno novo neste setor, desvinculadas do iderio de auto-gesto
democrtica, surgem nesse momento como um mecanismo de reduo de custos,
principalmente no que se refere aos encargos trabalhistas.
O ETHOS OPERRIO E O ADOECIMENTO NAS
AGROINDSTRIAS AVCOLAS BRASILEIRAS
NELI, Marcos Accio (UNESP)
marcos_neli@yahoo.com.br
CAPES
Este trabalho tem por objetivo discutir, de modo geral, as relaes entre a formao do
ethos operrio e as transformaes histricas no desenvolvimento da sociedade
capitalista e, por consequncia, do operariado contemporneo. De modo especfico,
procuraremos desvelar as possveis relaes entre as mudanas nos processos de
organizao e de gesto da mo de obra operria, em referncia ao contexto da
agroindstria avcola, e o adoecimento fsico e mental a que estes esto submetidos. O
adoecimento fsico e mental, em alguns setores da produo so muito evidentes e, no
setor de abate e processamento de aves, o risco sade bastante acentuado. Assim, as
formas encontradas pelos operrios para a convivncia com estes riscos so um ponto
importante para a compreenso do ethos destes trabalhadores. As formas de convivncia
e de organizao, a compreenso de seus dilemas e dos riscos aos quais esto expostos
sero temas a serem desenvolvidos no presente trabalho.
77
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
ESTAGIRIOS EM EMPRESAS DE SOFTWARE: flexibilidade e
qualificao
OLIVEIRA, Daniela Ribeiro de (UFSCar)
danicso02@gmail.com
FAPESP
Tendo em vista as mudanas no mundo do trabalho e as diversas formas que o trabalho
vem assumindo, adotou-se como objeto de estudo uma categoria de trabalhadores que
nasce no contexto de capitalismo flexvel e ascende em meio ao avano da capitalismo
informacional. Trata-se dos trabalhadores de desenvolvimento de software. O trabalho a
ser apresentado resultado da nossa pesquisa de mestrado, realizados entre os anos de
2007 a 2009, cujo objetivo principal foi apreender as percepes dos desenvolvedores
de software sobre suas condies e relaes de trabalho. Foram realizadas 18 entrevistas
semiestruturadas trabalhadores vinculados em empresas de software, localizadas nos
municpios de Araraquara/SP, So Carlos/SP, Campinas/SP e So Paulo/SP, com os
seguintes vnculos trabalhistas: trabalho em regime de CLT, servidor pblico, estgio,
free-lance por conta prpria; scio empresrio, pessoa jurdica PJ. Buscamos
compreender como os entrevistados percebiam suas vrias modalidades de contrato
trabalhistas que estavam submetidos. Para tanto, apresentaremos as percepes e os
discursos de cinco estudantes vinculados como estagirios a empresas privadas e
instituies pblicas de ensino e pesquisas. Mostraremos suas percepes sobre as
condies de estagirios nesses espaos de trabalho em um contexto em que o que
define a qualificao e as possibilidades do profissional no mercado de trabalho o seu
conhecimento sobre a linguagem informacional. As percepes dos estagirios com
relao a esse vnculo contratual sintetiza uma constante busca por qualificao e
ganhos de conhecimento, algo que no se obtm apenas na insero acadmica. Esses
jovens estudantes ao se disporem a baixa remunerao, especfico desse vnculo
contratual, com o objetivo de obter ganhos de conhecimento, na verdade destacam uma
estratgia de ao do setor em torno da qualificao compreendida como uma corrida
permanente contra a possibilidade de tornarem-se obsoletos frente s inmeras
inovaes tecnolgicas que imprimem novas formas de fazer e exigem novos produtos e
ideias.
INSTITUIES SOCIAIS E A POSSVEL RESOLUO DO
PROBLEMA DA AO COLETIVA: um estudo das associaes
trabalhistas de Belo Horizonte no incio do sculo XX
PASSOS, Daniela Oliveira Ramos dos (UFMG)
ddanipassos@gmail.com
O objetivo deste trabalho o de refletir, com base na abordagem institucional, sobre as
prticas de luta e reivindicaes adotadas pela classe trabalhadora belorizontina, no
contexto de construo da nova capital mineira, que tinham por intuito conseguir
consolidar os direitos trabalhistas ou mesmo lutar por melhores condies de trabalho e
vida. Para esse propsito adotaremos o conceito de instituio, elaborado por Elster
(1994, p. 174) que a define como um mecanismo de imposio de regras, que
governam o comportamento de um grupo bem definido de pessoas, com sanses
externas e formais. So instituies, cujas sanes se baseiam na expulso de algum
membro do grupo; e sua adeso oferecida por meio de benefcios que variam da ajuda
78
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
mtua valorizao da classe trabalhadora, ao serem adeptas das reivindicaes em
busca de melhores condies de trabalho. A finalidade de pensar as associaes
trabalhistas de Belo Horizonte, como organizaes institucionais, ter por objetivo
analisar o problema da ao coletiva e sua possvel resoluo: como as associaes
conseguiram agir em prol dos interesses de um determinado grupo? Para tanto,
analisaremos as aes das entidades: Associao Beneficente Tipogrfica, Liga
Operria, Confederao Auxiliadora, Centro Confederativo, Federao do Trabalho e
Confederao Catlica do Trabalho. Procura-se, assim, constatar que as instituies
provavelmente podem proporcionar situaes melhores ao indivduo, ao tentar resolver
o problema da ao coletiva. Neste sentido, as associaes trabalhistas, puderam
oferecer benefcios especiais aos seus membros, ao mesmo tempo em que
proporcionaram aos trabalhadores a interao com seus semelhantes, alertando para a
unio classista em busca de melhores condies de trabalho e vida.
OS DESAFIOS DO TRABALHO ASSOCIADO: a experincia das
fbricas recuperadas no Brasil
PIRES, Aline Suelen (UFSCar)
aline.sociologia@gmail.com
FAPESP
O contexto gerado pela reestruturao produtiva, associada s crises financeiras e
mudanas na economia brasileira e latinoamericana nos ltimos anos da dcada de
1990, provocou a falncia de muitas empresas e resultou, para muitos trabalhadores,
aumento do desemprego e precarizao das relaes de trabalho. Estes foram levados a
buscar outras formas de trabalho e obteno de renda, entre as quais o trabalho
associado e autogestionrio. A partir da, surgem, no Brasil, entidades, como a
ANTEAG e a UNISOL Brasil, para apoiar grupos de trabalhadores a se unirem e
assumirem o controle das fbricas falidas onde trabalhavam, permitindo, assim, a
conservao dos postos de trabalho. So as chamadas fbricas recuperadas. Esse
fenmeno no ocorre somente no Brasil, mas tambm em outros pases da Amrica do
Sul, como, por exemplo, a Argentina, considerada, inclusive, uma referncia em
recuperao de empresas por trabalhadores. Nossa proposta discutir a experincia das
fbricas recuperadas nos dois pases atravs de dados obtidos por meio de extensa
pesquisa de campo, na qual foram visitados e analisados diversos empreendimentos
desse tipo. Nosso objetivo foi verificar como os valores cooperativos e autogestionrios
se fazem presentes nessas experincias e de maneiras os trabalhadores interpretam o
trabalho associado.
NOS BASTIDORES DA TERCEIRIZAO: o trabalho informal na
indstria caladista
RANGEL, Felipe (UFSCar)
feliperangelm@gmail.com
FAPESP
Por apresentar etapas, de certa forma, artesanais, o processo de produo nas indstrias
caladistas necessita de mo de obra abundante. De maneira geral, predomina o trabalho
simples e rotinizado, exigindo pouca escolaridade e qualificao da fora de trabalho. A
79
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
subcontratao se apresenta como prtica generalizada no setor. Etapas da produo que
costumam gerar gargalos nas indstrias so, em larga escala, externalizadas para
pequenas oficinas conhecidas como bancas. A fiscalizao dessas unidades produtivas
terceirizadas tarefa difcil, ento, muitas delas acabam atuando na informalidade, o
que favorece execuo de um trabalho acentuadamente mais precrio quando
comparado ao realizado no interior das fbricas. Tendo em vista esse quadro, a presente
pesquisa buscou conhecer as configuraes do trabalho terceirizado e informal na
indstria de calados do Estado de So Paulo. Foram estudadas unidades produtivas
informais nos trs maiores polos caladistas do Estado: Franca, Birigui e Ja. Tivemos
como inteno conhecer as condies de trabalho e as perspectivas dos
proprietrios/trabalhadores dessas oficinas informais, que comumente so instaladas em
ambiente domiciliar, onde o trabalho executado caracterizado por longas jornadas e
remunerao instvel. Por outro lado, nos preocupamos tambm em analisar a
influncia dos discursos sobre empreendedorismo na valorizao do trabalho autnomo
e na responsabilizao do trabalhador por sua insero e manuteno no mercado de
trabalho. Buscamos compreender a viso dos agentes sobre sua prpria condio de
pequeno empreendedor num contexto no qual a informalidade tem sido ressignificada
sob a noo de empreendedorismo, sendo o sucesso ou fracasso econmico atribudos
exclusivamente capacidade empreendedora do agente.
A IMERSO EM NOVAS REDES SOCIAIS E AS MUDANAS NO
TRABALHO INFORMAL DE RUA: o shopping do Porto
Cameldromo de Porto Alegre
ROCHA DE FREITAS, Gabriella (UFRGS)
gabriellaf.rocha@gmail.com
CAPES
Atualmente, o aumento da automao e da informatizao reduziu a mo de obra
necessria e elevou o grau de qualificao dos trabalhadores. Essa alterao reduziu as
chances de integrao de trabalhadores com qualificaes consideradas obsoletas ao
mercado de trabalho formal, causando o aumento do mercado de trabalho informal.
Devido incapacidade de promover um desenvolvimento que agregue toda a mo de
obra existente, a expanso desse setor conta com certa tolerncia do Estado brasileiro,
que passa gerir os conflitos. A construo de um centro popular de compras em Porto
Alegre insere-se nesse contexto. Na rua, os mecanismos institucionais no alcanavam
esses comerciantes, que mobilizavam redes informais e associativas visando a sua
manuteno. O poder pblico, atravs da construo do Cameldromo possibilitou aos
comerciantes a imerso com redes institucionais, como a SMIC, a empresa gestora e o
SEBRAE. Dessa forma, o problema central da investigao indagar sobre as
estratgias de atuao desses comerciantes no novo mercado, em resposta s mudanas
institucionais promovidas pelo poder pblico. Elaboram estratgias que reproduzem a
lgica do mercado informal de rua, ou aderem e transformam as oportunidades
institucionais surgidas a partir da criao do empreendimento? A partir da anlise de 14
entrevistas semiestruturadas com os comerciantes populares, identificou-se que a
imerso em redes institucionais e informais interfere nas estratgias de insero e
atuao dos comerciantes no mercado. Quanto mais as redes sociais e institucionais dos
comerciantes forem diversificadas e orientadas para fora da informalidade, maiores so
80
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
as chances desses agentes formularem novas estratgias de atuao no mercado,
tendendo a modificar as atuaes no mercado de rua.
TRABALHO E FLEXIBILIDE EM NARRATIVAS: um estudo sobre
trajetrias ocupacionais de trabalhadores da indstria de construo
TAVARES NETO, Joo Gomes (UFPA)
adergoes@bol.com.br
Este estudo, que integra o trabalho de doutorado empreendido desde 2009, no Programa
de Ps-Graduao em Cincias Sociais - PPGCS do Instituto de Filosofia e Cincias
Humanas da UFPA examina as nuanas do que a literatura especializada cunhou de
flexibilidade no mundo do trabalho e as maneiras como suas consequncias esto
presentes nas trajetrias ocupacionais de seis trabalhadores que construram suas
carreiras na indstria de construo no transcurso das trs ltimas dcadas. Ramalho
(2010) assevera que a categoria flexibilidade sintetiza as mudanas decorrentes da
reestruturao pelas quais passou a indstria nas ltimas dcadas (p. 253). Para
Castells (2010), esta conduz a um redesenho das relaes de trabalho alterando as
formas tradicionais de emprego, no que concerne jornada de trabalho, estabilidade,
aos espaos de desenvolvimento da produo e s formas de ordenamento das relaes
entre patres e empregados. Nos limites deste estudo flexibilidade est situada no
contexto de mudana para um novo esprito do capitalismo, que segundo (Boltanski;
Chiapello, 2009) ativa um aparato justificador que conduz naturalizao da
flexibilidade na vida do trabalhador arrefecendo a fora da crtica social; neste sentido
flexibilidade se torna uma categoria fundamental para a compreenso das trajetrias
ocupacionais dos sujeitos da pesquisa. Em nossos achados sublinhamos o risco e a
incerteza que marcam as trajetrias ocupacionais desses sujeitos, bem como o
aprimoramento da capacidade de deslocamento que facilitou mudana de cidades, de
empresas e de funes. Esses fatores, que se intensificam em sintonia com a
reestruturao produtiva, so expostos nas narrativas desses sujeitos, como
caractersticas naturais da atividade de construo.
PSTER
MULHER E TRABALHO: a vida diria das teleatendentes
CARMO, Priscila Pacheco (UNESP)
bsl_priscilapacheco@hotmail.com
A mulher do sculo XXI tem acumulado funes mais que suas predecessoras, pois
quando assume a responsabilidade de uma determinada profisso, no deixa de exercer
suas atividades familiares. Muitas acabam buscando profisses com horrios mais
flexveis para conseguir equilibrar e harmonizar a vida profissional com a sua vida
cotidiana. O teleatendimento tem sido uma opo principalmente e devido
flexibilidade de jornadas, carga horria reduzida e possibilidade de adicionais no salrio
como comisses. Este setor trabalhista composto majoritariamente por mulheres e
jovens. Em pesquisas recentes, com as seis maiores empresas do setor de atendimento
no Brasil, constatou que 88% dos teleatendentes so mulheres entre 20 e 39 anos, uma
idade na qual, a maioria das mulheres ou esto estudando ou constituindo suas famlias.
81
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Porm o ritmo de trabalho intenso e a carga horria, via de regra, no condiz com esse
volume de trabalho. Tambm contribui para as empresas justificarem os salrios baixos,
intervalos menores entre outras restries, uma vez que o trabalho deve ser deve ser
executado de forma mais rpida possvel para cumprir as metas. Nesse trabalho,
pretende-se apresentar a vida cotidiana da mulher trabalhadora (teleatendente) e seu
cotidiano, e como o trabalho influencia em seu comportamento em sua vida social. Com
base em um estudo aprofundado sobre a evoluo da mulher no mercado de trabalho
desde os primrdios at o momento e em anlises feitas por pesquisadores da rea, este
busca entender a evoluo do setor e o que o mesmo tem feito para melhorar a vida das
trabalhadoras.
O PERFIL DOS DIRIGENTES DOS SINDICATOS FILIADOS A
CUT, NO MUNICPIO DE TERESINA-PIAU, EM 2012
CAVALCANTE, Isaac Ferreira (UFPI)
cgg_e@yahoo.com.br
O objetivo deste trabalho apresentar o resultado da pesquisa, que teve como
preocupao, desenvolver um modelo de Perfil dos dirigentes dos sindicatos filiados
CUT, no municpio de Teresina-Piau, em 2012, e o outro objetivo dialogar com a
literatura existente sobre um possvel padro dos dirigentes sindicais. Como um dos
resultados: o perfil hora desenvolvido uma iniciativa pioneira no Piau e no tema em
nosso pas. A literatura, no apresentar claramente um perfil de dirigentes de sindicatos
de trabalhadores. Existe um espao frtil para que se possa desenvolver este tipo
investigao em nosso pas, dentro do campo, inclusive de teorias sobre as elites. Outra
concluso importante que h uma (re)significativa no fazer e pensar do mundo
sindical contemporneo, outrora monoltico. A concluso do trabalho, entre tantas, a
principal que, , preciso ampliao deste tipo de pesquisa para identificar os padres
existentes no sindicalismo brasileiro. A metodologia utilizada, para produzir esta
pesquisa, foi o mtodo de survey, com a aplicao de um questionrio em 186 dirigentes
de 16 sindicatos filiados CUT, no municpio de Teresina, capital do Piau.
DISCURSO EMPREENDEDOR E REALIDADE PRECRIA: a
categoria dos profissionais de TI
MARTINS, Amanda Coelho (UFSCar)
amanda_cmartins@hotmail.com
FAPESP
Este projeto tem como objetivo analisar o perfil de uma nova categoria de profissionais,
da tecnologia da informao (TI), que tem como caractersticas o trabalho criativo, a
flexibilidade das atividades desenvolvidas e das relaes de trabalho em que esto
inseridos. Buscar-se- analisar quem esse trabalhador, o tipo de formao, a
qualificao exigida para a atividade, s relaes de trabalho, o espao onde desenvolve
suas atividades, suas perspectivas de carreira, e a percepo de autonomia que essa
atividade pressupe. A pesquisa ser realizada junto a uma grande empresa de TI na
cidade de Araraquara, SP, e tentando recuperar as caractersticas das atividades
desenvolvidas e a percepo do trabalhador sobre a realidade presente em sua ocupao.
Como hiptese central pautada em todos os objetivos de pesquisa e em todas as
82
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
informaes adquiridas com a reviso bibliogrfica, tem-se a ideia de que h um
discurso empreendedor para a categoria dos profissionais de TI, vindo das empresas e
dos prprios trabalhadores. Contrapondo-se realidade da categoria que seria precria,
no no sentido de que o trabalho do profissional de TI seja precrio, pois o conceito de
precariedade relacional, mas no sentido das relaes de trabalho que este tem com a
empresa, sua possibilidade de projetar o futuro e a presena ou no direitos.
PARALEGAIS NA CIDADE DE SO PAULO: um estudo de
processos e discursos de profissionalizao
SIQUEIRA, Wellington Luiz (UFSCar)
wellsiqueira@outlook.com
CNPQ
Paralegal, ou auxiliar jurdico, aquele cuja funo auxiliar magistrados ou advogados
em suas tarefas cotidianas, a fim de agilizar processos e aumentar a eficincia de
comarcas e escritrios de advocacia. Na Classificao Brasileira de Ocupaes no h
registro da palavra chave paralegal, mas podemos encontrar auxiliar jurdico como
uma subcategoria de Serventurios da Justia e Afins. No entanto a atividade paralegal
assume diversas descries em alguns sites de busca de emprego e essas se assemelham
s descries de auxiliar jurdico. Essa denominao aos auxiliares, relativamente nova
no Brasil, aparece como alternativa, segundo alguns juristas, crescente demanda por
empregos criada a partir do aumento da oferta de cursos de bacharelado em direito, e na
dificuldade que esses cursos enfrentam em aprovar seus alunos no exame da Ordem dos
Advogados do Brasil. Ao atualizar o auxiliar jurdico para o paralegal cria-se uma nova
ocupao capaz de suprir essa demanda dos bacharis por emprego ao mesmo tempo em
que introduz valores internacionalizados ocupao, pois esta se organizou como apoio
s carreiras jurdicas mais tradicionais em pases de Common Law, como os Estados
Unidos. A pesquisa tem o objetivo, portanto, de acompanhar a prtica dos paralegais
com bacharel em direito na cidade de So Paulo, a fim de compar-la com a dos
despachantes documentalistas. A hiptese que as mudanas nesse campo representam
uma nova roupagem atividade do despacho de documentos, menos marcada como da
ordem tradicional local, introduzindo caractersticas modernas e internacionalizadas
como as que se associam imagem dos paralegais.
83
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso III: Sociologia Econmica e Polticas Pblicas
Data: 28/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Fbio Jos Bechara Sanchez (UFSCar)
O TRANSPORTE PBLICO MUNICIPAL E A PROBLEMTICA
DO SUBSDIO CRUZADO: mobilidade social e tarifa mdica para
quem?
BAROUCHE, Tnia de Oliveira (UNESP)
tonia.barouche@hotmail.com
CAPES
O setor de transporte urbano no Brasil vive atualmente uma das piores crises do setor
pblico consubstanciada por uma perda constante de demanda e produtividade. Isso
porque, ao lado do crescimento ilegal dos meios de transporte urbano e da falta de
investimento e infraestrutura, h ainda a problemtica do alto preo das tarifas, as quais,
muitas vezes, so incompatveis com a capacidade financeira dos usurios que mais
necessitam do transporte: a populao de baixa renda. Nesse contexto a questo dos
subsdios cruzados como poltica pblica se torna essencial, pois, visando a incluso,
mobilidade social e tarifa mdica, crescente emanao de gratuidades e benefcios
tarifrios, pelo Poder Pblico, a determinadas classes de usurios. Todavia, mesmo com
a incluso macia do subsdio cruzado em quase totalidade do territrio brasileiro,
pesquisas recentes demonstram que a populao de baixa renda ainda sofre com a
incluso, mobilidade social e incapacidade de pagar pelo preo da tarifa. Notrio que
o preo da tarifa no diminuiu com a incluso do subsdio cruzado e isso se d por um
motivo simples: a grande iniquidade dessa poltica no se determinada classe de
usurio tem ou no o direito de receber o benefcio pois geralmente existem fortes
argumentos para tal - mas sim pela escolha de apenas um grupo para arcar com o nus
da medida: o usurio pagante, isso porque, com a concesso desmedida de benefcios
tarifrios a determinadas classes de usurios, a concessionria acaba por repassar o
dficit gerado pelas gratuidades aos usurios pagadores e, via de regra, o efeito o
aumento do preo da tarifa. Assim, o presente estudo visa investigar a eficcia da
poltica pblica do subsdio cruzado no transporte municipal em relao mobilidade e
incluso social.
ORIGENS E OCUPAO DO LOTEAMENTO QUARTA-FEIRA:
um estudo sobre a sua relevncia no contexto da urbanizao de
Cuiab (1968-1990)
CARVALHO, Jucineth G. E. S. V. de (IFMT/UFSCar)
PERARO, M. A. (UFMT)
jucineth.2013@gmail.com
Analisou-se neste estudo o conjunto de fatores histricos e socioculturais que
influenciaram o processo de ocupao e organizao espacial do loteamento QuartaFeira, inserido no bairro Alvorada, em Cuiab, no perodo de 1968-1990. O trabalho foi
84
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
norteado pela hiptese de que a referida ocupao contribuiu decisivamente para que
ocorresse a intensa ampliao urbana da cidade de Cuiab a partir de segunda metade do
sculo XX, com o surgimento de novos bairros e de uma nova perspectiva de
rearticulao urbana, notadamente com a intensificao dos movimentos sociais. O
loteamento estudado constituiu-se na primeira e significativa ocupao urbana da
capital, influenciou o traado urbano da cidade de Cuiab no perodo estudado, marcado
por uma relevante expanso urbana, impulsionada por agentes de especulao e pelo
Estado, consolidando implantao do discurso de modernidade, inserido no contexto
do desenvolvimento urbano das cidades e sociedade latino-americanas a partir de
meados do sc. XX.
OS PORTOS MARTIMOS BRASILEIROS uma investigao inicial
sobre suas reais contribuies ao nacional-desenvolvimentismo
GALVO, Cassia Bmer (PUC/SP)
cbgalvao@yahoo.com.br/cassiabgalvao@gmail.com
Esta pesquisa tem como base a constatao de imensos congestionamentos nos portos
martimos brasileiros em seus acessos martimo ou terrestre e a sua consequncia mais
imediata que o aumento dos custos de transporte. Esta situao particularmente
crtica por duas razes: primeiro, pois no caso da exportao agroindustrial, cujos
volumes vm batendo seus prprios recordes e os mercados de destinos dessas
mercadorias no possibilitam a utilizao de outro modal de transporte. Segundo, pelas
propostas de reorganizao do setor surgidas aps a publicao da MP595/2012, cujo
contedo sugere uma instabilidade jurdica dos contratos e concesses vigentes. A
exportao da agroindstria cumpre papel fundamental na balana comercial brasileira,
que por sua vez determinante no fechamento do Balano de Pagamentos e na
conduo da poltica macroeconmica brasileira. H, portanto, trs questionamentos
iniciais: seriam fatores estruturais ou conjunturais que teriam agravado essa situao no
perodo 2003 a 2011? A infraestrutura porturia suficiente para quem? Em qual
medida? H mesmo uma falta de flego financeiro para obras desta natureza de longo
prazo? A pesquisa tem por objetivo iniciar um levantamento crtico das medidas de
poltica porturia com vistas a tentar esclarecer se h ou no uma contradio neste
modelo que privilegia o agronegcio, mas ao mesmo tempo no correspondem as
necessidades de investimento na infraestrutura bsica ao funcionamento do prprio
modelo para que a produo possa ser escoada. Esta problematizao remete a um
arcabouo terico que recupere as noes de conceitos chave como bloco no poder e de
financeirizao para que se possa tentar compreender das reais contribuies dos portos
martimos no nacional desenvolvimentismo.
MIGRAO E IDENTIDADE: relao intrnseca ou um processo
consequente?
OLIVEIRA, Arlete Alves de (UNISINOS-RS)
profarleteoliveira@hotmail.com
O presente trabalho resulta da leitura de textos, cujos temas so relativos ao processo de
migrao bem como as razes que constituem ou resultam os deslocamentos. Atm-se,
principalmente, ao que diz respeito construo ou hibridizao da identidade, o poder
85
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
das redes sociais e o papel da memria nesse processo. O aporte proporcionou uma
reflexo subsidiada em teorias favorveis a um pensar ontolgico acerca das
consequncias do fenmeno migratrio, as influncias do espao geogrfico e as
implicaes socioeconmicas. So diversas as correntes tericas que priorizam os
aspectos imbricados nesse movimento de sair do lugar de origem e estabelecer-se no
local de destino. Pretende-se apresentar uma anlise feita a partir de verses clssicas
que tratam do tema, estruturalistas e ps-estruturalistas, as quais justificam a lgica dos
processos de redistribuio no espao da populao e suas diferentes consequncias.
Assim, ter uma compreenso dos fatores relativos construo identitria de migrantes,
a fim de fundamentar um pensamento que se pretende, posteriormente, construir ainda
mais analtico, sobre a migrao de maranhenses em Boa Vista-RR, a partir da dcada
de 1990. Para tanto, pretende-se desenvolver um estudo etnogrfico, do qual sero
atores migrantes residentes na comunidade Santa Luzia, localizada na periferia da
capital de Roraima, por ser o universo em que se concentra o maior nmero de pessoas
com essa provenincia, segundo o IBGE e, tambm, pela manuteno de hbitos,
espaos e manifestaes culturais do lugar de origem que eles fazem questo de
preservar. Os dados sero levantados a partir da observao, dos registros e da memria
dos pesquisados.
DESLOCAMENTO DO SONHO: um olhar sobre a qualificao e
empregabilidade dos refugiados haitianos em Manaus - AM
SILVA, Alenicon Pereira da (UEPB)
PEDROSA, Ana Paula Amorim (UFT)
SILVA, Ricardo Lima da (UFAM)
alenicon@gmail.com, ana.ecosolidaria@gmail.com, ricardoslovith@gmail.com
CAPES
O propsito deste artigo realizar uma incurso sobre o tema da mobilidade dos
refugiados haitianos na perspectiva da insero do mercado de trabalho em Manaus.
Desta forma, visa identificar o nvel de qualificao profissional dos refugiados
haitianos residentes em Manaus e analisar sua insero no mercado de trabalho na
cidade. A chegada dos refugiados haitianos cidade de Manaus teve incio logo aps o
terremoto sofrido no pas em janeiro de 2010. O terremoto atingiu a capital do pas,
Porto Prncipe, e outras duas cidades: Leogane e Jacmel. Segundo dados da ONG
Human Rights Watch, ao todo trs milhes de pessoas foram afetadas pela catstrofe.
Diante deste cenrio, milhares de haitianos saram do pas em direo a outras naes,
em busca de trabalho e renda, bem como de recursos para serem enviados a parentes
que ficaram em seu pas de origem. No Brasil, especialmente em Manaus, capital do
Amazonas, no param de chegar refugiados mesmo que transcorridos trs anos da
ocorrncia do terremoto. Dados da Pastoral dos Migrantes, ligada Igreja Catlica,
relatam que s nos primeiros meses deste ano aproximadamente 650 haitianos
adentraram o Estado do Amazonas. Neste sentido, a pesquisa est em andamento e
baseada na metodologia qualitativa, desenvolvida atravs de um estudo de caso, em que
foram utilizadas entrevistas semiestruturadas. Os dados preliminares da pesquisa
apontam que parcela significativa dos refugiados no conseguiu adentrar o mercado de
trabalho formal da cidade, enquanto que outros esto migrando para trabalhar em
empresas localizadas no Sul do pas.
86
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
O FURACO WALL STREET: impactos da ltima crise capitalista
sobre a economia cubana
SILVA, Newton Ferreira da (UNESP)
newtonferreira@yahoo.com.br
CAPES
Dentre os furaces que causaram grandes avarias e danos economia cubana, pode-se
apontar, provavelmente, aquele que veio de Nova Iorque como o causador de maiores
estragos. No obstante o suposto isolamento de Cuba, observado graas sua economia
planejada, centralizada e autoproclamada socialista, os ventos de Wall Street bateram
forte na nao de Fidel e Ral Castro. Ventos estes que, em conjunto com os tornados
reais, interromperam a espiral de crescimento pela qual passava a ilha, levando-a
novamente a enfrentar antigos fantasmas que, graas ao bom desempenho do produto
interno bruto entre 2005-2007, pareciam ter desaparecido. Muito embora no tenha um
sistema financeiro e bancrio totalmente conectado ao grande cassino financeiro global,
a economia planificada de Cuba no consegue ficar imune s crises conjunturais ou
estruturais do sistema capitalista. Na mais recente, alm de sofrer colateralmente as
perdas sentidas por seus principais parceiros econmicos (Venezuela em primeiro lugar
e China em segundo), Cuba foi penalizada por ainda no conseguir produzir alimentos
domesticamente para o consumo de sua populao e porque, consequentemente, ainda
depende de emprstimos de empresas estrangeiras para fazer frente a essas importaes
e a outros investimentos internos fundamentais.
A DINMICA DO MERCADO IMOBILIRIO DE MANAUS
SILVA, Ricardo Lima da (UFAM)
PEDROSA, Ana Paula Amorim (UFT)
ricardoslovith@gmail.com,
ana.ecosolidaria@gmail.com
CAPES
A cidade de Manaus, desde a implantao da Zona Franca no final de dcada de 1960,
que foi um dos movimentos de economia poltica do governo militar para integrar o
espao amaznico a sociedade nacional, sofreu toda uma srie de transformaes que
afetaram profundamente e mudaram por completo todas as relaes sociais da capital
amazonense. Assim, a cidade foi inserida dentro da produo capitalista global, que
comeava a dominar o mundo logo depois do fim da segunda guerra mundial, sendo
inserida dentro de uma nova forma de solidariedade social. As imigraes para a cidade
se intensificaram e novos atores sociais comearam a surgir no tecido social
amazonense. A estrutura sistmica de Manaus se tornou mais complexa e com isso o
mercado imobilirio comeou a se aquecer, surgindo, principalmente a partir de meados
da dcada de noventa, vrios condomnios fechados que, comearam a tornarem-se mais
numerosos na capital do Amazonas. Neste sentido, o presente trabalho procura mostrar
uma pesquisa que est em andamento, e estuda a dinmica do mercado imobilirio em
Manaus, entre os anos de 2002 e 2012, onde tenta compreender at que ponto este
segmento do setor de servios tem seu desempenho influenciado pela performance de
outro setor da economia, o capitalismo industrial representado na cidade pela Zona
87
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Franca de Manaus, hoje Polo Industrial de Manaus (PIM). At agora, percebemos que
h uma certa influncia do setor industrial sobre o mercado imobilirio.
ROYALTIES DE MINERAO E O FINANCIAMENTO DE
PROBLEMAS SOCIAIS NO MUNICPIO DE PARAUAPEBAS (PA)
SOUZA, Andr Santos de (PDTSA/UFPA)
andrepuma@bol.com.br
Grandes projetos de minerao podem gerar crescimento econmico acelerado nos
municpios onde so instalados e, por outro lado, atrair uma mirade de problemas
sociais. O municpio de Parauapebas, no sudeste do Estado do Par, por exemplo, o
maior arrecadador do pas da Compensao Financeira pela Explorao Mineral
(CFEM), o chamado royalty de minerao, mas enfrenta contradies internas, dada a
m utilizao do recurso. Em 2012, o montante municipal arrecadado totalizou R$
427.086.035,56. Desse total, R$ 283.132.063,03 entraram nos cofres da prefeitura local
como cota-parte dos royalties. No contraponto riqueza terica, as estatsticas oficiais
apontam no municpio elevada concentrao de renda, em que os 20% mais ricos o so
21 vezes em relao aos 20% mais pobres; 37,14% da populao ainda vivem com
renda inferior a meio salrio mnimo e, deles, 14,47% sobrevivem com menos da
metade da metade de um salrio. Na sede urbana, 36,25% das vias no tm
pavimentao e o esgoto corre a cu aberto em 53,51% das ruas. Para acentuar ainda
mais os contrastes entre a gerao de riquezas vultosas e os indicadores sociais pfios,
h a crescente favelizao da cidade de Parauapebas, que j conta com oito aglomerados
subnormais ou favelas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica
(IBGE). Verifica-se que o municpio carece de polticas pblicas voltadas ao social,
com o objetivo de diminuir a concentrao de renda, bem como minimizar e superar
contradies e disparidades acarretadas, sobretudo, pelo seu crescimento econmico,
que financia uma migrao desenfreada e avoluma gargalos infra estruturais e espaciais
histricos e no suplantados.
AS RECENTES REFORMAS ESTRUTURAIS REALIZADAS NO
PROGRAMA DE SEGURO-DESEMPREGO BRASILEIRO
ZAPATA, Sandor Ramiro Darn (UNESP)
sandor.zapata@gmail.com
CAPES
Sem dvida, um dos grandes desafios do Estado democrtico de direitos contemporneo
consiste em reduzir o ndice de desemprego atravs de polticas pblicas eficientes,
baseado em pressupostos de valores e de organizao de eliminao da rigidez formal,
supremacia da vontade popular, preservao da liberdade e preservao da igualdade.
Diante do atual contexto histrico, social e econmico em que se encontram inseridos
os direitos sociais, foram realizadas expressivas reformas estruturais no Programa de
Seguro-Desemprego e nas polticas pbicas de emprego no Brasil, visando,
principalmente, amparar o trabalhador que se encontra em dificuldade de permanecer
empregado, por intermdio de um aprimoramento de sua qualificao profissional. O
presente artigo cientfico tem como objetivo principal tecer algumas consideraes
sobre os aspectos relativos efetividade, o controle, os benefcios, os recursos e o ndice
88
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
de desemprego proveniente das recentes reformas estruturais realizadas no Programa de
Seguro-Desemprego brasileiro. Para isso, a metodologia do trabalho basicamente valeuse do raciocnio dialtico. Por fim, no que tange a estrutura do trabalho, no primeiro
ttulo ser realizada a introduo do artigo cientfico. No segundo ttulo sero abordados
os direitos sociais e a importncia das polticas pblicas de emprego. O terceiro ttulo
ser destinado s polticas pblicas de emprego e o Programa de Seguro-Desemprego
brasileiro. J o quarto ttulo ir efetuar algumas consideraes sobre a Lei n. 12.513,
de 26 de outubro de 2011 e o Decreto n. 7.721, de 16 de abril de 2012. No quinto ttulo
apresentar a concluso do trabalho, e, no sexto e ltimo ttulo, constar a referncia
bibliogrfica.
CAFEICULTORES E IMIGRANTES COMO HOMENS DE
NEGCIOS E/OU EMPREENDEDORES NO INTERIOR DE SO
PAULO: o caso de So Carlos, 1890 1950
ZUCCOLOTTO, Eder Carlos (UNESP)
ederzucco@yahoo.com.br
CAPES
Este trabalho busca refletir sobre a dimenso do imigrante como homem de negcios
e/ou empreendedor, ou ainda agente econmico no interior paulista. Para tanto, tem
como principal aporte terico a viso construda por Florestan Fernandes sobre o
desenvolvimento da revoluo burguesa no Brasil, momento que coincide com a
implantao, auge e decadncia da lavoura cafeeira no oeste paulista (segunda metade
do sculo XIX e primeiras dcadas do sculo XX). O surgimento e desenvolvimento de
um empreendedorismo comercial e industrial no Brasil somente so possveis se
concebermos o termo homem de negcios, que no restrito aos imigrantes; na
verdade, foi primeiro associado por Fernandes aos cafeicultores. Mas, apesar de
contriburem para o desenvolvimento comercial e industrial, estes no constituram uma
regra geral ao grupo de fazendeiros do caf. J entre os imigrantes, muitos acabaram se
destacando e contribuindo para o desenvolvimento econmico dentro de um perfil
empreendedor. Jos de Souza Martins, ao abordar a questo do caf e a gestao do
empresrio, tambm chama a ateno para a questo do que ele classifica como
habilidade empresarial. Martins destaca que, apesar de toda a riqueza dessa temtica,
aos poucos ela foi se perdendo; frisa tambm que um dos poucos que trabalhou essa
linha foi Warren Dean, que juntou duas linhas de interpretao: a da substituio das
importaes e da difuso da habilidade na gesto capitalista do capital. A explanao
pioneira sobre o assunto foi realizada, segundo Martins, por Fernando Henrique
Cardoso, que tece, em seus estudos, consideraes sobre o caf e a indstria, analisa os
fundamentos histricos e sociais, e as determinaes histricas, da conscincia
empresarial relativa industrializao.
89
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
PSTER
GRANDES CONGLOMERADOS E ACUMULAO DE CAPITAL
NA AMAZNIA: o caso Belo Monte
CASSIANO, Andr Vincius da Nbrega (UNESP)
andreh.cassiano@gmail.com
PIBIC/CNPQ
Ao longo da segunda metade do ltimo sculo, com a internacionalizao dos mercados
financeiros e o crescimento progressivo dos principais setores da economia nacional, o
Brasil veio ocupar uma nova, mas ainda subalterna, posio na dinmica internacional
do fluxo de investimentos e diviso do trabalho, elevando suas necessidades produtivas
tambm progressivamente. Assim, o mesmo panorama latino-americano, de
dependncia e servido, agora apresentado de forma aproximada em sua relao
interna de desenvolvimento desigual e combinado entre o polo tecnolgico Sul-Sudeste
e a expanso das atividades de explorao de elementos naturais a desbarato na
Amaznia brasileira. Tal aprofundamento das relaes capitalistas na regio amaznica,
extensivo em alguns pontos e intensivo em outros, caracteriza-se, sobretudo, pelas
grandes faixas de monocultivo agropecurio e obras do ramo da construo pesada,
como projetos infraestruturais, energticos e minerais. Caso recente o incio, em 2012,
das obras do que vir a ser o terceiro maior projeto hidreltrico do mundo, orado
atualmente em cerca de R$29 bilhes: a construo da Usina Hidreltrica Belo Monte,
cuja concesso foi objeto de leilo promovido pela Agncia Nacional de Energia
Eltrica, foi outorgada concessionria Norte Energia S.A.. Para compreender os
fatores relacionados atuao conjunta entre Estado e grandes conglomerados na
Amaznia Legal, e visualizar qual papel lhe cabe na dinmica poltico-econmica do
projeto brasileiro de desenvolvimento, esse trabalho pretende analisar quais so as
metas socioeconmicas e de infraestrutura para a Amaznia brasileira e suas possveis
consequncias a nvel local e afetaes nas demais regies do pas.
REPRESENTAES SOCIAIS SOBRE O PROGRAMA BOLSA
FAMLIA: sobre as dimenses cognitivas dos direitos sociais
FLORES, Mariana Seno (UFSCar)
mariana_seno@yahoo.com.br
FAPESP
O Programa Bolsa Famlia utilizado como um bom exemplo para a reduo da
pobreza e das desigualdades sociais por organismos internacionais de renome como a
ONU e o FMI. J no Brasil criticado pelo seu carter assistencialista. A hiptese que
essa forma de olhar os direitos sociais reflexo de uma representao social vigente na
mentalidade brasileira, que tende a desmoralizar os diretos sociais provenientes do
Estado, tratando-os como favor, assistencialismo. Portanto, existe uma construo
social (mesmo que inconsciente) da desmoralizao do Estado (e da coisa pblica) e
como consequncia, dos direitos sociais oriundos desses. Na coleta de discursos sobre o
Programa Bolsa Famlia (opositores e defensores) e atravs da anlise sociolgica,
compreendemos as representaes sociais que motivam essas anlises sobre o
programa. Discursos de defensores tambm foram considerados, visando compreenso
90
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
do problema de forma global. Compreendemos ento o Programa Bolsa Famlia pela
dimenso cognitiva, ou seja, mapeando as representaes sociais que perpassam os
discursos fundamentalmente da mdia sobre o programa. A hiptese concluda que
cognitivamente existe uma cultura, um habitus de descrena no Estado e nas suas
polticas de incluso social, vistas como assistencialistas. Esse habitus de descrena do
Estado (e da coisa pblica) reforado pela grande imprensa.
INCIO DA CEPAL E SUA INFLUNCIA NO BRASIL COM FOCO
NA AMAZNIA E NO GOVERNO DE FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO (1995-2002)
SIQUEIRA DE CARVALHO, Lucas (FCLAr/UNESP)
lucassiqueiradecarvalho@gmail.com
O objetivo da pesquisa analisar o perodo de liderana de Ral Prebisch na CEPAL, a
fim de entender as consequncias de seus pensamentos para o Brasil e principalmente
para a regio amaznica brasileira. Considerando assim, que a penetrao geogrfica na
Amaznia e a histria da regio formam parte da totalidade do processo de expanso do
capitalismo, em funo da forma, ritmo e volume da acumulao ocorrida nas demais
regies do Brasil. Trazendo a discusso a questo da funo social da empresa e as
diversas facetas do subdesenvolvimento. O Brasil tm em sua posse um territrio com
grande potencial econmico, importncia ecolgica, social e poltico. A mudana de
papel econmico desta rea ao resto do pas e a priorizao para o seu desenvolvimento
deveriam ser o foco das aes do governo a muito tempo. Mas como deveriam ser essas
aes? Quais medidas foram tomadas no passado e como elas afetam o
desenvolvimento da Amaznia hoje? Estaria o suposto desenvolvimento da rea
cumprindo sua funo social de aumentar a qualidade de vida da regio? A pesquisa
sobre as consequncias do pensamento cepalino e da teoria da dependncia na regio
amaznica, propondo uma viso crtica sobre ela e sua concepo desenvolvimentista.
Para isso ser necessrio um estudo sobre as demais regies do pas, pois o
desenvolvimento da regio amaznica est intrinsecamente ligado ao desenvolvimento
das outras regies, dependendo direta ou indiretamente destas. O objetivo trazer a
discusso para termos atuais visando entender e apontar as consequncias dessas
polticas cepalinas para a regio, especialmente no governo de Fernando Henrique
Cardoso.
91
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
GT 3: CONFLITOS SOCIAIS, INSTITUIES E POLTICA
Sesso I: Desafios das Polticas Setoriais Frente aos Conflitos Sociais
Dia 27/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Eduardo Jos Marandola Jr.(UNICAMP)
AS POLTICAS SOCIAIS E OS DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL E
NA AMRICA LATINA: conflitos e perspectivas
CORDEIRO, Tiago Gomes (PUC/SP)
tg.cordeiro@uol.com.br
CAPES/PROEX
O presente artigo fruto de reflexes inicialmente realizadas durante a pesquisa de
dissertao de Mestrado (defendida no 2/2011), dando continuidade ao ingresso no
Doutorado pelo Programa de Estudos Ps-Graduados em Servio Social da PUC/SP no
1/2013. Nesse sentido, se prope o aprofundamento da pesquisa acerca da proteo
social especial no municpio de So Paulo, principalmente a partir dos Centros de
Referncia Especializados de Assistncia Social (Creas). Somada a essas reflexes,
encontra-se as indagaes levantadas enquanto docente do curso de Servio Social
ministrando a disciplina Gesto do Suas na relao professor-aluno e a partir da
nossa apresentao no III Encuentro Estado y Polticas Sociales Desafos y oportunidades
para el Trabajo Social latinoamericano y caribeo da Federao Internacional de
Trabalhadores Sociais, ocorrido na cidade de Montevideo/Uruguai, entre os dias 30 e 31 de
maio e 1 de junho do corrente ano. O encontro possibilitou, entre outros, dialogar com outros
assistentes sociais, pesquisadores e professores sobre os desafios que as polticas sociais e os
direitos sociais vm passando na Amrica Latina. Outrossim, temos como objetivo com o
referido artigo, num primeiro momento, publicizar parte de nossa pesquisa,
principalmente, atravs de uma abordagem histrico-conceitual acerca da construo
das polticas sociais e dos direitos sociais no Brasil, enfatizando a poltica de assistncia
social. Em seguida, propomos um breve debate acerca dos conflitos e perspectivas das
polticas e dos direitos sociais para os pases da Amrica Latina, destacando, entre
outros, Argentina, Chile e Uruguai. Por fim, realizamos uma breve considerao final,
apontando os principais pontos da reflexo proposta, bem como, desafios a serem
superados.
92
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
POLTICAS PBLICAS DE TURISMO E A CRIAO DE
ESPAOS DE SUJEIO E RESISTNCIA estudo de caso sobre a
favela Santa Marta - RJ
DAMAS, Helton Luiz Gonalves (UFSCar)
helton006@yahoo.com.br
O presente estudo tem o intuito de analisar como as polticas pblicas desenvolvidas
com o interesse de desenvolver o turismo na Favela Santa Marta-RJ impactam nas
relaes entre moradores e turistas. Em 2010, o Ministrio do Turismo em parceria com
o governo do Rio de Janeiro lanou o programa Rio Top Tour, que tem como foco o
desenvolvimento socioeconmico da favela por meio da atividade turstica. Dentre as
principais destinaes do turismo de favela, tem-se como destaque a Favela Santa
Marta, comunidade localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, que com implantao da
polcia pacificadora em 2009, recebe cada vez mais turistas do mundo todo. Entretanto,
observa-se focos de resistncia oriundos dos prprios moradores, que colocaram uma
placa com os dizeres Proibido tirar foto na entrada do morro, alegando a falta de
privacidade que a visita dos turistas acarreta a eles, evidenciando de forma ntida a
discordncia em relao ao fomento dessa tipologia de turismo. A rede de turismo
formada pelo Ministrio do Turismo, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura
do Rio de Janeiro, Agncias de Turismo e os prprios moradores, tentam produzir uma
verdade, a de que o turismo traz desenvolvimento para a favela. Como metodologia,
refere-se a um estudo qualitativo baseado na pesquisa bibliogrfica, com obteno de
dados complementares por meio de visitas tcnicas e entrevistas semiestruturadas.
Como resultado, percebe-se que o desenvolvimento do turismo comea a sofrer
resistncias na Favela Santa Marta.
A HABITAO POPULAR NO INCIO DO SCULO XXI: a
construo de uma iluso
DUMONT, Tiago Vieira Rodrigues (UNESP)
tiagodumont@gmail.com
Esta pesquisa tem por objetivo evidenciar as limitaes da recente expanso urbana
brasileira e, mais especificamente, a poltica habitacional para a populao de baixa
renda, focada no Programa Minha Casa, Minha Vida. Entende-se que este Programa
objetiva democratizar o acesso moradia para as populaes excludas do mercado
imobilirio, resultando num direito a cidade. Com esta pesquisa buscar-se-
compreender, atravs de um estudo de caso, no municpio de Marlia, as consequncias
sociais e urbansticas, tais como a segregao scio espacial, os efeitos no oramento
domstico e a variao dos preos no mercado imobilirio. Tem-se como parmetro
para alcanar estes objetivos as seguintes questes: Que interesses perpassam nas aes
(do Estado e do mercado imobilirio) na disputa pelo espao da cidade? Quais projetos
esses diferentes segmentos sociais apresentam para os desafios da urbanizao e da
habitao, to comum nas cidades brasileiras durante o sculo XX? De como, no espao
urbano de Marlia, o processo espoliativo tem gerado processos excludentes? Que tipo
de particularidade as populaes excludas reivindicam? Esta particularidade
portadora de elementos para mudanas uma nova sociedade? Est, assim, concebido o
direito cidade? Como resultado final espera-se dimensionar atravs das respostas
93
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
sugeridas, por estas questes, o que aqui denomina-se por consequncias sociais e
urbansticas que a recente Poltica habitacional tem gerado no municpio de Marlia,
assim como, no Brasil.
O COMBATE POBREZA EM PARCERIA
COM O PNUD: projetos desenvolvidos no Brasil
GALVANIN NETO, Tito (UEL)
titogalvanin@yahoo.com.br
O objetivo deste trabalho foi analisar quais os procedimentos inovadores, especficos e a
natureza poltica, econmica e social dos projetos de combate pobreza estabelecidos
entre a parceria do governo brasileiro com o Programa das Naes Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Logo, este trabalho perpassou anos significativos da poltica
brasileira com vistas a analisar o modelo de interveno do Estado quando em parceria
com organismos internacionais e, sobretudo, quando atende s propostas das Naes
Unidas no enfrentamento da misria no pas. Examinou-se, ento, o modelo de
cooperao internacional estabelecido entre o Ministrio das Relaes Exteriores
(MRE) e a Organizao das Naes Unidas (ONU) para promoverem o
desenvolvimento humano, em especial, a meta de nmero um dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milnio (ODM) que a Erradicao da Misria. Para tanto, a
pesquisa lanou-se no estudo documental, utilizando-se da hermenutica em
profundidade e suas fases metodolgicas, atrelada aos eixos analticos levantados pelo
problema sociolgico deste estudo. Este trabalho pretende contribuir para futuros
estudos que possam refletir sobre os projetos de combate pobreza no Brasil, em
especfico, aqueles que se orientam em analisar quais prticas para o alvio da pobreza
tm sido sugeridas pelo PNUD. Ademais, o trabalho auxilia a entender como essas
prticas se inscrevem no mbito das polticas pblicas nacionais. Conclui-se que entre
rupturas e continuidades, o quadro poltico brasileiro traz caractersticas singulares aos
programas para a reduo da pobreza desde a dcada de 1930 e que permanecem
vvidos nos projetos propostos para o sculo XXI.
ANALISANDO FENMENOS SOCIAIS: interpretao sociolgica de
movimentos de contracultura atravs do RAP brasileiro, frente ao
sistema constitucional e coercitivo estatal
HENNING, Ana Clara Correa
FAGUNDES, Mari Cristina de Freitas
kakaia_henning@yahoo.com.br; maricris.ff@hotmail.com
CAPES
Ao lanar o olhar realidade hoje vivenciada em nossa sociedade, possvel perceber a
existncia de diversas diretrizes lanadas pelo Estado a fim de procurar deter a
criminalidade; novos mecanismos que suportem o encarceramento; dispositivos legais
que saciem a sociedade quanto ao desejo de segurana imediata. Em outra esteira,
atravs de um olhar crtico, nota-se a multiplicao de dispositivos legais coercitivos e a
afastabilidade das normas penais e processuais penais quantos aos princpios bsicos
que regem o ordenamento jurdico, bem como a tentativa de neutralidade quanto a
realidade vivenciada por parcela da sociedade que sofre com a criminalidade perpetrada
94
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
por outro agente social que no apenas o denominado marginal: a exercida pelo prprio
Estado na tentativa de conter a violncia. Partindo dessa anlise, com referencial terico
voltado Sociologia e Criminologia crtica, pretende-se apontar a necessidade de
lanar mo de outras formas culturais capazes de abordar as diversas realidades frente
ao sistema coercitivo estatal. Evidencia-se, com isso, a necessidade de novos repertrios
e instrumentos de interpretao mais eficazes na tentativa de aproximar o olhar das
instituies jurdicas da realidade concreta de certas comunidades. Para efetivar o que
aqui se prope, elegeu-se msicas contestatrias de Rap como forma de manifestao de
contracultura, bebendo da realidade emprica de atores que apontam uma apartao
dependendo da classe social, cor, sexo e estilo de vida. Nessa perspectiva, partiu-se da
ideia de que o Direito no se trata de uma cincia fechada, tampouco totalizante, mas
aberta, necessitando compartilhar de outros campos do saber. Alis, necessita estar em
sintonia constante com outras cincias, contemplando a pesquisa emprica a fim de
compreender diferentes habitus.
A QUESTO SOCIAL DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
MATOS, sis Oliveira Bastos (UFPel)
isisobastos@gmail.com
As reformas de Estado na Amrica Latina direcionaram os Estados Nacionais para um
modelo gerencial de governo que buscou criar espaos partilhados de responsabilizao,
deciso e execuo das aes governamentais com a sociedade civil e o setor privado.
Ao que diz respeito s democracias formais, no decorrer das ltimas dcadas, um
intenso processo de participao poltica vinculou-se a um processo de experimentaes
polticas que por muitas vezes constitudo de maneira segmentada entre as esferas
sociais, sendo o Estado (primeiro setor), o mercado (segundo setor) e a sociedade
civil (terceiro setor). Esse recorte reduz o social apenas sociedade civil, o mbito
poltico ao Estado e o econmico ao mercado. Neste contexto, o surgimento de
perspectivas que analisam o Estado de forma negativa e glorificam a sociedade civil,
que neste contexto sinnimo de terceiro setor merecem destaque e estudo. O
objetivo desse texto indagar sobre a constituio de uma imagem de protagonismo
individual e/ou corporativista pela conquista de direitos como sinnimo de cidadania.
PROGRAMA VILA VIVA-BH DE URBANIZAO FAVELAS: relaes de
poder, significao e ressignificao do espao
MOTTA, Luana Dias
luanadmotta@yahoo.com.br
CAPES
O Programa Vila Viva, da Prefeitura de Belo Horizonte, tem o objetivo de promover
profundas transformaes urbanas em vilas e favelas. As intervenes ocorridas no
mbito desse Programa implicam rupturas nas referncias dos moradores do local,
sendo um de seus principais impactos a remoo de famlias. Na tentativa de
compreender como foi esse processo, entrevistei famlias removidas de suas casas e
reassentadas em apartamentos. Nos relatos desses moradores o tema do sofrimento foi
recorrente e era associado ao fato de terem deixado suas casas e s mudanas colocadas
pelo novo espao de moradia. Alm da recorrncia do tema do sofrimento, os relatos
95
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
revelaram como o Programa opera em uma lgica que pretende promover uma mudana
na postura e nos hbitos dos moradores por meio da transformao do espao e da
desqualificao do modo de morar antigo e do apego ao quintal, ao jardim, horta.
Entretanto, apesar dessa pretenso de conduzir condutas, ao serem reassentados nos
apartamentos, os moradores se apropriam desse espao de formas no previstas, criando
animais e plantas, instalando varais externos. Tais prticas indicam relaes de poder
que perpassam as formas de pensar e estar na cidade e sinalizam para um deslocamento
com relao ao que foi planejado. Ou seja, em suas prticas cotidianas nessa nova
moradia, os moradores fazem com que esse espao no seja simplesmente a
materializao da modulao das condutas, mas tambm possibilidade do imprevisto, da
novidade.
CONFLITO ENTRE ONGs EM FELIPE CAMARO: estes pobres
so meus, vai procurar os teus!
PAIVA, Larissa Nunes (UFRN)
larissa.nunnes@hotmail.com
CAPES
Contemporaneamente verifica-se que a relao entre Estado e sociedade vem sendo
modificada pelos padres do neoliberalismo que disseminam a ideologia da
responsabilidade social. Assim, marcadamente no Brasil nos anos de 1990, cresce o
nmero de Organizaes No Governamentais. Elas atuam nas questes sociais e
passam a interferir nos servios antes desempenhados pelo Estado. Com este trabalho
pretende-se compreender como o Terceiro Setor vem influenciando a populao do
Bairro de Felipe Camaro, Natal/RN. Busca-se examinar e tentar explicar as motivaes
que levam ao conflito entre as duas principais ONGs que atuam no local na competio
pelo pblico alvo.
PROJETOS SOCIAIS: limites e possibilidades redistributivas de
capital social
QUEIROZ, Jos Fernando (Unifesp/NEPAM UNICAMP)
CAPES
Quando o termo ONG mencionado, ideias como a liberalizao do Estado e suas
consequncias carregam com frequncia a noo de que estas Associaes Civis esto
ocupando funes estatais. De fato, pesquisas j comprovaram que ONGs assumiram
papis importantes no fornecimento de servios pblicos. Entretanto, esta constatao
no explica os efeitos que a articulao entre ONGs e Associaes de moradores trazem
em termos de uma possvel redistribuio de capital social, e de alteraes do habitus
dos moradores que participaram de projetos sociais. At o momento, os dados coletados
indicam que as articulaes entre Associaes Civis (basicamente Associaes de
Moradores e ONGs) podem contribuir para a redistribuio ou para o compartilhamento
do capital social que os representantes dessas Associaes possuem. Alm disso,
apontam para uma possvel modificao do habitus como uma das consequncias dos
projetos sociais realizados por uma rede de parcerias entre Associaes Civis. Visto que
estas hipteses possuem como eixo norteador as problemticas ambientais, iniciamos
uma pesquisa de campo na regio norte da cidade de Ubatuba, por essa possuir um
96
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
histrico de parcerias e conflitos envolvendo diferentes agentes em torno de questes
socioambientais, tais como o uso sustentvel de recursos e a permanncia de populaes
tradicionais no interior de uma reserva como a do Parque Estadual da Serra do Mar.
Como orientao analtica utilizamos os conceitos de capital social e de habitus de
Pierre Bourdieu, que, somados ao uso de sociogramas e da tcnica snowball, permitemnos compreender a dinmica das parcerias entre os agentes e a circulao de capital
social concomitante e, para entender a mudana dos valores e prticas, usaremos
tambm a noo weberiana de racionalidade.
CONFLITOS SOCIAIS E PODER PATRIMONIAL NA
FORMAO DA ESTRUTURA FUNDIRIA EM SO CARLOS-SP
DURANTE A SEGUNDA METADE DO SCULO XIX
SILVA, Joo Paulo (UFSCar)
jps.historia@gmail.com
O presente trabalho tem por objetivo identificar e analisar, atravs dos conflitos pela
posse de terras, a estrutura da rede local de poder em So Carlos-SP resultante do
processo de concentrao fundiria ao longo da segunda metade do sculo XIX, mais
precisamente no perodo ps-lei de terras de 1850, utilizando como fonte de
documentao primordial processos cveis registrados no municpio durante o perodo
delimitado. Pretende-se verificar assim, o processo de dominao e expropriao que
pequenos proprietrios sofreram. No pode se perder de vista, entretanto, que esses
primeiros pequenos proprietrios que aparecem nos processos muitas vezes
expropriaram aqueles que detinham a posse ancestral da terra: os nativos. Nesse sentido
h, portanto, um duplo processo de violncia. Em primeiro lugar, contra os nativos e,
em seguida, contra os pequenos proprietrios. Ento, pode-se afirmar que os brasileiros
foram colonizados e colonizadores, ao mesmo tempo, no interior de um mesmo
processo histrico. constituda, ento, uma construo de uma rede de poder, atravs
tambm da dominao patrimonial que se sedimenta na expropriao violenta de
muitos. Expropriao est sempre naturalizada como essencial para o avano da
modernidade no pas. Do mesmo modo que esse ideal de modernidade justificou a
violncia contra a populao indgena, atrasada, brbara e bestial, seu avano tambm
perpassa as relaes entre grandes latifundirios - detentores da posse de grandes
capitais - e homens livres e, por vezes pobres, que se tornaram posseiros. Em ambos os
casos, h uma relao violenta entre avano e atraso no seio do desenvolvimento
econmico. E a subjugao naturalizada pela capacidade dos grandes proprietrios
de propiciar um maior desenvolvimento s regies.
A ATUAO DAS ELITES LOCAIS E A SEGREGAO
SOCIOESPACIAL NA CIDADE DE UBERLNDIA-MG
SILVA, Leandro Oliveira (UFU)
EVANGELISTA, Cleiber Wesley (UFU)
silva-lo@hotmail.com, gleiber3000@yahoo.com.br
A cidade de Uberlndia, localizada na microrregio do Tringulo Mineiro, em Minas
Gerais, adquiriu ao longo de seu processo de desenvolvimento uma posio de destaque
97
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
na regio, polarizando fluxos, o que culminou tambm num processo de expanso e
intensificao da ocupao do solo urbano. Nota-se, no entanto, a forte presena de
alguns agentes econmicos na definio das reas a serem ocupadas, bem como,
classe a que essas reas se destinam. Disso resultou o espraiamento da cidade, aliado
formao de vazios urbanos e consequente expulso das populaes de baixa renda
para as reas mais afastadas da periferia. Outra consequncia foi o aumento do valor dos
imveis devido especulao imobiliria, culminando em ocupaes irregulares, por
parte dos segregados. Diante deste quadro, o presente trabalho tem por objetivo
apresentar como a atuao das elites locais contribuiu para que a segregao
socioespacial se materializasse na cidade de Uberlndia e qual o atual cenrio deste
processo. Desta forma, o trabalho ficou divido em trs partes, quais sejam: 1 A
questo fundiria urbana no Brasil; 2 Uberlndia: o progresso e suas consequncias;
e, por fim, 3 Sculo XXI: panorama e perspectivas.
IDOSOS NOS DESASTRES: uma anlise das dimenses envolvidas no
contexto paraibano
VIANA, Aline Silveira (USP)
SARTORI, Juliana (USP)
aline_geronto@hotmail.com, sartoriju@gmail.com
CAPES
Os desastres relacionados gua so recorrentes no Brasil, deflagrando uma crise no
corpo social. Dentre os grupos afetados, os idosos correspondem a parcela da sociedade
que recorrentemente sofrem com os desastres, tornando-os ainda mais fragilizados. O
Estado da Paraba est entre os dez mais afetados por desastres no pas, sendo 74,5%
dos decretos relacionados s estiagens e 23,5% s enchentes. O presente trabalho
analisar as dimenses de afetao dos idosos no Estado da Paraba, especificamente
nos municpios de Barra de Santana, Santarm e Manara, pois correspondem aos
municpios com maior nmero de decretos federais, no perodo de janeiro de 2006 a
abril de 2012. Trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, utilizando-se a
reviso bibliogrfica e pesquisa documental. No que concerne pesquisa bibliogrfica,
sero sistematizados e analisados a reviso nos temas de desastres, idosos e processo de
vulnerabilizao. Na pesquisa documental sero analisadas as Portarias de
Reconhecimentos de Situao de Emergncia e Estado de Calamidade Pblica, o
documento de Avaliao de Danos e legislaes em vigncia, como a Poltica Nacional
de Proteo e Defesa Civil, Estatuto do Idoso, entre outros. Dentre os principais
resultados da sistematizao quantitativa, podemos destacar que houve 89.506 afetados
no perodo citado, sendo que 9,7% eram idosos. Dos desabrigados (n=200), 22,5% so
idosos, e dos desalojados (n=255), 13,7%. Estes municpios apresentam recorrncia das
decretaes de SE e ECP, especialmente, h grande incidncia na zona rural, que no
possuem saneamento adequado e sofrem recorrentemente com as secas, com o descaso
poltico, com a negao de direitos e com as perdas agrcolas que mantm o sustento
familiar.
98
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS EM INVASES
IRREGULARES E AS POLTICAS PBLICAS COMO RECURSO
A ESSA SUBVERSO
WAGNER, Bruna Kucharski
bruna.kwagner@gmail.com
A urbanizao indevida est presente quase em totalidade nas cidades brasileiras e, todo
esse processo irregular lembrana de uma invaso desenfreada aos espaos urbanos
nos ltimos anos. Esse processo migratrio incoerente com as condies humanas
fruto do imenso nmero de pessoas que desde os anos 50 passaram a assumir o xodo
rural como meio de sobrevivncia em melhores condies vitais. O povo incidiu em
uma inovao na forma de vida e passou a abandonar o campo buscando diferentes
meios de sustentabilidade em locais que apresentavam maiores estruturas e promessas
de desenvolvimento econmico. Porm, todo esse novo intuito populacional que visava
sociedade urbana refletiu em cidades despreparadas e com grandes contrastes sociais.
A cidade urbana atual marca justamente essa formao indevida dos espaos brasileiros,
em que se desfez de modelos de organizao e gesto urbana planejada e passou a se
construir municpios sem infraestrutura e com indisponibilidade de servios urbanos
capazes de comportar o crescimento provocado pelo contingente populacional que
migrou para a urbanidade. Assim, almeja-se analisar essas invases incoerentes, que se
desfizeram de qualquer forma de planejamento e transgrediram para espaos municipais
gerando consequncias negativas e precariedade nos centros urbanos. Para tal estudo
teremos como parmetro a apreciao emprica realidade na cidade de Rio Grande, do
Estado do Rio Grande do Sul, que est em pleno desenvolvimento econmico e ser
fonte de julgamento para comprovao da subverso existente entre a proteo ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado e a urbanizao repentina, uma vez que, nos
ltimos cinco anos a cidade de Rio Grande em funo de sua valorizao econmica
teve sua sociedade invadida por um nmero excessivo de pessoas em um processo
migratrio indevido e extremamente despreparado, traduzindo-se em caos urbano. O
aumento populacional induz a procura por espaos para habitao e excede ao extremo
a busca por trabalho e, por consequncia, o crescimento econmico no consegue
abarcar toda essa mo-de-obra gerando desordens sociais e um cenrio em que classes
menos privilegiadas so impelidas para locais que no comportam as necessidades das
famlias, com servios despreparados e infraestrutura irregular. O cenrio de desordem
e, atravs de efetiva anlise se abordar os impactos socioambientais decorrentes das
ocupaes irregulares, dando proeminncia aos principais conflitos gerados por essa
urbanizao indevida e idealizando a formao de um meio ambiente desejvel com a
necessidade de polticas pblicas efetivas.
99
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
PSTER
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NO BRASIL: O CASO DA UHE
BELO MONTE
ALCOCER, Laura Marcondes Ferraz (UFSCar)
lali_mfa@hotmail.com
O trabalho apontou os impactos socioambientais decorrentes da construo da Usina
Hidroeltrica Belo Monte, localizada no estado do Par/ Brasil e exps o
posicionamento de distintos atores polticos e sociais envolvidos nos conflitos
socioambientais decorrentes da concepo, viabilizao e implementao deste projeto.
Em sntese, expusemos o surgimento do projeto da UHE Belo Monte nos anos 70,
perodo imerso na ditadura militar; com o avance neoliberal que ocorreu no final dos
anos 80, continuaram as tentativas de implantao de Belo Monte e acirraram-se os
conflitos socioambientais territoriais1 entre Estado e grupos sociais afetados pela
construo da barragem, sendo emblematicamente representados pelo cacique Raoni.
Analisamos a retomada do projeto de Belo Monte pelo governo Lula em 2007 atravs
do PAC (Projeto de Acelerao do Crescimento), e sua continuidade no governo Dilma,
at o ano de 2012. Dimensionaram-se os conflitos socioambientais da UHE Belo Monte
causados pelo atual projeto, devido especificidade ambiental e cultural da regio do
rio Xingu, atravs da contraposio do Painel de Especialistas (2009) ao EIA/Rima;
artigo do Ministrio de Minas e Energia do Brasil sobre Belo Monte; entrevista com o
especialista e professor Clio Bermann; anlise de depoimentos de ativistas de ONGs,
militantes de movimentos sociais, populaes locais afetadas (ribeirinhos, pescadores,
agricultores, indgenas) contidos no documentrio Belo Monte: Anncio de uma
guerra, alm de outras bibliografias.
Sesso II: A produo Sociopolticas de Novos Sujeitos entre Tenses e
Mobilidades Transescalares
Dia 28/08/13 s 14h
Debatedora: Prof. Dr. Norma Felicidade Valncio (UFSCar)
QUANDO O DESLOCAMENTO SE TORNA UM VALOR:
cosmopolitismo como projeto nos intercmbios acadmicos
AZEVEDO, Leonardo Francisco de (UFJF)
leonardof.azevedo@yahoo.com.br
CAPES
A intensificao do fenmeno da globalizao, aliado ao desenvolvimento e
massificao dos meios de transporte e comunicao, permitiu um aumento exponencial
na quantidade de pessoas em deslocamento. O que antes era algo restrito a uma pequena
elite hoje possvel entre diferentes atores e segmentos sociais. Entretanto, por mais
descentralizada e capilarizada que esteja esta prtica, ela ainda se constitui como
elemento diferenciador e distintivo, sendo o cosmopolitismo um projeto de vida
desenhado e desejado por muitos. O presente trabalho pretende investigar quo
100
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
valorativo , para estes diferentes atores, o ato de se deslocar. Para tal, ser utilizado
como objeto de anlise os intercmbios acadmicos. Fenmeno cada vez mais comum
nas universidades brasileiras, a necessidade de se deslocar, nas diferentes etapas de
formao, para complementar os estudos, algo cada vez mais presente. Pretende-se
compreender como, atravs dos intercmbios acadmicos, possvel visualizar o
cosmopolitismo como um projeto, pessoal e distintivo projeto aqui entendido, nos
termos de Gilberto Velho, como a ao dos atores a partir de avaliaes e definies da
realidade. Como mtodo ser utilizado reviso bibliogrfica, analisando o que se tem
dito sobre o cosmopolitismo e como este conceito se relaciona com as recentes
produes acerca dos intercmbios acadmicos. Considerando que tais deslocamentos
no so isentos de regras e valores, bem como seus fluxos possuem caminhos prdeterminados, acredita-se que, ao investiga-los como um fenmeno valorativo e
distintivo, possvel contribuir com a teoria sociolgica recente, relacionando as
reflexes em torno dos deslocamentos espaciais com a ao e inteno dos atores
sociais agindo em contextos especficos.
A ALIANA DOS PEQUENOS ESTADO INSULARES (AOSIS) E O
FUNDAMENTO REIVINDICATIVO CLIMTICO POLTICO
BRAGA, Patrcia Benedita Aparecida (UEMS)
bragapba@gmail.com
Insatisfeitos com a inexpresso poltica decisria nas rodadas de negociao do clima,
os pases insulares localizados no Pacfico, principalmente ao sul, criaram na Segunda
Conferncia Mundial do Clima, em 1990, a AOSIS. A Aliana declara-se como uma
coligao de pases formados por pequenas ilhas de baixa latitude, cujo desafio o
desenvolvimento e o meio ambiente, sobretudo o que refere s vulnerabilidades
enfrentadas, por estes Estados insulares, devido os fenmenos advindos da mudana
climtica global. A reivindicao direcionada aos diversos pases que formam a
Sociedade Internacional, especialmente aos pases desenvolvidos (PDs). De acordo com
a coligao, o no comprometimento dos Estados em relao reduo de emisso de
gases de efeito estufa, assim como a no facticidade de polticas de mitigao e
adaptao, aceleram os fenmenos climticos e os encargos relacionados a isto, alm de
desrespeitar os princpios polticos, dentre eles, a soberania dos Estados e
consequentemente a cidadania. Neste sentido, a fim de compreender a fundamentao
reivindicativa da AOSIS, o presente trabalho busca analisar e interpretar a Declaration
on Climate Change (Declarao da Mudana Climtica) emitida pela Aliana, em 21 de
setembro de 2009, em Nova York, na sede das Naes Unidas, em uma das rodadas de
negociao do clima que precederam a COP15 (Conferncia das Partes), realizada em
Copenhague, na Dinamarca, em dezembro do mesmo ano.
101
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
DESENVOLVIMENTO E PODER LOCAL: anlise dos processos de
descentralizao do Brasil e da Argentina sob a perspectiva do
Mercosul
BRITO, Srgio Roberto Urbaneja (UNESP)
sergiourbaneja@gmail.com
CAPES
Esta proposta tem como objetivo principal analisar a relao que se estabelece entre o
tema da descentralizao e as questes envolvendo a internacionalizao dos
municpios, no mbito do Mercosul. Adotar-se- como objeto para tal estudo os
processos de descentralizao ocorridos ao longo das ltimas dcadas na perspectiva
desse processo de integrao, particularmente aqueles vistos no Brasil e na Argentina. A
hiptese central deste trabalho ser a de que, apesar do lugar marginal ocupado pelo
poder local no mbito da Teoria do Estado na modernidade, muitas vezes tido como
excludo de relevncia em relao prioridade da questo nacional, ou mesmo
supranacional, ao se levar em conta os processos de integrao regional, o poder local
vem sofrendo um resgate enquanto instncia poltica, e, desde que os influxos desse fato
sejam pautados por meios adequados, eles podem auxiliar nos processos de
desenvolvimento; a outra hiptese, ligada primeira, a de que a descentralizao vem
proporcionando ao poder local novas formas de insero nos espaos polticos,
inclusive os internacionais, como os experimentados no mbito desse bloco, o que torna
possvel a elaborao de polticas pblicas em nveis mais amplos e diversificados.
Assim, alm da anlise dessas relaes entre descentralizao e poder local, a fim de
demonstrar as hipteses, ser abordada a questo de sua insero internacional.
CONFLITOS SOCIAIS NA LUTA PELA TERRA NO BRASIL: uma anlise sob
a perspectiva do pluralismo jurdico comunitrio participativo
DUTRA, Dbora Vogel da Silveira (UFSC)
deboravogeldutra@yahoo.com.br
A presente pesquisa tem como foco central discutir atravs da teoria do pluralismo
jurdico comunitrio participativo, os nuances que envolvem os conflitos sociais na luta
pela terra no Brasil na atualidade. de amplo conhecimento da sociedade que a atual
estrutura fundiria no Pas est longe de atender as demandas existentes e permitir que
cada cidado brasileiro consiga adquirir e manter seu pequeno pedao de terra, seja para
nele trabalhar e morar ou somente para morar. Somada toda a concentrao histrica
de terra e capital que delineia o Brasil, as implicaes econmicas tambm tem
contribudo sobremaneira para que uma grande parcela da populao no consiga ter
acesso direto s formas mais elementares de subsistncia e de progresso social no Pas.
nesse contexto de excluso capitalista que os conflitos sociais tem emergido,
ocasionando momentos de tenso profunda e sendo marcados pelo sangue de muitos
trabalhadores rurais que reivindicam melhores condies de trabalho e uma reforma
agrria digna que atinja a todos. No campo da Teoria e Filosofia da Histria do Direito,
mais especificamente em uma viso crtica do Direito, a teoria do Pluralismo Jurdico
vem corroborar com a perspectiva social de que os movimentos sociais organizados,
como o caso do MST, constituem uma rica fonte de produo normativa, a partir de
102
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
suas experincias de vida e do desenvolvimento interno do grupo que trabalha em prol
de uma coletividade.
TRANSFORMAES AMBIENTAIS E CONHECIMENTOS
TRADICIONAIS: uma comunidade jusante da Barragem de Tucuru
GUIMARES, Mariana T. (UFPA)
MAGALHES, Snia Barbosa (UFPA)
marianaguimar@gmail.com, smag@ufpa.br
CNPQ
Com o barramento do Rio Tocantins, ocorrido em 1984, verificou-se intensa
transformao socioambiental e h poucos estudos sobre os efeitos desta transformao
para as comunidades tradicionais que permaneceram s margens do rio, aps a alterao
da vazo. Considerando que este acontecimento modifica no apenas o ambiente, mas
igualmente as relaes que com ele as comunidades mantm, pretendeu-se estudar como
estas transformaes incidem sobre o ordenamento do conhecimento utilizado para a
efetivao das prticas sociais e econmicas, sobretudo a pesca. Teoricamente, partimos
dos aportes de LITTLE (2006) a respeito da cosmografia territorial; de INGOLD (2010)
sobre a educao da ateno no processo de transmisso do conhecimento; e de HUNN
(1999) acerca da construo do conhecimento como consequncia da produo
baseada na subsistncia e da relevncia cotidiana (do conhecimento)" para a
reproduo familiar. Este trabalho produto de pesquisa de campo realizada nos meses
de dezembro de 2012 e janeiro de 2013 na comunidade localizada na Ilha Tauar, no
municpio de Mocajuba-PA, a jusante da barragem de Tucuru, no mbito de Curso de
Ps-Graduao lato sensu realizado na Universidade Federal do Par. Pode ser
observado que o deslocamento do esforo produtivo do rio para a mata e a introduo
de novas prticas de pesca tm provocado um reordenamento do uso do conhecimento
local, e de certa forma, a eroso iminente de saberes, como os casos das tcnicas de
tapagem de igarap com o uso de paredes (par); e da gapuiagem, pouco utilizada e
em total desuso, respectivamente, pelos pescadores. Do mesmo modo, o conhecimento
sobre determinadas espcies de peixes e certas caractersticas ambientais extintas no
tm lugar nas experincias da nova gerao.
O NEOLIBERALISMO NO BRASIL E NO CHILE: uma anlise
sobre os modelos de insero desta ideologia na Amrica Latina
RODRIGUS, Leonardo Henrique Gomes (UNESP)
leohgr@yahoo.com.br
O ideal do neoliberalismo a promoo do bem-estar humano, atravs de prticas
econmicas e polticas que consistem, basicamente, em restringir o papel do Estado
frente liberdade do indivduo e do mercado. Desde a dcada de 1970, v-se o
desenvolvimento do pensamento liberal atravs das desregulaes, privatizaes e
abandono do Estado das reas que tinha monoplio. Este trabalho tem como objetivo
analisar a maneira pela qual os ideais neoliberais foram inseridos no contexto latinoamericano, principalmente no Brasil e no Chile, dissertando sobre os mecanismos
utilizados em ambos os pases a fim de legitimar o desmonte do Estado e a abertura
econmica que atendia aos preceitos do Consenso de Washington. No Brasil, pode-se
103
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
verificar que a insero do neoliberalismo deu-se tardiamente, apenas em meados da
dcada de 1990, atravs de reformas constitucionais que cirurgicamente eliminaram os
monoplios do Estado, permitindo o avano da desregulamentao e das privatizaes.
Tais reformas iniciam-se no governo Collor, porm com Fernando Henrique que se
tornaram as principais pautas polticas do governo. J no Chile, o modelo neoliberal foi
implementado, autoritariamente, pelo governo de Pinochet na dcada de 1970, baseado
na tecnocracia e ortodoxia dos economistas conhecidos como Chicago boys,
reestruturando o Estado e a economia chilena, segundo os moldes neoliberais. Desta
forma, este trabalho ir analisar estes processos aparentemente divergentes, j que no
Brasil, o desmonte do Estado ocorrem atravs de um processo legalmente estabelecido
na Constituio, as emendas constitucionais, enquanto no Chile, o processo se d por
meio de uma ditadura militar, a fim de estabelecer uma anlise mais profunda sobre os
modos de insero do neoliberalismo na Amrica Latina.
A SOCIOLOGIA DO CONFLITO E A SOCIOLOGIA DO
CONSENSO ENQUANTO MEIOS PARA ANALISAR OS
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
ROSA, Rafaela Euges (UFPel)
rafaegues@hotmail.com
CAPES
Dentro da problemtica ambiental emerge a concepo de conflitos socioambientais,
atualmente muito difundida em diversas reas cientficas. Os conflitos socioambientais
designam as relaes de disputa em torno de determinados recursos e nestas podem
estar envolvidos indivduos, grupos, organizaes e coletividades. Alm de atores em
oposio, os conflitos caracterizam-se por serem fenmenos sujeitos mediao. Por
um lado h quem considere os conflitos necessrios para a ocorrncia de mudanas e at
mesmo intrnsecos a vida social. Essa perspectiva compartilhada por tericos como
Karl Marx e Alain Touraine. De outro lado temos um grupo de tericos que considera a
sociedade em normalidade como caracterizada por um estado de equilbrio e harmonia.
Nesse grupo encontram-se cientistas como mile Durkheim e Talcott Parsons e para
estes os conflitos so sinnimo de perturbao e caos. O presente trabalho tem como
objetivo analisar o conflito socioambiental no interior desses dois paradigmas
sociolgicos antagnicos: o consensual e o conflitual e, alm de destacar as
divergncias presentes nestas abordagens, encontrar as semelhanas e
complementariedades.
CONFLITOS E PARTICIPAO SOCIAL NA ELABORAO DE
POLTICAS PBLICAS AMBIENTAIS: o caso da lei especfica da
Billings
SANTOS, Deborah Schimidt Neves dos (UNIFESP)
dehdeh1986@gmail.com
A proposta deste artigo contribuir com reflexes sobre as dinmicas e conflitos no
universo das relaes Estado-Sociedade Civil, no contexto especfico das polticas
pblicas ambientais sobre proteo e recuperao de mananciais, em especial, a partir
da anlise do processo de elaborao da Lei Estadual n 13.579/09 que delimitou a rea
104
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
de Proteo e Recuperao de Mananciais da Bacia Hidrogrfica do Reservatrio
Billings (APRM-B). Buscou-se averiguar, no mbito do SubComit de Bacia
Hidrogrfica Billings-Tamanduate (SCBH-BT) e no perodo de 1997 a 2009, se a
atuao da Sociedade Civil na elaborao da Lei Especfica da Billings (L.E. n
13.579/09), ocorreu como previsto pela Lei Estadual n 9866, promulgada em 28 de
novembro de 1997 e que institui a Poltica de Proteo e Recuperao dos Mananciais
de Interesse Regional do Estado de So Paulo, bem como se suas relaes com o Estado
colocaram em prtica a noo de governana da gua, principalmente no que diz
respeito participao da sociedade civil e ao conjunta de ambos (Estado e a
Sociedade Civil) na busca de solues e resultados para problemas comuns. Com base
nas leituras das atas e documentos elaborados entre 1997 a 2009 no mbito do Grupo de
Trabalho sobre a Lei Especfica da Billings pertencente Cmara Tcnica de
Planejamento e Gesto do SCBH-BT e das entrevistas realizadas com seus participantes
percebeu-se que as dinmicas e conflitos que ocorreram entre os representantes dos
governos municipais e estaduais e os representantes da sociedade civil ao longo do
processo de elaborao da Lei da Billings so expresso dos mesmos conflitos e
relaes dialticas existentes na arena poltica, social, econmica e institucional
brasileira de modo que a prtica da governana da gua apresentou limites e
possibilidades dados tanto pelos atores envolvidos em seu processo de governana
quanto pelo contexto poltico, econmico, social e institucional em que estes se inserem.
SOBRE A IMIGRAO ILEGAL NA EUROPA E OS ESPAOS
EXCEO: o caso dos centros de internamento de estrangeiros na
Espanha
SANTOS, Valdirene Ferreira (UNESP)
val-anage@hotmail.com
CAPES
O trabalho tem como objetivo analisar a crescente criminalizao imigrao irregular
dentro do espao poltico e social da Unio Europeia a partir dos anos 1990, focando
preferencialmente na vulnerabilizao dos direitos humanos dos estrangeiros
indocumentados que se encontram reclusos em centros de deteno especializados para
imigrantes ilegais. O funcionamento desses espaos de confinamento aqui discutido
como uma poltica de exceo que exclui os cidados no europeus em situao
irregular de direitos econmicos, polticos e sociais, para inclu-los na sociedade como
fora da lei. Para tanto, apoia-se nas reflexes do pensador poltico Giorgio Agamben
acerca da coexistncia do Estado de Exceo com o Estado Democrtico de Direito nas
sociedades ocidentais contemporneas e na discusso do socilogo Lic Waquant
acerca da transmutao do Estado Social em Estado Penal. A metodologia adotada parte
de uma reviso bibliogrfica de textos especializados e da anlise de relatrios e
pareceres acerca dos centros de deteno. Ao tomar como estudo de caso os centros de
deteno para imigrantes ilegais na Espanha denominados de Centros de Internamento
para Estrangeiros , verifica-se que a recluso exerce sobre os internos um processo de
racializao e despersonalizao, uma vez que a dificuldade em conseguir os
documentos exigidos para a migrao regular geralmente maior para grupos de
determinadas nacionalidades do continente africano, alm de as particularidades
culturais e lingusticas no serem devidamente tomadas em considerao no tratamento
a eles oferecido. Tambm as instalaes que recebem esse contingente populacional
105
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
vm sendo denunciadas por organizaes humanitrias e pelo Parlamento Europeu de
apresentarem irregularidades na estrutura e funcionamento.
EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO, GUERRILLA Y
PARAMILITARISMO
VARGAS, Carlos Alberto Castillo (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
cali_1981@hotmail.com
El conflicto armado que se desarrolla en Colombia ha generado mltiples aristas, en las
cuales los bloques enfrentados generan una guerra sin cuartel. Las acciones que se
realizan repercuten significativamente en los sistemas sociales en el que el pas se
desarrolla. Los poblados y no las ciudades son los escenarios idneos para poder
comprender este fenmeno. El ejrcito, la guerrilla y los paramilitares (grupos de
extrema derecha) confluyen por el control de estos territorios, vindolos como una
necesidad geoestratgica para el beneficio de la guerra. Es por este motivo que los
recursos (gas, petrleo, agua, minerales, etc) que se encuentran dentro del rea y que
significaran la oportunidad para el desarrollo de cualquier poblado, se convierten en su
tragedia, por las desapariciones, matanzas y torturas cuando estos grupos enfrentados
entran a dichos lugares. La presente investigacin busca hacer una anlisis detallado
sobre el conflicto que se desarrolla en el pramo de Sumapaz ya que este tiene como
particularidad de ser una de las reservas hidrogrficas y geoestratgicas ms importantes
en el mbito central Colombiano. Asimismo forma parte de la capital. La importancia
radica en la lucha que se ha dado en esta zona entre los organismos del estado mediante
la guerra de baja intensidad, los grupos paramilitares con sus desapariciones y torturas,
y los grupos insurgentes con los asesinatos y secuestros. Un pueblo que como muchos
vive en carne propia esta guerra, sin embargo sufren de la indiferencia de la gente que
vive en la capital, ya que sus hermanos no le toman ninguna importancia. Como dira la
frase del poeta Csar Vallejo: Tan cerca pero a la vez tan lejos.
Ello ha acarreado que actualmente se encuentren aproximadamente 9000 soldados para
una poblacin de 2000 personas, modificando as las formas de convivencia de la
poblacin e insertando nuevos actores que forman parte de aqulla. El mecanismo de
guerra de baja intensidad, implementado por las fuerzas armadas, ha generado choques
con la localidad dando lugar a serias denuncias sobre desapariciones forzadas y
violaciones de los derechos humanos de pobladores y dirigentes. Por otro lado, los
eventuales enfrentamientos entre la guerrilla de las FARC y el ejrcito, han convertido
el lugar en una zona altamente conflictiva. El objetivo de la investigacin es tratar de
entender este fenmeno partiendo por el estudio de dicho poblado, para ello dividiremos
el trabajo en dos partes: La primera parte realizaremos un breve recuento histrico para
poder situar al pramo dentro de este contexto de guerra y en la tercera parte
analizaremos las relaciones sociales que se dan actualmente entre la guerrilla, las
fuerzas armadas y la poblacin en dicha zona, para poder comprender por qu esta
poblacin est siendo invisibilizada por la gente que vive en la capital, para ello
utilizaremos la base terica de Zygmunt Bauman para as poder ver como las
poblaciones ms afectadas son invisibilizadas por los grupos que tienen un espectro
mayor en la sociedad, hasta un punto que los actos ms abominables entran en la lgica
de la cotidianidad y como tal ya no generan importancia.
106
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
PSTER
ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL: a discusso
acadmica como problematizadora de novas experincia urbanas
MENEZES, Vitor Matheus Oliveira de (UFBA)
vitormatheus_ba@hotmail.com
Este trabalho analisa as discusses estabelecidas, de forma multidisciplinar, sobre as
polticas urbanas em Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). Baseada em
experincias histricas (como o ProFavela em Belo Horizonte e Braslia Teimosa em
Recife) e instituda atravs do Estatuto das Cidades em 2001, as ZEIS representam um
importante marco no planejamento urbano, na noo de justia social no contexto
urbano, nas concepes de legalidade e ilegalidade e sobre o papel do Estado em
relao ao urbano marginalizado. A metodologia utilizada consiste no levantamento de
bibliografia acadmica da rea de Cincias Sociais que problematizam as ZEIS, a partir
da relao do Estado com as ZEIS; das perspectivas de aprofundamento das
transformaes urbanas a partir da ZEIS; da discusso sobre reforma urbana, sendo
estas zonas enxergadas como uma ferramenta instituda atravs do Estatuto das Cidades;
e da discusso sobre justia social (tendo em vista o carter redistributivo e participativo
das ZEIS).
Sesso III: Profisses e Poltica
Dia 27/08/13 s 14h
Debatedora: Prof. Dr. Maria Glria Bonelli (UFSCar)
IMAGINANDO UM BRASIL EM JORNAIS: uma interpretao do
corporativismo do Oliveira Vianna articulista
ARAUJO, George Freitas Rosa de (UFF)
geofrei56@hotmail.com
CAPES
O presente estudo analisa criticamente a dimenso corporativista do pensamento do
autor fluminense Francisco Jos de Oliveira Vianna (1883-1951), considerado um dos
principais Intrpretes do Brasil, a partir dos seus artigos de jornais catalogados na
Casa Oliveira Vianna. Esses textos constituem fontes ainda pouco conhecidas no campo
das cincias sociais. Oliveira Vianna escreveu sua obra, especialmente, entre as dcadas
de 10 e 40 do sculo passado, num momento de efervescncia de pensamentos e
movimentos pretensamente crticos ao liberalismo no plano internacional. Neste cenrio
podemos identificar um vis de pensamento polifnico que propunha ser uma
alternativa organizao poltico-econmica liberal, o corporativismo. Oliveira Vianna
apropriou-se, singularmente, da vertente de pensamento em tela, na articulao da sua
interpretao do Brasil com suas alternativas propositivas ao que compreendia ser um
dos nossos principais dilemas, a inveno e consolidao do iderio nacional num pas
fundado, segundo o autor fluminense, na insolidariedade e na tradicional quase
ausncia de conflitos de classe e/ou de raa. Um dos resultados da pesquisa aponta para
107
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
a complexidade do corporativismo do Oliveira Vianna articulista, evidenciando a sua
construo no tempo histrico, a delimitao do seu trnsito na arena poltica e as
correntes tericas s quais se filiou. Pensamos que o autor fluminense contribuiu para a
inveno de uma maneira de pensar e sentir o pas, com ressalvas, ainda hoje presente
por meio, e.g., do modelo corporativo-sindical.
O GRUPO E O ATOR NAS MOBILIZAES SOCIAIS: o
comportamento poltico dos militantes de 1968
AUGUSTINHO, Aline Michele Nascimento (UNESP)
aline_cso@yahoo.com.br
CNPQ
O objetivo desta proposta de exposio discutir as formas de participao poltica
contemporneas observadas entre ex-militantes do Movimento Estudantil de 1968, bem
como sua importncia nas pautas e discusses dos novos grupos de movimentos sociais
que emergem no Brasil nos ltimos anos. Isto porque, quando se pensa na dinmica de
conflitos entre instituies e movimentos sociais brasileiros a memria retoma o
Movimento Estudantil de 1968 como um dos movimentos mais impactantes da histria
recente do pas. No entanto, contrariando os pressupostos sociolgicos normalmente
aplicados a este grupo, como a abordagem geracional manheiniana, sua identificao
como grupo e sua mobilizao no se restringiu s atividades na juventude. Dados
parciais da pesquisa mostram que a participao poltica mantida com o sentimento de
vinculao ao grupo. Ao longo desses 45 anos, constatou-se que o sentimento de
pertencimento ao grupo de estudantes de 1968 emerge principalmente a partir dos ciclos
comemorativos, em que a cada perodo de 5 ou 10 anos, o universo acadmico e
tambm o miditico voltam seus olhos para a memria desses atores. Mas,
recentemente, pde-se observar dois novos momentos em que o grupo re-emerge com
fora: i) na recente instalao do processo de Justia de Transio tardia, em que
Comisso Nacional da Verdade vem renovando e at mesmo recriando paradigmas para
as pesquisas acerca dos movimentos sociais e polticos durante o Regime Militar, entre
1964-1985; ii) atores do mesmo grupo retomam as ruas nas manifestaes de junho de
2013, ao lado de estudantes e trabalhadores. No entanto, eles no retornam arena
poltica como cidados que foram estudantes em 1968, mas como os estudantes de
1968. Neste contexto, carregado pelas marcas de sua mobilizao no passado que
produzem o sentimento de pertencimento, possvel pensar numa nova forma de
identificar um grupo e suas formas de participao poltica.
PROFISSIONALISMO, GNERO E SUBJETIVIDADES NA
JUSTIA PAULISTA
BENEDITO, Camila de Pieri (UFSCar)
pbcami@hotmail.com
CAPES
Utilizando-se do conceito de profissionalismo se buscou analisar o impacto da crescente
participao feminina nas carreiras jurdicas sobre as subjetividades e as negociaes
identitrias. Neste paper o objetivo aprofundar os dados qualitativos da pesquisa que
se constituram a partir de entrevistas semiestruturadas em profundidade com duas
108
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
juzas, um juiz, um promotor de justia e dois defensores pblicos na cidade de Rio das
Pedras (nome fictcio) no interior de So Paulo e tambm pela observao do cotidiano
no Frum de Justia. O profissionalismo, entendido especialmente pelas ticas de Eliot
Freidson (1996) e Julia Evetts (2006), o conceito de anlise central e contribui para
pensar as negociaes subjetivas entre operadores e operadoras do direito. As
conceituaes de Butler sobre gnero completam o quadro terico, sendo este
compreendido como performtico. A composio do frum de justia, a organizao
dos corpos e os trajes so dados para a concluso de que o impacto subjetivo da
participao das mulheres no direito aparece na construo de um corpo feminino
especfico, que no deixa de trazer tona aquilo naturalizado como essencial da mulher
mas tambm se adequa aos patamares do discurso do profissionalismo construdo a
partir do masculino.
"EM LUCHA": presena feminina no protesto social
BOGADO, Adriana Marcela (UFSCar)
adrimarbogado@yahoo.com.br
FAPESP
Neste texto reconstrumos alguns itinerrios de participao poltica de mulheres em
movimentos sociais para identificar algumas caractersticas que assume o protesto social
no contexto de crise do modelo neoliberal das ltimas dcadas na Argentina. Trata-se de
um recorte de uma pesquisa de doutorado concluda, em que utilizamos como
metodologia a Histria Oral e a Observao Participante. O trabalho de campo
desenvolveu-se junto a participantes e lideranas do Movimiento de Mujeres en Lucha
(MML), de General Roca (Ro Negro) e Rosrio (Santa Fe); dos primeiros piquetes no
interior do pas, e da Corriente Clasista Combativa (CCC, Zona Norte), na provncia de
Buenos Aires. A reconstruo desses itinerrios revela como, nesse contexto de crise
generalizada, a via do protesto surge como alternativa para as mulheres pesquisadas.
Suas trajetrias so reveladoras do impacto do neoliberalismo em diferentes dimenses
da vida cotidiana e como o engajamento poltico se constri na dialtica de seus
itinerrios de vida. Com sua participao, as mulheres abriram o leque das formas de
interveno e canalizao de demandas no espao pblico e perante as instituies e
poder do Estado, que sempre tiveram a tnica dada por performances pblicas
masculinas. Incluso quando a atuao das mulheres surge a partir de papis de gnero
tradicionais, fundamental ler nas entrelinhas, identificando pequenas incongruncias,
alteraes nesses roteiros de gnero, que revelam novos sentidos e ressignificaes de
algumas das caractersticas essenciais desses papis e tornam-se recursos valiosos no
protesto social.
109
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
A ESQUERDA EM TRANSE: apontamentos para a discusso sobre a
situao social no Brasil atual
LIMA, Bruna Della Torre C. (USP)
SANTOS, Eduardo A. C. (USP)
PUZONE, Vladimir Ferrari (USP)
bru.dellatorre@gmail.com, eduardo.altheman@gmail.com, vfpuzone@gmail.com
FAPESP
Pode ser espantosa uma comunicao sobre os impasses da esquerda no Brasil,
especialmente num momento em que o chamado lulismo entendido aqui como uma
forma de governo que vem se consolidando desde 2002 est no auge de sua
popularidade. No entanto, a chegada ao executivo federal pelo setor majoritrio da
esquerda brasileira contribuiu decisiva e paradoxalmente para sua crise. Por isso
mesmo, essa crise no de modo nenhum evidente. A questo que propomos tratar o
estado atual das classes trabalhadoras no Brasil, bem como a nova configurao entre
capital e trabalho que vem se desenhando na ltima dcada. Trata-se de entender como
os trabalhadores do pas encontram-se atados atual configurao do capitalismo. Isso
pode parecer contraditrio, j que os aumentos na renda, apontados pela elevao do
consumo e apoiados pelas polticas de transferncia de renda, nos levam a crer que a
classe vive um perodo de prosperidade como h muito no se via. Entretanto, quais so
os limites desses ganhos diante de possveis mudanas na economia e poltica, isto ,
estariam eles estreitamente relacionados a um momento favorvel da economia
brasileira em relao ao mundo? Ainda nessa chave, a quais instrumentos analticos
podemos recorrer para compreender esse perodo? Seria o lulismo uma forma de
neoliberalismo, de neodesevolvimentismo, de socialdemocracia, ou esse fenmeno pede
uma nova formulao terica? Nossa anlise estar dividida em dois nveis. O primeiro
consiste em reconstituir de forma breve a trajetria da classe trabalhadora e de seus
representantes nos ltimos anos no Brasil. Essa a parte mais experimental e
delicada, pois faz referncia a processos histricos em pleno vigor, ou seja, inacabados.
A segunda seo consiste em fazer um rpido apanhado de algumas anlises intelectuais
a respeito desses processos, de modo a dar conta dos problemas e fraquezas da atual
discusso.
ORGANIZAES E CONFLITOS SOCIAIS: a profissionalizao no
terceiro setor
MELO, Marina Flix de (FITS)
melomarina@msn.com
A presente exposio diz respeito s concluses da tese de doutorado em sociologia
intitulada Profissionalizao nas Organizaes No-Governamentais (PPGS-UFPE,
Brasil; CICS-UM, Portugal). Nesta, analisamos as consequncias do atual fluxo de
profissionalizao institucional das ONGs face os conflitos sociais da resultantes. A
investigao revela como e porque ONGs que no se adquam s exigncias de
profissionalizao esmaecem diante das possibilidades de financiamento, bem como tais
processos interferem nas perspectivas de trabalho dos agentes que s instituies de
terceiro setor se dedicam.
110
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
POLTICAS PBLICAS E TEORIA POLTICA FEMINISTA:
reflexes sobre as prticas do Conselho Municipal dos Direitos das
Mulheres no municpio de Londrina/PR
MORENO, Meire Ellen (UEL)
m_ellen_m@hotmail.com
Uma problemtica importante do pensamento poltico contemporneo o tratamento da
participao e representao das mulheres na esfera poltica, que apresenta-se de forma
deficitria. Atualmente, aes afirmativas so empreendidas visando a melhoria dessas
condies, tais como as comisses ou conselhos gestores com participao na tomada
de decises polticas. Como exemplo desses espaos de participao, tem-se o Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher da cidade de Londrina/PR, cujo objetivo a garantia
mulher do exerccio pleno de sua participao no desenvolvimento dos campos
econmico, poltico e cultural da sociedade. Neste trabalho, buscou-se apresentar os
diversos modelos de democracia, como forma de organizao de sociedades complexas,
assim como a crtica feminista aos seus aspectos mais importantes, alm da
apresentao do modelo de democracia comunicativa, sugerida, entre outros, pela
terica Iris Marion Young, que ressalta a importncia da pluralidade de perspectivas
para a incluso das mulheres na poltica. A partir do levantamento bibliogrfico e do
estudo de caso do CMDM-Londrina/PR, realizou-se uma reflexo sobre as prticas de
atores e/ou instituies no que diz respeito s polticas pblicas cujo foco a superao
das desigualdades entre mulheres e homens nos espaos de poder, considerando os
termos relevantes apresentados na teoria poltica feminista estudada no que diz respeito
questo da participao e representao polticas de mulheres.
CONTRADIES DO PROCESSO DE DEMOCRATIZAO
BRASILEIRO: um estudo do pensamento de Florestan Fernandes
PORTELA JR, Aristeu (UFPE)
aristeu.portela@gmail.com
Este trabalho analisa o modo como Florestan Fernandes (1920-1995) concebe os
obstculos concretizao da democracia no Brasil e as vias apontadas por ele para
superar tais obstculos. Elaboramos uma diviso do seu pensamento, no que concerne a
essa problemtica, fundamentada nas suas diferentes categorias tericas e pressupostos
polticos. No primeiro momento (dcadas de 1950-60), a revoluo burguesa e a
ordem social competitiva so vistas pelo autor como o nico caminho para superar os
entraves do antigo regime que impedem a universalizao da cidadania. Sua
preocupao volta-se para a realizao dos requisitos da civilizao moderna no
Brasil; democracia e ordem social competitiva, polos desse padro civilizatrio,
aparecem como intrinsecamente ligadas. No segundo momento (dcadas de 1970-80),
altera-se a relao que Fernandes postula entre democracia e ordem social competitiva.
Enquanto democracia burguesa, mas de participao ampliada, ela pode e deve ser
dinamizada ainda no interior da ordem capitalista. Mas as classes baixas s a assumem
enquanto bandeira de luta porque a prpria burguesia, num contexto dependente e
subdesenvolvido, no pode faz-lo. Enquanto democracia operria, o autor a
considera incompatvel com os dinamismos da ordem capitalista, e aponta a necessidade
de as classes baixas lutarem por uma revoluo democrtica no Brasil. A partir desses
111
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
diferentes pressupostos e conceituaes, nem sempre compatveis, Fernandes nos
apresenta um duplo legado: a necessidade de se estudar a democracia brasileira a partir
das lutas e conflitos de classe, por um lado, e da sua relao com o modo de produo
capitalista, de outro lado; aspectos cuja importncia precisa ser retomada nos estudos
sociolgicos brasileiros sobre essa problemtica.
A ADOO DO CONCURSO PBLICO NO BRASIL: a ideia de
atualizao no Estado brasileiro no Governo Provisrio (1930-1934) de
Getlio Vargas
SILVA, Rodrigo Pereira da (UNESP)
rodrigounesp@gmail.com
CNPQ
O trabalho tem como finalidade analisar o debate sobre a adoo do concurso pblico
como meio de recrutamento do funcionalismo na Constituio de 1934 levando-se em
conta o perodo histrico e o pensamento social da poca. A histria do Estado
brasileiro e a forma como o campo poltico influencia a administrao pblica so
importantes para entender como foi tomada a deciso de se colocar na Constituio a
obrigatoriedade do concurso pblico de provas. O recorte histrico do trabalho se refere
quadra 1930-1934, poca do Governo Provisrio, chefiado por Getlio Vargas. Tratase de momento de grandes mudanas estruturais impulsionadas, entre outros fatores,
pela crise de 1929 e seus efeitos na economia cafeeira, passando pelo processo
revolucionrio de 1930 e por demais disputas do campo poltico que tm influncia na
vida de toda a sociedade da poca. Desta maneira, este trabalho procura compreender os
motivos que levaram adoo desse critrio para ingresso na carreira pblica, atravs
da anlise do pensamento social da poca, de documentos histricos e das atas da
comisso que elaborou o anteprojeto constitucional.
CONDICIONANTES DA CRIAO E DESENVOLVIMENTO DO
CURSO DE CINCIAS SOCIAIS NA FACULDADE DE FILOSOFIA
E CINCIAS DE MARLIA
SOUZA, Luana Silva de (UNESP)
luanasilva1982@yahoo.com.br
Essa pesquisa tem por objetivo analisar como se deu o processo de criao
institucionalizao e desenvolvimento do curso de Cincias Sociais da Faculdade de
Filosofia e Cincias de Marlia. Tomando como referncia a noo de campo
desenvolvida por Pierre Bourdieu para enunciar o espao ocupado pelas Cincias
Sociais no Brasil como um campo cientfico no qual esse curso de Cincias Sociais
ir se constituir; essa pesquisa pretende identificar quais os condicionantes da criao e
desenvolvimento desse curso, ou seja, quais as prticas, aes e estratgias estabelecidas
pelos agentes sociais docentes discentes e funcionrios da instituio - envolvidos
nesse processo e quais fatores que contriburam para sua formao; e ao estabelecer os
condicionantes do processo de criao e desenvolvimento do curso de Cincias Sociais
da F.F.C/ Marilia, essa pesquisa tambm pretende situar esse mesmo curso dentro do
cenrio de discusso do processo de institucionalizao das Cincias Sociais no pas
como um todo.
112
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
PSTER
A INTERNET COMO FERRAMENTA DE MOBILIZAO
POLTICA
ALVES, Tatiana Teixeira (PUC/MG)
tatianeteixeira01@yahoo.com.br
A proposta para o grupo de discusso o uso da internet como uma ferramenta que
mobiliza e coloca as pessoas no mesmo espao de discusso. Em tempos que a internet
tem sido cada vez mais usada e o acesso a ela cada vez mais distribudo, fica difcil,
talvez impossvel, no colocar as questes que mais afligem o pas dentro desse espao
infinito que a prpria rede, tambm conhecida hoje como rede das redes. Cidadania,
participao poltica, democracia, todas essas questes viraram alvo de uma populao
que antes se manifestava somente nas ruas e agora conta com mais uma possibilidade de
dar volume e fora para a sua voz. Os ativistas chamam essa participao online de
gabinete, j os usurios que aprenderam que de dentro de casa, em frente ao
computador possvel tambm se manifestarem, acreditam que toda inquietude pode ser
declarada na rede e quem compartilhar dessas inquietudes que entre na corrente e passe
par frente o quanto mais puder. A questo para ser discutida : Ser mesmo que a
internet tem colocado as pessoas mais a par dos seus direitos? As questes que ganham
amplitude nas redes so mesmo as questes mais relevantes e que merecem espao? As
pessoas e suas inquietudes tem ganhado de fato mais espao nas discusses que sempre
existiram no meio da sociedade? Essas ferramentas que esto cada vez mais acessveis
populao realmente funcionam como ferramentas de mobilizao? Se funcionam
mesmo, em que medida? necessrio pensar qual o valor das manifestaes online para
as pessoas e se elas realmente incitam a outra parte no conectada da populao a
buscar por melhorias. A internet promove uma participao mais ativa ou deixa as
pessoas acomodadas por saberem que podem dar a sua opinio de dentro do seu quarto
ou sentadas no sof? Qual seria o momento de sair da rede e ir para o protesto real, nas
ruas? Essas so questes que nasceram das atuais circunstncias da sociedade
brasileira, onde uma frase infeliz escrita em um site de relacionamento promove
comoo e revolta quase que instantnea de grupos considerados minorias e leva toda
essa revolta para a populao que por sua vez se reconhece na luta e a leva para as ruas
na luta por seus direitos e pelos direitos dos outros. Uma populao que se mobiliza por
algum que foi injustiado ou maltratado, ou virou motivo de chacota nacional. Uma
populao que tomou conhecimento do poder de divulgao das redes e usa isso para
ser vista por todo mundo e agora pode no estar percebendo o real poder de uma rede
que assim como pode ser uma aliada, em algum momento pode tambm se tornar um
inimigo, daqueles mais prximos.
113
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
MOVIMENTOS SOCIAIS, REDES SOCIAIS E PROTESTOS
PBLICOS
SANTOS, Adrielma S. dos (USFE)
OLIVEIRA, Wilson Jos F. (UFSE)
wjfo2001@ig.com.br, adri_aju@hotmail.com
PIBIC-CNPQ
Os movimentos sociais nas ltimas trs dcadas receberam uma ateno maior dos
pesquisadores das cincias sociais. Com as mudanas no contexto poltico dos pases da
Amrica Latina nesta poca, os pesquisadores comearam a observar os movimentos
sociais a partir das implicaes que as mudanas polticas causavam na forma que estes
movimentos se organizavam. Esta ateno se deve tambm ao fato dos movimentos
sociais constiturem em si uma explicao para as transformaes e conflitos polticos e
culturais da sociedade civil brasileira em determinados perodos histricos. O presente
trabalho, ento, pretende analisar certas mudanas ocorridas nos repertrios de ao dos
movimentos sociais a partir da dcada de 80 e sua relao com a institucionalizao dos
movimentos sociais e com atores e organizaes poltico-partidrias. Alm disso, o
trabalho busca ainda compreender os conflitos existentes entre os movimentos sociais e
as estruturas dominantes que so confrontadas. Para tal realizamos um estudo
comparativo entre os movimentos sociais da dcada de 80, 90 e 2000 da cidade de
Aracaju - SE. Isso foi possvel atravs de uma coleta de notcias de protestos pblicos,
manifestaes de rua, assembleias gerais nos principais jornais locais, que forneceram
dados para construo de um banco de dados no programa de anlise SPSS. Os
resultados encontrados permitiram perceber que atualmente os atores dispe de outros
recursos como a internet para se mobilizarem. Da mesma forma, observou-se que h
uma rede entre os grupos de movimentos sociais que se articulam em cenrios polticos
diferenciados e nos meios virtuais. Este estudo importante por que demonstra as novas
configuraes dos movimentos sociais na sociedade civil brasileira, mais
especificamente na cidade de Aracaju/SE.
114
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso IV: Polticas Pblicas instituies e atores sociais
Dia 28/08/13 s 14h
Debatedora: Prof. Dr. Fabiana Luci de Oliveira (UFSCar)
A IDEOLOGIA DOS JORNAIS
CARVALHO, Rodrigo de (PUC/SP)
rodrigocarvalho113@hotmail.com
A anlise do papel dos meios de comunicao impressos na formao do pensamento
hegemnico da sociedade contempornea no Brasil, atravs de uma identificao das
atuais caratersticas da luta de ideias a partir de uma nova realidade poltica; a definio
ideolgica e os compromissos dos meios de comunicao; as principais contradies
entre interesses econmicos dos jornais e o jogo de poder; o alcance atual dos jornais e a
influncia na formao da opinio pblica so os elementos principais que este trabalho
procura demonstrar atravs de verificaes tericas bibliogrficas e demonstraes de
argumentos baseados nos editoriais dos jornais Folha de So Paulo, O Globo e O Estado
de So Paulo, trs dos principais veculos de comunicao no Brasil. A base terica
sobre o conceito de hegemonia formado a partir do filsofo Antnio Gramsci. O papel
ideolgico dos jornais se estabelece a partir da ideia de neutralidade que os veculos de
comunicao tentam imprimir sociedade. A partir da nova composio de governo,
fica a questo se os meios de comunicao, destacadamente os jornais impressos ainda
cumprem o papel de formadores de opinio na sociedade, capazes de influenciar nas
decises polticas das instituies? Os jornais se transformaram em partidos de oposio
ao governo? A relao entre poder e jornais altera o contedo jornalstico das
publicaes? O elemento central do estudo verificar as prticas de poder, a luta de
ideias na sociedade e a respectiva disputa ideolgica na sociedade brasileira na
atualidade.
INFORMAO: o caminho para a reivindicao de polticas pblicas
de cultura com equidade de acesso
DANTAS, Daniele Cristina (ENCE/IBGE)
danielecdantas@gmail.com
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE)
A elaborao de polticas pblicas demanda que o planejador tenha informaes sobre o
espao sobre o que deseja que sua ao organizada seja aplicada, da mesma forma que
necessita de informaes sobre os meios necessrios para atuar em dado local. No
processo de implantao e execuo das polticas pblicas, a informao se apresenta
como ferramenta importante nos processos de gesto, no monitoramento e ajuste de
rotas, assim como nos processos de avaliao da poltica implantada. De acordo com
dados do Ministrio da Cultura e do IBGE, nota-se que, na rea cultural no Brasil
(assim como em algumas outras), as polticas pblicas apresentam um histrico de
concentrao de investimento na regio Sudeste e nos centros urbanos quando em outras
regies. Baseado neste cenrio a proposta deste trabalho apresentar reflexes sobre a
importncia da informao para o planejamento e monitoramento das polticas pblicas
115
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
de cultura ampliando a reflexo para s conflitos gerados no campo simblico ao se
privilegiar uma regio em detrimento de outras; assim destacar o papel de estatsticas e
indicadores culturais contextualizando a forma como tais informaes qualificadas do
suporte a processos de reivindicao e validao de discursos na busca por equidade de
acesso a direitos constitucionais, como o direito a cultura. A leitura crtica de
referncias tericas acerca das temticas da poltica pblica, do acesso cultura e dos
direitos culturais e do uso de estatsticas e indicadores nos processos de gesto e de lutas
por direitos sociais sero a base metodolgica do trabalho.
A INTERAO ENTRE OS SENADORES BRASILEIROS NO
PROCESSO DE PROPOSIO E JULGAMENTO DE PROJETOS
DE LEI
MAUERBERG JUNIOR, Arnaldo (EAESP/FGV)
STRACHMAN, Eduardo (FCLAr/UNESP)
arnaldomauerberg@hotmail.com, eduardo.strachman@gmail.com
O comportamento parlamentar brasileiro vem sendo bastante estudado nos ltimos anos.
Autores como Fernando Limongi, Argelina Figueiredo, Carlos Pereira, Jos Cheibub,
Timothy Power, entre outros apresentam uma srie de estudos com o foco maior no
presidencialismo de coalizo brasileiro: sua estabilidade, meios de manuteno,
principais atores, etc. Dentro deste escopo, o comportamento dos Deputados Federais
tem sido massivamente estudado. Nota-se, entretanto, certa escassez de anlises
referentes aos outros agentes parlamentares, a saber, os Senadores. Desta feita, o foco
deste estudo analisar como interagem os Senadores brasileiros no mbito das
comisses fixas daquela casa de leis. O trabalho busca apresentar as ligaes entre os
agentes e aprofundar, na medida do possvel, quais so as caractersticas em comum que
permitem a observao de tais contatos. O foco do estudo reside exclusivamente sobre
os Senadores, excluindo seus contatos com demais agentes pblicos. Os objetivos do
estudo so: montar a rede de contatos entre os Senadores Brasileiros no perodo da 52
Legislatura. Identificando tendncias, relaes esperadas e no esperadas; e apresentar
as caractersticas da produtividade parlamentar no escopo tratado, apontando os
Senadores mais atuantes e as comisses mais movimentadas. A metodologia empregada
a Anlise de Redes Sociais (Social Network Analysis), com a qual sero apresentadas
figuras de interao, semelhantes a mapas, onde os agentes podem ser observados
interagindo entre si. O objeto de estudo para a obteno de tais figuras (ou grafos como
na terminologia adequada) o parecer oferecido por dado Senador a um projeto de lei
de algum colega seu.
116
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
POSSIBILIDADES E OPORTUNIDADES DE ATUAO
POLTICA: estudo sobre a formao do grupo de trabalho de aes
afirmativas no processo de reivindicao por cotas de ingresso na
UFRGS
PROLO, Felipe (UFRGS)
fprolo@gmail.com
CNPQ
Tratou-se de uma pesquisa de mestrado sobre o processo de formao de um coletivo de
estudantes da UFRGS, intitulado Grupo de Trabalho de Aes Afirmativas, que se
props a estudar e reivindicar a implementao do sistema de cotas na referida
instituio, entre 2005 e 2007. Buscou-se fatores que explicassem sua ocorrncia no
contexto estudado, envolvendo os indivduos participantes e as condies estruturais da
instituio que permitiram seu surgimento. Aliando teorias sobre a ao social, a partir
da constituio de projetos individuais e coletivos, e sobre aes coletivas, a partir da
noo de estrutura de oportunidades polticas, procurou-se captar o que concedeu
sustentao a esta organizao. Com entrevistas orais semiestruturadas com os membros
do grupo, obteve-se informaes sobre suas experincias educacionais e coletivas,
projetos pessoais em relao universidade, as formas de contato com o tema das cotas
e os processos que os levaram a tornarem-se participantes do grupo, bem como a
atuao neste no processo que perdurou at a aprovao da medida na universidade,
momento aps o qual o grupo se desfez. A concluso a que se chegou a de que a pauta
cotas foi - enquanto instrumento para reivindicao em torno do qual convergiram as
insatisfaes e objetivos difusos de seus membros, conferindo sustentao
organizao - menos do que por seu contedo intrnseco (percebido enquanto pauta
vivel para o exerccio da mobilizao), adotada pelos membros do grupo como forma
de atriburem significados s suas atuaes enquanto estudantes universitrios.
Demonstrou-se que so nas situaes sociais que se produzem os fundamentos para o
surgimento de aes polticas que buscam suas transformaes, e fez pensar sobre a
situao do universitrio brasileiro atualmente.
AS IMPLICAES SOCIAIS DAS POLTICAS DE ESCOLA EM
TEMPO INTEGRAL: concepes, prticas e perspectivas
RABESCO, Rafaela (UFSCar)
rafa_rabesco@yahoo.com.br
Diante da discusso histrica acerca da funo social da escola no Brasil, nos chama a
ateno que na atualidade a criao de diversas polticas pblicas vem sendo embasadas
no binmio: educao integral/educao em tempo integral. A partir disso, este projeto
tem como objetivo central analisar o processo e as implicaes sociolgicas das
polticas pblicas brasileiras de implementao da Escola em Tempo Integral. Partindo
da anlise de documentos e relatrios oficiais, e da reviso bibliogrfica sobre o tema,
os pontos a serem analisados de maneira geral so: a) em que medida as influncias
externas do Banco Mundial atuam na elaborao e implantao das polticas sociais
(educacionais) no Brasil; b) se h uma transformao nas expectativas\funes da escola
como instituio social e em que sentido ela ocorre; c) em que medida esse modelo
expe a contradio fundamental da escola hoje, atribuindo-lhe o papel de conteno da
117
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
violncia\criminalidade, como espao da guarda de crianas em situao de
vulnerabilidade social, ao passo que busca formar mo de obra para o mercado de
trabalho; d) quais so os impactos na sociabilidade dos sujeitos envolvidos nesse
processo (alunos, professores, pais e gestores) em relao a perspectivas a respeito das
mudanas no regime escolar. Por fim, esta pesquisa, de carter qualitativo, (atravs de
entrevistas e observaes) analisa a relao entre os aspectos formais e a realidade
identificada, bem como seus limites e potencialidades, diante da implantao, em 2012,
da primeira Escola em Tempo Integral em Araraquara.
JUDICIALIZAO DA POLTICA COMO BUSCA DE UMA
MORALIDADE POLTICA: um estudo sobre a Lei de Ficha Limpa
ROCHA, Dcio Vieira da (UENF Darcy Ribeiro)
deciovrocha@hotmail.com
FAPERJ
O presente trabalho tem como objetivo descrever e refletir sobre a crescente
participao do Judicirio nas decises polticas no Brasil, processo conhecido como
judicializao da poltica como forma de ter subsdios tericos e analticos pra
compreender o processo que derivou na Lei Complementar n135, conhecida
popularmente como a Lei de Ficha limpa. A lei de ficha limpa acompanha o processo
de crescimento da atuao do Judicirio e o maior envolvimento que a sociedade civil
tem tido a partir de uma extenso da esfera pblica. Assim sendo, tentamos
compreender qual foi o contexto que possibilitou essa lei, quais so as implicaes da
mesma no sistema eleitoral, e como ela modifica o jogo das relaes de poder entre os
diferentes atores polticos.
O PROBLEMA POLTICO DA JUVENTUDE NO BRASIL
CONTEMPORNEO
RUGGIERI NETO, Mrio Thiago (UNESP)
mtsociais@yahoo.com.br
CAPES
O presente trabalho tem como objetivo fazer uma reflexo terica sobre a constituio
de um novo campo de reflexo e prtica polticas na sociedade brasileira, o campo das
polticas pblicas de juventude. Desde meados da dcada passada assistimos no Brasil
um crescente interesse em torno da juventude e de seus problemas. Notadamente a
partir do primeiro governo Lula, uma srie de marcos legais e normativos comeam a
dar contornos a uma indita poltica nacional de juventude, a qual passa pela definio
dos direitos intrnsecos este segmento populacional. Segue-se assim em debate
legislativo o Estatuto da Juventude, cujo escopo dever servir como fundamento e
diretriz legal para formulao de polticas pblicas. H ainda, por parte de movimentos
sociais e do meio acadmico, certo consenso em relao necessidade de
reconhecimento das especificidades dos jovens. Enfim, de uma maneira geral, pode-se
verificar um movimento de reflexo e incorporao da juventude ao hall de problemas
sociais com os quais nossa sociedade deve saber lidar. A juventude, alm de ser uma
condio biolgica, uma condio social, produzida e experimentada no interior da
118
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
dinmica de relaes em uma sociedade determinada. Como instituio, sobre ela
projetam-se expectativas e ideologias, das quais os indivduos ora se afastam, ora se
aproximam em sua vida concreta. De alguma forma, a juventude, experincia varivel e
socialmente determinada, vem sendo alvo e justificativa de aes e tomada de decises
polticas. Este trabalho buscar analisar em que medida a juventude, como condio
biolgica e social, representa um problema poltico, em torno do qual se definem as
polticas pblicas.
JORNAL MOVIMENTO: um ensaio sobre as frentes-jornalsticas na
transio poltica brasileira
SEVES, Natlia Cabau (UEL)
nataliacabau@hotmail.com
Ao redor daquilo que Gramsci denomina Jornalismo Integral (revistas tpicas)
constituem-se crculos de cultura que buscam criticar os trabalhos produzidos em
gesto colegiada por cada redator/a individual contribuindo-se, da, a instituir uma nova
competncia tcnica e poltica para um trabalhador/a-intelectual coletivo/a que o/a
eleve ao nvel do/a mais bem-preparado de todos/as. dessa forma de gesto colegiada,
presente nos crculos de cultura de Gramsci, que se aproxima a experincia do frentejornalismo no Brasil no combate Ditadura Civil-Militar. O presente projeto de
pesquisa tem como proposta inquirir a histria social e poltica do jornal-frente
Movimento, uma organizao com seus limites expandidos ou seja, um jornal que
pretendeu funcionar como uma concepo ampliada de partido, para trazer tona
contribuies desta organizao para a histria dos grupos sociais subalternos e
possibilitar a explicao compreenso que se-a eleve do abstrato (conceito) ao concreto
(real).
INTERNET E CAMPANHAS ELEITORAIS: uma relao dialtica
nas eleies 2012 em Natal/RN
SILVA, Maria Aparecida Ramos da (UFRN)
cidaramoss@gmail.com
O mundo contemporneo passa por inmeras transformaes sociais, impulsionadas
sobremaneira pela expanso das Tecnologias da Informao e Comunicao, em um
novo momento da Modernidade. Essas ferramentas ganharam visibilidade na eleio de
Barack Obama, em 2008, nos Estados Unidos. No Brasil, um dos reflexos foi
minirreforma eleitoral, liberando o uso da internet para propaganda poltica, por meio de
blogs, redes sociais e stios de mensagens instantneas. No entanto, percebe-se que a
utilizao dessas mdias no contexto eleitoral no diminui a necessidade de utilizao do
formato tradicional de fazer campanhas polticas, principalmente, a televiso. uma
relao dialtica, j que as grandes coligaes que esto frente das pesquisas eleitorais
nem sempre tm o melhor desempenho nesses espaos. Dessa forma, este estudo visa
analisar como os web sites e redes sociais oficiais foram utilizadas pelas
candidaturas majoritrias nas eleies municipais em Natal/RN, em 2012, delimitando e
definindo sua importncia no processo.
119
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
ENSINO SUPERIOR PBLICO BRASILEIRO: a estrutura da
poltica de expanso
ZAMBELLO, Aline Vanessa (UFSCar)
alinezambello@gmail.com
CAPES
Nos ltimos anos, o debate sobre o papel das polticas pblicas tem levado em
considerao a sua capacidade de promover empoderamento e capabilities e
modificando a perspectiva liberal do Estado. No Brasil temos ainda um cruzamento com
o Estado como promotor do bem-estar coletivo a trajetria do novo
desenvolvimentismo. Um termo sntese mais recente para esse processo em curso no
Brasil o de configurao de uma engenharia democrtica inclusiva (como sugerido por
Cepda), que tem como marco inicial a Constituio Federal de 1988 e acelerada pela
onda de mudanas na democracia participativa e polticas pblicas de proteo e
promoo de igualdade. Como exemplo deste processo, apontamos a expanso do
ensino superior pblico atravs do REUNI e PROUNI, a democratizao do acesso a
vagas as IFES atravs de Ao Afirmativa (reserva/cotas) e adoo do ENEM e SiSU
como formas de promoo de igualdade. Todas essas polticas tm focos e estratgias
diferentes, atuando de maneiras distintas, oscilando entre a redistribuio direta de bemestar e de capitais sociais/capabilites. Neste trabalho pretendemos apresentar uma
anlise do estado da arte desta poltica no Brasil, no formato de descrio anatmica do
processo de expanso em suas caractersticas fundamentais: 1) quantitativa: vagas e
instituies; 2) geogrfica e federativa: interiorizao, projetos em fronteiras, campi em
periferias e 3) de acesso a incluso social (cotas/reserva de vagas).
120
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
GT 4: SOCIOLOGIA DAS CRENAS RELIGIOSAS
Sesso I: Diversidade Religiosa Contempornea
Dia 27/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Antnio Mendes da Costa Braga (UNESP/ Marlia)
CHINESES NO RIO DE JANEIRO: notas sobre nao, territrio e
identidade atravs da prtica comercial e religiosa
ARAUJO, Marcelo da Silva (Colgio Pedro II)
marc.araujo.rj@gmail.com
Constitudo em parte por reflexes genricas sobre a presena de imigrantes chineses no
Rio de Janeiro e em parte pelo resultado de pesquisa etnogrfica com chineses
evanglicos, pretende-se abordar est presena quanto aos seus aspectos comercial e
religioso, dimenses que se imbricam para formatar as utilizaes prticas e as
representaes simblicas das noes de nao, territrio e identidade. As
interpenetraes entre estas devem ser compreendidas luz do conceito de identidade
sem territorialidade, que proporciona a leitura da inexistncia da fixidez destas noes
na realidade contempornea do grupo. Assim, tais categorias surgiriam menos como
demarcadores de realidades concretas e mais como noes que se fundem no estrangeiro
e que s tm significado quando consideradas as novas filiaes e as estratgias para
recomposio do ser chins.
E : a corporalidade guarani atravs de sua religiosidade
BERTAPELI, Vladimir (UNESP)
vladbertapeli@marilia.unesp.br
CAPES
No pensamento Guarani h uma ligao entre alma e fala. A categoria nativa que
melhor expressa isso e e significa palavra, voz e, ao mesmo tempo, alma. A
palavra de origem divina e comum aos deuses e aos homens. ela que anima o
corpo, pois o nascimento o momento em que a palavra se assenta ou prov para si um
lugar no corpo da criana. Portanto, por meio da palavra que o indivduo se mantm
em p, que o humaniza. Alm disso, a etnologia sobre os Guarani aponta que a
corporalidade destes est vinculada religio. Esta, por sua vez, influencia as regras de
cuidados, nas explicaes sobre as causas das doenas e suas curas, os perodos de
resguardo, o uso de enfeites, educao, etc. Diante do exposto, nesta comunicao
fao alguns apontamentos sobre a noo de corpo existente entre os Guarani. Para isso,
busco analisar seus cantos sagrados que podem ser encontrados em Ayvu Rapyta:
textos mticos de los Mby-Guarani Del Guair e As lendas de criao e destruio do
mundo como fundamento da religio dos Apapocuva-Guarani , copilados
respectivamente por Lon Cadogan e de Curt Unkel Nimuendaju. Por fim, fao ainda
uma comparao de tais cantos com as narrativas mticas contadas pelos meus
121
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
interlocutores Tupi Guarani da Terra Indgena Piaaguera, localizada no litoral de So
Paulo.
A PRESTAO DE SERVIOS RELIGIOSOS NA POLCIA
MILITAR DO ESTADO DE SO PAULO
JCOMO, Luiz Vicente Justino (USP)
luizvjj@usp.br
CNPq
Atravs deste paper prope-se a discusso sobre a prestao de servios religiosos
atravs de entidades organizadas e confessionais dentro da Polcia Militar do Estado de
So Paulo (PMESP). Atravs dos dados obtidos em pesquisa etnogrfica realizada junto
a esta instituio, foi possvel identificar quatro grupos ou associaes de carter
religioso que ali atuam, a saber: PMs de Cristo, de carter evanglico; os PMs
Caminho da Luz, de orientao esprita kardecista; os PMs de Ax, adeptos de religies
afro-brasileiras; e a Capelania Catlica da PMESP. Cada um desses grupos organiza
atividades, promove eventos e reunies e participa ativamente do cotidiano dos policiais
militares, seja na fase de formao de novos policiais nas academias ou no trabalho de
rua dos policiais militares. O objetivo aqui, de forma mais especfica, abordar as
formas atravs das quais estes grupos fornecem, cada qual sua maneira, servios de
aconselhamento, orientao e amparo psicolgico aos policiais militares. As hipteses
tratadas aqui dizem respeito ao fato de que h, de certa forma, uma reorientao ou uma
ressignificao do prprio trabalho policial que advm do contato ou do pertencimento
destes policiais a tais grupos religiosos.
SE A ESCOLA NO FALA DA MINHA RELIGIO, ELA ME
CALA TAMBM: experincia religiosa dos estudantes no
IFBA/Salvador
MAGALHES, Rafaela Melo (UNEB)
mmagalhaesrafa@gmail.com
CAPES
As reflexes apresentadas constituem parte da pesquisa de mestrado, desenvolvida no
programa de Mestrado em Educao e Contemporaneidade PPGeduc / UNEB, cuja
investigao visa compreender as estratgias realizada pelos estudantes que servem de
mediao na aquisio do conhecimento formal, frente s suas experincias religiosas.
A pesquisa foi estruturada em duas etapas: uma de carter quantitativo (mapeamento de
pertenas religiosas) e a 2 etapa, de cunho qualitativo. Os dados apresentados, portanto,
constituem parte da pesquisa qualitativa, com observao participante, realizao de
grupo focal (grupos de discusso) com estudantes previamente selecionados, realizada
entre dezembro e janeiro de 2013. As problemticas levantadas para os grupos foram:
Religio se discute na escola? Como e de que forma? A escola est preparada para lidar
com a diversidade religiosa? Vocs percebem conhecimentos adquiridos na escola que
tem concordncia ou divergem com/dos seus princpios religiosos? Quais? Como agir
diante de tais situaes? Para os estudantes, o IFBA no abre espao para questes
religiosas, nem em projetos especficos, nem no espao da sala de aula. O silenciamento
122
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
frente a experincia religiosa, os afeta diretamente. Alm disso, podemos concluir que
para, os estudantes, a escola no lida com as questes religiosas, no valorizando as
individualidades e a unidade dos sujeitos; 2- os professores so/ esto despreparados
pala lidar coma diversidade religiosa, agem muitas vezes, de forma discriminatria e
preconceituosas; 3- para eles, a religio instrumento importante na aquisio do
conhecimento, seria ento, interessante e til que a escola aprende-se a lidar com essa
questo.
A PRESENA DA RELIGIO EM AES DOCENTES DE
ESCOLAS PBLICAS DE EDUCAO INFANTIL
MAK, Denise (PUC/SP)
denimk20@hotmail.com
CAPES
O presente estudo tem por finalidade investigar se a religio tem sido abordada dentro
do mbito escolar por agentes educacionais, especificamente de educao infantil, no
municpio de So Paulo. Com base nas contribuies de Bourdieu (2004) e Fernandez
Enguita (1995), h a pretenso de coleta de informaes sobre como educao e religio
tem se interligado dentro da escola pblica laica contempornea. Nesse sentido, sero
colhidas informaes sobre tais aes e analisadas luz das perspectivas que
consideram a religio como um bem simblico reproduzido dentro da escola
especificamente como forma de violncia simblica, considerando o fato dos agentes
sociais veicularem o forte aspecto cultural brasileiro da religio nessa instituio. Para
tanto, sero realizadas observaes e coletas de materiais nos diferentes lugares da
escola.
A REALIDADE RELIGIOSA DO BRASIL: UMA LEITURA DO
CENSO DEMOGRFICO DE 2010
MARTINS, Marques Alves (PUC/Gois)
martins051@hotmail.com
O presente artigo uma anlise scio antropolgica da realidade religiosa brasileira a
partir dos dados estatsticos levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatstica (IBGE) no ano de 2010. O que se pretende apresentar como a sociedade
brasileira em plena era de modernizao e secularizao trabalha ou reage com os
resultados obtidos pela pesquisa do Censo Demogrfico de 2010. Para tanto, vamos
lanar mo de renomados autores das mais variadas reas do saber, como por exemplo,
antroplogos, socilogos, filsofos e cientistas da religio, na perspectiva de melhor
elucidarmos essa teia de relaes em que se configura nossa sociedade brasileira.
Demonstraremos e evidenciaremos alguns dados numricos do Censo Demogrfico de
2010, para assim, confront-los com as teorias e princpios elaborados e defendidos por
tais autores, na perspectiva de que esse novo olhar favorea um dilogo aberto e
crescente no que tange s prticas e crenas religiosas presente no cenrio nacional e at
mesmo latino-americano. Palavras-chaves: realidade brasileira; religio; secularizao.
123
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
JUVENTUDE E RELIGIO: as novas formas de crer da juventude na
contemporaneidade
OLIVEIRA, Wellington Cardoso de (UFG)
wcotom@yahoo.com.br
A religio sempre teve um papel de destaque na vida dos indivduos, principalmente no
que tange a formao de uma viso de mundo e de sua organizao. No caso da
juventude, por muito tempo a religio herdada dos pais, sempre teve enorme influncia
na forma com que os jovens viam e percebiam o mundo. Entretanto, nas ltimas
dcadas tem sido possvel perceber transformaes na forma com que os jovens e
expressam e reafirmam suas crenas religiosas. O presente trabalho pretende discutir o
lugar da religio na vida dos jovens, e como a juventude atual tem expressado sua
religiosidade. Para isso, utilizar-se- dados recentes do censo do IBGE sobre religio e
sua configurao na sociedade atual.
RELIGIOSIDADE E JUVENTUDE UNIVERSITRIA NA
AMRICA LATINA: reflexes a partir da Universidade Federal de
Minas Gerais/Brasil
PINHEIRO, Marcos Filipe Guimares (OTIUM-UFMG)
marcosfgpinheiro@gmail.com
Este trabalho pretende discutir as recentes alteraes no mbito religioso entre a
juventude universitria na Amrica Latina, sobretudo no contexto brasileiro, tendo
como ponto de partida a UFMG. Torna-se necessrio estudar como jovens de diferentes
credos religiosos articulam em suas experincias universitrias elementos do mundo
secular. Em perodos de ps-modernidade, um novo e revigorante flego vem sendo
dado s diferentes maneiras de se relacionar com o religioso. Mesmo entre jovens, em
dcadas passadas tidos como militantes polticos, desinteressados pela religio, ela est
bem viva e atuante, tanto na esfera privada quanto na pblica, revigorada em suas
diversas e mltiplas epifanizaes. At mesmo, e cada vez mais, no ambiente que se
cobrava ctico, racional e cientfico: as universidades. Essa cientificidade presente nas
universidades, extremamente valorizada, requerida e cobrada atualmente, pode ser
considerada reflexo de objetivos apresentados no ltimo sculo, poca tida como a da
razo. Perodo que buscava e anunciava uma hegemonia da cincia e maneiras de
explicar o mundo inteiramente desencantadas, j desprovidas da necessidade de apelo
magia, ao sobrenatural, s explicaes que escapam do controle racional. Entretanto, as
universidades brasileiras esto repletas de grupos religiosos que se renem para orar,
cantar, missionar, entre outros, ocupando diversos espaos. A universidade, enquanto
espao de desdobramentos de processos de escolarizao e de formao profissional,
sofre interferncias inmeras, de diversas ordens sociais, culturais e polticas. E dentre
essas, so afetados tambm pela religio, pelas crenas do indivduo, uma vez que a
religiosidade pode estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras disposies e
motivaes no ser humano; ajustar as aes, os comportamentos e conduzir condutas.
124
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
PESSOA E SOCIEDADE: dilogos e desafios antropolgicos
ROSA, Patrcia (UNESP)
patycorosa@hotmail.com
A presente pesquisa tem como tema as diferentes concepes de pessoa no pensamento
antropolgico. Buscaremos problematizar o conceito de pessoa presente em Marcel
Mauss com a discusso de Norbert Elias sobre a relao indivduo e sociedade,
convergindo, dessa forma, para um alargamento da categoria antropolgica outrora
proposta pelo etnlogo francs. Apesar de pertencerem a diferentes tradies
intelectuais, os autores concordam que os diversos aspectos inerentes ao indivduo
fsico, psquico, social e histrico operam a partir de uma interao entre si e com a
totalidade. Assim, tanto Mauss quanto Elias afirmam que o indivduo no pode ser
compreendido isoladamente e que sua relao com a sociedade a chave para a
discusso dessa temtica. Tal questo contemplada quando estamos em campo entre
os sujeitos dessa pesquisa: um grupo de religiosas da Ordem de Santa Clara
enclausuradas em um mosteiro localizado na cidade de Marlia, regio Centro-Oeste do
estado de So Paulo. Observando que o confinamento em uma instituio fechada
suscita uma reconfigurao de relaes, funes e papeis sociais, buscaremos
compreender a noo de pessoa para esse grupo a partir da relao indivduo e
sociedade, desnaturalizando, assim, o abismo que aparentemente existe no mundo
contemporneo entre ambos. Exploraremos a temtica em questo por meio da
Antropologia Interpretativa proposta por Clifford Geertz, no intuito de contribuir com
estudos para o campo das teorias antropolgicas.
PSTER
CANDOMBL EM LONDRINA: anlise histrica e social do processo
de luta e resistncia
BAPTISTA, Jamile Carla (UEL)
jamile_baptista@hotmail.com
Esse trabalho visa analisar a questo histrica e social dos terreiros de Candombl na
cidade de Londrina Paran. Partindo da premissa que a cidade em questo a ser
estudada tem sua formao no comeo do sculo XX, mais precisamente nos anos 30,
entendemos que Londrina est inserida em processo de colonizao tardia, esse
processo tem como caracterstica a grande presena negra em sua histria, esses negros
vieram para Londrina com a propagada realizada pra recrutar mo de obra. Fato notrio
e necessrio ressaltar que alguns negros que aqui chegaram trouxeram consigo as
religies de Matriz Africana, Candombl e Umbanda. Sendo assim esse trabalho visa
analisar a implementao das primeiras casas de Candombl na cidade e como essas
interagem com o espao e com o territrio em questo. A anlise tambm feita no
mbito das questes raciais, no qual, analisado qual a relao estabelecida pelos
Ylorixa e Babalorixa em relao ao posicionamento do preconceito sofrido na
implementao das casas. Por fim necessrio trabalho realizado um catlogo sobre os
terreiros e seu posicionamento geogrfico na cidade em questo. Esse levantamento foi
realizado nos ltimos dois anos e catalogado de maneira simples que do um sentindo
125
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
nessa pesquisa. Esse lavamento feito mediante as demandas solicitadas nos ltimos
anos sobre o estudo das religies de Matriz Africana no Brasil.
A cura pelas mos: A imposio das mos nas religies crists e no
Reiki
CAMARGO, Bruna Quinsan (UFSCar)
MESQUITA, Carla F. C. (UFSCar)
MARTINS, Marlia S. (UFSCar)
NUNES, Matheus C. (UFSCar)
GRUPIONI, Tatiana (UFSCar)
missquinsan@hotmail.com;
A imposio das mos utilizada por diversas crenas e religies como formas de
transmitir ou se ligar a uma Fora Maior. Ela pode estar relacionada cura (fsica,
psicolgica ou espiritual) ou ao pedido de que todas as coisas cooperem para o bem
daquele que a recebe. No catolicismo e no pentecostalismo a imposio das mos
usada na bno, e no espiritismo usada no passe. Tambm se faz uso dela na prtica
do Reiki. A bno entendida de forma diferente em cada onda do Pentecostalismo e
no Catolicismo, mas todas tm como base as palavras do Evangelho, que dizem que
Jesus curava com as mos e que seus apstolos deveriam fazer o mesmo. Em meu
nome expulsaro os demnios; falaro novas lnguas; pegaro nas serpentes; e, se
beberem alguma coisa mortfera, no lhes far dano algum; e poro as mos sobre os
enfermos, e os curaro. (Marcos 16:17-18). No Catolicismo e no Pentecostalismo a
bno pode ser entendida como uma ligao entre Deus e seus fiis para que sejam
realizadas obras nas suas vidas. O Sacerdote exerce a funo de canal entre Deus e o fiel
e pela imposio de suas mos derramada a uno divina. O passe esprita realizado
a partir da imposio das mos sobre o paciente, para transmitir energia do passista, das
espiritualidades ou da soma de ambos com a finalidade de cura.O Reiki consiste na
transmisso da Energia Universal pela imposio das mos do Mestre para o paciente,
com o intuito de cura de enfermidades e disfunes. H divergncias e convergncias
entre essas formas de cura pela imposio das mos. O Mestre Reiki, assim como o
Sacerdote cristo, serve como um canal, o que diferencia o Reiki e a bno do passe,
pois neles a energia vital do mestre e do sacerdote no transmitida, mas sim a Energia
Universal e o Esprito Santo.
126
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso II: Mudanas e Controvrsias Evanglicas
Dia 27/08/13 s 14h
Debatedora: Dr. Claudirene Aparecida de Paula Bandini (UFSCar)
NEOPENTECOSTALISMO E A ESCOLA DO AMOR: o papel das
representaes de gnero para o projeto-poltico- assistencial da Igreja
Universal do Reino de Deus (IURD)
AZEVEDO, Pedro Costa (UENF)
BARBOSA, Julia Guimares (UENF)
pedro.zevedo@gmail.com, julia.lua.morena@gmail.com
FAPERJ
O presente trabalho surge a partir de reflexes obtidas durante a realizao da pesquisa
iniciada no ano de 2009 intitulada Aes assistencialistas e atuao poltica:
consideraes sobre a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em Campos dos
Goytacazes-RJ. Buscamos, sobretudo a partir da observao etnogrfica, identificar os
artifcios utilizados para a composio de um projeto poltico/assistencialista iurdiano.
A consolidao desse projeto converge na configurao de uma agenda religiosa
voltada para mobilizao de diversos temas que possibilitem o proselitismo
denominacioal o qual se estrutura atravs da elaborao de discursos que fortalecem e
valorizam determinadas prticas sociais. O programa The Love of School torna-se ento
um campo de investigao para entendermos melhor como se configuram as identidades
de Gnero vinculadas pela IURD. possvel identificar o papel estratgico na
consolidao da ideia de famlia calcada no modelo patriarcal, e dentro dele o papel da
mulher como mantenedora dos laos matrimoniais. No mundo ocidental, a construo
da identidade feminina, entendida como construo de gnero, efetivou-se em grande
parte dentro dos quadros de pensamento cristo, tendo como referncia fundamental a
sexualidade. Embora se dirijam a todos os cristos homens e mulheres e a castidade
e a abstinncia sejam recomendadas para ambos, percebe-se no discurso da IURD a
construo de um modelo desejado de identidade feminina ancorado na negao da
sexualidade. Atrelado honra masculina, o padro de comportamento sexual requerido
para as mulheres ainda se define por aquelas antigas noes de recato e pudor, tendo
como consequncia a desqualificao moral daquelas que no os seguem, com
consequncias prticas sobre seus direitos como cidados (Lima, 2005).
CONCEPO DE CULTURA E RELIGIO DE GEERTZ
APLICADA ANLISE DO NEOPENTECOSTALISMO
CESARINO, Flavia Tortul (UNESP)
flaviacesarino@yahoo.com.br
O Protestantismo tem sido alvo de diversos estudos h algum tempo, porm, a
continuidade dos mesmos se faz necessria devido ao grande nmero de adeptos que
tm crescido nas duas ltimas dcadas no Brasil. Segundo dados obtidos pelo Censo do
127
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
IBGE de 2010, os evanglicos no Brasil j somam 22,2% da populao, sendo que 60%
deles so de origem pentecostal, 18,5% evanglicos de misso e 21,8% evanglicos no
determinados.
Observa-se assim que as Igrejas Pentecostais e as Igrejas
Neopentecostais concentram o maior nmero de fiis. O fenmeno social a ser
analisado neste trabalho o Neopentecostalismo, alvo de diversas classificaes, objeto
de apropriaes e sincretismos que nos remetem prpria cultura brasileira, isto , este
fenmeno uma expresso cultural que possui influncias estrangeiras (como ser
observado no conjunto de suas prticas religiosas e sua origem histrica), mas, para que
se possa compreender a construo do Neopentecostalismo, fruto da cultura brasileira,
necessrio primeiro compreender o conceito de cultura, neste caso, no sentido
antropolgico, ou seja, desde a origem da utilizao do conceito pelos antroplogos
evolucionistas, at a interpretao mais moderna do conceito de Cultura cunhado por
Clifford Geertz, e tambm como o mesmo concebe o conceito de Religio, para que se
possa analisar o Neopentecostalismo sob a tica deste autor. Alm disso, o prprio
Neopentecostalismo bem como sua caracterizao tambm sero alvo de investigao
neste artigo, tendo como base o pensamento do socilogo Ricardo Mariano. Portanto,
atravs de pesquisa bibliogrfica e analtica, isto , com um bom arcabouo terico, este
trabalho tem por objetivo compreender principalmente os conceitos de cultura e religio
de Clifford Geertz, com o auxlio do dilogo com alguns autores, tais como com um
comentador de Tylor e Franz Boas, o prprio Tylor e Durkheim, para interpretar este
fenmeno social to em voga atualmente, que o Neopentecostalismo.
NOVA TOLERNCIA INTOLERANTE: MUDANAS DE
RELAES DE GNERO NAS ASSEMBLEIAS DE DEUS
COSTA, Otvio Barduzzi Rodrigues da (Universidade Metodista)
adv.otavio@ymail.com
IEPG
A inteno deste trabalho mostrar as mudanas ocorridas no cenrio Pentecostal
Brasileiro em especial as Assembleias de Deus. Para ser mais especifico h de se
mostrar aqui as mudanas diversas relacionadas aos costumes, teologia, tica e rituais
que as Assembleias de Deus e algumas igrejas que se espelham nelas esto passando.
Em especial enfocar-se- nesse trabalho as mudanas em relao a gnero, tais como
ordenao de pastoras, mudanas no sentido familiar do papel da mulher, mudana nos
sentido miditico, mudanas no discurso, na valorizao da mesma dentre outros
apontamentos de gnero do que era h 15 anos atrs e de como agora. O objetivo
apontar as diversas mudanas que esse grupo tem passado e mostrar as causas e
influencias tais como a mdia e a teologia da prosperidade tem se infiltrado em
organizaes religiosas que antes no aceitavam tais influencias. Ocorre que tais
influencias tiveram um impacto grande nas relaes de gnero que pretendem ser
apontadas, mas no esgotadas. A metodologia usada observao participante.
Chegamos concluso de que os autores tradicionais no mais alcanam as rpidas e
diversas mudanas pelas quais estas instituies tm passado, sem o entanto
desconsiderar a grandessssima contribuio deles, porm necessrio se faz, ao analisar
o fenmeno do pentecostalismo novas lentes de pesquisa.
128
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
A TEOLOGIA DA PROSPERIDADE E A IGREJA UNIVERSAL DO
REINO DE DEUS
GALLO, Fernanda Vendramini (UEL)
nanda-gallo@hotmail.com
CNPq
Este trabalho consiste em um estudo sobre a Igreja Universal do Reino de Deus,
denominao do segmento protestante neopentecostal cujo crescimento um dos mais
significativos no Brasil. O estudo foi realizado na cidade de Londrina mediante anlise
dos dados coletados em campo, uso de material bibliogrfico e entrevista com o Bispo
da Universal desta cidade. A pesquisa parte do pressuposto que as diversas
modificaes no campo religioso brasileiro, como a desmonopolitizao da Igreja
Catlica, a conquista da liberdade religiosa e sua acentuada pluralidade, permitiram a
outras organizaes religiosas se expandirem e buscarem legitimidade social e
estabelecimento de uma presena institucional. A Igreja Universal do Reino de Deus
um exemplo que, por meio da sua influncia religiosa e dos seus poderes econmico e
poltico, bem como pela utilizao dos meios de comunicao, soube explorar o meio
cultural e socioeconmico em que estava inserida, conseguindo consolidar sua
organizao religiosa e conquistar sua legitimidade social. Deste modo, aps as anlises
e interpretaes sobre a construo do discurso iurdiano e da teologia da prosperidade,
possvel entender que a atuao desta igreja torna-se mais atraente dentro da diversidade
religiosa brasileira e conquista mais fiis por se adequar a sociedade de consumo.
A RELIGIOSIDADE EVANGLICA E O NEOLIBERALISMO:
relaes de interdependncia
MORAIS, Edson Elias de (UEL)
edson_londrina@hotmail.com
CAPES
Discutimos neste artigo a religio enquanto fenmeno social que se manifesta
dialeticamente com a sociedade, isto , mantm uma relao de influncia permanente
com a sociedade e influenciada por ela. Analisamos a religiosidade evanglica
contempornea a partir da contribuio da sociologia da religio. Procuramos perceber o
grau de influncia existente entre essa religiosidade e a realidade brasileira, marcada
pela desigualdade poltica, econmica e social, mas que est imbuda pela ideologia do
neoliberalismo, que prega riqueza, individualismo e competio. Para isso,
fundamentamo-nos na perspectiva do materialismo histrico, que tem por princpio
explicativo a contradio, mas no desconsideramos as questes subjetivas envolvidas
nas religiosidades. Nosso objeto foi a religiosidade evanglica contempornea, na
qual procuramos perceber, diante da pluralidade de manifestaes, uma caracterizao
singular. Para isto, fizemos observao de campo nos cultos e entrevistas com os
pastores em segmentos distintos a priori, localizados em Londrina-PR, dos quais
selecionamos a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Nova Aliana, a Igreja Presbiteriana
do Brasil e a Igreja Universal do Reino de Deus, e comparamos os discursos
para perceber em que medida o neopentecostalismo tem sido assimilado por outros
segmentos evanglicos. A partir disto, entendemos que as igrejas evanglicas no
podem mais ser classificadas como unidades identitrias, mas preciso considerar as
129
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
singularidades locais de cada denominao, percebendo com isso o esgotamento das
tipologias clssicas. Compreendemos que a caracterstica das igrejas evanglicas tem
sido o que denominamos de religiosidade neopentecostal meta-institucional, uma
religiosidade focada no individualismo emocional e em questes morais.
A RELIGIO NA SOCIEDADE CONTEMPORNEA: o caso da
relao imigrao-pentecostalismo
RODRIGUES, Donizete (UBI- Portugal)
donizetti.rodrigues@gmail.com
A religio determinante para a compreenso da vida social, das prticas institucionais,
para entender as experincias quotidianas e os processos de mudana social, numa
escala local, nacional e global. O fenmeno migratrio internacional extremamente
importante na criao, expanso, disperso e globalizao dos novos movimentos
religiosos, com um grande destaque para as igrejas (neo) pentecostais, abrangendo o
tringulo religioso Amrica Latina-Estados Unidos-Europa. O processo de globalizao
e os grandes fluxos migratrios transcontinentais provocam significativas mudanas
sociais, culturais, religiosas e identitrias. A principal consequncia deste fenmeno
migratrio que as sociedades contemporneas esto cada vez mais plurais, do ponto de
vista tnico, cultural e religioso. A forte expanso pentecostal a partir da Amrica
Latina para os Estados Unidos e Europa ocorre dentro da denominada reverse mission.
Surgidas a partir do trabalho de evangelizao do Protestantismo europeu e Pentecostal
norte-americano, as igrejas evanglicas, principalmente brasileiras, consideram-se
responsveis pela importante misso divina de (re)cristianizar os Estados Unidos, que
se desviaram da moral e da prtica protestante e a Europa, que passa por um forte
processo de secularizao/laicizao. O modelo de expanso mundial pentecostal segue
normalmente as disporas imigratrias, partindo das regies perifricas (como a
Amrica Latina) para reas centrais, nomeadamente EUA/Canad, Europa e Japo. No
caso especfico do Pentecostalismo brasileiro, a expanso ocorre atravs do forte fluxo
imigratrio brasileiro, mas tambm atravs de missionrios (catlicos e principalmente
protestantes) para essas regies mais desenvolvidas que, extrapolando a fronteira
tnica brasileira, atuam com outros imigrantes e tambm com nacionais.
COMUNIDADE QUILOMBOLA DEZIDRIO FELIPPE DE
OLIVEIRA: compreendendo porque as igrejas evanglicas foram bem
recebidas pelo grupo
SARUWATARI, Gabrielly Kashiwaguti (UFGD)
gabbi_ks@yahoo.com.br
CAPES
Temos visto que o movimento pentecostal e as suas igrejas tm crescido
significativamente nas ltimas dcadas no Brasil. Este fenmeno religioso j alcanou
algumas comunidades tradicionais como os de remanescente dos quilombos. A exemplo
disto, na cidade de Dourados no Mato Grosso do Sul, existe em sua zona rural uma
comunidade quilombola cuja converso s igrejas evanglicas se deu com quase todos
130
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
os seus membros. O reconhecimento da comunidade enquanto remanescente de
quilombos aconteceu em 2005 quando seus membros j haviam se tornados
evanglicos. Anteriormente catlicos, o grupo chegou a celebrar por dcadas a festa
de Folia de Reis, em homenagem a So Sebastio, o padroeiro da comunidade.
Atualmente, a festa no acontece mais e a Igreja que mais se destaca dentro da
comunidade a Adventista do Stimo Dia. A famlia com o maior poder poltico
perante os de fora a que frequenta esta igreja e, realiza h muitos anos, seus cultos
de modo peculiar: na varanda de suas casas e sem a presena de pastores. Esta mesma
famlia foi nica que no se dispersou para o centro da cidade nem para outras
cidades, permanecendo todos no territrio. Portanto, o que se objetiva neste trabalho
entender o papel social e tambm poltico que a igreja, principalmente a Adventista do
Stimo Dia, tem desempenhado na vida desses indivduos. Pois, para o que est sendo
proposto, se faz fundamental compreender como a religio tem contribudo para a
manuteno e coeso da comunidade. Os dados recolhidos em campo tm mostrado que
a nova religio representou melhoras significativas seja na sade, na educao e na
socializao do grupo entre outros aspectos. Tais consideraes podem, tambm,
contribuir para o entendimento de outros grupos e sociedades tradicionais como esta.
PSTER
AGNCIA E PENTECOSTALISMO: uma anlise das relaes de
gnero na Assembleia de Deus dos ltimos Dias (ADUD)
CARVALHO, Joyce Gomes de (UFRRJ)
joyceufrrj@yahoo.com.br
FAPERJ
Este trabalho tem como objetivo analisar as relaes de gnero na Igreja Evanglica
Assembleia de Deus dos ltimos Dias, localizada na Baixada Fluminense (RJ). O
recorte de gnero surge a partir do cenrio na ADUD: expressivo nmero de homens na
composio de membros. Tendo em vista que historicamente as igrejas pentecostais
possuem na composio de seus membros maior predominncia de mulheres, esse
fenmeno pode ser compreendido a partir do trabalho missionrio (ou resgate, como
usado pelas lideranas e membros) desenvolvido em presdios e comunidades de baixa
renda do estado. A existncia de tenses no campo dos estudos de gnero, no que tange
a esfera religiosa, est em se pensar presena de um conservadorismo religioso, que
por vez, reflete na negao da liberdade das mulheres, acionando o status quo de
irracionalidade. Esse vis analtico corrobora, at certo ponto, em minha anlise, que
parte do pressuposto de que as doutrinas, previamente institudas pela ADUD,
reproduzem uma prtica normativa que determinam a partir do sexo, o desempenho de
papeis de gnero, reproduzindo a hierarquizao das relaes sociais. Porm, o esforo
reflexivo busca trazer para a discusso o conceito de agncia abordado em paralelo ao
conceito de resistncia, como chave interpretativa para as relaes de gnero observadas
na ADUD, distanciando-se da leitura interpretativa realizada sob a tica feminista.
131
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
ESTUDO DA RELAO DE ADAPTAO NAS DIFERENTES
VERTENTES DO PENTECOSTALISMO BRASILEIRO: anlise da
Igreja da Onda de Cura Divina Deus Amor e da Onda
Neopentecostal Igreja Universal do Reino de Deus
SABADIN, Ana Carina (UFSCar)
SANTANA, Heythor (UFSCar)
TAVARES, Laila (UFSCar)
FRAGALLE, Letcia (UFSCar)
MAGALHES, Marina (UFSCar)
ANTONI, Pietro (UFSCar)
DE PAULA, Raul (UFSCar)
ana.kina@hotmail.com, heythor_49@hotmail.com, laila_tavares@hotmail.com,
leticiafragalle@me.com
marih_magalhaes@hotmail.com, rat0o_@hotmail.com, raul_depaula@hotmail.com
A partir dos resultados do Censo Demogrfico realizado pelo IBGE em 2010, obteve-se
mais uma comprovao da consolidao do crescimento da populao evanglica no
pas, sendo que, a maioria das pessoas que se declarara evanglica, so de origem
pentecostal. Apesar da origem em comum, o Pentecostalismo brasileiro segmentado,
havendo, alm de diferenas na pregao, concorrncia entre as diferentes vertentes.
Paul Freston escreve sobre trs principais ondas que surgiram em contextos histricos
especficos: a Clssica, a Cura Divina e a Neopentecostal termo criado por Ricardo
Mariano. Este trabalho tem como principal objetivo a realizao de uma anlise da viso
das Igrejas da Cura Divina em relao s Igrejas Neopentecostais, e como elas se
adaptaram para no perderem fiis para a terceira onda. Para isso, usar-se- como base
para a pesquisa, alm da pesquisa bibliogrfica, a realizao de estudos de casos em
duas Igrejas pentecostais na cidade de So Carlos/SP: a Igreja da onda de Cura Divina
Deus Amor e a da onda Neopentecostal Igreja Universal do Reino de Deus.
Sesso III: Diferentes Faces do Catolicismo
Dia 28/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Flvio Munhoz Sofiati (UFG)
LINGUAGEM E GESTOS NA GLOSSOLALIA: o falar em lnguas
como experincia e crena religiosas em uma Comunidade da
Renovao Carismtica Catlica
ALMEIDA, Detian Machado de (UNEB)
SOUZA, Sueli Ribeiro Mota (UNEB)
detian@gmail.com, sumota@oi.com.br
O falar em lnguas estranhas um fenmeno que pode ser encontrado em diversas
comunidades religiosas. Neste estudo, a glossolalia entendida como linguagem e
gesto, onde o corpo participa ativamente da aprendizagem do fenmeno e da
132
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
experincia vivenciada da pessoa. Objetivo: descrever a cena de uma manifestao do
falar em lnguas enquanto experincia religiosa em um grupo da Renovao Carismtica
Catlica da Parquia Nossa Senhora do Resgate, no Bairro Cabula, na cidade de
Salvador, Bahia e descrever a glossolalia enquanto crena religiosa do grupo. Segundo
Durkheim, as crenas religiosas fazem parte de um sistema de ideias e hbitos que
fazem exprimem nas pessoas o grupo ao qual faz parte. Mtodo: para a descrio da
cena, foram observadas as disposies corporais que constituam a cena no momento da
glossolalia. Tambm foram percebidos o habitus presente no grupo, bem como a
descrio fontica fonolgica. Resultados: foram percebidas disposies corporais que
demarcavam a hierarquia dos atores presentes nas cenas. Havia gestos similares, que
constituam um habitus do grupo. No campo fontico fonolgico, foi detectada a
predominncia das consoantes lquidas /l/ e /r/. Concluses: Notou-se que, mesmo cada
membro tendo sua prpria experincia no falar em lnguas, houve pontos em comum no
campo dos gestos e da linguagem. H, portanto, uma modelagem corporal, um habitus,
no grupo estudado. Por fim, pode-se dizer que a glossolalia faz parte da crena religiosa
do grupo, uma vez que o grupo a reconhece enquanto marcadora do Esprito Santo
posto em movimento.
OS FILHOS DE FRANCISCO: gnero/poder nas ordens catlicas
de Marlia-SP
BERTO, Vanessa de Faria (UNESP)
vanessafberto@ig.com.br
Atravs do dilogo interdisciplinar entre a Antropologia, a Sociologia, a Histria, o
presente projeto, que se refere minha atual pesquisa de doutorado, toma por base o
mundo de significados que emerge do cotidiano das Congregaes Catlicas do
municpio de Marlia-SP e procura refletir acerca da construo das identidades do
feminino e do masculino e suas mltiplas implicaes nas mais diversas instncias do
social, pressupondo articulaes entre prticas culturais, estruturas sociais e relaes de
poder. A pesquisa se prope a entender as dinmicas das relaes de gnero dentro de
congregaes catlicas de uma determinada sociedade (no caso, a cidade de Marlia-SP)
espaos onde decises polticas so tomadas e captar os processos invisveis dos
quais homens e mulheres, membros do clero catlico, utilizam para subverter os
diversos obstculos que inevitavelmente se interpem em seus caminhos, antes de
alcanar os nveis nos quais a influncia e a autoridade so exercidas. Enfim,
compreender a forma como clrigos e clrigas estabelecem relaes no mbito religioso
e pblico, como transpassam a barreira do permitido pelas representaes culturais e
o quo custoso significa romper com o tradicional.
IGREJA CATLICA E SECULARIZAO POLTICA: as
tentativas eclesisticas de controle dos corpos e dos sexos
COSTA, Guilherme Borges Ferreira (USP)
guibc@uol.com.br
O foco desta investigao est em observar, sociologicamente, algumas possibilidades
que a obra de Foucault nos fornece para uma histria do presente dos atuais
posicionamentos polticos da hierarquia catlica, especificamente no que tais
133
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
posicionamentos concernem efetivao ou no de direitos sexuais e reprodutivos no
Brasil. Trata-se de mostrar a utilidade investigativa do arcabouo conceitual
foucaultiano para uma anlise da atitude clerical atual em relao a esses novos campos
de legalidade, no interior dos quais entra em jogo a competncia dos sujeitos na
conduo de seus afetos. Mas no s o trabalho de Foucault parece ser timo para uma
pesquisa dos posicionamentos catlicos sobre sexo e reproduo, como tambm parece
ser de grande valia quando a ideia observar as razes pelas quais a Igreja Catlica do
pas perde gradativa influncia na regulao sobre esses campos. No contraste esboado
por Foucault entre as formas de subjetivao da Antiguidade e do cristianismo - e na
articulao desse contraste para uma caracterizao do que constitui o ethos da
modernidade -, encontra-se a todo um novo filo para se pensar temas como
secularizao e laicizao latino-americanas por vias no convencionais.
ENTRE A EXPERINCIA E A RELIGIO: comparando Brasil e
Portugal por meio das viglias de carismticos catlicos
FEITOSA, James de Sousa (UNESP)
jamesfeitosa@ig.com.br
A presente pesquisa, que perpassar a Renovao Carismtica Catlica (RCC) em
Portugal, parte de uma pesquisa principal que tem como objeto as viglias de orao
nos montes realizadas por carismticos catlicos em algumas cidades do Brasil. No
mbito brasileiro, a pesquisa tem interpretado as viglias como experincias religiosas
relativas s situaes e performances liminares, prprias de uma contemporaneidade
marcada por tenses entre o tradicional e o novo, em que se ressignificam e se
reinterpretam aspectos presentes no campo religioso. Considerando o mesmo contexto
contemporneo, a pesquisa ter como objetivo central observar a presena ou ausncia
de situaes e performances liminares como as viglias nos montes por parte de
carismticos catlicos portugueses, para que se possa, em seguida, fazer comparaes
entre os dois pases e tentar melhor compreender o fenmeno na realidade brasileira.
Sabe-se que a religio um universal cultural, mas sua vivncia e forma tm diferentes
expresses em cada cultura. Nesse sentido, prope-se uma anlise comparativa entre o
catolicismo carismtico brasileiro, centrado na experincia liminar e performtica, em
que a figura do leigo ganha destaque e o lao hierrquico frouxo, permitindo inclusive
o surgimento de viglias nos montes, e, o universo carismtico portugus,
essencialmente religioso, tradicionalista, caracterizado por uma forte nfase devocional
no ritual litrgico, de um contexto em que o movimento carismtico tem pouca
penetrao na hierarquia e com fronteiras estabelecidas com os evanglicos.
134
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
REPRESSO E CENSURA AO SEMINRIO CATLICO O SO
PAULO (1972-1978): as demandas populares fomentadas pela
Teologia da Libertao
LANZA, Fabio (UEL)
GUIMARES, Luiz Ernesto
NEVES JR, Jos Wilson A.
BRITO, Anderson Pereira
CORRA, Vincius Soares
lanza1975@gmail.com, pr.ernesto@gmail.com, zehf_66@hotmail.com,
anderson.britouel@gmail.com
vinisofia@hotmail.com
O presente trabalho analisa a partir da pesquisa documental as matrias censuradas do
jornal O So Paulo, meio de comunicao impresso e semanal da Arquidiocese de So
Paulo. Na dcada de 1970 os governos vinculados Ditadura Militar instalaram a
censura prvia na Edio dO So Paulo, essa fase estava vinculada ao governo de
Dom Paulo E. Arns frente Arquidiocese de So Paulo. Sob a gide da Teologia da
Libertao houve a busca de entender e formular respostas s novas demandas oriundas
da cidade que se constitua, paradoxalmente, com a riqueza e a pobreza, tendo em vista
o crescimento econmico e as mazelas sociais. Nesse contexto o discurso de lideranas
catlicas ligadas Teologia da Libertao, vis religioso que foi elaborado na Amrica
Latina a partir da dcada de 1960 e que buscou estabelecer uma anlise crtica uma
sociedade cujas desigualdades sociais eram facilmente evidenciadas nas matrias
censuradas do Semanrio. As anlises das fontes documentais trazem uma crena
religiosa distante dos valores do catolicismo romanizado. Na perspectiva da Teologia da
Libertao, religio e poltica estabeleceram maior proximidade na Amrica Latina,
uma parte do clero e dos telogos da libertao propunham um novo formato de Igreja,
buscando uma identidade a partir das demandas populares, que no jogo poltico
institucional foi desvalorizado e no obteve apoio do discurso oficial do Vaticano.
Pode-se concluir que houve uma releitura e valorizao da Declarao dos Direitos
Humanos (ONU-1948), em que o Brasil e o Vaticano so signatrios, em favor da
ruptura com a poltica de Segurana Nacional e a represso aos movimentos sociais:
trabalhadores, estudantes, associaes de bairro, indgenas e trabalhadores rurais.
O EMPREENDEDORISMO ECONMICO-TELEVISIVO NO
CATOLICISMO BRASILEIRO
PLACERES, Giulliano (UFSCar)
giulliano14@hotmail.com
A religio um fenmeno com significativa presena na sociedade contempornea,
cujas formas de manifestao aumentaram e se diversificaram. Empreendimentos como
emissoras de televiso, rdio e portais da internet fazem com que a maioria das
instituies religiosas no se estabeleam somente em suas estruturas fsicas na busca
por mais adeptos. H um conjunto de relaes sociais e econmicas envolvidas nesse
processo. As vastas redes de indivduos interligados na comunicao social
compreendem clrigos e leigos voluntrios, profissionalizados e empresrios de
negcios miditicos. Este trabalho se volta para os principais veculos comunicativos
135
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
catlicos, do ponto de vista econmico, enfocando seus lderes e grupos empresariais
envolvidos. A pesquisa envolve os principais aspectos das relaes sociais estabelecidas
nesses empreendimentos e a partir deles, bem como o que eles representam para a Igreja
Catlica no contexto do mercado religioso brasileiro.
FORMAO SACERDOTAL E TRABALHO RELIGIOSO NO
UNIVERSO CATLICO
ROSSI, Renan (UFSCar)
rossi.cso@hotmail.com
Para a sustentao ou expanso de uma igreja dentro de um campo ou mercado
religioso, uma das coisas mais importantes que esta igreja - alm de manter ou mesmo
expandir seus espaos fsicos e suas fileiras de seguidores -, venha tambm a garantir
um quadro de ministros razovel para atender s suas prprias demandas e a de seus
fiis. A manuteno de um quadro de sacerdotes ministeriais no se limita a ter certo
nmero de "pastores" ou "padres" para cumprir com os trabalhos religiosos,
administrativos ou de aconselhamento interpessoal, mas encerra a qualificao desta
mo-de-obra ministerial, de modo que os funcionrios do Sagrado possam atender a
estas demandas com competncia o bastante, a ponto de cativar "as almas" dos
seguidores (efetivos ou em potencial) daquela igreja, de tal forma que estes no se
sintam "tentados" a procurar outra denominao religiosa que possa lhes oferecer
servios religiosos mais adequados s suas necessidades. Neste ponto se d a
importncia da formao dos futuros sacerdotes. A comunicao oral aqui proposta trata
das especificidades da formao dos sacerdotes catlicos que compem o clero secular
(ou diocesano). A partir da experincia da Diocese de So Carlos/SP, procura-se nesta
comunicao analisar quais as dinmicas, configuraes, atores e conjunturas que
envolvem as instituies educacionais referentes ao processo de formao presbiteral
catlica; no caso, os institutos de Filosofia, os seminrios e as casas de formao.
IMPLICAES DO TRABALHO ASSISTENCIAL DE DUAS
ENTIDADES CATLICAS PAULISTAS
SILVA, Mariana Gama Alves da (UFSCar)
ma_gama_182@hotmail.com
O termo terceiro setor relativamente novo no Brasil e significa a mescla de trabalho
voluntrio com atividade remunerada, portanto um setor que se situa entre o pblico e o
privado. Nesse setor, boa parte das iniciativas assistenciais realizada pela Igreja
Catlica, que viu seu espao diminuir com a entrada de iniciativas de outras instituies
religiosas e com o aumento de servios estatais nessa rea. Portanto, analisar o modo
como essas diferentes instituies em conjunto com o setor pblico vem atuando no
terceiro setor contribui para compreender a presena e evoluo da religio na esfera
pblica. Esse trabalho discute aspectos de entidades assistenciais originadas de
instituies crists brasileiras, tendo o foco em duas entidades catlicas: o Arsenal da
Esperana e a Instituio Padre Haroldo Rahm. Aborda o dia-a-dia dessas entidades, os
servios prestados, trabalho e a motivao dos voluntrios, bem como sua atuao junto
em fruns e redes de organizaes na esfera pblica.
136
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
PSTER
AS JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE E A EXPANSO DO
TURISMO RELIGIOSO
MORENO, Pedro (UFSCar)
pedroacmoreno@gmail.com
O presente trabalho elucida o panorama da realizao das Jornadas Mundiais da
Juventude (JMJ) a partir das ltimas experincias, em Sidney (Austrlia - 2008) e Madri
(Espanha - 2011), porm com foco fundamental na edio do Rio de Janeiro (Brasil 2013). Esse movimento, iniciado em 1986 pelo papa Joo Paulo II em Roma, ganhou
fora e importncia no calendrio cclico de eventos da Igreja Catlica. Passou a reunir
milhes de pessoas nas cidades sede em cada edio. Esse cenrio conformou uma
oportunidade mpar de fluxos de investimentos e ganho de influncia na batalha do
mercado religioso. Em 2013 no Rio de Janeiro, segundo expectativa do comit de
organizao local, espera-se em torno de dois milhes e meio de jovens de todas as
regies do Brasil e do mundo, pblico e movimentao financeira que equiparam a JMJ
aos demais grandes eventos que acontecero no Brasil, como a Copa do Mundo de
futebol e os Jogos Olmpicos. A transio e as esperadas transformaes do controle da
Igreja Catlica alm da primeira viagem apostlica do papa Francisco, primeiro
pontfice latino-americano, motivam ainda mais os chamados peregrinos. A escolha do
Rio como a sede da JMJ carrega consigo inmeros significados, pois segundo dados do
Censo-IBGE de 2010 verificou-se elevao no nmero de protestantes e dos que se
declaram "sem religio" no estado. Diante desses fatores, o trabalho busca interseces
entre o fenmeno religioso e prticas empreendedoras e comerciais, tendo em vista a
concomitante realizao da "Expocatlica", maior feira empresarial do seguimento
catlico. O trabalho aborda ainda a estrutura preparatria e os negcios de turismo
voltados a atender esse mercado em franca expanso e organizao no Brasil, alm dos
interesses e relaes das esferas de governo com o evento.
RENOVAO DO CATOLICISMO BRASILEIRO, ADAPTAO
AO MERCADO RELIGIOSO E APROPRIAO DE PRINCPIOS
EVANGLICOS NA MISSA TRADICIONAL
OLIVEIRA, Heythor Santana de (UFSCar)
OLIVEIRA, Christian Dennys Monteiro de (UFC)
heythor_49@hotmail.com
A igreja catlica, assim como outras instituies sociais, se adapta as alteraes trazidas
pela modernidade decorrente do sculo XX, com a expectativa de renovar e manter seu
quadro de padro de fieis. Cria-se assim, uma tenso entre tradio e modernidade
repercutindo em alteraes no catolicismo. Esse trabalho debate sobre o carter
permevel do catolicismo, no recorte brasileiro, decorrente das transformaes
estruturais do sculo XX e XXI, e da aproximao da igreja catlica a alguns princpios
da crena evanglica. A decorrente perda de fiis catlicos para as igrejas de origem
evanglica em territrio brasileiro obriga o catolicismo a buscar uma apropriao de
algumas caractersticas tpicas dos cultos Pentecostais e neopentecostais, afastando
alguns princpios da missa do catolicismo tradicional, como forma de atrair fiis. Assim
ser analisada a reformulao da prpria missa catlica tradicional, principalmente
sobre a vertente da relao evanglica com a renovao carismtica da Igreja catlica.
137
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Essas modificaes sero descritas e analisadas sobre a formulao dessas novas
caractersticas do catolicismo brasileiro atravs da anlise bibliogrfica que debate sobre
o assunto, derivado da perspectiva de alterao estrutural descrita por essas
modificaes. Para entender essas modificaes ser feito um estudo de caso sobre a
Arquidiocese da cidade de Fortaleza CE. Esse recorte foi escolhido, pois Fortaleza
exemplo de uma arquidiocese que foi liderada por Aloisio Loicheider (nomes de
referncia da teologia da Libertao no Brasil), e agora tem fortes movimentos
carismticos como o Shalom e a face de Cristo.
PRESENA INSTITUCIONAL CRIST NO CONJUNTO DE
ENTIDADES TERAPUTICAS DE TOXICMANOS
ROSA, Lucas Rogrio (UFSCar)
lucas3886@gmail.com
O trabalho assistencial na sociedade brasileira ainda significativamente marcado pela
presena crist. A Igreja Catlica foi precursora das atividades assistenciais neste pas,
bem como em muitos outros. Ela proveu educao, sade e assistncia social,
permanecendo quase absoluta nesse campo at o final do sculo XIX, quando o Estado
comeou a se responsabilizar de fato por tais servios pblicos. Mesmo perdendo
espao, a igreja prossegue realizando trabalhos assistenciais, disputando espao tambm
nesse quesito com denominaes evanglicas e instituies espritas kardecistas. As
entidades assistenciais religiosas compem com outras seculares o chamado terceiro
setor e esto no escopo do projeto de pesquisa Cristianismo no Brasil em suas feies
econmicas e assistenciais com derivaes polticas, apoiado pela FAPESP, do qual
este trabalho decorre. O trabalho advm do levantamento e da anlise da presena de
entidades assistenciais catlicas, evanglicas e espritas na Federao Brasileira de
Comunidades Teraputicas (FEBRACT), e tambm no Senso das Comunidades
Teraputicas no Brasil, realizado pela Secretaria Nacional de Polticas sobre Drogas
(SENAD). Avalia-se as peculiaridades e similitudes das entidades religiosas nesse
universo de organizaes no governamentais.
Sesso IV: Religio e Poltica
Dia 28/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Antnio Mendes da Costa Braga (UNESP/Marlia)
REDE DE MULHERES DE TERREIRO DE PERNAMBUCO:
Estado, polticas pblicas e religies afro-brasileiras
ALCHORNE, Murilo de Avelar (UFPE)
malchorne@uol.com.br
Buscaremos fazer uma reflexo da relao entre religies afro-brasileiras e poltica no
Brasil contemporneo a partir da Rede de Mulheres de Terreiro de Pernambuco
(REMTEPE), surgida em 2006, em um esforo conjunto do Movimento de Mulheres
Negras/MNU. A REMTEPE vem ocupando um espao significante que perpassa todos
138
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
os nveis governamentais, resultando do impacto de polticas pblicas de combate
desigualdade racial implementadas durante o governo Lula, que estabeleceram, como
uma das prioridades, as questes das religies de matriz africana e comunidades de
terreiro, dentre as quais, priorizando o Candombl. As religies afro-brasileiras
estariam hipoteticamente em um caminho atravs do qual podem deixar de ser vistas e
valorizadas apenas no nvel cultural simblico, para se constituir em um espao poltico
impulsionador de mudanas significativas na posio relativa dos segmentos negros e
mestios da populao na estrutura social do Brasil. Assim, buscaremos compreender o
significado da relao entre a REMTEPE-Estado brasileiro a partir de duas questes
perenes na histria brasileira, mas que possuem especificidades no presente: 1) o
problema da integrao do negro e das religies afro-brasileiras na sociedade de
classes e no Estado democrtico, e 2) o Candombl como construo de frica, essa,
elemento central na constituio de uma identidade racial-nacional brasileira, que serve
tanto para os movimentos negros como tambm est atrelada aos projetos polticos de
desenvolvimento econmico e construo do lugar que o Brasil busca ocupar na
poltica/economia internacional, principalmente no tocante penetrao econmica de
empreendimentos brasileiros em frica, a partir do combate ao racismo.
UMA ANLISE SOBRE PODER-RESISTNCIA DE LDERES
FEMININAS PENTECOSTAIS
BANDINI, Claudirene A. P. (UFSCar)
claubandini@gmail.com
Como parte de uma pesquisa de doutorado intitulado, Costurando Certo Por Linhas
Tortas: um estudo de prticas femininas no interior de igrejas pentecostais, o presente
ensaio se prope, a partir da construo terica de gnero e sociologia da religio,
apresentar as prticas cotidianas de resistncia e insubordinao s relaes sociais que
identificam as mulheres esfera domstica e familiar; portanto uma discusso sobre o
poder-dominao entre lderes femininas pentecostais e lderes masculinos em torno do
poder religioso institucional. A fim de levantar alguns pontos de reflexo em relao ao
processo de construo e articulao das relaes entre poder e resistncia de gnero na
religio, trs igrejas pentecostais foram investigadas, e, em todas elas o discurso oficial
reproduzia a ideia de que a capacidade de engravidar torna as mulheres fisicamente
incapazes de assumir algum tipo de cargo e de exercer algum tipo de atividade na igreja,
quando comparadas aos homens. Essa noo fortalece a associao entre a dominao
masculina e o poder religioso, pois a cumplicidade da prpria comunidade e tambm
das mulheres permite que os homens se embasem nestes argumentos para legitimarem
suas posies na Igreja a partir da dita fragilidade inata das mulheres e diminuir a
concorrncia pelo status religioso. Os elementos da ideologia da natureza feminina
comprovam que os homens no desejam perder o tipo de ateno e os servios pessoais
que ainda esto habituados a receber de suas mes, esposas ou irms. No reforar essa
ideologia, abriria a possibilidade de perderem esse estilo de mulheres, pois o
empoderamento permitir-lhes-ia conquistar espaos e direitos, antes usufrudos somente
por eles.
139
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
POLTICAS PBLICAS COMPENSATRIAS E RELIGIOSIDADE
AFRICANA
CARVALHO, Brbara Hilda Crespo Prado de (UENF)
barbarahcpc@gmail.com
Esse artigo visa estabelecer uma relao entre polticas pblicas compensatrias e
autoafirmao identitria quilombola a partir das religies de matrizes africanas, uma
vez que se percebe a religiosidade como elemento central para construo dessa
identidade. Percebemos que tais prticas religiosas constituram um forte elemento de
resistncia da herana cultural, representando uma ponte entre as adversidades
instantneas provocadas pela escravido e sua identidade por meio das reconstrues
simblicas de seus elementos, possibilitando a sobrevivncia da cosmologia,
organizao social e valores diferenciados das sociedades europeias. Dessa forma,
busca-se discutir a atuao das polticas pblicas nos mecanismos mantenedores do
racismo, entendendo raa para alm de uma perspectiva biolgica, na
contemporaneidade e a importncia da valorizao da cultura negra no reconhecimento
do seu passado histrico - mantido pela religio - para a autoafirmao, em que o
quilombola seja sujeito de direito, e a desconstruo do racismo no Brasil.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E A PARTICIPAO DOS
EVANGLICOS
CASSOTA, Prisilla Leine (UFSCar)
pri.leine@hotmail.com
Este artigo tem como objetivo elucidar sobre a atuao poltica de parlamentares ligados
s denominaes pentecostais, da 16 Legislatura, da Assembleia Legislativa do estado
de So Paulo. Como o papel de atuao do parlamentar extremamente vasto,
inicialmente, pretendemos dar ateno no s proposituras desses agentes, mas sim ao
seu poder de no aprovar leis. Para tanto, realizamos uma busca, principalmente, no site
da Assembleia Legislativa do Estado de So Paulo - www.al.sp.gov.br, onde so
publicadas as atas das sesses plenrias, contendo as votaes dos deputados estaduais e
as proposies destes deputados. No decorrer da pesquisa, ao analisar as atas das
sesses plenrias, em que ocorreram as votaes nominais, no encontramos nenhum
tipo de organizao dos parlamentares evanglicos em bancadas, ou algum tipo de
organizao desse grupo que estivesse ligada ao pentecostalismo. Dessa forma, fez-se
necessrio reformular as questes e a hiptese proposta inicialmente, de maneira que
passamos ento a analisar o discurso desses polticos evanglicos em sites de
relacionamentos como tambm direcionamos nosso olhar para as proposituras destes.
Assim, podemos concluir que, apesar de grande parte do discurso poltico que envolve a
atuao desses deputados ser direcionado para um eleitorado que se identifique com o
cristianismo pentecostal, a atuao destes, na prtica, pouco pode ser identificada com o
pentecostalismo. De modo geral, esses deputados acabam votando segundo, cada qual,
com o seu partido poltico, no existindo nenhum tipo de organizao desses
evanglicos, como em bancadas dentro da Assembleia Legislativa, para tentar,
normativamente, impor os seus ideais pentecostais.
140
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
A POLTICA RELIGIOSA EVANGLICA: o comportamento das
lideranas protestantes e seu engajamento no processo poltico eleitoral
nas eleies de 2010
COSTA, Rogrio da (UEL)
ipbrogerio@yahoo.com.br
A presena de representantes religiosos (evanglicos) no cenrio poltico nacional em
diversos estados demonstram a fora desse segmento junto populao e refora a sua
posio de ator poltico considervel na atual conjuntura poltica. Esse segmento em
suas tipologias e interpretaes de mundo, apresentam um quadro no mais espiritual
somente. Partindo desta constatao, este trabalho se prope a realizar uma reflexo do
atual contexto poltico e social referente relao entre os religiosos na poltica,
buscando compreender: a que ponto estes em sua prxis movida pela sua viso de
mundo, pelo discurso de seus lderes religiosos e segundo seus interesses particulares,
corroboram para a conquista ou no de um representante poltico em determinado
pleito. Tomaremos por base, o ocorrido nas eleies de 2010, onde, houve um grande
levantamento de religiosos (evanglicos e Catlicos) demonizando a postulante Dilma
Rousseff ao pleito de presidente do Brasil por uma srie de posicionamentos que,
segundo eles; ferem os ensinamentos bblicos. As principais questes em debate foram:
a legalizao do aborto e a unio civil entre homossexuais, pontos amplamente
discutidos e divulgados pela mdia. Motivados por estas questes, a eleio de 2010
ficou profundamente marcada por razes morais religiosas e acabaram por mudar o
discurso dos candidatos no segundo turno das eleies. Este ensaio tambm faz um
levantamento bibliogrfico da histria do PT - Partido dos Trabalhadores desde a
constituinte, tendo em vista que o mesmo sofreu nas campanhas eleitoras disputadas por
seu maior representante, Lula, que naquele momento histrico representava a esquerda.
Sem o apoio dos religiosos, Lula e o partido procuram a cada campanha eleitoral se
aproximar do voto religioso, e com o desgaste do ento presidente Fernando Henrique
Cardoso, Lula consegue se eleger presidente apoiado pelas denominaes com forte
poder miditico no Brasil; IURD e Assembleia de Deus. Nas eleies de 2010, os
religiosos temendo aprovao de lei que regulariza a unio civil entre homossexuais e
a descriminalizao do abordo, levantam-se contra o PT, divulgando vdeos e pregando
nos plpitos de todo o pas que o PT era o "partido da morte". Nas eleies de 2010 com
a perda parcial do voto cristo, o Partido dos Trabalhadores busca atravs dos militantes
polticos em todo o territrio nacional desfazer o "mal entendido". Nisso a candidata
Dilma que segundo as pesquisas se elegeria no primeiro turno comea a mudar sua
agenda e seu discurso tentando ento reconquistar o voto religioso. neste nterim que
o artigo transcorre, onde a Religio e religiosidades no definem uma campanha,
contudo ela se faz presente e marcante instrumentalizando a religio e a poltica. No
diferente, nesses dias temos visto uma guerra declarada entre os polticos
representantes do segmento religioso buscando seu espao num estado laico e lutando
com os seguimentos liberais da sociedade. A pesquisa esta em andamento e pode
levantar questes relevantes para seu desfecho.
141
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
A TEOLOGIA DA LIBERTAO E O DISCURSO ORAL DE
LDERES RELIGIOSOS: catlicos paulistanos e protestantes
londrinenses (1964-1985)
GUIMARES, Luiz Ernesto (UEL)
LANZA, Fabio (UEL)
BOSCHINI, Douglas Alexandre (UEL)
pr.ernesto@gmail.com, lanza1975@gmail.com, douglasboschini@hotmail.com
Esta pesquisa apresenta como objetivo o estudo analtico e interpretativo sobre o
discurso oral de lderes religiosos sobre a Teologia da Libertao. As fontes orais foram
membros do clero da Igreja Catlica da cidade de So Paulo e de igrejas protestantes de
Londrina-PR, no perodo da ditadura militar (19641985). A pesquisa analisou de forma
comparativa como a difuso da Teologia da Libertao ocorreu de formas diferentes em
regies metropolitanas do pas. Analisou-se e interpretou-se o discurso do clero que
atuava na regio metropolitana de So Paulo, por meio de uma perspectiva
metodolgica qualitativa que privilegia a fonte oral, no caso, o discurso-memria e os
arquivos do jornal Arquidiocesano O So Paulo. As expresses e verses emitidas pelos
entrevistados so partes de suas vidas, dessa forma, toda anlise e interpretao so por
si mesmas um exerccio que no pode perceber ou traduzir toda a profundidade vivida
por essas pessoas. Foram entrevistados os sujeitos catlicos: D. Paulo Evaristo Arns, D.
Anglico S. Bernardino, D. Antnio C. de Queiroz e os protestantes: Carlos J. Klein,
Julio Zabatiero, Gerson Arajo; Luiz Caetano G. Teixeira e Almir dos Santos. Nas
investigaes, ficou constatado que o discurso religioso sobre a Teologia da Libertao
no unssono em relao a esse perodo poltico da histria brasileira. Na Arquidiocese
de So Paulo a Teologia da Libertao inspirou aes de fomento aos movimentos
sociais, sindicais e partidrios, bem como, promoo do processo de democratizao e
resistncia s atrocidades militares. Pode-se perceber que a Teologia da Libertao em
Londrina alcanou segmentos mais elitizados da religio protestante, se fazendo
presente mais entre lideranas e professores de seminrios, no atingindo a maior parte
fieis.
PODERS PESCAR O LEVIAT COM ANZOL: uma perspectiva
da participao religiosa na poltica nacional
MANDUCA, Vinicius (UFSCar)
vimanduca@gmail.com
A laicidade brasileira se deu no atravs de um processo histrico, mas de uma ruptura
promulgada j na primeira constituio republicana 1891. Apesar de no ocasionar uma
total separao entre a Igreja Catlica e o Estado, a legalizao permitiu o
reconhecimento e o estabelecimento de novas instituies religiosas no espao pblico
nacional, abrindo caminho para a formao posterior do mercado religioso.
Gradativamente, a religio vem perdendo seu carter de hereditariedade, passando a
compor um extenso campo de escolhas e disputando espao com iniciativas seculares.
Esse novo cenrio obriga as igrejas a levarem a disputa religiosa para outras instncias.
Inicialmente a disputa atingiu o campo miditico mas, recentemente, tem se dado
tambm no campo poltico. O trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa
FAPESP realizada entre 2011 e 2012, que buscou estabelecer um panorama da
142
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
participao religiosa na poltica brasileira atravs de um mapeamento realizado nas
Cmaras Municipais das capitais estaduais, nas Assembleias Legislativas, Cmara dos
Deputados e Senado Federal. Alm do panorama participativo o trabalho apresenta
tambm quais so as formas de atuao e o perfil bsico do poltico religioso brasileiro.
VOTO RELIGIOSO E OUTRAS NUANCES: diferentes formas de
utilizao das redes interpessoais religiosas
S, Lucas dos Santos Cabral de (UFES)
lucasscs@hotmail.com
A utilizao eleitoral das redes interpessoais religiosas para se eleger um candidato
constitui-se como um elemento fundamental no entendimento do fenmeno do voto
religioso. Entretanto, devemos nos atentar para o fato de que, em cada igreja ou
denominao, haver diferentes mecanismos a serem acessados para se atingir tal fim.
Assim, para que as redes interpessoais de uma igreja tradicional possam ser utilizadas a
fim de se concentrar os votos dos fiis em um candidato, os mecanismos mobilizados
pelos atores envolvidos no processo sero distintos daqueles que costumam se processar
em igrejas pentecostais e neopentecostais. Nas eleies de 2008 em Vitria - ES
verificou-se que o ento candidato a vereador Fabrcio Gandini conciliou em sua
estratgia dois elementos importantes que contriburam para sua vitria: o uso das redes
interpessoais religiosas de sua igreja (Igreja Batista de Jardim Camburi) e a nfase na
questo tributria, reforada por sua participao no chamado Movimento Pr-IPTU
Justo e explorada em sua campanha televisiva. Esta convergncia sugere que poderia
haver certos interesses coincidentes entre os fiis de uma igreja evanglica tradicional e
os eleitores de outros segmentos para alm da igreja, alm de sinalizar que a
transmisso de influncia dentro da igreja pode se dar de maneira distinta, se comparado
a outras tradies do evangelismo.
O PAPEL DE BILLY GRAHAM, JERRY FALWELL E PAT
ROBERTSON NA RELAO ENTRE POLTICA E RELIGIO
NOS ESTADOS UNIDOS
SOUZA, Marco Aurlio Dias de (UNESP)
FINGUERUT, Ariel (UNICAMP)
dias_dias_@hotmail.com, arielfing@gmail.com
Os EUA como nao no se separam em nenhum momento da influncia religiosa. O
debate aparece dos pais fundadores aos momentos histricos mais decisivos (como a
Guerra Civil e os atentados de 11.09.01), culminando em uma discusso tericas e em
consequncias polticas e prticas concretas. Em termos tericos h um forte debate que
envolve conceitos como o de Guerra Cultural e do que seria um conservadorismo
genuinamente estadunidense envolvendo tanto a poltica domstica principalmente
quanto ao papel do Estado em temas como a separao entre Estado e Religio, poltica
de impostos e de bemestar social ou da prpria ideia de cultura americana. A
influncia religiosa tambm aparece na poltica externa em seu debate em torno do
idealismo americano e sua busca por mudana de regime ou de paz democrtica se
pautando por um ideal de excecionalidade que em ltima instancia busca por uma
legitimidade religiosa. Nesse trabalho buscaremos passar por este debate mais amplo
143
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
focando na trajetria dos trs principais pastores do evangelismo contemporneo nos
EUA. Billy Graham, Jerry Falwell e Pat Robertson que no s foram centrais na histria
dos EUA dos ltimos cinquenta anos e importantes pelo despertar religioso que
suscitaram mas, sobretudo, porque os trs, com diferentes agendas e estratgias se
envolveram com a poltica (eleitoral). Neste sentido, enfatizaremos o envolvimento de
Billy Graham com as cruzadas de evangelizao, de Jerry Falwell com a criao da
Liberty University a partir de 1971 e sua participao no movimento Moral Majority e
de Pat Robertson com a fundao da Regent University, um desdobramento da Christian
Broadcast Network (CBN) um empreendimento miditico iniciado em 1978 que
possui sede em vrios pases ao redor do mundo.
RELIGIO, CRIMINALIZAO DO ABORTO E A FORMAO
DO ESTADO LAICO
TEIXEIRA, Jacqueline Moraes (USP)
O tema aborto desperta amplo debate pblico ao abranger agentes de posies sociais
distintas. No cenrio atual os argumentos entendidos como religiosos e a discusso de
algumas agncias religiosas parecem centrais de modo a fortalecer, na arena poltica, o
debate acerca da legitimidade das relaes entre Estado e religio, bem como, da
prpria natureza do Estado laico. Este trabalho insere-se numa abordagem terica que
busca pensar a temtica das relaes entre religio e esfera pblica, entendida aqui
como um espao de interaes discursivas que se configura na medida em que algumas
prticas cotidianas ganham visibilidade por meio de produo de controvrsias.
Estabelecendo uma anlise comparativa com a conjuntura social atual, que tende a
interpretar a criminalizao do aborto como um impedimento para o Estado Laico,
apresento como recorte analtico o processo de criminalizao do aborto na produo do
cdigo penal brasileiro ainda na dcada de quarenta, perpassando alguns discursos que
defendiam e justificavam, tanto o controle do nascimento, como a criminalizao do
aborto como parte importante de um programa de fortalecimento e constituio de um
Estado Laico. Com isso pretendo passar por algumas tenses discursivas e mudanas
sociais que alteraram historicamente os sentidos polticos da criminalizao da prtica
abortiva, que deixa de ser trao de reconhecimento jurdico de um Estado moderno para
se tornar sinal diacrtico de risco aos ideias de um Estado laico.
PSTER
A BANCADA RELIGIOSA E O KIT GAY: elementos de um fazerpoltico cristo
SABINO, Yuri (UEL)
yurigsabino@gmail.com
O presente trabalho busca investigar as prticas e discursos presentes nos parlamentares
da Bancada Religiosa, deputados ligados a denominaes religiosas de matriz crist, e
seus embates com projetos de polticas afirmativas, sobretudo as de gnero. Para tanto,
tal anlise partir das crticas deste referido grupo, ao projeto elaborado em 2011 pelo
Ministrio da Educao, intitulado Escola Sem Homofobia (recebendo a alcunha de
Kit Gay por estes parlamentares), contendo uma cartilha a ser distribuda nas escolas
144
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
pblicas do pas, a fim de conscientizar e promover a igualdade de gnero, que, devido
presso poltica desses parlamentares, fora vetado pela presidente Dilma Rouseff.
Valendo deste caso, buscarei compreender e problematizar uma prtica marcada pela
hibridizao entre a esfera religiosa e o campo poltico, caracterizada por uma formao
discursiva baseada em preceitos morais, onde a posio poltica deste grupo se
apresenta sob a forma de um dever moral-cristo.
GT 5: VIOLNCIA, ESTADO E CONTROLE DO CRIME
Sesso I: Marginalidades e Formas de Gesto Social
Dia 27/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Gabriel de Santis Feltran (UFSCar)
VIOLNCIA E REFORMA DO SETOR DE SEGURANA: o caso da
MINUSTAH no Haiti
AGUILAR, Srgio Luiz Cruz (UNESP)
tcaguilar2012@hotmail.com
A Misso das Naes Unidas para a Estabilizao do Haiti (MINUSTAH) foi criada em
2004 aps grave crise interna provocada por grupos armados que resultou na queda do
Presidente e sua sada do pas. O mandato determinoiu que a operao de paz deveria
garantir a segurana interna, realizar atividades de desenvolvimento institucional e atuar
no campo do Estado de Direito. O primeiro objetivo significou estabelecer uma situao
mnima de segurana no pas, para permitir o auxlio ao governo haitiano na
implementao de uma srie de polticas pblicas como forma de desenvolver o pas,
melhorar as condies de vida de sua populao e dar estabilidade s suas instituies.
Dentre as atividades no campo da segurana como forma de reduzir a violncia foram
inseridas a reforma da polcia nacional e dos sistemas judicirio e prisional. Com base
na anlise de documentos das Naes Unidas, especialmente as resolues do Conselho
de Segurana e relatrios do Secretrio Geral, e de bibliografia especializada, o texto
faz algumas consideraes sobre as violncia interna, operaes de construo da paz, a
situao do Haiti e a reforma do setor de segurana. Em seguida, apresenta as atividades
desenvolvidas pela MINUSTAH para diminuir a violncia, reformar a polcia haitiana e
os sistemas prisional e judicirio. Concluindo, apresenta as dificuldades enfrentadas at
2012 para atingir esses objetivos.
145
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
A URBANIZAO DOS CONDOMNIOS RESIDENCIAIS
FECHADOS: uma anlise do Dahma
BIZZIO, Michele Rodrigues (UNESP)
michelebizzio@hotmail.com
CNPQ
O fenmeno dos condomnios residenciais fechados tornou-se um dado de mbito
mundial, presente nas mais diversas metrpoles do mundo. No estado de So Paulo ele
tem aumentado de maneira vertiginosa desde o incio da dcada de 70 do sculo XX.
Porm, este fenmeno no se limita realidade das grandes cidades brasileiras. Desde
os anos 1990 vem ocorrendo a sua migrao para as cidades mdias do interior paulista,
reorientado o padro de urbanizao das cidades e consequentemente o seu sentido. O
presente trabalho busca apreender os nexos existentes entre o processo de fortificao e
o sentido que este confere para a cidade a partir da construtora Dahma, no espao
urbano da cidade de So Carlos. Para tal empreendimento so utilizados conceitos da
teoria sociolgica clssica que identificam na cidade moderna, ao dissolver os vnculos
tradicionais e comunitrios, a possibilidade de desenvolvimento autnomo do homem e
a emergncia de novos estilos de vida, assim como da segurana, da acessibilidade, da
liberdade e da igualdade. E da teoria sociolgica contempornea, com nfase na obra do
socilogo Zigmunt Bauman acerca da passagem da modernidade slida para a
modernidade lquida, a abordagem da cidade enquanto campo de batalha entre o poder
local e o poder global que suscita a mixofobia paradoxo entre os impulsos globais e
locais, em que por um lado a cultura multiforme e plurilingustica da cidade tende a
aumentar, e, por outro, o medo de se misturar com o outro tambm, possibilitando
tendncias segregacionistas e a construo de fronteiras.
NOTAS SOBRE A GESTO DOS USURIOS DE CRACK NA
CIDADE DE SO PAULO
SOUZA, Letcia Canonico de (UFSCar)
leticia.canonico@gmail.com
O presente trabalho discorre sobre a gesto dos usurios de crack na cidade de So
Paulo, tendo como ponto de partida o plano "Crack, possvel vencer", constitudo em
nvel nacional, o qual pretende a unio de trs eixos de ao: Autoridade, Cuidado e
Preveno. Focando as formas de atuao dos grupos profissionais, representantes de
diversas lgicas estatais, diante dos usurios e usos do crack, fixando o olhar para a
gesto praticada por estes. Com isso trata sobre as formas de atuao e conflitos entre
diferentes saberes e abordagens diante dos usurios e usos da droga no mbito do plano
de "combate" ao crack no momento de sua implementao. Para tanto est sendo
realizada pesquisa documental e de campo desde o comeo do ano de 2013 com
distintos agentes que trabalham na gesto do uso e usurios do crack, como policiais,
assistentes sociais e agentes de sade na regio que ficou conhecida como
cracolndia, no centro da cidade de So Paulo.
146
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
OCULTAR MOSTRANDO: a cobertura do crime no telejornalismo
brasileiro
CUNHA, Carolina Flores Marasco da (UFPel)
carolinamarasco@gmail.com
O presente trabalho busca refletir acerca dos pressupostos tericos do socilogo francs
Pierre Bourdieu (1997) a cobertura jornalstica, especialmente a realizada pela televiso,
sobre a ocorrncia de determinados crimes. A observao se compe pela identificao
dos temas sobre o dado assunto e o correspondente vis apresentado pelo Jornal
Nacional, telejornal de maior audincia da Rede Globo de Televiso emissora que
detm a centralidade miditica no pas. O texto tem como por objetivo dialogar com a
anlise das estruturas participantes no processo de transmisso da informao atravs de
seis reportagens colhidas do telejornal em determinado perodo especfico. O
desenvolvimento do estudo tambm possui como norte a dimenso de conceitos da
globalizao atravs de Ortiz (1994), onde os meios de comunicao esto submersos a
uma realidade comercial e da mentalidade-ndice-de-audincia. A pesquisa da mesma
forma se apoia na utilizao da abordagem terica de Roland Barthes (1971),
relacionada categoria de fait-divers, da informao sensacionalista, e a de Douglas
Kellner (2001), na qual se materializa a ideia exposta na contextualizao sobre a
cultura da mdia. As perspectivas apresentadas permitem a ancoragem para a relao
aos resultados obtidos na interpretao das reportagens analisadas do telejornal. Diante
disso, por meio das observaes tericas, a investigao tem ainda como finalidade
realizar a aproximao de conceituaes sociolgicas s caractersticas da mdia que,
por consequncia, convergem para uma reflexo crtica dos meios de comunicao.
COTIDIANO ENTRE-MUROS: a (re)significao do olhar a partir da
arte e culturas marginais na priso
GUADAGNIN, Renata (PUC/RS)
guadagdag@gmail.com
CAPES
Atravs do estudo proposto, objetiva-se realizar uma abordagem interdisciplinar da
prtica (sobre)vivida no Crcere e o dilogo entre Arte e Direito. A expresso artstica e
cultural observada como forma de resistncia/existncia, demonstrando a possibilidade
de ser/existir ainda que no interior das grades de um estabelecimento prisional. Buscase, dessa forma, permitir a (re)significao do olhar estigmatizado sobre o preso para
um dilogo em alteridade, visando uma construo plural e crtica do pensar jurdico.
Compreender a arte como meio para a ruptura das barreiras que separam a cidade e os
muros do crcere e uma (re)significao do olhar sobre ele. Como instrumento de uma
insero, (re)conhecimento social, quebra dos estigmas atribudos ao preso e novas
formas de lidar com os refugos da modernidade e o tratamento penal quando da
execuo da pena, despertando para o cotidiano real do crcere, com nfase nos projetos
desenvolvidos pela ONG Igualdade/RS no Presdio Central de Porto Alegre, e no
projeto MCS Para Paz desenvolvido pela Coordenadoria da Juventude da SUSEPE-RS,
na Penitenciria Modulada Estadual de Osrio e em implementao na Penitenciria
Estadual de Arroio dos Ratos. Trata-se de pesquisa integrante do Programa de PsGraduao em Cincias Criminais da PUCRS em mbito de Dissertao de Mestrado
147
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
iniciado em 2013/1, financiada pela CAPES. O projeto foi submetido ao Comit de
tica SUSEPE/RS e Comisso de tica da PUCRS no ms do maio, e encontra-se em
fase preliminar de pesquisa.
SETE CORPOS DE SANGUE DERRAMADO: reflexes sobre uma
chacina em So Carlos SP
OLIVEIRA, Luciano Mrcio Freitas de (UFSCar)
luciano.sociais@gmail.com
O debate sobre as pessoas que vivem nas ruas das cidades ganhou importncia na
agenda do Governo Federal a partir do ano de 2004, tendo como um dos fatores a
repercusso nacional referente ao massacre de sete moradores de rua na regio central
da cidade de So Paulo. Passados oito anos, outra chacina chama ateno, a morte de
sete pessoas em espaos pblicos em uma cidade do interior paulista. Este artigo
pretende discutir relao entre a chacina de sete pessoas nas ruas da cidade de So
Carlos (SP) em outubro de 2012 e a poltica de assistncia social do municpio. O
argumento que nortear a discusso tem por base as transformaes na poltica de
assistncia social, orientada pela focalizao aos mais pobres, a partir de meados dos
anos dois mil, repercutiu nas formas de atendimentos aos moradores de rua. Sugerimos
que essas mudanas propiciaram o surgimento de discursos e prticas voltadas para a
legitimidade de quem considerado ou no morador de rua para os servios de
atendimento. Nesse sentido, diferentemente do caso da cidade de So Paulo, onde
massacre de moradores de rua resultou no debate sobre a elaborao de polticas
pblicas, em So Carlos aps a chacina, o debate resultou na discusso sobre a
legitimidade das vtimas serem ou/no classificadas como moradores de rua,
demonstrando um dos aspectos decorrentes das mudanas na orientao das polticas
sociais no Brasil, especificamente a assistncia social.
JUVENTUDES NEGRAS NO BRASIL: a interseccionalidade de
gnero, raa e juventude na busca por direitos sociais e polticos
PEREIRA, Juliano Gonalves (NEAB/CEFET/RJ)
SILVA, Edmar Pereira da
SANTOS, Snia Beatriz dos
juliano.afr@gmail.com, edmarpereiracs@yahoo.com.br, soniabsantos@yahoo.com
CAPES
Nesse artigo, buscamos observar a interseccionalidade de gnero, raa e juventude nas
aes polticas da Juventude Negra, focando nossas anlises nos espaos construo e
busca por direitos da Juventude da cidade de Montes Claros/MG. Consideramos a
categoria Juventude Negra no plural, ou seja, Juventudes Negras, devido s diversas
realidades que permeiam este segmento populacional e, sobretudo, pela forma como o
acesso aos direitos chegam de diferentes formas a estas/es sujeitos quando separados
por gnero e raa. A busca por acesso aos direitos tem sido o norteador das aes que
envolvem a participao poltica das Juventudes Negras, e central nos espaos de
discusso sobre a temtica no Brasil. Na cidade de Montes Claros/MG ver-se uma
evoluo das polticas pblicas para a juventude, chegando a criao de uma Secretaria
Municipal de Juventude para aprofundar a discusso sobre a temtica. As Juventudes
148
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Negras tm se organizado em movimentos importantes de transformao social, e focam
ateno especial aos grupos organizados em torno da cultura, e suas diferenas quanto
ao foco das mulheres jovens negras. Pretendemos com este artigo identificar e
conceituar Juventudes Negras dentro do discurso de Juventudes e refletir sobre como as
polticas endossadas a este segmento ainda focam temas como violncia e mortalidade,
apresentando ateno a aes destinadas aos homens jovens negros.
DAS VIOLNCIAS: entre a gesto e o atendimento populao em
situao de rua
PEREIRA, Luiz Fernando de Paula (UFSCar)
luizfernandoppereira@gmail.com
FAPESP
Este artigo trata do caso de um pequeno grupo que foi atendido entre maro e julho de
2010 em um Centro de Referncia Especializado ao Atendimento Populao em
Situao de Rua (Centro-Pop) do municpio de So Carlos/SP, aps uma interveno do
poder pblico em um barraco abandonado. Tem por objetivo analisar determinados
desdobramentos de uma perspectiva de gesto e de uma perspectiva de atendimento
voltada populao em situao de rua. A partir disso, sero elencadas e descritas
diferentes manifestaes de violncia nesse processo, com destaque: i) violncia na
interveno; ii) violncia entre os usurios dos servios; iii) violncia nos espaos
institucionais e na rua; e iv) s consequncias para o funcionrios das instituies de
acolhimento.
REFLEXES SOBRE O EXTERMNIO DA JUVENTUDE NEGRA
NO NORDESTE E AES DE INCIDNCIA POLTICA DO
CAMPO DA JUVENTUDE
SILVA, Jenair Alves da (UFRN)
DIOGO, Joo Paulo dos Santos (Universidade Estcio de S/FIB Bahia)
jenair_alves@yahoo.com.br, joaopaulo.diogo@yahoo.com.br
Os nmeros sobre a violncia contra a juventude brasileira vm sendo apresentados
atravs da srie de estudos Mapa da Violncia desde 1998. Os recentes dados trazem o
Nordeste como regio onde as taxas de homicdios de jovens so preocupantes,
colocando trs estados do territrio, Alagoas, Pernambuco e Bahia, entre os dez
primeiros estados com maiores ndices. Tendo como referncia o Mapa da Violncia
2011 Os Jovens do Brasil, percebe-se que no pas registrou a cada 100mil homicdios,
52,9mil vtimas entre 15 e 24 anos. No Nordeste, a taxa de jovens vtimas de homicdio
chega a 63,8mil a cada 100mil, desses 86,05% so jovens negros. Preocupados com
esse quadro, os movimentos sociais juvenis, especialmente os do campo do movimento
negro, promoveram aes com estratgias de dar visibilidade questo como
extermnio da juventude negra, colocando em pauta a violncia institucional realizada
pelo poder de polcia/estado, no registrados no Mapa, mas sentido todos os dias,
principalmente nas periferias. Nessa perspectiva, surgiram as campanhas Reaja ou Ser
Morto Reaja ou Ser Morta, em 2005, uma articulao dos movimentos sociais e
comunidades da capital e do interior da Bahia, a Campanha Nacional Contra o
Extermnio da Juventude Negra iniciada em 2009, pelo Frum Nacional de Juventude
149
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Negra, e a Campanha Nacional Contra a Violncia e Extermnio de Jovens,
promovida pela Pastoral da Juventude, tambm iniciada em 2009. Esse trabalho tem o
objetivo de debater sobre a violncia contra a juventude negra no nordeste,
especificamente sobre os dados de homicdio desta regio, como tambm sobre a
incidncia poltica gerada por estas Campanhas, seus objetivos, principais aes e
resultados, de modo a traar um panorama e refletir sobre os avanos e desafios.
A VIOLNCIA ESCOLAR EM MATRIAS DE JORNAL: um
imaginrio construdo em Belm-PA
SILVA, Livia Sousa da (UFPA)
MENDONA, Ktia Marly Leite (UFPA)
liviasilva@ufpa.br, guadalupelourdes@hotmail.com
CNPQ
O presente trabalho tem como objetivo investigar de que forma se constitui o imaginrio
da violncia escolar no texto miditico em Belm-Pa. Ao proceder anlise de textos
miditicos impressos buscamos a compreenso dos constituintes imaginrios
subjacentes ideia de violncia escolar conformada nesses discursos. Por acreditar
numa construo miditica perpassada de intencionalidades, que ao construir um
imaginrio para a violncia estar influenciando opinies e decises, quer seja no foro
particular ou da esfera pblica; participando mesmo da construo da Violncia Escolar
como objeto de estudo, de ateno e de interveno. Para tanto, julgamos importante
conjugar estudos do campo da Sociologia do Imaginrio e da Hermenutica
Compreensivo-Dialgica (Gadamer; Paul Ricoeur). Como uma primeira incurso de
investigao nessa arena de significaes, expomos um preldio da tessitura de tal
pesquisa.
PSTER
MDIA- RECURSO PARA UM FIM: o caso da MINUSTAH no Haiti
COSTA, Annelise Faustino da (UNESP)
annel_ise@hotmail.com
FAPESP
Na sociedade atual, cada vez mais globalizada, visvel a influncia dos meios de
comunicao social sobre o pensamento humano. Esses foram se constituindo ao longo
da histria adquirindo cada vez mais importncia e funcionalidade nas relaes sociais,
tendo grande significado, podendo ser considerados principal fonte de informao e
formao pblica atual. Nesse mundo interconectado ainda h a presena de conflitos
entre Estados, mas, principalmente, no interior destes. O Haiti, pas mais pobre da
Amrica, com uma turbulenta histria, necessitou da interveno da ONU para tentar
reparar seus graves problemas de desestruturao social e estatal. A atual operao de
paz no pas, MINUSTAH, estabelecida em 2004, tem como objetivo construo de paz
por meio de polticas para estabelecimento da segurana e estabilidade, fortalecimento
poltico e dos direitos humanos. Um dos fatores de sucesso da operao est no campo
da comunicao social. A pesquisa analisa a situao da mdia no Haiti, sua utilizao
pela MINUSTAH para atingir seus fins, tanto voltados para o pblico externo como
150
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
para os haitianos, a funcionalidade desse meio para resolver o conflito e sua capacidade
de interferir nas relaes sociais haitianas. Utiliza bibliografia especializada,
documentos da ONU, questionrios e entrevistas com atores envolvidos e relatrios de
organizaes que atuam com a mdia no pas. Verificamos o uso da mdia pelos
detentores do poder, a importncia do rdio no pas, decorrente do estado de pobreza da
populao, e que esses meios so importantes ferramentas para a operao da ONU.
Dessa forma, a mdia, se utilizada de maneira adequada e observando as especificidades
do local, um recurso valioso para atingir o fim de estabelecer a paz em reas de
extrema violncia no mundo.
DE CRACOLNDIA CRISTOLNDIA: notas etnogrficas da
poltica Batista de combate ao crack
FROMM, Deborah (UFSCar)
deborah_fromm@hotmail.com
FAPESP
A proliferao das chamadas cracolndias problema atualmente debatido por
diversos atores sociais (administradores, polticos, intelectuais, jornalistas, etc.), que
mobiliza diferentes esferas da vida social (sade, assistncia, represso, famlia etc.).
Com a criao pelo governo federal da Poltica Nacional de Enfrentamento ao Crack e
outras Drogas, cujo mote Crack, possvel vencer, alm de constantes operaes
estaduais em cenrios de uso, o crack tem assumido uma posio central no que diz
respeito ao controle e gesto de populaes e espaos urbanos. No entanto, pouco tem
sido sistematicamente estudado acerca do crescente papel da Igreja, mais
especificamente de igrejas evanglicas, na assistncia, evangelizao e converso dos
chamados nias. Nesse sentido, o presente trabalho pretende descrever e analisar uma
poltica evanglica, exclusivamente batista, voltada para o crack, atravs de uma
pesquisa etnogrfica no contexto especfico da Misso Cristolndia, na regio da Luz,
em So Paulo. Esse estudo, ademais, pretende abordar o modelo de atendimento e de
tratamento oferecido pelo projeto aos usurios de drogas, de modo a considerar as
tecnologias e saberes envolvidos na evangelizao e converso dos usurios, alm da
forte presena de componentes territoriais no foco desta ao missionria. Argumentase que, longe de constituir uma ao isolada, a Misso Batista Cristolndia, pode ser
pensada como parte integrante de um projeto poltico-religioso de nao, empreendido
pelos batistas brasileiros (membros da Conveno Batista Brasileira) em acordo com o
carter missionrio e universal da f crist.
151
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso II: Polcia, Justia e Prises
Dia 28/08/13 s 14h
Debatedora: Prof. Dr. Jacqueline Sinhoretto (UFSCar)
INVESTIGAES SOBRE A EXPANSO PRISIONAL NO
ESTADO DE SO PAULO: uma anlise sobre a reestruturao do
poder punitivo (1993 - 2013)
BARROS, Rodolfo Arruda Leite de (UNESP)
rodolfoarruda1@yahoo.com.br
A pesquisa investiga a expanso do sistema prisional no Estado de So Paulo ocorrida
nas duas ltimas dcadas (1993 - 2013) visando compreender de que modo o
crescimento da populao encarcerada e das unidades no esto apontando para um
processo de reestruturao do poder punitivo no estado paulista. Desta maneira, o foco
incide sobre a possvel emergncia de novos atores sociais que atuam no mbito
institucional e de que modo estes agentes pblicos alteraram, ou no, as diretrizes das
polticas pblicas direcionadas rea prisional no Estado. A pesquisa inicia-se a partir
de uma reviso bibliogrfica de trabalhos sobre a temtica prisional, os quais mostraram
diversos aspectos problemticos do revigoramento punitivo, para, em seguida, avanar
na compreenso de trs grandes tendncias do sistema prisional paulista, a saber: a
militarizao, a interiorizao das prises e a privatizao do poder punitivo. Nossa
hiptese inicial considerar que, na histria de sucessivos fracassos das polticas de
humanizao e reforma do sistema prisional, simultaneamente a estas tentativas,
desenvolveram-se numerosos arranjos, adaptaes e decises polticas executadas pelo
governo estadual e seus agentes, que mantiveram e intensificaram a conduo punitiva
da poltica estadual. Com o discurso de gerir e manter o controle das unidades
prisionais, o Estado investiu fortemente na construo de novas unidades e estas
decises necessitam de maiores investigaes. Embora um nmero considervel de
pesquisadores tenha avanado neste campo, considera-se que estes processos ainda so
pouco conhecidos, de modo que se torna necessria a produo de informaes
relevantes sobre essas dinmicas.
A POLTICA CRIMINAL BRASILEIRA DURANTE OS
GOVERNOS LULA-DILMA (2002-2012): continuidades e rupturas
CIFALI, Ana Claudia (PUC/RS)
anaclaudiacifali@gmail.com
CAPES-CNJ
O presente trabalho busca unir a anlise das transformaes das polticas de controle do
crime no contexto internacional ao surgimento de um governo nacional brasileiro
construdo desde programas polticos que se configuram recorrendo a elementos da
tradio poltica de esquerda. Desde incios dos anos 90, na Amrica Latina, foi-se
construindo social e politicamente a insegurana pblica como um dos grandes
problemas dos centros urbanos. A crise v-se materializada tanto no aumento e no
152
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
surgimento de novas formas de criminalidade, como na perda de confiana nos atores
estatais tradicionalmente ligados ao controle do crime. Nos ltimos anos, na Amrica do
Sul, produziram-se mudanas polticas que residem na ascenso de governos nacionais
vinculados a uma orientao poltica de esquerda. Tais experincias buscam superar os
efeitos econmicos, sociais e culturais causados pela difuso do neoliberalismo e do
neoconservadorismo que atravessou o continente, mobilizados no marco dos governos
autoritrios. No Brasil, tal mudana comeou a construir-se a partir do triunfo do
Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleies nacionais, com o incio da gesto de Lula
da Silva, em janeiro de 2003, experincia poltica que se estende, com a reeleio de
Lula em 2006 e a eleio de Dilma Rouseff em 2010. Por tais razes, buscou-se
conhecer as orientaes dos governos Lula-Dilma em relao penalidade,
especificamente, no tocante elaborao poltico-criminal e das polticas de segurana
pblica. Pretende-se verificar as mudanas e continuidades em relao ao passado a
partir de quando assumiram, no plano do discurso poltico e administrativo; da
legislao penal, processual penal e de execuo penal; das intervenes penais levadas
a cabo, bem como seus efeitos sociais e institucionais.
A JUSTIA INFANTO JUVENIL: a apreenso, o julgamento e a
internao na CASA Centro de Atendimento Socioeducativo ao
Adolescente do Estado de So Paulo Fundao CASA
GONALVES, Rosngela Teixeira (UNESP)
rosebilac@hotmail.com
O presente trabalho traz a anlise de pronturios de jovens egressos do Centro de
Atendimento Socioeducativo ao Adolescente Fundao CASA. Os pronturios so
referentes medida de internao e a medida de liberdade assistida e contemplam desde
a fase da apreenso policial, ao julgamento e as avalies sociais e psicolgicas acerca
dos jovens autores de atos infracionais no perodo em que permaneceram internados na
instituio. As anlises tm como objetivo mapear as prticas de agentes da lei como
policiais, juzes, advogados, defensores pblicos, alm do corpo tcnico responsvel
pela efetivao das medidas de privao de liberdade e em meio aberto e os discursos
que as diferentes instituio produzem acerca dos jovens em questo. Como concluses
tem-se que o judicirio legitima as prticas de internao e punio para com a
juventude pobre, reforando o ideal de punio para aqueles que estejam fora da
instituio escolar, advindos de famlias categorizadas como desestruturadas, levando
assim ao esquadrinhamento da vida do indivduo, por que a informao dada ao juiz, diz
muito mais respeito ao contexto da existncia, de vida e disciplina do indivduo, do que
o prprio crime que ele cometeu. Alm disso, comportamentos tidos como normais de
pessoas privadas de sua liberdade, passam a ser considerados como patolgicos por
psiclogos e assistentes sociais, e ainda, agentes policiais, agem com discricionariedade
na apreenso de adolescentes, exames de corpo de delito so realizados semanas aps a
apreenso e a brevidade na transferncia de jovens apreendidos pela polcia para
instituies especiais, no vem ocorrendo de forma efetiva, havendo casos de a
transferncia ocorrer semanas depois da apreenso. Desse modo justia infanto-juvenil
vm flagrantemente desrespeitando o Estatuto da Criana e do Adolescente em suas
prticas e aes.
153
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
EM DEFESA DA SOCIEDADE: anlise do caso Isaas no Tribunal do
Jri da cidade de So Paulo
JESUS, Maria Gorete Marques (PPGS/USP)
goretim@usp.br; gorete.marques@gmail.com
Isaas foi acusado pelo homicdio de um preso no Centro de Deteno Provisria de
Pinheiros em 2001, quando cumpria pena por trfico de drogas. O ru afirmava
categoricamente que era inocente e que estava sendo acusado injustamente. Durante o
julgamento, a acusao alegava que se o ru fosse absolvido, a sociedade estaria em
perigo porque o acusado pensaria que o crime compensa. Para a defesa, se o ru fosse
condenado, ele pensaria que o crime compensa porque mesmo sendo inocente, com
trabalho e inserido socialmente aps anos cumprindo pena por outro crime, estaria
sendo condenado e que sua condenao geraria mais dio da sociedade e, a partir da,
cometeria crime. Nesta perspectiva, ambos traaram um discurso em que o acusado era
considerado a partir da chave do criminoso. Para a acusao, o ru era um criminoso
que deveria ser condenado. Para a defesa, o ru era inocente mas, sendo condenado,
poderia se tornar de fato um criminoso. Por que ser que o advogado tomou essa
postura, essa estratgia em sua arguio? Por que utilizou quase que a mesma estratgia
da acusao, de dizer que manter o acusado solto colocaria em risco a sociedade?
Ambos adotam uma estratgia de se colocarem em defesa da sociedade, pois, da
perspectiva da acusao, sendo absolvido o ru ficaria impune e cometeria mais crimes,
da perspectiva da defesa, sendo condenado, o acusado desistiria de ser reintegrado
sociedade e voltaria a cometer crimes, ou seja, se tornaria um risco sociedade.
Pretendemos, a partir da anlise desse caso, debater com a literatura que problematiza a
questo da punio e trazer questes para reflexo.
FAZENDO RONDA: misses, prticas e tica policial da ROTA
MACEDO, Henrique de Linica dos Santos (UFSCar)
henrry_macedo@hotmail.com
O presente trabalho fruto da iniciao cientifica desenvolvida na Universidade Federal
de So Carlos (UFSCar), no qual buscou-se analisar a histria da Rondas Ostensivas
Tobias Aguiar (ROTA), que uma das funes exercidas pelo 1 Batalho de Choque
da Polcia Militar do Estado de So Paulo (PMESP). Para tal, debruou-se sobre o
perodo que compreende desde a sua criao at o incio de 2013. O objetivo do
trabalho foi compreender quais os mandatos oficiais atribudos a ROTA, e como estes,
foram e so influenciados por prticas policiais de carter informal e como demandas
particularizadas orientadas por uma cultura organizacional, uma tica policial e
resqucios de prticas de um sistema inquisitorial os transformaram. Assim, pode-se
concluir que h uma Doutrina de ROTA que pauta as prticas da unidade, suas
estratgias de ao, modificando-se assim os mandatos oficiais a ela atribudas.
154
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
OS CRIMES DE SENSACO E OS EMBATES SOBRE AS
DEFINICES DE PROVAS DE CULPABILIDADE CRIMINAL: as
discusses sobre os direitos dos cidados durante a Primeira Repblica
brasileira
OLIVEIRA, Marlia Rodrigues de (PUC/RJ)
mariliarodrigues_@hotmail.com
CNPQ
Em dezembro de 1896, o diretor da Casa de Recolhimento Santa Rita de Cssia, Baslio
de Moraes, foi acusado de abusar sexualmente das meninas rfs residentes na casa da
qual era diretor. O julgamento que ocorreu em abril de 1897 chegou a reunir 2000
pessoas, sendo o mulato condenado a 9 anos de priso celular. Quase vinte anos
depois, em fevereiro de 1914, D. Edina do Nascimento encontrada morta em seu
quarto com um ferimento de bala na cabea. O que a princpio parecia um suicdio por
razes de cimes, aos poucos se configurou como uma suspeita que o seu prprio
marido a teria assassinado. Seis anos depois o tenente foi a julgamento e considerado
inocente. A princpio desconexos, estes crimes vastamente explorados pela imprensa
por causarem sensao no pbico leitor" tiveram em comum a presena do advogado
Evaristo de Moraes, que levantara em ambos os casos um debate de importncia para
construo do sistema jurdico brasileiro: quais elementos poderiam se definir enquanto
provas objetivas para indicao de responsabilidade criminal de um acusado? Seriam,
os muitas vezes incompletos pareceres cientficos, ou os testemunhos, marcados
recorrentemente por ausncias e interesses pessoais? Se o regime republicano afirmavase simbolicamente pelo fim dos privilgios sociais, os debates em torno da definio do
que poderia ser uma prova de culpabilidade criminal perpassavam uma questo mais
profunda. A construo de uma justia coerente com os valores republicanos deveria
encontrar formas de julgar a todos de maneira igual, estabelecendo critrios de provas
racionais, que no levassem em conta paixes, privilgios de origem social, cor de pele
ou interesses pessoais. Desta forma, pretendo discutir a partir destes julgamentos com
diferentes sentenas e rus de segmentos sociais distintos, como os debates em torno da
definio de provas de culpabilidade criminal protagonizados por jornalistas, leitores,
advogados e juzes - perpassavam tambm uma discusso fundamental durante as
primeiras experincias do novo regime poltico: os direitos dos cidados frente ao
Estado republicano.
OS JULGAMENTOS PELO TRIBUNAL DO JRI EM ASSIS-SP
SANTOS, Joo Henrique dos (FEMA)
jhs@femanet.com.br
Os julgamentos pelo Tribunal do Jri exercem no Brasil um grande fascnio. Como de
fato todos ns percebemos, h um impacto que os crimes de morte causam na
sociedade, por outro lado, os momentos dos julgamentos so de significativa
repercusso, algumas vezes, mais at do que o crime em si. Nesta comunicao,
direcionaremos o olhar para o Tribunal do Jri da cidade de Assis - SP, sobretudo os
julgamentos ocorridos no perodo de 2012-2013. A partir dos discursos produzidos no
espao do Tribunal do Jri, analisaremos a contraposio entre tais discursos nos seus
elementos que so caracterizados pela luta entre sagrado e profano, racional e irracional,
155
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
vingana e redeno, punio e absolvio, exceo e regra, o teatro e suas diferentes
formas. No desenvolvimento da pesquisa de campo, com a finalidade de subsidiar este
estudo, comeamos a refletir sobre algumas possibilidades de anlise, sobretudo, uma
percepo do sequestro do tempo, ou suspenso do tempo, durante os momentos em que
ocorre um julgamento. Este sequestro do tempo, se d a partir da tentativa de
reconstruo dos acontecimentos que envolveram o crime cometido, sempre estruturado
a partir da justaposio de discursos, produzidos pelas testemunhas, res, advogados e
promotores. Deste modo, pensamos que este sequestro do tempo ocorre entre as
narrativas dos diferentes agentes do processo, suspendendo e ao mesmo tempo, criando
novas temporalidades conforme a intencionalidade dos envolvidos nos julgamentos.
SEGURANA PBLICA E RELAES RACIAIS: notas sobre a
formao de soldados e oficiais da PMESP
SCHLITTLER, Maria Carolina (UFSCar)
schlittler.carolina@hotmail.com
CAPES
A presente comunicao analisa como a segurana pblica se relaciona com a questo
racial no processo de formao de soldados e oficiais da Polcia Militar do Estado de
So Paulo, o que integra as anlises da pesquisa de doutorado, atualmente em curso,
intitulada Segurana Pblica e Relaes Raciais no estado de So Paulo: o processo de
incriminao pelas polcias. A proposta aqui entender como a temtica das relaes
raciais foi inserida na grade curricular da corporao e como tratada por alguns
policiais militares responsveis pelos cursos de formao, em diferentes hierarquias. Por
meio do trabalho de campo e pesquisa bibliogrfica foi identificado que durante a
dcada de 2000 a PMESP introduziu a disciplina - inicialmente denominada - Aes
Afirmativas e Igualdade Racial em todos seus cursos de formao (a saber: formao
de soldados, sargentos, oficiais e formao de altos oficiais), o que pode estar
relacionado ao processo iniciado ainda na dcada de 1990, quando o Brasil passa a
assinar tratados internacionais de respeito aos Direitos Humanos e Direito Humanitrios
Internacional aplicados ao treinamento de policiais, vinculados, principalmente, ao
Comit Internacional da Cruz Vermelha. Portanto, diante de uma literatura que indica o
uso da racializao como critrio de deciso para uma ao policial interessante
apreender como so produzidos os saberes, discursos e prticas da segurana pblica no
processo de formao de seus membros para administrar as relaes entre a PMESP e
grupos sociais especficos, no caso da presente pesquisa, o grupo caracterizado por
raa/cor, gerao e territrio: notadamente jovens, negros e moradores de periferias.
O MNIMO NECESSRIO DE FORA PUNITIVA: continuidades
e rupturas nos discursos sobre crime e punio nas leis 9.605/98
(crimes ambientais), 9.714/98 (penas alternativas) e 11.343/06 (txicos)
SOUZA, Guilherme Augusto Dornelles de (PUC/RS)
guilherme.augustus@gmail.com
CAPES-PROSUP
A Lei 9.714/98, que ampliou as possibilidades de aplicao das penas restritivas de
direitos, conhecidas como penas alternativas, e tambm instituiu novas alternativas
156
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
pena de priso, teve alguns de seus dispositivos vetados sob o argumento de que no
contavam com o mnimo necessrio de fora punitiva. No entanto, alguns desses
dispositivos vetados esto presentes na Lei 9.605/98, que estabeleceu os crimes
ambientais e as punies aplicveis, e outros reapareceram na Lei 11.343/06, a nova lei
de drogas. Considerando as condies de emergncia das diferentes polticas adotadas
no Brasil em relao s alternativas penais, h indcios de que discursos diversos foram
articulados na construo dessas polticas. Assim, quais as continuidades e rupturas
entre os discursos sobre crime e punio presentes na produo dessas trs leis? Essa
questo abordada a partir de ferramentas tericas fornecidas por Michel Foucault para
a compreenso do discurso como uma prtica e sua polivalncia ttica, articuladas s
reflexes de David Garland sobre as relaes entre as configuraes do campo do
controle do crime e as mentalidades e sensibilidades em relao ao crime e seus
sujeitos, bem como s discusses de Roberto Kant de Lima sobre as implicaes das
representaes hierrquicas existentes na cultura jurdica brasileira para as prticas das
agncias de controle penal. Para responder o problema proposto, analisou-se o texto dos
projetos de lei, das justificativas, dos pareceres das comisses da Cmara dos
Deputados e do Senado Federal e debates legislativos de cada uma dessas trs leis, com
o auxlio do software de pesquisa qualitativa NVivo 10, a partir de oito indicadores:
vises, sujeitos, justificativas, saberes, efeitos, aplicao, modalidades,
posicionamento.
PSTER
ATOS INFRACIONAIS NAS VARAS DA INFNCIA E
JUVENTUDE NO ESTADO DE SO PAULO
(1991-2011)
BARBIM, Marina Graziela (UNESP)
SIQUINELLI, Larissa Delle Siquinelli (UNESP)
marinabarbim@hotmail.com, larissasiquinelli@hotmail.com
PIBIC/CNPQ
O apelo favorvel ao endurecimento penal e um controle do crime e do criminoso,
atravs do ECA e sua recepo pelos operadores tcnicos do direito, estamos
investigando o processo de sentenciamento dos jovens de ambos os sexos que cometem
atos infracionais, identificando as razes pelas quais a doutrina da proteo integral
pode estar cedendo espao para uma leitura da lei a partir da tica da lei e da ordem.
Junto Vara da Infncia e Juventude numa cidade do interior do Estado de SP, cobrindo
o perodo de 1991 a 2011, a pesquisa com uma ampla reviso bibliogrfica, obteve
anlise do processo de constituio das instituies voltadas para o controle e punio
de jovens, com a reconstruo do debate em torno da doutrina de proteo integral e das
taxas de atos infracionais cometidos por jovens. Pudemos compreender qual o perfil dos
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de internao; a tipologia dos atos
infracionais dos jovens que recebem essas medidas; os tipos de sentenas aplicadas e
outras caractersticas da medida de internao, o impacto das medidas socioeducativas
de internao nas instituies de cumprimento das mesmas; as representaes dos
profissionais que atuam na rea.
157
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Sesso III: Controle Social, Crime e Instituies Penais
Dia 28/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Luis Antnio Francisco de Souza (UNESP/Marlia)
TEORIAS E GESTES DE SEGURANA PBLICA: notas
preliminares entre as influncias mundiais e brasileiras no estado de
Minas Gerais
BONESSO, Mrcio (UFSCar/IFTM)
marciobonesso@yahoo.com.br
Esse trabalho tem o objetivo de problematizar discusses tericas mundiais e de gesto
pblica sobre o controle social da criminalidade - o debate acerca desse tipo de controle
sempre foi preocupao de pensadores acadmicos e gestores pblicos das cidades
modernas - ao contexto histrico contemporneo do Estado de Minas Gerais. Tais
desdobramentos tericos e intervencionistas suscitaram, ao longo do sculo XX e virada
do sculo XXI, problemas histricos especficos s cincias e aos gestores da
administrao dos conflitos. Se no continente europeu e norte americano a atual
tendncia das polticas punitivas est associada ao que os pensadores chamam de psmodernidade, pode-se perguntar: como pensar a transposio desses modelos
internacionais para as heterogneas regies do Brasil, cujos elementos das chamadas
modernidade e ps-modernidade possuem especificidades bem diferentes daquelas
encontradas nos continentes citados e teorizados? Perseguindo algumas trilhas tericas e
histricas apresentadas a seguir, objetiva-se constituir um panorama comparativo que
servir de base instrumental para se pensar as gestes de controle social do crime no
Estado de Minas Gerais. No propsito de conter as taxas de crimes violentos que
aumentaram na metade da dcada de 1990, o governo de Minas Gerais criou no ano de
2003 um novo programa de gerenciamento das polticas de segurana pblica baseado
no plano choque de gesto do governador Acio Neves (PSDB). Nesse programa uma
nova gesto da segurana pblica foi implantado no Estado, tornando-o um dos modelos
bem sucedidos de polticas pblicas estaduais.
O USO DA VIOLNCIA DA ORDEM SOCIAL: uma anlise do
bairro Furnas-Trememb do municpio de So Paulo
FERNANDES, Alan (UNIFESP)
nalafer@uol.com.br
A pesquisa tem como objetivo investigar as formas de sociabilidade dos bairros em
estudo e de que forma a violncia instrumentalizada pelos indivduos como
componente estrutural e estruturante de suas relaes sociais, contrapondo-se tica
institucional-legal. Excluso social e alta privao material so o pano de fundo onde
homicdios, trfico de drogas, violncia domstica, roubos e furtos so acontecimentos
corriqueiros e funcionais na comunidade em estudo, reconhecido, em 2009, como a
quarta regio mais violenta na Regio Metropolitana de So Paulo em nmero de
assassinatos. A chave terica em que minha pesquisa se insere so os trabalhos de
Michel Misse, Alba Zaluar, Luiz Antonio Machado da Silva e Gabriel Feltran os quais,
158
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
valendo-se de etnografias urbanas, pretendem interpretar se e como o "mundo do crime"
agrega-se s formas de convivncia, aproximando as ticas de "trabalhadores", marcada
pelos valores ligados ao fordismo e a antigas concepes de hierarquias sociais, aos de
"bandidos", caracterizada pelo hedonismo, pela acentuao de um "ethos masculino" e
pelo consumo. A preocupao com esse problema decorreu do perodo em que trabalhei
como comandante de policiamento nos bairros em estudo, servindo Polcia Militar do
Estado de So Paulo quando, a despeito de crescentes investimentos nas reas de
urbanismo, sade e segurana, os ndices criminais apresentavam insignificantes
alteraes, mantendo-se em taxas bastante elevadas, o que problematizava os
paradigmas poltico-sociolgicos de combate ao crime. A partir do contato com a
cultura daquelas pessoas, novas interpretaes foram suscitadas, razo que motiva a
presente pesquisa. Para tanto, so utilizados mtodos qualitativos de interpretao,
ligados tradio da antropologia urbana.
ESPAO URBANO E REDES DE COMERCIALIZAO DAS
DROGAS ILCITAS
LAMOUNIER SENA, Lcia (PPGCS-CEPESP/PUC Minas)
SAPORI, Lus Flvio (CEPESP/PUC Minas)
llsena.bh65@gmail.com, lusapori@pucminas.br
O objetivo do artigo apresentado analisar as diferentes estruturas de comercializao
das drogas ilcitas no varejo, levando em considerao a conformao social do espao
urbano. Utilizando dados empricos coletados na regio metropolitana de Belo
Horizonte, o texto evidencia que esse mercado ilcito est estruturado em redes, de
modo que foram identificadas duas estruturas em rede de comercializao de drogas
ilcitas, denominadas de Rede de Empreendedores e Rede de Bocas. A rede de
empreendedores uma estrutura descentralizada, que tem como referncia central
hiperlinks que atuam na venda de drogas. A dinmica dessa rede configura-se por um
conjunto de ns interligados a esse hiperlink, o empreendedor, com o objetivo inicial de
obter o produto por ele comercializado. Esse acesso ocorre atravs de um sistema de
referncia mediado, principalmente, por relacionamentos com grupos de amigos ou
indicaes, amigos de amigos. A Rede de Boca, por sua vez, referncia de um
espao fsico constituindo-se como ponto comercial para a venda de uma droga ilcita.
o lugar, e no os indivduos, que atua como hiperlink para a formao das conexes.
Constitui uma rede de comercializao hierarquicamente centralizada, uma firma,
reconhecida como pertencente a um patro, figura central da rede ainda que no
pertencente ou presente no local em que a dinmica de comercializao em que esta
rede se desenvolve. As caractersticas socioeconmicas do espao urbano definem em
boa medida o tipo de rede de comercializao prevalecente. Nosso objetivo neste
trabalho propor uma discusso que aborde a vulnerabilidade do espao como um dos
elementos constitutivos das relaes e prticas sociais que nele tm lugar, advindas de
uma determinada rede de comercializao. A vulnerabilidade aqui referida no diz
respeito ao sentido de predominncia ou exclusividade econmico-produtiva em um
local (uma favela, por exemplo), mas que, uma vez existindo, tem capacidade de
disseminao de determinadas prticas de sociabilidade, de controle e uso da fora do
Estado sobre o espao como um todo.
159
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
A FORMAO DE GRUPOS NAS PRISES: uma anlise da
realidade do Presdio de Alcauz e Penitenciria Estadual de
Parnamirim
LIMA, Maria Mayara (UFRN)
OLIVEIRA, Hilderline Cmara de (UNIFACEX)
ALVES, Deyse Dayane (UFCG)
mayaradviriato@gmail.com, hilderlinec@hotmail.com, deysedalves@gmail.com
CAPES
O trabalho a ser apresentado busca o entendimento acerca da formao de grupos nas
prises, tomando como anlise a realidade do Presdio de Alcauz e Penitenciria
Estadual de Parnamirim, localizado no estado do Rio Grande do Norte. A formao de
grupos est intimamente ligada ao espao social penitencirio, condicionada ao
processo de pena e ao contexto histrico que cada apenado carrega consigo. A
existncia desses grupos revela a dinmica entre apenados, lderes e subordinados,
dentro e fora do presdio. H uma significao em termos de linguagem, regras e relao
entre os presos. O trabalho traz como revelao depoimentos de apenados a respeito da
hierarquia do local e como se d a diviso desses grupos. Entende-se que a
subjetividade humana fruto de um processo social e histrico da realidade a qual o
sujeito esteve inserido, geralmente, durante a primeira etapa de sua vida; notadamente, o
mesmo ir reproduzir seu papel de forma associada ao que entende como viver, ou
sobreviver, mesmo que signifique ir contra as regras e leis impostas pela sociedade, ou
mesmo criar suas prprias regras e constituir sua prpria conduta. Dentro do universo
penitencirio no diferente: na medida em que surge um lder, representado pelo poder
que influi dentro e fora dos muros penitencirios, seja pela droga, dinheiro e condio
penal que possui, surge tambm os seus seguidores, por respeito ou por medo quele
sujeito, ou determinado grupo de poder. Para esse debate, temos apoio na literatura de
Bourdieu, Berger, Foucault, dentre outros, que nos permite adentrar na discusso do ser
humano, do ser indivduo, sua adaptao ao local em que vive, do prprio espao social
e de situaes de conflito e consenso em suas relaes sociais.
OPRESSO, GALINHAGEM E DISCIPLINA: dinmicas e lutas no
interior da Fundao CASA
OLIC, Mauricio Bacic (UNESP)
mauricio.olic@bol.com.br
O presente artigo tem como objetivo analisar o embate de foras no interior das
diferentes unidades de internao do Centro de Atendimento Socioeducativo ao
Adolescente (CASA), a partir das transformaes poltico-administrativas que vem
acontecendo na instituio nos ltimos anos. Por meio de observaes empricas
realizadas como professor da escola que funciona dentro do complexo Raposo Tavares
localizado na cidade de So Paulo, buscar-se- descrever por meio de relatos
etnogrficos, por um lado, a dinmica dos dispositivos estatais empregados para
controlar a rotina das unidades, de modo a inibir possveis agenciamentos polticos entre
os adolescentes. Estes dispositivos buscaram combinar um conjunto heterogneo de
aes, tal como a readequao arquitetnica das unidades, a diminuio no nmero de
internos, alm do emprego de tcnicas intramuros; como as estratgias de zerar a casa e
160
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
o sistema de alas. Por outro lado, estas aes so indissociveis das disposies
empregadas pelos adolescentes que, por sua vez, buscam contra efetuar a organizao
imposta pelos agentes institucionais. Por meio de tcnicas que visam enfraquecer o
coletivo de funcionrios, os adolescentes anseiam transformar as unidades em locais
favorveis a territorializao dos enunciados do Primeiro Comando da Capital. Nesta
perspectiva, portanto, os Centros de Atendimento da Fundao CASA se apresentam
como espaos em que intensos e constantes embates de foras acabam polarizando em
extremidades opostas os coletivos de funcionrios e de internos. Opresso, galinhagem
e disciplina so as categorias nativas que expressam as modulaes de como este campo
de luta se estabiliza, e determina, mesmo que provisoriamente, o proceder de cada
unidade.
A GUERRA COMO FORMA DE RELAO: uma anlise das
rivalidades violentas entre gangues em um aglomerado de Belo
Horizonte
ROCHA, Rafael Lacerda Silveira (UFMG)
rochaunit02@gmail.com
FAPEMIG
Este trabalho apresenta os resultados da dissertao de mestrado defendida em 2012
acerca das relaes de rivalidade violenta, as chamadas guerras, entre gangues de uma
das localidades com maiores ndices de homicdios no municpio de Belo Horizonte. A
pesquisa teve como principal objetivo compreender como essas guerras entre os grupos
se estruturam e se mantm durante longos perodos, e suas caractersticas como uma
forma de relao especfica que movimenta lealdades e valores estruturantes a estas
gangues. Dentro do amplo conjunto de relaes sociais formadas no interior e ao redor
desses grupos, analiso especialmente o processo de entrada dos integrantes, o
aprendizado e socializao dentro dessas gangues, os aspectos acerca da adoo de uma
identidade grupal e a formao de um conjunto de justificativas morais para a oposio
aos rivais, pontos centrais para compreender a participao na trama de confrontos
violentos com grupos semelhantes. A pesquisa teve como principal fonte de dados a
observao participante durante seis meses entre algumas destas gangues, assim como
entrevistas pontuais, em uma abordagem metodolgica que possibilitou escutar dos
prprios integrantes suas definies acerca do seu grupo, dos rivais e das guerras, mas
tambm, experimentar a forma como estas definies operam no cotidiano dessas
gangues e seus componentes. Frente configurao dispersa do trfico de drogas local,
sem grandes lideranas ou disputas frequentes pelo controle de pontos de vendas
estratgicos, corriqueiramente apresentadas como motivao central dos conflitos
violentos entre gangues em outros contextos, coube, portanto, a busca por outras
explicaes para o fenmeno da continuidade da rivalidade violenta entre estes grupos
que fossem para alm do trfico de drogas.
161
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
LGICAS ESTATAIS E DINMICAS CRIMINAIS NO INTERIOR
PAULISTA
SILVA, David Esmael Marques da (UFSCar)
de.esmael@gmail.com
CNPQ
Partindo da bibliografia atual sobre violncia e administrao de conflitos que aponta
para uma nova organizao das dinmicas criminais com o protagonismo da
organizao criminal PCC (Primeiro Comando da Capital) - sobretudo a partir da virada
para os anos 2000, e apoiado em uma pesquisa emprica composta por visitas
equipamentos da administrao municipal e entrevistas com agentes estatais ligados ao
Departamento de Servio Social e Cidadania de Climatina, o presente trabalho discutir
as percepes dos agentes estatais do referido municpio acerca destas dinmicas
criminais, principalmente as percepes ligadas ao PCC, em cidade mdia do interior
paulista, bem como as relaes possveis entre agentes estatais e agentes ligados a tais
dinmicas criminais que ocupam o mesmo territrio. Em outro sentido, discutir as
relaes entre polticas mais gerais, de mbito federal ou estadual, e polticas locais
relacionadas ao controle do crime.
SE O IRMO FALOU, MEU IRMO, MELHOR NO
DUVIDAR: polticas estatais e polticas criminais referentes a
homicdios na cidade de Luzia (2001-2011)
SILVA, Jos Douglas dos Santos (UFSCar)
douglascaos@yahoo.com.br
No perodo entre 2001 e 2011 ocorreu uma significativa reduo das taxas de
homicdios no Estado de So Paulo. H uma polmica no campo das Cincias Sociais
em torno das causalidades mltiplas e dos pressupostos analticos que explicariam esse
fenmeno, uma especificidade paulista no quadro nacional. Em 2001 a cidade a ser aqui
estudada, localizada na Regio Metropolitana de So Paulo (RMSP), apresentou taxa de
homicdio de 51,57/100 mil habitantes; em 2010 chegou a 5,53/ 100 mil habitantes, um
dcimo do valor inicial. Contudo, no ano de 2011, houve um novo aumento
significativo, para 18,11/100 mil habitantes no municpio. O objetivo deste projeto
estudar as causalidades que condicionam a variao nas taxas de homicdios, entre 2001
e 2011. Estudar os fatores que, combinados, entre dinmicas estatais e criminais,
condicionam a queda das taxas de homicdios entre 2001 e 2010 e analisar as
causalidades que, tambm combinadas entre dinmicas estatais e criminais,
condicionam a elevao recente (2011). Os dados tm sido coletados pela atuao
profissional do pesquisador em diversas organizaes locais, ao longo dos anos 2000.
Ainda assim, ser realizada nova pesquisa documental em 2013, alm de pesquisa
qualitativa no territrio.
162
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
REPRESSO E JUDICIALIZAO: estratgias estatais de
controle do crime em face s novas dinmicas criminais
SILVESTRE, Giane (UFSCar)
silvestregiane@gmail.com
FAPESP
A presente comunicao, fruto da pesquisa de doutorado em andamento, discute as
relaes entre o encarceramento massivo no estado de So Paulo sobre as aes estatais
de controle do crime. Nas duas ltimas dcadas, com o crescimento expressivo da
populao encarcerada e do aumento do nmero de unidades prisionais, So Paulo
ganhou destaque com a emergncia do Primeiro Comando da Capital PCC, e novas
dinmicas passaram a orientar as relaes do mundo crime. Atualmente so mais de
200 mil pessoas presas e distribudas em 156 prises e diante deste contexto, pretendese analisar o modo como as instituies e os agentes estatais ligados ao controle e
administrao judicial do crime esto sendo afetados pela emergncia deste novo ator.
A pesquisa, em fase de coleta de dados, partiu de dois casos empricos que serviram na
identificao duas estratgias centrais (que no se excluem) no controle ao crime por
parte do Estado: i) um controle militarizado pautado, sobretudo, pelo enfrentamento
letal na administrao dos conflitos e protagonizado pela Polcia Militar e; ii) um
controle judicial clssico pautado, tanto na priorizao do encarceramento para
determinados crimes, quanto nos baixos ndices de punio para os casos de letalidade
policial. Os dois casos ocorridos no interior de So Paulo (Pirassununga e Vrzea
Paulista) exemplificam a atuao dos agentes estatais em cada uma das estratgias
citadas, analisando as relaes e incidncias entre ambas.
PSTER
MEDO E MODERNIDADE: o imprescindvel dilogo
CHIARADIA, Raquel Cristina Abdalla (UGF)
raquelchiaradia@hotmail.com
Este trabalho possui como axioma o medo numa perspectiva de mundo ocidental. Ser
trabalhada a ideia do medo enquanto elemento subjetivo, uma emoo que acompanha
nossa existncia e alguns de seus desdobramentos na sociedade contempornea. Sendo
assim, este artigo se compromete em relacionar tal sentimento com o to aclamado
projeto de civilizao durante a modernidade, que pretendeu construir um mundo feliz,
livre, seguro, ordenado e destemido por meio do esclarecimento. No entanto, sabe-se
que as utopias modernas acabaram fracassando, e que estas mesmas utopias que
promoveram uma sociedade em que se tem uma sensao crescente de insegurana e faz
com que os indivduos sintam-se, com frequncia cada vez maior, amedrontados. Para
exibir a explanao do contedo, a tcnica de pesquisa que ser aplicada de natureza
qualitativa, atravs da pesquisa bibliogrfica e observao documental. A escolha das
referncias se d devido abordagem qualitativa presente nas produes textuais.
Visando provar o raciocnio deste trabalho, pode-se afirmar que a hiptese e os
documentos trabalhados so compatveis porque explicam e fundamentam as
concluses desta pesquisa: como consequncia das percepes mencionadas
anteriormente insegurana e medo deparamo-nos com a angstia, o consumo
163
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
desenfreado em equipamentos e produtos que tentam garantir tanto a segurana de cada
um quanto os lucros exorbitantes neste ramo do mercado, um processo de
individualizao que se fortalece e, por isso, amplia as fronteiras entre as pessoas.
A VIOLNCIA EM UBERLNDIA: narrativas entre a periferia e a
penitenciria
EVANGELISTA, Cleiber Wesley (UFU)
SILVA, Leandro Oliveira (UFU)
gleiber3000@yahoo.com.br, silva-lo@hotmail.com
O trabalho trata da produo do territrio da violncia na cidade de Uberlndia e nas
cidades do seu entorno compondo a regio do Triangulo Mineiro. O crescimento da
violncia urbana, em suas mltiplas modalidades - crime comum, crime organizado,
violncia domstica, violao de direitos humanos - vm se constituindo uma das
maiores preocupaes da sociedade brasileira contempornea nas duas ltimas dcadas
chegando mais recentemente nas cidades de mdio porte. Em parte por que, neste
campo, revelam-se sensveis tenses em mltiplos planos de anlise social. O trabalho
aborda a violncia de um ponto de vista geogrfico, isto , espacial. Mas no a
espacializao do fenmeno da violncia, o local onde ela ocorre. a territorializao, a
formao do territrio da violncia, o que implica em realimentar a violncia pela via da
inrcia espacial e pelo papel do espao no processo de segregao ditada por um lado
pelo poder pblico e por outro pela populao com a criao de uma srie de
dispositivos de segurana De um lado, a extrema valorizao do espao urbano. De
outro a excluso social de camadas da populao e de atividades a ela ligadas. Esse
espao sem lei torna-se o reduto da ilegalidade, passa a ser o quartel general da
ilegalidade e tem na populao, pobre o seu exrcito de reserva. Como lcus de anlise
o trabalho pretende realizar um relato etnogrfico comparativo entre o espao da
Penitenciria Professor Joo Pimenta da Veiga e do bairro Morumbi. A penitenciria...
Surgiu em 2003, localizada setor leste zona rural e com decorrer dos anos vrios jovens
do bairro Morumbi esteve nesta penitenciaria e aumentando cada dia mais com a
excluso social que passa a ser ntida na periferia. O bairro Morumbi nasceu do
conjunto habitacional Santa Mnica Dois, na periferia do setor leste foi classificada pela
Secretria Estadual de Defesa Social de Minas Gerais como a primeira rea de risco da
cidade pelos altos ndices de crimes violentos, sobretudo de homicdios.
164
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
GT 6: RURALIDADES E MEIO AMBIENTE
Sesso I: Terra e Trabalho Rural
Dia 27/08/13 s 14h
Debatedora: Dr. Beatriz Medeiros de Melo
TERRA DE VIDA E DE TRABALHO: pensando o campesinato por
meio de seus valores
FERREIRA, Karoline Coelho (UFS)
karolinecoelho@ymail.com
As principais teorias do campesinato nos mostram diferentes paradigmas conceituais e
realidades empricas, que, embora guardem singularidades significativas, apontam que
muitos grupos campesinos tm conseguido resistir s alteraes provocadas pelo
contato direto com a sociedade envolvente. Considerando a importncia das relaes
familiares, de trabalho e a forma de lidar com a terra, o presente trabalho visa refletir de
que forma tais relaes esto vinculadas a ideia de valores camponeses, que as
sustentam entre seus pares ainda hoje. A reconstruo destes valores est diretamente
relacionada s modificaes nos grupos camponeses ocasionadas pelas mudanas no
cenrio poltico e econmico ao qual esto vinculadas.
Partindo desta perspectiva foi realizado um estudo etnogrfico com um grupo de
pequenos agricultores do Territrio Sul do estado de Sergipe, experimentadores do
mtodo Campons a campons, que prope a realizao de intercmbios
agroecolgicos em que os agricultores debatem questes, do ponto de vista tcnico de
produo agrcola e questes sociais e polticas do contexto em que se inserem,
trocando demandas e solues do cotidiano de trabalho e famlia entre os demais que
partilham de uma realidade comum. Tal observao possibilitou identificar a
reproduo de um ideal campons comum ao descrito pelas teorias do campesinato,
suscitando a investigao da reconstruo dos valores camponeses, nas atividades de
intercmbio, onde se identificou um processo de (re)construo de uma identidade
camponesa entre estes agricultores por meio de laos de reciprocidade sociabilizados
enquanto estratgias, resignificadas por eles, de resistncia ao modelo de agricultura de
mercado com que se deparam em suas trajetrias.
MODO DE VIDA RURAL NIKKEI: aspectos da formao do japons
caipira
HASEGAWA, Aline Yuri (UFSCar)
aline.hasegawa@gmail.com
FAPESP
Por meio da reconstituio esttica e filosfica da relao dos japoneses com a natureza,
isto , qual imagem de natureza elaborada a partir da cosmologia japonesa, ser
possvel compreender os elementos abstratos que constituem a relao dos nikkei
165
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
imigrantes japoneses com a terra. Essa relao a base material para a constituio de
um modo de vida especfico, historicamente constitudo. Por isso, alm da viso da
natureza, necessrio levar em considerao, na constituio deste componente
identitrio tnico, a experincia imigratria. Associada a essa relao especfica com a
natureza, que os imigrantes nikkei traziam em sua bagagem cultural e que nos ajuda a
compreender o significado profundo da resistncia deles em vender ou arrendar suas
terras inclusive em contextos de avano da agroindstria canavieira, podemos apontar
tambm uma relao ecolgica do homem com seu meio fornecido pelo modo de vida
caipira. No pretendemos, de maneira alguma, incorrer em generalizaes
preconceituosas acerca do caipira. Consideramos, inclusive, que esta uma categoria
de difcil definio e em disputa pelos intelectuais que se debruam sobre este tema.
Porm, optamos por percorrer brevemente um caminho que passasse por sua discusso
justamente pois esta foi uma categoria informada pelo trabalho de campo. Num
equilbrio entre os costumes, a natureza e a vida grupal houve o encontro de elementos,
afinidades eletivas, da cultura caipira e do sistema filosfico japons. Consistem, assim,
em ferramentas conceituais para a compreenso da complexidade do que entendo por
modo de vida rural nikkei.
O CAMPONS E O SEU PROTAGONISMO: o exemplo do MST e a
sua luta pela permanncia e garantia de qualidade de vida nos
assentamentos de reforma agrria do municpio de Nossa Senhora da
Glria- SE
JESUS, Claudia Kathyuscia Bispo de
claudia_kathyuscia@hotmail.com
CAPES
O presente trabalho resultado de aes acadmicas realizadas pelo programa
institucional de iniciao extenso (PIBIX) da Universidade federal de Sergipe (UFS)
no perodo de graduao em cincias sociais bacharelado. importante destacar que,
essa atividade de extenso universitria tinha como foco a questo dos direitos sociais e
a categoria qualidade de vida em nove assentamentos rurais do municpio de Nossa
Senhora da Glria no estado de Sergipe. A pesquisa-ao, a partir da realizao de
grupos focais, em conjunto com observaes diretas e participantes, foram as formas de
desenvolvimento de nosso trabalho de campo. O trabalho que apresentaremos tem a
pretenso de contribuir para o conhecimento de um grupo social importante na histria
da luta pela terra, enquanto um direito social. Trata-se do Movimento dos Trabalhadores
Sem Terra (MST), ademais apresentar as (novas) dinmicas de protagonismo do MST
na busca pela implementao de direitos sociais em seus respectivos assentamentos,
bem como a luta pela garantia de sua permanncia, preservao e manuteno de seu
modo de viver campons.
166
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
Condies de trabalho e empregabilidade na citricultura no Estado de
So Paulo
MACIEL, Lidiane Maria (UNICAMP)
FAPESP
Esta comunicao atenta para as condies de vida e trabalho da populao que atua na
safra de ctricos no Estado de So Paulo. A fora de trabalho utilizada pelo setor
essencialmente de migrante, uma populao empobrecida que habita as cidades
prximas aos laranjais ou que realizam migraes sazonais no perodo da safra. O
estudo parte da unio de duas pesquisas quali-quantitativas realizadas entre os anos de
2009 2012, nas cidades de So Carlos e Mato no Estado de So Paulo destino
migratrio e Jaics no Estado do Piau origem migratria. No Estado de So Paulo
nos ltimos quarenta anos o setor de ctricos se fortaleceu dado vinculao ao mercado
internacional, que compra oitenta porcento de sua produo. O Brasil responsvel pelo
abastecimento de cinquenta porcento desse mercado. O potente setor criou um slido
mercado de trabalho que necessita de muita mo de obra pouco especializada, e ento
nos rinces do interior do nordeste brasileiro e nas periferias urbanas das cidades citadas
que o setor alimenta sua necessidade de mo de obra. Assim, objetivo do trabalho a ser
apresentado trazer atravs de um breve esboo sobre a citricultura no Estado de So
Paulo da ruralidade nomeada como agronegcio os agentes esquecidos ou
invisibilizados pelas anlises macroestruturais sobre o setor, no caso os (as)
trabalhadores (as) e suas condies sociais de existncia.
O CEAR E A SECA DE 1877-79: migrao e fome no interior
nordestino
MAIA, Janille Campos
camposnile@gmail.com
CAPES
O presente trabalho um esforo de sistematizao da minha pesquisa de mestrado,
cujo objetivo principal analisar os impactos ambientais produzidos pela seca na
Provncia do Cear nos anos 1877-79, principalmente no que diz respeito ao
deslocamento interno destas populaes sertanejas. A dcada de 1870 foi marcada por
uma crise climtica em escala mundial. Uma das consequncias foi a fome gerada em
pases de diferentes continentes: ndia, China, norte da frica e Nordeste do Brasil
sofreram um perodo de grande seca que devastou parte de suas populaes.
Considerando a gravidade da Grande Seca de 1876-79 no mundo, torna-se fundamental
entender a seca enquanto um fenmeno climtico que produz impactos culturais,
sociais, polticos e econmicos. Nesse sentido, os dados relatados por Mike Davis
revelam que as catstrofes ambientais da dcada de 1870 atingiram um nmero de
vtimas considervel nos pases assolados pela estiagem. No Brasil, a preocupao
maior era no Cear, onde a colheita do ano anterior, depois da escassez de chuvas do
inverno, tambm foi fraca. Na tentativa de compreender as estratgias utilizadas por
estes sertanejos, o cerne deste trabalho verificar as dinmicas de vida desses
cearenses, numa perspectiva que leve em considerao a relao destes com seu
ambiente. A partir da utilizao de um referencial terico da Histria Ambiental e dos
167
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
estudos sobre migrao, territrio e espao, busca-se entender de que forma este fluxo
migratrio est relacionado com os desastres naturais que enfrentavam estes cearenses.
RURALIDADES EM UM CONTEXTO DE MODERNIDADE
PERIFRICA: uma leitura a partir do acampamento Joo do Vale em
Aailndia Maranho
RODRIGUES, Fabiano dos Santos (UFCG)
rodriguesaps@yahoo.com.br / fabiano.rodrigues@ifpa.edu.br
CAPES
O presente artigo procura fazer a partir de um contexto de modernizao perifrica, no
Acampamento Joo do Vale no municpio de Aailndia Estado do Maranho, um
exerccio de leitura a partir de contribuies tericas sobre ruralidades e outras
elaboraes tericas inerentes a tal discusso, como desenvolvimento, pluriatividade,
estratgias e modos de vida singular. Levando amplamente em considerao o contexto
das mudanas e intervenes desenvolvimentistas na regio estudada como um todo.
Tais intervenes tm sido materializadas com a implantao de grandes projetos
econmicos como siderurgia, minerao, pecuria extensiva e silvicultura e que tem
influenciado fortemente as relaes e a vida dos moradores do Acampamento Joo do
Vale. Aps incurses de pesquisa de campo, observando e sentido evidncias que se
manifestam muito fortemente de um espao em que se constitui na mesclagem de
elementos tradicionais e modernos em que estes elementos em certa medida so
assimilados ou impostos socialmente acreditamos que nas devidas gradaes as
elaboraes tericas de ruralidades so de grande significncia para uma leitura dessas
novas dinmicas inerentes ao mundo rural contemporneo, em especial o caso analisado
aqui.
TERRAS NAS MOS DOS PEQUENOS: relaes produtivas e
sociabilidade dos pequenos fornecedores de cana e terra para as usinas
de acar e lcool do interior paulista
ROVIERO, Andria (UNESP)
aroviero@gmail.com
CAPES
O projeto tem como objetivo mapear, entender e discutir a relao dos pequenos
proprietrios, produtores e fornecedores de cana-de-acar para usinas de
processamento da Regio de Araraquara e Jaboticabal. Pretendo estudar o pequeno
produtor agrcola enquanto agente produtivo que se adapta as transformaes que vem
acontecendo na agricultura. E entender o papel desses novos agentes rurais que atuam
dentro da produo usina/destilarias, desenvolvendo uma nova relao com a terra. No
cenrio em que a produo canavieira dominante, tornam-se imprescindveis estudos
mais especficos voltados para a figura do fornecedor de terras ou de cana-de-acar
para as usinas de processamento. Para entender a agricultura local fundamental
ampliar a discusses do espao rural, de como se discute o considerado novo rural
brasileiro perante as novas perspectivas que se instauram, e, as atividades e
sociabilidades constitudas em campos que no fazem a separao entre rural e
168
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
urbano. Pretende-se discutir a relao entre agentes produtivos do mundo rural, ou seja,
a relao: produtor-usina/ produtor-terra, buscando entender as condies produtivas e
contratuais entre as empresas (usinas) e os fornecedores de cana, com nfase nos
pequenos produtores, e, ainda, entender a relao dos produtores com a propriedade da
terra, sua produo e escolhas, ou seja, seu papel e impacto dentro do contexto
socioeconmicos da regio de Araraquara e de Jaboticabal.
SUPERANDO LIMITES: o caso dos assentados rurais no PA Che
Guevara
SANTOS, Priscila Tavares dos (UFF)
CAPES
As peculiares condies ambientais dos projetos de assentamento rural no pas
constituem-se enquanto aspectos limitantes efetivao e sucesso dos investimentos
objetivando a gesto produtiva do lote e manuteno das condies de reproduo do
grupo familiar. O caso dos assentados rurais no PA Che Guevara veem-se forados a
criar alternativas para reverter o quadro de exausto do solo, gua e demais recursos
naturais e assegurarem condies mnimas necessrias reproduo social do grupo
familiar. Alm do investimento em adubao do solo, em irrigao e na restaurao da
vegetao e da rea de reserva, os assentados so impelidos a enfrentar situaes de
desqualificao insinuantes de uma pressuposta incapacidade de gesto pelo no saber.
Para romper com os efeitos dessa atribuio preconceituosa que a eles por vezes
dirigida, mediante investimento na sistematizao do saber prtico, invisto no
reconhecimento do saber local, considerando as prticas de produo neste
assentamento. Para este exerccio, valorizei fatores situacionais que estimulam a
reflexo e a reteno de conhecimentos pelos assentados, considerando os diferentes
modos de agir e de pensar. Valorizo a capacidade de gesto dos fatores de produo e
como se mobilizam e direcionam a fora de trabalho, mediante condies de
possibilidade de incorporao de recursos financeiros, segundo orientao que atribuem
aos sistemas produtivos.
TRANSFORMAES NO ESPAO RURAL AMAZNICO: o
plantio de dend em comunidades camponesas do baixo Tocantins,
municpio de Moju/PA
VIEIRA, Ana Carolina C. (UFPA)
MAGALHES, Snia Barbosa (UFPA)
accvieira_florestal@yahoo.com.br, sm.mag@globo.com
MCTI/CNPq/MEC/CAPES
Desde meados dos anos 70 do sculo XX a Amaznia Brasileira foco de forte
interveno estatal, o que no foi diferente na regio do Baixo Tocantins, no Estado do
Par. Desde o incio do sculo XXI transformaes de uso do solo e paisagem, com a
entrada de incentivos governamentais produo de dend (Elaeis guineenses Jacq),
estimulam a chegada do agronegcio na regio e o envolvimento de camponeses no
processo produtivo desta oleaginosa. (MAGALHES et al, 2012) Neste trabalho
nomeia-se camponeses os produtores familiares que cultivam a terra para a produo de
produtos alimentares, em que o trabalho familiar a garantia da prosperidade da famlia
169
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
e possuem autonomia em relao ao mercado. (VELHO, 1974; CHAYANOV 1981;
GARCIA JR, 1983; HEBETTE, 1996) Esses arranjos produtivos e institucionais
acarretam na transformao do espao rural, implica em mudanas do uso do solo,
sendo este o tema desenvolvido pelo presente trabalho. Por meio de dados qualitativos e
quantitativos pretendeu-se analisar essas transformaes e como elas interferem na
capacidade de resilincia e prosperidade de 150 famlias camponesas do municpio de
Moj, regio do Baixo Tocantins-PA, que abarcaram no processo produtivo do dend,
para fins alimentcios, em parceria com o Grupo Agropalma SA. Conclumos que essas
diferentes intervenes afetam diretamente as formas de apropriao e uso da terra,
causando impactos diretos nos relacionamentos sociais e territoriais provocando
mudanas sociais e ambientais, promovendo a expanso do agronegcio em detrimento
do espao e modo de vida do campesinato amaznico.
PSTER
O DISCURSO DAS GUAS: estudo de caso da cobrana pelo uso da
gua no interior paulista
CHAMPREGHER, Raiza (UFSCar)
raiza.campregher@gmail.com
FAPESP
O controle social do uso dos recursos naturais sofreu importantes transformaes nas
ltimas trs dcadas. A gesto da gua, em particular, foi drasticamente modificada a
partir da dcada de 1990, quando foi implementado no Estado de So Paulo um modelo
descentralizado, participativo e integrado de gesto de recursos hdricos, inspirado na
governana francesa das guas. A gesto desse recurso passou a ser realizada a nvel
regional atravs dos comits de bacia hidrogrfica rgos consultivos e deliberativos,
com participao paritria do Estado, municpios e sociedade civil. Nesse modelo, dois
aparatos so fundamentais para a gesto da gua, quais sejam: a outorga de direitos de
uso e a cobrana pelo uso da gua. Tal cobrana baseada em princpios da economia
ambiental neoclssica, e tem como objetivo a indicao do nvel de escassez do recurso
e a promoo de seu uso racional atravs de estratgias de precificao. O presente
trabalho visa, ento, identificar quais so os argumentos recorrentes na defesa da
cobrana pelo uso da gua no mbito das bacias hidrogrficas e, tambm, relacionar os
eixos argumentativos encontrados aos discursos hegemnicos sobre a gesto do recurso.
Tendo em vista que a agricultura e demais atividades econmicas do meio rural esto
atreladas ao uso de recursos hdricos e, principalmente, as populaes rurais tm
percepes particulares da sua relao com a gua, optou-se pela realizao de um
estudo de caso no interior paulista, especificamente no Comit de Bacia Hidrogrfica
Tiet-Jacar. Neste trabalho utilizou-se mtodos qualitativos de pesquisa social, atravs
de entrevistas, pesquisa documental e bibliogrfica.
170
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
UNIDADE DE PROTEO INTEGRAL E OS INSTRUMENTOS DE
RESISTNCIA DA POPULAO LOCAL FRENTE AO MITO QUE
PREGA A INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRESERVAO
AMBIENTAL E PRESENA HUMANA NO PARQUE ESTADUAL
DA PEDRA BRANCA
DIAS, Marcia Cristina de Oliveira (UFRRJ)
marcia.cristina1964@gmail.com
FAPERJ
O Brasil o pas que possui a maior biodiversidade do planeta 20% do total de
espcies existentes no planeta. E, se por um lado, em nome do desenvolvimento, muitas
reas naturais so degradadas, por outro, a responsabilidade do Brasil em preservar a
natureza leva criao de inmeras Unidades de Conservao. A criao de UCs do
tipo Parque ou Reserva, baseada no mito naturalista que presume a incompatibilidade
entre presena humana e conservao da natureza (DIEGUES, 2000) afeta
completamente a vida dos nativos destas reas. Utilizando como recorte o PEPB
Parque Estadual da Pedra Branca, criado em 1974 e localizado no municpio do Rio de
Janeiro, este trabalho busca evidenciar as transformaes sociais, polticas e econmicas
que ocorrem em decorrncia da criao de um Parque. A partir da unio entre teoria e
prtica, trabalho de campo e leituras bibliogrficas relacionadas ao tema, tentei mostrar
como, diante da ameaa de expulso, os agricultores desta rea buscam no
associativismo, na adoo de novas tcnicas de cultivo e na ressignificao de antigas,
conquistarem o direito de permanecer no territrio que consideram como o territrio
deles, geogrfico e culturalmente. Minha vivncia, ainda que por um curto perodo de
tempo, com os agricultores familiares do PEPB possibilitou-me perceber que tudo o que
eles querem ser respeitados e mostrar ao Poder Pblico que, se esta rea ainda est
conservada justamente pelo fato de que foram estes nativos que, ao longo do tempo
conservaram a natureza atravs da prtica de uma agricultura sem agrotxicos e que
sempre privilegiou o uso sustentvel do solo e dos mananciais de gua. Em certa
reunio ouvi de um agricultor a seguinte frase: sempre fomos orgnicos e no
sabamos.
Sesso II: Do Rural ao Ambiental: novos temas e dilemas conceituais
Dia 28/08/13 s 14h
Debatedor: Prof. Dr. Rodrigo Constante Martins (UFSCar)
Sustentabilidade e a anlise sociolgica: reviso de artigos selecionados
BACCHIEGGA, Fbio (UNICAMP)
CAPES
Nas ltimas dcadas, o tema da sustentabilidade vem alcanado enorme visibilidade nas
mais diferentes esferas, como na mdia, na opinio pblica e nas agendas de polticas
pblicas. Assim, devido ao seu alcance e seu carter inter/trans disciplinar
171
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
acreditamos ser necessrio e urgente estender suas esferas de anlise, como dentro do
campo da Sociologia. Neste trabalho que pretendemos apresentar, aproveitando as
informaes de levantamentos bibliogrficos e com apoio de diferentes estudos sobre o
tema, buscaremos realizar uma anlise quantitativa e qualitativa de artigos cientficos
selecionados que abordam o tema da sustentabilidade no mbito das publicaes na rea
das Humanidades no Brasil buscando uma comparao com a produo realizada em
outros centros de estudos da Amrica Latina, no intuito de tecer um panorama da
produo do pensamento latino americano sobre a temtica da sustentabilidade. Nos
estudos quantitativos, buscaremos analisar a relevncia da questo da sustentabilidade
dentro dos estudos com interface em Ambiente e Sociedade em publicaes de
Humanidades da Amrica Latina. A ideia seria compreender quais pases que
apresentam maior produo sobre o tema e sistematizar os dados buscando comparaes
dessa produo cientifica. J na chamada anlise qualitativa, buscaremos um enfoque
sobre a produo brasileira, e analisaremos alguns artigos com o uso da chamada
Anlise de Contedo, um instrumento metodolgico que visa a anlise da mensagem
(artigos) e da produo de inferncias chega-se ao chamado Mtodo Lgico-Semntico
(Anlise de Contedo), mesclando reas da lingustica e da hermenutica, buscando
compreender como feito o tratamento da temtica da sustentabilidade e quais os
principais referenciais da Sociologia Ambiental.
ENTRE A SUSTENTABILIDADE E A REALIDADE: o caso do
Prolcool (1975-2003)
BERTAZI, Marcio Henrique (UNESP)
marciobertazi@gmail.com
FAPESP
A comunicao tem como objetivo apontar a complexa relao que se estabeleceu entre
o campo e a cidade no contexto da agricultura canavieira no estado de So Paulo, da
decretao do Prolcool (1975) ao desenvolvimento da tecnologia flexfuel (2003), no
bojo das discusses a respeito da sustentabilidade do etanol como combustvel. Criado
no bojo da ditadura militar brasileira (1964-85), o Prolcool representou uma dupla
esperana no contexto da crise energtica (1973): ao campo, uma possibilidade de
aumento dos lucros aos detentores de terra e capital, ancorados na histrica certeza de
liberao de crditos por parte do Estado; e cidade, cujo parque automobilstico
encontrava-se em expanso, vido por um combustvel pouco oneroso e com garantida
disponibilidade. A anlise do perodo permite averiguar que a aclamada sustentabilidade
do lcool foi, antes de tudo, questionvel. As consequncias socioambientais no
perodo, de fato, tornaram-se bastante graves: acentuao da migrao rural em direo
s cidades com deficientes infraestruturas locacionais; poluio atmosfrica (trfego
intensivo nos centros urbanos e queima da cana-de-acar no campo) e massivo
aumento da utilizao dos agrotxicos no cultivo. A aclamada sustentabilidade dos
combustveis renovveis, defendida inclusive pelo Estado, no caso do lcool, se deu
justamente pela insustentabilidade, s custas da agresso ainda maior para com o meio
ambiente; da pauperizao dos trabalhadores rurais, desprovidos das mnimas condies
de sobrevivncia numa cidade que no os recebe de braos abertos e de um campo que
quer explor-los exausto; e do aumento expressivo da frota automobilstica nas
cidades, causando conflitos urbanos com os quais as prefeituras contemporneas tem se
debruado sem sucesso na resoluo.
172
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
POLTICAS PBLICAS E MODERNIZAO: avanos e limites do
Plano Desenvolvimento Sustentvel Mais Pesca e Aquicultura no
Territrio do Baixo Vale do Itaja e Tijucas
SILVEIRA, Dauto J. da (UFP)
SILVA, Osvaldo H. da
dautojs@gmail.com, osvaldohsilva@gmail.com
CAPES
Este artigo versar sobre as Polticas Pblicas implementadas durante a vigncia do
Plano de Desenvolvimento Sustentvel: mais Pesca e Aquicultura entre 2007 e 2011
no Territrio da Pesca Vale Baixo do Itaja e Tijucas, Santa Catarina. Parte da
condio segundo a qual a criao de tais polticas uma tentativa de aumentar a renda
e emprego dos pescadores artesanais mediante a modernizao da cadeia de produo
da pesca e aquicultura. O nosso objetivo ser perquirir as implicaes que estas polticas
pblicas trouxeram para os pescadores artesanais no supracitado territrio. Para tanto,
buscaremos dados com as respectivas Colnias de Pescadores, como tambm das
Secretarias de Pesca e Aquicultura dos Municpios envolvidos na regio e da
Superintendncia do Ministrio da Pesca e Aquicultura em Santa Catarina. O artigo faz
parte de uma pesquisa mais ampla que desenvolvemos no doutorado do Programa de
Ps Graduao em Sociologia da UFPR.
O TURISMO RURAL COMO ESTRATGIA PARA
DIVERSIFICAO DA RENDA DO AGRICULTOR FAMILIAR
FREITAS, Geane Ferreira (UEPB)
geane.monitora@gmail.com
O rural brasileiro vem passando por mudanas significativas ocasionado pelo processo
de modernizao agrcola. Em virtude disso ambiente rural passou a no ser s agrcola,
mas abriu para o desenvolvimento de novas atividades no agrcolas. Diante dessa
pluriatividade, turismo rural surge em expanso no territrio brasileiro como estratgia
capaz de contribuir para o aumento da renda dos agricultores familiares e como tambm
uma oportunidade de permanncia no ambiente rural. O governo criou o Programa
Nacional de Fortalecimento Agricultura Familiar (PRONAF) uma linha de crdito
direcionado para financiar os empreendimentos relacionados ao turismo rural e pode
ajudar o agricultor com capital de giro inicial para desenvolver a atividade. Neste
trabalho analisar as estratgias adotadas pelos agricultores familiares em relao ao
turismo rural e uma descrio das polticas governamentais de crditos para o
financiamento do turismo rural a agricultor familiar.
173
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
A DIMENSO (AGRO)ECOLGICA DA SUSTENTABILIDADE
DA PRODUO DE FARINHA DE MANDIOCA EM
GUARAQUEABA PR
KOMARCHESKI, Rosilene (UFPR)
DENARDIN, Valdir Frigo (UFPR)
rosilene.k@hotmail.com, valdirfd@ufpr.br
Associao Alfasol/Santander e PROEXT/MEC
No intuito de desvendar alternativas de desenvolvimento local compatveis com a
realidade de comunidades de pequenos produtores de farinha de mandioca de
Guaraqueaba PR, o presente estudo parte da concepo de ecodesenvolvimento,
proposta por Ignacy Sachs. Tais produtores vivem em um contexto socioeconmico e
ambiental mpar, onde figuram, de um lado, a riqueza da biodiversidade da Mata
Atlntica (98% da rea so unidades de conservao) e, de outro, as reduzidas
possibilidades de desenvolvimento econmico, sendo um dos menores ndices de
Desenvolvimento Humano do Estado. Tendo em vista o potencial agrcola e natural
local, o presente estudo teve como objetivo analisar a dimenso ecolgica da
sustentabilidade local, suas condicionantes e possibilidades de desenvolvimento local de
modo a integrar os objetivos da conservao gerao de renda destes produtores. Para
tanto, utilizou-se referencial terico acerca dos pressupostos do ecodesenvolvimento e
da questo rural contempornea, abordando dois aspectos gerais da dimenso ecolgica:
o de ordem ecolgica; e o de ordem territorial. Ento, delimitaram-se variveis de
anlise utilizadas para a pesquisa em bases de dados secundrios e em campo, esta
ltima realizada atravs de visitas e entrevistas a 19 produtores das comunidades de
Aungui e Potinga. Como resultado, identificou-se que a dimenso ecolgica da
sustentabilidade local, por um lado, sobrepe-se s dimenses social e econmica,
recebendo mais ateno por parte de projetos e polticas pblicas executados na regio,
minando assim a tradicional produo de farinha local. De outro lado, tal dimenso
emerge como possibilidade de desenvolvimento local quando considerada pelo prisma
do potencial agroecolgico e da diversificao de produo e de fontes de renda.
PARA ALM DO PARADOXO DE GIDDENS: percepes cognitivas
da questo ambiental no municpio de Brotas/SP
MADUREIRA, Gabriel Alarcon (UFSCar)
gabriel_madureira@yahoo.com.br
CAPES
Anthony Giddens, socilogo britnico formulador da teoria da estruturao, elabora
uma categoria analtica que nomeia a ausncia de aes polticas e cotidianas em
relao crise ambiental. Segundo ele, quando medidas concretas de proteo ao meio
ambiente forem postas em prticas no haver mais tempo suficiente de reverter o
quadro de colapso ambiental, configurando o autodenominado Paradoxo de Giddens.
Tal perspectiva da questo ambiental acaba por torn-la normativa e universal. A
pesquisa toma essa categoria analtica como ponto de partida para uma abordagem
relacional da questo ambiental atravs da prpria teoria da estruturao. Assim, meio
ambiente, crise climtica e natureza passam a ser consideradas como princpios
estruturais: como regras e recursos mobilizados na reproduo e transformao da vida
174
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
social e, portanto, como objetos de disputas de nomeao e de ressignificao
discursiva. Para analisar sociologicamente o aspecto relacional da questo ambiental
estabeleceu-se o municpio de Brotas-SP como estudo de caso. Tal localidade especfica
apresenta uma convergncia entre as mltiplas concepes da questo ambiental, a
profissionalizao do turismo e a ressignificao discursiva do prprio espao rural.
Para a realizao da pesquisa foram utilizadas as seguintes tcnicas: entrevistas
semiestruturadas, tcnica de bola de neve, levantamento documental, fotodocumentao
e questionrio socioeconmico. O debate crtico a partir de Giddens permitiu a anlise
de quatro processos sociais de ressignificao no municpio de Brotas: a) O Rio JacarPepira; b) Do buraco ao atrativo turstico: valorao ambiental e privatizao da
natureza; c) Do Radical Disneylndia: transformaes do turismo em torno da
questo ambiental; e d) A Estrada do Patrimnio.
A FORMAO DE FRENTES DE INTERESSES NAS AUDINCIAS
PBLICAS SOBRE O NOVO CDIGO FLORESTAL BRASILEIRO
MIGUEL, Jean Carlos Hochsprung (UNICAMP)
VELHO, La Maria Leme Strini (UNICAMP)
jean.dpct@gmail.com, velho@ige.unicamp.br
CAPES
O Cdigo Florestal brasileiro um conjunto de leis promulgado em 1934 que resultou
em um processo poltico-histrico que, em sua fase recente 2009 a 2012 reuniu no
Congresso Nacional representantes de diferentes grupos de interesses em torno das
questes relacionadas preservao das florestas e ao modelo de produo agropecuria
do pas. Neste perodo, vrias audincias pblicas foram realizadas pela Cmara dos
Deputados Federais e pelo Senado com o objetivo de colher opinies de representantes
de diferentes segmentos do poder pblico, das instituies de pesquisa, das ONG`s
ambientalistas, das organizaes agropecurias, dentre outros. Tendo como foco estas
audincias pblicas, este trabalho pretende apresentar atravs de uma anlise dos
discursos proferidos em 46 destas reunies quais frentes de interesses se formaram nas
discusses entre os diferentes atores participantes. Nesta apresentao, os alinhamentos
dos atores sero indicados com relao aos principais temas discutidos nas audincias
dentre eles: Cdigo Florestal e a queda da produo de alimentos; as leis florestais e a
guerra comercial internacional na agricultura; a criminalizao dos produtores rurais; a
diferenciao dos produtores rurais no projeto do novo Cdigo; a descentralizao das
leis florestais; consolidao e a recomposio das Reservas Legais e APPs. Ao final,
indica-se que, com relao a esses temas, nas audincias pblicas os interesses que,
aparentemente, se polarizavam entre ruralistas e ambientalistas envolveram uma grande
variedade de atores em diferentes nuances das discusses das controvrsias em questo.
175
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
AS AES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E AS
POLTICAS PBLICAS NO ENFRENTAMENTO DA QUESTO
AMBIENTAL NA MICRORREGIO DE PONTA GROSSA
SILVA, Lenir Aparecida Mainardes da (UEPG)
TAWFEIQ, Reshad (UEPG)
lenirrm@gmail.com, reshadt@hotmail.com
CAPES
Tendo em vista as perspectivas e ameaas trazidas pela questo ambiental, em razo
dos diversos problemas sociais e ambientais que esta comporta, o presente trabalho se
prope a identificar e discutir as contradies entre o sistema econmico vigente e as
preeminentes necessidades e demandas socioambientais. Tem como objetivo principal
tambm demonstrar quem a sociedade civil organizada e engajada no enfrentamento
da questo ambiental na microrregio de Ponta Grossa. Ainda, demonstra-se agenda
poltica da sobredita sociedade civil organizada, sua pauta de discusses, suas principais
preocupaes e seu papel neste contexto scio-econmico-ambiental de enfrentamento e
superao da questo ambiental, ao passo que podem exercer forte presso e influncia
na consecuo e efetividade das polticas pblicas voltadas para esta demanda.
Demonstra-se, por fim, a relao entre a atividade desenvolvida por estes grupos e o
exerccio da cidadania. Como reflexo da necessidade de se cercar melhor o objeto de
pesquisa, utilizou-se a teoria crtica e o mtodo dialtico como norte tericometodolgicos. Ainda, valeu-se da pesquisa bibliogrfica e documental, numa
abordagem qualitativa, e da entrevista como instrumento de coleta de dados.
TURISMO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR: uma anlise do
distrito de Campo do Coelho, Nova Friburgo - RJ
WEURMELING, Renata de Souza (UFRRJ)
renatawermelinger.08@gmail.com
Durante os ltimos anos o espao rural brasileiro vem sofrendo grandes transformaes
e a partir de meados dos anos 80 verifica-se a emergncia cada vez maior de atividades
rurais no-agrcolas, assim como o fenmeno da pluriatividade. Diante dessas
transformaes, em especial a combinao da produo agrcola na unidade com outra
atividade, agrcola ou no, percebe-se que a populao rural vem se ocupando cada vez
menos com as atividades de natureza agrcola. Atualmente o crescimento do Turismo
Rural e a importncia do mesmo tem despertado o interesse da esfera poltica no Brasil.
A partir de 2002, no governo do ex-presidente Lula, o governo passa a considerar o
Turismo Rural como uma modalidade importante para o desenvolvimento do turismo
brasileiro e novas medidas com enfoque nos pequenos produtores so contempladas
pelas polticas pblicas. Considerando este cenrio, este trabalho tem como objeto geral
analisar o processo de desenvolvimento do Turismo Rural associado Agricultura
Familiar no distrito de Campo do Coelho- Nova Friburgo/ Rio de Janeiro a partir do
Projeto Rural Legal. A pesquisa tem como objetivos especficos apresentar o novo
cenrio do espao rural brasileiro, analisar o Turismo Rural como vetor de
desenvolvimento local, apresentar o panorama da Agricultura Familiar em Nova
Friburgo e verificar se existem polticas pblicas voltadas para o Turismo no distrito de
Campo do Coelho. A importncia dessa pesquisa reside no fato de que o Turismo Rural
176
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
associado Agricultura Familiar pode contribuir no desenvolvimento local do distrito
de Campo do Coelho, uma vez que a atividade poder dinamizar a economia local,
revitalizar o espao rural e valorizar o modo de vida do pequeno agricultor.
A RECONSTRUO DA RURALIDADE SOB O PARADIGMA DO
ECOCENTRISMO NATURALISTA E DO ESTADO
PLURINACIONAL LATINO-AMERICANO
WOLFF, Ana Carolina (UNESP)
acarolinawolff@gmail.com
O presente trabalho trata da ruralidade enquanto resultado de uma construo social, um
produto no intencional e nem previsvel, da ao humana que se traduz em saberes,
manejos, tcnicas, valores, funes, sentidos e significados que constituem um
verdadeiro patrimnio cultural intangvel a ser preservado. Em termos de proteo do
meio ambiente, em especial o cultural, o Brasil est munido de uma legislao de nvel
excelente para os parmetros internacionais, o que significa, na realidade, que o pas se
mantm atualizado em relao aos avanos realizados pela UNESCO sobre a matria.
Sem menosprezar a atuao deste rgo internacional, o presente trabalho questiona se
no seria possvel ir alm, na direo, por exemplo, da legislao boliviana que ao
promulgar a Lei da Pacha Mama introduziu uma concepo indgena ancestral da
natureza como ser que tem direito vida, consolidando, pois, a transio do paradigma
antropocentrista produtivista para o ecocentrista naturalista. Essa transio capaz de
gerar mudanas no entendimento do papel da agricultura e da prpria relao do homem
com a natureza, fazendo surgir um novo conceito de ruralidade que segue a lgica das
recentes propostas latino-americanas de rejeio da democracia e do constitucionalismo
modernos, assentados na reproduo homognea e nos mecanismos representativos
majoritrios, e de luta por um Estado Plurinacional latino-americano de construo de
consensos que tem marcos epistemolgicos - o pluralismo e a diversidade capazes de
contribuir para a eficcia da tutela da ruralidade como patrimnio cultural intangvel na
medida em que defende direitos fundamentais que funcionem no somente como freios
aos riscos da estabilidade, mas como emancipadores das sociedades em busca de
identidade.
177
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
INDICE DE PRIMEIROS(AS) AUTORES(AS)
178
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
NOME
GT
Pgina
AGUIAR, Marcio Mucedula
GT 1 Sesso 1
33
AGUILAR, Srgio Luiz Cruz
GT 5 Sesso 1
145
AGUIRRE, Alexandra
GT 1 Sesso 3
51
AKEL, Georgia (PSTER)
GT 1 Sesso 3
56
ALCHORNE, Murilo de Avelar
GT 4 Sesso 4
138
ALCOCER, Laura Marcondes Ferraz (PSTER)
GT 3 Sesso 1
100
ALMEIDA, Detian Machado de
GT 4 Sesso 3
132
ALVES, Paula
GT 1 Sesso 4
58
ALVES, Tatiana Teixeira (PSTER)
GT 3 Sesso 3
113
ANDRADE, Luiz Fernando Costa de
GT 1 Sesso 1
34
ARAGON, Luiza
GT 1 Sesso 2
43
ARAUJO, George Freitas Rosa de
GT 3 Sesso 3
107
ARAUJO, Marcelo da Silva
GT 4 Sesso 1
121
ARAUJO, Marivnia Conceio
GT 1 Sesso 3
51
AUGUSTINHO, Aline Michele Nascimento
GT 3 Sesso 3
108
AZEVEDO, Leonardo Francisco de
GT 3 Sesso 2
100
AZEVEDO, Paulo
GT 1 Sesso 4
58
AZEVEDO, Pedro Costa
GT 4 Sesso 2
127
BACCHIEGGA, Fbio
GT 6 Sesso 2
171
BAHIA, Ryanne F. Monteiro
GT 2 Sesso 2
75
BANDINI, Claudirene A. P.
GT 4 Sesso 2
139
BAPTISTA, Jamile Carla (PSTER)
GT 4 Sesso 1
125
BARBIM, Marina Graziela (PSTER)
GT 5 Sesso 2
157
BAROUCHE, Tnia
GT 2 Sesso 3
84
BARROS, Rodolfo Arruda Leite de
GT 5 Sesso 2
152
BELTRAME, Gabriella
GT 2 Sesso 1
67
BENEDITO, Camila de Pieri
GT 3 Sesso 3
108
BERTAPELI, Vladimir
GT 4 Sesso 1
121
BERTAZI, Marcio Henrique
GT 6 Sesso 2
172
BERTELLI, Giordano
GT 1 Sesso 2
43
BERTO, Vanessa de Faria
GT 4 Sesso 3
133
179
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
BIZZIO, Michele Rodrigues
GT 5 Sesso 1
146
BOGADO, Adriana Marcela
GT 3 Sesso 3
109
BONALDI, Eduardo
GT 1 Sesso 4
59
BONESSO, Mrcio
GT 5 Sesso 3
158
BORDA, Erik (POSTER)
GT 1 Sesso 1
42
BORGES, Virginia
GT 1 Sesso 2
44
BRAGA, Patrcia Benedita Aparecida
GT 3 Sesso 2
101
BRITO, Srgio Roberto Urbaneja
GT 3 Sesso 2
102
BRITTO, Denise Fernandes
GT 2 Sesso 2
76
CAMARGO, Bruna Quinsan (PSTER)
GT 4 Sesso 1
126
CAMPREGHER, Raiza (PSTER)
GT 6 Sesso 1
170
CANONICO, Letcia
GT 5 Sesso 1
146
CARMO, Priscila Pacheco (PSTER)
GT 2 Sesso 2
81
CARVALHO, Brbara Hilda Crespo Prado de
GT 4 Sesso 4
140
CARVALHO, Joyce Gomes de (PSTER)
GT 4 Sesso 2
131
CARVALHO, Jucineth G. E. S. V. de
GT 2 Sesso 3
84
CARVALHO, Rodrigo de
GT 3 Sesso 4
115
CASSIANO, Andr V. da Nbrega (PSTER)
GT 2 Sesso 3
90
CASSOTA, Prisilla Leine
GT 4 Sesso 4
140
CAVALCANTE, Isaac Ferreira (PSTER)
GT 2 Sesso 2
82
CESARINO, Flavia Tortul
GT 4 Sesso 2
127
CHIARADIA, Raquel
GT 5 Sesso 3
163
CIFALI, Ana Claudia
GT 5 Sesso 2
152
CONCEIO, Eliane Barbosa da
GT 1 Sesso 1
34
CORDEIRO, Tiago Gomes
GT 3 Sesso 1
92
COSTA, Annelise (PSTER)
GT 5 Sesso 1
150
COSTA, Guilherme Borges Ferreira
GT 4 Sesso 3
133
COSTA, Jacqueline
GT 1 Sesso 1
35
COSTA, Otvio Barduzzi Rodrigues da
GT 4 Sesso 2
128
COSTA, Rogrio da
GT 4 Sesso 4
141
CRUZ, Milton
GT 2 Sesso 1
68
CUNHA, Carolina Flores
GT 5 Sesso 1
147
180
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
DA SILVEIRA, Dauto J.
GT 6 Sesso 2
173
DAMAS, Helton Luiz Gonalves
GT 3 Sesso 1
93
DANTAS, Daniele Cristina
GT 3 Sesso 4
115
DARS, Marilene Lige
GT 2 Sesso 1
68
DEODATO, Eder
GT 1 Sesso 4
59
DIAS, Marcia Cristina de Oliveira (PSTER)
GT 6 Sesso 1
171
DUMONT, Tiago Vieira Rodrigues
GT 3 Sesso 1
93
DUTRA, Dbora Vogel da Silveira
GT 3 Sesso 2
102
EID, Farid
GT 2 Sesso 1
69
EVAGELISTA, Cleiber Wesley (PSTER)
GT 5 Sesso 3
164
FANTINATO, Manuela
GT 1 Sesso 3
52
FEITOSA, James de Sousa
GT 4 Sesso 3
134
FEITOSA, Ricardo
GT 1 Sesso 4
60
FERNANDES, Alan
GT 5 Sesso 3
158
FERREIRA, Karoline Coelho
GT 6 Sesso 1
165
FLOR, Cau Gomes
GT 1 Sesso 2
44
FLORES, Mariana Seno (PSTER)
GT 2 Sesso 3
90
FRANOSO, Luis Michel
GT 1 Sesso 3
52
FREITAS, Geane Ferreira
GT 6 Sesso 2
173
FROMM, Deborah (PSTER)
GT 5 Sesso 1
151
GALLO, Fernanda Vendramini
GT 4 Sesso 2
129
GALVANIN NETO, Tito
GT 3 Sesso 1
94
GALVO, Cassia Bmer
GT 2 Sesso 3
85
GAVERIO, Marco (POSTER)
GT 1 Sesso 1
42
GESSA, Marilia
GT 1 Sesso 2
45
GODOY, Marilia Gomes Ghizzi
GT 1 Sesso 5
63
GOMES, Cleber
GT 1 Sesso 3
53
GONALVES, Marilene Parente
GT 2 Sesso 2
76
GONALVES, Rosangela Teixeira
GT 5 Sesso 2
153
GONZALEZ ZAMBRANO, Catalina
GT 1 Sesso 1
36
GUADAGNIN, Renata
GT 5 Sesso 1
147
GUIMARES, Luiz Ernesto
GT 4 Sesso 4
142
181
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
GUIMARES, Mariana T.
GT 3 Sesso 2
103
HASEGAWA, Aline Yuri
GT 6 Sesso 1
165
HENNING, Ana Clara Correa
GT 3 Sesso 1
94
IBRAHIM, Ismael (PSTER)
GT 1 Sesso 3
56
JCOMO, Luiz Vicente Justino
GT 4 Sesso 1
122
JESUS, Claudia Kathyuscia Bispo de
GT 6 Sesso 1
166
JESUS, Maria Gorete Marques
GT 5 Sesso 2
154
KOMARCHESKI, Rosilene
GT 6 Sesso 2
174
LAMOUNIER, Lucia
GT 5 Sesso 3
159
LANZA, Fabio
GT 4 Sesso 3
135
LEAL, Lu
GT 1 Sesso 3
53
LEO, Natalia
GT 1 Sesso 4
60
LERSCH, Thelma Beatriz Carvalho Cajueiro
GT 1 Sesso 1
36
LIMA, Angela Maria de Sousa
GT 2 Sesso 2
77
LIMA, Bruna Della Torre C.
GT 3 Sesso 3
110
LIMA, Maria Mayara de
GT 5 Sesso 3
160
LIMA, Priscilla
GT 1 Sesso 4
61
LIMA, Selma
GT 1 Sesso 5
64
MACEDO, Henrique
GT 5 Sesso 2
154
MACEDO, Marcio
GT 1 Sesso 2
46
MACIEL, Lidiane Maria
GT 6 Sesso 1
167
MADUREIRA, Gabriel Alarcon
GT 6 Sesso 2
174
MAGALHES, Rafaela Melo
GT 4 Sesso 1
122
MAIA, Janille Campos
GT 6 Sesso 1
167
MAK, Denise
GT 4 Sesso 1
123
MANDUCA, Vinicius
GT 4 Sesso 4
142
MARTINS, Amanda Coelho (PSTER)
GT 2 Sesso 2
82
MARTINS, Marques Alves
GT 4 Sesso 1
123
MASSUIA, Rafael. R.
GT 1 Sesso 3
54
MATOS, sis Oliveira Bastos
GT 3 Sesso 1
95
MAUERBERG JR, Arnaldo
GT 3 Sesso 4
116
MEDEIROS, Priscila
GT 1 Sesso 1
37
182
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
MEDEIROS, Thais Helena
GT 2 Sesso 1
69
MELO, Betania
GT 1 Sesso 5
65
MELO, Marina Flix de
GT 3 Sesso 3
110
MENEZES, Diego Matheus Oliveira de
GT 2 Sesso 1
70
MENEZES, Vitor Matheus Oliveira de (PSTER)
GT 3 Sesso 2
107
MIGUEL, Jean Carlos Hochsprung
GT 6 Sesso 2
175
MORAIS, Danilo
GT 1 Sesso 1
37
MORAIS, Edson Elias de
GT 4 Sesso 2
129
MORENO, Meire Ellen
GT 3 Sesso 3
111
MORENO, Pedro (PSTER)
GT 4 Sesso 3
137
MOTTA, Luana Dias
GT 3 Sesso 1
95
MOURA, Rosene de Jesus (PSTER)
GT 2 Sesso 1
74
NACKED, Rafaela
GT 1 Sesso 2
46
NASCIMENTO, Larissa
GT 1 Sesso 2
47
NELI, Marcos Accio
GT 2 Sesso 2
77
OLIC, Mauricio Bacic
GT 5 Sesso 3
160
OLIVEIRA FILHO, Marco Aurlio
GT 2 Sesso 1
70
OLIVEIRA, Arlete
GT 2 Sesso 3
85
OLIVEIRA, Daniela Ribeiro
GT 2 Sesso 2
78
OLIVEIRA, Heythor Santana de (PSTER)
GT 4 Sesso 3
137
OLIVEIRA, Luciano Mrcio Freitas de
GT 5 Sesso 1
148
OLIVEIRA, Marlia
GT 5 Sesso 2
155
OLIVEIRA, Wellington Cardoso de
GT 4 Sesso 1
124
PAIVA, Larissa Nunes
GT 3 Sesso 1
96
PASSOS, Daniela Oliveira Ramos dos
GT 2 Sesso 2
78
PATRIOTA, Beatriz (PSTER)
GT 1 Sesso 3
57
PELLEGRINO, Lucas Nunes (PSTER)
GT 2 Sesso 1
74
PEREIRA, Juliano Gonalves
GT 5 Sesso 1
148
PEREIRA, Luiz Fernando
GT 5 Sesso 1
149
PINHEIRO, Marcos Filipe Guimares
GT 4 Sesso 1
124
PINTO, Renata Pires
GT 1 Sesso 4
61
PIRES, Aline Suelen
GT 2 Sesso 2
79
183
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
PLACERES, Giulliano
GT 4 Sesso 3
135
PORTELA JR, Aristeu
GT 3 Sesso 3
111
POSSEBON, Daniela
GT 2 Sesso 1
71
PROLO, Felipe
GT 3 Sesso 4
117
QUEIROZ, Jos Fernando
GT 3 Sesso 1
96
RABESCO, Rafaela
GT 3 Sesso 4
117
RANGEL, Felipe
GT 2 Sesso 2
79
RIBEIRO JR, Ribamar
GT 1 Sesso 5
65
RIOS, Flavia
GT 1 Sesso 1
38
ROCHA DE FREITAS, Gabriela
GT 2 Sesso 2
80
ROCHA, Dcio Vieira da
GT 3 Sesso 4
118
ROCHA, Rafael Lacerda Silveira
GT 5 Sesso 3
161
RODRIGUES, Donizete
GT 4 Sesso 2
130
RODRIGUES, Fabiano dos Santos
GT 6 Sesso 1
168
RODRIGUS, Leonardo Henrique Gomes
GT 3 Sesso 2
103
ROIM, Talita
GT 1 Sesso 3
55
ROSA, Lucas Rogrio (PSTER)
GT 4 Sesso 3
138
ROSA, Patrcia
GT 4 Sesso 1
125
ROSA, Rafaela Euges
GT 3 Sesso 2
104
ROSSI, Renan
GT 4 Sesso 3
136
ROSSI, Vanberto
GT 1 Sesso 4
62
ROVIERO, Andria
GT 6 Sesso 1
168
RUGGIERI NETO, Mrio Thiago
GT 3 Sesso 4
118
S, Lucas do Santos Cabral de
GT 4 Sesso 4
143
SABADIN, Ana Carina (PSTER)
GT 4 Sesso 2
132
SABINO, Yuri (POSTER)
GT 4 Sesso 4
144
SANTOS, Adrielma S. dos (PSTER)
GT 3 Sesso 3
114
SANTOS, Deborah Schimidt Neves dos
GT 3 Sesso 2
104
SANTOS, Elisangela
GT 1 Sesso 1
39
SANTOS, Gilberto de Assis Barbosa
GT 1 Sesso 2
48
SANTOS, Joo Henrique
GT 5 Sesso 2
155
SANTOS, Jose Ricardo Marques
GT 1 Sesso 1
39
184
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
SANTOS, Priscila Tavares dos
GT 6 Sesso 1
169
SANTOS, Valdirene Ferreira
GT 3 Sesso 2
105
SARUWATARI, Gabrielly Kashiwaguti
GT 4 Sesso 2
130
SCHLITTLER, Maria Carolina
GT 5 Sesso 2
156
SEVES, Natlia Cabau
GT 3 Sesso 4
119
SILVA, Alenilcon Pereira da
GT 2 Sesso 3
86
SILVA, Cinthia
GT 1 Sesso 2
48
SILVA, David Esmael Marques da
GT 5 Sesso 3
162
SILVA, Eliane
GT Sesso 2
49
SILVA, Jenair Alves
GT 5 Sesso 1
149
SILVA, Joo Charlesdan
GT 2 Sesso 1
72
SILVA, Joo Paulo da
GT 3 Sesso 1
97
SILVA, Jos Douglas dos Santos
GT 5 Sesso 3
162
SILVA, Leandro Oliveira
GT 3 Sesso 1
97
SILVA, Leinir Aparecida Mainardes da
GT 6 Sesso 2
176
SILVA, Livia Sousa da
GT 5 Sesso 1
150
SILVA, Luiz Antonio Colho
GT 2 Sesso 1
72
SILVA, Maria Aparecida Ramos da
GT 3 Sesso 4
119
SILVA, Mariana Gama Alves da
GT 4 Sesso 3
136
SILVA, Newton
GT 2 Sesso 3
87
SILVA, Ricardo Lima
GT 2 Sesso 3
87
SILVA, Rodrigo Pereira da
GT 3 Sesso 3
112
SILVA, Wanessa
GT 1 Sesso 4
63
SILVESTRE, Giane
GT 5 Sesso 3
163
SIQUEIRA, Lucas (PSTER)
GT 2 Sesso 3
91
SIQUEIRA, Wellington (PSTER)
GT 2 Sesso 2
83
SOUZA, Andr
GT 2 Sesso 3
88
SOUZA, Guilherme Augusto Dornelles de
GT 5 Sesso 2
156
SOUZA, Luana Silva de
GT 3 Sesso 3
112
SOUZA, Marco Aurlio Dias De
GT 4 Sesso 4
143
SOUZA, Srgio
GT 1 Sesso 1
40
SOUZA, Valtey Martins
GT 1 Sesso 2
49
185
IV Seminrio do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFSCar
TAFURI, Diogo Marques
GT 1 Sesso 1
41
TAVARES NETO, Joo
GT 2 Sesso 2
81
TEIXEIRA, Jacqueline Moraes
GT 4 Sesso 4
144
TENCHENA, Sandra Mara
GT 1 Sesso 3
55
TINCANI, Daniela
GT 1 Sesso 1
41
TRUJILLO MIRAS, Julia
GT 1 Sesso 5
66
VARGAS, Carlos Alberto Castillo
GT 3 Sesso 2
106
VIANA, Aline Silveira
GT 3 Sesso 1
98
VIEIRA, Ana Carolina C.
GT 6 Sesso 1
169
VITAL, Graziela
GT 2 Sesso 1
73
VITORINO, Diego
GT 1 Sesso 2
50
WAGNER, Bruna Kucharski
GT 3 Sesso 1
99
WEURMELING, Renata de Souza
GT 6 Sesso 2
176
WOLFF, Ana Carolina
GT 6 Sesso 2
177
ZAMBELLO, Aline Vanessa
GT 3 Sesso 4
120
ZAMIAN, Gabriel (PSTER)
GT 1 Sesso 3
57
ZAPATA, Sandor
GT 2 Sesso 3
88
ZUCCOLOTTO, Eder
GT 2 Sesso 3
89
186
Você também pode gostar
- Anais Do Seminário de Diretos Humanos e Luta Por Reconhecimento - WordDocumento166 páginasAnais Do Seminário de Diretos Humanos e Luta Por Reconhecimento - WordKelvisNascimento100% (1)
- Anais Congresso Feno2013Documento187 páginasAnais Congresso Feno2013Leandro Ranieri100% (1)
- PAULINO, Eliane Tomiasi. Por Uma Geografia Dos Camponeses. São Paulo: Unesp, 2012. (P 37 A 74) .Documento2 páginasPAULINO, Eliane Tomiasi. Por Uma Geografia Dos Camponeses. São Paulo: Unesp, 2012. (P 37 A 74) .Matheus VieiraAinda não há avaliações
- Fichamento ANDERSON - A Dinamica FeudalDocumento3 páginasFichamento ANDERSON - A Dinamica FeudalFlavia VarellaAinda não há avaliações
- Anais Do Segundo Encontro Nacional de Pesquisa em Filosofia Da UFPA - 2013Documento230 páginasAnais Do Segundo Encontro Nacional de Pesquisa em Filosofia Da UFPA - 2013Anderson CarvalhoAinda não há avaliações
- ! Anais Do Enfa Enif 2020Documento132 páginas! Anais Do Enfa Enif 2020Mariane FariasAinda não há avaliações
- Anais IV CIAD PDFDocumento1.208 páginasAnais IV CIAD PDFChellinha MussatoAinda não há avaliações
- Caderno de Resumos - PPGCR - 2022Documento98 páginasCaderno de Resumos - PPGCR - 2022Marcel Alexandre de SousaAinda não há avaliações
- Anais 2019 Final-1 Simpósio Pàgina 153 Resumo Loucura e Completude Considerações Introd em PsicanáliseDocumento171 páginasAnais 2019 Final-1 Simpósio Pàgina 153 Resumo Loucura e Completude Considerações Introd em PsicanáliseLuciano Carlos UtteichAinda não há avaliações
- Os Novos Paradigmas Da Governamentalidade NeoliberalDocumento1.906 páginasOs Novos Paradigmas Da Governamentalidade NeoliberalDik Grace M. MulliganAinda não há avaliações
- Uma Reflexão Acerca Das Histórias Do Samba: Principais Questões e Silenciamentos Na Produção Historiográfica e Memorialística Acerca Do Samba Urbano CariocaDocumento110 páginasUma Reflexão Acerca Das Histórias Do Samba: Principais Questões e Silenciamentos Na Produção Historiográfica e Memorialística Acerca Do Samba Urbano CariocaDiego Uchoa de AmorimAinda não há avaliações
- Programacao III Jornada Pensamento Politico Brasileiro 2019Documento8 páginasProgramacao III Jornada Pensamento Politico Brasileiro 2019Daniel MartinsAinda não há avaliações
- Caderno de ResumosDocumento161 páginasCaderno de ResumosChico SousaAinda não há avaliações
- Propriedades em Transformação, v. 2: Expandindo a agenda de pesquisaNo EverandPropriedades em Transformação, v. 2: Expandindo a agenda de pesquisaAinda não há avaliações
- Livro Pensar em Movimento Pensadores Americanos para A Sala de AulaDocumento52 páginasLivro Pensar em Movimento Pensadores Americanos para A Sala de AulaMaga MendesAinda não há avaliações
- Metodologia Pesquisa EPDocumento197 páginasMetodologia Pesquisa EPPollyanne BarrosAinda não há avaliações
- Versão Digital Da Dissertação2Documento158 páginasVersão Digital Da Dissertação2Edivaldo Ribeiro de LimaAinda não há avaliações
- Caderno de Resumos Digital v1Documento204 páginasCaderno de Resumos Digital v1Julio MoreiraAinda não há avaliações
- 2cpfil ProgramacaoDocumento30 páginas2cpfil ProgramacaoDeyve RedysonAinda não há avaliações
- A Construcao Social Da Maternidade PDFDocumento382 páginasA Construcao Social Da Maternidade PDFEllen de LimaAinda não há avaliações
- VVGGTRDocumento326 páginasVVGGTRrabymady100% (1)
- Resumos UerjDocumento427 páginasResumos UerjAgda AlencarAinda não há avaliações
- Informes FCS 15Documento16 páginasInformes FCS 15Lucas GabrielAinda não há avaliações
- Programa VI Congresso Ibero-Americano de Filosofia, Porto 2023Documento268 páginasPrograma VI Congresso Ibero-Americano de Filosofia, Porto 2023st_gaAinda não há avaliações
- Anais Cnhcs 2015 v2Documento1.721 páginasAnais Cnhcs 2015 v2HELDER MACEDOAinda não há avaliações
- Caderno de Programaç Ã oDocumento88 páginasCaderno de Programaç Ã oClaudio BritoAinda não há avaliações
- Caderno de Resumos - Iii Simpósio Pensar e Repensar A América Latina PDFDocumento625 páginasCaderno de Resumos - Iii Simpósio Pensar e Repensar A América Latina PDFNathanBastosAinda não há avaliações
- Unid 1Documento48 páginasUnid 1Leonardo BarrosAinda não há avaliações
- 01 Livro de Resumo VI CBHE-2011Documento652 páginas01 Livro de Resumo VI CBHE-2011omaratom100% (1)
- Revista Dialogia Uninove AvaliaçãoDocumento222 páginasRevista Dialogia Uninove AvaliaçãoRobert CaetanoAinda não há avaliações
- Abstrats Filsofical Analytic BrasilDocumento128 páginasAbstrats Filsofical Analytic BrasilLuiz S.Ainda não há avaliações
- A Construcao Social Da MaternidadeDocumento382 páginasA Construcao Social Da MaternidadeohaicaiAinda não há avaliações
- Anais II Enpp IsbnDocumento2.129 páginasAnais II Enpp IsbnThiago Vidal RicardoAinda não há avaliações
- ProgramaçaoDocumento29 páginasProgramaçaoAtaniel CampeloAinda não há avaliações
- Versão Final Caderno de Programação COLOQUIO FOUCAULT 2018 1Documento66 páginasVersão Final Caderno de Programação COLOQUIO FOUCAULT 2018 1Profa. Ma. Viviane Gonçalves da SilvaAinda não há avaliações
- Caderno de Programação EmemceDocumento16 páginasCaderno de Programação Ememcesophie ferAinda não há avaliações
- Usos Do Biográfico e Ensino de HistóriaDocumento144 páginasUsos Do Biográfico e Ensino de HistóriaantoniomyskiwAinda não há avaliações
- IUPERJ Caderno de DisciplinasDocumento101 páginasIUPERJ Caderno de Disciplinasgrperoni0% (1)
- Caderno de RESUMOS DUO - FinalDocumento230 páginasCaderno de RESUMOS DUO - FinalReginaldoPujolAinda não há avaliações
- O Futuro Das Religiões No BrasilDocumento2.320 páginasO Futuro Das Religiões No BrasilLucilene Aparecida e Lima do NascimentoAinda não há avaliações
- Pibic2008 Rev2Documento458 páginasPibic2008 Rev2Roberta IdaFranchesAinda não há avaliações
- Caderno de Resumos ALED Versão 1Documento171 páginasCaderno de Resumos ALED Versão 1Simone MouraAinda não há avaliações
- OBRA - Educação Intercultural e Práticas Decoloniais Na Educação BásicaDocumento502 páginasOBRA - Educação Intercultural e Práticas Decoloniais Na Educação BásicaClaudia Juliette do Nascimento Araujo MaiaAinda não há avaliações
- Ebook Estudos de GeneroDocumento236 páginasEbook Estudos de GeneroPriscila ErvinAinda não há avaliações
- Anais Enapehc 3Documento644 páginasAnais Enapehc 3Vinicius Carvalho da SilvaAinda não há avaliações
- Resumo Pgcult 2019Documento573 páginasResumo Pgcult 2019Andrés PalenciaAinda não há avaliações
- Livro Texto Unidade IDocumento45 páginasLivro Texto Unidade IGabriel WenceslauAinda não há avaliações
- Caderno de resumosEstudosMedievaisDocumento44 páginasCaderno de resumosEstudosMedievaisJuan Pablo Martín100% (1)
- CADERNO RESUMOS III Simpósio de História Re Gional e LocalDocumento134 páginasCADERNO RESUMOS III Simpósio de História Re Gional e LocalKarla LimaAinda não há avaliações
- Paideia e Cultura Politica Nas Galias Os Panegiricos Latinos e As Moedas Como Vetores Dos Rituais Da Basileia Seculo IV DC-desbloqueadoDocumento219 páginasPaideia e Cultura Politica Nas Galias Os Panegiricos Latinos e As Moedas Como Vetores Dos Rituais Da Basileia Seculo IV DC-desbloqueadoAllef FraemannAinda não há avaliações
- Anais Do V Seminário Brasileiro Sobre o Pensamento de Jacques EllulDocumento277 páginasAnais Do V Seminário Brasileiro Sobre o Pensamento de Jacques EllulMaria Cristina VendrametoAinda não há avaliações
- Livro EACH WebDocumento233 páginasLivro EACH Webwatermelonnn10Ainda não há avaliações
- Unid 1Documento45 páginasUnid 1Johnny DantasAinda não há avaliações
- Estrutura Geral Do II Congresso Internacional Do Núcelo de Estudos Das AméricasDocumento43 páginasEstrutura Geral Do II Congresso Internacional Do Núcelo de Estudos Das AméricasWagner LiraAinda não há avaliações
- Anais Uel 2015Documento532 páginasAnais Uel 2015Diogo Silva100% (1)
- Cotas Relatorio GTDocumento488 páginasCotas Relatorio GTHarian1988Ainda não há avaliações
- Anais Eletrônicos - Visões Do Mundo Contemporâneo 3Documento111 páginasAnais Eletrônicos - Visões Do Mundo Contemporâneo 3Lucas HenriqueAinda não há avaliações
- Anais 2022Documento153 páginasAnais 2022JAQUELINE MORITZAinda não há avaliações
- AnaisDocumento338 páginasAnaisMarcelo ChagasAinda não há avaliações
- Metodologia Científica: Fundamentos, Métodos e TécnicasNo EverandMetodologia Científica: Fundamentos, Métodos e TécnicasAinda não há avaliações
- Teoria e práxis: Oliveira Vianna como consultor jurídico do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (1932-1940)No EverandTeoria e práxis: Oliveira Vianna como consultor jurídico do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (1932-1940)Ainda não há avaliações
- Filosofia Da Educação PlatonicaDocumento18 páginasFilosofia Da Educação PlatonicacsmusicAinda não há avaliações
- A Revolução Russa de 1917-1921 - DARF PDFDocumento63 páginasA Revolução Russa de 1917-1921 - DARF PDFRejane Carolina HoevelerAinda não há avaliações
- Dicas Dosimetria PenalDocumento7 páginasDicas Dosimetria PenalaobgAinda não há avaliações
- O Princípio Educativo em GramsciDocumento9 páginasO Princípio Educativo em Gramscimyramarcel0% (3)
- Antropologia Do Corpo - Xamãs PDFDocumento15 páginasAntropologia Do Corpo - Xamãs PDFMaurício CaetanoAinda não há avaliações
- Texto Completo Seminario GeneroDocumento16 páginasTexto Completo Seminario GenerojoebarduzziAinda não há avaliações
- THOMPSON - Senhores e Caçadores Introdução e PrefácioDocumento11 páginasTHOMPSON - Senhores e Caçadores Introdução e PrefácioKarla KarolineAinda não há avaliações
- Disser Ta Cao Adrian Obote LhoDocumento148 páginasDisser Ta Cao Adrian Obote LhoRafaelaAgapitoAinda não há avaliações
- 536 121 PBDocumento230 páginas536 121 PBjoebarduzziAinda não há avaliações
- Açao Raul CandidatoDocumento3 páginasAçao Raul CandidatojoebarduzziAinda não há avaliações
- Relaçoes de Parceria e Política Pública TEXEIRADocumento12 páginasRelaçoes de Parceria e Política Pública TEXEIRALuciana FerreiraAinda não há avaliações
- Filosofia Lista de Exercícios para Enem e VestibularDocumento9 páginasFilosofia Lista de Exercícios para Enem e VestibularjoebarduzziAinda não há avaliações
- EMENTÁRIOS PARFOR Disciplinas PedagógicasDocumento3 páginasEMENTÁRIOS PARFOR Disciplinas PedagógicasjoebarduzziAinda não há avaliações
- Filosofia 7º Ano - Unidade 1Documento33 páginasFilosofia 7º Ano - Unidade 1joebarduzziAinda não há avaliações
- Weber Analise de Ética Protestante e o Espírito Do Capitalism1Documento23 páginasWeber Analise de Ética Protestante e o Espírito Do Capitalism1joebarduzziAinda não há avaliações
- A Atitude e A Experiência FilosóficasDocumento14 páginasA Atitude e A Experiência FilosóficasjoebarduzziAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios de Filosofia para o Ensino Do 6 AnoDocumento1 páginaLista de Exercícios de Filosofia para o Ensino Do 6 AnojoebarduzziAinda não há avaliações
- Tese - A Biblia Como Literatura No BrasiDocumento209 páginasTese - A Biblia Como Literatura No BrasijoebarduzziAinda não há avaliações
- 1aula Filosofia 6anoDocumento11 páginas1aula Filosofia 6anojoebarduzziAinda não há avaliações
- Estruturalismo e Antropologia Dan SperberDocumento59 páginasEstruturalismo e Antropologia Dan SperberjoebarduzziAinda não há avaliações
- O ContratualismoDocumento14 páginasO ContratualismojoebarduzziAinda não há avaliações
- Aula Filosofia Do Direito RousseauDocumento29 páginasAula Filosofia Do Direito RousseaujoebarduzziAinda não há avaliações
- Antropologia EsquecidaDocumento35 páginasAntropologia EsquecidajoebarduzziAinda não há avaliações
- Texto Aula 8Documento16 páginasTexto Aula 8joebarduzziAinda não há avaliações
- Edital Interessantíssimo de Sociologia para ConcursoDocumento33 páginasEdital Interessantíssimo de Sociologia para ConcursojoebarduzziAinda não há avaliações
- Filosofia e Neurociência Entre Certezas e DúvidasDocumento12 páginasFilosofia e Neurociência Entre Certezas e DúvidasKyle SandersAinda não há avaliações
- Seminario 5Documento213 páginasSeminario 5joebarduzziAinda não há avaliações
- Texto Aula 7Documento6 páginasTexto Aula 7joebarduzziAinda não há avaliações
- Texto Aula 6Documento5 páginasTexto Aula 6joebarduzziAinda não há avaliações
- Agrodok 25 Celeiros PDFDocumento90 páginasAgrodok 25 Celeiros PDFPiergiorgio ScottiAinda não há avaliações
- FICHA DE TRABALHO DE REVISÕES DE HISTÓRIA - Docx 6º AnoDocumento8 páginasFICHA DE TRABALHO DE REVISÕES DE HISTÓRIA - Docx 6º Anoanacarvalho_20074152100% (1)
- Revista Do IHGG N 20 PDFDocumento266 páginasRevista Do IHGG N 20 PDFJndrsJSK100% (1)
- Ensaio - Emoções (O Segredo de Brokeback Mountain) PDFDocumento15 páginasEnsaio - Emoções (O Segredo de Brokeback Mountain) PDFJuan MorenoAinda não há avaliações
- Tese-2003 MAYER Jorge Miguel-S PDFDocumento564 páginasTese-2003 MAYER Jorge Miguel-S PDFAlex FonteAinda não há avaliações
- Agricultura e Questão Agrária Na História Do Pensamento EconômicoDocumento28 páginasAgricultura e Questão Agrária Na História Do Pensamento EconômicoSidemar P NunesAinda não há avaliações
- MANDEL, Ernest. Introdução Ao Marxismo (Ed. Movimento, 1982)Documento69 páginasMANDEL, Ernest. Introdução Ao Marxismo (Ed. Movimento, 1982)Felipe Borti100% (1)
- As Relações Capitalistas e Não Capitalistas de Produção e A Permanência Da Agricultura Familiar No Século XXIDocumento12 páginasAs Relações Capitalistas e Não Capitalistas de Produção e A Permanência Da Agricultura Familiar No Século XXIMaviael FonsecaAinda não há avaliações
- Ciências Humanas e Sociais v. 3, Março 2016 PDFDocumento308 páginasCiências Humanas e Sociais v. 3, Março 2016 PDFRudvan Cicotti0% (1)
- A Feudo-Clericalização Dos Séculos XI-XII (Algumas Considerações)Documento6 páginasA Feudo-Clericalização Dos Séculos XI-XII (Algumas Considerações)Kaio CavalcanteAinda não há avaliações
- Emaberto-Educação Do CampoDocumento180 páginasEmaberto-Educação Do CampoEduardo MorelloAinda não há avaliações
- História Contemporânea Do Século XIX - BENETTI, VivianeDocumento228 páginasHistória Contemporânea Do Século XIX - BENETTI, VivianeDilanKuntzlerAinda não há avaliações
- António José Avelãs Nunes - Propriedade, Direito e EstadoDocumento50 páginasAntónio José Avelãs Nunes - Propriedade, Direito e EstadoRafaelaReisAinda não há avaliações
- O Mundo Na Década de 1780Documento3 páginasO Mundo Na Década de 1780Everton OtazúAinda não há avaliações
- Antunes, Ricardo - O Continente Do LaborDocumento238 páginasAntunes, Ricardo - O Continente Do LaborNatália Rocha100% (1)
- O Queijo e Os Vermes - o Cosmo de Um Historiador Do Século XXDocumento20 páginasO Queijo e Os Vermes - o Cosmo de Um Historiador Do Século XXAspa PaAinda não há avaliações
- Relatório Final Do Projeto Conflitos e Repressão No Campo No Estado Do Rio de Janeiro (1946-1988)Documento956 páginasRelatório Final Do Projeto Conflitos e Repressão No Campo No Estado Do Rio de Janeiro (1946-1988)Fabricio TelóAinda não há avaliações
- ABRAMOWAY Ricardo Transformacoes Camponeses Sudoeste PR PDFDocumento143 páginasABRAMOWAY Ricardo Transformacoes Camponeses Sudoeste PR PDFJefferson Oliveira SallesAinda não há avaliações
- Caminhada No Chão Da Noite - José de Souza MartinsDocumento79 páginasCaminhada No Chão Da Noite - José de Souza MartinsBruno Lacerra100% (1)
- HARNECKER, Marta - URIBE, Gabriela. Cadernos de Educação Popular, VOL1Documento59 páginasHARNECKER, Marta - URIBE, Gabriela. Cadernos de Educação Popular, VOL1CalidusAinda não há avaliações
- Escravos Da Precisão Flávia Moura PDFDocumento121 páginasEscravos Da Precisão Flávia Moura PDFLuciana DoudementAinda não há avaliações
- Matança Do Porco, Festa de Matança e Mudanças Sociais Na Serra Do Barroso (Trás-os-Montes) Acta121 - Cristina CerqueiraDocumento14 páginasMatança Do Porco, Festa de Matança e Mudanças Sociais Na Serra Do Barroso (Trás-os-Montes) Acta121 - Cristina CerqueiraElmano MadailAinda não há avaliações
- Cadernos de Formação Popular 1 - Explorados e ExploradoresDocumento59 páginasCadernos de Formação Popular 1 - Explorados e ExploradoresCharles Engels100% (1)
- KRIEDTE, Peter. Feudalismo Tardio - 7 Aula - Apresentacao PDFDocumento5 páginasKRIEDTE, Peter. Feudalismo Tardio - 7 Aula - Apresentacao PDFMirian VasconcellosAinda não há avaliações
- GRAMSCI, Os Intelectuais e A Organização Da Cultura - A Formação Dos IntelectuaisDocumento12 páginasGRAMSCI, Os Intelectuais e A Organização Da Cultura - A Formação Dos IntelectuaisLeone Alexandre0% (1)
- A Luta Pela Terra Numa Área de Conflito Na Amazônia Artigo Encontro de Historia OralDocumento24 páginasA Luta Pela Terra Numa Área de Conflito Na Amazônia Artigo Encontro de Historia OralFabio PessoaAinda não há avaliações
- Poesias GeograficasDocumento7 páginasPoesias GeograficasCarlos EduardoAinda não há avaliações