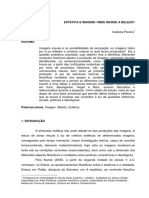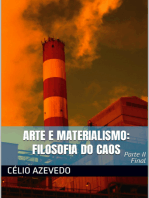Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
HERMANN, Nadja. Ética, Estética e Alteridade
HERMANN, Nadja. Ética, Estética e Alteridade
Enviado por
Rogerio RibeiroTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
HERMANN, Nadja. Ética, Estética e Alteridade
HERMANN, Nadja. Ética, Estética e Alteridade
Enviado por
Rogerio RibeiroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
GPRACIOFORM – Grupo de Pesquisa Racionalidade e Formação 1
ÉTICA, ESTÉTICA E ALTERIDADE
Nadja Hermann
A vida só é possível
reinventada.
Cecília Meireles
O título desta conferência – ética, estética e alteridade – agrupa temas
tradicionalmente tratados em áreas separadas. Pelo menos é o que acontecia entre ética
e estética, disciplinas filosóficas distintas. Alteridade, ao contrário, é considerada objeto
específico da ética1, na medida em que esta trata das relações com o outro, mas distante
da estética. Mesmo quando a fundamentação racional do agir moral é criticada pela
dificuldade de reconhecer a diferença do outro, a alteridade continua circunscrita à
investigação ética. A possibilidade de agrupar tais temas é revelador de um outro
contexto, que se convencionou chamar crise da razão, contexto pós-moderno ou, mais
precisamente, pensamento pós-metafísico.
Desde o século XX são conhecidas as profundas transformações ocorridas no
pensamento, que questionam os limites rígidos entre arte, filosofia e literatura,
denunciam o caráter excludente do conceito, que não reconhece o outro e não acolhe
aquilo que escapa às suas determinações e apontam para a atualidade do estético para
além da teoria do belo e da arte, transposto agora para a vida cotidiana. Esse conjunto
de mudanças produz efeitos sobre nossas interpretações de mundo e no modo de pensar.
A alteridade encontra, no deslizamento para a estética, novas configurações. A produção
artística e a estética incluem-se num movimento de interpretação da vida e reinventam o
conceito de alteridade, na medida em que a experiência estética enfatiza uma
multiplicidade de dimensões do estranho, que nos retira da conformidade com o
familiar, abrindo espaço para uma alteridade antes desconhecida.
Este artigo pretende expor as conexões entre os temas propostos, a partir da
relação de complementaridade entre ética e estética, o que permite indicar a fecundidade
do estranhamento provocado pela experiência estética como fator decisivo para uma
abertura à alteridade.
1
A alteridade e o outro surgem mais tardiamente como tema do pensamento filosófico. E quando
aparecem, no âmbito do pensamento cartesiano – no caso, nas Meditações I e II de Descartes – , não
aparecem como objeto específico (cf. Dicionário de ética e filosofia moral, p. 274ss).
Artigo disponível no site do Grupo de Pesquisa “Racionalidade e Formação” (www.ufsm.br/gpracioform).
GPRACIOFORM – Grupo de Pesquisa Racionalidade e Formação 2
A estética, a partir da modernidade, começa uma busca pelo sentimento
subjetivo do gosto e configura-se como uma despedida da doutrina objetiva do belo. A
afirmação de Spinoza, em uma carta de 1674, é expressiva desse contexto: “A beleza,
senhor venerável, não é tanto uma qualidade do objeto (objecti) observado, como, pelo
contrário, um efeito (effectus) no homem do objeto contemplado” (apud Parmentier,
2004, p. 17).
Os conceitos de belo e de arte modificam-se, tornam-se cada vez mais
subjetivos e culminam com uma total independência da arte de qualquer finalidade
externa. Desde que Alexander Baumgarten (1714-1762) define estética como “ciência
do conhecimento sensível ou gnoseologia inferior” (apud BAYER, 1965, p.184), se
estabelece que ela tem um componente cognitivo e emotivo. Segundo Iser, a estética
trouxe uma nova questão: “ela é uma interpenetração das faculdades, iluminadas pelo
‘conhecimento sensorial’, ou opera como um agente intermediário para o corpo e a
mente, iluminado por uma relação recíproca que ela põe em movimento? É algo que se
possa agarrar ou é uma função?” (2001, p. 35-6).
Esse tipo de problematização provocou uma série de respostas epistemológicas
sobre a natureza da estética e adquire contornos diferenciados nas formulações clássicas
de Kant, Hegel e Adorno. No século XX, a estética sai de um confinamento sobre o que
é arte, belo, sublime para adentrar no cotidiano, situando-se no âmbito das novas
discussões da filosofia e das ciências humanas, em que estão presentes temas como
percepção e sensibilidade, mito e arte, corporeidade. De modo geral, diante de uma
desconfiança das promessas emancipatórias e das dificuldades com as configurações
racionais das relações da vida (conforme proposições da filosofia da história), se
estabelece uma reação de reabilitação do sensível e do não conceitual, que trouxe, ao
mesmo tempo, uma “desdiferenciação” (Entdifferenzierung) entre estética e aisthesis
(Cf. EHRENSPECK, 1996, p. 208).
Na década oitenta do século XX, Welsch retoma o conceito de aisthesis da
filosofia de Aristóteles, que significa percepção pelos sentidos, sensibilidade e recoloca-
a no âmbito da experiência estética na vida contemporânea. A estética passa a ser
interpretada, então, como uma crescente “desdiferenciação” (Entdifferenzierung) dos
termos aisthesis e estética, na perspectiva de um novo conceito de razão, que incorpora
o sensível. Estética e aisthesis podem ser reunidas justamente por não se tratar de uma
teoria da arte, mas de uma racionalidade que incorpora também o conhecimento pela
percepção sensível.
Artigo disponível no site do Grupo de Pesquisa “Racionalidade e Formação” (www.ufsm.br/gpracioform).
GPRACIOFORM – Grupo de Pesquisa Racionalidade e Formação 3
Assim, o contexto em que se utiliza o termo estética no discurso contemporâneo
estaria voltado para as diferentes formas pelas quais a sensibilidade atua sobre nós e não
propriamente uma teorização sobre a arte e se torna objeto de consideração em todas as
esferas da vida prática. Ou seja, a estética diz respeito a aisthesis, a percepção sensível.
Esse contexto leva Lyotard a afirmar que “a estética é o modo de uma civilização
abandonada por seus ideais” (1993, p. 417), numa clara referência que a emergência da
estética está relacionada com a desconfiança dos fundamentos racionais.
Nessa perspectiva, acentua-se a “atualidade do estético”, a que Welsch2 (1993)
referiu como uma tendência contemporânea em que tudo tende a se configurar
esteticamente. Tal tendência está presente no cotidiano, onde se misturam ser e
aparência, vida e arte, realidade e ficção, realidade e simulação. Verifica-se desse modo
uma provocativa rasura nos limites entre arte e não-arte, que aparece nos “ready-made”
de Duchamp, na lata de sopa de Warhol e nas instalações pós-modernas, rompendo com
todas as expectativas habituais, num incansável movimento de inovação. Esse
movimento tem início a partir da modernidade, quando se observa uma retração da
realidade, para dar lugar à invenção de outras realidades, numa espécie de desrealização
do real, em que as imagens não oferecem garantia de existência daquilo que elas
supostamente representariam, pois se tornam manipuláveis em sua virtualidade.
Em tais condições surge a “estetização do mundo da vida”, que, de acordo com
a análise de Bubner (1989, p.143 ss.), se dá pela abertura a momentos extraordinários
próprios da estética, diante das funções que exercemos no cotidiano. Isso envolve desde
situações de teatro de rua, até o domínio do design, a exposição eufórica até a
estilização da própria biografia. Nesse contexto, diz Bubner, “a realidade insere sua
dignidade ontológica em favor da aparência geral” (Idem, p. 150). Há um emprego
inflacionado da encenação, na medida em que tudo passa a ser encenado: textos,
sexualidade, corpo, formas de vida, política, carreira profissional. A experiência estética
cria um estado singular, em que algo pode se relacionar consigo mesmo, produzir um
sentido, que quebra a lógica habitual.
2
Welsch apresenta o tema “Das ästhetische – eine Schlüsselkategorie unserer Zeit? (A estética - uma
categoria chave do nosso tempo?) no Congresso – “A atualidade do estético”, realizado em Hannover,
Alemanha, em setembro de 1992. Nessa ocasião, nomes reconhecidos na área da filosofia estética
apresentaram suas interpretações sobre o tema-título do congresso, o que resultou na publicação de
WELSCH, Wolfgang. Die Aktualität des Ästhetischen, 1993. Welsch distingue entre estetização
superficial - aquelas relativas ao embelezamento, animação e o estímulo ao prazer, ao gozo e a diversão
sem conseqüências - da estetização em profundidade que penetra a realidade da nossa vida, porque a
realidade passa a ser concebida sem nenhum fundamento e sujeita à mutabilidade e à virtualidade (Op.
cit., p. 23 ss).
Artigo disponível no site do Grupo de Pesquisa “Racionalidade e Formação” (www.ufsm.br/gpracioform).
GPRACIOFORM – Grupo de Pesquisa Racionalidade e Formação 4
A ficção auxilia a enfrentar as funções do cotidiano e assim a experiência
estética torna-se um caso particular da experiência habitual. Para que tenhamos aqueles
“raros momentos” (Idem, p.153) de surpresa e inesperado que funcionam como
descarga para o cotidiano e pelos quais produzimos novos sentidos, precisamos do
contraponto da experiência habitual. A arte só pode funcionar como libertação das
funções do cotidiano se permanecer a diferença entre arte e vida. Caso vivêssemos
apenas da descarga estética sem o confronto da experiência habitual, a própria
identidade do sujeito se dissolveria na ficção.
Bubner aponta a estetização da realidade, com seu caráter paradoxal, como um
sintoma da crise do iluminismo, em que o excesso de informações e de verdade racional
impossibilitam a própria orientação racional. A estética se candidata para dar conta
daqueles elementos que não cabem mais no conceito, nos processos de racionalização e
que podem trazer o não trivial. Daí a criação, por Bubner (Idem, p.7), da expressão
“fome de experiência” (Erfahrungshunger) que caracteriza a busca intranqüila pelo
sensível, que não encontra refúgio em nenhuma teoria, num movimento interminável
entre o sensível e o conceito.
Em O culto da emoção, Michel Lacriox (2006) também aponta que a busca
desenfreada de emoções fortes pelo indivíduo moderno realiza um movimento
paradoxal, pois, ao mesmo tempo em que a sensibilidade triunfa, ela retira do homem a
capacidade de sentir emoções serenas, jogando-o para o delírio. Diante da degradação
da sensibilidade, reivindica um “protesto iconoclasta”, de forma a evitarmos que o culto
das emoções promova um retorno à barbárie. Embora o texto de Lacroix não faça
referência à “fome de experiência” denunciada por Bubner, seu argumento segue a
mesma direção da tese do filósofo, de que a experiência estética no cotidiano produz um
movimento paradoxal.
Pode-se dizer, de um modo amplo, que a estetização do mundo da vida acentua
a volatilidade, a indeterminação, a imaginação, a virtualidade e a diferença. Diante da
perda dos fundamentos metafísicos, a estética se apresenta como uma possibilidade de
lidar com a pluralidade do mundo contemporâneo. Um movimento dessa natureza, além
de seu caráter paradoxal, costuma também ser acusado de ter uma dimensão
superficial3. Entretanto, ele tem uma dimensão profunda que Welsch (1993, p. 35)
denominou “estetização epistemológica”. Isso remete a Kant, na parte da Estética
transcendental, da Crítica da razão pura, em que os momentos estéticos são
3
Ver nota 2.
Artigo disponível no site do Grupo de Pesquisa “Racionalidade e Formação” (www.ufsm.br/gpracioform).
GPRACIOFORM – Grupo de Pesquisa Racionalidade e Formação 5
constitutivos de nosso saber e de nossa construção da realidade, porque ficcionamos.
Enquanto um defensor da inevitabilidade dos processos de estetização, Welsch (1993,
p.47) destaca que a
estetização não deve ser nem aceita nem rejeitada globalmente. Ambas as
proposições seriam igualmente de pouco valor e falsas. Eu procurei
denominar, com a estetização epistemológica, uma razão principal que torna
compreensível a moderna inevitabilidade dos processos de estetização.
Quando nós olhamos esta estetização profunda, nós percebemos uma forma
de estetização que justamente parece irrefutável. Seu não-fundamentalismo
forma modernamente a nossa ‘base’. Quando nós, por outro lado, olhamos a
estetização superficial, há múltiplos motivos para crítica. A justificação de
‘princípio’ dos processos de estetização não significa, de modo algum, que
todas as formas de estetização seriam aprovadas.
Nessa medida, falar da estética hoje é falar de suas possibilidades para trazer à
tona nossa imaginação, num agenciamento dos sentidos que produz novas modelagens,
compreensões e percepções. Isso ultrapassa a teoria da obra de arte e se estende para a
discussão de como atua o estético sobre os diversos domínios da vida cotidiana, desde a
política até à mídia. Iser (2001, p. 47) considera que a estética traz consigo uma “cascata
de possibilidades, ilimitada em alcance”, uma experiência de finalidade aberta, que
incita à pluralidade. Historicamente sempre a estética se interpôs contra o rígido
racionalismo e apresenta condições de lidar com as novas exigências éticas da realidade
radicalmente plural.
Na Teoria estética, Adorno mostra que o pensamento conceitual tem limites e o
caráter sempre dinâmico e imprevisível da criação artística e da experiência estética
ultrapassam as questões de banalização cultural, tornando-se um refúgio para sustentar
a subjetividade contra as forças objetivas massificadoras. A arte sempre tem um
momento utópico, uma vez que sua presença traz a possibilidade do não-existente,
transcende os antagonismos da vida cotidiana, emancipa a racionalidade do
confinamento empírico imediato. De certa forma, a arte se subtrai à intenção humana e
ao mundo das coisas. Por isso, Adorno ( 1997, p.125) usa a metáfora do fogo de
artifício,
que, por causa de seu caráter efêmero e enquanto divertimento vazio, dificilmente
foi digno de consideração teórica. [...] O fogo de artificio é apparition χατ´ έξσχήν:
aparição empírica liberta do peso da empiria, enquanto peso da duração, sinal
celeste e produzido de uma só vez. [...] Não é pela perfeição elevada que as obras
de arte se separam do ente indigente, mas de modo semelhante ao fogo de artifício,
ao atualizarem-se numa aparição expressiva fulgurante.
Artigo disponível no site do Grupo de Pesquisa “Racionalidade e Formação” (www.ufsm.br/gpracioform).
GPRACIOFORM – Grupo de Pesquisa Racionalidade e Formação 6
É desse impulso da aparição, do efêmero, que a arte carrega a possibilidade de
fazer emergir aquilo que escapa à reflexão, deixando aparecer algo que ainda não existe.
A possibilidade de verdade no âmbito da estética seria superior à própria reflexão
filosófica, justamente pela afinidade da estética com a aparição e a aparência. Diz
Adorno: “Em cada genuína obra de arte algo (etwas) aparece, como não havia” (1997,
p.125).
Martin Seel (2000, p.35 ss.) exemplifica o “algo” que aparece na obra de arte,
através do quadro Who’s afraid of red, yellow and blue IV (Nationalgalerie, Berlin), de
Barnett Newman4.
Barnett Newman -Who's Afraid of Red, Yellow and Blue
IV(1969-70)
Acrílico sobre tela, 274,3 x 604,5 cm
O que observamos no quadro?
A tela gigante não tem moldura. Vê-se à esquerda uma grande superfície
vermelha, à direita uma superfície amarela e, no centro, encontra-se um largo traço de
cor azul. As cores apresentam um contínuo homogêneo, a ordenação é simétrica, as
cores são puras. Seel aponta que, contra essa aparência de uma “composição bem
temperada e balanceada”, o quadro todo se revolta. Na observação, o vermelho ressalta
4
Barnett Newman (1905– 1970) é um artista americano minimalista, que rejeitou a noção convencional
de composição espacial na arte. De modo geral, seu trabalho está vinculado ao expressionismo abstrato.
Em seus quadros usa, com freqüência, grandes escalas para atingir suas abstrações. Desejava que o
observador atingisse a espiritualidade pela dimensão e cor utilizadas na obra. Em Who's Afraid of Red,
Yellow, and Blue IV? Newman usa grandes áreas de cores primárias pontuadas por estreita faixa vertical
de outra cor que ele chama “zips”- um recurso de impacto visual e emocional(Cf. Encyclopedia
Columbia University Press- Disponível em http://www.answers.com/topic/barnett-newman).
Artigo disponível no site do Grupo de Pesquisa “Racionalidade e Formação” (www.ufsm.br/gpracioform).
GPRACIOFORM – Grupo de Pesquisa Racionalidade e Formação 7
agressivamente e o amarelo recua. Isso se agrava numa demorada percepção, através de
olhares precisos das grandes superfícies delimitadas pelo meio azul.
A tarefa da cor azul sobrepõe minimamente a zona vizinha vermelha, enquanto é
ligeiramente sobreposta pela superfície amarela. O vermelho agressivo é retido pelo
azul. Contra isso, o suave amarelo fica solto. As grandes superfícies de cores estendem-
se sempre mais na observação; elas ultrapassam o limite do quadro, como elas
ultrapassam os limites das outras cores, sempre de novo. As cores se irradiam uma
sobre a outra. Elas formam na visão um “continuum oscilante”. Segundo a interpretação
de Seel, o quadro encena o abuso do campo de cores. Trata-se assim de “uma peça de
pintura anti-composicional e anti-purista. Ela quebra a forma que o observador encontra
num primeiro olhar. Celebra a capacidade, a ordem do mundo visível” (2000, p.35),
enquanto ultrapassa todas essas determinações. Assim, se desdobra a diferença entre
aparência determinável e aparência indeterminável.
A atenção a essa indeterminação, para Adorno, é próxima de um significado
ético, porque ela abre um espaço para a liberdade. A obra de arte nos indica, com sua
verdade, que o mundo não é compreendido quando apropriado abstrata e tecnicamente,
pois só encontramos a realidade de nossas vidas quando nos apoderamos dela
espiritualmente. Ou seja, na relação com o mundo, a experiência estética traz “algo”,
que ultrapassa nossas explicações racionais, promovendo um estranhamento que indica
o ponto de relação entre ética e estética.
E aqui entramos num terreno espinhoso, pois não se trata de uma relação
tranqüila. O tema divide os espíritos. No caso de Bohrer, temos o exemplo de uma
posição contrária àquela defendida por Welsch da “atualidade do estético” e de qualquer
possibilidade desta contribuir para a ética. Para Bohrer nada há em comum entre ética
e estética, uma vez que aspectos como a estética do horror e o caráter enigmático da
arte, pelo que trazem de conexão com forças da vida e liberação dos limites
convencionais, acentuam a impossibilidade de relacionar aspectos estéticos com as
questões normativas da éticas. Bohrer não aceita a aproximação dos termos estética e
aisthesis, pois isso levaria à perda do caráter subversivo da arte.
Apesar das críticas plausíveis a uma estetização superficial, entendo que a
relação de complementaridade entre ética e estética é um caminho que abre perspectivas
para a alteridade. Welsch não só defende atualidade e inevitabilidade dos processos de
estetização, como estabelece um entrelaçamento entre ética e estética que não é
Artigo disponível no site do Grupo de Pesquisa “Racionalidade e Formação” (www.ufsm.br/gpracioform).
GPRACIOFORM – Grupo de Pesquisa Racionalidade e Formação 8
periférico, mas central, pois um juízo moral não se realiza sem elementos estéticos,
assim como um julgamento estético contém elementos de razão prática5.
A estética tem se mostrado hábil na experiência da alteridade, evidenciando
aquilo que é estranho, uma liberdade do sensível contra o embrutecimento da percepção
automatizada. As constantes mudanças das formas artísticas são observadas desde as
vanguardas estéticas e, mais e mais, novas experiências de estranhamento da alteridade
são tentadas, como os “ready-mades” de Duchamp, as instalações, o movimento do neo-
conceitualismo, o expressionismo abstrato, entre outros. Na literatura, o movimento
pelo estranhamento ocorre na subversão da narrativa tradicional, engajando leitores num
jogo de signos e significados. Podemos lembrar que, já no século XIX, em Crime e
castigo, Dostoievski aponta o outro do sujeito, que abala a sólida moral. Esse caráter
provocador da estética (no caso, da narrativa literária) abre caminho para o
aparecimento de um outro, que não nos é dado a perceber numa rígida estruturação
racional de princípios éticos abstratos.
A possibilidade da literatura trazer o estranhamento, que amplia nossa
compreensão do outro e de nós mesmos, foi analisada por Rorty6, ao defender a ética
estetizada. Segundo ele, as mudanças na moral, assim como na vida política, dependem
de inovações culturais e não de decisões de nossa vontade, como era a crença
metafísica. E o que exerce papel nesse processo são as metáforas, que podem fazer
descrições do sujeito e do mundo de forma imprevisível. Quando o mundo joga outro
jogo de linguagem, isso não se realiza por escolha de critérios subjetivos, mas porque
passamos a empregar novas palavras. Disso decorre a importância que Rorty confere ao
artista, em especial, aos poetas e romancistas, pois eles criam novas metáforas e novas
linguagens sobre o sujeito e o mundo que ampliam o espectro de decisões éticas.
Considerando, sobretudo as éticas racionalizadas, a relação com o outro se torna
alvo de muitas críticas, porque nossas ações, ao atender demandas universais,
negligenciam as particularidades dos contextos e sacrificam a alteridade, indicando a
pouca efetividade de princípios éticos abstratos Este tema passa a ter uma atenção
especial na ética contemporânea e, mais especificamente na educação, como exigência
de uma sociedade que enfrenta conflitos de grupos que têm diferentes orientações
valorativas e, com freqüência, acreditam na superioridade de uma cultura, baseada em
critérios técnico-científicos. Como conduzir para alteridade se grupos desrespeitam
5
Cf . WELSCH, W., no capítulo II Diskursarten – trennscharf geschieden?, do livro Vernunft. p. 461ss.
6
Ver especialmente a obra de Rorty, Contingência, ironia e solidariedade, em que desenvolve os
elementos de uma ética estetizada.
Artigo disponível no site do Grupo de Pesquisa “Racionalidade e Formação” (www.ufsm.br/gpracioform).
GPRACIOFORM – Grupo de Pesquisa Racionalidade e Formação 9
violentamente outros grupos? Preocupações dessa ordem buscam colocar a alteridade
como uma persistente temática. Se, à primeira vista pode parecer frívolo ou sem
importância o modo como a estética se ocupa da alteridade, comparativamente às
justificações racionais com que a ética tematiza tal objeto, um olhar mais atento pode
indicar o quanto ela (a estética) pode atuar para ampliar nossa reflexão moral, na
medida em que nos prepara para o estranhamento. E isso pode quebrar as barreiras que
se interpõem quando o meramente racional não consegue reconhecer o outro. Adorno
foi arguto em indicar o quanto se estabelece um impasse quando a razão elimina de si
mesma seu outro: “o que os indivíduos manipulados repelem lhes é apenas demasiado
compreensível; analogamente à afirmação de Freud segundo a qual o inquietante é
inquietante como aquilo que é intimamente demasiado familiar. Eis porque é repelido”
(Adorno, 2006, p.273). Nessa medida, a experiência do estranho e até mesmo do horror
vivenciada pela experiência estética põe em jogo o outro de nós mesmos, numa
condição privilegiada de manejo com alteridade.
O acesso clássico à alteridade advém do questionamento se sabemos quem é
outro. As dificuldades do sujeito moderno com essa temática, seja a pessoa do outrem
ou das culturas, tem por base o modelo de auto-afirmação da subjetividade que resulta
numa dominação da diferença7.
A alteridade é um outro, do qual depende a própria identidade. O outro e o eu
estão numa relação complexa em que se remetem reciprocamente. Assim, o outro não
só está fora como dentro do indivíduo. Os versos de Cecília Meireles remetem para isso:
Que és sempre outro.
Que és sempre o mesmo.
A experiência estética pode nos familiarizar com o estranho de nós mesmos,
com nossas contradições mais fortes, pois a inclusão de elementos excluídos de nossa
7
Schäfer faz uma forte crítica ao modelo de pensamento ocidental que domina as diferenças e que resulta
na superioridade sócio-econômica e técnico-científica da sociedade moderna, diante das outras culturas e
na projeção da barbárie no outro. Numa tal situação, os modelos de evolução teórica, ajudam um pouco,
pois autorizam a ler a diferença em relação ao outro. Entretanto, tais modelos, por um lado, sublinham a
superioridade de seu próprio modo de ver (o científico), por outro lado, os modos de ver de outras
culturas não se tornem diretamente qualificados. Schäfer indica que esses modelos têm filiação com a
idéia “do mais alto desenvolvimento” e possibilitam esclarecer o critério de desenvolvimento que
hierarquiza diferenças, com base no modelo da lógica do desenvolvimento ontogenético independente de
Piaget e Kohlberg. Num segundo passo sociológico, podem indicar a estrutura das sociedades, como na
teoria de Habermas. Sob essas condições, diz Schäfer, torna-se difícil a possibilidade de um diálogo
intercultural (SCHÄFER, 1988, p. 115ss). Como se sabe, Habermas aposta na possibilidade de um
diálogo intercultural, na medida em que defende a existência de “estruturas universais de racionalidade”
subjacentes à “compreensão moderna do mundo” (cf. Teoria de la acción comunicativa, v. I,. Madrid:
Taurus,1987, p. 99). O reconhecimento da alteridade está no centro dessas discussões éticas.
Artigo disponível no site do Grupo de Pesquisa “Racionalidade e Formação” (www.ufsm.br/gpracioform).
GPRACIOFORM – Grupo de Pesquisa Racionalidade e Formação 10
identidade nos prepara para o manejo ético do outro externo a mim. “A estranheza ao
mundo é um momento da arte”, diz Adorno (Op. cit., p. 274).
O estranhamento promovido pela experiência estética tem condições
privilegiadas para ampliar nossas condições de reconhecimento da alteridade, atuando
na perspectiva de nos tornar sensíveis, tanto para reconhecer o externo como para estar
atento às diferenças e às desqualificações do cotidiano. Diferenças e desqualificações
que muitas vezes convivem bem com princípios abstratos (oriundos de justificações
racionais), cheios de celebração e vazios em sensibilidade. Uma pessoa, por exemplo,
que se apropriou perfeitamente do princípio da tolerância, mas que não possui
sensibilidade, corre o risco de não perceber que as diferenças são oriundas de visões
culturais e não originárias de um déficit (Cf. WELSCH, 1993, p.46-7). O estranhamento
atua decisivamente contra os aspectos restritivos da normalização moral, forçando a
rever nossas crenças e o respeito exacerbado pelas convenções.
Quero aqui apontar que o outro sempre foi submetido a uma situação
contraditória no pensamento filosófico, pois, na mesma medida em que foi reconhecido,
sistematicamente foi também subtraído, através de um violento mecanismo de
abstração, em que, para afirmar aquilo que é universal, excluiu o estranho, a diferença, o
irracional. Mesmo para Hegel, em que a consciência de si resulta de um processo de
reconhecimento do outro − movimento que o filósofo busca demonstrar na famosa
figura do senhor e do escravo −, enfrenta a situação paradoxal de que o outro só existe
para que o próprio sujeito possa se reconhecer. A alteridade seria, então, o meio
necessário (enquanto negatividade) do reconhecimento do próprio sujeito como
consciência de si.
Haveria, então, possibilidade da experiência estética abrir espaço para a ética,
especialmente voltada para a alteridade? Como sabemos, não são poucas as críticas
àqueles projetos que transformam a ética numa estética da existência, como em
Foucault. Freqüentemente as críticas à estética da existência, que é retomada de
Nietzsche, indicam que elas não nos conduziriam ao outro. Não estou convencida nem
que uma ética dessa natureza levaria a usurpação hedonista do outro em função da
própria vontade8, nem que a criação de si seria incompatível com normas universais.
Meu interesse é, antes que defender uma posição sobre a disputa entre éticas
estetizadas e éticas universalistas deontológicas, indicar a possibilidade de a estética
abrir um espaço que permita ultrapassar a incomensurabilidade e o conflito entre ética e
8
Ver esepeciamente LIESMANN, Konrad Paul, em Ästhethische Erziehung in einer ästhetisierten Welt.
Artigo disponível no site do Grupo de Pesquisa “Racionalidade e Formação” (www.ufsm.br/gpracioform).
GPRACIOFORM – Grupo de Pesquisa Racionalidade e Formação 11
estética, com vistas a abrir nossa imaginação teórica e a sensibilidade para o
reconhecimento do outro. Isso é extremamente significativo porque a educação nada
mais é que a possibilidade de constituir um ethos da diferença, em que possamos
enfrentar o outro externo e interno a nós mesmos, sem defender o relativismo. No
limite, o relativismo não é possível, pois ele destruiria a própria alteridade.
Creio que o estético pode nos tornar vigilantes quanto aos abusos de uma
estruturação racional da educação que projeta objetificações infindáveis e ilusões,
capaz de instrumentalizar o outro. É nessa perspectiva que Bredella afirma: “A ética
necessita da arte para nos prevenir do próprio aprisionamento em conceitos rígidos e
estereotipados e da própria insensibilidade com as pretensões do outro” (1996, p.51).
Ética e estética não podem ser reduzidas uma à outra nem deve ser construído um
abismo intransponível entre elas. A experiência estética pode nos auxiliar para uma
contínua reconstrução da experiência, produzindo um ethos sensível, que reconheça o
próprio limite de nosso entendimento do outro. Esse reconhecimento é o ponto de
partida para a compreensão e a abertura à alteridade.
REFERÊNCIAS
ADORNO, Theodor. Ästhetische Teorie. Gesammelte Schriften. Band 7.
Herausgegeben von Rolf Tiedemann. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgeselschaft,
1997.
BAYER, Raymond. Historia de la estetica. Trad. Jasmin Reuter. Fondo de Cultura
Económica: México, 1965.
BOHRER, Karl Heinz. Die Grenzen des Ästhetischen. München: Hanser, 1998.
BREDELLA, Lothar. Aesthetics and Ethics: incommensurable, identical or conflicting?
In: HOFFMANN, Gerhard; HORNUNG, Alfred. Ethics and aesthetics: the moral turn
of postmodernism. Heidelberg: Universitätverlag C. Winter, 1996, p. 29- 51.
BUBNER, Rüdiger. Ästhetische Erfahrung. Frankfrurt am Main: Suhrkamp, 1989.
EHRENSPECK, Yvonne. Aisthesis und Ästhetik: Überlegungen zur einer
problematischen Entdifferenzierung. In: MOLLENHAUER, Klaus; WULF, Christoph.
Aisthesis/Ästhetik. Weinheim: Deutscher Studien Verlag, 1996, p.201-230.
FRÜCHTL, Josef. Ästhetische Erfahrung und moralisches Urteil. Frankfrurt am Main:
Suhrkamp, 1996.
GRABES, Herbert. Ethics, aesthetics, and alterity. In: HOFFMANN, Gerhard;
HORNUNG, Alfred. Ethics and aesthetics: the moral turn of postmodernism.
Heidelberg: Universitätverlag C. Winter, 1996, p. 23-28.
ISER, Wolfgang. O ressurgimento da estética. In: ROSENFIELD, Denis (org.). Ética e
estética. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 35-49.
LACROIX, Michel. O culto da emoção. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: José
Olympio, 2006.
Artigo disponível no site do Grupo de Pesquisa “Racionalidade e Formação” (www.ufsm.br/gpracioform).
GPRACIOFORM – Grupo de Pesquisa Racionalidade e Formação 12
LYOTARD, François. Anima Minima. In: WELSCH, Wolfgang (Hrsg.). Die Aktualität
des Ästhetischen. München: Fink, 1993, p.417-427.
KOCH, Lutz; MAROTZKY, Winfried; PEUKERT, Helmut. Pädagogik und Ästhetik
Weinheim: Deutescher Studien Verlag, 1994.
PARMENTIER, Michael. Ästethische Bildung. In: OELKERS, Jürgen; BENNER,
Dietricher. Historisches Wörterbuch der Pädagogik. Weinheim und Basel: Beltz, 2004,
11-32.
PERNIOLO, Mario. A estética do século XX. Trad. Teresa Antunes Cardoso. Lisboa:
Editorial Estampa, 1998.
RORTY, Richard. Contingencia, ironía y solidaridad. Trad. Alfredo Eduardo Sinnot.
Barcelona: Paidós, 1991.
SCHÄFER Alfred. Universalität und Differenz: Zur Ambivalenz modern Sebst-und-
Frendverständnisses. In: GOGOLIN, Ingrid; KRÜGER-POTRATZ, Marianne;
MEYER, Meinert (Orsg.). Pluralität und Bildung. Opladen: Leske + Budrich, 1988,
p.115-126.
SEEL, Martin. Ästhetik des Erscheinens. München: Carl Hanser Verlag, 2000.
WELSCH, Wolfgang. Das Ästhetische – Eine Schlüsselkategorie unserer Zeit? In:
WELSCH, Wolfgang (Hrsg.). Die Aktualität des Ästhetischen. München: Fink, 1993, p.
13-47.
WULF, Christoph. Einführung in die Anthropologie der Erziehung.Weinheim und
Basel: Beltz, 2001.
Artigo disponível no site do Grupo de Pesquisa “Racionalidade e Formação” (www.ufsm.br/gpracioform).
Você também pode gostar
- Apostila - Estética Da Arte - FilosofiaDocumento11 páginasApostila - Estética Da Arte - FilosofiaJuliana Virginia100% (4)
- As Razoes de Aristoteles - Enrico Berti EditDocumento208 páginasAs Razoes de Aristoteles - Enrico Berti EditMoisés MotaAinda não há avaliações
- 9 DENNINGER - Erhard - Seguranca - Diversidade - SolidariedadeDocumento18 páginas9 DENNINGER - Erhard - Seguranca - Diversidade - SolidariedadeAline LeiteAinda não há avaliações
- 8643840-Texto Do Artigo-16138-1-10-20160303 PDFDocumento7 páginas8643840-Texto Do Artigo-16138-1-10-20160303 PDFthaynáAinda não há avaliações
- Resumo Pedagogia Da AutonomiaDocumento9 páginasResumo Pedagogia Da Autonomiapaula_adriAinda não há avaliações
- Nadja Hermann Estetização Do Mundo PDFDocumento13 páginasNadja Hermann Estetização Do Mundo PDFAnanda Vargas HilgertAinda não há avaliações
- Herman, Nadja - Razão e Sensibilidade PDFDocumento16 páginasHerman, Nadja - Razão e Sensibilidade PDFGiovani MiguezAinda não há avaliações
- Produção Atual TCC HC MaioDocumento19 páginasProdução Atual TCC HC MaioantoniaAinda não há avaliações
- 8703-Texto Do Artigo-25040-2-10-20230410Documento11 páginas8703-Texto Do Artigo-25040-2-10-20230410angela peyerlAinda não há avaliações
- 39000-Texto Do Artigo-751375139085-1-10-20180501Documento10 páginas39000-Texto Do Artigo-751375139085-1-10-20180501Adriana CarpiAinda não há avaliações
- A Estética Como Um ImperativoDocumento44 páginasA Estética Como Um ImperativoKlebber Maux DiasAinda não há avaliações
- Estética Do GrotescoDocumento11 páginasEstética Do GrotescoAtheistMindAinda não há avaliações
- Estética, Linguagem e Comunicação Da ModaDocumento111 páginasEstética, Linguagem e Comunicação Da ModaconsultorialexamedeirosAinda não há avaliações
- Artigo Nadja HermanDocumento18 páginasArtigo Nadja HermanSusana Maestri100% (1)
- Valdezia PereiraDocumento19 páginasValdezia PereiraIvy CollyerAinda não há avaliações
- Marlene Binder Meli - Artigo Oficial FinalDocumento16 páginasMarlene Binder Meli - Artigo Oficial FinalmarlenebinmelAinda não há avaliações
- GUIMARÃES, C. O Que Se Pode Esperar Da Experiência EstéticaDocumento13 páginasGUIMARÃES, C. O Que Se Pode Esperar Da Experiência EstéticaHelena Santiago VigataAinda não há avaliações
- ESTÉTICA A Filosofia Da ArteDocumento4 páginasESTÉTICA A Filosofia Da ArteantoniaAinda não há avaliações
- Trabalho (Muito Bom) EstéticaDocumento10 páginasTrabalho (Muito Bom) EstéticaFelipe MalicheskiAinda não há avaliações
- Questão Estética No Ensino de Artes No EnsinoDocumento19 páginasQuestão Estética No Ensino de Artes No EnsinoLiliane BarrosAinda não há avaliações
- CUNHA, Diana Kolker Carneiro Da - Mulheres Na Arte e Na Vida - Representação e RepresentatividadeDocumento16 páginasCUNHA, Diana Kolker Carneiro Da - Mulheres Na Arte e Na Vida - Representação e RepresentatividadeKamylle AmorimAinda não há avaliações
- 260 370 1 PBDocumento17 páginas260 370 1 PBricardoAinda não há avaliações
- Artigo Teoria CriticaDocumento14 páginasArtigo Teoria CriticaEdineia RochaAinda não há avaliações
- Pluraridade e Ambiguidade Na Experiencia ArtisticaDocumento15 páginasPluraridade e Ambiguidade Na Experiencia ArtisticaSandro NovaesAinda não há avaliações
- Arte e Formação Uma Cartografia Da Experiência Estética - Farina - ArtigoDocumento16 páginasArte e Formação Uma Cartografia Da Experiência Estética - Farina - ArtigoCassia CorreaAinda não há avaliações
- Estética FilosoficaDocumento7 páginasEstética Filosoficaemitsue6Ainda não há avaliações
- Estetica Como Conforto Psicologico Na ModaDocumento9 páginasEstetica Como Conforto Psicologico Na ModaRita MarquesAinda não há avaliações
- Trabalho Sobre A Filosofia Da ArteDocumento9 páginasTrabalho Sobre A Filosofia Da Artenaelyfranco24Ainda não há avaliações
- Estetica HegelDocumento14 páginasEstetica HegelNertanSilvaAinda não há avaliações
- DIEDERICHSEN - Maria Cristina - Pesquisar Com A Arte Etica e Estetica Da ExistenciaDocumento24 páginasDIEDERICHSEN - Maria Cristina - Pesquisar Com A Arte Etica e Estetica Da ExistenciapedernestoAinda não há avaliações
- Estética e Arte Foucault PDFDocumento14 páginasEstética e Arte Foucault PDFWanderley Oliveira100% (1)
- A Importância Dos Estudos Estéticos Do Século XVIIIDocumento6 páginasA Importância Dos Estudos Estéticos Do Século XVIIICamilo Lelis Jota PereiraAinda não há avaliações
- Considerações Acerca de Uma Estética Negativa em Theodor W. Adorno PDFDocumento14 páginasConsiderações Acerca de Uma Estética Negativa em Theodor W. Adorno PDFPedro FonteneleAinda não há avaliações
- As Estéticas e Suas Definições Da ArteDocumento15 páginasAs Estéticas e Suas Definições Da ArteWalmirRodriguesAinda não há avaliações
- Fenomenologia e CulturaDocumento8 páginasFenomenologia e CulturaFEUDAN UFAMAinda não há avaliações
- Introdução A EstéticaDocumento9 páginasIntrodução A Estéticaquezia.sAinda não há avaliações
- Arte e Sociedade: Pinceladas Num Tema InsólitoDocumento18 páginasArte e Sociedade: Pinceladas Num Tema InsólitoNaiane OliveiraAinda não há avaliações
- O Que É Arte - A Definição e Os Diferentes Tipos - ArteRefDocumento11 páginasO Que É Arte - A Definição e Os Diferentes Tipos - ArteRefCarlos PessoaAinda não há avaliações
- Resumo para A Prova Parcial de Filosofia E Sociologia 1º Ano Do Ensino Médio - 1º TrimestreDocumento2 páginasResumo para A Prova Parcial de Filosofia E Sociologia 1º Ano Do Ensino Médio - 1º TrimestrejuliastteffensdarochaAinda não há avaliações
- A EstéticaDocumento4 páginasA EstéticaHenriques LucasAinda não há avaliações
- Sociologia Da Arte - Pedro PDocumento7 páginasSociologia Da Arte - Pedro PAmaro Braga100% (1)
- Filosofia 13Documento3 páginasFilosofia 13MillenaAinda não há avaliações
- Deleuze SensaçãoDocumento21 páginasDeleuze Sensaçãoaidento science: com o Prof. Diego MarquesAinda não há avaliações
- Estética Un 04 Conceitos de EstéticaDocumento23 páginasEstética Un 04 Conceitos de EstéticaLisiane Frozza100% (2)
- Arte, DorDocumento5 páginasArte, DorLuiza de Freitas Guimaraes Salles MartinsAinda não há avaliações
- SERBENA, Carlos A. Imaginário, Ideologia e Representação SocialDocumento13 páginasSERBENA, Carlos A. Imaginário, Ideologia e Representação SocialStéfany SilvaAinda não há avaliações
- Texto 2 Aula 2023Documento6 páginasTexto 2 Aula 2023Victor PaivaAinda não há avaliações
- Meu Artigo Sociologia FinalDocumento18 páginasMeu Artigo Sociologia FinalNivaldoAparecidoDiasMunizAinda não há avaliações
- Uma Historia Da Verdade Flavio FerrariDocumento16 páginasUma Historia Da Verdade Flavio FerrariFlavio ferrariAinda não há avaliações
- Arte "Pós Contemporânea"?Documento6 páginasArte "Pós Contemporânea"?Juliano Gustavo OzgaAinda não há avaliações
- A Educação Estética Na Pedagogia Waldorf o Imaginário e A Paisagem InteriorDocumento16 páginasA Educação Estética Na Pedagogia Waldorf o Imaginário e A Paisagem InteriorTiago Caetano MartinsAinda não há avaliações
- A Criança e o Brincar Como Obra de ArteDocumento8 páginasA Criança e o Brincar Como Obra de ArteDaiana CamargoAinda não há avaliações
- Estética Ética e LiteraturaDocumento7 páginasEstética Ética e LiteraturaCinthia HipolitoAinda não há avaliações
- FichárioDocumento35 páginasFichárioIsaac ArraisAinda não há avaliações
- 5024-Texto Do Artigo-19815-1-10-20130404Documento15 páginas5024-Texto Do Artigo-19815-1-10-20130404Hamid HajaouiAinda não há avaliações
- Teoria Institucional Da Arte PDFDocumento7 páginasTeoria Institucional Da Arte PDFsantana carniceira0% (1)
- Estética e Teoria Da Arte - Richard PerassiDocumento27 páginasEstética e Teoria Da Arte - Richard PerassiAna Carolina Schirmer100% (1)
- Ajcirillo, ART CostaDocumento10 páginasAjcirillo, ART CostaCarla de AbreuAinda não há avaliações
- Evaldo Coutinho - Imagem AutonomaDocumento13 páginasEvaldo Coutinho - Imagem AutonomaZecaVianaAinda não há avaliações
- Questões Epistemológicas Da Arte Como Linguagem Da Religião - Wilson AvillaDocumento12 páginasQuestões Epistemológicas Da Arte Como Linguagem Da Religião - Wilson AvillaWilson AvillaAinda não há avaliações
- A Dimensão Estética Na LiteraturaDocumento9 páginasA Dimensão Estética Na LiteraturaAlmirante TD BaptistaAinda não há avaliações
- Ppsi0832 DDocumento133 páginasPpsi0832 DYuri MartinsAinda não há avaliações
- 15359-Texto Do Artigo-52125-1-10-20190527Documento12 páginas15359-Texto Do Artigo-52125-1-10-20190527Yuri MartinsAinda não há avaliações
- Pornografia e A Estetica Do Grotesco - Jorge Leite Jr-with-cover-page-V2Documento8 páginasPornografia e A Estetica Do Grotesco - Jorge Leite Jr-with-cover-page-V2Yuri MartinsAinda não há avaliações
- Anda 2020 Ebook 4 Processos CriativosDocumento580 páginasAnda 2020 Ebook 4 Processos CriativosYuri MartinsAinda não há avaliações
- Texto 2 - Rappaport - Modelo PiagetianoDocumento26 páginasTexto 2 - Rappaport - Modelo PiagetianoYuri MartinsAinda não há avaliações
- Onde Se Produz o Artista Da DançaDocumento10 páginasOnde Se Produz o Artista Da DançaYuri MartinsAinda não há avaliações
- America Latina, Arte e DecolonialidadeDocumento14 páginasAmerica Latina, Arte e DecolonialidadeYuri MartinsAinda não há avaliações
- Integração X Inclusão - Escola (De Qualidade) para Todos.Documento4 páginasIntegração X Inclusão - Escola (De Qualidade) para Todos.Yuri MartinsAinda não há avaliações
- Abraçando o Sofrimento, Por John Piper PDFDocumento14 páginasAbraçando o Sofrimento, Por John Piper PDFebooksreformados.com100% (3)
- Curso Saude Planetaria Modulo1 Saudeplanetariaemudancasclimaticas 2022Documento37 páginasCurso Saude Planetaria Modulo1 Saudeplanetariaemudancasclimaticas 2022Helio RochaAinda não há avaliações
- Codigo de ÉticaDocumento15 páginasCodigo de ÉticaJorge Carvalho RaimundoAinda não há avaliações
- Ldia Teste Oralidade 4Documento2 páginasLdia Teste Oralidade 4anamarnog76Ainda não há avaliações
- Igreja e SexualidadeDocumento3 páginasIgreja e SexualidadeLuiz EduardoAinda não há avaliações
- A Importância Da Tecnologia Não LetalDocumento10 páginasA Importância Da Tecnologia Não LetalPablo AndradeAinda não há avaliações
- 2 Simulado OabDocumento62 páginas2 Simulado Oabbia maraAinda não há avaliações
- Miguel Nogueira de BritoDocumento106 páginasMiguel Nogueira de BritoBruno Cardoso100% (1)
- Bakhtin e GreimasDocumento12 páginasBakhtin e GreimashocrashAinda não há avaliações
- História Das Instituições Políticas IDocumento18 páginasHistória Das Instituições Políticas Ijamal fernandoAinda não há avaliações
- RAWLS, John - Palestras Sobre A História Da Filosofia Política - Completo - Trad. Portuguesa - OCRDocumento264 páginasRAWLS, John - Palestras Sobre A História Da Filosofia Política - Completo - Trad. Portuguesa - OCRDanilo S. do NascimentoAinda não há avaliações
- A Paisagem Como Problema Da Filosofia.Documento14 páginasA Paisagem Como Problema Da Filosofia.Carol PinzanAinda não há avaliações
- Manual de Condutas e Procedimentos Online PDFDocumento77 páginasManual de Condutas e Procedimentos Online PDFfelipersilvaAinda não há avaliações
- Motorista CNH DDocumento15 páginasMotorista CNH DFred Lima 01Ainda não há avaliações
- Os Avanços Da Avaliação No Século XXI - Thereza Penna Firme PDFDocumento7 páginasOs Avanços Da Avaliação No Século XXI - Thereza Penna Firme PDFCamila LopesAinda não há avaliações
- Práxis e Formação em Psicologia Social Comunitária: Exigências e Desafios Ético-Políticos. Estudos de Psicologia.Documento12 páginasPráxis e Formação em Psicologia Social Comunitária: Exigências e Desafios Ético-Políticos. Estudos de Psicologia.Ellen FigueiraAinda não há avaliações
- Textos Sobre Ministério Pastoral - EvangélicoDocumento12 páginasTextos Sobre Ministério Pastoral - EvangélicoBenedito Ramos GaldinoAinda não há avaliações
- Missão, Visão e ValoresDocumento8 páginasMissão, Visão e ValoresLutiane CunhaAinda não há avaliações
- Sebenta Final DP PDFDocumento284 páginasSebenta Final DP PDFMark VoorheesAinda não há avaliações
- Ricardo Da Costa - A Estética - Na Antiguidade e Na Idade MédiaDocumento54 páginasRicardo Da Costa - A Estética - Na Antiguidade e Na Idade MédiaWillian GomesAinda não há avaliações
- O Que e Posmodernidade Modernidade Tardia Ou Era Do VazioDocumento5 páginasO Que e Posmodernidade Modernidade Tardia Ou Era Do VazioAna RuteAinda não há avaliações
- Ética e Deontologia Na Educação SocialDocumento6 páginasÉtica e Deontologia Na Educação SocialramiromarquesAinda não há avaliações
- Tecnologia Da Informação e Comunicação FundamentosDocumento24 páginasTecnologia Da Informação e Comunicação FundamentosRobson ÁvilaAinda não há avaliações
- Ética e ResponsabilidadeDocumento2 páginasÉtica e ResponsabilidadeJulioCesarCintrãoAinda não há avaliações
- Introdução Do Livro O Erro de Descartes, de António R DamásioDocumento11 páginasIntrodução Do Livro O Erro de Descartes, de António R DamásioMaxNel100% (2)
- Poesia e Ideologia OttomariacarpeauxDocumento5 páginasPoesia e Ideologia OttomariacarpeauxDavi Silistino de SouzaAinda não há avaliações
- Bragato, Fernanda Frizzo - O Pensamento Descolonial em Enrique Dussel e A Crítica Ao Paradigma Eurocêntrico de Direitos HumanosDocumento17 páginasBragato, Fernanda Frizzo - O Pensamento Descolonial em Enrique Dussel e A Crítica Ao Paradigma Eurocêntrico de Direitos HumanosBruno WeyneAinda não há avaliações