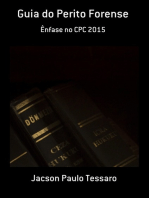Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
DUE 1 - Rafael Assunção
Enviado por
TatianaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
DUE 1 - Rafael Assunção
Enviado por
TatianaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Direito da União Europeia – Exame Final
Rafael Alexandre Martins Assunção
Direito da União Europeia I – 1ª e 2ª Frequência
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra – 3ª Turma
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 1
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
DIREITO DA UNIÃO – HISTÓRIA, DIREITO, CIDADANIA, MERCADO INTERNO E
CONCORRÊNCIA
1. Introdução
É indeclinável um percurso histórico pelas fases infantil e juvenil de evolução da
construção europeia, para se compreender, na imagem de Jean-Paul Jaqué, o ponto
em que nos encontramos no filme comunitário europeu. Ademais, não se pode
descurar a referência ao direito positivo nacional, vista a interação estrutural e
funcional entre ambos os planos.
Primeiramente, enquadraremos a entidade “unionista” no quadro do Direito
Internacional Público, como também enunciar as principais notas tipificantes do
especial e original ordenamento jurídico heteronomamente constituído pelos Estados.
A União Europeia atual, como antes as Comunidades e até a própria EU pré-Lisboa, é
um sujeito jurídico, isto é, um ente suscetível de ser titular de direitos e obrigações, de
ser titular de relações jurídicas e de entrar em relações jurídicas com outras pessoas
para o Direito, segundo Mota Pinto. Mas a EU é, ainda, um sujeito de Direito
Internacional que, segundo a doutrina clássica, se configura como quem é “suscetível
de ser titular de direitos e obrigações resultantes direta e imediatamente de uma
norma de direito internacional”. Ou seja, são sujeitos de Direito Internacional os
Estados, as Organizações Internacionais e, excecionalmente, os indivíduos.
Consequentemente, a EU será igualmente pessoa jurídica de direito interno,
designadamente para os seus Estados membros.
Coloca-se agora a questão de saber se a União Europeia dispõe de capacidade jurídica
plena ou, na expressão própria do direito internacional clássico, de soberania ou
competência das competências. A soberania está hoje, desde logo, limitada pelos
valores e regras imperativos da sociedade internacional e por aqueles outros vínculos
que os Estados vão criando, assumindo ou aderindo a, pela sua presença no concerto
internacional, global, regional ou até local. Ainda subsistem direitos e deveres que são
privativos dos Estados, mesmo depois de todas as limitações acima referidas, e que
não existem nas organizações internacionais ou, em concreto, na própria EU. É o caso,
por exemplo, do direito de participar ou não na EU ou do direito de legislar sobre
matérias não cobertas pelos vínculos internacionalmente impostos ou assumidos.
É que só Estado, pela sua veste soberana, é tradicionalmente apontado como
dispondo de personalidade e capacidade jurídicas plena. Já as OI’s têm a sua
capacidade jurídica marcada, na ordem jurídica internacional, por um princípio
semelhante ao princípio da especialidade do fim.
Ora, desde sempre que os Estados se associam e partilham interesses, vinculando-se
bilateral ou multilateralmente para a prossecução de objetivos e interesses comuns.
Ou seja, as relações interestaduais de cariz regional ou cultural apresentam um peso
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 2
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
significativo e, porventura, preponderante. Além do estabelecimento de relações
diplomáticas, essencialmente bilaterais, a constituição ou participação comum em OI’s
constitui o modo preferencial de organização das relações na sociedade internacional.
Tradicionalmente, era usada entre nós a noção de OI transcrita por Paul Reuter:
“grupos de Estados suscetíveis de manifestar de uma maneira permanente uma
vontade juridicamente distinta dos seus membros”. Hoje, caso se queira enquadrar a
EU no leque das OI’s, esta noção apresenta-se lacunosa. É imprescindível o
estabelecimento de uma estrutura interna que a afirme, de uma repartição ou
delimitação de poderes no interior da organização e face ao exterior (aos seus Estados
membros e terceiros) e de um objetivo comum, que se quer tendencialmente
permanente, tudo isto normalmente enquadrado pela atribuição de personalidade
jurídica.
Segundo o Parecer 2/2013 de 18 de dezembro de 2014, “(…) a União é dotada de um
novo tipo de ordenamento jurídico, com uma natureza que lhe é específica, um quadro
constitucional e princípios fundadores que lhe são próprios, uma estrutura institucional
particularmente elaborada bem como um conjunto completo de regras jurídicas que
asseguram o seu funcionamento”. Do mesmo parecer consta, contudo, que “a União,
do ponto de vista internacional, não pode (…), em razão da sua natureza, ser
considerada um Estado”.
Assim sendo, a EU é qualificada como uma organização internacional. Numa
perspetiva nomológica, os elementos de um OI são essencialmente o caráter de
organização e a natureza internacional.
a) O primeiro elemento (organização) supõe os leitmotiv de permanência ou
estabilidade. Este implica ainda autonomia da organização internacional em
relação aos seus membros, ainda que aquela só exprimisse a vontade
unanimitária de todos os seus membros.
A vontade que se forma na EU e se exprime através dos seus órgãos é a vontade
dos seus próprios órgãos e, em certo sentido, a sua própria vontade e não um
somatório dos Estados membros.
No entanto, enquanto que os Estados estão apenas vinculados, em tese, aos princípios
gerais da ordem jurídica internacional e às vinculações voluntárias por cada um
assumidas, as OI’s e mesmo a EU veem a sua capacidade funcionalizada pelo princípio
da atribuição (artigo 5.º/1 TUE). De acordo com este princípio, a União só pode agir no
quadro das atribuições, na terminologia do Tratado, das competências que para ela
forem definidas pelos Estados membros no respetivo tratado institutivo (artigos 4.º/1 e
5.º/1/2 TUE) e, fora desse quadro, apenas podem atuar os EM.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 3
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
b) Mas, além disso, a organização é internacional, quer dizer, tem a sua fonte
genética num instrumento de direito internacional público – no caso da EU, o
Tratado de Roma e Maastricht.
Existem várias tipologias classificativas de organizações internacionais:
à Quanto à sua base geográfica, podem ser: gerais (universais) – como exemplo
paradigmático temos a ONU -, regionais - EU - ou locais.
à Também se distinguem relativamente aos objetivos que prosseguem. Podem ter
uma finalidade política (Conselho da Europa), económica (EFTA ou AECL, CEE), militar
(NATO), social ou humanitária (OIT, OMS), cultural, científica ou técnica (UNESCO, etc).
As OI’s podem distinguir-se pela sua estrutura ou modelo jurídicos. Aqui, é clássica
a distinção entre organizações intergovernamentais (ou de cooperação) e organizações
de integração ou supranacionais.
1) As organizações internacionais de cooperação ou intergovernamentais
estabelecem relações horizontais de coordenação entre soberanias, de
cooperação. Daí que se baseiem no sistema de decisão por unanimidade e os
seus órgãos tenham uma composição estadual. Diz-se não valer para elas o
princípio da imediação, pelo que os seus atos se dirigem aos Estados e não aos
cidadãos dos Estados Partes, não conferindo a estes últimos direitos e
obrigações que possam fazer valer direta e jurisdicionalmente. Finalmente, não
adotam atos obrigatórios, vinculativos, limitando-se a formular recomendações.
2) As organizações internacionais de integração encontram na sua base as ideias
de limitação das soberanias estaduais e de “delegação” ou “transferência” de
poderes soberanos para a organização. Têm uma estrutura própria com divisão
de poderes soberanos para a organização. A composição dos seus órgãos não é
sempre estadual, alguns havendo que são mesmo, formal e funcionalmente,
independentes relativamente aos Estados. Têm vontade própria, distinta da
vontade dos Estados que a compõem: decidem por maioria, porque não visam
apenas exprimir a vontade de todos os seus componentes, mas a vontade
transcendente e distinta da própria organização internacional. A expressão da
sua vontade cria direitos e obrigações, não só para os Estados, como também
para as pessoas singulares ou coletivas que no seu âmbito atuam.
É a ideia de imediação, de relação direta entre a organização internacional e os sujeitos
físicos e jurídicos particulares e que, na EU, se concretiza através (sobretudo) da ideia
de efeito direto das suas normas. Estas que se afiguram como hierarquicamente
superiores às normas nacionais e que apresentam uma especial força conformadora,
podem ser aplicadas mesmo quando contrariem uma norma nacional que permanece
válida. A consequência quando tal aconteça não será a responsabilização do Estado, mas
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 4
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
sim na atribuição direta e prevalente aos particulares dos direitos resultantes da norma
internacional. São criadas por um instrumento de direito internacional público que
constitui o seu direito originário, outorgado pelos Estados ou outra organização
internacional. Mas, partindo deste direito, elaboram o seu próprio direito interno,
conjuntamente com as normas internas (constitucionais) dos Estados membros.
A qualificação da União Europeia como organização internacional regional de integração
não é nem era pacífica entre nós (e ainda menos no que toca a autores estrangeiros).
Respondendo à questão colocada em saber se a União Europeia dispõe ou não de
soberania, podemos concluir que ainda que se reconheça que a criação das
Comunidades representou o surgimento de uma ordem jurídica nova e autónoma de
direito internacional, de duração ilimitada, o certo é que não lhes conferido um estatuto
de soberania, podendo assim dizer-se que os poderes de índole soberana que exerciam
e que hoje exerce eram o fruto de uma transferência ou de uma delegação dos poderes
de exercício por parte dos Estados criadores e que, no fundo, mesmo depois do TL, não
atinge a forma que corresponda ao nível de legitimação de uma democracia constituída
como Estado.
2. A PRÉ-HISTÓRIA DA INTEGRAÇÃO EUROPEIA (AS IDEIAS DE EUROPA)
A Europa como espaço de União não constitui uma ideia nova, fruto da coexistência
dos interesses políticos, económicos e militares atuais. É o longo o percurso valorativo
e cultural que funda a comunhão de sentido que se pretende antever na moderna
construção europeia.
Já ao século VI a.C. se pode atribuir o surgimento de cidade (civitas) aos Gregos, aos
quais ainda associamos o primeiro prelúdio do racionalismo, da democracia e da
cidade-estado. Ora, Roma e a sua civilização oferecem uma série de elementos que
transitaram para o património comum de parte significativa da Europa (sobretudo a
ocidental). Entre estes destacam-se a língua, a paz romana e o elemento cristão, que
se veio assumir como principal elemento agregador e constituinte da tradição europeia
do continente. A influência da civilização romano-cristã (a unidade de língua, religião
e sistema jurídico) permitiu que o continente europeu beneficiasse de condições
únicas de união.
Posteriormente, a expansão comercial, política e militar exponenciada primeiro nos
países de maior influência cristã e a posterior emergência do capitalismo comercial,
decorrente da superação do modelo iluminista do governo, foram também
importantes vetores.
Já o século XIX ficou marcado por uma experiência de integração que alguns
consideram poder ser tomada como inspiração para a atual União, a união aduaneira
alemã. É o triunfo do modelo económico do “capitalismo liberal” oitocentista.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 5
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
No século XX reemergem novos modelos de totalitarismo, dito moderno, rompendo
com os pressupostos da civilização anterior, em duas correntes principais, o
comunismo e o nazismo que, pelas suas conceções, acabam por contribuir de forma
decisiva para a construção europeia. Ao invés, nos países da chamada Europa
Ocidental, já desde o séc. XIX, mas sobretudo depois do séc. CC, acentua-se outra
conceção civilizacional, assente politicamente na legitimação democrática do poder,
no exercício da soberania pelo povo através do sufrágio universal e no respeito pelos
direitos fundamentais.
3. DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL À DECLARAÇÃO SHUMAN
São conhecidas as circunstâncias que ditaram aos líderes europeus ocidentais o
“engenho e a arte” da construção europeia. Após as duas guerras mundiais, colocados
perante a sua perda de importância relativa e face à emergência de polos de direção
política e ideológica das sociedades políticas, os Estados ocidentais rapidamente se
organizaram para fazer face aos desafios da reconstrução – social, política, económica,
militar, etc.
O impulso da necessidade e a influência de uma atmosfera e refundação das
estruturas políticas europeias – de que foram fogachos o Congresso federalista da Haia
ou os discursos de Churchill – levaram Robert Shuman a emitir, em 9 de maio de 1950,
a declaração de Shuman, convidando diretamente a RFA constituir com França uma
organização a quem fossem conferidos importantes poderes no domínio do carvão e do
aço.
A declaração de Shuman foi de extrema importância. Marcou o modelo de
construção europeia e, a partir dela, podem descobrir-se alguns dos sentidos que depois
a experiência comunitária vem permitindo afirmar no plano económico e político. O
modelo apresentado para a criação da primeira comunidade europeia e expresso na
declaração Shuman partiu da ideia de Jean Monnet que considerava que havia que criar
solidariedades de fato partindo do plano económico.
4. AS TRÊS COMUNIDADES EUROPEIAS – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) apresentava vários elementos,
na intenção, na estrutura e no conteúdo, de índole supranacional.
Primeiro, pelos seus objetivos.
1) A CECA constitui um instrumento fundamental com vista a superar a
afirmação estrita de interesses nacionais, permitindo criar mecanismos de
“solidariedade entre os povos” com um objetivo e fundamento político
psicológico imediato – superar o antagonismo franco-alemão – e um objetivo
mediato: criar uma identidade europeia.
2) A estrutura institucional era disso exemplo – Alta Autoridade, órgão de
composição estadual e Tribunal Comunitário.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 6
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
3) Índice da supranacionalidade da CECA era ainda a previsão de existência de
um recurso próprio que permitiria o financiamento da Comunidade.
4) Também da análise do processo decisório e de controlo se podiam extrair
elementos de índole supranacional.
A inequívoca aceitação da dimensão supranacional da CECA criou alguma euforia
europeísta, resultando em tentativas de constituição de outras organizações
internacionais, nomeadamente a Comunidade Europeia de Defesa (CED) e a
Comunidade (Política) Europeia. No entanto, a rejeição pela Assembleia Nacional
francesa, em agosto de 1954, deitou por terra tais projetos.
Se a aceleração da integração europeia não seguiu a via preconizada no ponto
anterior, o certo é que retomou, de alguma forma, o caminho delineado pelo método
próprio de Monnet. Ademais, o malogro da C(P)E não eliminou a vontade de constituir
outras Comunidades Europeias que prosseguissem os esforços concretos de
integração europeia. Logo em 1955, na conferência de Messina, foi decidido começar
as negociações com vista à criação de um mercado comum, o que culminou em 25 de
março de 1957, com a celebração, em Roma, dos tratados institutivo das duas
restantes comunidades Europeias: a Comunidade Económica Europeia (CEE) e a
Comunidade Europeia da Energia Atómica (CEEA).
Estas Comunidades apresentam caraterísticas bem diversas da primeva CECA. Em
particular na estrutura institucional, se eram imediatamente aproveitados dois dos
órgãos desta última (a Assembleia – hoje, Parlamento Europeu – e o atual Tribunal de
Justiça), os restantes órgãos sofrem importantes modificações.
✓ Por um lado, o Conselho, órgão de representação dos governos dos EM, passa a
ser o principal órgão de decisão, enquanto a Alta Autoridade da CECA se
transmutou aqui numa Comissão com funções importantes, mas qualitativamente
diversas.
✓ Por outro lado, os poderes do Tribunal de Justiça não são formalmente definidos
com a mesma extensão.
À ambição de objetivos (o mercado comum e os outros expressos no artigo 2.º CEE –
correspondente ao artigo 3.º TUE) corresponde a configuração do tratado como um
tratado-quadro, que intencionalmente deixa uma ampla liberdade de atuação aos
órgãos comunitários que, et pour cause, os EM querem controlar. Também os objetivos
são bem mais ambiciosos, passando essencialmente por um modelo de integração
económica cujo sentido há que densificar – mercado comum -, mas que, no desenho
comunitário, pressupunha desde o início a adoção das quatro liberdades de circulação
dos fatores de produção (mercadorias, trabalho, serviços e capitais) e algumas políticas
comuns.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 7
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Na evolução das Comunidades e/ou União Europeias, desde a sua fundação até ao
momento atual, podemos descrever três grandes fases, embora não haja unanimidade
relativamente à delimitação temporal/substancial.
1) Fase das Comunidades: estende-se até ao Tratado de Maastricht.
2) Fase de Transformação: iniciada formalmente com a criação de uma
União Europeia a par das Comunidades e culmina na refundação para
constituinte da Europa operada pelo Tratado de Lisboa.
3) Fase da União: inicia-se com o Tratado de Lisboa.
5. O TRATADO DE ROMA DA CEE
A primeira fase foi a da realização dos propósitos iniciais do Tratado de Roma
institutivo da CEE. Foi o tempo da realização da União Aduaneira, pressuposto do
mercado comum, e do próprio mercado comum. Abarca o período de transição, até
perto do final dos anos 60 e é uma fase de concorrência, no plano europeu, entre dois
modelos de integração económica: o comunitário e o da AECL (EFTA).
Também nesta fase há tentativas de criação de formas de cooperação política no
espaço comunitário, de que são exemplos as reuniões sobre a cooperação política
realizadas desde 1959, a declaração de Bona de 1961 ou o plano Fouchet, tentativas,
porém, malogradas.
Internamente, sucedem alterações importantes nomeadamente o Tratado de
Bruxelas de 1965 que opera a chamada “fusão” dos principais órgãos de direção e
decisão das Comunidades Europeias – passando a haver apenas um Conselho e uma
Comissão para o conjunto das três comunidades – e institui um orçamento único.
Na vida dos órgãos principais (e, como tal, das Comunidades) também se operam
então acontecimentos significativos. A França desencadeia a conhecida “crise da
cadeira vazia” (1965), manifestação que foi da convicção gaulista no papel dos EM nas
Comunidades Europeias. Esta crise acabou por resolver-se diplomaticamente, à
margem das Comunidades, com a assinatura do “compromisso” ou “acordo de
Luxemburgo”, que continha um “agreement to disagree”, com importantes
implicações no processo comunitário de decisão. Este acordo foi causa de uma
importante torção dos procedimentos decisórios previstos nos tratados, por um lado
atenuando a dimensão integradora e supranacional que resulta da aceitação do
princípio maioritário e constituindo, por outro lado, um documento de difícil
qualificação jurídica, não existindo certezas quanto ao seu peso normativo específico
– para uns é costume (R. Moura Ramos), para outros trata-se de um acordo de
cavalheiros (J. Mota de Campos) ou, por fim, um ato sem qualquer relevância jurídica.
Por outro lado, a cimeira de Haia de 1969 concretizou uma significativa mudança dos
sentidos prevalecentes da história comunitária. Dá-se o lançamento de três objetivos
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 8
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
primordiais para o futuro, que constituirão o tríptico comunitário: alargamento,
aprofundamento e acabamento.
1) Em primeiro lugar, o alargamento. As Comunidades Europeias abrem
definitivamente as portas a outros EM, passando dos originais seis membros
para doze, em 1986.
2) É também impulsionado o chamado acabamento (designadamente da
política agrícola comum) e assume-se um compromisso no sentido do
aprofundamento da integração europeia, que passa essencialmente pela
utilização mais frequente do (atual) instrumento previsto no artigo 352.º
TFUE e pelo reforço da cooperação política.
A década de 1970 mostra-se importante na configuração financeira e orçamental das
Comunidades, com uma série de alterações aos tratados que se justificam
reciprocamente. A CEE é, pela primeira vez, dotada de recursos próprios (1970) e,
consequentemente, são reforçados os poderes orçamentais do Parlamento Europeu e
dá-se a criação formal do Tribunal de Contas (1975). O orçamento comunitário era,
anteriormente, financiado por contribuições dos EM.
O reforço das competências do Parlamento Europeu em matéria orçamental implicou
ainda outras alterações, com especial destaque para a mutação da fonte de
legitimidade democrática do Parlamento Europeu, através do Ato de 20 de setembro
de 1976, relativo à eleição por sufrágio direto e universal. Foi já um Parlamento
Europeu diretamente eleito que, em 1984, propôs aos Parlamentos nacionais o
primeiro projeto de Tratado da União Europeia.
6. O ATO ÚNICO EUROPEU
As alterações operadas com o Tratado de Roma conduziram a que, num curto espaço
de tempo, se completasse a primeira grande fase do alargamento das Comunidades e
se encetassem reformas de alcance global do edifício comunitário. Assim, em 1986, é
aberto para assinatura, em dois momentos, o Ato Único Europeu (QUE), primeiro
instrumento convencional que revê os tratados comunitários, operando uma primeira
reforma interna das Comunidades, quer nas suas atribuições, quer no próprio
funcionamento orgânico-institucional.
Nos seus objetivos, o AUE quer dar resposta aos desafios da cooperação política
encetados de forma mais instante a partir de meados dos anos 70, mas que
culminaram no projeto Spinelli de 1984. Não tendo sido possível obter, na Conferência
Intergovernamental que o preparou, o consenso necessário à criação da EU, introduz-
se essa ideia na própria base do QUE, como realidade em vias de construção. Esta
indicação é extraordinariamente importante, não só por revelar pistas fundamentais
para a compreensão do passo seguinte que a integração europeia formalmente dará,
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 9
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
como por oferecer já o modelo de inserção e relação dessa União Europeia a criar as
Comunidades.
Porém, a introdução da cooperação política é feita fora do quadro comunitário (artigo
30.º AUE), como realidade paralela à da evolução comunitária. Esta assenta no
estabelecimento de procedimentos de consulta e informação mútuas, na adoção
política de ações comuns e posições comuns e, por último, na concertação de posições
nos fora internacionais.
Por conseguinte:
1) O AUE procede à institucionalização do Conselho Europeu, sendo este órgão
concebido como instância de cooperação política, não sujeita aos
procedimentos e constrangimentos dos órgãos das Comunidades.
2) No Tratado da CEE, inicia-se uma primeira reforma dos sistema institucional
comunitário. São francamente aumentadas as matérias em que o Conselho
passa a decidir por maioria qualificada. São criados novos procedimentos de
decisão que privilegiam o papel do Parlamento Europeu, conquanto não o
elevem ainda a órgão legislativo da Comunidade.
3) O Conselho é limitado quanto ao modo e possibilidades de exercício das suas
competências, ao ser introduzido um novo travessão na norma que define a
competência da Comissão, determinando que o Conselho “atribui à Comissão, no
atos que adota, a competência de execução das normas que estabelece” (artigo
202.º CE).
4) Prevê-se a criação de uma nova instância jurisdicional que pudesse colaborar com
o Tribunal de Justiça no controlo da aplicação e, mais geralmente, do respeito
pelo direito comunitário: o futuro Tribunal de Primeira Instância (atual Tribunal
Geral).
5) No que respeita às atribuições comunitárias, também são significativas as
alterações. São introduzidas no tratado da CEE novas políticas de harmonização
fiscal, coesão económica e social, ambiente, entre outras. Mas mais do que isso,
deu-se o relançamento do velho mercado comum, transfigurado em mercado
interno. O AUE introduz no tratado CEE um novo artigo que determinava a
realização do mercado interno até ao final de 1992, para cuja realização são
criados mecanismos jurídicos específicos. A necessidade de constituição de um
mercado interno deve-se a Jacques Delors.
6) Merece relevo também a inserção, entre as políticas atrás referidas, de um
capítulo específico dedicado ao objetivo da coesão social e económica, na medida
em que fornecia o meios para a realização de um objetivo fundamental das
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 10
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Comunidades, especialmente tendo em conta as adesões de Estados menos
desenvolvidos. Quanto a esta última questão foi predominantemente o Tratado
de Maastricht que, de forma impressiva, contribui através do estabelecimento do
Fundo de Coesão.
Em síntese, o período histórico marcado pelo AUE correspondeu a um período de
estabilidade mutável.
7. O TRATADO DA UNIÃO EUROPEIA OU DE MAASTRICHT
No final dos anos 80 do século XX, assistiu-se a uma série de alterações políticas que
redefiniram a geopolítica europeia e mundial.
A convulsão relativamente pacífica dos regimes da Europa de leste teve
consequências importantes no plano comunitário e dos seus Estados membros. A mais
imediata foi a reunificação da Alemanha, mas outras se seguiram, pois os Estados
europeus do centro e do leste manifestaram uma atração instantânea pelo modelo
comunitário. Os primeiros a aproximarem-se foram os países da AECL (a EFTA), mais
desenvolvidos economicamente, através da realização do chamado “Espaço
Económico Europeu” e, no momento seguinte, mesmo solicitando a adesão às
Comunidades.
Fatores que, conjugados com a aproximação da data de realização do mercado
interno, determinaram a convocação de duas conferências intergovernamentais que
se ocupariam da união económica e monetária e da união política da Europa
Comunitária, respetivamente, e que tiveram como resultado a assinatura, em 7 de
fevereiro de 1992, do tratado da União Europeia que tem um duplo objetivo: criar a
EU e alterar os tratados comunitários.
O Tratado da União Europeia marcará uma primeira alteração radical no quadro
institucional, político e jurídico da integração europeia. Contudo, o processo de
nascimento deste tratado veio a revelar-se mais custoso do que se supunha, tendo
implicado a realização de referendos em vários EM e a aceitação de condições
especiais para permitir a ratificação por parte da Dinamarca.
O Tratado de Maastricht tem como uma primeira grande novidade a criação da União
Europeia e que, na expressão de Rui Moura Ramos, elevou o processo de integração
“ao patamar superior do político”. No entanto, esta novidade não implicou uma
mutação essencial da natureza da Europa criada pelos tratados comunitários uma vez
que não há uma rutura total com o passado. A União não substitui as Comunidades
Europeias, antes coexistindo com elas numa posição dúbia.
Resolvendo a velha disputa quanto ao modelo de criação da EU, o tratado veio seguir
a linha começada com o AUE, apresentando o tratado semelhanças com aquele outro
instrumento. Por conseguinte, o tratado acolheu o mesmo esquema, criando a União
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 11
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
como estrutura externa e paralela às Comunidades, obedecendo e funcionando de
acordo com uma lógica e princípios absolutamente diversos.
✓ As Comunidades Europeias representavam experiências de integração.
✓ Enquanto os domínios particulares então atribuídos à União – a política externa e
de segurança comum (PESC) e toda a cooperação nos domínios da justiça e
assuntos internos (JAI) – aproximavam-se mais do clássico modelo
intergovernamental, dado que a tomada de decisões cabia aí quase sempre aos
EM ou, quando muito, ao Conselho, não obedecendo ainda aos princípios e regras
do sistema jurídico comunitário.
A instituição da União Europeia em Maastricht, como grande objetivo político, não
tem, no entanto, grande concreção, podendo mesmo ser-lhe assinalada uma certa
vacuidade jurídico-institucional. Não só parecia desprovida de personalidade jurídica
internacional, como não aproveitava a estrutura e virtualidades institucionais e
jurídicas das Comunidades.
Destaque merecem, seguidamente, as alterações feitas aos Tratados comunitários e,
de modo especial, as alterações ao Tratado de Roma da CEE:
1) Alteração da designação da CEE
Simbolicamente, a própria designação da CEE é pela primeira vez alterada. Passa a
chamar-se Comunidade Europeia, retirando-lhe a sua índole apenas (ou
predominantemente) económica. Fato tanto mais paradoxal quando se constate que
justamente nesse tratado que se exacerbou a integração económica.
Esta alteração não significou, contudo, a superação ou transformação da natureza
específica da organização, que mantém intacta a sua vinculação ao princípio da
atribuição.
Assim, a razão desta modificação nomológica deve procurar-se noutros pontos, como
a abertura aos domínios da cidadania e dos direitos a este estatuto inerentes, a
previsão de políticas de dimensão económica desprezível ou o próprio reforço do
sistema orgânico comunitário.
2) A reforma institucional
à O Parlamento Europeu viu serem-lhe conferidos, pela primeira vez, poderes
de natureza legislativa, através da criação do chamado procedimento de “codecisão” ou
de decisão conjunta (artigo 251.º CE). Além disso, assistiu-se ao reforço do grau
qualitativo da sua intervenção nas matérias reguladas por procedimentos decisórios já
estabelecidos, bem como o reforço das suas possibilidades de solicitar a iniciativa
normativa da Comissão. São também reforçados os seus poderes de controlo, por
exemplo, pela atribuição da competência para a nomeação do Provedor de Justiça
Europeu, mas, principalmente, sobre a Comissão. Desde logo, pela exigência de
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 12
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
aprovação parlamentar prévia da Comissão que os governos dos EM quisessem nomear.
São alargadas igualmente as possibilidades de intervenção processual deste órgão
perante os órgãos jurisdicionais comunitários.
à O Conselho viu-se afetado de dois modos fundamentais. Em primeiro, pelo
alargamento do âmbito material de aplicação do princípio maioritário. Em segundo
lugar, porque a sua decisão passou a estar, em muitas hipóteses, sujeita a novos
condicionamentos.
à O Tribunal de Contas é qualificado, pela primeira vez, como órgão da base da
Comunidade Europeia.
à O Tratado opera ainda uma desconstitucionalização das matérias que
definiam o domínio de competência do então Tribunal de Primeira Instância – atual TG
– ao qual apenas permanecia vedado – na altura – o reenvio prejudicial.
à Foi criado o Comité das Regiões.
à Foram significativas as alterações nas atribuições da Comunidade Europeia,
dando abertura a conceitos que a reforma de Amesterdão potenciará como a “Europa
a várias velocidades”, da “geometria variável”, entre outras. A abertura à integração
diferenciada expressou-se fundamentalmente nos domínios da União Económica e
Monetária e da Política Social.
à Justamente no momento em que a Comunidade Europeia se desprendia da
sua dimensão e designação (predominante ou exclusivamente) económica, reforçaram-
se as possibilidades de integração económica.
à Maastricht representou também um momento de reforço do modelo
económico neoliberal, expresso na perpetuação do princípio da economia de mercado
e de livre concorrência como pedra basilar de todas as políticas comunitárias de
dimensão económica.
à Finalmente, retoma-se o objetivo de realização da liberdade de circulação de
capitais.
à A superação da dimensão económica da integração comunitária refletiu-se
ainda na expressa previsão de novas políticas, maior parte das quais extravasa a lógica
económica, nomeadamente as políticas de educação, cultura, cooperação no
desenvolvimento, saúde pública, entre outras.
à A alteração mais importante foi a introdução da cidadania da União que,
criando um estatuto de cidadania desprovido de autonomia comunitária, e sem conferir
aos cidadãos quaisquer deveres específicos, “estabelece uma relação de pertinência dos
indivíduos a um todo que ultrapassa a entidade nacional”.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 13
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
à Paralelamente, à Comunidade era conferida uma atribuição expressa no que
respeita aos direitos de circulação de nacionais de países terceiros nos Estados
membros.
8. Tratado de Amsterdão
Após o Tratado de Maastricht, a Europa comunitária continuou a ser um referente
atrativo para restantes Estados europeus, como resulta das adesões de três novos
Estados membros em 1995 (Áustria, Finlândia e Suécia) e dos pedidos de adesão
formulados por tantos outros. Contudo, o tratado não pretendeu ser ou dar uma
resposta definitiva aos desafios internos e externos à União e Comunidades, antes
assinalando a si próprio uma natureza e função transitória. Deste modo, foi com a
Conferência Intergovernamental de 1996 que, a 2 de outubro de 1997, se assinou o
Tratado de Amesterdão.
Os objetivos da CIG/96 eram bastante claros. A reforma dos “pilares cooperativos”
constituía o principal objeto, visando a comunitarização da cooperação dos domínios da
justiça e dos assuntos internos.
Havia também um forte impulso de reconstrução do modelo comunitário, como
condição do alargamento das Comunidades e União aos países europeus emergentes
da queda do bloco de leste, implicando tanto a criação das garantias jurídicas de
salvaguarda do modelo político-civilizacional de cariz ocidental como a agilização das
estruturas orgânica e de decisão das Comunidades e União.
Também a questão da hierarquia dos atos comunitários a consolidação de políticas
comunitárias anunciadas, mas não densificadas, como as políticas de energia, turismo e
proteção civil, ou a simplificação dos tratados, eram assumidas como objetivos
imediatos.
Os resultados do Tratado de Amesterdão foram importantes. Primeiro, quanto à
União Europeia foram produzidas alterações digas de menção. Acentuou-se a
vinculação da União e dos seus órgãos ao respeito dos direitos fundamentais. Mas,
além disso, a vinculação pelos direitos fundamentais não abrangia apenas os Estados
membros, tal vinculação estendia-se então aos próprios órgãos das Comunidades, pois
o TJ adquiria competência para fiscalizar o (des)respeito que as instituições
revelassem pelos direitos fundamentais assegurados e assegurados pela Convenção
Europeia dos Direitos do Homem.
Ainda no quadro genérico da União, assinale-se a assunção formal da integração
diferenciada, institucionalizado por Amesterdão como modelo jurídico de
aprofundamento da integração europeia.
As áreas de cooperação foram desigualmente afetadas pelo tratado de Amesterdão:
• A política externa e de segurança comum (PESC) não sofreu modificações
radicais, mas beneficiou de alguns afeiçoamentos: dá-se o reforço da dimensão
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 14
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
europeia da PESC, sendo limitadas as responsabilidades no interior da estrutura
institucional da EU, assumindo o Conselho um papel de maior centralidade face
aos EM e mesmo ao Conselho Europeu. Ao Conselho competia definir e executar
a PESC, bem como propor e executar as estratégias comuns definidas pelo
Conselho Europeu. De igual relevo é a criação do Alto Representante para a PESC.
• No plano dos mecanismos de atuação, também se clarificavam alguns aspetos,
como a delimitação entre ação comum e posição comum. Abria-se ainda a
possibilidade de a União poder assumir decisões que não envolvessem adesão,
concordância e colaboração expressa por parte de todos os EM – integração
diferenciada (permitindo a agilização da atuação da EU).
• Já em relação ao pilar da cooperação nos domínios da justiça e dos assuntos
internos, dá-se uma profunda alteração, com a criação do espaço de liberdade,
segurança e justiça que Amesterdão transformou em emblema.
• Nas áreas de cooperação policial e a cooperação judiciária em matéria penal, foi
conferida ao Conselho a possibilidade de assumir no quadro da CE ações que à
partida devessem recair no quadro da cooperação policial e judiciária em matéria
penal. Para além disso, incluiu-se neste pilar a proteção de situações-limite de
violação de direitos fundamentais.
• Embora afirmada a relativa autonomia de cada uma destas áreas, encontrava-se
em Amesterdão um quadro comum inovador quanto aos mecanismos de
produção normativa e de garantia jurisdicional das normas adotadas neste
âmbito.
• Ainda no âmbito dos direitos fundamentais, incluiu-se o princípio da igualdade e
o reforço dos direitos sociais fundamentais.
• É ainda de salientar a comunitarização de várias matérias que, em Maastricht,
pertenciam apenas à União e
ao “pilar” da “cooperação no domínios da justiça e dos assuntos internos”.
• Foi criada uma política de emprego e de cooperação aduaneira, foi reforçada a
dimensão horizontal ou transversal de algumas políticas.
• No quadro da reforma institucional, continua a progressiva perda de centralidade
dos órgãos de representação direita dos Estados.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 15
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
• Quanto ao Parlamento Europeu, é de destacar as modificações no conteúdo e no
âmbito de aplicação material do procedimento de co-decisão.
9. TRATADO DE NICE
Entre a entrada em vigor do Tratado de Amesterdão e a assinatura do tratado de
Nice, que se lhe seguiu, decorreram menos de dois anos. As críticas aos resultados
obtidos em Amesterdão e a necessidade preparar o alargamento conduziu a rápida
convocação, nos termos do disposto no artigo 48.º EU-M, justamente dirigida a realizar
a reforma institucional indispensável ao próximo alargamento da União e
comunidades dos países da Europa Central e oriental.
A CIG/2000, convocada pela presidência portuguesa do concelho em 14 fevereiro
2000, foi concluída no Conselho Europeu de Nice, com a forçada obtenção de um
acordo político quanto ao texto de um novo tratado. Em consequência, o tratado de
Nice foi assinado em 26 fevereiro 2001.
Apontam-se dois ou três aspetos singulares: a reforma institucional, alterando a
composição da comissão e a maioria qualificada no Concelho; o desenvolvimento das
cooperações reforçadas; e, por fim, a crítica do que não se fez, em especial, à
refundação da União pela elaboração formal de uma Constituição que a Carta dos
Direitos Fundamentais da UE poderia ser primeira pedra ostensiva.
O Tratado de Nice introduz outras modificações que ultrapassam os aspetos atrás
evidenciados. Antecipou-se a fixação da sede do Conselho Europeu em Bruxelas,
embora de forma progressiva, e o tradicional jornal oficial das comunidades Europeias
passou a chamar-se Jornal Oficial da União Europeia.
No centro dos resultados do novo tratado de Nice estão, contudo, as questões
institucionais expressas por antonomásia na recomposição da Comissão,
umbilicalmente ligadas desde o protocolo inserido em Amesterdão. O Parlamento
Europeu não viu forçada das competências e foram significativas as modificações no
sistema jurisdicional. Além disso, o Comité das Regiões reforça a dimensão
democrática do mesmo. No quadro da União Europeia, é de assinalar mais um passo
no sentido do reconhecimento não explícito da sua personalidade jurídica.
10. Tratado de Lisboa
Após a entrada em vigor do tratado de Nice, a 1 março 2003, a União Europeia
conhece um período de profunda mutação, que, passando pela malograda
Constituição Europeia, culmina no Tratado de Lisboa a 13 dezembro 2007. Esse período
é marcado por dois fatores primordiais: primeiro, o alargamento da União Europeia a
mais 12 estados membros e, segundo, a refundação constituinte da União Europeia, a
qual inclui a cessação de vigência do tratado CECA e envolve dois processos
constituintes - o primeiro inacabado (CIG/2004 e o “Tratado que estabelece a
Constituição”) e o tratado de Lisboa.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 16
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Na Declaração sobre o Futuro da União, previa-se que, no Conselho Europeu de
Leaken de dezembro de 2001, seria adotada a Declaração de Laeken que incluirá as
iniciativas adequadas apropriadas para dar seguimento a um debate mais amplo e
aprofundado sobre o futuro da União.
Esta declaração foi ainda mais ambiciosa lançando outras questões e apontando para
“a prazo aprovação na União de um texto constitucional”.
O texto do tratado que estabelece a Constituição para a União foi objeto de acordo
político no Conselho Europeu de Bruxelas e assinado pelos então 25 cinco Estados
membros. A Constituição Europeia representava uma revolução no enquadramento
jurídico e político da integração europeia, com reflexos nos próprios ordenamentos
jurídico-constitucionais nacionais.
Da própria designação do tratado e do modo como se auto-identificava ao longo do
texto convencional poderse-ia deduzir ser intenção da Constituição a de criar
formalmente uma relação hierárquica face ao direito dos Estados membros, embora o
primado do Direito Comunitário sobre o Direito Nacional seja afirmado a mais de 50
anos pelo Tribunal de Justiça e por este concebido como uma exigência existencial do
próprio ordenamento jurídico comunitário.
Culminando um processo que vimos iniciado ainda no AUE, a União Europeia
assumia-se, pela primeira vez, como polo subjetivo único, sucedendo à União Europeia
- em sentido estrito - e à Comunidade Europeia. Há, portanto, uma preocupação de
assegurar a continuidade das instituições e procedimentos e a integralidade do acervo
comunitário, nele se integrando a jurisprudência dos tribunais comunitários.
O certo é que o poder constituinte, tanto originário como derivado, continuava a
residir nos Estados membros, que permaneciam, no essencial, os donos dos Tratados.
A Constituição Europeia encontrava-se dividida em quatro partes:
PARTE I) A parte I da Constituição continha alguns princípios fundamentais. Propunha-
se, pela primeira vez, uma repartição das atribuições entre Estados membros e União,
segundo o critério classificatório de cariz geral, partindo do princípio da atribuição.
No plano das instituições, havia novas e radicais alterações. O Parlamento Europeu
assumia-se plenamente como legislador e como titular da iniciativa constituinte, sendo
também de destacar a completa modificação do modelo de determinação das maiorias
qualificadas no Conselho, a reconformação da estrutura jurisdicional da União ou a
criação de novas figuras institucionais, como o Presidente do Conselho Europeu ou o
Ministro dos Negócios Estrangeiros da União. O Presidente do Conselho seria escolhido
pelo Conselho Europeu.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros da União era também uma figura nova,
superando em muito o então existente Alto Representante.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 17
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
A total revolução do quadro das fontes de direito interno da União, em relação à União
Europeia e Comunidade Europeia, era outro fator a assinalar.
Ademais, eram previstas Leis e Leis-quadro e, pela primeira vez, era desenhada
formalmente uma hierarquia de atos comunitários, pela separação clara entre atos
com a natureza legislativa e atos com natureza administrativa.
Embora ao Conselho Europeu estivesse excluída a função legislativa, previa-se, pela
primeira vez, a possibilidade de adotar decisões europeias.
No entanto, a Comissão via limitado o exercício das crescentemente pacíficas
“competências de execução”.
Entre as disposições sobre o modelo democrático, a Constituição proclamava
simultaneamente os princípios da democracia representativa e da democracia
participativa, destacando-se a iniciativa de cidadania junto da Comissão por parte de
1 milhão, pelo menos, cidadãos da União e o muito reforçado papel dos Parlamentos
Nacionais.
Do ponto de vista das relações internacionais da União, previa-se igualmente, pela
primeira vez, uma norma sobre direito de secessão ou saída voluntária que é
explicitamente reconhecido.
PARTE II) A parte II da Constituição Europeia era integralmente ocupada com a Carta
dos Direitos Fundamentais da União.
PARTE III) A parte III da Constituição Europeia dizia respeito às “Políticas e
Funcionamento da União”.
PARTE IV) A parte quatro continha as disposições gerais e finais, revogando os tratados
da Comunidade Europeia e da União Europeia, bem como, salvo ressalva expressa,
todos os tratados que os alteraram ou completaram.
Por seu turno, o artigo IV-438 assegurava que é a nova União Europeia sucedia
simultaneamente à União Europeia e à Comunidade Europeia, determinando a
continuidade das instituições e dos atos por estas adotados.
A Constituição soçobrou por não ter sido possível completar o processo de ratificação
por todos os Estados membros signatários.
Afastada a Constituição, a União Europeia entrou num período de reflexão. Num
Conselho Europeu de 15 e 16 junho 2006, os Estados membros afirmaram a intenção de
concluir o processo de reforma, partindo do princípio de que as medidas necessárias
terão sido tomadas o mais tardar no segundo semestre 2008. É neste contexto que
nasce o Tratado de Lisboa, antes chamado tratado reformador.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 18
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
A presidência alemã do Conselho no primeiro semestre de 2007 relançou o processo,
que a Presidência portuguesa veio a conduzir e concluir com base no mandato
específico definido no Conselho Europeu de 21 e 22 de junho de 2007.
O sucesso da CIG/2007 radica tanto no modo como foi preparada pela presidência
alemã e conduzida pela presidência portuguesa como no consenso latente entre
Estados membros, reforçado durante o período de reflexão, sobre a necessidade de
recuperar, na medida do democraticamente sustentável, o defunto tratado
Constitucional.
10.1) Constituição Europeia vs. Tratado de Lisboa
O Tratado de Lisboa e a Constituição Europeia são muito diversos. Em primeiro
lugar, o Tratado de Lisboa não revoga os tratados anteriores. Pelo contrário, assenta
toda a nova arquitetura institucional da unidade europeia justamente no Tratado de
Maastricht, ainda que por fundamento conformado.
O Tratado de Lisboa é resultado de um procedimento de revisão ordinária dos
tratados. É fruto imediato de uma Conferência Intergovernamental e do acordo
político obtido dia 12 outubro 2007 na sessão CIG/2007, ao contrário do modelo que
a Constituição Europeia aplicava – constitui-se como mais uma camada no processo de
reforma constitucional dos Tratados iniciado com o AUE. Apresenta-se como um
tratado de revisão em vez de um tratado fundador de uma qualquer nova realidade
política e jurídica.
O tratado não pretende estabelecer explicitamente uma Constituição em sentido
formal ou uma Constituição para Europa, excluindo, desse modo, as referências
aos símbolos da identidade política da União Europeia que haviam sido acolhidos.
Para além disso, evita a discussão que a Constituição provocou a propósito da
inclusão de um artigo sobre o primado do Direito da União Europeia.
Mas, apesar das diferenças, não deixa de ser verdade que o processo de revisão
conducente ao Tratado de Lisboa constitui um sucedâneo do projeto anterior - o da
Constituição Europeia.
Ademais, o Tratado de Lisboa introduz um conjunto importante alterações aos
anteriores tratados da União e da Comunidade Europeia, desde logo em termos
quantitativos, ainda que essencialmente com o intuito de recuperar a quase totalidade
das soluções consagradas no Tratado Constitucional. Entre as centenas de alterações,
importantes apenas identificar, nesta sede, o impacto do tratado do ponto vista
institucional e, em particular, no domínio do chamado equilíbrio institucional.
Deve considerar-se particularmente significativa, em primeiro lugar, a unificação da
União Europeia com a Comunidade Europeia (o Tratado da CE, sintomaticamente, passa
a denominar-se de Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia). Assim sendo,
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 19
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
os Estados membros apagaram da construção europeia a ideia de comunidade e
consolidaram o conceito de União Europeia.
Esta mudança não pode, no entanto, ser considerada apenas na perspetiva formal,
antes tem importantes implicações, quer na estrutura dos tratados, quero materiais.
É, portanto, neste contexto o da medida exata da ambição e do desafio que representa
o tratado Lisboa: unificar, sobre o chapéu da UE, duas organizações que, na forma e
prática, foram construídas pelos mesmos sujeitos para funcionarem com objetivos e
atribuições diversas e de acordo com modelos organizacionais que, se formalmente
unificados, se revelam claramente diferenciados: A Comunidade, como instância de
integração económica e social; a União, como instância de cooperação e coordenação
políticas.
E, do ponto vista jurídico, como se fez esta modificação? Não é apenas a óbvia
supressão da palavra Comunidade que simboliza essa absorção, assim como também
o não é expressa afirmação de que a União substitui-se e sucede a Comunidade
Europeia. É também, por exemplo, a circunstância de normas consideradas
fundamentais para a Conceição e arquitetura da União Europeia terem (A) passado do
Tratado da Comunidade Europeia para o Tratado da União e (B) serem introduzidas de
novo no tratado da União Europeia, em forma próxima que tinham na Constituição
Europeia.
Questão diversa é a de saber se, do ponto de vista do direito e dos objetivos que se
assinalam à nova União Europeia, se pode extrair a conclusão de que a lógica
comunitária prevaleceu sobre a da União. A resposta a esta questão depende de uma
análise sobre o impacto do Tratado de Lisboa nos domínios que, até 30 novembro
2009, eram atribuição específica da União Europeia: política externa e de segurança
comum e cooperação policial e cooperação judiciária em matéria penal.
Comecemos pela ação externa da União. A definição de interesses e objetivos
estratégicos da União continua a pertencer ao Conselho Europeu, deliberando por
unanimidade, revelando que não é aqui que os Estados membros cederam ao modelo
comunitário. E o mesmo se acentua no quadro específico da PESC, que se apresenta
agora como cobrindo todos os domínios da política externa, numa cisão clara entre a
política externa e as questões de segurança. Aqui, a definição e execução compete ao
Conselho Europeu e ao Conselho, deliberam segundo o modelo unanimitário.
No domínio da PESC continua a vigorar a lógica de intergovernamentalidade. Assim,
o Tribunal de Justiça da União Europeia é excluído como instância de garantia do
respeito pelo direito da União neste domínio, com exceção para a garantia da
legalidade procedimental do respeito pela legalidade das medidas restritivas de
direitos fundamentais dirigidas a particulares. Portanto, é sustentável dizer-se que o
tratado não suprimiu inteiramente a lógica “pilares” existente, conquanto estes sejam
menos visíveis.
Já no domínio da cooperação policial e judiciária em matéria penal há sinais de uma
maior aproximação jurídica ao pilar comunitário e, porventura, até de uma absorção por
este. Não parece haver dúvida de que se caminha para um direito penal comunitário,
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 20
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
prevendo agora os tratados a adoção de medidas neste domínio, de acordo com o
processo legislativo ordinário.
É de destaque que já Figueiredo Dias, a partir do acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça em 13/9/2005, reconhecia a afirmação de uma competência penal da
comunidade. Além disso, o Tratado de Lisboa vai mais longe ao prever, além do
reconhecimento mútuo das sentenças e decisões judiciais, a aproximação das
disposições legislativas e regulamentares dos Estados membros.
Assim, numa primeira conclusão, dir-se-ia que a fusão entre União e a Comunidade,
com a incorporação desta naquela, é complementada com alguns passos no sentido
absorção das áreas materiais de intervenção da União pela lógica de funcionamento até
há pouco característica da Comunidade Europeia. Importaria por isso ir agora mais longe
e analisar a distribuição do poder subjacente ao novo edifício da União Europeia, para
verificar se, na repartição ou limitação de atribuições entre Estados membros e a União,
se assinala um reforço dos poderes desta em detrimento dos Estados.
E qual o impacto do Tratado de Lisboa na reconformação do quadro institucional da
União? O Tratado de Lisboa reconhece formalmente uma dupla legitimidade ao edifício
institucional europeu, que enuncia nos termos do artigo 10.º TUE - Lisboa. Embora não
seja uma novidade do sistema jurídico dito comunitário, o certo é que esta previsão é
portadora, porventura, de um extraordinário simbolismo no contexto de um sistema
jurídico-institucional que se pretende justificar inteiramente a si próprio e se mostra
assim autónomo na sua constituição e no seu funcionamento, como que dispensando a
coluna estadual ou, de alguma forma, internalizando os Estados membros como
elementos do sistema.
O Parlamento Europeu continua a ser, na sistemática dos tratados e apesar de
introdução do Conselho Europeu, a primeira instituição. A amarração dos Estados
membros ao Conselho e Conselho Europeu, feita no artigo 10.º TUE, parece pressupor
que os cidadãos são representados na União pelo Parlamento Europeu. Dão-se assim,
juntamente com a consagração da iniciativa de cidadania, passos importantes para o
fortalecimento do papel e prestígio do Parlamento Europeu. Este passa a ser do
legislador de pleno direito e em igualdade com o Conselho em praticamente todos os
domínios relevantes da atividade União Europeia, com a importante exceção de alguns
dos domínios específicos da anterior União, isto é, na PESC ou na cooperação policial e
judiciária em matéria penal. O Parlamento Europeu assume-se assim como co-legislador
através do processo legislativo ordinário. Para além disso, afirma-se ainda pela primeira
vez como órgão que pode deliberar por si só segundo um processo legislativo especial.
O Parlamento Europeu exerce igualmente, juntamente com o Conselho, a função
legislativa e a função orçamental.
O Parlamento exerce funções de controlo político e funções consultivas em
conformidade com as condições estabelecidas nos tratados. Compete-lhe ainda eleger
o com o Presidente da Comissão. Vê também acrescido os seus poderes de controlo
político, quer em relação ao Conselho Europeu e ao Conselho, quer em relação à
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 21
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Comissão Europeia. Nesta medida, o Parlamento Europeu passa a desempenhar um
papel ainda mais determinante no funcionamento estratégico da União.
Em relação à PESC, o papel conferido pelos tratados ao Parlamento Europeu continua
a ser limitado. O Parlamento não participou no processo de negociação e de celebração
dos acordos que incidem exclusivamente sobre esta matéria, mas não está despojado
de qualquer direito de controlo desta política da União. A este respeito, pode tomar-se
como exemplo a exigência de informação prevista no artigo 218.º/10 TFUE.
Também o Conselho Europeu é profundamente reestruturado, passando a constar
expressamente da lista das instituições da União e ganha um espaço próprio no TFUE.
Embora não exerça qualquer função legislativa, continua um órgão de natureza
essencialmente política.
Quanto à sua composição, o Presidente da Comissão continua membro do Conselho
Europeu e o mesmo passa a suceder agora com a nova figura do Presidente do Conselho
Europeu. Outras alterações demonstram uma preocupação com o reforço da aderência
das normas à realidade. É o caso da norma é que consagra o princípio de que o Conselho
delibera por maioria qualificada, em substituição da maioria simples. Além disso, são
reconfiguradas as presidências rotativas do Conselho.
No que diz respeito à Comissão Europeia, é de salientar a transparência com o que o
TUE descreve as competências deste órgão: guardiã dos tratados, órgão de competência
executiva, órgão de representação e órgão essencial no processo legislativo da União.
No que toca à sua composição é essencial referir a autonomização institucional do
comissário responsável pelas relações externas, que, sob a designação de Alto
Representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança que passa a ter
um processo autónomo de designação, responsabilidades políticas e jurídicas
específicas, assumindo ainda as funções de Vice Presidente da Comissão Europeia ao
mesmo tempo que, enquanto responsável pela condução da PESC e pela representação
da EU neste domínio, preside ao Conselho de Negócios Estrangeiros. O Presidente da
Comissão Europeia continua a ser uma figura central no sistema institucional europeu e
um verdadeiro primus supra partes na Comissão.
O Tribunal de Justiça da União é afetado pelo Tratado de Lisboa em diversos aspetos.
Primeiro, na designação dos órgãos judiciais que integram a estrutura jurisdicional
específica da União: o Tribunal de Primeira Instância passa a chamar-se Tribunal Geral,
em resposta às recorrentes críticas sobre a inadequação da sua anterior designação; e
as Câmaras Jurisdicionais, introduzidas no Tratado de Nice, passam a designar-se
Tribunais Especializados. Grande impacto no sistema jurisdicional terá um conjunto de
alterações que merecem um tratamento autónomo. Primeiro, a eliminação do artigo
46.º EU-M, que limitava a competência fiscalizadora do Tribunal de Justiça a algumas
normas deste tratado.
Saliente-se aqui, contudo, além do reforço da jurisdicionalização das matérias cobertas
pelas atribuições da União Europeia, o impacto que a vinculação aos direitos
fundamentais terá forçosamente na jurisprudência do Tribunal de Justiça e na proteção
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 22
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
dos direitos dos particulares. Esse impacto é ainda acrescido pela circunstância de o
Tratado da União Europeia incorporar a jurisprudência comunitária segundo a qual os
Estados membros estabelecem as vias de recurso necessárias para assegurar uma tutela
jurisdicional efetiva nos domínios abrangidos pelo direito da União. É neste domínio,
aliás, que o Tratado de Lisboa também introduz alterações com impacto significativo,
nomeadamente: a previsão do controlo da legalidade de medidas restritivas aplicadas a
particulares no âmbito da PESC, o processo simplificado de ação por incumprimento por
não comunicação das medidas de transposição de uma diretiva nos casos de inexecução
de um acórdão como condenatório e, por fim, a extensão da legitimidade dos
particulares no contencioso de anulação. Relativamente a este último ponto, releva o
Acórdão Union de Pequeños Agricultores.
O processo de ratificação do Tratado de Lisboa pelos Estados membros não foi
desprovido de escolhos. Embora a maioria dos Estados membros tenha procedido à
ratificação por via parlamentar, a República da Irlanda procedeu a um referendo, por
imposição constitucional – o primeiro referendo teve um resultado negativo e o
segundo positivo.
A EVOLUÇÃO DO QUADRO INSTITUCIONAL
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
As Comunidades Europeias (e a EU) evoluíram, ao longo da sua história, no sentido de
uniformização da sua estrutura orgânica. A unificação da estrutura orgânica completou-
se em 1965, com o Tratado de Bruxelas (tratado de fusão). E, embora estas convenções
hajam sido revogadas pelo Tratado de Amesterdão, o seu conteúdo não deixou de se
manter intocado.
A criação da EU, em 1993, pretendeu reforçar a unidade da estrutura orgânica. Esta
unidade viu-se traída, inicialmente, pela falta de coerência entre os tratados
comunitários e o Tratado da União. Ademais, o Conselho Europeu, órgão de direção
política da União, não encontrava então acolhimento no elenco formal das
“instituições” da Comunidade. As razões para estas omissões eram várias e nem sempre
imputáveis à imprevisão e deficiência dos autores dos tratados, incluindo os mecanismo
de financiamento das ações da União e o caráter supracomunitário que o Conselho
Europeu queria assumir.
O Tratado de Lisboa superou esta situação, conquanto não possa deixar de se referir a
circunstância de o quadro institucional deixar de ser qualificado com único.
Questão diversa, uma vez descoberto o elenco dos órgãos de base (vulgo,
“instituições”) da EU, era a de determinar o critério da sua organização e da repartição
de poderes/competências entre eles.
Tradicionalmente, a questão era posta em termos dualistas, opondo-se o modelo
tradicional estadual da separação de poderes ao modelo da representação de
interesses. Outros autores escolhiam uma via média, que procurava, partindo da análise
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 23
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
das competências de cada órgão definir o seu papel na realização dos objetivos e
atribuições comunitárias. Assim, partia-se da distinção fundamental entre órgãos de
direção e execução e órgãos de controlo.
2. CONSELHO EUROPEU
O Conselho Europeu é um órgão principal da EU que integra o leque das “instituições”,
na terminologia dos Tratados (artigo 13.º TUE). A criação e afirmação do Conselho
Europeu ocorreu e decorreu, inicialmente, fora das Comunidades. O seu momento
genético é tradicionalmente reconduzido à Cimeira de Paris de Chefes de Estado ou de
governo dos países da então CEE que aí decorreu em 1974, embora tenha sido aí
referido que passara a reunir-se “como Conselho da Comunidade a título de cooperação
política”. A sua confirmação institucional, quer no Conselho Europeu de Estugarda quer
no AUE, foi feita fora do esquema orgânico das organizações comunitárias (artigo 2.º
AUE).
2.1. Composição: A composição do Conselho Europeu é fixa, embora não tenha sido
sempre a mesma. É esta rigidez constitutiva que, aliás, permite distingui-lo mais
claramente de uma próxima formação do Conselho. Hoje, o Conselho Europeu é
composto por Chefes de Estado ou de Governo dos Estados membros, bem como pelo
seu Presidente e pelo Presidente da Comissão. Apenas o Alto Representante participa
nos seus trabalhos sem ser membro de pleno direito, parecendo caber individualmente
aos membros do Conselho Europeu decidir se, em razão da ordem de trabalhos,
pretendem ser assistidos por um ministro ou por um comissário.
2.2. Sede: Desde 1 de maio de 2004, o Conselho Europeu tem a sua sede em
Bruxelas.
Órgão de cúpula da EU (“quarto poder”), o Conselho Europeu aparece hoje nos
Tratados após o Parlamento Europeu, conquanto não nos pareça existir qualquer
indício que permita sustentar uma superioridade ou sequer influência do Parlamento
sobre o Conselho Europeu, pelo contrário.
2.3. Reuniões: o TL vem definir a regra quanto às reuniões do Conselho Europeu. Assim
sendo, reúne-se pelo menos duas vezes por semestre.
2.4. Deliberação: Os Tratados prevêem que o Conselho Europeu toma decisões
consensuais, o que constitui a regra (art. 15.º/4 TUE), embora as suas deliberações
também possam ser adotadas segundo as formas previstas nos Tratados para os
demais órgãos. Os artigos 235.º e 236.º TFUE dedicam-se, de modo quase exclusivo,
aos modos de formação e expressão da vontade do Conselho Europeu, determinando
que as normas aplicáveis às deliberações do Conselho por maioria qualificada são
igualmente aplicáveis ao Conselho Europeu. Há situações em que este órgão delibera
por maioria qualificada (art. 235.º/3 TFUE) ou mesmo por maioria simples (art. 236.º
TFUE). As suas “deliberações” exprimem-se normalmente através das chamadas
“conclusões da Presidência”.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 24
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
O Conselho Europeu não exerce função legislativa (art. 15.º/1 TUE), mas também não
pode dizer-se que apenas afirma posições políticas. O TL reconhece ao Conselho
Europeu competência para a adoção de atos jurídicos.
No quadro da ação externa, cabe-lhe identificar e decidir sobre os interesses e
objetivos estratégicos da União (art. 22.º/1 TUE), sob recomendação do Conselho ou
sob proposta conjunta do Alto Representante, quanto à PESC, ou da Comissão, quanto
às demais áreas da ação externa da União (art. 22.º/2 TUE). Mais especificamente, na
PESC, compete ao Conselho Europeu e ao Conselho a competência para definir e
executar a PESC (art. 24.º/1 TUE), embora a competência de execução seja aí também
deferida ao Alto Representante e aos EM (e art. 26.º/3 TUE).
Um papel semelhante é reconhecido ao Conselho Europeu no espaço da liberdade
de segurança e justiça. Aí define as orientações estratégicas da programação legislativa
(art. 68.º TFUE), da política económica (art. 121.º/2 TFUE), da política de emprego (148.º
TFUE) ou na avaliação anual das ameaças terroristas com que a União se confronta
(222.º/a TFUE).
A dimensão de instância de concertação abrange também o papel do Conselho
Europeu como órgão de resolução de litígios interinstitucionais e entre os EM e a EU,
tanto mais evidentes quanto o aprofundamento e diversificação das áreas submetidas
à atribuição da União se vem estendendo ao longo dos anos e dos tratados. Assim, no
TFUE, é reconhecido este papel ao Conselho em determinadas matérias, como por
exemplo a Segurança Social, entre outras.
Finalmente, o Conselho Europeu dispõe de importantes poderes em relação à
configuração dos restantes órgãos e da própria União. Assim:
A) Quanto ao Conselho, delibera sobre as formações do Conselho e a presidência
das mesmas (236.º TFUE).
B) Quanto à Comissão, determina o número de membros da Comissão e caso seja
inferior ao número de EM (17.º/5 TUE), o mecanismo de rotação relativo à
escolha dos membros da Comissão (244.º TFUE), designa a personalidade a
personalidade a eleger pelo Parlamento Europeu como Presidente da Comissão
(17.º/7 TUE) e nomeia a Comissão Europeia (17.º/7 TUE).
C) Nomeia o Alto Representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de
Segurança (18.º/1 TUE).
D) Nomeia os membros da Comissão Executiva do Conselho do Banco Central
Europeu (283.º/2 TFUE).
E) Em matéria constituinte, decide sobre a abertura de um processo de revisão, nos
termos previstos no art.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 25
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
48.º/3/6 TUE, dispondo ainda do poder de decidir de alterações de
determinadas disposições específicas dos Tratados através de processos de
revisão simplificados (48.º/7 TUE).
2.5. Presidente do Conselho Europeu: Não é possível concluir as referências ao
Conselho Europeu sem falar da nova figura do Presidente do Conselho Europeu,
introduzida pelo TL na linha das propostas já constantes da anterior Constituição
Europeia. Após o TL, foi prevista uma figura com funções próprias e um mandato de
dois anos e meio, renovável uma vez, eleita por maioria qualificada (15.º/5 TUE). O
Presidente do Conselho Europeu é o chairman do Conselho Europeu, a pessoa a quem
compete presidir às reuniões, assegurar a preparação e a continuidade dos seus
trabalhos, facilitar a coesão e o consenso internos e apresentar ao Parlamento
Europeu, após cada reunião, o relatório da reunião, como dispõe o art. 15.º/6 TUE.
Pode dizer-se que, à luz do tratado, esta identificação do Presidente do Conselho
Europeu com a pessoa que preside reunião do Conselho Europeu é uma leitura
empobrecedora do impacto e importância deste vulto. Ademais, há duas razões que
aumentam este efeito: em primeiro lugar, os EM não quiseram conceder-lhe qualquer
legitimidade democrática direta; em segundo lugar, afastaram qualquer pretensão do
Presidente do Conselho Europeu a ser formalmente um primus supra partes ou,
sequer, um primus inter partes, porquanto e enquanto lhe recusam o direito de voto
no Conselho Europeu.
Mas, invoca-se com justeza, ao Presidente do Conselho Europeu compete a
representação externa da EU do no domínio da PESC. Podemos, no entanto, questionar
se o interlocutor na cena internacional entre a EU e outros Estados será o Presidente
do Conselho ou o Alto Representante nesta matéria. A verdade é que, em geral, a
representação externa da União compete à Comissão Europeia e mesmo na área da
PESC um conjunto impressivo de normas confere ao Alto Representante o papel
fundamental neste domínio. Para além disso, em todo o Título V, onde é desenvolvida
a PESC, há apenas uma única referência ao Presidente do Conselho Europeu.
Em jeito de conclusão, o Presidente do Conselho Europeu surge como símbolo da
unidade da cúpula política da EU.
3. PARLAMENTO EUROPEU
O Parlamento Europeu (inicialmente chamado Assembleia) ocupa o primeiro lugar na
ordem formal pela qual as instituições são referidas no art. 13.º TUE, cuja posição
começa a corresponder a uma verdadeira supremacia ou principalidade do Parlamento
no contexto da constituição e funcionamento da EU.
Os Tratados apenas determinam o número dos membros do Parlamento Europeu, aliás
em termos criticáveis e geradores, no contexto atual, de problemas de índole
constitucional. Se na versão anterior ao TL o Parlamento era referido como sendo
comporto por “representantes dos povos dos Estados”, agora lê-se que é composto por
“representantes dos cidadãos da União” (14.º TUE).
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 26
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
3.1. Composição: Depois da entrada em vigor do TL, a composição do PE deixa de
constar expressamente dos Tratados para passar a ser definida por decisão do Conselho
Europeu, tomada sob iniciativa do PE, embora esteja sujeita às limitações resultantes do
disposto no parágrafo precedente. A composição é marcada pelo modelo da
proporcionalidade degressiva, com maior peso dos pequenos e médios Estados.
3.2. Eleição: o Tratado dispõe expressamente sobre o modo de eleição dos
deputados ao PE, nos termos do art. 14.º/3 TUE, que acrescenta o caráter livre e secreto
da eleição. Contudo, nem sempre assim foi. A eleição direta só ocorreu após a adoção
pelos governos dos EM do Ato de 20 de setembro de 1976. O duplo mandato era
permitido. Com a criação da cidadania da União, com o Tratado de Maastricht, podem
eleger e ser eleitos para o Parlamento tanto os nacionais do EM (onde a eleição se
realiza) como todos os outros nacionais de outros EM que aí residam e aí pretendam
exercer o seu direito de voto (20.º/2 al. e) TFUE + 39.º Carta dos Direitos Fundamentais).
3.3. Mandato: o mandato dos deputados do PE é de cinco anos (14.º/3 TUE). Os
deputados gozam de um estatuto de independência. Tal deriva do seu modo de
designação (antes do mais, a sua legitimidade democrática direta), mas também do seu
estatuto funcional, como resulta das disposições do Ato de 20 de setembro de 1976.
Além disso, os mandatos dos deputados ao PE e da Comissão praticamente coincidem.
3.4. Estrutura: a estruturação e organização internas do Parlamento Europeu são
bastante complexas. O PE goza do poder de auto-organização (231.º e 232.º TFUE).
Importa, contudo, reter que o fato de os deputados serem eleitos em cada EM não se
traduz na formação de grupos parlamentares nacionais. Gradualmente, vêm emergindo
partidos políticos ao nível europeu com o Tratado de Maastricht, sendo o respetivo
regime fixado através do processo legislativo ordinário, pelo PE e Conselho (224.º TFUE).
Embora a organização interna dos grupos políticos no Parlamento não imponha o
modelo partidário, é de realçar que os partidos políticos europeus constituem, com os
seus deputados, grupos políticos no PE. Contudo, nem todos os grupos políticos
assentam num partido político europeu e, por outro lado, os deputados podem não
querer inscrever-se num grupo político (31.º Regimento). Em geral, os grupos políticos
são obrigatoriamente compostos por deputados de pelo menos 1/5 dos EM (29.º
Regimento do PE).
A organização do PE não se limita aos grupos políticos. A sua complexidade resulta
ainda da quantidade de órgãos e estruturas que funcionam no quadro do mesmo. Tem
um Presidente e uma Mesa (Presidente e VicePresidentes) eleita pelos seus pares
(14.º/4 TUE) no início da legislatura (12.º Regimento) para um mandato de dois anos e
meios, sendo logo depois eleitos os vice-presidentes e os questores (13.º, 14.º e 15.º
Regimento).
✓ Ao Presidente compete dirigir as atividades e órgãos do PE e, principalmente,
dirigir as sessões e representar o Parlamento no exterior (19.º Regimento).
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 27
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
✓ Aos Vice-Presidentes, que são catorze, compete substituir o Presidente,
nomeadamente se este não estiver presente ou se pretender participar no
debate parlamentar (20.º Regimento). O Presidente e os Vices, em conjunto,
constituem a Mesa do PE (21.º Regimento).
✓ À Mesa compete, além do mais, regulamentar a condução das sessões, autorizar
reuniões noutros locais e nomear o secretário-geral do PE (22.º Regimento).
✓ Outras figuras relevantes são os questores, cinco deputados eleitos para
mandatos de dois anos e meio e que são consultores da Mesa, com
responsabilidade em questões de natureza administrativa ou financeira que
estejam diretamente relacionadas com os deputados ao PE (16.º e 25.º
Regimento).
✓ Existem outros órgãos no PE. Em primeiro lugar, a Conferência dos Presidentes,
composta pelo Presidente do PE e pelos Presidentes dos grupos políticos (23.º e
24.º Regimento). Seguidamente, a Conferência dos Presidentes das Comissões
(26.º Regimento) e a Conferência dos Presidentes das Delegações (27.º e 188.º
Regimento). A menção destes dois órgãos mostra já outra faceta da organização
e funcionamento do PE.
O Parlamento dispõe hoje de vinte comissões permanentes (174.º e anexo VI ao
Regimento) com importantes funções, designadamente no processo legislativo.
Dispondo de poder de auto-organização, o PE tem regras de funcionamento que se
encontram fixadas nos tratados. A sua sede é em Estrasburgo. Como resulta do
Protocolo relativo à localização das sedes das instituições, o Parlamento realiza doze
sessões plenárias.
3.5. Deliberação: o PE delibera por maioria absoluta dos votos expressos (231.º TFUE),
salvo disposição em contrário dos Tratados. Contudo, este regra nada nos diz em
definitivo, porquanto o quórum constitutivo (um terço dos seus membros) é fixado no
respetivo regulamento interno (198.º e 149.º Regimento). Em casos especiais, os
Tratados preveem maiorias deliberativas diversas. Assim:
✓ É necessária uma dupla maioria (de dois terços dos votos expressos e a maioria
dos deputados eleitos) para a aprovação de uma moção de censura à Comissão
Europeia (234.º TFUE) ou de sanções aos EM por violação do art. 7.º TUE (354.º
TFUE).
✓ Noutros casos, a maioria dos votos expressos tem de corresponder também à
maioria dos deputados, como sucede no processo orçamental, quanto à
apresentação de alterações (314.º/ al. c) TFUE) ou à rejeição do projeto comum
de orçamento anual aprovado pelo Comité de Conciliação (314.º/7 al. b) TFUE).
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 28
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
✓ Uma dupla maioria, mais exigente (maioria dos deputados e três quintos dos
votos expressos) pode confirmar alterações apresentadas ao projeto de
orçamento do Conselho e que por este tenham sido antes rejeitadas (314.º/7
al. c) TFUE).
Finalmente, aos trabalhos do Parlamento é dada a publicidade adequada através da
elaboração interna de uma Ata e da publicação do Relato Integral no Jornal Oficial da
União Europeia (173.º Regimento).
3.6. Competências: o PE tem sido, porventura, o órgão cujas competências têm
conhecido um mais significativo incremento com as suas sucessivas revisões dos
Tratados, implicando até, a partir sobretudo do Tratado de Maastricht, uma
significativa transformação qualitativa da sua própria natureza.
O art. 14.º TUE enuncia as suas principais competências. Fala-se, em primeiro lugar,
da função legislativa, distinguindo-a da função orçamental e das funções de controlo
político e consultivas.
a) Função legislativa: Pode dizer-se que a função legislativa do Parlamento surge
com o Tratado de Maastricht e o procedimento de co-decisão. Em rigor, ou melhor
dizendo, em geral, o PE nunca dispôs hoje das prerrogativas que, no espaço jurídico-
constitucional dos EM, são conferidas aos parlamentos nacionais. É por isso muito
parcelar e mesmo inadequado qualquer paralelismo entre o Parlamento Europeu e os
parlamentos nacionais.
A inadequação de qualquer visão aproximativa entre ambas as instâncias, a mais de
recusada pelos próprios EM (de que é expoente máximo o acórdão do
Bundesverfassunsgericht de 30.06.2009), é evidente quando se carateriza a função
legislativa do PE. Este não dispõe de iniciativa legislativa na EU, salvo nos casos
excecionais previstos nos Tratados (289.º/4 TFUE).
Mesmo sendo legislador de pleno direito e em estrita igualdade com o Conselho,
através do processo legislativo ordinário, o certo é que o PE só raramente “legisla”
sozinho, através de um processo legislativo especial. Como sugerem Priollaud/Siritzky,
o TL acentua a dimensão de um bicameralismo em que o PE constitui “a câmara baixa
de um sistema parlamentar cada vez mais igualitário: representa os cidadãos da União,
enquanto o Conselho – câmara alta – representa os Estados. Os tratados prevêem
também um conjunto de situações em que embora a decisão caiba ao Conselho, é
necessária a “participação” do PE, o que o tratado designa como processo legislativo
ordinário (289.º2 TFUE).
Não se esgota no processo legislativo ordinário e na participação em processos
legislativos especiais envolvendo a sua aprovação, a participação do PE na criação do
direito da União. Após a função legislativa, o PE mantém ao controlo sobre a
implementação dos atos legislativos, mormente no contexto da competência para,
pelo mesmo processo legislativo ordinário, poder definir com o Conselho “as regras e
princípios gerias relativos aos mecanismos de controlo que os EM podem aplicar ao
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 29
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
exercício das competências de execução pela Comissão” (291.º/3 TFUE). Do ponto de
vista constituinte, finalmente, o PE viu ser-lhe atribuída pelo TL, pela primeira vez,
competência para apresentar propostas de revisão dos Tratados (48.º/2 TUE),
conquanto tal não determine necessariamente a abertura de um procedimento de
revisão.
b) Função orçamental: seguindo a ordem do tratado, o PE dispõe de funções
orçamentais, aliás desde pelos menos o Tratado de Bruxelas de 1975. Foi esta, mesmo,
a primeira grande competência do PE, com importantes competências quer na definição
das regras aplicáveis à elaboração e execução do orçamento (322.º TFUE), quer à sua
preparação/discussão concreta e aprovação (310.º e 314.º TFUE), quer no controlo da
sua execução, competindo-lhe dar quitação à sua execução pela Comissão (319.º TFUE).
c)
d) Função de controlo político: os poderes de controlo político do Parlamento são
hoje bastante efeitos, intensos e, de certa forma, difusos. Os poderes de controlo
político do PE em relação à Comissão Europeia são particularmente efeitos, Já a redação
originária do TR institutivo da CEE dizia competir à “Assembleia” controlar a
Comissão, fiscalizando o modo com esta exercia as suas funções e, em casos limite,
demitindo-a (que nunca o fez).
A Comissão Europeia apresenta uma tripla dependência, de cariz genético,
funcional e extintivo face ao PE:
• Quanto à dependência genética, é de notar que o Presidente da Comissão
é eleito pelo PE e que a própria nomeação da Comissão pelo Conselho
Europeu depende da aprovação prévia pelo PE. Portanto, a Comissão não
pode ser nomeada pelo Conselho Europeu contra a vontade da maioria
política do PE.
• A dependência funcional pode enunciar-se assim: os Tratados prevêem
uma constante e estreita relação entre o PE e a Comissão, mas, mais do que
isso, declaram enfaticamente que “a Comissão, enquanto colégio, é
responsável perante o PE” (17.º/8 TUE). Além da já referida coincidência de
mandatos, a implicar que cada uma determinada legislatura do PE (234.º in
fine TFUE), impõe-se acentuar aqui as notas de dependência ordinária
daquela perante este órgão.
• A dependência funcional culmina numa dependência extintiva. Só o
Parlamento pode demitir a Comissão, através da adoção de uma moção de
censura (17.º/8 TUE e 234.º TFUE).
Enquanto órgão de controlo, o PE pode constituir comissões temporárias de
inquérito, para “analisar, sem prejuízo das atribuições conferidas pelos Tratados a
outras instituições ou órgãos, alegações de infração ou de má administração na
aplicação do direito da União, exceto se os fatos alegados estiverem em instância numa
jurisdição, e enquanto o processo jurisdicional não se encontrar concluído” (226.º
TFUE). A Comissão de inquérito temporária extingue-se com a apresentação do seu
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 30
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
relatório. Com o TL “as regras de exercício do direito de inquérito são determinadas
pelo PE, por meio de regulamentos adotados por iniciativa própria de acordo com um
processo legislativo especial, após aprovação do Conselho e da Comissão”. A
constituição de uma Comissão de Inquérito Temporária necessita de ser pedida por um
quarto dos membros do PE (226.º TFUE e 151.º Regimento), sendo a sua composição
e funcionamento determinados pelo Parlamento,
O controlo político é também exercido através do Provedor de Justiça Europeu
que, embora seja um órgão institucionalmente independente, é eleito pelo PE (228.º/1
TFUE) após cada eleição do PE e pelo período da legislatura (228.º/2 TFUE)
competindo-lhe ainda definir o estatuto e condições de exercício das funções (228.º/4
TFUE), apreciar o relatório anual que lhe é apresentado (228.º/1 TFUE) e propor a sua
demissão ao TJ, em caso justificado (228.º/2 TFUE).
Finalmente, o Tratado reconhece aos cidadãos da União o direito de petição ao
PE (20.º/2 al. d) e 24.º TFUE) e a “qualquer pessoa singular ou coletiva com residência
ou sede social num EM” desde que “sobre qualquer questão que se integre nos
domínios de atividade da União e lhe diga diretamente respeito” (227.º TFUE).
Ainda no contexto dos poderes de controlo do Parlamento Europeu, é de assinalar
o sucessivo e crescente reconhecimento de legitimidade contenciosa do PE, tanto ativa
como passiva, agora (desde o Tratado de Nice) enquanto recorrente privilegiado (236.º
TFUE). Na sequência do famoso acórdão Os Verdes, o Tribunal de Justiça considerou
que todos os atos emanados do PE e dotados de eficácia em relação a terceiros
deveriam poder ser impugnados perante o Tribunal, mesmo na ausência de expressa
previsão no tratado da legitimidade passiva do Parlamente no recurso de anulação.
Esta jurisprudência foi incorporada no Tratado de Maastricht.
d) Função consultiva: para concluir, uma palavra sobre a função consultiva do PE
que, originariamente, era até aquela quantitativa e qualitativamente mais significativa,
e que corresponde a um conjunto muito diverso de intervenções no processo
legislativo e decisório da União. São previstas cerca de 50 situações, atualmente.
No domínio da PESC, o PE não dispõe de competências decisórias, legislativas ou
sequer de competências efetivas de controlo político.
4. CONSELHO
O Conselho é uma das instituições originárias e comuns às Comunidades Europeias e
União Europeia, constituindo hoje um dos órgãos centrais da EU. Diversamente do
disposto na Constituição Europeia, o TL mantém a designação formal do Conselho antes
existente, não acolhendo a própria designação que este órgão se dava a si próprio,
desde a entrada em vigor do Tratado de Maastricht – Conselho da União Europeia -,
embora este fosse agora mais apropriada (13.º e 16.º TUE).
Como resulta do art. 10.º TUE, o Conselho é considerado um órgão de representação
dos Governos dos EM, como tal composto por representantes dos EM, ao nível
ministerial, como poder para vincular o respetivo Governo.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 31
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
4.1. Composição: a composição do Conselho é, tradicionalmente, variada, em função
das matérias e até das conveniências políticas ao longo da história das organizações
comunitárias. Recentemente, procura limitar-se o número e tipo das suas formações
regulares, quer nos Tratados, quer no Regulamento Interno do Conselho. Quem
determina as formações do Conselho é o Conselho Europeu. Esta heterodeterminação
marca significativamente a redução dos poderes de auto-organização do Conselho. A
este propósito releva o artigo 16.º TUE.
A formação-base com Conselho é a dos Assuntos Gerais (art.236.º TFUE). Os tratados
atribuem-lhes funções de coordenação da atuação das diversas formações do
Conselho e de acompanhamento da atividade do Conselho Europeu (na preparação e
execução das suas deliberações – art. 15.º/6 al. b) TUE).
Além do Alto Representante, que preside ao Conselho dos Negócios Estrangeiros
(18.º/3 TUE), também a Comissão Europeia pode participar nas reuniões do Conselho,
o que visa facilitar o diálogo interinstitucional. As reuniões do Conselho são
convocadas pelo seu Presidente, por sua iniciativa, ou a pedido de um dos seus
membros ou da Comissão (237.º TFUE), embora também possam ser convocadas pelo
Alto Representante (30.º/2 TUE).
É apontada ao Conselho falta de continuidade e permanência da sua ação, requisitos
considerados essenciais para a sua unidade e coerência. Para colmatar esta natural
descontinuidade, desenvolveram-se diversos mecanismos institucionais.
Em primeiro lugar, as Presidências rotativas do Conselho (16.º/9 TUE), que se mantêm
mesmo após o TL, apesar de extirpadas da dimensão externa, por força das figuras
emergentes do Presidente do Conselho Europeu e do Alto Representante. É retomado
o sistema de troika vigente na versão inicial do Tratado de Maastricht, nos termos da
qual “a Presidência do Conselho é assegurada por grupos pré-determinados de três EM
durante um período de 18 meses (…) formados com base num sistema de rotação
igualitária dos Estados da União”. Durante estes 18 meses, “cada membro do grupo
preside sucessivamente, durante seis meses, a todas as formações do Conselho, com
exceção da formação de Negócios Estrangeiros”.
Assim, na sequência da Decisão do Conselho Europeu 2009/881/EU de 1 de dezembro
de 2009, o Conselho Europeu adotou, no mesmo dia, através da Decisão 2009/908/EU
do Conselho, de 1 de dezembro de 2009, as medidas de aplicação necessárias. De
acordo com essas decisões, é retomado, no essencial e com algumas exceções, o
sistema de troika.
A Presidência do Conselho assegurada pelo sistema de troika adota um programa para
o período de 18 meses, de acordo com a ordem prevista na Decisão do Conselho (1.º
da Decisão 2009/908/EU). A Presidência detém um importante papel no
funcionamento interno do próprio Conselho, seja na relativa à convocação das
reuniões, direção dos trabalhos, entre outras.
A atribuição da presidência da formação do Conselho que se ocupa da ação externa da
União – Conselho dos Negócios Estrangeiros – ao Alto Representante foi uma outra
solução inovadora.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 32
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
4.2. Sede: nos termos previstos no 341.º TFUE, os EM estabeleceram a sede do
Conselho em Bruxelas, embora o Regulamento Interno do Conselho estabeleça que em
abril, junho e outubro as suas reuniões decorrem em Luxemburgo.
4.3. Reuniões: numa manifestação da sua crescente aproximação à sua natureza de
câmara legislativa, as reuniões do Conselho são públicas sempre que “este delibere e
vote sobre um projeto de ato legislativo” (16.º/8 TUE), quando delibere pela primeira
vez relativamente a propostas não legislativas de “normas juridicamente vinculativas
nos ou para os EM”, prevendo-se ainda a realização de debates públicos, entre outras
nuances.
A presidência ocupa um lugar central como garante da unidade e coerência substancial
da ação do Conselho, mas não é uma instância adequada para a discussão técnica e
diplomática das matérias a decidir nem para a preparação logística e burocrática das
próprias reuniões. Para um e outro caso o Tratado prevê órgãos habilitados a
desempenhar essas tarefas. É o caso do COREPER, um órgão auxiliar ao qual compete
a preparação das reuniões do Conselho. Existem outras instâncias preparatórias das
reuniões do Conselho, consoante a formação em causa.
Outro órgão permanente especialmente habilitado a assegurar o regular
funcionamento do Conselho é o Secretariado Gera, o responsável burocrático pela
organização das reuniões e pela preparação do expediente, encabeçado por um
Secretário-Geral a quem cabem importantes competências e funções.
4.4. Quórum: o quórum deliberativo do Conselho corresponde à maioria dos seus
membros. Cada membro do Conselho pode fazer-se representar por outro membro do
Conselho, mas, para efeitos de votação, cada membro do Conselho apenas pode
representar um outro EM (239.º TFUE).
Os Tratados prevêem a possibilidade de deliberações do Conselho por maioria simples
(238.º/1) e que decidirá por maioria simples num conjunto significativo de situações.
O mesmo se diga quanto à unanimidade, a regra de direito e de fato passa a ser a de
que “o Conselho delibera por maioria qualificada, salvo disposição em contrário dos
Tratados” (16.º/3 TUE), em substituição da enganosa norma do artigo 205.º/1 Tratado
CE. Nos casos em que delibere por maioria simples ou unanimidade todos os EM têm
o mesmo peso, já quanto à maioria qualificada os EM têm peso diferenciado – os EM
maiores terão maior peso.
Contudo, é de notar que o novo modelo da maioria qualificada foi implementado de
forma progressiva de acordo com um determinado calendário. Além de aumentar o
numero de matérias em que o Conselho delibera por maioria qualificada (em vez de
unanimidade), o TUE prevê que, em vários domínios em que se delibere por
unanimidade, o Conselho Europeu possa decidir passar a permitir decisões do
Conselho por maioria qualificada, através das cláusulas passerelle (31.º/3 TUE),
através, inclusivamente, de um procedimento de revisão simplificado (48.º/7 TUE). Em
sentido oposto, em certas matérias os Tratados consagraram mecanismos de
“travagem de emergência”, como sucede, por exemplo, com a PESC.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 33
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
4.5. Competências: Podemos, desde já, concluir, então, que antes do TL a questão das
competências do Conselho não podia ser descrita e analisada de modo unitário, dado
que o seu enquadramento variava de forma significativa em cada uma das
organizações europeias. Contudo, o Conselho sempre foi o órgão legislativo por
excelência na Comunidade Europeia e na União Europeia. E se é certo que assim
continua a ser na atual EU, mesmo depois do TL, não é menos apropriado chamar a
atenção para a crescente partilha do poder legislativo com o PE, mormente no
processo legislativo ordinário (remissão para as matérias partilhadas entre os dois
referidas na secção relativa ao PE).
O Conselho detém o maior peso quando se trata da vinculação internacional da União.
Na política comercial comum (207.º/3 TFUE), no quadro da UEM (219.º TFUE) ou na
norma-base da vinculação externa da União (218.º TFUE), a regra é a de que os acordos
são celebrados pelo Conselho, ainda que em muitos domínios juntamente ou com a
aprovação do PE. Ademais, a Comissão Europeia só pode negociar e concluir os acordos
com a autorização prévia do Conselho.
O Conselho exerce ainda o poder de execução dos seus atos legislativos. Nos termos
do artigo 290.º TFUE, o legislador (seja o Conselho e o PE ou apenas um destes órgãos)
pode atribuir à Comissão competência para adotar atos delegados, definidos como
“atos não legislativos de alcance geral que completem ou alterem certos elementos
não essenciais do ato legislativo”, que “delimitem explicitamente os objetivos, o
conteúdo, o âmbito de aplicação e o período de vigência da delegação de poderes. Os
elementos essenciais de cada domínio são reservados ao ato legislativo e não podem,
portanto, ser objeto de delegação de poderes”.
Em domínios como a PESC, a cooperação judiciária em matéria penal e da cooperação
judiciária em matéria penal e da cooperação policial, processos de revisão de tratados,
de adesão de outros Estados europeus à União ou de fiscalização do respeito pelos
valores da União Europeia, o Conselho desempenha um papel central e até
tendencialmente exclusivo. Como se afiguram como matérias de teor essencialmente
intergovernamental, colocam o Conselho – composto por representantes dos
governos dos EM – no centro e lugar principal da respetiva estrutura orgânico-
institucional.
O Conselho exerce também “funções de definição das políticas e de coordenação em
conformidade com as condições estabelecidas nos Tratados” (16.º/1 TUE).
5. COMISSÃO EUROPEIA
A Comissão, agora finalmente designada Comissão Europeia, continua a ser um dos
órgãos principais da estrutura orgânica (dita institucional) da EU (13.º e 17.º TUE e
244.º a 250.º TFUE).
Tal como resulta dos Tratados (17.º TUE e 250.º TFUE), a Comissão Europeia é
habitualmente apresentada como um órgão de indivíduos, de funcionamento colegial
e que representa o interesse geral da EU. Órgão de pessoas, pois os seus membros
devem ser escolhidos segundo critérios de independência, empenhamento europeu
(critério introduzido no TL) e competência, qualidades que se deverão manter intactas
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 34
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
quer durante o exercício de funções, quer mesmo depois da sua cessação, sob pena de
perda de benefícios previstos no tratado (245.º TFUE). É também um órgão de
funcionamento colegial pois as suas deliberações são adotadas com independência e
por maioria dos seus membros (250.º TFUE).
Por último, a presunção da sua atuação no interesse geral da União resulta
explicitamente do artigo 17.º/1 TUE, afirmando-se ainda com igual expressividade a
atuação independente não só dos membros, mas também do órgão qua tale,
qualidade que a doutrina habitualmente faz salientar, sobretudo em relação aos
restantes órgãos da União e aos EM (com exceção do PE).
5.1. Composição: a Comissão Europeia é composta por 28 membros, cada um nacional
de um EM diferente. De acordo com o sistema previsto no TL, a CE nomeada em 2014
seria já composta por um número de comissários correspondente a 2/3 dos EM,
escolhidos através de um sistema de rotação igualitária entre os EM. Contudo, o
acordo obtido no Conselho Europeu de dezembro de 2008 veio estabelecer que
haveria um comissário por EM.
O procedimento de constituição e nomeação da Comissão Europeia é complexo, de
que a nomeação final pelo Conselho Europeu se apresenta, desde o TL, apenas como
um último passo. Regulado no artigo 17.º/5/7 TUE, envolve também o Conselho e o
PE, além da própria figura do Presidente indigitado da Comissão Europeia. Como
resulta da norma em causa trata-se de um processo partilhado, do ponto de vista de
legitimação democrática da Comissão Europeia. Por um lado, a pré-designação do
“candidato” a Presidente é feita pelo Conselho Europeu, tendo em conta as eleições
para o PE e é, precisamente, eleito por este. Ademais, a configuração final da Comissão
depende da aprovação prévia do PE, pelo que verificamos uma dependência político-
democrática genética da Comissão face à maioria política do PE. Em conclusão, a
dependência política da Comissão fica marcada de modo indelével face às duas
câmaras principais da novo União (o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu).
5.2. Mandato: o mandato da Comissão Europeia tem a duração de cinco anos (17.º/3
TUE), terminando após o início de cada legislatura do Parlamento Europeu. Trata-se de
mais um signo da responsabilidade política da Comissão perante cada formação do PE,
poiso processo de designação e nomeação ocorre já perante a formação parlamentar
que acompanhará – quase até ao fim – o ciclo normal de vida de cada Comissão. O
mandato de cada comissário pode ainda terminar por várias razões. O artigo 246.º
TFUE enumera-as.
Além do Presidente, dos Vice-Presidentes e dos comissários, a Comissão Europeia
organiza-se em direçõesgerais e serviços equiparados, dispondo de poder de auto-
organização. Essa organização baseia-se no disposto no artigo 21.º do seu regulamento
interno (RIC).
5.3. Competências Presidente da Comissão: refiram-se agora as competências do
Presidente da Comissão Europeia. Como resulta da descrição do processo de
designação da Comissão Europeia, é central o papel que desempenha o residente
eleito, o qual, de uma posição institucional de mero representante formal e primus
inter partes (até Maastricht), passa a figura dotada de um estatuto singular e de uma
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 35
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
ampla autonomia, que tende a ser mesmo orgânica, com a preeminência que o tratado
lhe reconhece em várias disposições (prima supra partes), nomeadamente: na forma
da sua escolha separada e eleição pelo PE, na sua qualidade de membro do Conselho
Europeu, entre outras nuances.
O Presidente da Comissão Europeia dispõe por isso de uma legitimidade própria face
à da Comissão Europeia enquanto órgão. A seguir estão os vice-presidentes, hoje
nomeados pelo Presidente, exceto quanto ao VicePresidente responsável pela ação
externa, que é o Alto Representante. Seguem-se os restantes membros da Comissão.
Compete ainda ao Presidente determinar a organização interna da Comissão (incluindo
a possível criação de grupos de membros da Comissão), estruturar e distribuir os
diversos portfolios pelos seus membros, conferindo-lhe ainda o artigo 248.º TFUE o
poder de “alterar a distribuição dessas responsabilidades no decurso do mandato”. Em
particular, cumpre notar que a responsabilidade política da própria atuação dos
comissários recai sobre o Presidente (248.º, último período, TFUE).
O Presidente representa a Comissão Europeia perante terceiros. Internamente, a
direção da Comissão conferelhe, na leitura que da norma faz hoje a própria Comissão,
o poder de direção e organização interna da Comissão, de acordo com o artigo 3.º do
Regimento Interno da Comissão (RIC).
Mesmo no exercício diário das funções da Comissão Europeia, é central o papel do
Presidente. Competindo-lhe, ainda, por exemplo, convocar as reuniões da Comissão
ou registar o resultado das deliberações da Comissão.
5.4. Competências da Comissão: as competências da Comissão Europeia são
enunciadas em termos claros no artigo 17.º/1/2 TUE. É impossível fornecer uma
descrição completa das competências da Comissão Europeia. Salientemos apenas
algumas.
5.4.1. Primeiro, é imprescindível começar por referir que a importação de modelos
antes aplicáveis à EU préLisboa e a cisão entre atos legislativos e atos
regulamentares elimina, em relação a estes últimos, pelo menos, a
presunção da iniciativa da Comissão (17.º/2 TUE crf. 289.º a 290.º TFUE).
Dito isto, importa realçar, em contrapartida, que o TL consagra pela primeira
vez em termos gerias o (quase-) monopólio do direito de iniciativa
legislativa na EU. A importância deste direito exclusivo de iniciativa
legislativa é ainda exponenciada pelas limitações que os Tratados impõe
quando se cure da possibilidade de alteração das propostas da Comissão
Europeia. Além disso, o Conselho só pode alterar as propostas da Comissão
Europeia, quando são pressupostos dos próprios atos do Conselho (293.º/1
TFUE).
Mas, apesar da declaração, continuam a existir matérias onde a Comissão
não dispõe de qualquer intervenção ou em que partilha a iniciativa
legislativa, designadamente com os EM (289.º/4 TFUE).
Também a adoção de atos não legislativos pode estar dependente de
proposta da Comissão.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 36
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
No entanto, a participação do processo decisório, legislativo ou não
legislativo, não se esgota do direito de iniciativa, legislativa ou não.
Salientamos o artigo 11.º TUE e 154.º/1 TFUE relativos à promoção do
interesse geral da União e os artigos 225.º e 241.º TFUE. Mas, além disso, o
Tratado prevê em certas situações a adoção de decisões pela Comissão
Europeia, a maior parte delas controlando limitações dos EM às liberdades,
formulando recomendações, entre outras nuances.
Noutras hipóteses, a Comissão intervém não como entidade propulsora,
mas como entidade consultiva.
5.4.2. Uma segunda vertente fundamental das competências da Comissão Europeia
é a sua dimensão como órgão executivo. É neste contexto que deve ser
destacada, em primeiro lugar, a competência para adotar atos gerais
delegados, nos casos e condições previstas no artigo 290.º TFUE e de,
quando se justificar uma execução uniforma dos atos vinculativos da União,
estabelecer as respetivas disposições de execução (250.º TFUE). Ter
competência de execução dos atos é uma manifestação de que à Comissão
incumbem taregas executivas na EU.
A Comissão não é um órgão legislativo de primeiro nível, passando apenas a
dispor de competência para, mediante delegação operada por ato
legislativo, “adotar atos não legislativos de alcance geral que completem ou
alterem certos elementos não essenciais do ato legislativo” (290.º TFUE). O
tratado insere um conjunto de disposições tendentes a permitir ao PE e ao
Conselho capturar o controlo sobre a atividade normativa da Comissão, que
passa a realizar-se no quadro do exercício de poderes delegados de
execução pela Comissão. A novidade reside, porém, na previsão de que não
há uma delegação genérica e prévia, mas que tem de ser expressa e
delimitada. Por outro lado, afirma-se o princípio da libre revogabilidade do
ato de delegação e mantém-se a possibilidade de o Conselho (e o PE)
impedirem a entrada em vigor do ato delegado, mediante mera votação
maioritária dos seus membros.
A Comissão Europeia dispõe de extensos poderes de administração e gestão
de pessoal, bem como dos meios materiais e dos recursos financeiros da
União, expressos significativamente nos seus poderes no que toca à
realização de importantes objetivos da União. Cabe-lhe também executar o
orçamento (317.º TFUE), prestar contas do ano financeiro ao Conselho e PE
(318.º TFUE), administrar o Fundo Social Europeu (163.º TFUE) e gerir os
programas (17.º/1 TUE).
A dimensão executiva da Comissão manifesta-se ainda na sua relação com
os restantes órgãos. Primeiro, pela sua responsabilização política face ao PE.
Segundo, pela frequente atribuição à Comissão de obrigações de
apresentação de relatórios, etc.
5.4.3. É também de salientar, em terceiro lugar, a competência de representação
da EU, que o artigo 17.º/1 TUE enuncia de foram enfática. Importa
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 37
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
acrescentar, como antes visto, que o Tratado confere a um VicePresidente
da Comissão Europeia a competência para representar a União no domínio
da PESC: o Alto Representante.
5.4.4. Extremamente relevantes são, em quarto lugar, as competências da
Comissão enquanto guardiã dos tratados (17.º/1 TUE). Trata-se de uma
competência originária da Comissão que sempre deteve o poder de fiscalizar
o modo como as restantes instituições, órgãos e organismos da União, os
EM, as empresas e os particulares cumprem o DUE. É neste contexto que a
Comissão Europeia tem direito de ação, como recorrente privilegiada e até
primacial, em todo o contencioso da EU. Do mesmo modo, inúmeras
disposições dos tratados (e de direito privado) impõem aos EM e às
empresas obrigações de informar a Comissão, mas sempre segundo
condições e limites que o próprio Conselho – ou o PE e o Conselho –
definem.
Se, no quadro da Comunidade Europeia e mesmo da EU anterior ao TL, o papel da
Comissão era claramente diferenciado consoante se tratasse de um domínio
comunitarizado ou ainda sujeito ao modelo intergovernamental, essa diferenciação
não deixou de fazer sentido com o TL.
Na ação externa da União, o papel da Comissão Europeia começa por ser o de
assegurar a coerência interna e externa (face a outras políticas) em conjunto com o
Conselho (21.º/3 TUE). Referência especial parece o papel diminuído da Comissão no
âmbito da PESC. De todo o modo, não descuramos o fato de o Alto Representante ser
um e mesmo vice-presidente da Comissão Europeia.
6. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
O TL, na sequência, aliás, do que já previa a Constituição, mantém uma unidade
externa das diversas instituições judiciárias da União, ao estabelecer que “o Tribunal
de Justiça da EU inclui o TJ, o TG e os tribunais especializados” (19.º/1 TUE).
Resulta assim deste Tratado, embora com alguma imperfeição técnica, que a
designação Tribunal de Justiça da União Europeia tende a identificar o conjunto de
tribunais da União, sendo que referências específicas a tribunais concretos são feitas
individualmente.
A estrutura jurisdicional da EU não se limita, no entanto, a este órgãos. Pode continuar
a dizer-se que também os órgãos jurisdicionais nacionais dela fazem parte como
tribunais comuns de direito comunitário ou tribunais funcionalmente europeus. Assim
se compreende que se consagre que os EM estabelecem as vias de recurso necessárias
para assegurar uma tutela jurisdicional efetiva nos domínios abrangidos pelo DUE:
A primeira nota que cumpre fazer ressaltar é a da necessária qualificação do TJUE, em
qualquer das suas vestes como verdadeiro tribunal, verdadeira jurisdição
permanente, independente e de competência obrigatória. O TJUE é uma jurisdição,
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 38
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
no sentido revelado para o termo, que “diz o Direito”, criando-o e desenvolvendo-o,
aliás de forma bem original e profunda. O TJUE é, desde o início, um órgão único e
comum às então três Comunidades Europeias e, entre os Tratados de Maastricht e
Lisboa, também da EU. Hoje, é um órgão comum à EU e à CEEA.
Sendo garante do respeito pelo direito (19.º/1 TUE), desempenha uma parte
substancial das funções de jurisdictio no sistema jurídico da União, intervindo a
diversos títulos e em variadas vestes, consoante a matéria, o tipo de litigiosidade e
mesmo o papel não contencioso que os sistema lhe reconhece. Salienta a doutrina que
pode exercer funções próprias de uma jurisdição ordinária, jurisdição internacional,
jurisdição administrativa e mesmo jurisdição constitucional.
A sua intervenção interna (em relação a comportamentos das instituições ou órgãos
da União) ou externa (comportamentos dos Estados e das pessoas singulares ou
coletivas) conhece, no entanto, limites funcionais que a doutrina há muito assinala.
• Na vertente interna, a sua intervenção não pode bulir com a repartição
interna dos poderes, expressa no princípio fundamental do equilíbrio
institucional (13.º/2 TUE).
• No plano externo, em particular em relação aos EM, na medida em que, não
tendo a União a competência das competências, não pode interferir sobre
as dimensões essenciais da soberania estadual.
Encontra-se, pois, a ação do tribunal condicionada pelo princípio da atribuição (5.º/1/2
TUE) que limita a capacidade jurídica da União (e da CEEA). Concebido como instância
simultaneamente de acesso e final, o TJUE vê-se hoje auxiliado pelo Tribunal Geral (até
TL, designado por Tribunal de Primeira Instância), órgão relativamente autónomo com
o qual partilha um leque alargado de competências, espacialmente no plano
contencioso (256.º TFUE).
O TJ é composto por juízes, assistidos por advogados-gerias. A razão da dualidade
baseia-se essencialmente na diversidade de funções que a cada um compete
desempenhar no sistema jurisdicional da EU. Enquanto os juízes têm o poder de
decisão e administram a justiça em nome do TJ, os advogados-gerais têm um papel
predominantemente auxiliar, garantindo reflexão prévia, fundamentada e alargada
dos argumentos invocados pelas Pares ou que sejam pertinentes para a procura da
solução adequada para o litígio concreto.
O TJ é composto de um juiz por cada EM (19.º/2 1.º período TUE), respeitando-se neste
tribunal o princípio da estrita igualdade entre EM, sendo por isso composto, neste
momento, por vinte e oito juízes. Porém, nem, sempre assim foi, a título de exemplo
aquando da adesão da Grécia.
O procedimento de designação dos juízes do TJ - e dos advogados-gerais – encontra-
se descrito no artigo 253.º TFUE, assentando em vetores de índole pessoal: a
independência (2.º e 4.º do Estatuto do TJ) e a elevada qualificação técnica. É o único
órgão da EU cuja designação é feita pelos Governos do EM, de comum acordo (Lei n.º
21/2012 estabelece no seu artigo 7.º-A o procedimento aplicável).
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 39
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
O mandato dos juízes do TJ tema duração de seis anos, sendo que, de três em três
anos, se procede á substituição parcial de catorze e treze juízes, respetivamente, nas
condições reguladas. O mandato pode ser renovado, sem qualquer limitação e, nessa
renovação, não cabe qualquer papel ao Comité do artigo 255.º TFUE.
O Presidente do TJ (39.º do Estatuto, 8.º RPTJ) é eleito pelos seus pares por um período
de três anos (253.º TFUE), podendo ser reeleito. Intervém no processo de designação
e organização do Comité referido no artigo 255.º TFUE. Ademais, as renúncias aos
mandatos dos juízes são a ele dirigidas (5.º Estatuto TJ), competindo-lhe um conjunto
importante de tarefas e competências no funcionamento do Tribunal.
O Estatuto dos juízes – e dos advogados-gerais – resulta naturalmente do Estatuto do
TJ, que constitui um Protocolo anexo ao Tratado e é, como tal, direito originário da EU
(281.º TFUE), embora possa, em geral, ser alterado através de um processo legislativo
ordinário, ainda que com algumas especificidades. Já o Regulamento de Processo é
estabelecido pelo próprio TJ, ainda que tenha de ser aprovado pelo Conselho. Ademais,
os juízes e advogados-gerais têm um estatuto rígido quanto à sua imparcialidade e
independência.
Figura central no funcionamento do TJ é a do advogado-geral, que vem prevista no
artigo 19.º/2 TUE e no artigo 252.º TFUE. Há quem lhes prefira chamar procuradores-
gerais, embora adotemos a expressão prevista nos Tratados. Outros sistema jurídicos
conhecem a figura do advogado-geral (identidade nominal) ou equiparada (identidade
material). Está na primeira situação o Brasil e na segunda o amicus curiae anglo-
saxónico. No espaço da EU, o advogado-geral aproxima-se mais da segunda situação,
embora as especificidades levem muitos a classificá-lo como uma instância sui generis
- o despacho Emesa Sugar (Free Zone) NV c. Aruba é preponderante para compreender
esta última ideia – tradicionalmente dita como construída a partir da figura do
“Comissaire de Government” junto do Conseil d´État, em França.
Em princípio, são oito os advogados-gerais, competindo ao Conselho aumentar
(apenas aumentar) o número de advogados-gerias, cabendo a iniciativa ao TJ (252.º
TFUE). Funcionam como instância independente dos interesses das partes, como
resultado do segundo parágrafo do artigo mencionado.
É um servidor de justiça, que deve intervir com imparcialidade e independência,
reforçando o corpus jurídico da União e colmatando a falta de dissenting opinions
(votos de vencido) na jurisprudência do TJ, fazendo assim, como a doutrina nota, o
adequado contraponto à decisão, fundando-a, contraditando os argumentos das
partes e clarificando a própria fundamentação do coletivo de juízes.
Há ainda outros intervenientes, internos e externos ao Tribunal de Justiça.
Internamente, conta-se a estrutura organizatória e administrativa do TJ, assente nas
figuras do Secretário (anteriormente chamado Escrivão) referido no Estatuto, e de
secretaria-geral. Não é magistrado, nem tem intervenção no processo, a título
principal. Juntamente com esta figura encontramos os agentes, consultores ou
advogados, bem como as partes, testemunhas ou peritos.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 40
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
O TJ tem um funcionamento permanente (15.º Estatuto) e colegial. Organiza-se em
secções de três ou cinco juízes, mas também pode reunir, em determinadas situações,
em grande secção (quinze juízes – 251.º TFUE) ou em formação do tribunal pleno
(251.º TFUE), para lá das frequentes reuniões de caráter administrativo e preparatório.
O Tribunal reúne como tribunal pleno quando considerar que uma causa de excecional
importância e, especificamente, nos casos em que lhe seja apresentado um
requerimento em aplicação do artigo 228.º/2 TFUE, do artigo 245.º/2, 247.º ou 286.º/6
TFUE. Seja em secção ou formação plenária, o TJ só pode reunir e deliberar
validamente com um número ímpar de juízes. O colégio de juízes delibera por maioria
dos votos dos juízes presentes na audiência (32.º/4 RPTJ). O processo deliberativo é (e
permanece) secreto (35.º Estatuto e 32.º/1 RPTJ), embora ao acórdão seja dada
publicidade (36.º e 37.º Estatuto).
7. TRIBUNAL GERAL
O Tribunal Geral corresponde ao anterior Tribunal de Primeira Instância, nome que
teve até à entrada em vigor do TL, a 1 de dezembro de 2009. A sua criação remonta a
1988, após o AUE ter inserido uma norma habilitante para a sua criação, que veio a ser
concretizada na Decisão 88/591/CEE.
Entre as razões habitualmente indicadas para a sua criação estava a opção de não
aumentar de modo significativo o número de juízes do Tribunal de Justiça, conjugada
com a necessária resposta aos crescentes problemas colocados pelo excesso de
volume de trabalho do TJ. A sua criação permitiu ainda garantir um princípio de dupla
jurisdição no contencioso direto dos particulares, reforçando o princípio da proteção
jurisdicional efetiva e, por outro lado, possibilitando ao TJ concentrar-se ainda mais na
sua função essencial de intérprete e garante da uniformidade e eficácia do
ordenamento jurídico da União.
O TG não é sempre um tribunal de primeira instância, no sentido próprio do termo.
Assim, a boa parte das prestações jurisdicionais do TJUE – mormente as ações por
incumprimento, o contencioso da legalidade que não seja interposto por particulares
e o reenvio prejudicial – cabem em primeira instância ao TJ. Noutras hipóteses, o TG
funciona como tribunal de recurso.
O estatuto do TG resultou reforçado com a entrada em vigor do Tratado de Nice e
doi clarificado no TL.
Os dois tribunais distinguem-se de forma essencial, a vários títulos. Primeiro, pela
composição. Se o Tratado apenas diz que será composto por pelo menos um juiz por
EM (19.º/2 TUE e 254.º TFUE), nos últimos anos o sistema judiciário da EU foi objeto
de uma extensa reforma, que incidiu principalmente no TG, acoplada à extinção do
Tribunal da Função Pública. Por força das alterações ao Protocolo n.º 3 anexo aos
Tratados, relativo ao Estatuto do TJ da EU, o TG passará a ter um máximo de dois juízes
por EM.
A designação dos juízes não depende apenas da escolha dos EM, já que o TL introduziu
no processo o chamado Comité do artigo 255.º TFUE, composto por 7 personalidades
e que dá parecer sobre a adequação dos nomes indicados pelos EM que, a final, os
nomeiam por acordo comum. Os juízes são escolhidos segundo critérios de
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 41
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
independência e competência, por um período de 6 anos. Haverá, no entanto, uma
renovação parcial do TG em cada três anos (254.º TFUE).
À organização e funcionamento do TG presidem muitas das normas já referidas a
propósito do TJ (47.º Estatuto), embora coexistam algumas diferenças, constantes do
disposto nos artigos 47.º e ss. do Estatuto.
O Presidente do TG também é eleito pelos seus pares para um mandato de três anos
(254.º TFUE e 9.º RPTJ) e dispõe igualmente de poderes de direção e organização (10.º
RPTJ, entre outros). Contrariamente ao que sucede com o TJ, os juízes do TG podem
ser chamados a desempenhar o papel de advogados-gerias perante o próprio tribunal
(49.º Estatuto e 3.º/3 e 30.º e 31.º RPTJ).
Ao contrário do TJ, o TG não funciona apenas colegialmente. Há três tipos de
formações no TG. Hoje, essencialmente, são estas a Grande Secção (15 juízes), as
secções (de 5 ou 3 juízes) e o juiz singular. Além disso, dispõe de uma secretaria
presidida por um Secretário nomeado pelo Tribunal (254.º TFUE e 32.º RPTJ) e que está
sujeito à autoridade do TG e que é o responsável máximo dessa mesma secretaria.
O TG dispõe de importantes competências. O artigo 256.º TFUE reconhece-o
formalmente como primeira instância do TJ, salvo quanto ao chamado reenvio
prejudicial. O TG é competente para conhecer, em primeira instância, de todos os
recursos interpostos ao abrigo do artigo 263.º, 265.º, 268.º, 270.º e 272.º TFUE, salvo
nos casos em que tal seja reservado a um tribunal especializado ou ao TJ pelo seu
Estatuto (256.º/1 TFUE). As exceções á competência do TG em favor do TJ constam do
artigo 51.º do Estatuto.
Desde o Tratado de Nice que se previa a possibilidade de o TG poder ser chamado ao
mecanismo do reenvio prejudicial, único instituto que lhe era especificamente vedado
pelos tratados. Contudo, estabelece-se aí que a competência prejudicial do TG existirá
apenas em “matérias específicas determinadas pelo Estatuto” e na medida em que não
haja “risco grave de lesão da unidade ou da coerência do direito comunitário”, caso
em que a a decisão do TG pode ser reapreciada pelo TJ, a pedido do primeiro
advogado-geral.
Por último, cumpre salientar dois outros pontos relativos ao funcionamento do TG e à
sua relação com o TJ: a competência do TG para a determinação de matéria de fato e
as condições de recorribilidade das suas decisões para o TJ. No exercício das suas
competências, o TG é a instância jurisdicional especificamente vocacionada para lidar
com matéria de fato. Resulta ainda diretamente do artigo 256.º/1 TFUE que das
decisões do TG cabe “recurso para o Tribunal de Justiça limitado às questões de direito
e nas condições estabelecidas pelo respetivo Estatuto”. Não se aplica isto, como é
evidente, aos casos em que o TG funciona como instância de recurso, em que não é
admissível recurso ordinário e em que a admissibilidade do recurso depende de uma
decisão de admissibilidade do próprio TJ.
8. BANCO CENTRAL EUROPEU
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 42
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
A União Económica Monetária inerente à União Europeia requer uma estrutura
institucional específica. O Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC) é composto pelo
Banco Central Europeu e pelos Bancos Centrais nacionais dos Estados-membros cuja
moeda seja o euro. É esta a composição do Eurosistema (art. 13º TUE e 282º TFUE).
No plano organizatório, o BCE estrutura-se segundo um modelo comum à maioria
dos Estados Membros, em que as instâncias reguladoras monetárias e financeiras
surgem independentes e autónomas face ao poder político, respondendo apenas face
a democracia do mercado. Esta autonomia traduz-se na identidade própria dos seus
agentes e órgãos e nos poderes de auto e hétero-regulamentação que apresentam.
Ao contrário do que sucede com as outras instituições da União, a União Económica
e Monetária assenta em duas entidades:
• Sistema Europeu de Bancos Centrais • Banco Central Europeu
Ainda que, apenas a última tenha personalidade jurídica, estas surgem
irremediavelmente ligadas: o Banco Central Europeu faz parte do SEBC e o SEBC é
dirigido pelos órgãos de decisão do BCE.
O Banco Central Europeu é hoje qualificado expressamente como instituição da
União (13º/1 TL), embora não seja em rigor um órgão, mas sim uma pessoa jurídica,
dotada, por isso, de personalidade jurídica, regida por um estatuto e dotada de órgãos
próprios.
É de ressaltar a característica de independência do BCE, imposta no 282º/3 TFUE,
tal como a obrigação de respeito por parte dos Governos dos EM dessa mesma
independência.
Composição:
O Conselho do BCE é composto pelos membros da comissão executiva do BCE e
pelos governadores dos bancos centrais nacionais dos países cuja moeda seja o euro
(283º/1 TFUE). Dada a sua composição, o conselho do BCE não tem um mandato
definido, nem uma composição fixa do ponto de vista individual. Dispõe de poder de
auto-organização.
O Presidente do Conselho do BCE pode participar nas reuniões do Conselho da
União Europeia quando este deliberar sobre questões relativas aos objetivos e
atribuições do SEBC. Contudo, parece que tal direito de participação depende de
convite do Conselho.
As deliberações do Conselho são tomadas por maioria simples, salvo disposição em
sentido diverso, ainda que o quórum constitutivo esteja fixado em 2/3 dos seus
membros. É a este órgão que contendem competências decisórias, consultivas e
sancionatórias.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 43
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
A Comissão Executiva é o órgão de pessoas, escolhidas de acordo com critérios de
competência técnica especializada e independência. A independência é ainda
assegurada pela duração do mandato (8 anos, não renováveis), pelo modo de
designação e pela independência e exclusividade do exercício das suas funções.
O que faz o Banco Central Europeu?
✓ Fixa as taxas de juro dos empréstimos que concede aos bancos comerciais na
zona euro, controlando, desta forma, a oferta monetária e a inflação
✓ Gere as reservas de divisas da zona euro, assim como a compra e venda de
divisas para equilibrar as taxas de câmbio
✓ Garante uma supervisão adequada dos mercados e instituições financeiras
pelas autoridades nacionais e o bom funcionamento dos sistemas de
pagamento
✓ Preserva a segurança e a solidez do sistema bancário europeu
✓ Autoriza a produção de notas de euro pelos países da zona euro
✓ Acompanha a evolução dos preços e avalia os riscos para a estabilidade dos
preços
Composição em suma:
O Presidente do BCE representa o banco nas reuniões europeias e internacionais de
alto nível. O BCE tem três instâncias de decisão:
➢ O Conselho do BCE, que é a principal instância de decisão.
É composto pelos seis membros da Comissão Executiva e pelos governadores dos
bancos centrais dos países da zona euro.
➢ A Comissão Executiva, que trata da gestão quotidiana do BCE.
É constituída pelo Presidente, o Vice-Presidente e quatro vogais que são nomeados
por um período de oito anos pelos dirigentes dos países da zona euro.
➢ O Conselho Geral, que desempenha essencialmente funções de consulta e
coordenação.
É constituído pelo Presidente e pelo Vice-Presidente do BCE e pelos governadores
dos bancos centrais de todos os países da UE.
Como funciona? O BCE trabalha com os bancos centrais de todos os países da UE.
Juntos, constituem o Sistema Europeu de Bancos Centrais. O BCE dirige a cooperação
entre os bancos centrais na zona euro, constituindo o Eurosistema.
O que fazem as instâncias de decisão:
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 44
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
• O Conselho do BCE acompanha a evolução da política económica e
monetária, define a política monetária da zona euro e fixa as taxas de juro a
que os bancos comerciais podem contrair empréstimos junto do Banco
Central.
• A Comissão Executiva executa a política monetária, gere as operações
correntes, prepara as reuniões do Conselho do BCE e exerce os poderes que
lhe são delegados pelo Conselho do BCE.
• O Conselho Geral participa nos trabalhos de consulta e coordenação e ajuda
a preparar a adesão de novos países à zona euro.
9. TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU
Enquanto órgão independente de controlo externo da UE, o Tribunal de Contas
Europeu defende os interesses dos contribuintes europeus. Ainda que não disponha
de poder jurisdicional próprio, cabe ao TCE contribuir para a melhoria da gestão do
orçamento de UE por parte da Comissão Europeia e dar conta da situação financeira
da União.
O Tribunal de Contas enquanto tal foi criado pelo Tratado de Bruxelas de 1975,
tendo assumido a veste de instituição com o TM.
Composição: Composto por 28 juízes (por um nacional de cada estado) – 285º,
escolhidos de entre personalidades que que pertençam ou tenham pertencido, nos
respetivos Estados, a instituições de fiscalização externa ou que possuam uma
qualificação especial para essa função e que ofereçam todas as garantias de
independência.
Os membros do Tribunal de Contas são nomeados pelo Conselho, após consulta do
Parlamento, por um período de 6 anos renovável. Os membros elegem de entre si o
Presidente por um período de três anos renovável.
A independência suposta não é apenas genética (aquando da nomeação), mas
também funcional (no cumprimento das suas funções em regime de dedicação
exclusiva).
Competências:
✓ Audita as receitas e despesas da UE, para verificar se os fundos são corretamente
cobrados e gastos, se são investidos com eficácia para produzir valor
acrescentado e se as operações foram devidamente contabilizadas
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 45
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
✓ Controla as pessoas e as organizações que gerem fundos da UE, nomeadamente
através de controlos aleatórios nas instituições europeias (em especial a
Comissão), nos Estados- Membros e nos países que recebem ajudas da UE
✓ Apresenta as suas conclusões e recomendações em relatórios de auditoria
dirigidos à Comissão Europeia e aos Estados-Membros
✓ Comunica suspeitas de fraude, corrupção ou atividades ilícitas ao Organismo
Europeu de Luta Antifraude (OLAF)
✓ Elabora um relatório anual dirigido ao Parlamento Europeu e ao Conselho da UE,
que o Parlamento analisa antes de proceder à aprovação do orçamento da UE
✓ Emite pareceres especializados dirigidos aos responsáveis políticos sobre como
melhor gerir os dinheiros públicos e prestar contas da sua utilização aos cidadãos
Além disso, publica pareceres sobre propostas legislativas que têm incidência na
gestão financeira da UE, assim como documentos de opinião e análise e outras
publicações sobre finanças públicas da UE.
Para ser eficaz, o Tribunal de Contas tem de ser independente em relação às
instituições e aos organismos que controla, devendo, por conseguinte, poder decidir
sobre:
• O que controla;
• Como controla;
• Como e quando apresenta as suas conclusões.
O trabalho de auditoria do TCE incide essencialmente na Comissão Europeia, a
principal instituição responsável pela execução do orçamento da UE. Mas o Tribunal
também trabalha em estreita colaboração com as autoridades nacionais, uma vez que
a maior parte (cerca de 80 %) dos fundos da UE é gerida em conjunto por estas e pela
Comissão.
Funcionamento:
O TCE leva a cabo 3 tipos de auditorias:
• Auditorias Financeiras - verifica se as contas são um retrato fiel da situação
financeira, dos resultados e da situação líquida para o exercício em causa
• Auditorias de Conformidade - verifica se as operações financeiras respeitam as
regras em vigor
• Auditorias de Desempenho - verifica se os fundos da UE cumprem os objetivos
a que se destinam com um mínimo de recursos possível e com a máxima rentabilidade.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 46
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
O Tribunal está dividido em grupos de auditoria designados «câmaras». Cabe-lhes
preparar relatórios e pareceres que são, em seguida, adotados pelos membros do
Tribunal, tornando-se assim oficiais.
ÓRGÃOS E INSTÂNCIAS COMPLEMENTARES
Os Tratados prevêem um conjunto diversificado de órgãos com caráter técnico e/ou
consultivo, especializados ou não.
1. ALTO REPRESENTANTE E SERVIÇO EUROPEU PARA A AÇÃO EXTERNA
O Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de
Segurança (Alto Representante) é responsável pela coordenação e condução da
Política Externa e de Segurança Comum (PESC) e da Política Comum de Segurança e
Defesa da União Europeia (UE). O Alto Representante é também um dos vice-
presidentes da Comissão Europeia e, nessa qualidade, garante a consistência da ação
externa geral da UE.
A figura de Alto Representante para os Negócios Estrangeiros e Política de
Segurança é uma novidade do Tratado de Lisboa constituindo uma figura híbrida da
União, na media em que é simultaneamente membro da Comissão Europeia (Vice-
Presidente) e Presidente do Conselho dos Negócios Estrangeiros.
As suas atribuições relativamente à PESC são muito amplas e prevalecem sobre
quaisquer competências que o Tratado reconheça ao Presidente do Conselho Europeu.
Compete ao Alto Representante:
✓ Emanar propostas para a definição da PESC (18º/2)
✓ Condução e representação da União no âmbito da PESC. É neste contexto
que se prevê que o Alto Representante assuma a representação externa da
União (17º/1).
Nomeação: O Alto Representante é nomeado para um mandato de cinco anos pelo
Conselho Europeu por maioria qualificada (após acordo do Presidente da Comissão
Europeia). A nomeação do Alto Representante está também sujeita ao voto de
aprovação do Parlamento Europeu, em conformidade com o artigo 17.o do Tratado da
União Europeia. Isto deve-se ao facto de o Alto Representante ser também um dos
vice-presidentes da Comissão Europeia e de a nomeação deste órgão, como um todo,
requerer a aprovação do Parlamento Europeu.
Responsabilidades:
• Contribui para o desenvolvimento a PESC apresentando propostas ao Conselho
da União Europeia e ao Conselho Europeu.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 47
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
• O Alto Representante garante depois a implementação das decisões que são
adotadas.
• Como vice-presidente da Comissão, o Alto Representante garante que a ação
externa geral da UE nas áreas da ajuda ao desenvolvimento, comércio, ajuda
humanitária e resposta a crises é consistente e eficaz.
• O Alto Representante preside à reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros
no Conselho da União Europeia.
• O Alto Representante também representa a UE em questões relacionadas com a
PESC.
• Outras funções incluem a direção da Agência Europeia de Defesa e do Instituto
de Estudos de Segurança da União Europeia.
O Alto Representante é apoiado na condução das suas funções pelo Serviço
Europeu para a Ação Externa
(SEAE). O SEAE foi criado pelo Tratado de Lisboa e baseia-se no artigo
27.o do Tratado da União Europeia. É composto por funcionários do Secretariado-
Geral do Conselho e da Comissão, assim como por pessoal destacado pelos serviços
diplomáticos dos países da UE.
O Serviço Europeu para a Ação Externa, criado no 27º/3 TL, funciona sobre
autoridade do Alto Representante. Este é considerado um órgão da União Europeia
funcionalmente autónomo (1º/2 da decisão 2010/427/UE de 26/07), sob autoridade
do AR e separado do Secretariado-Geral do Conselho e da Comissão, com a capacidade
jurídica necessária para desempenhar as suas atribuições e alcançar os seus objetivos,
que visam a salvaguarda do interesse da União e não dos EM.
Este tem sede em Bruxelas e é constituídos por dois órgãos:
• Administração Central: Organiza-se em Direções Gerais e é gerido por um
Secretário Geral Executivo, sob autoridade do AR.
• Delegações da União: Abertas ou encerradas por decisão do AR.
Competências do SEAE:
• Apoiar o AR na PESC na sua tripla qualidade de Presidente do Conselho dos
Negócios Estrangeiros, de Vice-Presidente da Comissão Europeia e de Alto
Representante;
• Contribuir para que seja assegurada a coerência interna e externa.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 48
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
2. COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL
Órgão previsto desde a versão originária do TR institutivo da CEE, previsto
atualmente como órgão consultivo dos órgãos deliberativos da UE (PE, Comissão
Europeia e Conselho). Este representa a sociedade civil organizada.
O Comité Económico e Social Europeu (CESE) é uma instância consultiva composta
de representantes de organizações de trabalhadores e de empregadores e de outros
grupos de interesse. O Comité emite pareceres sobre temáticas europeias dirigidos à
Comissão Europeia, ao Conselho e ao Parlamento Europeu, fazendo a ponte entre as
instâncias de decisão da UE e os cidadãos.
Os membros do CESE representam organizações de empregadores e de
trabalhadores e grupos de interesse no domínio social de toda a Europa. São
designados pelos governos nacionais e nomeados pelo Conselho da UE por períodos
renováveis de 5 anos. O número de membros por país depende da população de cada
país.
O CESE é consultado pelo Parlamento Europeu, o Conselho da UE e a Comissão
Europeia sobre vários assuntos. Também emite pareceres de sua própria iniciativa. Os
membros trabalham para a UE de forma independente em relação aos respetivos
governos. Reúnem 9 vezes por ano. Os pareceres são adotados por maioria simples. As
reuniões são preparadas por secções especializadas do CESE e pela Comissão
Consultiva das Mutações Industriais. Os grupos de reflexão do CESE (também
conhecidos por observatórios) e o Comité de Pilotagem para a Estratégia Europa 2020
acompanham os progressos das estratégias da UE. O CESE mantém contactos com os
conselhos económicos e sociais regionais e nacionais na UE, essencialmente para
trocar informações e discutir questões de interesse comum.
3. COMITÉ DAS REGIÕES EUROPEU
O Comité das Regiões Europeu é um órgão consultivo composto por representantes
eleitos de autoridades regionais e locais dos 28 países da UE, instituído pelo TM –
300º/1 TFUE. O Comité das Regiões Europeu proporciona um espaço de partilha de
opiniões sobre a legislação europeia com impacto direto nas regiões e nas cidades.
Através do Comité das Regiões Europeu as regiões e as cidades têm voz ativa no
processo legislativo europeu, garantindo esta instância que os interesses e as
necessidades das autoridades regionais e locais são devidamente considerados.
• A Comissão Europeia, o Conselho da UE e o Parlamento Europeu devem
consultar o Comité das Regiões Europeu quando elaboram textos legislativos
sobre matérias em que as autoridades regionais e locais têm uma palavra a
dizer, como é o caso do emprego, da política social, da coesão económica e
social, dos transportes, da energia e das mudanças climáticas.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 49
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
• Se tal não acontecer, o Comité das Regiões Europeu pode interpor uma ação
junto do Tribunal de Justiça.
• Uma vez recebida a proposta legislativa, o Comité das Regiões Europeu
elabora e aprova um parecer que envia às outras instituições europeias.
• O Comité das Regiões Europeu emite também pareceres de sua própria
iniciativa.
Os membros do Comité das Regiões Europeu são representantes eleitos de
autoridades regionais e locais, que são nomeados para um mandato de cinco anos pelo
Conselho, sob proposta do respetivo país. O número de membros por país depende da
população de cada país. Os membros de um país constituem a respetiva delegação
nacional, que reflete os equilíbrios políticos, geográficos, regionais e locais desse país.
O Comité das Regiões Europeu designa um relator (de entre os seus membros)
encarregado de consultar as partes interessadas e de elaborar um parecer. O texto é
discutido e aprovado pela comissão do Comité das Regiões Europeu responsável pela
área política em causa. O parecer é então apresentado a todos os membros em sessão
plenária, onde é submetido a votação com vista à respetiva alteração e adoção. Uma
vez aprovado, o parecer é divulgado e enviado a às instituições europeias.
4. BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO
O Banco Europeu de Investimento (BEI) é detido conjuntamente pelos países da UE
– 308º e 309º TFUE. Os seus objetivos são:
• Melhorar o potencial da Europa em termos de emprego e crescimento
• Apoiar ações para atenuar as alterações climáticas
• Promover as políticas europeias no exterior da UE
O BEI levanta dinheiro nos mercados de capitais e empresta-o em condições
favoráveis a projetos que apoiem os objetivos da UE. Cerca de 90 % dos empréstimos
são concedidos para investimentos dentro da UE. Nenhum do dinheiro emprestado
pelo BEI provém do orçamento da UE. O BEI disponibiliza 3 tipos principais de produtos
e serviços: empréstimos, financiamento misto e aconselhamento.
Todos os países da UE são acionistas no BEI.
5. PROVEDOR DE JUSTIÇA EUROPEU
O Provedor de Justiça Europeu investiga queixas relativas a casos de má
administração por parte das instituições ou outros organismos da UE. As queixas
podem ser apresentadas por nacionais ou residentes dos países da UE ou por
associações ou empresas estabelecidas na UE.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 50
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
O Provedor de Justiça Europeu é nomeado pelo Parlamento Europeu (art. 228º
TFUE) sendo o órgão competente para receber queixas apresentadas por qualquer
cidadão da UE ou qualquer pessoa singular ou coletiva com residência ou sede
estatutária num Estado membro.
O PJ deve atuar com independência e imparcialidade em casos de salvaguarda de
direitos fundamentais e do Estado de Direito, cabendo-lhe ainda a apreciação da má
administração na atuação das Instituições e órgãos comunitários e a melhoria dos
serviços por essas fornecidos. O PJ pode conduzir inquérito, embora não tenha
legitimidade para iniciar processos judiciais. As suas tarefas traduz-se na mediação e
ligação com os Provedores de Justiça nacionais, embora não tenha poderes decisórios.
Sempre que o Provedor de Justiça constate uma situação de má administração
apresentará o assunto à instituição/órgão em causa, que dispõe de um prazo de 3
meses para lhe apresentar a sua posição. O PJ enviará seguidamente um relatório ao
Parlamento Europeu e àquela instituição/órgão.
O Provedor de Justiça investiga diferentes tipos de casos de má administração, por
exemplo:
• Comportamento abusivo
• Discriminação
• Abuso de poder
• Omissão de informação ou recusa de prestar informações
• Atrasos desnecessários
• Não respeito dos procedimentos
O Parlamento Europeu elege o Provedor de Justiça por um período de cinco anos,
renovável. Trata-se de uma das suas primeiras tarefas no início de cada mandato.
O gabinete do Provedor de Justiça, que é imparcial e não recebe ordens de qualquer
governo ou entidade, pode dar início a um inquérito na sequência de uma queixa ou
por sua própria iniciativa. O Provedor de Justiça apresenta um relatório de atividade
anual ao Parlamento Europeu.
O Provedor de Justiça poderá conseguir resolver o seu problema informando
simplesmente a instituição visada. Se forem necessárias mais medidas, procurará
encontrar uma solução amigável para o problema. Se tal não for suficiente, poderá
emitir recomendações dirigidas à instituição em causa. Se esta não aceitar as suas
recomendações, o Provedor de Justiça poderá elaborar um relatório especial dirigido
ao Parlamento Europeu, para que este tome as medidas políticas necessárias.
6. EUROPOL
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 51
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
A EUROPOL tem por missão apoiar e reforçar a ação das autoridades policiais e dos
outros serviços responsáveis pela aplicação da lei nos Estados-membros, bem como a
cooperação entre essas autoridades na prevenção das formas graves de criminalidade
lesivas de um interesse comum (art. 88º TFUE).
Enquanto agência responsável por garantir o cumprimento da legislação da UE, o
Serviço Europeu de Polícia (Europol) tem como missão contribuir para uma Europa
mais segura, prestando assistência às autoridades responsáveis por garantir o
cumprimento da lei nos países da UE.
Missão: A EUROPOL ajuda as autoridades policiais nacionais a combater a
criminalidade internacional e o terrorismo.
7. EUROJUST
A EUROJUST tem por missão apoiar e reforçar a coordenação e a cooperação entre
as autoridades nacionais competentes para a investigação e o exercício da ação penal
em matéria de criminalidade grave que afete dois ou mais Estados-membros (art. 85º
TFUE).
A EUROJUST é um organismo da União Europeia criado em 2002 para estimular e
melhorar a coordenação entre as autoridades judiciárias dos Estados-Membros da
União Europeia competentes para a investigação e o exercício da ação penal
relacionados com a criminalidade grave organizada de natureza transnacional.
8. AGÊNCIAS E ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
OUTROS ÓRGÃOS AUXILIARES (COMITÉS)
Os tratados preveem ainda um conjunto importante de órgãos auxiliares,
particularmente os Comités, que contribuem para a preparação técnica e formação da
vontade dos órgãos da União.
1. SISTEMA EUROPEU DE BANCOS CENTRAIS
Constitui-se pelo Banco Central Europeu e pelos Bancos Centrais Nacionais, sendo
gerido pelos órgãos decisórios do BCE – 282º/1 e 107º/3 TFUE. Encontramos no 127º
TFUE os seus objetivos e atribuições.
Direito Institucional da União Europeia
3. Procedimentos de Decisão da União Europeia
1. Considerações Gerais
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 52
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
O processo de formação da vontade da União Europeia conheceu uma reforma
profunda com o Tratado de Lisboa. Com a fusão prática da Comunidade Europeia e da
União Europeia operada com o Tratado de Lisboa, deixa de se justificar uma cisão entre
procedimentos de decisão na Comunidade Europeia e procedimentos de decisão da
União Europeia. Continua a haver procedimentos ou especificidades procedimentais em
diversas matérias, sobretudo naquelas que, até ao Tratado de Lisboa, estavam
submetidas a um procedimento normativo ou decisório com uma dimensão de
intergovernamentalidade mais importante ou, em todo o caso, relevante. Apesar de
algumas particularidades, será mais útil que se trace as seguintes linhas de
compreensão: (i) os processos de formação da vontade na União reconduzem-se hoje
a processos tendentes à adoção de actos legislativos ou de actos não legislativos; (ii)
os processos tendentes à própria revisão do chamado direito originário ou primário
conhecem alguma sofisticação ou maior densificação e diversidade.
Ao contrário do regime vigente, anterior ao Tratado de Lisboa, não pode hoje
dizer-se que existe um procedimento comum de decisão. Mas, a existir, será o processo
legislativo ordinário. Importa reter algumas considerações sobre o modo como funciona
o processo de formação da vontade da União, em termos tendenciais e sujeitos depois
à adequação apropriada ao procedimento – legislativo, ordinário ou especial, ou não
legislativo – concretamente aplicável.
A adoção de um acto (repita-se, legislativo ou não legislativo) inicia-se,
normalmente, com (i) a iniciativa da Comissão, praticamente exclusiva (especialmente
nos processos legislativos). Solicitada por Conselho ou Parlamento Europeu (artigos
241º ou 225º TFUE) ou interessada na regulação europeia de uma determinada matéria,
a Comissão elabora uma proposta que apresenta ao Conselho e Parlamento Europeu. A
proposta deve ser formulada no respeito das competências específicas de cada órgão e
deve assentar numa base jurídica expressa do tratado, visto que a União só pode atuar
no quadro dos poderes atribuídos. Daí que a Comissão tenha de escolher no tratado a(s)
base(s) jurídica(s) adequada(s) para a adoção do acto em causa. É uma das fases
fundamentais do processo decisório. Deve ainda respeitar o disposto nos princípios da
subsidiariedade e proporcionalidade e as competências conferidas aos parlamentos
nacionais (artigo 5º, nºs 1 e 3 – TUE, Lisboa).
O Tratado de Lisboa introduziu um conjunto de disposições que se impõem às
instituições no processo de formação dos actos. Primeiro, estabelece o princípio da
escolha dos actos (legislativos ou não) em respeito pelos processos aplicáveis e pelo
princípio da proporcionalidade. Esta menção do artigo 296º TFUE, reenvia-nos para a
declaração do Conselho Europeu de Edimburgo, a respeito do princípio da
proporcionalidade, se estabeleceu que “as medidas comunitárias deverão deixar às
instâncias nacionais competentes uma margem de decisão tão ampla quanto possível
(...). Sempre que seja necessário estabelecer normas a nível comunitário, dever-se-á
ponderar a possibilidade de estipular normas mínimas, não apenas nas áreas em que o
Tratado exige (...) A legislação comunitária deverá restringir-se ao estritamente
necessário”.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 53
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
(ii) Após a adoção da proposta pela Comissão, esta é enviada ao Conselho e
Parlamento Europeu, que a discutem em grupos de trabalho específicos (quanto ao
Conselho) e nas comissões parlamentares competentes em razão da matéria (quanto ao
Parlamento Europeu). É no seio destes órgãos que o acto é preparado para decisão final
do Conselho e do Parlamento Europeu. Neste ponto, há que fazer algumas precisões.
A primeira precisão a realizar, é a de que o Conselho não pode facilmente
modificar a proposta da Comissão, já que o Tratado prescreve que, “sempre que, por
força dos tratados, delibere sob proposta da Comissão, o Conselho só pode alterar a
proposta deliberando por unanimidade” (artigo 293º, nº1 TFUE), salvo nos casos
previstos neste mesmo artigo (artigos 294º, nºs 10-13, 310º, 312º, 314º e 315º). Pelo
contrário, a Comissão é livre de, a todo o tempo ou, na linguagem do Tratado “em
qualquer fase dos procedimentos para a adoção de um acto”, alterar a sua proposta
(artigo 293º, nº2 TFUE), não se ressalvando sequer o processo legislativo ordinário,
como antes sucedia.
Em casos que o Parlamento Europeu seja consultado, em processos legislativos
especiais ou em processos não legislativos, deve sê-lo sobre o acto na sua versão
última, não podendo o Conselho alterar substancialmente o acto após a audição do
Parlamento Europeu. Após a consulta do Parlamento Europeu, o Conselho (iii) adota ou
não o acto, pelo modo previsto no tratado para aquela situação particular, sem que
possa fugir aos constrangimentos atrás mencionados e a outros requisitos
procedimentais. No processo decisório, os órgãos de decisão estão vinculados pelas suas
próprias regras procedimentais, foi assim que o Tribunal de Justiça já anulou actos
comunitários com fundamento em violação de formalidades essenciais em situações em
que, por exemplo, o Conselho não respeitou o seu próprio regulamento interno.
Todos os actos jurídicos da União Europeia devem ser fundamentados,
devendo ainda fazer menção a todos os actos preparatórios previstos nos tratados,
sob pena de invalidade (artigo 296º TFUE).
Devem também, ainda, ser publicados ou notificados, consoante os casos. Em
termos genéricos, a obrigação de publicação só se apresenta para os actos legislativos
(artigo 297º, nº1 - TFUE), para os regulamentos e para as diretivas dirigidas a todos os
Estados membros (artigo 297º, nº2 – TFUE), sendo os restantes atos obrigatórios
apenas notificados os seus destinatários (nº3 do mesmo artigo – TFUE). A publicação,
quando devida, parece ser condição de validade dos próprios actos. Já a não notificação
gera a ineficácia do acto, mas não a sua invalidade.
2. Processos legislativos
Considerações Gerais
A reforma que o Tratado de Lisboa introduziu nos processos decisórios da União
Europeia não se reconduz a uma implementação do efeito de fusão entre União e
Comunidade, mas tem como elementos fundamentais a supressão de um conjunto
variado de procedimentos tradicionais de decisão na Comunidade. O Tratado de Lisboa
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 54
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
introduz formalmente a distinção de processos legislativos e processos não legislativos
(e, concomitantemente, actos legislativos e actos não legislativos).
Os processos legislativos, na nova União Europeia, distinguem-se entre
processo legislativo ordinário e processo legislativo especial, pela primeira vez, é o
próprio TFUE que nos diz o que é cada um. Centremo-nos nos processos legislativos.
Eles caracterizam-se não pela natureza das normas, nem pelo seu objeto, mas pelo seu
processo de elaboração e pela sua designação. A natureza do acto legislativo resulta
assim da circunstância de ser adotado segundo um processo legislativo, como se lê no
artigo 289º, nº3 do TFUE, “os atos jurídicos adoptados por processo legislativo
constituem atos legislativos”. Em princípio, os actos legislativos são adoptados sob
iniciativa da Comissão Europeia, salvo disposição em contrário (artigo 17º, nº2 – TUE,
Lisboa), nos casos específicos previstos pelos tratados (artigo 289º, nº4 TFUE). Por sua
vez, os actos legislativos são publicados no Jornal Oficial da União Europeia, entrando
em vigor na data por eles fixada ou após um período de vacatio legis de vinte dias (artigo
297º, nº1). Subsistem ainda alguns procedimentos especiais (artigo 7º TUE – Lisboa;
artigo 215º TFUE).
Processo Legislativo Ordinário
De acordo com o artigo 289º, nº1 – TFUE, “o processo legislativo ordinário
consiste na adoção de um regulamento, de uma diretiva ou de uma decisão
conjuntamente pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, sob proposta da Comissão.
Este processo é definido no artigo 294º” do TFUE. Em suma, nesta norma condensam-
se os elementos essenciais e característicos do processo:
à A iniciativa da Comissão (artigo 289º, nº1 + artigos 294º, nº2 – ambos do TFUE; artigo
17º, n2º TUE – Lisboa);
à A natureza vinculativa do acto a adotar (regulamento, diretiva ou decisão);
à O procedimento aplicável (artigo 294º TFUE);
à A possível intervenção dos Parlamentos Nacionais, no controlo do princípio da
subsidiariedade;
à A adoção conjunta pelo Parlamento Europeu e Conselho (artigo 289º, nº1; artigo
294º, nºs 4 e 6 a 12; artigos 15º, nº1, e 16º, nº1 TUE – Lisboa);
Este leque de elementos pode não estar sempre presente. Pode suceder, em
primeiro lugar, que o processo legislativo ordinário se aplique sem precedência
obrigatória de proposta da Comissão. O artigo 17º, nº2 TUE – Lisboa ressalva a existência
de “disposição em contrário dos Tratados” e o artigo 294º TFUE contêm disposições
específicas” aplicáveis aos casos em que um acto legislativo seja submetido ao processo
legislativo ordinário “por iniciativa de um grupo de Estados membros, por
recomendação do Banco Central Europeu ou a pedido do Tribunal de Justiça”. Em
segundo lugar, o Tratado também prevê que o processo legislativo ordinário seja
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 55
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
utilizado para a adoção de “orientações”, “ações” ou “projetos comuns” (v. artigo 172º
TFUE), “programas gerais” (artigo 192º, nº3 TFUE) ou até medidas que excluam
“harmonização das disposições legislativas e regulamentares do Estado membro”
(artigo 195º, nº2 TFUE). Noutras hipóteses ainda, o tratado impõe que o processo
legislativo ordinário utilize um tipo específico de ato, como regulamento. Noutros casos,
ainda, o processo legislativo ordinário sofre alguns desvios no seu próprio
funcionamento.
A aplicação do processo legislativo ordinário pode também ser decidida (i) pelo
Conselho Europeu, nos casos em que originalmente os tratados prevejam a aplicação
de um processo legislativo especial, após a decisão do Conselho Europeu, segundo o
procedimento de revisão simplificado previsto no artigo 48º, nº7 TUE – Lisboa; ou (ii)
pelo próprio Conselho, por unanimidade, em relação a certas disposições de política
social (artigo 153º, nº2 TFUE) ou de política de ambiente (artigo 192º, nº2 TFUE), no
quadro das cooperações reforçadas (artigo 333º, nº2 TFUE) ou para a definição do
Estatuto dos Funcionários (artigo 336º TFUE). Os actos adoptados segundo o processo
legislativo ordinário só estão perfeitos quando forem assinados pelos presidentes do
Parlamento Europeu e do Conselho (artigo 297º, nº1 TFUE), sendo igualmente condição
da sua validade a publicação no Jornal Oficial da União Europeia (artigo 297º, nº4 TFUE).
A criação do processo legislativo ordinário é uma modificação extremamente, relevante
da ordem jurídica da União.
Processos Legislativos Especiais
São também actos legislativos aqueles que são aprovados através de processo
legislativo especial. A expressão “processo legislativo especial”, segundo o artigo 289º,
nº2 TFUE, representa aquelas situações em que um acto vinculativo da União (um
regulamento, uma diretiva ou uma decisão) é adotado por apenas um órgão
(Parlamento Europeu ou o Conselho) mas com a participação do outro (o Conselho ou
o Parlamento Europeu). Essa participação pode ser diversa, consistindo na aprovação
ou na consulta do outro órgão, normalmente o Parlamento Europeu. Em muitas
hipóteses, a intervenção do Conselho ou, sobretudo, do Parlamento Europeu é
meramente consultiva.
Quando a “participação” confere à instituição não autora do acto o direito de
aprovar ou não aprovar o acto, existe na verdade em favor desse não-autor um
verdadeiro “direito de veto”.
Também pode suceder que a iniciativa de um acto sujeito a processo legislativo
especial não caiba à Comissão, como é regra (artigo 17º, nº2 TUE – Lisboa), mas ao
Parlamento Europeu (artigo 223º, nº2 TFUE).
Em muitos casos, os tratados prevêem que, sem necessidade de revisão formal
dos tratados, o Conselho Europeu ou o Conselho determinem que actos adoptados
segundo um processo legislativo especial passem a ser adoptados segundo um processo
legislativo ordinário (v., por todos, o artigo 48º, nº7 TUE – Lisboa). As regras de perfeição
dos actos adoptados segundo o processo legislativo especial determinam ainda que
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 56
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
sejam assinados pelo “Presidente da instituição que os adotou” (artigo 297º, nº1 TFUE),
aplicando-se-lhe as demais disposições previstas em geral para os actos legislativos.
Processos de Vinculação Internacional
No domínio da ação externa da União, o poder de aprovação de normas,
internas ou com países terceiros ou organizações internacionais, repousa
essencialmente no Conselho, normalmente sob proposta (conjunta) do Alto
Representante e da Comissão (artigo 22º, nº2 TUE – Lisboa).
Em termos gerais, a vinculação internacional opera nos termos previstos no
artigo 218º TFUE, com algumas especificidades (artigo 50º TUE – Lisboa), competindo
ao Conselho a competência para celebrar acordos internacionais em nome da União. O
poder deliberativo do Conselho encontra-se submetido à consulta ou, nos casos
previstos na alínea a) do nº6 do artigo 218º TFUE, à aprovação do Parlamento Europeu,
nos casos de acordos de associação, do acordo de adesão à CEDH, de acordos com
consequências orçamentais da União. Pode concluir-se que os processos de vinculação
internacional foram, por um lado, significativamente simplificados e, por outro, foram
objeto de um reforço da componente de controlo democrático parlamentar, pela
acrescida sujeição a aprovação do Parlamento Europeu.
Processos de Revisão dos Tratados
A revisão dos Tratados também sofre algumas alterações face ao regime
anterior. Prevêem-se hoje um processo ordinário de revisão dos tratados e processos
simplificados (artigo 48º, nº1 do TUE – Lisboa). O processo de revisão ordinário
encontra-se previsto no artigo 48º, nºs 2 a 5 do TUE – Lisboa. Em rigor, não nos parece
que exista apenas um único processo ordinário de revisão, pois o próprio tratado admite
variações procedimentais.
Em princípio, o processo de revisão ordinário tem os seguintes elementos –
iniciativa, fase institucional, fase “convencional” e fase estadual, com os seguintes
momentos-chave:
à Iniciativa do ou dos projetos (de um Governo, da Comissão ou do Parlamento
Europeu) e a sua apresentação ao Conselho;
à O Conselho transmite os projetos ao Conselho Europeu e notifica os parlamentos
nacionais;
à O Conselho Europeu ouve o Parlamento Europeu, a Comissão e o Banco Central
Europeu;
à O Conselho Europeu delibera favoravelmente à “análise” das alterações propostas,
por maioria simples;
à O Presidente do Conselho Europeu convoca a Convenção;
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 57
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
à A Convenção analisa os projetos de revisão e adota “por consenso” uma
recomendação dirigida à Conferência dos Representantes dos Governos dos Estados
membros (a Conferência Intergovernamental);
à O Presidente do Conselho (e não do Conselho Europeu) convoca a Conferência
Intergovernamental;
à A Conferência intergovernamental define, de comum acordo, as alterações aos
Tratados;
à As alterações são ratificadas por todos os Estados membros, “em conformidade com
as respetivas normas constitucionais”, após o que podem entrar em vigor;
Ainda no quadro do processo de revisão ordinário, o nº5 do artigo 48º TUE –
Lisboa declara que o Conselho Europeu “analisa a questão” de saber o que fazer, se, no
prazo de dois anos a contar da data da sua assinatura, quatro quintos dos Estados
membros tiverem ratificado e um ou mais Estados membros “tiverem deparado com
dificuldades em proceder a essa ratificação”. Seja qual for o alcance da norma, não se
prevê a adoção de deliberação do Conselho Europeu, nem a possibilidade de a entrada
em vigor desse tratado ser possível, sem a ratificação de um Estado membro.
O artigo 48º TUE – Lisboa prevê hoje a existência de processos de revisão
simplificados, nos seus nºs 6 e 7. Além destes, outras disposições dos tratados prevêem
igualmente processos de revisão “simplificados”, ou seja, processos de alteração de
disposições dos tratados ou de direito originário sem convocação de conferência
intergovernamental e, em especial, sem necessidade de ratificação por todos os Estados
membros como condição da sua entrada em vigor.
Parte III – A ordem jurídica da União (Princípios e Fontes)
1. Fontes de Direito da União Europeia
Direito Originário ou Primário
No Direito da União distingue-se o direito que criou e moldou a actual União
Europeia daquele direito que é criado no dia-a-dia da vida da Comunidade e da União,
pelos órgãos previstos nos tratados e com o propósito de realizar os objetivos naqueles
instrumentos assinalados.
A determinação do que seja Direito Originário ou Direito Primário da União
Europeia tende a seguir um critério de fonte formal. É o direito criado pelos Estados
membros através de tratados internacionais, constituído pelas normas que criaram a
União Europeia, conferindo-lhe as suas atribuições e regulando a sua organização e
regulando a sua organização e funcionamento internos.
A ideia de um direito originário ou primário desempenha funções fundamentais
no quadro da compreensão do sistema jurídico da União Europeia. Em primeiro lugar,
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 58
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
devido ao princípio da atribuição, na sua designação actual, a União só pode intervir
para realizar os objetivos e atribuições que para el resultam dos tratados. Em segundo
lugar, nenhum dos actos da União Europeia pode deixar de encontrar a sua base jurídica
numa norma de direito originário, sob pena de invalidade. Em terceiro lugar, o direito
originário afirma-se como parâmetro de validade normativa de todo o direito derivado:
o direito criado por órgãos da União Europeia.
Estas considerações são bastante relevantes que, tanto o Tribunal de Justiça da
União Europeia como os próprios Estados membros, de uma forma ou de outra,
reconhecem aos Tratados o carácter de “carta constitucional” da União.
• Questão diversa é a da enumeração dos actos que se consideram parte
integrante de direito originário, não é fácil dar um elenco completo, contudo,
podem assinalar-se os seguintes:
à Os tratados que instituíram as três comunidades europeias e a União Europeia
(Tratado de Paris, Tratado de Roma e Tratado de Maastricht);
à Os tratados que vieram rever globalmente os tratados originários (AUE,
Maastricht – na parte em que alterou os tratados anteriores -, Amsterdão, Nice, Lisboa);
à As decisões relativas ao financiamento da União Europeia;
Identificado o âmbito material do direito originário, importa referir, agora, o
modo da incorporação do Direito da União – em particular, neste momento, os Estados
membros – no direito nacional dos Estados membros. Referimo-nos ao modo como o
direito originário da União Europeia se integra e adquire vigência interna, em Portugal.
Deve dizer-se que a nossa Constituição não resolve a questão de forma direta, contudo,
a partir dela, podemos chegar a várias conclusões, quando encaramos a incorporação
das normas de direito da União Europeia no direito interno português. A matéria é
regida pelo artigo 8º da Constituição. Mais concretamente, é o nº2 do artigo 8º da CRP
que se ocupa do modo de incorporação do direito internacional público no direito
interno português:
“2. As normas constantes de convenções internacionais regularmente ratificadas
ou aprovadas vigoram na ordem interna após a sua publicação oficial e enquanto
vincularem internacionalmente o Estado Português.”
Esta norma mostra-nos o modo como o Direito da União Europeia originário de
origem convencional (tratados comunitários, tratados da União, tratados de adesão e
etc.) se incorpora no direito interno português (“depois de regularmente aprovados e
ratificados”). Mas também nos diz que estas normas não se tornam como direito de
origem interna, mas sim, continuam a valer como normas de direito internacional
público. As normas dos Tratados não usufruem de “aplicabilidade direta”, não possuem
essa característica, elas são incorporadas por meio de uma técnica de “receção plena”,
carecendo de receção.
Questão diversa é a da integração de lacunas do direito originário. Se os
Tratados reconhecem à União Europeia a possibilidade de agir apenas de acordo com as
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 59
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
competências que lhes foram conferidas pelos Estados nos tratados, tal poderia a levar
a pensar-se o sistema jurídico da União como um sistema fechado, em que as lacunas
seriam insuscetíveis de integração. Apesar de a União Europeia não poder criar a sua
própria competência, desde cedo que se admite que a falta de previsão de competência
ou dos mecanismos de ação não foi voluntária, permitindo-se a integração de lacunas
do próprio direito originário.
Na doutrina, é comum apontar-se três grandes mecanismos de integração de
lacunas dos tratados: (i) a unidade de sentido imanente dos tratados; (ii) o princípio ou
doutrina das competências implícitas; (iii) o fundamento subsidiário do artigo 352º
TFUE.
§ Unidade de sentido: Primeiro mecanismo, tradicionalmente, usado – em
particular pelo Tribunal de Justiça – presente em vários tratados.
Normalmente, eram os tratados das Comunidades (constituídas em
Roma) que serviam de paradigma para a integração de lacunas do tratado
CECA, mas o inverso também se sucedia. Este método conhecia alguns
limites. Disposições que foram construídas exclusivamente para uma das
Comunidades e para responder a situações jurídicas ou económicas, mais
específicas; outras que só faziam sentido no quadro institucional de uma
das Comunidades. Assim sendo, o recurso a este método de integração
de lacunas não prescinde do estrito respeito pelo princípio da autonomia
institucional e procedimental (artigo 40º TUE – Lisboa), anteriormente
expressos nos artigos 305º CE e 47º UE.
§ Princípio das competências implícitas ou dos poderes implícitos: este
afirma que uma organização internacional deverá ter todas as
competências que sejam necessárias ou convenientes à prossecução dos
seus fins. Acabou por ter uma receção explícita, através da Jurisprudência
do Tribunal de Justiça da União Europeia, que afirmou o princípio do
paralelismo de competências, reconhecendo que a competência interna
da União implica a sua competência externa, se for necessária para a
realização de um dos objetivos da União. Este princípio de paralelismo
não opera de forma automática ou necessária, ele supõe que a
competência interna seja exercida o mais tardar ao mesmo tempo da
competência externa. O Tratado de Lisboa consagrou expressamente o
princípio do paralelismo de competências, afirmando a competência
interna da União quando, no domínio externo, o Tratado lhe reconheça
uma competência exclusiva (nº 2 do artigo 3º do TFUE).
§ Mecanismo dos poderes subsidiários: previsto, em geral, no artigo 352º
TFUE. No nº 1 do artigo 352º TFUE retira-se que “... se uma ação da União
for considerada necessária, no quadro das políticas definidas pelos
Tratados, ..., sem que estes tenham previsto os poderes de ação
necessária para o efeito, o Conselho, ... adotará as disposições
adequadas.” Antes do Tratado de Lisboa, era controvertido o sentido e
alcance desta norma, na doutrina. A norma refere-se às competências
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 60
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
subsidiárias da União, traduz-se num fundamento jurídico que só pode
ser usado se não existir, para uma determinada ação da UE, um outro
fundamento jurídico específico no tratado. A operatividade do
mecanismo encontra-se sujeita ao preenchimento de pressupostos
procedimentais e substanciais. Em relação aos primeiros, a utilização da
base jurídica do artigo 352º TFUE supõe o envolvimento dos órgãos da
União de Direção (Conselho, Comissão Europeia e Parlamento Europeu),
cabendo deliberação final ao Conselho, de acordo com o princípio
unanimitário. Estes pressupostos e o âmbito genérico desta cláusula
coloca ao descoberto os perigos que lhe são conexos, a possibilidade de
poder ser usada para alargar o âmbito de intervenção da União, podendo
uma sua utilização disfuncional permitir até revisões camufladas e
simplificadas do tratado. Por isto mesmo (mas não só), o Tribunal de
Justiça acabou por assinalar importantes limites à utilização deste artigo
(352º TFUE), designadamente:
à O respeito pela “Constituição comunitária”;
à A impossibilidade de fundar um “salto qualitativo de integração”;
Então, é neste quadro que o Tribunal de Justiça proferiu, em 1996, o
parecer nº 2/94, relativo à adesão da então Comunidade Europeia à
CEDH, rejeitando então o artigo 235º CEE (atual 352º TFUE) como base
jurídica para uma tal adesão.
Contudo, as dúvidas não se encontravam totalmente esclarecidas, por isso, é
efeito visível a circunstância de a Conferência Intergovernamental de 2007 ter
introduzido, nos tratados, algumas limitações formais (artigo 352º TFUE, nº2) e
materiais (artigo 352º TFUE, nº3 e 4, artigo 353º) à utilização deste mecanismo
(mecanismo dos poderes subsidiários), além de duas Declarações sobre o seu sentido
e alcance.
Através destas Declarações, a Conferência recorda que “segundo a
jurisprudência constante do Tribunal de Justiça da União Europeia (...), sendo parte
integrante de uma ordem institucional baseada no princípio da atribuição de
competências, o artigo 352º TFUE não pode constituir fundamento para alargar o
âmbito de competências da União pata além do quadro geral resultante do conjunto de
disposições dos Tratados, .... Aquele artigo não pode, ..., servir de fundamento à adoção
de disposições que impliquem em substância, nas suas consequências, uma alteração
dos Tratados ...”.
Esta declaração continuou a ter um conteúdo equívoco, que careceu de
interpretação através da Declaração nº41 anexa à Ata Final da CIG/2007, nos termos da
qual a “referência aos objetivos da União que é feita no nº1 do artigo 352º TFUE diz
respeito aos objetivos definidos nos nºs 2 e 3 do artigo 3º do TUE. Fica assim excluída a
possibilidade de uma ação baseada (neste artigo) visar unicamente os objetivos
definidos no nº1 do artigo 3º do TUE”.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 61
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Substancialmente diversa é a possibilidade de suprir lacunas do direito
originário através da revisão dos próprios tratados. Os tratados institutivos das
Comunidades Europeias eram totalmente autónomos neste ponto, cada um prevendo
os procedimentos da sua própria revisão. Após a criação da UE, em Maastricht, deu-se
a unificação do processo de revisão de tratados.
Questão diversa e mais antiga, é a questão: poderão os tratados ser revistos sem
respeitar o procedimento comum previsto no artigo 48º TUE – Lisboa? O problema
engloba dois tipos de situações. A primeira, saber se existem nos tratados outros
mecanismos de revisão, mais específicos, que derroguem o artigo 48º UE. A segunda, a
determinação sobre se é possível e juridicamente legítima a revisão no quadro
intergovernamental, sem o recurso à fase institucional do processo. É inegável que,
tanto antes como agora, os tratados prevêem procedimentos específicos que permitem
a revisão do Tratado em termos diversos daqueles que resultam do artigo 48º TUE.
Outra questão era a de saber se os Estados membros podem optar por uma
revisão puramente intergovernamental, recusando a aplicação do procedimento do
artigo 48º TUE – Lisboa. Se esta hipótese é plausível, diverso é o entendimento quanto
ao interesse dos Estados membros nessa hipótese. Primeiro, representaria uma violação
clara dos tratados e do princípio pacta sunt servanda, que poderia ter como
consequências, o desencadear de ações por incumprimento contra os Estados
membros, mas também a própria consequência auto-fágica da anulação do ato de
revisão, por força das competências do Tribunal de Justiça. Em segundo, dado o peso
dos órgãos da União na atual configuração do dito processo, não se vê qual o interesse
nessa solução.
Analisado o direito originário da União Europeia no seu conteúdo e analisados
os principais instrumentos jurídicos de integração das suas lacunas, bem como a sua
reconformação, há uma outra questão que deve ser equacionada: a do relacionamento
entre os tratados e os demais compromissos internacionais assumidos pelos Estados
membros da União Europeia. Quanto a este ponto, convêm distinguir duas situações. A
primeira, a dos acordos em que são partes apenas os Estados membros da União, a
segunda, a dos acordos em que apenas algumas ou alguma das Partes são Estados
membros, ou seja, aqueles celebrados entre Estados membros, por um lado, e outros
Estados e organizações, por outro.
Em relação aos acordos celebrados entre Estados membros, dúvidas só se
colocariam em relação ao regime dos instrumentos internacionais celebrados depois da
criação das Comunidades e/ou União, pois as situações de incompatibilidade que
emergissem de compromissos anteriores seriam resolvidas de acordo com as regras da
Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, de acordo com o princípio lex posterior
derogat lex anterior. Como a doutrina indica, tais convenções apenas “subsistem na
estrita medida em que sejam compatíveis com os tratados comunitários”. Também
existe doutrina firmada: os Estados membros comprometeram-se, no quadro dos
princípios de boa-fé e da cooperação leal, a não fazer nada que pudesse pôr em causa a
realização dos objetivos da União, pelo que a assinatura entre dois estados membros de
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 62
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
um acordo incompatível com os tratados poderia mesmo originar a condenação do(s)
Estado(s) perante o Tribunal de Justiça.
Diversa, também, é a questão de quando se consideram os acordos concluídos
entre os Estados membros e outros Estados ou organizações internacionais. Resultante
das regras de direito internacional público, a assinatura dos tratados ou a adesão a estes
não pode prejudicar os direitos e obrigações que os Estados membros tenham assumido
anteriormente em relação às suas contrapartes terceiras à União Europeia. Em relação
às convenções anteriores, rege o artigo 351º TFUE, que se aplica a qualquer convenção
internacional “suscetível de ter uma influência sobre a aplicação do tratado”.
E quanto às convenções posteriores? Não se pode esquecer que os Estados
membros continuam a ser sujeitos de Direito Internacional e que mantêm a sua
capacidade jurídica internacional para negociação e conclusão de acordos, mesmo que
em determinadas matérias essa capacidade jurídica tenha transitado para a União
Europeia. Atualmente, a diretriz é simples, o mesmo princípio da cooperação leal impõe
que os Estados membros se autolimitem internacionalmente, de modo a não prejudicar
as competências da União. De forma crescente, ao ponto de hoje se discutir se subsiste
algum domínio de competência estadual, é a União quem tem competência para
celebrar acordos internacionais com outros Estados ou organizações internacionais.
Direito Derivado ou Secundário
2.1 Considerações gerais
O Direito derivado (também chamado direito secundário) é constituído pelos actos
adotados pelos órgãos da União (instituições, mas não só), no desenvolvimento das
competências que os tratados lhes conferem. Nem todos os actos adotados pelos
órgãos da União têm a mesma natureza e alcance jurídicos, estes podem ser: actos
legislativos ou actos não legislativos; gerais ou individuais; internos ou externos;
juridicamente obrigatórios ou não. O problema é o de classificar as fontes de direito da
União Europeia. São variadas as fontes de direito derivado (ou secundário). Estes actos
tanto podem ser adotados por “instituições” como por outros órgãos ou entidades.
A entrada em vigor do Tratado de Lisboa teve um impacto profundo na própria
estruturação da ordem jurídica da União Europeia, quer na teoria das fontes, quer na
compreensão dos modos de separação de poderes (dentro da União e entre a União e
os Estados membros). O Tratado de Maastricht, dá passos significativos na
hierarquização dos actos “comunitários” (hoje, actos da União Europeia) ao prever uma
hierarquização dos actos de direito derivado da União Europeia em:
a) Actos legislativos de base, emanados pelo (i) Parlamento Europeu e pelo
Conselho, através do processo legislativo ordinário, (ii) pelo Parlamento
Europeu, através do processo legislativo especial; ou (iii) pelo Conselho, através
do processo legislativo especial.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 63
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
b) Actos delegados, natureza não legislativa, adotados pela Comissão ao abrigo do
disposto do artigo 290º TFUE.
c) Actos não legislativos de base.
d) Actos de execução, de natureza não legislativa, adotados pela Comissão nos
casos previstos do artigo 291º do TFUE.
É, ainda, de salientar a criação de uma tipologia mais clara, distinguindo entre “actos
legislativos”, “actos não legislativos”, “actos delegados” e “actos de execução”. Tal
deveu-se quer a uma intenção de simplificação, como a motivações ligadas ao reforço
da legitimidade democrática da legislação europeia.
O artigo 296º TFUE prevê um conjunto de disposições práticas relativas aos actos
jurídicos da União, (i) enunciando o critério geral da escolha da forma do acto, (ii)
estabelecendo a obrigação de fundamentação e (iii) o princípio da precedência do
processo.
2.2 Actos legislativos
A principal categoria de actos de direito derivado da União Europeia é a dos actos
legislativos. O que caracteriza um acto legislativo não é a circunstância de assumir a
forma de regulamento, diretiva ou decisão (artigo 288º TFUE). Qualquer um destes
actos pode, ou não, ter natureza legislativa. Da hierarquia criada com o Tratado de
Lisboa decorre a distinção entre regulamentos, diretivas e decisões legislativos e
regulamentos, diretivas e decisões não legislativos.
Como tem sido afirmado pela doutrina, o que distingue um acto legislativo de
um acto não legislativo é uma circunstância que é externa ao acto: o seu processo de
formação. Não é apenas o nome (acto legislativo) ou o processo de formação (processo
legislativo) que os distingue. Os actos legislativos devem ser assinados pelo legislador e
publicados no Jornal Oficial da União Europeia (artigo 297º, nº1 TFUE) para se poder
considerar o seu processo legislativo, não só eficaz, mas como válido.
Da classificação de um determinado acto como sendo um “acto legislativo”
(artigo 289º, nº3 TFUE) decorrem outras consequências. A primeira relacionada com o
seu valor jurídico. Os actos legislativos, primam hierarquicamente sobre os actos não
legislativos. Além da precedência de lei, os actos legislativos gozam de um domínio de
reserva de lei, quer formal quer material. Além disso, só os actos legislativos podem
delegar na Comissão o poder de adotar actos não legislativos de alcance geral que
alterem ou completem “aspectos não essenciais do acto legislativo” (artigo 290º, nº1
TFUE).
Os actos juridicamente vinculativos da União, incluindo os actos legislativos,
são, a título principal, os que constam dos nº 2 e 4 do artigo 288º TFUE: os
regulamentos, as diretivas e as decisões.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 64
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
2.3 Actos não legislativos
A categoria dos actos não legislativos começa por ter um carácter residual e
heterogéneo. Residual porque abrange todos os actos que não são adotados por um
processo legislativo (artigo 289º, nº3 TFUE). Heterogéneo porque numa tal classificação
tanto caem todos os actos de alcance geral, incluindo “atos regulamentares” – que
podem assumir a forma de actos delegados, de execução ou outros – como os actos
individuais. Particularmente, não são legislativos os regulamentos, diretivas ou decisões
que não são adotados de acordo com um processo legislativo.
2.3.2 Actos delegados
O artigo 290º do TFUE permite ao legislador (Conselho e/ou Parlamento) delegar
na Comissão o poder de adotar “(1) actos (2) não legislativos (3) de alcance geral que
completem ou alterem certos elementos não essenciais do acto legislativo” (nº1 do
artigo 290º do TFUE). Deste modo, o legislador só pode delegar na Comissão Europeia
o poder de adotar actos de alcance geral que impliquem uma modificação ou
complementação do disposto do acto legislativo. O legislador pode regulamentar
inteiramente um determinado domínio de ação, confiando à Comissão a
responsabilidade de assegurar a aplicação harmonizada dessa regulamentação através
de actos de execução (artigo 291º TFUE); de igual modo o legislador pode optar por só
regulamentar parcialmente o domínio em causa, deixando à Comissão a
responsabilidade de completar a regulamentação através de actos delegados.
De acordo com a Comissão Europeia, a aplicação do artigo 290º TFUE não carece
de regulamentação legislativa genérica pelo legislador (Conselho e Parlamento
Europeu), sendo imediatamente aplicável, conquanto, na linha das conclusões adotadas
pelo Parlamento Europeu, na sua resolução de 7 de maio de 2009, a Comissão tenha
aderido à conveniência de ser definida uma “fórmula-tipo” para as delegações de
poderes. O âmbito de aplicação do artigo 290º implica a consideração das relações com
os procedimentos previstos na Decisão 1999/468/CE e com o artigo 291º TFUE, pois,
seguindo ainda a Comissão, “é em torno dos artigos 290º e 291º que deve ser
estabelecido o quadro jurídico que substituirá o chamado sistema de “comitologia”.
Em relação ao primeiro ponto, a Comissão Europeia começa por salientar que “a
definição dos actos delegados constante do artigo 290º, nº1, está, de um ponto de vista
puramente redaccional, muito próxima da dos actos que na Decisão 1999/468/CE (...)
são abrangidos pelo procedimento de regulamentação com controlo (PRCC). Em ambos
os casos, os actos em causa, são de alcance geral e visam alterar ou completar certos
elementos não essenciais do acto legislativo.” Deste modo, os actos legislativos podem
estabelecer explicitamente as condições da delegação que a Comissão deverá cumprir.
Impõe-se referir, por último, que a adoção de actos delegados está sujeita a um
princípio de tipicidade formal: todos os atos delegados devem ter inserido, no título, o
adjetivo “delegado” ou “delegada” (artigo 290º, nº4 TFUE).
2.3.3 Actos de Execução
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 65
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
A execução dos actos juridicamente vinculativos cabe prioritariamente aos
Estados membros. De acordo com o artigo 291º/nº1 TFUE, compete aos Estados
membros tomar “todas as medidas de direito interno necessárias à execução dos actos
juridicamente vinculativos da União”.
Esta matéria constitui uma antiga, ampla e complexa temática em que joga um
papel especial a questão da atribuição da União, dos limites do exercício do poder
administrativo diretamente pela Comissão Europeia, por instâncias por si controladas,
como as agências, pelas administrações nacionais, bem como a interdependência entre
ambos os níveis.
A execução dos actos da União diretamente pelas instituições da União
Europeia apenas pode decorrer de uma atribuição pelos Estados membros à Comissão
ou, nos casos previstos nos artigos 24º e 26º TUE – Lisboa, ao Conselho. Atribuição que
deverá ser expressa e baseada no princípio da proporcionalidade, porquanto só assim
se compreende a preocupação em referir a “necessidade” de “condições uniformes de
execução”, por estar toda a ação da União submetida aos princípios da
proporcionalidade e, salvo quanto aos domínios de competência exclusiva da União, da
subsidiariedade. O ou os regimes de execução dos actos juridicamente vinculativos da
União são, em geral, definidos a partir do artigo 291º TFUE. Esta disposição continua a
reconhecer que, também depois do Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu e o
Conselho poderão, por regulamento adotado segundo o processo legislativo ordinário,
definir “previamente as regras e os princípios gerais relativos aos mecanismos de
controlo que os Estados membros podem aplicar ao exercício das competências de
execução pela Comissão”.
A diferença entre actos delegados (adotados ao abrigo do artigo 290º e da
delegação explicitada no acto legislativo de base) e os actos de execução (adotados ao
abrigo do artigo 291º) é evidente. No artigo 290º TFUE, a “Comissão é autorizada a
completar ou alterar o trabalho do legislador” e, em qualquer caso, a delegação é
sempre facultativa. No que diz respeito aos actos de execução, a Comissão exerce uma
verdadeira competência executiva, apenas nos casos em que a execução dos actos não
deva ser realizada pelos Estados membros, mas, em nome da uniformidade na
aplicação, cometida à própria EU.
Refira-se, por último, a circunstância de também os actos de execução da União
Europeia estarem sujeitos a um princípio de tipicidade formal, devendo conter a
expressão “de execução” (artigo 291º, nº4 TFUE).
2.4 Actos juridicamente vinculativos da União: (1) Regulamento
O Regulamento, previsto no capítulo 2 do artigo 288º do TFUE, apresenta três
características: (i) carácter geral; (ii) aplicabilidade direta; (iii) obrigatoriedade em todos
os seus elementos.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 66
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
O Regulamento é, em primeiro lugar, um acto geral, no sentido estrito de termo,
pois tem uma generalidade de destinatários. Todas as pessoas (singulares e coletivas)
que se encontrem no seu âmbito de aplicação estão por ele vinculadas.
Em segundo, o Regulamento goza de aplicabilidade direta. Para poder vigorar
internamente, não necessita (dispensando mesmo) de qualquer mecanismo de receção
no ordenamento jurídico dos Estados membros. Os Regulamentos da União Europeia
incorporam-se automaticamente na ordem jurídica dos Estados membros, não podendo
ser objeto de qualquer operação nacional de receção ou incorporação. De que depende
a sua aplicabilidade direta? Apenas das condições de validade e vigência resultantes
direta, imediata e exclusivamente da norma da União, e que são:
à Adoção pelo órgão ou órgãos competentes da União Europeia (art.288º TFUE);
à Seguindo o processo adequado (legislativo ou não legislativo);
à A fundamentação (art.296º TFUE);
à A vacatio legis (art.297º TFUE);
Finalmente, o Regulamento é obrigatório em todos os seus elementos. Os seus
destinatários – nomeadamente, os Estados membros – não podem adaptar o seu
conteúdo e o sentido das suas prescrições ao ordenamento jurídico interno. Tudo o que
é disposto no Regulamento é obrigatório, contudo, isso não implica que todo e cada
regulamento seja em si mesmo preciso e suficiente, ao ponto de dispensar qualquer
atuação normativa por parte da União ou dos Estados membros. É o que acontece, no
primeiro caso, com Regulamentos adotados ao abrigo de processo legislativo e que
prevêem a adoção de actos delegados ou de execução. No segundo caso, com aqueles
Regulamentos que, expressa ou implicitamente, habilitam os Estados membros a adotar
medidas de aplicação legislativas, regulamentares, administrativas e financeiras
necessárias à sua efetiva aplicação.
Por último, uma nota quanto ao modo de incorporação dos Regulamentos na
ordem jurídico-constitucional portuguesa. A vigência direta dos regulamentos na nossa
ordem jurídico-constitucional resulta do art. 8º, nºs 3 e 4, da CRP. Beneficiando de uma
cláusula expressa na Constituição que lhes permite a incorporação automática no
ordenamento jurídico português, a sua vigência efetiva depende apenas do grau de
determinação das suas prescrições e da necessidade ou não de adoção de disposições
complementares. Portanto, as normas deles constantes estão em condições de produzir
efeitos diretos no ordenamento interno.
2.5 Actos juridicamente vinculativos da União: (2) Diretiva
As Diretivas estão previstas no artigo 288º TFUE. Ao contrário dos
Regulamentos, as Diretivas são actos jurídicos da União que impõem aos Estados
membros a realização de certos objetivos concretos, deixando aos Estados membros
uma margem na escolha da forma e dos meios para a sua implementação.
As Diretivas distinguem-se dos regulamentos. Se aqueles são gerais, estas podem
conter uma disciplina geral, mas têm como destinatários imediatos (diretos) apenas os
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 67
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Estados membros. Se os Regulamentos são obrigatórios, as Diretivas de acordo com o
terceiro $ do artigo 288º TFUE, só vinculam o Estado “quanto ao resultado a alcançar,
deixando (...) às instâncias nacionais a competência quanto à forma e aos meios” para
atingir esse resultado. Noutras hipóteses, sucede serem as próprias Diretivas que
necessitam a adoção posterior de Diretivas delegadas ou de execução: é o caso das
anteriormente chamadas “diretivas-quadro”. Desde que respeitem o resultado
previsto, os Estados membros gozam de alguma liberdade de conformação normativa,
podendo adaptar o texto da diretiva à realidade jurídica, económica e social do Estado.
Além da liberdade “quanto aos meios”, os Estados membros também gozam de
“liberdade quanto à forma”, sendo uma terceira diferença face ao regulamento.
Enquanto que o Regulamento goza de aplicabilidade direta, a Diretiva necessita de um
acto nacional de incorporação para poder gerar direitos e obrigações na esfera jurídica
dos particulares. Como necessitam de um acto nacional de inserção na ordem jurídica
nacional, as diretivas devem ser objeto de um processo de transposição, de uma
transformação em um acto de direito interno. Em suma, as diretivas são actos jurídicos
que impõem aos Estados membros destinatários obrigações de resultado que estes
devem cumprir no prazo fixado na própria Diretiva.
De acordo com a jurisprudência constante no Tribunal de Justiça, deve ser,
especialmente, assegurado que, no caso de as diretivas se destinarem a criar direitos a
favor dos particulares, estes tenham a possibilidade de conhecer todos os seus direitos
e de os invocar perante os tribunais nacionais. Ou seja, “a liberdade de ação do Estado
membro quanto à escolha das formas e dos meios adequados para a obtenção do
referido resultado é, em princípio, plena. No entanto, os Estados membros têm a
obrigação, no âmbito da liberdade que lhes é reconhecida pelo terceiro parágrafo do
artigo 288º TFUE, de escolher as formas e os meios mais adequados para assegurar o
efeito útil das diretivas. Daí decorre igualmente que, não existindo uma norma da União
que defina de modo claro e preciso a forma e os meios que devem ser utilizados pelo
Estado membro, incumbe à Comissão, no âmbito do exercício do seu poder de controlo,
por força, nomeadamente, dos artigos, fazer prova bastante de que os instrumentos
utilizados pelo Estado membro para esse efeito são contrários ao direito comunitário”.
Convêm salientar que a vigência interna de uma Diretiva não está totalmente
dependente da sua transposição, podendo os cidadãos e empresas invocar certos
direitos e obrigações delas emanados, mesmo na falta de um tal acto, ainda que apenas
contra o Estado. A razão disto é, simplesmente, o facto de a Diretiva haver gerado, para
o Estado, uma vinculação imediata, a partir do momento em que, também em relação
a ela, se cumpriram os requisitos acima mencionados para os regulamentos – adoção
pelo órgão competente (artigo 288º TFUE, £ 1), fundamentação (artigo 296º TFUE),
publicação ou notificação (artigo 297º TFUE) e entrada em vigor (artigo 297º TFUE).
Se o Estado membro estava obrigado a transpor a Diretiva e não o faz (no prazo
por esta fixado), coloca-se numa situação de incumprimento, sancionável
contenciosamente (artigo 258º TFUE) e não pode, no entendimento constante do
Tribunal de Justiça, prevalecer-se perante os particulares do seu próprio
incumprimento. A jurisprudência constante do Tribunal de Justiça é clara, sendo a
seguinte: caso um Estado membro não tenha tomado as medidas de execução
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 68
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
necessárias ou tenha adotado medidas não conformes com uma diretiva, o Tribunal
reconheceu, ..., o direito de os particulares invocarem em juízo uma diretiva contra um
Estado membro faltoso. Embora esta garantia mínima não possa servir de justificação
a um Estado membro para não tomar, ela pode, contudo, ter como efeito habilitar os
particulares a invocar, contra um Estado membro, as disposições materiais da Diretiva.
Decorre desta jurisprudência, a questão de saber quem deve considerar-se
Estado, para este efeito. O Tribunal de Justiça seguiu também aqui uma conceção
bastante ampla, incluindo na noção de Estado, desde logo, também a Administração
Pública e, em geral, todos os “organismos ou entidades que estejam sujeitas à
autoridade ou ao controlo do Estado ou que disponham de poderes exorbitantes face
aos que resultam das normas aplicáveis nas relações entre particulares”.
Questão algo controversa é a de saber a proibição de invocar uma norma de
uma Diretiva contra um particular não pode redundar na sua não invocabilidade
contra o próprio Estado. O Tribunal de Justiça entendido que mesmo a invocabilidade
contra o Estado não poderia reduzir o direito de outros particulares. Na base desta ideia
está a “jurisprudência assente” segundo a qual uma “diretiva não pode, por si só, criar
obrigações para os particulares, mas apenas direitos”, o que violaria o princípio da
segurança jurídica.
Ponto diverso é o de saber se, não transposta a Diretiva pelo Estado membro
no praxo fixado, o efeito direto poderá ser invocado pelo Estado contra um particular?
A resposta é negativa. De acordo com a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça
da União Europeia, uma diretiva não transposta “não pode, só por si, criar obrigações
para um particular”, não podendo contra estes (particulares) ser invocada, dada que o
efeito direto apenas “existe a favor dos particulares e relativamente aos Estados
membros destinatários”.
Uma última questão permanece: e enquanto não se completar o prazo para a
transposição das diretivas, poderá alguém ter uma expectativa juridicamente tutelada
na solução material constante da diretiva e que o Estado membro deverá cumprir? A
Diretiva não está ainda apta a produzir, nestas hipóteses, quaisquer efeitos diretos.
Contudo, a questão foi de novo (re)colocada e tratada no que toca a uma situação
particular: a de saber se um Estado membro poderá, no prazo que legitimamente tem
para transpor a diretiva, estabelecer legislação interna que se afaste ainda mais dos
resultados prescritos pelas diretivas. A resposta do Tribunal de Justiça era clara, no
sentido positivo.
Por último, mas não menos importante, deve-se fazer referência ao modo de
incorporação das Diretivas na ordem jurídico-constitucional portuguesa. Num
primeiro momento, é pacífico que as Diretivas vigoram na ordem internacional a partir
da sua adoção, nos termos previstos nos Tratados, pelos órgãos competentes da União
Europeia. À luz do artigo 8º, nº4, da CRP, tal poderia, até, constituir fundamento
suficiente para a sua vigência interna. Contudo, pode-se também considerar que o
fundamento normativo-constitucional para a sua incorporação e vigência interna reside
também no próprio artigo 8º, nº3, da Constituição. Sendo assim, o legislador nacional
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 69
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
acabou por pré-determinar a forma de realização da operação de transposição das
Diretivas. Inicialmente, a questão prendia-se essencialmente com o objeto da Diretiva.
Se incidisse sobre a matéria submetida a reserva de competência legislativa, absoluta
ou relativa, da Assembleia da República, a transposição estava sujeita a lei formal, ou,
quando muito, a lei de autorização legislativa. Se não estivesse abrangida pelo princípio
da reserva de lei, poderia ser objeto de legislação, por exemplo ao abrigo da
competência concorrente do parlamento e do Governo, ou até de normas ou
regulamentos administrativos adotados por membros do Governo. Perante o quadro
geral de crítica desta situação, a Lei Constitucional nº1/97, de 20 de setembro,
introduziu um novo nº9 do artigo 112º da CRP, segundo o qual “a transposição de
diretivas comunitárias para a ordem jurídica interna assume a forma de lei ou decreto-
lei, consoante os casos”, norma cuja redação passou a ser, com a Lei Constitucional
nº1/2004, de 24 de julho, a do nº8 do mesmo artigo 112º, nos seguintes termos “A
transposição de actos jurídicos da União Europeia para a ordem jurídica interna assume
a forma de lei, decreto-lei ou, nos termos do disposto nº4, decreto legislativo regional.
2.6 Actos juridicamente vinculativos da União: (3) Decisão
A Decisão é a última categoria de acto típico interno e vinculativo. Como
estabelece o £ 4 do artigo 288ª TFUE, a Decisão é “obrigatória em todos os seus
elementos. Quando designa destinatário, só é obrigatória para estes”. Contudo, a noção
de Decisão foi alterada pelo Tratado de Lisboa, agora, a Decisão já não tem de indicar
os destinatários, o que aumenta o número de matérias e situações em que poderá ser
utilizada, aliás em conformidade com a redução do elenco das fontes com este mesmo
tratado.
Ao contrário do Regulamento e diversamente da Diretiva, a Decisão é um acto
juridicamente obrigatório, mas já não necessariamente individual, podendo mesmo ter
alcance geral, como se sucederá no domínio do PESC. Os seus destinatários tanto podem
ser Estados membros como particulares (pessoas singulares, pessoas coletivas,
empresas). Isto significa que, em princípio, as decisões não têm carácter geral, mas, em
contrapartida, são obrigatórias em todos os seus elementos.
O efeito direto das decisões é um pouco controvertido e de solução não
uniforme. Visto que é um acto juridicamente vinculativo da União, deverá gozar de
efeito direto, mas a limitação dos seus destinatários e a forma de publicidade tornam
difícil o reconhecimento geral do seu efeito direto. Assim, diz-se que as decisões são
actos aptos a gerar efeitos diretos, isto é, suscetíveis de ser invocados pelos interessados
perante os órgãos jurisdicionais nacionais.
2.7 Actos típicos da União não vinculativos: (4) Recomendação e Parecer
As recomendações e pareceres figuram igualmente no elenco dos actos previstos
no artigo 288º TFUE. Deles apenas diz o tratado que não são vinculativos e que são
adotados pelas “instituições” (artigo 288º TFUE, £ 1). As recomendações e pareceres
tanto podiam ser adotados pelos órgãos ditos deliberativos – Conselho, Comissão e
Parlamento Europeu – como pelos demais órgãos principais da União Europeia.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 70
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Já a primeira característica é tendencialmente verdadeira, sobretudo no que
toca às recomendações. Mas, novamente quantos aos pareceres, sabemos que existem
alguns dos quais resultam importantes consequências jurídicas: pense-se nos pareceres
do Tribunal de Justiça (artigo 218º, nº11, TFUE). A distinção entre recomendações e
pareceres é, normalmente, feita em termos vagos. Em primeiro lugar, os próprios
tratados, em cada matéria, determinam se o acto a adotar é uma recomendação ou
parecer. Normalmente, a recomendação é da iniciativa do órgão que a formula e dirige-
se para o exterior, ainda que não seja publicitada. Já o parecer costuma ser adotado no
quadro do desenvolvimento habitual do procedimento de decisão, como acto interno e
preparatório.
2.8 Actos atípicos da União
Em normas dispersas de direito originário ou de direito derivado, ou resultando
da iniciativa do próprio órgão, é possível encontrar outros actos com características bem
diferenciadas, mesmo no plano da sua força jurídica. Embora se diga que actos atípicos
são desprovidos de efeitos jurídicos obrigatórios, tal não é necessariamente assim.
Alguns actos são apenas atípicos no sentido de que não estão previstos no artigo 288º
TFUE, sem que isso signifique a ausência de juridicidade.
Há actos com reduzido ou inexistente valor jurídico, como as resoluções,
conclusões, comunicações, cartas administrativas de arquivamento de processos,
códigos de conduta, relatórios, etc. Embora desprovidos de efeitos jurídicos
obrigatórios, alguns destes actos, nomeadamente relatórios ou comunicações em que a
Comissão (ou outro órgão) exprime a sua política em relação a determinado assunto,
foram já considerados pelo Tribunal de justiça como auto-vinculando a Comissão, pelo
menos até mudar formalmente a sua política. Outros actos há que têm valor jurídico
interno, embora não vinculem terceiros. É o caso dos actos de administração interna
dos órgãos da União e certos actos sui generis.
Dito isto, importa realçar que o valor jurídico de um acto não depende da sua
designação, mas do seu conteúdo, pelo que o facto de um acto ter uma denominação
que inculque estar desprovido de vinculatividade jurídica não exclui que a sua análise
revele a produção de efeitos jurídicos, com as consequências inerentes.
2.9 Outras fontes formais
Além dos actos acima descritos, típicos ou atípicos, legislativos ou
regulamentares, existem ainda outras fontes formais de Direito da União Europeia,
inclusivamente dotadas de juridicidade e vinculatividade. Por exemplo, os Estados
membros celebram acordos internacionais que, de uma forma ou de outra, pertencem
ao direito da União Europeia. A estes há que aditar as convenções em que é Parte
contratante a própria União Europeia.
Além disso, há também uma outra categoria de acordos internacionais que
gravitam na órbita do direito da União e cujo estatuto jurídico é também usualmente
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 71
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
questionado: Convenções – acordos em forma simplificada – celebradas pelos
representantes dos Estados membros à margem das reuniões do Conselho e que
ficaram conhecidas como “decisões dos representantes dos Estados membros reunidos
no seio do Conselho”. Também aqui estamos perante instrumentos de direito
internacional público convencional cuja conexão face ao direito da União Europeia se
baseia na obediência hierárquica ao direito dos tratados, garantida pelo Tribunal de
justiça.
Finalmente, surgem-nos as convenções concluídas pela União Europeia no
âmbito das suas competências próprias. Estas convenções são celebradas pelo
Conselho, não pelos Estados membros, nos termos do procedimento ordinário (artigo
218ºTFUE) ou especial. O problema que se coloca é o de saber se estas convenções,
celebradas entre a União Europeia, por um lado, e um Estado terceiro ou organização
internacional, por outro, gozam da característica do efeito direto que vimos beneficiar
os actos internos, ditos unilaterais. Não é fácil fazer uma síntese da jurisprudência do
Tribunal de Justiça neste ponto, contudo, o Tribunal de Justiça reconhece que os
acordos de associação fazem parte do direito da União Europeia, podendo mesmo as
suas disposições gozar de efeito direto.
2.10 Fontes espontâneas
Entre as tradicionais fontes espontâneas contam-se o costume, os princípios
gerais de direito e a doutrina.
Em primeiro lugar, está o costume. É praticamente pacífico o reconhecimento
do costume (internacional e europeu) como fonte de direito da União Europeia. Em
segundo lugar, temos os princípios gerais de direito e o seu papel no ordenamento
jurídico da União Europeia é de grande importância. Isto por terem constituído a via pela
qual se afirmou comunitariamente a juridicidade da obrigação de respeito pelos direitos
fundamentais. O seu peso específico é grande, mesmo sustentando que “primam” sobre
o direito derivado e mesmo sobre os próprios tratados, sempre que acolham direitos
inderrogáveis, como os inerentes à dignidade da pessoa humana. Seguindo a lição do
prof. Moura Ramos podemos descobrir na ordem jurídica da União Europeia, três tipos
de princípios gerais de direito: direito interno, de direito internacional público e aqueles
propriamente europeus. É abundante a jurisprudência sobre os princípios gerais de
direito. Também a doutrina, no sentido estrido do termo, constituí fonte de direito da
União.
2. Princípios da ordem jurídica da União Europeia
Considerações Gerais
Esboçado ficou o papel desempenhado pelo Tribunal de Justiça na elaboração e
construção de uma ordem jurídica da União forte e integrada. Agora, falaremos de
alguns dos seus princípios (seu conteúdo, alcance e limites) caracterizantes da
ordem jurídica da União, em especial os que marcam o relacionamento entre os
diversos ordenamentos jurídicos e aqueles determinantes dos juízos proferidos a
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 72
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
propósito da realização interna da própria ordem jurídica da União. Estes princípios
estruturantes da ordem jurídica da União não olvidam outros que se arvoram como
princípios fundamentais da própria União Europeia e verdadeiros “valores
superiores do ordenamento” jurídico constituído.
Além disso, é inequívoco que o Tratado de Lisboa, ao consagrar a Carta dos
Direitos Fundamentais como instrumento com valor de direito originário (artigo 6º
TUE – Lisboa) e ao afirmar princípios como os da igualdade ou da não discriminação
abre a via rápida a uma Europa dos princípios e dos direitos que antes era apenas
uma visão prospetiva e que justificaria outra elaboração dogmática e pedagógica
que aqui não se segue.
Sumariados ficarão aqui, portanto, apenas sete dos princípios fundamentais da
atuação da União Europeia, com destaque para os que permitem discernir a própria
natureza da União Europeia, marcam o relacionamento da ordem jurídica da União
com os ordenamentos jurídicos dos Estados membros e garantem a plena
efetividade da ordem jurídica da União.
Os três primeiros são intrínsecos à ordem jurídica da União e caracterizam-na
como ordem jurídica própria no sistema jurídico internacional. Ela é autónoma em
relação ao direito interno e ao direito internacional, tendo as suas próprias fontes e
modos de produção jurídica, opera nos limites do(s) próprio(s) ser(es) que lhe dão
vida (Estados) (Atribuição) e está submetida ao império do direito (rule of law)
(União de Direito).
1. Princípio da Autonomia
Seguindo, ainda, o Professor R. Moura Ramos, diremos que o Direito da União
é “autónomo porque, integrado embora no Direito Internacional em sentido amplo,
ele caracteriza-se não só por diferentes modos de formação como por diferenças
assinaláveis na sua aplicação”. Esta autonomia começa a ser a que resulta da
amplitude dos seus objetivos e dos meios da sua realização (artigo 2º TUE – Lisboa),
dos modos de formação da vontade da União (artigo 13º TUE – Lisboa) e também
dos meios da sua expressão, efetividade (as fontes de Direito – as normas referidas
no artigo 288º TFUE) e garantia (pelo Tribunal de Justiça). A autonomia estende-se
ainda ao crescente autocontrolo dos modos de produção do próprio direito
constitutivo.
O Direito da União Europeia, autónomo em relação ao tradicional direito
internacional público, não se confunde igualmente com o direito interno dos Estados
membros. Em rigor, tanto o direito primário – o direito dos tratados – como o
direito derivado – o direito dos órgãos da União – têm uma identidade própria,
mesmo incorporadas nos ordenamentos estaduais, as normas mantêm a sua
natureza internacional e europeia, pelo que as ordens jurídicas nacional e da União
se constituem sempre enquanto “ordenamentos coexistentes e interpenetrados,
mas independentes”.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 73
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
A autonomia do Direito da União é também condição da própria legalidade de
actos da União e ou dos Estados membros na esfera internacional. Pense-se no
modo como o Tribunal de Justiça tem fundamentado a autonomia do Direito da
União como limite à adesão à Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH)
ou mesmo como limite à atribuição dos Estados membros para celebrarem acordos
internacionais pelos quais é atribuída a um órgão externo à União a competência
para interpretar o Direito da União.
2. Princípio da Atribuição
O princípio da atribuição, introduzido com o Tratado de Maastricht, encontra
expressão direta e imediata no artigo 5º, nº1, primeiro período (“A delimitação das
competências da União rege-se pelo princípio da atribuição”) e nº2, do TUE –
Lisboa. Numa formulação genérica, este princípio significa que a União só dispõe
das atribuições e competências que lhes hajam sido conferidas pelos Estados
membros, através dos instrumentos de direito originário. Tal como formulado no
Tratado, acentuam-se aí duas dimensões. Positivamente, a atribuição significa o
reconhecimento da “competência” (exclusiva, partilhada, complementar, ...) da
União quando (dentro dos limites das suas competências) os Estados membros lhe
tenham atribuído nos Tratados para alcançar os objetivos fixados por estes últimos
(os Tratados – artigo 2º e seguintes TUE – Lisboa; TFUE). Negativamente, significa
que, quando os Tratados não tenham conferido à União competência para realizar
certos objetivos, a competência mantém-se no Estado membro (“As competências
que não sejam atribuídas à União nos Tratados pertencem aos Estados membros”)
(artigo 5º, nº2 TUE – Lisboa).
Politicamente, o princípio tem sido objeto de outras formulações. É expressiva
a realizada no Conselho Europeu de Edimburgo, em Dezembro de 1992: “O
princípio de que a Comunidade só pode intervir quando lhe forem conferidas
competências para tal, foi sempre um aspecto fundamental do ordenamento
jurídico comunitário (princípio da atribuição de poderes)”. Em suma, a União
Europeia não pode criar a sua própria competência, não tem a competência das
competências característica dos Estados soberanos.
Em terceiro lugar, o princípio tema uma relevantíssima implicação prática no
funcionamento da União Europeia. É que, se a União só pode atuar nos domínios
em que lhe foram conferidos poderes.
Nos tratados, o TUE – Lisboa, o artigo 5º, onde se lê que “a delimitação das
competências da União rege-se pelo princípio da atribuição” (nº1) e que, “em
virtude do princípio da atribuição, a União atua unicamente dentro dos limites das
competências que os Estados membros lhe tenham atribuído nos Tratados para
alcançar os objetivos fixados por estes últimos. As competências que não sejam
atribuídas à União dos Tratados pertencem aos Estados membros” (nº2).
Se vimos ser praticamente pacífico o princípio, o certo é que não falta quem
chame a atenção para o facto de, através de diversos mecanismos, a União
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 74
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Europeia, historicamente, ir além, do que seria permitido por este princípio. Não
cumpre analisá-los aqui, mas, de todo o modo, é possível referir aqueles a que a
doutrina presta especial atenção:
à Mecanismo do artigo 352º TFUE (anteriores artigos 235º CEE e 308º CE);
à Princípio das competências implícitas;
à Os métodos de interpretação do Tribunal de Justiça;
3. Princípio da União de Direito
Era inequívoca a afirmação jurisprudencial, no quadro da Comunidade Europeia,
de um princípio da Comunidade de Direito, princípio que deverá considerar-se
como tendo transitado para a União, ainda que com o nome de União de Direito.
Este princípio foi afirmado politicamente, por HALLSTEIN, e expressamente
confirmado pelo Tribunal de Justiça, em 1986.
Mas apesar da sua afirmação explícita ser algo tardia, o que é certo é já o
podemos entrever em actos políticos anteriores adoptados pelos órgãos da União e
pelos Estados membros, e também está subjacente a toda a problemática da
proteção dos direitos fundamentais pela ordem jurídica da União. Além disso,
transpareceu depois – numa designação mais ampla – no artigo 2º do TUE – Lisboa,
ao afirmar como valor fundamental da União o princípio do Estado de Direito, bem
como, em certo sentido ligado ao princípio da tutela jurisdicional efetiva, no artigo
19º do TUE – Lisboa, ao estabelecer que “o Tribunal de Justiça garante o respeito do
direito na interpretação e aplicação dos tratados” e que “os Estados membros
estabelecem as vias de recurso necessárias para assegurar uma tutela jurisdicional
efetiva nos domínios abrangidos pelo Direito da União”.
O que se deve sumariamente entender por este princípio? Antes de mais, que
funciona como garantia dos direitos individuais e como limite à ação dos órgãos da
União. Mas também é uma afirmação a subordinação ao Direito de toda a ação da
União e dos seus órgãos, ou seja, a ideia da rule of law característica essencial e
indeclinável das sociedades democráticas.
Com o Tratado de Lisboa são dados novos passos no sentido do reforço, numa
perspetiva ampla, do princípio da “subordinação ao Direito” (rule of law) de todos
os actos adotados por instituições, órgãos e organismos da nova União Europeia.
Nesta perspetiva, assinalam-se vários sinais resultantes de algumas alterações
introduzidas. Por exemplo, em primeiro lugar, na clarificação das funções de
controlo da aplicação e legalidade no espaço da União. O Tratado estabelece que a
“Comissão controla a aplicação do direito da União, sob a fiscalização do Tribunal de
Justiça da União” (artigo 17º, nº1 TUE – Lisboa). Em segundo lugar, a introdução,
indireta, da Carta dos Direitos Fundamentais, pelo artigo 6º, nº1 do TUE – Lisboa: “A
União reconhece os direitos, liberdades e os princípios enunciados na Carta dos
Direitos Fundamentais da União Europeia, ..., e que tem o mesmo valor jurídico que
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 75
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
os Tratados”. Em terceiro lugar, na linha da jurisprudência do Tribunal de Justiça da
União Europeia, o Tratado de Lisboa comete aos Estados membros a obrigação de
assegurar o respeito pelo princípio da proteção jurisdicional efetiva nos domínios
cobertos pelo direito da União (artigo 19º, nº1 TUE – Lisboa): “os Estados membros
estabelecem as vias de recurso necessárias para assegurar uma tutela jurisdicional
efetiva nos domínios abrangidos pelo direito da União”.
No contencioso da legalidade, algumas mudanças são introduzidas, no tema da
legitimidade dos particulares no contencioso da anulação e no reconhecimento de
que os atos do Conselho do Europeu que produzam efeitos jurídicos em relação a
terceiros são igualmente impugnáveis contenciosamente.
4. Princípio da Subsidiariedade
É costume assinalar-se que as origens históricas do princípio da subsidiariedade
se reconduzem à Antiguidade Clássica, contudo, a doutrina procura frequentemente
discerni-lo logo nos tratados institutivos, mas a afirmação expressa e numa política
específica ocorreu apenas com o Ato Único Europeu, tendo sido consagrado como
princípio geral através do tratado de Maastricht. Neste, o princípio foi inserido no
nº2, do artigo 3ºB do Tratado (atual artigo 5º), constituindo um princípio geral quer
do direito da União (v. artigo 2º UE), quer do ordenamento jurídico da União. Dispõe
o artigo 5º, nº3 TUE – Lisboa: “Em virtude do princípio da subsidiariedade, nos
domínios que não sejam da sua competência exclusiva, a União intervém apenas se
e na medida em que os objetivos da ação considerada não possam ser
suficientemente alcançados pelos Estados membros tanto ao nível central como ao
nível regional e local, podendo, contudo, às dimensões ou aos efeitos da ação
considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União”.
Importa acentuar, primeiro, que o princípio só vale nos domínios de
competência concorrente (partilhada, complementar, ...) entre Estados membros e
a União. Subordinada a capacidade jurídica da União ao princípio da atribuição, o
princípio não poderia valer em domínios totalmente estranhos à atribuição da
União. Noutra vertente, o Tratado é explícito na afirmação de que o princípio não
deve ser aplicado nos domínios de atribuição exclusiva da União. Reconheça-se que
este princípio constitui um princípio jurídico geral de direito da União. Enquanto tal,
se não goza das características de que depende o efeito direto das normas do
tratado, não deixa de estar sujeito à fiscalização do Tribunal de Justiça da União
Europeia.
O Tratado de Lisboa deu mais um contributo para a construção do princípio e
dos seus mecanismos de garantia. Embora continue a intervir nos domínios de
competência concorrente com os Estados membros, cumpre notar, a introdução da
referência explícita, como condição da assunção pela União de competências, ao
facto de os objetivos da União não poderem ser suficientemente alcançados pelos
Estados membros “tanto ao nível central como ao nível regional e local”. E, por outro
lado, a ideia de que a aplicação do princípio pelas instituições da União é feita em
conformidade com o “Protocolo relativo à aplicação dos princípios da
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 76
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
subsidiariedade e da proporcionalidade. Os parlamentos nacionais velam pela
observância deste princípio de acordo com o processo previsto no referido
Protocolo” (artigo 5º, nº3 TUE – Lisboa).
O Tratado de Lisboa elegeu o controlo do respeito pelo princípio da
subsidiariedade como uma das áreas onde será mais evidente a intervenção dos
parlamentos nacionais. Neste contexto, tanto o protocolo relativo ao papel dos
parlamentos nacionais como protocolo relativo à aplicação dos princípios da
subsidiariedade e proporcionalidade reconhecem diversas possibilidades de
intervenção dos parlamentos nacionais, mas também reforçam os direitos e
possibilidades de intervenção de outras entidades.
Algumas normas remetem especificamente para o mecanismo de controlo
expresso no referido protocolo, impondo algumas obrigações às instituições da
União, no quadro do novo mecanismo introduzido para melhorar o grau de
observância do princípio da subsidiariedade no processo legislativo da União. É o
caso do artigo 352º, nº2 TFUE.
5. Princípio da Proporcionalidade
O princípio da proporcionalidade está consagrado expressamente no Tratado
da União da Europeia (versão resultante do Tratado de Lisboa) como princípio-retor
da ação desta, através dos seus órgãos (artigo 5º, nºs 1 e 4). E esteve, desde muito
cedo, presente na jurisprudência do Tribunal de Justiça, como princípio geral de
Direito.
A ideia de proporcionalidade liga-se a três conceitos principais: o de proibição
do excesso, necessidade e adequação. Assim, ele impõe que se afira se a ação da
União – e as medidas por ela adotadas – são adequadas ao fim prosseguido e se
não vão para além do que é necessário para atingir esse fim, donde decorre que se
deve escolher a opção menos onerosa quando mais do que uma sirva para alcançar
o objetivo. A fórmula normativa do tratado parece cobrir pelo menos duas destas
conceções. Como aí se estabelece, “o conteúdo e a forma da ação da União não
devem exceder o necessário para alcançar os objetivos dos Tratados” (artigo 5º, nº4
TUE – Lisboa). A consagração formal do princípio (com o Tratado de Maastricht) foi
acompanhada da adoção de disposições complementares relativas à sua
interpretação e aplicação (considerações extensivas ao princípio da
subsidiariedade).
Podemos, também, dizer que compete a este princípio servir de critério sobre a
adequação de determinada ação da União ou dos Estados membros para a
realização de determinados objetivos à partida legítimos, combinada com a
certificação da inexistência de outros meios menos prejudiciais para realizar os
mesmos objetivos. Como é, frequentemente, recordado pelo Tribunal de Justiça,
este princípio “exige que os atos das instituições comunitárias não ultrapassem os
limites do adequado e necessário à realização dos objetivos legítimos prosseguidos
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 77
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
pela regulamentação em causa, entendendo-se que, quando exista uma escolha
entre várias medidas adequadas, se deve recorrer à menos rígida”.
O princípio da proporcionalidade, a nível da União Europeia, não tem
necessariamente a mesma densidade e o mesmo sentido que lhe é reconhecido no
nosso direito interno. Internamente, o princípio da proporcionalidade tem
dignidade constitucional e constitui um subprincípio densificador do princípio do
Estado de direito democrático, significando, no quadro do direito internacional, a
ideia de que qualquer ato jurídico deve ser (i) adequado, (ii) necessário e (iii) ter justa
medida. Depois de determinado o fim a prosseguir, o controlo da sua verificação
abrange três planos; sublinhe-se que, para que o princípio da proporcionalidade se
tenha por respeitado, é necessário que todas as três vertentes sejam respeitadas.
A primeira exigência é de (i) adequação dos meios, da qual decorre que os
referidos atos têm de constituir forma apropriada e idónea para a prossecução dos
fins. A segunda exigência é a da (ii) necessidade, a qual implica que as medidas se
revelam exigíveis, de forma a que se possa afirmar que os fins invocados não
podiam ser obtidos por outros meios menos onerosos para as posições jurídicas
sacrificadas. O objetivo é averiguar se a medida adequada escolhida é a menos
lesiva. Finalmente, a (iii) a proporcionalidade em sentido estrito – ou proibição do
excesso – significa que os meios legais restritivos e os efeitos produzidos devem
situar-se numa relação de justa medida.
Ainda assim, poderá dizer-se que também a nível da União ele obriga a União a
atuar “... pelo meio que represente um menor sacrífico para as posições jurídicas”
dos Estados membros, a nível central, mas também regional ou local, como o tratado
agora expressamente afirma (artigo 5º, nº4 TUE – Lisboa).
6. Princípio da Preempção
O princípio da preempção foi, formalmente, consagrado com o Tratado de
Lisboa. O Tratado de Lisboa, ao classificar as competências da União (Parte I, Título
I, artigos 2º e seguintes TFUE) em competências exclusivas (artigo 3º), competências
partilhadas (artigo 4º), competências de coordenação (artigo 5º) e competências de
acompanhamento ou suplemento (artigo 6º TFUE), veio estabelecer que, nos
domínios de competência partilhada entre a União e os Estados membros, funciona
uma lógica de preempção.
De acordo com o artigo 2º, nº2, TFUE, “quando os Tratados atribuem à União
competência partilhada com os Estados membros em determinado domínio, a União
e os Estados membros podem legislar e adotar atos juridicamente vinculativos nesse
domínio. Os Estados membros exercem a sua competência na medida em que a
União não tenha exercido a sua. Os Estados membros voltam a exercer a sua
competência na medida em que a União tenha decidido deixar de exercer a sua”.
Se o exercício da competência interna determina a competência externa, pode
também suceder que haja uma competência externa partilhada sem que tenha
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 78
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
havido ainda exercício da competência. Ou seja, a competência interna determina a
competência externa, mesmo que ela ainda não tenha sido exercida. Até esse
exercício não funciona, no entanto, a ideia de preempção e a transformação dessa
competência externa em competência exclusiva. A ideia de preempção é, por isso,
uma ideia de precedência ou preclusão, que é válida para os domínios de
competência partilhada entre a União e os Estados membros e organiza a
possibilidade e os modos de exercício da competência por qualquer uma das
instâncias, estabelecendo o princípio de que o exercício da competência pela União
impede os Estados membros de exercerem a sua competência.
Em suma, o Tratado de Lisboa consagra uma preempção da competência da
União (ou preclusão da competência dos Estados membros) mesmo em situações
de competência interna, pois a preempção face à competência externa da União é
também afirmada expressamente, mas no artigo 3º, nº2, do TFUE.
7. Princípio da Efetividade (Enunciado Geral)
O princípio da efetividade assume uma importância extrema na ordem jurídica
da União Europeia. Em rigor, a ideia de efetividade está presente em toda a
construção jurídica do edifício europeu, já que todos os princípios estarão, de uma
forma ou de outra, funcionalizados à plena eficácia e realização dos objetivos da
União Europeia. Por força da sua pertença à União Europeia e das obrigações
emanadas dos Tratados, designadamente do artigo 4º, nº3 TUE – Lisboa, os Estados
membros devem garantir a plena aplicação do direito da União, quer adequando as
suas legislações ao mesmo, quer adotando as disposições jurídicas suscetíveis de
criar uma situação suficientemente precisa, clara e transparente que permita aos
particulares conhecer todos os seus direitos e invoca-los perante os órgãos
nacionais.
Descobrimos aqui vários subprincípios, cuja enumeração e descrição genérica
não é necessariamente fácil, mas que têm (todos) um enquadramento comum, o de
se referirem ao modo de relacionamento entre o direito da União e o direito criado
pelos Estados membros ao abrigo das suas competências próprias e soberanas.
Uma última nota cumpre fornecer porque, habitualmente, entre estes princípios
é costume referir o princípio da aplicabilidade direta. Para nós, contudo, o conceito
de aplicabilidade direta é um conceito técnico preciso, que se reporta a um acto
juridicamente vinculativo e típico da União Europeia. A obrigação de garantir a plena
eficácia do direito da União Europeia tem múltiplas dimensões, podendo envolver a
desaplicação de normas nacionais, qualquer que seja a sua dignidade formal, por um
lado. Mas também, por outro lado, resultará evidentemente que a plena eficácia do
direito da União tem também a virtualidade de interferir, se preciso for, no nível de
autonomia do legislador nacional.
Na síntese de Rostane Mehdii, a plena eficácia do direito da União implica a
obrigação para os órgãos do Estado de “excluir as regras internas adotadas em
violação da legalidade comunitária. É, deste modo, que o Tribunal considera que o
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 79
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
juiz nacional encarregado de aplicar (...) as disposições do direito comunitário, tem
a obrigação de assegurar o pleno efeito dessas normas deixando na necessidade
inaplicadas, por sua própria autonomia, toda a disposição contrária da legislação
nacional, mesmo posterior, sem que tenha de perguntar ou de esperar a eliminação
prévia destas por via legislativa ou por qualquer outro procedimento
constitucional”.
7.1 Princípio da Efetividade: (1) Efeito Direto
O efeito direto é uma das mais importantes características do direito da União
Europeia e mesmo uma das grandes originalidades da construção jurídica da União
Europeia. Na sua dimensão tradicional, o princípio do efeito direto transmite a ideia de
que as normas da União Europeia podem ser invocadas em juízo pelos particulares
perante os órgãos jurisdicionais nacionais, quer contra o Estado (efeito direto vertical)
quer contra outros particulares (efeito direto horizontal).
Há duas categorias de normas com efeito direto. Por um lado, segundo a
jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, gozam de efeito direto as
normas de direito da União que imponham deveres ou reconheçam direitos de forma
suficientemente precisa e incondicionada (efeito direto material). Por outro lado, há
normas cujo efeito direto resulta, não da suficiente precisão e incondicionalidade da
norma, mas da expressa previsão do mesmo em norma da União – é o caso da previsão
do efeito direto do nº3 do artigo 101º TFUE.
O efeito direto do direito da União não era óbvio, no início da experiência
comunitária. O Tribunal de Justiça começou por o reconhecer em relação à norma do
atual artigo 101º TFUE, em 1962, mas sem grande novidade em relação ao modo normal
de eficácia das normas de direito internacional público convencional. A normal do atual
artigo 101º TFUE dirige-se direta e imediatamente aos particulares, fazendo derivar do
simples preenchimento da hipótese normativa do nº1 a consequente invalidade
(nulidade) das coligações internacionais. Mas, no ano seguinte, o Tribunal de Justiça foi
mais longe e produziu uma verdadeira revolução, na resposta que deu ao Tribunal
nacional no processo Van Gend en Loos, ao reconhecer que os particulares podiam
invocar contra o Estado normas dos tratados que estabelecessem obrigações de
abstenção para os Estados de forma clara, precisa e incondicionada.
Em suma, o Tribunal de Justiça reconhece que o artigo 30º TFUE, “produz efeitos
imediatos e atribuiu direitos individuais que os órgãos jurisdicionais nacionais devem
tutelar”. Afirmado para reforçar a posição jurídica dos particulares perante os
incumprimentos estaduais, o Tribunal de Justiça acabou por reconhecer que esta
característica do efeito direto tanto pode verificar-se perante normas de direito
originário como face as normas de direito derivado, desde que suficientemente precisas
e incondicionadas. Se todas as normas podem gozar da característica do efeito direto,
desde que confiram direitos ou imponham obrigações de forma clara, precisa e
incondicionada.
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 80
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Assim, em relação ao direito originário – seguindo a lição tradicional de Jean
Victor Louis – o efeito direto das normas do tratado foi fundamentalmente reconhecido
em relação a três tipos de normas:
• As que se dirigem direta e imediatamente aos particulares – artigos 101º e 102º
TFUE.
• As que impõem aos Estados membros obrigações de abstenção – artigos 30º e
34º TFUE.
• As que impõem aos Estados membros obrigações de facere – artigo 110º TFUE.
Em relação ao direito privado, o princípio do efeito direto foi afirmado em relação
aos Regulamentos, às Diretivas e às Decisões. Contudo, em relação às Diretivas, o
Tribunal de Justiça efetuou uma distinção fundamental, já presente noutras situações,
entre duas modalidades do efeito direto: vertical ou horizontal. Pode, em geral, dizer-
se que as normas emanadas dos órgãos competentes da União Europeia que possuam
as características acima apontadas, tanto podem ser invocadas pelos particulares contra
o Estado (efeito direto horizontal) como contra outros particulares (efeito direto
horizontal). Já quanto às diretivas, a questão coloca-se de forma diversa. Por assim dizer,
as diretivas têm menos efeito direto do que as demais normas. Aí, o fundamento para
o reconhecimento de uma das dimensões do efeito direto – efeito direto vertical –
reside, antes de mais, na garantia mínima que o Direito da União deve oferecer aos
cidadãos na sua relação com o Estado, decorrente do carácter imperativo da obrigação
imposta aos Estados membros pelo artigo 288º TFUE.
7.2 Princípio da Efetividade: (2) Primado ou Prevalência na aplicação
Abordar o princípio da prevalência do direito da União sobre o direito nacional é
entrar domínio extremamente rico, mas também essencial para a compreensão da
natureza e sentido da integração europeia. Dir-se-ia que nada no sistema formal da
União Europeia parecia indicar um tal princípio. Na admirável síntese do prof. Nuno
Piçarra “o TCE não só prevê nenhuma disposição explicitando o primado do direito
comunitário sobre o direito dos Estados membros, como, de todo, não atribui ao
Tribunal de Justiça competência para anular normas nacionais alegadamente violadoras
do direito comunitário. Isto significa, portanto, que o TCE renunciou ao paradigma da
pirâmide...”.
No entanto, o que ficou dito não impediu uma rápida intervenção do juiz
comunitário para assegurar a efetividade do direito da União. Não foi por acaso que,
logo em 1964, o Tribunal de Justiça e, na sequência de um conjunto já importante de
arestos anteriores, estugou o passo e declarou a prevalência (na aplicação) do direito
europeu sobre o direito dos Estados membros.
Trata-se de um princípio afirmado jurisprudencialmente, ligado a uma certa ideia
de messianismo existencial da própria ordem jurídica da União Europeu, implicando
para os próprios órgãos nacionais a obrigação de garantirem a plena eficácia do direito
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 81
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
europeu, ainda que tal implique a desaplicação de normas nacionais, como, aliás, resulta
da jurisprudência do Tribunal de Justiça.
Impõe-se notar que se mantém atual a jurisprudência do Tribunal de Justiça
segundo a qual é a própria autonomia do legislador nacional que também é afetada, “na
medida em que os Estados membros tenham atribuído à Comunidade poderes
normativos, eles não têm mais o poder de adotar disposições autónomas messe
domínio – os regulamentos comunitários, sendo diretamente aplicáveis em todos os
Estados membros, excluem, salvo disposição em contrário, que estes possam, em vista
a assegurar a sua aplicação, adotar medidas que tenham por objeto modificar o seu
alcance ou de aditar algo às suas disposições”.
A dimensão clássica do princípio é aquela que nos enuncia Rostane Mehdii,
segundo o qual o juiz e a Administração têm a obrigação de “excluir as regras internas
adotadas em violação da legalidade comunitária. É deste modo que o Tribunal considera
que “o juiz nacional encarregado de aplicar (...) as disposições do direito comunitário,
tem a obrigação de assegurar o pleno efeito dessas normas, deixando na necessidade
inaplicadas, por sua própria autonomia, toda a disposição contrária da legislação
nacional, mesmo posterior, sem que tenha de perguntar ou de esperar a eliminação
prévia destas por via legislativa ou por qualquer outro procedimento constitucional”.
A afirmação da prevalência na aplicação ocorre assim, na jurisprudência, quer
face ao direito ordinário interno, quer mesmo quando em causa possa estar o direito
constitucional do Estado.
7.3 Princípio da efetividade: (3) uniformidade na aplicação
Uniformidade na aplicação é outro grande objetivo que o direito da União
procura alcançar. O direito da União Europeia deverá aplicar-se da mesma forma e com
o mesmo sentido em qualquer Estado membro, ainda que as realidades jurídicas sejam
diversas. Na sua formulação típica, o princípio afirma-se através do reenvio prejudicial
(artigo 267º do TFUE), que institui uma relação de colaboração entre os órgãos
jurisdicionais nacionais e o Tribunal de Justiça, da qual aqueles podem pedir a este que
se pronuncie sobre a interpretação de uma qualquer norma da União ou sobre a
validade de uma norma da União de direito derivado ou complementar.
Uma vez dada a resposta, o órgão nacional peticionante fica vinculado à resposta
dada pelo Tribunal de Justiça, ao aplicar (ou não) a norma da União ao caso concreto. A
uniformidade é assegurada por duas formas essenciais:
1) Pela força de irradiação ou de precedente de facto que habitualmente resulta
das pronúncias do Tribunal de Justiça e que leva os outros tribunais a
seguirem a apreciação feita pelo Tribunal de Justiça num determinado
processo;
2) Por o próprio sistema das questões prejudiciais prever, como sua
componente central, que, se uma questão de direito da União Europeia
surgir perante um órgão jurisdicional que vai decidir em última instância, este
está obrigado a reenviar, pelo que, em último termo e em todo e qualquer
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 82
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
processo, o Tribunal de Justiça pode ser chamado a interpretar ou apreciar a
validade de uma norma da União, assegurando assim, caso seja necessário,
a uniformidade na aplicação do direito da União.
A uniformidade na aplicação, além de uma dimensão espacial, tem também uma
dimensão temporal, que não costuma ser salientada. A interpretação que o Tribunal de
Justiça dá a uma norma do direito da União esclarece e precisa o seu significado e
alcance, tal como deveria ter sido compreendido e aplicado desde o momento da sua
entrada em vigor – “a norma assim interpretada pode e deve ser aplicada pelo juiz
mesmo às relações jurídicas surgidas e constituídas antes de ser proferido o acórdão
que decida o pedido de interpretação, se estiverem também reunidas as condições que
permitam submeter aos órgãos jurisdicionais competentes um litígio relativo à aplicação
da referida norma”.
7.4 Princípio da efetividade: (4) interpretação conforme
Outra ferramenta desenvolvida pela jurisprudência do Tribunal de Justiça para a
solidificação do edifício jurídico da União foi o princípio da interpretação conforme
(também chamado, por alguns, por efeito direto indireto ou apenas efeito indireto). Este
princípio afirma que o intérprete e aplicador do direito deverá, ainda quando deva
aplicar apenas direito nacional, atribuir a este uma interpretação que se apresente
conforme com o sentido, economia e termos das normas europeias.
Há quem o baseie no conhecido acórdão Marleasing, um acórdão em que o
Tribunal de Justiça se viu confrontado com um litígio entre duas empresas sobre a
validade de um contrato de sociedade. Tendo como pano de fundo o incumprimento
pela Espanha da obrigação de transposição de uma diretiva sobre sociedades, declarou
estar o intérprete obrigado a aplicar o direito interno de modo conforme aos objetivos,
economia e texto da diretiva.
Nas palavras do Tribunal de Justiça, “o juiz nacional deve, entre os métodos
permitidos pelo seu sistema jurídico, dar prioridade ao método que lhe permite dar à
disposição de direito nacional em causa uma interpretação compatível” com a norma
da União Europeia.
O princípio da interpretação conforme não deixa de encontrar os seus limites,
nomeadamente, como o próprio Tribunal de Justiça reconhece, “quando tal
interpretação leve a impor a um particular uma obrigação prevista numa diretiva não
transposta ou, por maioria de razão quando leve a determinar ou a agravar, com base
na diretiva e na falta de uma lei adotada para a sua aplicação, a responsabilidade penal
daqueles que atuem em violação das suas disposições”.
E quando deve ser o direito nacional interpretado de modo conforme ao direito
da União? A obrigação de interpretação conforme existe indubitavelmente quando o
padrão de conformidade do direito nacional é constituído por princípios de direito
comunitário ou por normas juridicamente vinculativas da União dotadas de efeito direto
e aplicabilidade direta. Estão nesta situação, por exemplo, as normas dos tratados, os
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 83
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
regulamentos e as diretivas em relação às quais já tenha decorrido o prazo de
transposição. Como já recordou o Tribunal de Justiça: “incumbem aos órgãos
jurisdicionais nacionais, na medida possível, interpretar as disposições do direito
nacional de forma a que possam ser aplicadas de modo a contribuírem para a
implementação do direito comunitário”.
O princípio da interpretação conforme é também plenamente reconhecido pela
jurisprudência nacional: “o princípio estruturante do direito comunitário de
interpretação conforme, definido pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias,
órgão máximo da interpretação do direito comunitário, princípio que deriva do primado
do direito comunitário sobre a ordem jurídica estatal, que significa, para o Tribunal de
Justiça das Comunidades Europeias, a obrigação de os juízes nacionais interpretarem o
seu direito nacional de modo a harmonizá-lo com o direito originário e derivado de
origem comunitária, na medida do possível”.
7.5 Princípio da Efetividade: (5) Responsabilidade Civil dos Estados membros
por violação do Direito da União Europeia
Se um Estado membro não cumpre o direito da União Europeia, isso não implica
a total desproteção dos direitos dos particulares. Os princípios do efeito direto e da
prevalência na aplicação permitem aos particulares a invocação em juízo das normas da
União dotadas de efeito direto. Esta via nacional de garantia da efetividade do direito
da União Europeia não oferece uma proteção completa da posição jurídica dos
particulares. Por um lado, as normas não cumpridas pelos Estados membros não
podem usufruir do efeito direto (por não reconhecerem aos particulares direitos de
forma precisa e incondicional). Por outro lado, mesmo providas de efeito direto, o seu
reconhecimento judicial pelas jurisdições nacionais não permite uma total reparação
dos prejuízos entretanto sofridos pelos particulares.
Daí que o Tribunal de Justiça tenha sido sensível à necessidade proteção e
eliminação das consequências jurídicas resultantes do incumprimento estadual,
reconhecendo o princípio da responsabilidade do Estado por violação do Direito da
União Europeia.
O direito à reparação foi afirmado no acórdão Francovich, no contexto de um
reenvio prejudicial (artigo 267º TFUE). A primeira resposta surge necessariamente
enquadrada pelas circunstâncias do caso. Tratava-se de prejuízos sofridos pelos
particulares resultantes da não transposição (já declarada pelo Tribunal de Justiça) de
uma diretiva desprovida (quanto à norma em questão) de efeito direto.
Guiado uma vez mais pela intenção de assegurar a plena eficácia do direito da
União Europeia, o Tribunal de Justiça reconheceu aí um direito subjetivo dos particulares
à reparação imposta pela obrigação de cooperação leal dos Estados membros (artigo 4º,
nº3 TUE – Lisboa) considerado “particularmente indispensável” quando as normas não
puderem gozar de efeito direto. O Tribunal de Justiça declara mesmo a inerência do
princípio de responsabilidade do Estado ao sistema do Tratado. Mas o princípio da
responsabilidade não é estritamente funcionalizado aos casos de inexistência de efeito
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 84
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
direto da norma da União infringida. Em relação à fattispecie concreta, o Tribunal de
Justiça subordinou o reconhecimento de um direito à reparação ao preenchimento de
três específicos pressupostos:
à O resultado da diretiva deve visar a atribuição de direitos aos particulares;
à O conteúdo desses direitos deve ser identificável com base nessas
disposições;
à Existe um nexo de casualidade entre a violação da obrigação de transposição
e o prejuízo sofrido pelos particulares;
O princípio foi substancialmente reafirmado e clarificado, em 1996, no processo
Brasserie du Pêcheur. Neste, não apenas o princípio é afirmado numa hipótese de
incumprimento de norma dotada de efeito direto, como é claramente afirmado quer
para as condutas do Estado legislador quer nos casos de responsabilidade por atos do
Estado-juiz. Neste processo, o Tribunal de Justiça re-enuncia os pressupostos de uma tal
responsabilização, nos seguintes termos:
1) A regra de direito da União Europeia deve ter por objeto conferir direitos
aos particulares; e
2) Deve configurar uma “violação suficientemente caracterizada” do direito
da União Europeia;
3) Deve existir um nexo casual entre a violação da norma da União e o prejuízo
sofrido pelo particulares;
Embora não se exija culpa (a título de dolo ou negligência) como pressuposto da
responsabilidade, o Tribunal de Justiça formula alguns critérios. Deve tratar-se de uma
violação grave e manifesta dos limites que se impõem ao seu poder de apreciação, o
que dependerá, entre outros fatores:
• Do grau de clareza e precisão da norma violada;
• Da margem de apreciação das autoridades nacionais;
• Da intencionalidade ou involuntariedade do incumprimento ou do
prejuízo;
• Da desculpabilidade ou não de eventual erro de direito;
• Da contribuição dos órgãos da União Europeia para o incumprimento
estadual;
Quanto à existência de uma violação grave e suficientemente caracterizada, o
critério que tem sido usado pelo Tribunal de Justiça é o da violação manifesta e grave,
por um Estado membro, dos limites que se impõem ao seu poder de apreciação. Assim,
quando o Estado membro em causa, no momento em que cometeu a infração, apenas
dispunha de uma margem de apreciação consideravelmente reduzida, ou mesmo
inexistente, a simples infração do direito comunitário pode bastar para provar a
existência de uma violação suficientemente caracterizada. Outra situação também
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 85
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
considerada como representando uma “violação grave e manifesta” é a do
incumprimento estadual que perdura após a condenação do Estado membro por
incumprimento (artigo 260º, nº1 – TFUE).
DUE I – 3ª Turma / Rafael Assunção 86
Você também pode gostar
- Imunidade de Jurisdição dos Estados e Direitos Humanos: uma crítica ao Caso FerriniNo EverandImunidade de Jurisdição dos Estados e Direitos Humanos: uma crítica ao Caso FerriniAinda não há avaliações
- Direito Da União EuropeiaDocumento115 páginasDireito Da União EuropeiaMariana Esteves100% (1)
- Obrigação estatal internacional de instituir políticas públicas ambientais: uma análise pontual sobre as estratégias voltadas a pôr fim ao uso insustentável dos recursos hídricosNo EverandObrigação estatal internacional de instituir políticas públicas ambientais: uma análise pontual sobre as estratégias voltadas a pôr fim ao uso insustentável dos recursos hídricosAinda não há avaliações
- UE Inês C. António G. Final PDFDocumento110 páginasUE Inês C. António G. Final PDFRita Sales BaptistaAinda não há avaliações
- Aulas de Direito Internacional: Direito InternacionalNo EverandAulas de Direito Internacional: Direito InternacionalAinda não há avaliações
- Dip ApontamentosDocumento93 páginasDip ApontamentosRita FernandesAinda não há avaliações
- A Constitucionalidade Da Lei E O Poder ConstituinteNo EverandA Constitucionalidade Da Lei E O Poder ConstituinteAinda não há avaliações
- Seção IIIDocumento24 páginasSeção IIIEdnilson MondlaneAinda não há avaliações
- Direito Internacional Publico PDFDocumento41 páginasDireito Internacional Publico PDFBruno CardosoAinda não há avaliações
- Ordem e equilíbrio global: o pacto da jurisdição supranacionalNo EverandOrdem e equilíbrio global: o pacto da jurisdição supranacionalAinda não há avaliações
- Organizações Internacionais ResumoDocumento25 páginasOrganizações Internacionais ResumoBriss QuaresmaAinda não há avaliações
- Direito Internacional Público 1° SemestreDocumento15 páginasDireito Internacional Público 1° Semestredeboragomess978Ainda não há avaliações
- Apostila De Noções De Direito ConstitucionalNo EverandApostila De Noções De Direito ConstitucionalAinda não há avaliações
- Direito Internacional PublicoDocumento41 páginasDireito Internacional PublicoMUIJAinda não há avaliações
- Atividade Da 2 Aula de Direito InternacionalDocumento6 páginasAtividade Da 2 Aula de Direito InternacionalAdriane SilvaAinda não há avaliações
- Direito Da Criança E Do Adolescente Para ConcursosNo EverandDireito Da Criança E Do Adolescente Para ConcursosAinda não há avaliações
- Apontamentos de Direito Internacional PúblicoDocumento38 páginasApontamentos de Direito Internacional Públicoagoquint50% (4)
- Divisões Do DireitoDocumento2 páginasDivisões Do DireitoLeonel Augusto Luiz XavierAinda não há avaliações
- Direito Internacional PúblicoDocumento19 páginasDireito Internacional PúblicoDaniela Ramos EduardoAinda não há avaliações
- Direito Internacional - Resumo 1º Bimestre - Faculdade de Direito de FrancaDocumento15 páginasDireito Internacional - Resumo 1º Bimestre - Faculdade de Direito de FrancaDonato GabrielAinda não há avaliações
- DIP - Apontamentos 4Documento45 páginasDIP - Apontamentos 4iurimiguelAinda não há avaliações
- Aulas Teóricas (Roberto Santos)Documento118 páginasAulas Teóricas (Roberto Santos)mariaprata1008Ainda não há avaliações
- SEBENTA de DIP Com Indice - José Carlos NevesDocumento47 páginasSEBENTA de DIP Com Indice - José Carlos NevesHugo Santos100% (1)
- A Comunidade InternacionalDocumento35 páginasA Comunidade InternacionalMarta AveiroAinda não há avaliações
- A Natureza e Eficácia Do Direito InternacionalDocumento12 páginasA Natureza e Eficácia Do Direito InternacionalCarlos FreireAinda não há avaliações
- Direito ComunitarioDocumento8 páginasDireito ComunitarioStiven JoseAinda não há avaliações
- Caderno Direito Internacional PublicoDocumento41 páginasCaderno Direito Internacional PublicoShony AlaneAinda não há avaliações
- A1 - Os Fundamentos Do Direito Internacional PúblicoDocumento9 páginasA1 - Os Fundamentos Do Direito Internacional PúblicoEdson LuizAinda não há avaliações
- Apostila 3 - Aula 04 - OfchanDocumento47 páginasApostila 3 - Aula 04 - Ofchanthiagomcgregor23Ainda não há avaliações
- Duda-1 V2Documento9 páginasDuda-1 V2Samson JoangueteAinda não há avaliações
- Sebenta DIP - RaquelDocumento132 páginasSebenta DIP - RaquelJoão FreitasAinda não há avaliações
- Direito Internacional PúblicoDocumento38 páginasDireito Internacional PúblicoYannick TinyAinda não há avaliações
- Avaliação 3Documento5 páginasAvaliação 3jose ricardo changa changaAinda não há avaliações
- Dip ResumoDocumento16 páginasDip ResumoiurimiguelAinda não há avaliações
- Resumos Livro Jorge MirandaDocumento58 páginasResumos Livro Jorge MirandaManuel Goncalves100% (3)
- Aulas TP 1º TesteDocumento15 páginasAulas TP 1º Testepaulamoreira0003Ainda não há avaliações
- Aula 09.06 - MaterialDocumento51 páginasAula 09.06 - MaterialDoutor RodinhasAinda não há avaliações
- Curso de D.I.P. - Parte IDocumento79 páginasCurso de D.I.P. - Parte ILuciano RezendeAinda não há avaliações
- DUE 1º FrequenciaDocumento10 páginasDUE 1º FrequenciaGbasAinda não há avaliações
- Soberania Tese 2Documento35 páginasSoberania Tese 2Lesllis JoseAinda não há avaliações
- Direito Internacional Público TesteDocumento6 páginasDireito Internacional Público TesteFilipa OliveiraAinda não há avaliações
- Dip 1Documento5 páginasDip 1Pietra CecconAinda não há avaliações
- Sebenta de Direito ConstitucionalDocumento158 páginasSebenta de Direito ConstitucionalCarlos Martins0% (1)
- Direito Da União EuropeiaDocumento7 páginasDireito Da União EuropeiaKuake HDAinda não há avaliações
- Direito Internacional Público e PrivadoDocumento10 páginasDireito Internacional Público e PrivadoMaria Eduarda Padua SantosAinda não há avaliações
- Cap - Ii - Sujeitos de Direito Internacional Pã - BlicoDocumento14 páginasCap - Ii - Sujeitos de Direito Internacional Pã - BlicoPedro Francisco LucasAinda não há avaliações
- Sebenta Direito ConstitucionalDocumento58 páginasSebenta Direito ConstitucionalDavid Silva100% (1)
- Apontamento de DiDocumento56 páginasApontamento de DiPedro GasparAinda não há avaliações
- Organizacao Do Poder PoliticoDocumento9 páginasOrganizacao Do Poder Politicovictorra357712100% (1)
- UC1 - DR3 - Democracia Participativa e RepresentativaDocumento25 páginasUC1 - DR3 - Democracia Participativa e RepresentativaD FAinda não há avaliações
- Introdução Ao Direito Internacional Público - PDF Módulo 1Documento43 páginasIntrodução Ao Direito Internacional Público - PDF Módulo 1Rodrigo Araujo07Ainda não há avaliações
- Soberania, Estado, Globalização e CriseDocumento18 páginasSoberania, Estado, Globalização e CriselaryssascmirandaAinda não há avaliações
- IFP - 09-Constituição Da RepúblicaDocumento5 páginasIFP - 09-Constituição Da Repúblicaluprof tpAinda não há avaliações
- Sebenta Direito ConstitucionalDocumento159 páginasSebenta Direito Constitucionalpaulf100% (30)
- Sujeitos Direito Internacional PublicoDocumento12 páginasSujeitos Direito Internacional PublicoTácila Maria100% (1)
- Introdução Ao Direito Internacional PúblicoDocumento39 páginasIntrodução Ao Direito Internacional PúblicoJose MeloAinda não há avaliações
- NoçãoDocumento4 páginasNoçãoCarlos OliveiraAinda não há avaliações
- Teoria Geral Do Direito Civil I Casos PráticosDocumento3 páginasTeoria Geral Do Direito Civil I Casos PráticosTatianaAinda não há avaliações
- Sebenta IAD IIDocumento78 páginasSebenta IAD IITatianaAinda não há avaliações
- Sebenta Introduà à oII PDFDocumento99 páginasSebenta Introduà à oII PDFTatianaAinda não há avaliações
- Teoria Do ProdutorDocumento8 páginasTeoria Do ProdutorTatianaAinda não há avaliações
- DIPI ExamesDocumento35 páginasDIPI ExamesTatianaAinda não há avaliações
- Celex 62021CJ0430 PT TXTDocumento18 páginasCelex 62021CJ0430 PT TXTAAA AAinda não há avaliações
- Comissão Europeia 2011 - Proposta de Directiva Do Parlamento Europeu e Do Conselho Relativa Aos Contratos PúblicosDocumento254 páginasComissão Europeia 2011 - Proposta de Directiva Do Parlamento Europeu e Do Conselho Relativa Aos Contratos Públicosluiz carvalhoAinda não há avaliações
- Noções Gerais de Direito Aduaneiro - 2022Documento495 páginasNoções Gerais de Direito Aduaneiro - 2022Dora LeitãoAinda não há avaliações
- Tratados Da CEE - UEDocumento5 páginasTratados Da CEE - UEjoanap2003Ainda não há avaliações
- Carta Dos Direitos Fundamentais Da UE PDFDocumento36 páginasCarta Dos Direitos Fundamentais Da UE PDFCandy JorgeAinda não há avaliações
- Tese - Sandra CardosoDocumento88 páginasTese - Sandra CardosoCátia SilvaAinda não há avaliações
- Apontamentos Do 10 - 03Documento17 páginasApontamentos Do 10 - 03Kikas MatosAinda não há avaliações
- Celex 32019R0515 PT TXTDocumento18 páginasCelex 32019R0515 PT TXTBrum ConstroiAinda não há avaliações
- Ficha Ponto 7Documento4 páginasFicha Ponto 7Teresinha DiasAinda não há avaliações
- Gomes Canotilho - D. AmbienteDocumento12 páginasGomes Canotilho - D. Ambientecatarinaqal321Ainda não há avaliações
- 2019 - Dezembro - Grelha de Correção Do ENAADocumento26 páginas2019 - Dezembro - Grelha de Correção Do ENAAMirla Valére De AmorimAinda não há avaliações
- Planif HGCA 3ºCEBDocumento13 páginasPlanif HGCA 3ºCEBZé MedeirosAinda não há avaliações
- Due 2Documento44 páginasDue 2Miguel BourdainAinda não há avaliações
- UE FuncionamentoDocumento44 páginasUE FuncionamentoCarlaAinda não há avaliações
- Tratado de LisboaDocumento4 páginasTratado de LisboaAnita Santos LeiteAinda não há avaliações
- Código de Redação Interinstitucional-OA0922124PTNDocumento330 páginasCódigo de Redação Interinstitucional-OA0922124PTNsandraexplicaAinda não há avaliações
- Campo Cultural e Gestao Cultural ProfissionalDocumento48 páginasCampo Cultural e Gestao Cultural ProfissionalHugo BerlingeriAinda não há avaliações
- Cue2012 2013 ExerciciospraticosDocumento13 páginasCue2012 2013 ExerciciospraticosJorge Pinto de AlmeidaAinda não há avaliações
- Regulamento de Roma IIIDocumento7 páginasRegulamento de Roma IIISimão Mendes de SousaAinda não há avaliações
- Principio Do PrimadoDocumento41 páginasPrincipio Do PrimadoKatiAinda não há avaliações
- Direito Da União Europeia Mafalda MalóDocumento55 páginasDireito Da União Europeia Mafalda MalóGABRIELLY CARVALHO ALVESAinda não há avaliações
- Direito Da União Europeia AtualizadosdocxDocumento37 páginasDireito Da União Europeia AtualizadosdocxjoanaAinda não há avaliações
- Mecanismos JurisdicionaisDocumento18 páginasMecanismos JurisdicionaisFelipe RibeiroAinda não há avaliações
- Revista Iberografias 18Documento445 páginasRevista Iberografias 18Centro de Estudos Ibéricos100% (2)
- D. Sebenta (Mariana Tralhão)Documento65 páginasD. Sebenta (Mariana Tralhão)Carolina LagoelaAinda não há avaliações
- Oj L 2013 060 Full PT TXTDocumento144 páginasOj L 2013 060 Full PT TXTTiago LopesAinda não há avaliações
- DUE - Frequencia 2Documento10 páginasDUE - Frequencia 2GbasAinda não há avaliações
- DUE 2 - ClassicaDocumento106 páginasDUE 2 - ClassicaLuis MazurAinda não há avaliações
- ATUALIDADEDocumento60 páginasATUALIDADEHamilton SouzaAinda não há avaliações
- Conf 2018Documento55 páginasConf 2018Nuno PassosAinda não há avaliações
- Planejamento Patrimonial e Sucessório: controvérsias e aspectos práticos: Volume IINo EverandPlanejamento Patrimonial e Sucessório: controvérsias e aspectos práticos: Volume IIAinda não há avaliações
- Como ganhar sua eleição para vereador: Manual de campanha eleitoralNo EverandComo ganhar sua eleição para vereador: Manual de campanha eleitoralAinda não há avaliações
- Uma leitura negra: Interpretação bíblica como exercício de esperançaNo EverandUma leitura negra: Interpretação bíblica como exercício de esperançaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Marketing Eleitoral: O passo a passo do nascimento de um candidatoNo EverandMarketing Eleitoral: O passo a passo do nascimento de um candidatoAinda não há avaliações
- A ditadura militar e os golpes dentro do golpe: 1964-1969: A história contada por jornais e jornalistasNo EverandA ditadura militar e os golpes dentro do golpe: 1964-1969: A história contada por jornais e jornalistasAinda não há avaliações
- A (des)regulamentação da Inteligência Artificial no Poder Judiciário BrasileiroNo EverandA (des)regulamentação da Inteligência Artificial no Poder Judiciário BrasileiroNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Constituição Federal: Atualizada até EC 108/2020No EverandConstituição Federal: Atualizada até EC 108/2020Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) 2016No EverandLei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) 2016Nota: 3 de 5 estrelas3/5 (2)
- ENSAIOS ACADÊMICOS: O PROCEDIMENTO COMUM À LUZ DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVILNo EverandENSAIOS ACADÊMICOS: O PROCEDIMENTO COMUM À LUZ DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVILAinda não há avaliações
- OUTRAS FORMAS DE ENTENDER A DEMOCRACIA: AS TEORIAS DA PARTICIPAÇÃO E DA DELIBERAÇÃONo EverandOUTRAS FORMAS DE ENTENDER A DEMOCRACIA: AS TEORIAS DA PARTICIPAÇÃO E DA DELIBERAÇÃOAinda não há avaliações
- Guia Prático Para Elaboração De Uma Política De PrivacidadeNo EverandGuia Prático Para Elaboração De Uma Política De PrivacidadeAinda não há avaliações
- Racismo estrutural e aquisição da propriedadeNo EverandRacismo estrutural e aquisição da propriedadeAinda não há avaliações
- Política Social, Assistência Social e Cidadania: Novos Tempos, Novas CríticasNo EverandPolítica Social, Assistência Social e Cidadania: Novos Tempos, Novas CríticasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Noções de Direito Tributário Municipal: um guia da teoria à práticaNo EverandNoções de Direito Tributário Municipal: um guia da teoria à práticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Guia Prático de Planejamento PatrimonialNo EverandGuia Prático de Planejamento PatrimonialAinda não há avaliações
- Finanças Organizadas, Mentes Tranquilas: A organização precede a prosperidadeNo EverandFinanças Organizadas, Mentes Tranquilas: A organização precede a prosperidadeNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (17)
- Como passar concursos CEBRASPE -Raciocínio Lógico, Matemática e InformáticaNo EverandComo passar concursos CEBRASPE -Raciocínio Lógico, Matemática e InformáticaAinda não há avaliações
- Desvendando O Metodo De Taufic Darhal Para Mega SenaNo EverandDesvendando O Metodo De Taufic Darhal Para Mega SenaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (3)
- Manual de direito administrativo: Concursos públicos e Exame da OABNo EverandManual de direito administrativo: Concursos públicos e Exame da OABAinda não há avaliações