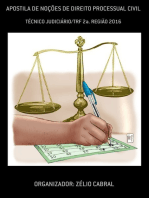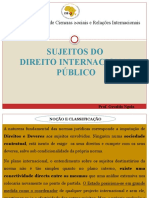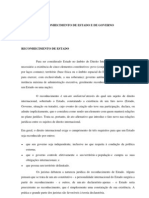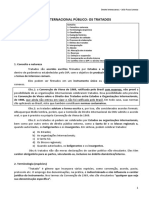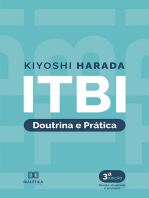Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Resumos Sujeitos DIP
Enviado por
Filomena0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações21 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações21 páginasResumos Sujeitos DIP
Enviado por
FilomenaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 21
1.
1O conceito de sujeito de Direito Internacional
No direito interno, a noção de jurídica define-se como a suscetibilidade de ser titular de direitos,
estar vinculado por obrigação ou, de outro modo, contar como sujeito situações jurídicas. Suposta a
personalidade jurídica, como atributo inato das pessoas singulares, a capacidade jurídica traduza a
medida ou o conjunto dos direitos e deveres que integram a esfera jurídica e atuação de certos jeitos
jurídico, à luz do direito aplicável. Dentro da capacidade jurídica, distingue-se a capacidade jurídica
de exercício ou capacidade para agir, que se define como a idoneidade ou aptidão para, por ato
próprio ou, através de representação legal, exercer direitos e cumprir deveres.
No direito Internacional, os conceitos de personalidade jurídica e capacidade jurídica, pensados para
pessoa física, tiveram de se adequar à personalidade coletiva de direito privado e, mais tarde, à
personalidade coletiva de direito Público, nas suas encarnações múltiplas. A personalidade jurídica,
dos entes coletivos e, na sua origem, razão de ser, mais uma construção ficcional, descarnada de
suporte físico, psicológico ou volitivo.
A subjetividade Internacional assenta, pois, numa aceção clássica de personalidade jurídica,
entendida esta como uma suscetibilidade - ou possibilidade abstrata e aberta- de ser titular de
direitos e está sujeito a deveres decorrentes de tais direitos e tais deveres de normas de direito. O
problema está em avaliar se outras entidades, para além do Estado, poderão ser consideradas
sujeitos, porque de modo circunstancial ou meramente utilitário, são admitidas a exercer direitos
obrigadas a cumprir deveres no quadro das relações jurídicas internacionais.
1.2 O Estado e os outros
O Estado soberano é o sujeito obrigatório de Direito Internacional.
O Estado soberano estará em condições de desenvolver todos os atributos tradicionalmente
associados à personalidade jurídica. O Estado beneficia de uma personalidade jurídica plena, o que
significa que só o Estado na ordem jurídica internacional poderá exercer todos os direitos e estar
sujeito a todos os deveres. Mas também esta asserção está limitada pois existem direitos e deveres
que não se adequam à esfera estadual, por exemplo, direito à pessoa humana.
Os outros sujeitos de Direito Internacional são, no plano histórico e normativo, uma derivação por
adaptação do Estado. Os sujeitos não estaduais, incluindo as organizações internacionais e o
individuo, em clara oposição à personalidade jurídica pleno do Estado, estão, em graus diferentes de
restrições, dependentes de uma personalidade jurídica funcional que limita a respetiva capacidade
jurídica de agir na ordem internacional.
O individuo tem um acesso muito limitado aos meios judiciais ou processuais de invocação de tal
direito em situações de violação. Por exemplo: No quadro do conselho da Europa e União Europeia,
os particulares têm acesso ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e ao Tribunal da Justiça da
União Europeia.
Mesmo no período em que o Estado beneficiou do estatuto de sujeito único de Direito Internacional,
outras entidades emergiram como sujeitos atípicos. No século XX afirmam-se entidades institucionais
não estaduais, em especial as organizações internacionais. Por exemplo: A Santa Sé, as cidades-
estado e os cantões integrantes da chamada Conferenção Helviética ou os Estados do da
confederação germânica até 1866.
As organizações internacionais, que debutam no século XIX através de entidades de finalidade
restrita são ainda um exemplo da vontade do Estado enquanto sujeito de Direito Internacional.
Uma outra distinção importa considerar entre personalidade jurídica interna e personalidade jurídica
internacional. A primeira não implica, de modo automático, a segunda. E o mesmo é valido quando
avaliamos a relação de “poder ser” em Direito Internacional e do “pode ser” em Direito Interno. Os
tratados institutivos da União Europeia acolhem uma solução que torna patente esta existência
jurídica em dois planos diferentes a funcionar paralelamente: Artigo 47º do Tratado da EU; Artigo
281º do Tratado da Comunidade Europeia.
1.3 Sujeitos e atores. O instituto do reconhecimento
Um dos aspetos mais sensíveis e da responsabilidade Internacional: as normas internacionais não
podem exigir responsabilidade de uma entidade que, à luz do direito Internacional, não seja
reconhecida como sujeito.
Admite-se que a mera imposição de deveres pela norma Internacional pode ser interpretada como
indício suficiente de “poder ser” em Direito Internacional. A personalidade jurídica funciona, por
estas razões, como uma condição prévia necessária da atuação jurídico. No entanto, a sua relevância
ultrapassa largamente o plano jurídico. No direito Internacional, o reconhecimento de sujeitos é, no
essencial, uma questão política: Certifica a sua legitimidade enquanto grupo e garanta a respetiva
autonomia de decisão contra eventuais interferências de terceiros.
O reconhecimento da personalidade jurídica não depende de critérios exclusivamente formalistas,
porém também não se resume a uma questão de influência ou relativo protagonismo no palco
Internacional.
Na situação atual da evolução Direito Internacional, será adequado definir a personalidade jurídica
como um conjunto de direitos, obrigações e competências, com fundamento em normas
internacionais e cuja concretização prática pode, eventualmente, convocar mecanismos de direito
estadual, maxime tribunais nacionais, no âmbito da relação de complementaridade entre direito
Internacional e direito interno.
O reconhecimento de personalidade jurídica é um ato unilateral, natureza discricionária, através do
qual o governo de um Estado ou órgão representativo de uma Organização Internacional exprimem
o seu acordo relativamente à existência de um novo sujeito de direito Internacional. Considerado
inadequado em relação ao indivíduo e desnecessário em relação às organizações internacionais de
âmbito parauniversal, o reconhecimento, mesmo que a sua eficácia seja apenas declarativa, facilita
o normal desenvolvimento das relações internacionais. O assentimento dos que formam a
comunidade Internacional é uma garantia de legitimação para um novo membro que nela pretende
participar.
O reconhecimento, quanto ao modo de o praticar, pode ser:
→ Expresso: Mediante ato formal que o visa comunicar ao reconhecido e, indiretamente, à
comunidade internacional (Ex: Uma simples nota diplomática de reconhecimento; Declaração
pública de congratulação pela independência dos EUA);
→ Implícito: Quando a vontade de reconhecimento é suscetível de ser inferida, com razoável
certeza, de uma ou várias condutas concordantes (Ex: um tratado bilateral celebrado com um
novo Estado).
No que respeita aos efeitos do reconhecimento, a doutrina ensina que, relativamente à sua
reversibilidade temos:
→ Reconhecimento de iure: definitivo e tendencialmente irrevogável;
→ Reconhecimento de facto: provisório e irrevogável;
Sob o ângulo dos efeitos, importa distinguir:
→ O reconhecimento declarativo: limita-se a certificar e admitir a realidade jurídica do sujeito
que, presume-se, existir por si. Esta teoria trata este ato como uma mera formalidade.
Aplicado ao Estado, o reconhecimento declarativo arreda os outros Estados do papel do
criador, porque a criatura nasceu e tem de dar provas de vingar por si no seio da comunidade
internacional. A Convenção de Montevideu sobre Direitos e Deveres dos Estados (1933)
consagra a teoria declarativa no seu artigo 3º. A teoria declarativa tem a vantagem de ser ou
parecer menos permeável aos juízos políticos sobre a existência de um novo Estado. Em
princípio, uma vez preenchidos os requisitos da Estadualidade (população permanente,
território determinado, governo efetivo, capacidade de entrar em relação com os demais
Estados), o Estado adquire o estatuto de sujeito estadual. O reconhecimento declarativo de
sujeitos de Direito Internacional é enquadrado pela doutrina maioritária. A prática
subsequente à Queda do Muro de Berlim enfraqueceu consideravelmente aos pressupostos
da teoria declarativa ou, pelo menos, colocou em evidência a impossibilidade de a aplicar na
sua versão originária como se o reconhecimento fosse um ato puramente formal ou objetivo.
→ O reconhecimento constitutivo: alimentado pela corrente positivista do Direito Internacional,
que sob este ponto privilegia uma abordagem mais realista e menos institucional da
comunidade internacional, o ato de reconhecimento é conditio sine qua non de possibilidade
de uma determinada entidade exercer, no todo ou em parte, os direitos, deveres e
competência que integram o núcleo formador da subjetividade internacional.
Relacionada com esta contraposição entre o conhecimento declarativo e de reconhecimento
constitutivo estará a teoria da personalidade jurídica objetiva. A Organização das Nações Unidas,
segundo o artigo 2º, n.º 1, da Carta das Nações Unidas, assiste uma personalidade objetiva, oponível
aos demais Estados e demais sujeitos. Por oposição, os outros sujeitos de direito Internacional
estarão limitados por uma personalidade jurídica relativa, por isso, dependentes de uma conduta
expressa ou indiciária de reconhecimento.
O debate jurídico em torno dos efeitos temporais e dos efeitos jurígenos extravasa, largamente, o
plano das construções teóricas, algumas dos autores clássicos que experimentam dificuldade de
leitura de uma realidade bem diferente da que existia ao tempo.
Uma teoria geral do reconhecimento seria possível, quando o problema se resumia ao Estado, a
abertura da comunidade Internacional a novas entidades, algumas de vocação alternativa ou
competitiva em relação ao Estado, em número e variedade de sistemas que sustentam uma
característica de proliferação e heterogeneidade, torna, por isso, instante a análise do
reconhecimento, os seus pressupostos e efeitos, do ponto de vista da prática Internacional relevante
a propósito dos principais sujeitos, os Estado e os outros.
2.1 Aspetos Introdutórios
No direito Internacional Público clássico, segundo modelo vestefaliano de Estados soberanos, a
personalidade jurídica Internacional envolvia 3 ?:
➢ Ius tractum (Direito de celebração de tratados e acordos internacionais);
➢ Ius legationis (Direito ao estabelecimento de relações diplomáticas e consulares);
➢ Ius belli (Direito de fazer a guerra).
O exercício de atualização dos conteúdos típicos da personalidade Internacional clássica repercute-
se em diferentes níveis, cabendo destacar os seguintes:
• Estas prerrogativas, de base consuetudinária, evoluíram no sentido do seu enquadramento e
limitação por via de vontade para pactícia dos Estados. No caso do direito de fazer a guerra,
deixou mesmo de ser um direito, em virtude da Carta das Nações Unidas., inibido pelo
princípio da proibição do uso da força, do qual subsiste uma modalidade defensiva ou de
segurança coletiva.
• A era dos direitos, suprema manifestação da soberania absoluta incondicional, deu lugar a
uma conceção que associa aos direitos a vinculação ao cumprimentos de deveres, sobre
formulação negativa (não utilização da força) ou sobre formulação positiva (dever de
pagamento de indemnização)
• A três manifestações clássicas nasceram sob o signo do Estado e até são adaptáveis a outros
sujeitos internacionais de matriz institucional, como é o caso das organizações internacionais.
Porém, o estatuto jurídico-Internacional do indivíduo não é compaginável com este quadro
tradicional. Como destinatários das normas internacionais, o indivíduo exerce direitos e está
sujeito a deveres, designadamente decorrentes do Direito Penal Internacional.
• Também os Estados têm ao seu dispor um leque mais vasto de possibilidades jurídicas de
atuação Internacional, no qual destacamos o direito de participação em instâncias
internacionais, permanentes ou ad hoc, de discussão de questões técnicas que influenciam
diretamente os processos de formação do direito Internacional. Esta participação e
representa hoje uma dimensão fundamental, porventura menos conhecida, da política
externa de um Estado.
• Especificamente sobre o direito de reclamação Internacional, o artigo 34º, n.º 1, Estatuto do
Tribunal Internacional da Justiça, reserva o direito de pleitear aos Estados, o que se explica
no contexto do direito Internacional de justiça, cujo acesso é apenas franqueado aos Estados.
Porém, o direito de formação Internacional, não se esgota no direito de recurso aos tribunais,
existindo outras modalidades, como as formas de protesto, vida, pedidos de inquérito,
solicitação de arbitragem, petições. A eficácia garantidora das normas de proclamação dos
direitos do Homem passa, justamente, pela possibilidade do indivíduo fazer valer os seus
direitos no quadro das instâncias internacionais.
2.2 Elementos constitutivos da Estadualidade
O Estado é a organização do governo de uma determinada comunidade territorial. Esta organização
do Governo também se encontra em entidades como regiões autónomas e Estados federados. O que
individualiza então o Estado enquanto sujeito de direito Internacional?
Expressão da competência das competências, definimos a soberania com como o poder político, de
determinação primária das formas de organização e de representação da comunidade política,
incluindo a definição dos meios e procedimentos de exercícios dos correlativos poderes de
autoridade. Soberania interna no sentido em que o Estado tem de estar em condições -políticas,
legislativas e judiciais- de impor as suas decisões aos demais níveis internos da decisão (competência
supremo). Soberania externa ou Independência do Estado na sua relação com os outros Estados e
demais sujeitos internacionais que exclui relações baseadas ou desenvolvidas no quadro de uma
dinâmica de dependência jurídica, económica e política. A Independência -um poder igual entre
iguais - e, ao mesmo tempo, a condição e o critério de identificação do Estado soberano.
Não ajuda nada uma certa corrente doutrinária que “Diaboliza” a soberania, vista como um
anacronismo que, refém do paradigma clássico da paz de Vestefália, seria no século XXI, um conceito
do passado que entrava o aprofundamento da efetividade do direito Internacional. conforme
determina o artigo 2º, n.º 1 da Carta das Nações Unidas, a organização “é baseada no princípio da
igualdade soberana de todos os seus membros”.
Não se trata de pretender para os Estados um estatuto de soberania absoluta e condicional. O
preceito da Carta coloca a devida ênfase na ideia da igualdade soberana. Um Estado é independente
na exata medida em que o Direito Internacional lhe reconhece o direito de exercer a plenitude das
suas competências, internas e externas, nos mesmos termos que os outros Estados são admitidos a
fazê-lo. A reciprocidade dos direitos e interesses, a qual subjaz uma representação material de
equidade, constitui um fator determinante no processo de criação e garantia da norma Internacional.
Do mesmo modo que a soberania interna não é incompatível com a sujeição do Estado aos limites
impostos pela Constituição, a invocação da soberania externa não é um argumento jurídico válido
para subtrair o Estado ao respeito do direito Internacional. Em suma, a plenitude das competências
é, no caso da esfera interna como no da esfera externa, o apanágio do Estado soberano de direito.
A discussão em torno dos requisitos da estadualidade incide muito mais sobre os aspetos na sua
verificação do que sobre a enunciação de tais requisitos.
“O Estado como pessoa de direito Internacional, deve reunir os seguintes requisitos:”
a) População permanente;
b) Território determinado;
c) Governo;
d) Capacidade de entrar em relação com os demais Estados;
A Convenção de Montevidéu não foi assinada ou ratificada por Portugal, mas a generalidade da
doutrina admite que as disposições desta Convenção, concretamente o citado artigo 1º, têm
relevância de direito costumeiro. Parece-nos inquestionável esta função codificadora do texto do
Montevideu, que em nada prejudica, como aconteceria no caso de normas convencionais,
necessidade de submeter estes requisitos a uma interpretação atualista, sintonizada com a evolução
do Direito Internacional Público.
Os quatros critérios são de verificação cumulativa. Não obstante, a falta temporária de um deles não
tem o efeito automático de privar o Estado de personalidade Internacional.
2.2.1 População permanente
Uma população que seja permanente no sentido de construir uma comunidade humana estável,
eventualmente formada por grupos de nómadas que, por razões históricas, se deslocam entre
territórios de Estados diferentes.
O número de pessoas que fazem parte da população de um Estado não afeta, em princípio, a sua
aptidão de Estado.
Na perspetiva do Direito Internacional, a população não tem de ser homogénea, nem corresponder
a noção histórica de Nação nem sequer a noção politico-constitucional de povo. O requisito da
população permanente ou estável refere-se ao conjunto de indivíduos que residem ou se deslocam
no território. A questão da natureza destes indivíduos- nacionais ou estrangeiros- integram a
competência soberana do Estado na determinação dos seus próprios nacionais, que deve ser
regulada pelo novo Estado. Em suma, a qualificação dos nacionais é uma consequência e não um
requisito da própria estabilidade.
2.2.2 Território determinado
Sem território não existe Estado. A noção internacionalmente relevante de território engloba, para
alem da parte terrestre, o território marítimo sobre jurisdição estadual. Não se impõe uma extensão
territorial mínima, mas, como veremos, a exiguidade é do território pode afetar as funções típicas da
estadualidade. A exigência de um território determinado refere-se a um núcleo territorial definido,
mesmo que uma parte, menor ou maior, das suas fronteiras seja objeto de disputa.
2.2.3 Governo efetivo
Embora o texto da convenção de Montevideu não use o adjetivo “efetivo”, a doutrina tende a
considerar como necessário um governo que esteja em condições de garantir a ordem e a aplicação
da lei no respetivo território. Situações especiais são admitidas de governo no exilio, impossibilitados
de exercer um controlo efetivo, ou lapsos de tempo mais ou menos prolongados de guerra civil,
anarquia ou ocupação estrangeira que não permite, no todo ou em parte, ao governo o desempenho
das respetivas funções.
O princípio da independência, aliado ao corolário da não-ingerência nos assuntos internos, deveria
ser suficiente para excluir exercícios de apreciação valorativa sobre a legitimidade democrática do
governo de um Estado.
Esta seria, de resto, uma consequência inevitável da igualdade soberana dos Estados (Artigo 2º n.º
2 da Carta das Nações Unidas). À teoria da efetividade foi, contudo, oposta a teoria da legitimidade.
No século XX, assistimos a uma ressurgência da ideia de legitimidade que, supostamente, fundaria o
direito de avaliar um governo na perspetiva de saber se, pressupostos certos padrões de democracia
representativa e respeito pelos direitos humanos, seria um governo legítimo e democrático. Em
nossa opinião, parece importante separar, na medida do possível, dois planos de análise: por um
lado, a capacidade de um governo para garantir a ordem e a lei no respetivo território e, por outro
lado, a legitimidade, sobretudo, a prática de um tal governo no exercício do poder. Governos
autoritários e sanguinários não afetam a existência. Internacional do Estado em causa. A origem
ditatorial do regime e/ou a violação sistemática dos direitos da população não são indiferentes do
ponto de vista jurídico Internacional, no sentido, por exemplo, de justificar que um outro Estado se
recusa a manter relações com um tal governo ou com fundamento de aplicação de sanções
internacionais. Noutra perspetiva, a natureza do Governo não se reconduz a uma questão puramente
interna quando a sua prática contraria, de modo duradouro e consistente, direito dos povos a um
governo democrático.
2.2.4 Capacidade para estabelecer relações internacionais
Não é pacífico o entendimento sobre o sentido atual deste requesto. A sua explicitação no texto da
Convenção Montevideu estará ligada a razões históricas sobre a dificuldade de avaliar o estatuto.
A capacidade entrar em relação com os demais Estados (interprete-se com os demais sujeitos
internacionais), através de celebração de tratados internacionais e outros meios de estabelecimento
da relação juridico-intenacional, pressupõe que a entidade em causa seja independente. Neste
sentido, uma tal capacidade revela se mais como uma consequência da estabilidade do que de um
dos seus requisitos. A relevância sobrevivente do critério serviria para explicar a situação dos Estados
integrantes de uma Federação, impedidos de estabelecer relações internacionais. A questão que se
coloca aqui é da relação entre Independência e capacidade de atuar no foro Internacional virou uma
espécie de projeção jurídica do dilema da causalidade, de pura retórica bizantina, sobre o que vem
primeiro, se ouve se a galinha.
A capacidade para estabelecer relações internacionais depende, como vimos, da natureza
independente do Estado. Será mais fácil perceber o que está em causa se pensarmos na formulação
pela negativa: gostado não é independente se e quando as suas decisões são tomadas - ou
determinadamente influenciadas - por outros Estados ou quaisquer outros centros de decisão
Exteriores ao respetivo governo. Não basta a Independência formal. Quando a questão se coloca a
propósito do grau efetivo da Independência da decisão de um determinado Estado, o candidato da
Estado, cabe à comunidade Internacional no seu todo ou a cada um dos Estados, avaliar a
consistência e suficiência dos indícios da Independência invocada.
A Independência é compatível com restrições consentidas (autolimitação), por via de convenções
internacionais e com limitações impostas pelo direito Internacional (hétero-limitação), no
pressuposto que estas, torrentes de costume ou princípios gerais de direito, não envolvam exigências
discriminatórias, contrárias ao princípio da igualdade soberana dos Estados e ao princípio da
reciprocidade.
2.2.5 Casos controvertidos de estadualidade: microestados, Estados dependentes, Estados
fantoches, Estados falhados.
Constituindo a Independência formal um pressuposto da existência do Estado como sujeito
Internacional, encontramos no passado e no presente das relações internacionais, alguns casos de
estadualidade duvidosa ou atípica, dada a relação de sujeição que o suposto estado mantém ou
consente com outro Estado ou outros Estados. Por circunstâncias, históricas e políticas que escapam
ao formato unificador do regime jurídico, temos, por um lado, Estados não soberanos que,
coerentemente, não têm capacidade jurídica Internacional e outros, aos quais reconhecem direitos
de atuação Internacional, apesar da limitação ou impossibilidade de soberania.
Alguns Exemplos:
1. Estados exíguos e micro-estados: Caracterizados pela exiguidade do território, alguns de
natureza insulares, em número muito limitado de habitantes. A exiguidade territorial estará
na origem da capacidade jurídica limitada de alguns destes Estados, que dependem dos
Estados vizinhos maiores ou outros com os quais têm relações de afinidade para o exercício
das respetivas prerrogativas de representação Internacional. A categoria de Estados exíguos,
cuja limitação jurídica e formal, encontrou sobretudo na Europa: São Marinho em relação à
Itália, Villa Monica em relação à França, Andorra em relação à França e Espanha, mas com um
estatuto constitucional da autonomia relativamente diferenciada. Fora da Europa restam
alguns exemplos da era colonial: as Ilhas Marshall e Palau, em relação aos Estados Unidos,
que asseguram a sua defesa e segurança. Uma segunda categoria, a que podemos chamar em
sentido próprio, micro-estados, agrupa um número muito elevado de países soberanos e
independentes, ao menos no plano jurídico formal, confinados num território muito limitado,
com tendência a diminuir, senão mesmo a desaparecer, como acontece com vários pequenos
Estados insulares do Pacífico e Polinésia em virtude das alterações climáticas e,
consequentemente, subida das águas dos oceanos. Os microestados, em sentido próprio,
assumem por si os direitos de representação Internacional. O problema que se coloca em
relação aos Estados Exíguos que integram organizações internacionais, como as Nações
Unidas e o Conselho da Europa, é um risco de atuarem como mero estado satélite em relação
ao Estado procurador. No que se refere aos micro-estados, a reserva não é despicienda,
porque o risco de dependência em relação aos vizinhos ou aliados pode tornar-se dominante
no seio de organizações internacionais que aplicam um princípio, um Estado, um voto.
2. Estados dependentes: Estados desprotegido, o protetorados, e Estados vassalos são outra
manifestação do período de colonização, sob um modelo de ingerência externa que ainda se
recuperou no passado recente. As potências europeias, como alternativa à política de
ocupação, confiavam a tarefa de governação aos poderes locais, delegação não raras vezes
sancionada por tratado Internacional. Do tipo Estado vassalo, privado de independência
formal, depende do Estado suserano, numa relação evocativa da submissão de tipo feudal,
vários exemplos no século XIX - Egito e várias regiões balcânicas em relação ao Império
Otomano. No século XX, continuam a existir Estados que dependem de outros para participar
na vida Internacional, mas o objetivo é o de diluir a ideia um tanto odiosa de subordinação e
substituí-la pela ideia de proteção, porventura mais condizente com o novo paradigma das
relações internacionais.
3. Estados fantoche ou Estado satélite: Já é bem mais complexa a condição do chamado Estado
fantoche ao Estado satélite: para os próprios e para a comunidade Internacional. A imagem
de um Estado que atua como fantoche ou satélite de outro serve para vincar o seu grau
consentido ou inoxidável e ingerência por parte de uma potência estrangeira. Um exemplo
histórico bem conhecido foi o da Manchúria, Estado criado pelo Japão numa tentativa de
iludir a realidade da ocupação militar nipónica a entre 1931 e 1945.
4. Estados falhados: por razões internas ou externas, um Estado pode deixar de ter condições
para garantir a função primordial de aplicar a lei e manter a ordem e, por consequência, fica
fragilizado, ou mesmo impossibilitado de exercer os direitos associados à subjetividade
Internacional, mais vulneráveis, por outro lado, à proteção imposta por outros Estados. Para
Francis Fukuyama, o enfraquecimento do Estado soberano, consequência ou não de uma
estratégia deliberada por parte da potência hegemônica, representa uma das mais sérias
ameaças à ordem Internacional do século XXI. Segundo este autor, “estes Estados fracos, têm
colocado ameaças à ordem Internacional, porque são fonte de com conflitos e violações
graves dos direitos humanos e porque se tornam terrenos potenciais para aumentar o novo
tipo de terrorismo, pode chegar ao mundo desenvolvido”.
Situação distinta destas que acabamos de analisar, a dos Estados com soberania limitada ou
fictícia, é a relativa a entidades que, não tendo o estatuto jurídico de Estados, são reconhecidos
como sujeito de Direito Internacional.
Num registo completamente diferente estão os territórios que, submetidos a um regime
internacionalizado, carecem, contudo, capacidade jurídica Internacional, como acontece com a
Antártida.
2.2.6 Reconhecimento de Estados
A Convenção de Montevidéu fornece elementos importantes sobre o fundamento e as condições
de reconhecimento do Estado. Não basta a Independência formal (artigos 3º, 6º e 7º). Cumpre
voltar a insistir sobre a extrema dificuldade de construir no plano jurídico a partir de um instituto
largamente politizado e sobre o qual subsistem interrogações crónicas a respeito dos seus efeitos
da sua natureza e ainda sobre o objeto próprio do reconhecimento. Vamos, de seguida, alinhar
tópicos de análise, uns extraídos do esteio normativo consolidado, outros sugeridos por uma
prática Internacional mais recente de valor jurídico incerto, que tomados no seu conjunto nos
permitem dispor de uma base para o enquadramento nos casos concretos, ainda que esta base
não seja linear nem fechada.
A teoria sobre a natureza declarativa do reconhecimento, consagrada na convenção de
Montevidéu e também na Carta da Organização dos Estados Americanos, é maioritária na
doutrina. A imprecisão sobre os critérios desta atualidade, mesmo admitindo que são os previstos
na Convenção de Montevidéu, aliada ao desamparo em que se encontra um Estado não
reconhecido, ou reconhecido por um número pouco expressivo de Estados, são fatores que
abrem a porta á teoria do reconhecimento constitutivo. Uma porta nas traseiras para a qual se
procura não chamar a atenção.
Não estando em causa a relevância própria da construção dogmática em torno do
reconhecimento dos Estados, importa conter a tentação de um exercício de pura expressão
retórica, profissão de fé na conceção declarativa, quando a prática recente oferece vários
exemplos que acentuam a componente politizada do ato reconhecimento de um novo Estado.
No século passado, um movimento de autodeterminação dos territórios coloniais, conduziu à
Independência um largo número de novos Estados, especialmente em África, na Ásia, na Oceânia,
no pacífico. Nos anos 90, o movimento independentista e o processo de criação de novos Estados
adquirem contornos muito diferentes. Após a queda do Muro de Berlim, abriu-se a porta à
ressurgência de pretensões históricas de antigas nações, cuja pulsão com centrífuga fez implodir
as federações que integravam.
Em 1991, quando começa a guerra da secessão nos Balcãs, a União Europeia, no âmbito da
chamada cooperação política europeia, nomeia uma comissão, cuja missão era a de fornecer
orientações jurídicas de acompanhamento das decisões políticas a tomar em matéria de
reconhecimento. Os pareceres desta Comissão, embora não tendo força vinculativa, serviram, à
data dos acontecimentos, de diretrizes e de orientação e, para o futuro, ajudaram a harmonizar
a política da UE em matéria de reconhecimento, conferindo a previsibilidade possível às posições
dos Estados-membros quando se trata, no âmbito de uma competência própria, de decidir o que
fazer sobre a pretensão de reconhecimento de um novo Estado.
Com base nestas recomendações, a União Europeia chegou a uma plataforma de acordo sobre
as exigências a satisfazer pelos candidatos a Estados. O novo guião do reconhecimento
estabelecia como exigência:
• Respeito pelas disposições da Carta das Nações Unidas e os compromissos assumidos no
âmbito da Ata Final de Helsínquia e do Acordo de Paris, especialmente os relativos ao
Estado de direito, democracia e direitos humanos.
• Garantias de respeito pelos direitos das minorias e grupos étnicos, de acordo com os
princípios estabelecidos no âmbito da OSCE.
• Respeito a inviolabilidade das fronteiras existentes (Princípio uti possidetis), Suscetíveis
de alteração apenas por meios pacíficos e negociados.
• Aceitação de todos os compromissos relevantes em matéria de desarmamento e de não
proliferação nuclear, bem como os relativos à segurança e estabilidade regional.
• Resolução por acordo, incluindo o recurso à arbitragem quando tal se revela apropriado,
das questões relativas à sucessão entre Estados e diferendos regionais.
Assim, aos requisitos constantes da Convenção de Montevidéu a União Europeia acrescenta outros
critérios que se ligam diretamente com uma ideia de Estado e não apenas com uma estrutura
jurídica-institucional de Estado. Apesar de a Comissão Badinter ter reitorado. a sua convicção sobre
a “natureza puramente declarativa do reconhecimento”, as orientações definidas introduzem um
juízo de avaliação política dificilmente conciliável com a leitura canónica do reconhecimento
declarativo.
O ato de reconhecimento do Estado é unilateral e produz os seus efeitos no plano das relações
bilaterais entre Estados. Não obstante, a existência de uma organização de âmbito parauniversal,
como a organização das Nações Unidas, confere particular significado à decisão de admitir um novo
Estado no seio da família onusiana que, assim, funciona como uma espécie de reconhecimento
coletivo. Constitui, em qualquer caso, uma Mensagem inequívoca de legitimação aprovada por, pelo
menos, 2/3 dos Membros das Nações Unidas, incluindo os 5 membros permanentes do Conselho de
Segurança. (artigo 4º, articulado com o 18º nº1 e o artigo 7º nº3 da Carta das Nações Unidas).
Importa, contudo, sublinhar que o efeito de uma eventual categoria jurídica do reconhecimento
coletivo não se sobrepõe ao reconhecimento individual. Um membro das Nações Unidas não fica
vinculado a reconhecer um Estado que já foi admitido nem a aceitar os efeitos de um reconhecimento
ao qual se opõe.
Em matéria de reconhecimento, a ONU adquiriu uma competência que, embora decorrente do
exercício da prerrogativa da admissão/ não admissão prevista no artigo 4º da Carta, não estava
enquanto tal consagrada no texto da Carta. A partir de uma prática política iniciada na década de 60
do século passado, a ONU funciona como Instituição representativa do querer da comunidade
Internacional sobre o reconhecimento e o não reconhecimento.
O reconhecimento dos Estados, suscita dificuldades acrescidas quando um novo Estado se formou
com origem na separação de um Estado preexistente, no exercício de um proclamado direito à
autodeterminação. Um dos problemas mais difíceis de enquadrar pelo direito Internacional é,
justamente, o do direito de secessão, funcionalmente ligado ao dos limites do direito à auto-
determinação.
O direito à auto-determinação dos povos, consagrado nos Pactos de 1966 e na Declaração de
Princípios de 1970, é geralmente invocado como direito costumeiro. A incerteza relativamente ao
exercício deste direito, resulta basicamente da necessidade de articular com outro princípio
fundamental do direito Internacional, conhecido pela designação de uti possidetis. Este princípio
traduz uma preocupação antiga e legítima com a inviolabilidade e a intangibilidade de fronteiras
internacionalmente reconhecidas, assumindo como prevalecente o título de quem possui.
Na ausência de um critério de hierarquia entre normas ou entre princípios gerais de direito
Internacional, como resolver o conflito entre direito à auto-determinação do povo Catalão e o
princípio da soberania territorial de Espanha, que postula a estabilidade e inviolabilidade das suas
fronteiras? Este exemplo estende-se a vários casos de nacionalismo regional na Europa. Nestes casos,
o direito Internacional fornecerá argumentos úteis de fundamentação das pretensões invocadas
pelas partes que se confrontam, mas, em última análise, a solução é política é obtida na mesa das
negociações, no plano interno no plano Internacional como mediação.
O reconhecimento de novos Estados envolve, naturalmente, reconhecimento do respetivo governo.
A questão adquire autonomia quando o governo de um Estado existente é substituído por outro em
condições excecionais, que justifiquem, eventualmente, a internacionalização do problema. Com
efeito, a sucessão de governos conforme as regras constitucionais ou mesmo a substituição de um
governo com violação dos procedimentos constitucionais previstos são factos que se reconduzem à
categoria das situações puramente internas, relativamente às quais os Estados terceiros não devem
interferir. Só assim não será se o aparecimento de um governo, resultado do uso de meios violentos,
do apoio das forças estrangeiras ou ainda na situação de existir mais do que um governo, como
acontece quando um governo em funções na capital. É desafiado por outro proclamado Governo,
com sede na outra parte do território nacional ou no exílio.
No quadro do direito Internacional clássico, o Governo só deveria ser reconhecido se fosse
independente, não submetido a poderes externos e estivesse em condições de exercer um controlo
efetivo sobre o território. A evolução registada mostra que outros fatores passaram a influir,
nomeadamente a origem democrática do novo governo e o respeito pelo Estado de direito. À luz
deste critério, que valoriza a legitimidade em detrimento da efetividade, será compreensível, por
exemplo, o reconhecimento de um governo no exílio, o que, no contexto de uma guerra civil ou de
um golpe de Estado, foi obrigado abandonar a capital e reivindica o exercício dos seus poderes a
partir de uma zona do território nacional onde se encontra entrincheirado. Desde o início da década
de 90 do século XX, é esta a posição seguida pela União Europeia, com base no guião do
reconhecimento que resulta da Carta de Paris para uma Nova Europa.
Em suma, no quadro da teoria das relações internacionais, com maior ou menor componente
normativa, podemos delinear 3 abordagens ou correntes a respeito do reconhecimento de governos:
• Cada Estado reconhece o novo Governo apoiado em considerações de ordem objetiva e
factual, sem atender a juízos sobre a legitimidade do poder das novas autoridades, aplicando
um princípio bem conhecido de realpolitik (teoria objetivista ou pragmática).
• Cada Estado reconhece o novo governo porque este corresponde à ideia de um governo
legítimo ou, simplesmente, é o governo que interessa aos interessados do Estado que o
reconhece. Neste caso, o reconhecimento do governo torna-se um instrumento de pressão
política, especialmente se usado por Estados de influência hegemónica em virtude do seu
estatuto de membros permanentes do Conselho de Segurança ou de potências regionais
(teoria subjetivista).
• Conhecida pela doutrina estrada, a premissa é da desnecessidade do reconhecimento do
Governo, por tal implicar uma ingerência ilegítima de um Estado nos assuntos internos de
outro Estado. A doutrina Estrada exclui, pois, a necessidade de um ato Expresso e formal para
reconhecimento de governo, sendo suficiente para o direito Internacional e, para o normal
desenvolvimento das relações diplomáticas virou aqui. O novo Governo exerce poderes de
controlo efetivo sobre o território nacional. Na opinião da regente, a doutrina Estrada, parte
de premissa certa e revela-se como a mais adequada ao princípio da não ingerência nos
assuntos internos, garantia fundamental da Independência, igualdade soberana dos Estados.
Não se trata, importa sublinhar, de legitimar governos ditatoriais porque, simplesmente. se
dispensa o reconhecimento. Diferente é a situação em que o Conselho de Segurança, no
exercício dos poderes perante a segurança coletiva que lhe são conferidos pelo capítulo VII
da Carta das Nações Unidas, qualifica o derrube de um governo democrático por meios
violentos com uma “ameaça à paz” e exige o regresso, o regresso ao poder do Governo
democrático que foi apeado. Nestes casos, por efeito do artigo 25º da Carta das Nações
Unidas, os Estados, como Membros das Nações Unidas, estão impedidos de reconhecer o
governo saído de um golpe militar.
2.3 Estados e jurisdição
2.3.1 O mito da jurisdição exclusiva e ilimitada
Segundo uma abordagem dita realista, os Estados poderiam fazer tudo o que o direito Internacional
não proíbe - E até, para os mais cínicos, na acepção filosófica da expressão, o direito Internacional
proíbe, mas não tem força para impedir. Na qualidade de soberano, o Estado poderia decidir
livremente, no limite do seu território, sobre o conteúdo das leis e a forma de as aplicar. Neste
sentido, a jurisdição seria exclusiva e ilimitada. No quadro do direito Internacional, o termo jurisdição
designa o âmbito da competência do Estado para definir e aplicar, incluindo por meios coercivos, as
normas relativas às pessoas, à propriedade e a situações ou acontecimentos eventualmente fora do
seu território. Na origem, estava em causa basicamente a jurisdição sobre questões jurídico-penais,
mas a crescente erosão das fronteiras em matéria comercial e económica alargou o problema da
jurisdição para outros domínios, como da legislação sobre concorrência entre empresas, direito
bancário, regras de saúde pública, etc.
A pluralidade do Estado e a relevância de fatores de conexão entre os respetivos ordenamentos
jurídicos, potenciou as situações em que a jurisdição ou competência de um Estado entra em
competição ou concorrência com a jurisdição de outro Estado. A jurisdição estadual, para além de
não ser exclusiva, também é limitada, porque, mesmo antes da evolução do direito Internacional no
sentido de proteção transnacional dos direitos das pessoas, já as leis internacionais clássicas
reconheciam, em nome do princípio da igualdade soberana entre os Estados, os limites à jurisdição
interna decorrentes das regras sobre imunidade: um Estado, incluindo os seus órgãos superiores e o
pessoal diplomático, não deve ficar sujeito ao julgamento dos seus atos por outro Estado.
2.3.2 Direitos Fundamentais dos Estados
A expressão direitos fundamentais anda comummente ligada ao respeito pelo Estado da dignidade
da pessoa humana, no quadro da respectiva ordem jurídica interna,e, sobretudo, menos consensual
a doutrina que faz dos Estados titulares de direitos fundamentais- não apenas de direitos e deveres.
A convenção de Montevideu sobre Direito e Deveres dos Estados, cuja vocação codficatória,
geralmente aceite, consagra no artigo 5º - “Os direitos fundamentais dos Estados não são suscetíveis
de ser afetados de alguma forma”. No mesmo sentido, o do reconhecimento de direitos
fundamentais aos Estados de fundo consuetudinário ou com a natureza de princípios gerais de direito
Internacional, assinalamos o projeto Declaração de Direitos e Deveres dos Estados (PDDDE), adotada
pela Comissão de direito Internacional em 1949.
O adjetivo fundamental aplicado aos direitos (e aos deveres) dos Estados, apesar do grau de incerteza
que envolve, tem a vantagem de Identificar direitos que, com independência do concreto suporte
normativo, geral ou convencional, são pressupostos pela existência e preservação da estabilidade.
Como em relação a qualquer sujeito jurídico, é a ordem jurídica Internacional que traça as condições
de existência do Estado e, direta ou indiretamente, enuncia os direitos inalienáveis, cuja titularidade
não depende sequer da vontade dos Estados, equivalente nesta aceção aos direitos de
personalidade. São direitos do Estado de eficácia erga omnes, oponíveis aos demais Estados e a todos
os sujeitos de direito, incluindo organizações internacionais e indivíduos, com recurso aos meios
jurídicos internos ou aos mecanismos internacionalmente existentes. Em registo de mínimo
denominador comum, parece-nos que serão quatro os direitos fundamentais do Estado:
1) Direito à Independência e à soberania;
2) Direito à igualdade;
3) Direito à auto-preservação;
4) Direito à paz (ou direito à proibição do uso da força);
Importa recordar e precisar a fundamentalidade destes direitos não é sinónimo de direitos absolutos,
insuscetíveis de restrição tornada necessária por um exercício de conciliação prática entre direitos
de diferentes Estados. Assim, o direito à igualdade não é incompatível com um tratamento
diferenciado, desde que justificado por critérios objetivos de diferenciação. O direito à paz não
confere a cada um dos Estados o direito de se opor ao uso da força por outro Estado, no quadro
consentido pelo direito Internacional, como se verifica no caso da legítima defesa ou, eventualmente,
da responsabilidade de proteger. Em contrapartida, direito à paz como direito inalienável,
pressuposto pela existência e continuação do Estado, não colide com o direito de exigir o uso de
energia Nuclear exclusivamente pacíficos.
Por outro lado, os Estados enquanto titulares de direitos fundamentais estão, igualmente,
comprometidos com a obrigação de respeitar deveres fundamentais. Alguns destes deveres
fundamentais são a contrapartida ou exigência simétrica do direito fundamental conexo: O respeito
pela Independência e soberania dos Estados implica o dever de não ingerência nos assuntos internos.
Por seu lado, o direito à paz reclama dos Estados o dever de resolver os litígios por meios pacíficos,
bem como o dever de não recorrer “à guerra como instrumento de política nacional e de se abster
de qualquer ameaça ou uso da força, seja contra a integridade territorial ou Independência política
de outro Estado, seja de outra forma incompatível com o direito à ordem internacional”. (artigo 8º e
9º do PDDDE)
2.3.3. Princípios definidores da jurisdição do Estado
2.3.3.1 Princípio da territorialidade
Cada Estado tem o poder de determinação jurídica de pessoas e situações nos limites do seu
território. O elemento mais característico e há mais tempo associado a esta jurisdição de base
territorial é o poder de punir. Existe conflito quando o comportamento punível envolve mais do que
um Estado: na fronteira terrestre entre o Estado A e o Estado B, alguém, a partir do território do
Estado A, dispara e mata, uma pessoa que se encontra no Estado B. Nesta hipótese típica de formação
académica, os dois Estados terão fundamento para reformar o direito de julgar e punir o alegado
homicida. O Estado A por ser no seu território que teve origem o comportamento punível
(territorialidade subjetiva). O Estado B por ser no seu território que os efeitos do comportamento
punível foram sentidos (territorialidade objetiva).
2.3.3.2 Princípio da nacionalidade
Outro princípio clássico em matéria de invocação da jurisdição é o da nacionalidade: um Estado
reclama autoridade em relação aos seus nacionais, mesmo que estes no momento do consentimento
do ato em causa se encontrem fora do território nacional. Em situações de dupla ou
plurinacionalidade, o eventual conflito de jurisdição convoca a aplicação de regras determinativas da
chamada nacional dominante, por exemplo, do país onde o indivíduo reside ou nasceu.
Em Portugal, o Código Penal, feita a ressalva sobre os compromissos do Estado português assumidos
por via de Tratado ou Convenção Internacional, estabelece um regime limitado de jurisdição pelo
critério da nacionalidade, dependente de o agente se encontra em Portugal ou aqui residir
habitualmente.
2.3.3.3 Princípio da proteção
A generalidade dos Estados reconhece-se o direito de punir atos lesivos de segurança nacional e
outros interesses vitais quando praticados por estrangeiros no estrangeiro.
Embora reconhecido pelas legislações internas e aplicado pelos tribunais em casos que definem
jurisprudência, o princípio da proteção encerra riscos que não são negligenciáveis. Em primeiro lugar,
os Estados podem ser tentados a abusar desta prerrogativa para perseguir pessoas por razões
políticas ou condicionar a ação de empresas estrangeiras. Em segundo lugar, o princípio. Ne bis in
idem, que protege, uma pessoa de ser julgada duas vezes pela prática do mesmo crime, é, por regra,
preterido quando está em causa a tutela do interesse coletivo vital que convoca a jurisdição
protetiva.
2.3.3.4 Princípio da personalidade passiva
O fundamento da jurisdição é, neste caso, da nacionalidade da vítima: um Estado terá o direito de
acusar e punir o alegado autor de crimes cometidos no estrangeiro contra os seus nacionais ou que
afetem o interesse dos seus nacionais. De recente inovação, apesar da sua relação com a génese
inspiradora do instituto clássico da proteção diplomática, o princípio da personalidade passiva coloca,
por um lado, dificuldades práticas e, por outro lado, contradiz a ideia basilar da igualdade soberana
dos Estados e do princípio da confiança que lhe deve andar associada.
O direito interno raramente acolhe o princípio da personalidade passiva, salvo no contexto
excecional de legislação anti-terrorismo. O Congresso norte-americano aprovou em 2000 várias
medidas que reconhecem aos tribunais norte-americanos o direito de julgar crimes cometidos no
estrangeiro por cidadãos estrangeiros contra diplomatas ou cidadãos norte-americanos, sob a forma
de rapto a terrorista.
2.3.3.5 Princípio da universalidade
Sob a égide deste princípio, um Estado pode arrogar-se o direito de julgar nos seus tribunais, de
acordo com a legislação penal que concretiza o respetivo ius puniendi, um cidadão estrangeiro pela
prática de um crime no estrangeiro, seja qual for a nacionalidade da vítima. Em rigor, princípio da
universalidade é o critério mais audacioso de justificação de jurisdição, inteiramente desligada dos
critérios clássicos da territorialidade e da nacionalidade. O que orienta uma tal expansão dos limites
originais de jurisdição dos Estados é uma ideia louvável.
O regime da jurisdição universal dos Estados no que toca aos crimes de pirataria, de comércio de
escravos e ataques a embaixadas, resulta de normas costumeiras. Nos finais do século XX, assistimos
a uma tendência que se consolidou de extensão da universalidade, como reação à violação a grave
das normas garantidoras dos direitos humanos.
Apesar do direito Internacional de fonte consuetudinária aceitar, pois, o princípio da jurisdição
universal, reconhecendo aos Estados o direito de optar pelo seu exercício, raros são os Tratados que
estabelecem a obrigatoriedade da jurisdição universal. Foi rejeitada a proposta de prever no Estatuto
de Roma o princípio da universalidade, a razão pela qual o TPI está limitado pelos princípios da
territorialidade e da nacionalidade., sendo a sua competência de natureza “complementar das
jurisdições penais nacionais”.
Importa não confundir a gravidade do crime com a existência de jurisdição universal. O exemplo mais
ilustrativo diz respeito à Convenção para a Preservação e Repressão do Crime de Genocídio. Gás a
criminalização dos no sido qualificado como crime têm natureza criminal Internacional, cuja
jurisdição tenha sido reconhecida pelas partes contratantes, ou seja, o Estado. A Convenção
estabelece a Universidade da Proibição dos Crimes de Genocídio, mas quando deixa aos Estados a
opção pela exclusão da universalidade de jurisdição, fragiliza a garantia das normas ius cogens
porque, no limite, se não existir tribunal Internacional competente, o crime pode ficar impune.
2.3.4 A pretensão da extraterritorialidade
O intenso debate se desenvolveu em torno dos princípios clássicos de limitação da jurisdição do
Estado, primeiro, a propósito das legislação anti-trust dos Estados Unidos e, mais recentemente,
sobre o âmbito de vinculação das normas garantidoras de direitos humanos. Num caso e no outro,
pontifícia fica a questão jurídica controvertida sobre os limites da extraterritorialidade, com forte
impacto nas relações económicas de equilíbrio entre empresas diferentes Estados. No caso dos
direitos das pessoas com influência direta na salvaguarda de standards mínimos de proteção, somos
confrontados com divergências entre Estados sobre o nível consentido, internacionalização das
normas de proteção, mesmo no interior de um espaço partilhado de garantia judicial como o da
Convenção Europeia dos Direitos Humanos.
A jurisprudência dominante nos tribunais norte-americanos era da chamada teoria dos efeitos na
apreciação da licitude face ao direito norte-americano de acordos comerciais celebrados entre
empresas estrangeiras no estrangeiro, cuja aplicação se fará sentir no mercado dos Estados Unidos.
Apesar de contestada no seu fundamento, a extraterritorialidade como meio de defesa das leis da
concorrência contra práticas concertadas em países terceiros acabou por ser também aplicada pelas
autoridades europeias, nomeadamente pelo Tribunal de Justiça da União Europeia.
A opção pela extraterritorialidade no campo do controlo das atividades das empresas, para além do
risco de funcionar como uma ferramenta de protecionismo económico ou mesmo de guerra
comercial, apresenta a dificuldade de envolver uma investigação sobre entidades que atuam no
território de outros Estados e que necessitaria, por isso, seja na fase da iniciativa, seja na fase judicial,
da cooperação ativa e transparente por parte das autoridades congéneres de outros Estados.
2.3.5 Conflitos de jurisdição
São frequentes as situações de jurisdições concorrentes sobre pessoas ou acontecimentos suscetíveis
de gerar um conflito entre Estados titulares de competência equivalente para dirimir a questão
jurídica. A crescente afirmação de critérios indutores de extraterritorialidade contribui, de resto, para
agudizar o conflito de jurisdições entre Estados.
O direito Internacional não oferece o conforto de uma solução clara para este problema. A solução
deve ser ponderada caso a caso, levando em consideração os elementos relevantes de ligação com
os vários Estados envolvidos. Como uma evidente prudência, a doutrina aponta as vantagens de
soluções baseadas na razoabilidade, em detrimento de soluções unilaterais de afirmação da
jurisdição.
Próxima desta ideia de razoabilidade ou moderação estará o critério mais genérico da
subsidiariedade. A jurisdição é reconhecida ao Estado, que apresenta uma relação mais forte ou
efetiva com a situação plurilocalizada. Se o Estado onde se encontra, o suspeito não o quer julgar
pode/deve extraditá-lo para o Estado que o solicitar.
Para evitar “refúgios de criminosos”, tratados internacionais podem impor aos Estados obrigação de
julgar ou extraditar. A Convenção para a Eliminação do Financiamento do Terrorismo estabelece no
artigo 10º que se um Estado decide não extraditar o presumível autor “fica obrigado a submeter o
caso, independentemente do crime ter sido cometido no seu território, às suas autoridades
competentes para fins de exercício da ação penal, segundo o processo previsto nas leis desse Estado”.
Em sentido próximo, a Convenção contra a Tortura de 1987 exige dos Estados em cujo território se
encontre o suposto criminoso a adoção de medidas necessárias para estabelecer a sua jurisdição
sobre os crimes alegadamente cometidos se decidir pela não extradição. No caso, questões
relacionadas com a obrigação de perseguir ou extraditar, o TIJ qualificou as obrigações para os
Estados de investigar, acusar ou extraditar, de acordo com os artigos 6º e 7º da Convenção contra a
Tortura, como obrigação erga omnes. Todos os Estados que são partes na Convenção partilham um
interesse fundamental em assegurar a prevenção e punição dos atos de tortura.
No domínio da ação penal, a tendência para aceitar que, pelo menos em relação aos crimes mais
graves, os Estados que representem os interesses da comunidade Internacional, privilegiando a
cooperação ao invés da competição. Reconhece-se, contudo, que noutros domínios, como é o do
direito económico e o direito à concorrência, seja mais difícil contrariar o sentido protecionista da
determinação do foro competente.
2.4 Estados e imunidades
O regime de imunidade do Estado relativamente às leis e tribunais de outros Estados tem, em larga
medida, origem consuetudinária e constitui uma exigência do princípio de igualdade soberana dos
Estados no seio da comunidade jurídica Internacional. Assinalamos a Convenção Europeia sobre
Imunidade dos Estados, celebrada em Basileia em 1962, aberta à assinatura e ratificação dos Estados
membros do Conselho da Europa. Esta Convenção, visa estabelecer regras comuns relativas ao
âmbito da imunidade de uma parte contratante em relação à jurisdição dos tribunais de uma outra
parte. No plano universal, foi negociada a Convenção das Nações Unidas sobre Imunidades
jurisdicionais dos Estados e dos seus bens.
Permanece a dúvida sobre a qualificação do ato como público ou privado. Mesmo nas situações
típicas de ato jus imperii pode acontecer que os efeitos do ato tornem, ética e juridicamente,
inaceitável a solução de imunidade. É o que se verifica quando estão em causa violações flagrantes e
muito graves dos direitos humanos, traduzidas, por exemplo, em práticas de tortura ou assassinato
a soldo.
O Chefe de Estado, personifica o próprio Estado e é o seu mais Alto Representante nos fóruns
Internacionais. É esta função simbólica de representação, acresce a função jurídica de ?
Sempre que o Chefe de Estado atua no exercício destas funções de representação, beneficia de um
regime de imunidade equivalente ao que é reconhecida ao Estado. O artigo 3º, nº 2, da Convenção
das Nações Unidas sobre as Imunidades jurisdicionais dos Estados não refere expressamente a
condição dos Chefes de Estado, mas ressalva que a aplicação da Convenção não prejudica os
privilégios e imunidades concedidos, Ratione personae, ao abrigo do direito internacional, aos Chefes
de Estado.
De acordo com a jurisprudência definida no caso Arrest Warrant, a imunidade reconhecida ratione
personae é absoluta, tem fundamento consuetudinário e garante ao representante do Estado
direitos de inviolabilidade pessoa, incompatíveis com a sua detenção ou ordem de captura
internacional.
Mesmo após a cessação de funções de representação do Estado, antigos Chefes de Estado e ex-
ministros mantêm o benefício da imunidade perante os tribunais nacionais de Estados estrangeiros,
em relação a atos praticados no exercício das funções públicas.
Uma outra limitação à regra de imunidade é a que resulta da jurisdição penal Internacional. O
estatuto dos tribunais penais ad-hoc para a ex Jugoslávia e para o Ruanda torna irrelevante a
condição de Chefe de Estado ou qualquer outra função oficial para efeitos de imputação de
responsabilidade pela prática de crimes de guerra, crime de genocídio ou crimes contra a
humanidade. Dir-se-á que sem esta previsão se aplicaria a regra consuetudinária de imunidade
pessoal absoluta. Após a acusação deduzida contra Chefes de Estado e de ex-Chefes de Estado
perante a justiça penal Internacional é legítimo colocar a questão de saber se a referida regra
consuetudinária não terá já sido substituída por regra costumeira de sentido contrário, relativa à
responsabilidade penal no caso dos crimes tipificados pelo Estatuto de Roma, bem como de outros
crimes cuja gravidade justifique o exercício da jurisdição universal previsto em convenções de
vocação parauniversal.
A imunidade diplomática é, por sua vez, uma consequência do regime clássico das imunidades do
Estado. Durante séculos, mesmo naqueles períodos mais sombrios, em que a força tende a calar o
que é direito e justo, os representantes de reis e príncipes, imperadores e papas, os chamados
embaixadores, recebem proteção que impedia o país anfitrião de os prender, julgar e matar. O acervo
consuetudinário do direito diplomático seria objeto de codificação com a Convenção de Viena sobre
relações diplomáticas.
Esta Convenção estabelece quatro categorias de pessoas abrangidas:
1. Os membros do pessoal diplomático no sentido próprio do termo;
2. Os membros do pessoal técnico e administrativo;
3. Os membros do pessoal de serviço;
4. Os membros do serviço privado ou particular.
As relações diplomáticas, e o seu normal desenvolvimento por via da intervenção dos representantes
dos Estados, pressupõe a existência de um mútuo consentimento. O Estado Acreditante, deve
certificar-se de que a pessoa que pretende nomear como chefe de missão ou qualquer membro do
pessoal diplomático terá o acordo do Estado acreditador. A recusa de acreditação não tem de ser
justificada. Igualmente livre é a decisão por parte do Estado acreditador de declarar o chefe de
missão ou qualquer membro do pessoal diplomático como persona non grata, o que levará à sua
expulsão se o Estado acreditante não tomar a iniciativa de o retirar. O livre-arbítrio no processo de
aceitação/rejeição de um diplomata constitui, em certa medida, o preço a pagar pelo estatuto de
imunidade que lhe é garantido no território do Estado onde exerce as respetivas funções.
Os locais de missão, os edifícios utilizados para as finalidades da representação diplomática, incluindo
a residência do Embaixador, são invioláveis. Os agentes do Estado acreditador não podem entrar no
edifício sem o consentimento do chefe de missão. A regra da inviolabilidade, é de aplicação estrita,
pedra angular do regime jurídico da imunidade diplomática. Embora situado no território do Estado
acreditador, um local de missão é considerado como se, para todos os efeitos jurídicos relevantes,
fosse território do Estado acreditante. A regra da inviolabilidade entende-se aos arquivos e
documentos, às comunicações e correspondência.
À pessoa do agente diplomático é garantida imunidade no foro criminal. A família do agente
diplomático, que com ele vivam, gozam dos privilégios e imunidades referidos no artigo 29º a 36º da
Convenção., desde que não sejam nacionais do Estado do Acreditador. Ainda em consequência deste
princípio de discriminação em função da nacionalidade, o agente diplomático que seja nacional do
Estado acreditador, ou nele tenha residência permanente, apenas gozará de imunidade, de jurisdição
e de inviolabilidade em relação aos atos oficiais praticados no desempenho das suas funções. Por
outro lado, o agente diplomático não exercerá no Estado acreditador nenhuma atividade profissional
ou comercial em proveito próprio, deve respeitar as leis e regulamentos do Estado acreditador, e
tem a obrigação de não se imiscuir nos assuntos internos do referido Estado.
Os agentes e funcionários das organizações internacionais, por um lado, e os agentes diplomáticos
dos Estados que os representam junto de organizações internacionais, por outro lado, uns e outros
beneficiam de um regime de privilégios e imunidades equivalente ao previsto na Convenção de 1961.
Embora não exista um instrumento convencional equivalente para as organizações internacionais,
como se verifica com a Convenção de Viena sobre o direito dos Tratados, a Convenção de 1961 têm
servido de matriz para a definição das disposições sobre privilégios e imunidades que constam do
Tratado intuitivo de cada Organização Internacional.
As missões consulares são, diferentes das missões diplomáticas, órgãos de função técnica ou
administrativa que visam proteger no Estado recetor os interesses e as pessoas nacionais do Estado
que envia. As imunidades e inviolabilidade aplicáveis aos diplomatas são aplicáveis aos funcionários
consulares, embora de modo muito mais limitado e adequado à natureza administrativa, e não
política, das suas funções.
Sobre a situação muito particular dos militares no estrangeiro, a regra geralmente aceite pelos
Estados é a de reconhecer a imunidade funcional e orgânica dos militares pertencentes a um Estado
terceiro e em missão no seu território. Trata-se, contudo, de uma modalidade limitada de imunidade:
imunidade: Os militares estarão excluídos de responsabilidade penal e civil, mas apenas em relação
aos atos integrantes no âmbito da missão militar. Fora deste contexto, os militares não gozam de
imunidade pessoal, nos termos reconhecidos aos agentes diplomáticos.
No plano convencional, o estatuto dos efetivos militares no estrangeiro, incluindo os que entregam
as forças de manutenção da paz ao serviço das Nações Unidas, tem sido definido em acordos a ad
hoc, os chamados SOFA. O modelo é o da Convenção sobre o estatuto das forças da NATO no
território dos países membros, adotado em Londres em 1951.
2.5 Estadualidade: continuidade e manutenção
Como qualquer instituição jurídica, por analogia com o ciclo de existência de um organismo vivo, o
Nascimento do Estado não garante a sua perpetuação. Embora a presunção seja favorável à
continuação do Estado, mesmo naqueles casos em que o Governo deixou de ter temporariamente
condições para exercer, no plano interno e no plano externo, os poderes típicos do Estado. Existem
situações extremas em que a continuidade do Estado é posta em causa: anarquia, guerra civil,
ocupação por exércitos estrangeiros, derrota militar em conflito com outros Estados.
As mutações suscetíveis de interferir com a existência qua tale de um Estado são diferentes, ordem,
podendo reconduzir-se a quatro modelos.
1. Sessação - a separação de uma parte do território afeta a configuração do Estado
originário e dá lugar a um novo Estado. Nem sempre o processo de cessão é pacífico, com
vários exemplos de guerra civil entre os defensores e opositores da separação.
2. Descolonização - movimento generalizado, proclamação de Independência iniciado nos
anos 50 do século passado, por parte das antigas colónias que os países ocidentais
mantinham em África, na Ásia e no Pacífico. Embora se trate de uma separação como na
sessação, a descolonização concretiza o direito à autodeterminação dos povos e, do ponto
de vista territorial, respeita a territórios longínquos ou, no mínimo, sem continuidade
territorial com a chamada metrópole, ou seja, o território da potência colonizadora.
3. Reunificação - Um processo de orientação centrípeta atrai pequenos Estados para a
formação de uma entidade independente maior. No século XX, foram marcantes as
decisões de reunificação dos Estados divididos, como se verificou com a República Federal
da Alemanha e a República Democrática Alemã.
4. Dissolução - em oposição à unificação, uma força Centrífuga determinou o
desmembramento do território do Estado originário, em processos que podem ser
relativamente consensuais, mais raros, ou precedidos por guerras de acrisolado cunho
patriótico.
Sempre que um Estado dá lugar a outro, seja por dissolução, por sessação ou por unificação, importa
determinar quais os direitos e deveres que se transferem do anterior para o novo Estado. Dada a
complexidade das questões envolvidas a uma certa flutuação na prática Internacional, muito
dependente das concretas circunstâncias históricas em que ocorre a sucessão, torna-se muito difícil
a definição de princípios gerais. A substituição de um Estado por outro, na responsabilidade pelas
relações internacionais de um território, com todas as obrigações e direitos associados, pode ser
regulada por 3 formas: 1) Um acordo de transição celebrada entre os Estados predecessor e o Estado
sucessor em relação a determinados aspetos; 2) Decisão unilateral do Estado sucessor, mais
frequente noa casos de Estados saídos de processos de descolonização, os chamados novos Estados
independentes, que se podem valer do princípio da tábua rasa para repudiar os efeitos jurídicos
sucessórios resultantes dos tratados celebrados pelo Estado predecessor. 3) Pelo direito
Internacional geral e convencional aplicável: a Convenção de Viena sobre sucessão de Estados em
matéria de Tratados, Na Convenção de Viena sobre a Sucessão dos Estados relativamente à
propriedade, arquivos e dívidas dos Estados. Em todo o caso, a relevância destes textos resulta,
sobretudo, da natureza qualificatória da boa parte das suas disposições.
3. Raposas e ouriços no Direito Internacional
Se, como no glosado ensaio de Isaiah Berlin, existem escritores Raposa e escritores ouriço, a distinção
que daí procede entre um conhecimento plural e aberto, por um lado, e o conhecimento unívoco e
dogmático, por outro, também nos ajuda a entender os desafios que se colocam à doutrina no direito
Internacional. No domínio específico da teoria da subjetividade Internacional, o pensamento típico
do ouriço, conquanto coerente e sistemática em torno do Estado, como “coisa muito importante”,
não será suficiente para enquadrar as muitas coisas que, de modo crescente e assimétrico, ocupam
o espaço da subjetividade Internacional, numa relação ora de complementaridade com o Estado ora
de reinvenção do paradigma vestefaliano, senão mesmo da sua substituição por uma Visão pós
estadual. A unidade do conceito só é importante enquanto se mantiver a sua função de explicação
integrada e sistematizadora do que é múltiplo. A unidade do conceito como critério apriorístico,
único recurso de defesa por parte do académico-ouriço, afasta-nos do pensamento crítico e da
análise contextual como instrumentos científicos de superação dos problemas.
Em suma, A teoria do direito Internacional precisa de académicos de ambição vulpina, capaz de
identificar o risco dogmático de um modelo teórico fechado, preparados para convencer os pares e
ensinar os alunos que uma construção sincrética, até aparentemente contraditória, alarga os nossos
horizontes de compreensão do fenómeno da normatização da prática Internacional.
Você também pode gostar
- Imunidade de Jurisdição dos Estados e Direitos Humanos: uma crítica ao Caso FerriniNo EverandImunidade de Jurisdição dos Estados e Direitos Humanos: uma crítica ao Caso FerriniAinda não há avaliações
- Apostila 3 - Aula 04 - OfchanDocumento47 páginasApostila 3 - Aula 04 - Ofchanthiagomcgregor23Ainda não há avaliações
- Apostila De Noções De Direito Processual CivilNo EverandApostila De Noções De Direito Processual CivilAinda não há avaliações
- Relação Entre o Direito Internacional e o Direito InternoDocumento6 páginasRelação Entre o Direito Internacional e o Direito InternoXukunela Di Kanela AbreuzinhaAinda não há avaliações
- Raízes da Advocacia Pública no Brasil: a Fazenda Pública em Juízo no Brasil : Gênese e ContradiçõesNo EverandRaízes da Advocacia Pública no Brasil: a Fazenda Pública em Juízo no Brasil : Gênese e ContradiçõesAinda não há avaliações
- Aula 03 Pessoas Internacionais e Fontes Do DipDocumento41 páginasAula 03 Pessoas Internacionais e Fontes Do DipAnderson VianaAinda não há avaliações
- Poder Constituinte E Controle De ConstitucionlidadeNo EverandPoder Constituinte E Controle De ConstitucionlidadeAinda não há avaliações
- DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICODocumento9 páginasDIREITO INTERNACIONAL PÚBLICOIsmael MaiaAinda não há avaliações
- Trabalho Hoje JesusDocumento4 páginasTrabalho Hoje JesusCriative Photo CopyAinda não há avaliações
- UMBB Zita MussimoDocumento12 páginasUMBB Zita MussimoQuintinoAinda não há avaliações
- Seção IIIDocumento24 páginasSeção IIIEdnilson MondlaneAinda não há avaliações
- A Teoria Da Responsabilidade Internacional Do EstadoDocumento5 páginasA Teoria Da Responsabilidade Internacional Do EstadoRodrigo BarrosoAinda não há avaliações
- Av 1 - D. InternacionalDocumento3 páginasAv 1 - D. InternacionalJeffersonAinda não há avaliações
- Soberania, Estado, Globalização e CriseDocumento18 páginasSoberania, Estado, Globalização e CriselaryssascmirandaAinda não há avaliações
- Apostila de Direito Internacional Público - Professor Evandro de Carvalho UFF - 2012Documento30 páginasApostila de Direito Internacional Público - Professor Evandro de Carvalho UFF - 2012leonidaspartiAinda não há avaliações
- Resumos FrequênciaDocumento20 páginasResumos Frequêncialeonormsiilva14Ainda não há avaliações
- RESUMO PROVA - Dip Conceitos Drto Int. e InternoDocumento9 páginasRESUMO PROVA - Dip Conceitos Drto Int. e InternoNubiaFURTADOAinda não há avaliações
- Direito Internacional Publico: Trabalho Da DisciplinaDocumento6 páginasDireito Internacional Publico: Trabalho Da DisciplinaDausse Jose TaiboAinda não há avaliações
- DIreito Internacional PublicoDocumento13 páginasDIreito Internacional Publicosofonias jose caetanoAinda não há avaliações
- Organizações Internacionais ResumoDocumento25 páginasOrganizações Internacionais ResumoBriss QuaresmaAinda não há avaliações
- DFDDFDFDocumento3 páginasDFDDFDFFelipe RibeiroAinda não há avaliações
- Dto Int. Publico IDocumento13 páginasDto Int. Publico Ixanoca13Ainda não há avaliações
- DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO: EVOLUÇÃO E FUNÇÕESDocumento47 páginasDIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO: EVOLUÇÃO E FUNÇÕESHugo Santos100% (1)
- Direito Internacional Público: conceito, tipos e distinção de outros sistemas jurídicosDocumento38 páginasDireito Internacional Público: conceito, tipos e distinção de outros sistemas jurídicosagoquint50% (4)
- Sujeitos Direito Internacional PublicoDocumento12 páginasSujeitos Direito Internacional PublicoTácila Maria100% (1)
- DIP - Apontamentos 4Documento45 páginasDIP - Apontamentos 4iurimiguelAinda não há avaliações
- AULA 04 O Estado Como Sujeito de Direito InternacionalDocumento39 páginasAULA 04 O Estado Como Sujeito de Direito InternacionalAnderson VianaAinda não há avaliações
- Direito Internacional PúblicoDocumento38 páginasDireito Internacional PúblicoYannick TinyAinda não há avaliações
- Jurisdição Nacional e InternacionalDocumento13 páginasJurisdição Nacional e InternacionalGagasinhoAinda não há avaliações
- Sujeitos de Direito InternacionalDocumento5 páginasSujeitos de Direito Internacionalsara100% (1)
- DIREITO OBJETIVO VS SUBJETIVODocumento10 páginasDIREITO OBJETIVO VS SUBJETIVOIgor Amaral CostaAinda não há avaliações
- DIREITO OBJETIVO X SUBJETIVODocumento10 páginasDIREITO OBJETIVO X SUBJETIVORenato ColenAinda não há avaliações
- DUDA-1 V2Documento9 páginasDUDA-1 V2Samson JoangueteAinda não há avaliações
- Actos Unilaterais (2023)Documento21 páginasActos Unilaterais (2023)Felismina AugustoAinda não há avaliações
- Traducao - SalvaguardasDocumento44 páginasTraducao - SalvaguardasalantradutorAinda não há avaliações
- DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICODocumento38 páginasDIREITO INTERNACIONAL PÚBLICOCésar Santos SilvaAinda não há avaliações
- DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E OS SUJEITOSDocumento17 páginasDIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E OS SUJEITOSKither PereiraAinda não há avaliações
- Apostila de Direito Internacional CompleDocumento19 páginasApostila de Direito Internacional CompleMarcelo Ornellas FragozoAinda não há avaliações
- Actos Juridicos Unilaterais (Fontes Do DIP)Documento21 páginasActos Juridicos Unilaterais (Fontes Do DIP)odilia lupamboAinda não há avaliações
- Reconhecimento Estado GovernoDocumento3 páginasReconhecimento Estado GovernoEdson Oliveira100% (1)
- Prova Direito InternacionalDocumento3 páginasProva Direito InternacionalRafaella RodriguesAinda não há avaliações
- Sujeito de Direito Internacional PúblicoDocumento73 páginasSujeito de Direito Internacional PúblicoNathalia SimiAinda não há avaliações
- A Personalidade Jurídica: Fundamento e Fim da Ordem JurídicaDocumento35 páginasA Personalidade Jurídica: Fundamento e Fim da Ordem JurídicaMarta AveiroAinda não há avaliações
- Direito Internacional Público e ComércioDocumento84 páginasDireito Internacional Público e ComércioRomildo GuedesAinda não há avaliações
- Conceito e natureza da pessoa jurídicaDocumento5 páginasConceito e natureza da pessoa jurídicaDaiane SouzaAinda não há avaliações
- Resumo de Direito Processual Civil - O Processo de ConhecimentoDocumento110 páginasResumo de Direito Processual Civil - O Processo de Conhecimentobalieiro2005Ainda não há avaliações
- Trabalho Direito InternacionalDocumento7 páginasTrabalho Direito InternacionalSandyAinda não há avaliações
- DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO: NOÇÕES BÁSICAS E FONTES NORMATIVASDocumento31 páginasDIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO: NOÇÕES BÁSICAS E FONTES NORMATIVASkikoAinda não há avaliações
- Sujeitos Do Direito InternacionalDocumento8 páginasSujeitos Do Direito InternacionalLuís FilipeAinda não há avaliações
- Imunidade Das Organizações InternacionaisDocumento5 páginasImunidade Das Organizações Internacionaismmpereira573Ainda não há avaliações
- Direito Internacional: Definições, Fontes e Correntes DoutrináriasDocumento20 páginasDireito Internacional: Definições, Fontes e Correntes DoutrináriasAna AlmeidaAinda não há avaliações
- Direito internacionalDocumento9 páginasDireito internacionalvegah17736Ainda não há avaliações
- O direito das gentes e a evolução do direito internacionalDocumento16 páginasO direito das gentes e a evolução do direito internacionaliurimiguelAinda não há avaliações
- Slide Ii - Direito Civil - Parte GeralDocumento45 páginasSlide Ii - Direito Civil - Parte Gerallarissa primobuschAinda não há avaliações
- Dipu - Aula 2Documento4 páginasDipu - Aula 2Eliseu Armando BotãoAinda não há avaliações
- Primeira Aula - DIPDocumento7 páginasPrimeira Aula - DIPMaryana VieiraAinda não há avaliações
- Apostila 4 - Aula 05 - OfchanDocumento28 páginasApostila 4 - Aula 05 - Ofchanthiagomcgregor23Ainda não há avaliações
- A DÚVIDA DO STF SOBRE AS TEORIAS MONISTA OU DUALISTA PERANTE A GLOBALIZAÇÃODocumento7 páginasA DÚVIDA DO STF SOBRE AS TEORIAS MONISTA OU DUALISTA PERANTE A GLOBALIZAÇÃOAnonymous AOOB9yEQ7Ainda não há avaliações
- Dto InternacionalDocumento11 páginasDto InternacionalJéssica RobertoAinda não há avaliações
- Resumo - SeminárioDocumento10 páginasResumo - SeminárioMichely FadelAinda não há avaliações
- A Proteção Supranacional Dos Direitos HumanosDocumento5 páginasA Proteção Supranacional Dos Direitos HumanosPotirnAinda não há avaliações
- Curso Direito Internacional PúblicoDocumento175 páginasCurso Direito Internacional PúblicoAndré HaitoAinda não há avaliações
- Introdução ao Direito EconômicoDocumento23 páginasIntrodução ao Direito EconômicoEdsonelias UzeirAinda não há avaliações
- Teoria Das Relações Internacionais: Guerra Do PeloponesoDocumento60 páginasTeoria Das Relações Internacionais: Guerra Do PeloponesoEster GarciaAinda não há avaliações
- A democracia global da multidão: resistência ao estado de guerraDocumento93 páginasA democracia global da multidão: resistência ao estado de guerraEdson MeloAinda não há avaliações
- Direito Internacional Público I TeóricasDocumento53 páginasDireito Internacional Público I TeóricasCatarina SalvadorAinda não há avaliações
- Hermenêutica Tribunal de Nuremberg - André Gonçalves GodinhoDocumento20 páginasHermenêutica Tribunal de Nuremberg - André Gonçalves GodinhoCaio DutraAinda não há avaliações
- O retorno do terceiro mundo ao direito internacionalDocumento14 páginasO retorno do terceiro mundo ao direito internacionalGiuliana QueirozAinda não há avaliações
- Direito Internacional PrivadoDocumento15 páginasDireito Internacional PrivadoOliveira OliveiraAinda não há avaliações
- Manual de DipriDocumento363 páginasManual de DipriLaísa Fernanda VieiraAinda não há avaliações
- A DÚVIDA DO STF SOBRE AS TEORIAS MONISTA OU DUALISTA PERANTE A GLOBALIZAÇÃODocumento7 páginasA DÚVIDA DO STF SOBRE AS TEORIAS MONISTA OU DUALISTA PERANTE A GLOBALIZAÇÃOAnonymous AOOB9yEQ7Ainda não há avaliações
- Sebenta Direito Fundamentais FinalDocumento55 páginasSebenta Direito Fundamentais FinalMatilde AlvesAinda não há avaliações
- Tratados InternacionaisDocumento23 páginasTratados Internacionaisflordeliz12Ainda não há avaliações
- História e Conjuntura Nas Relações Internacionais (Livro Do Prof. Nuno Canas Mendes)Documento220 páginasHistória e Conjuntura Nas Relações Internacionais (Livro Do Prof. Nuno Canas Mendes)AugustoAinda não há avaliações
- Cadernos de Política Exterior - Caso Da Líbia Na Csnu PDFDocumento398 páginasCadernos de Política Exterior - Caso Da Líbia Na Csnu PDFRenan PessoaAinda não há avaliações
- Ameaças emergentes no domínio marítimoDocumento54 páginasAmeaças emergentes no domínio marítimoLucas PortugalAinda não há avaliações
- Direitos HumanosDocumento75 páginasDireitos HumanosluzireneAinda não há avaliações
- Recrutamento Formacao MagistradosDocumento230 páginasRecrutamento Formacao MagistradosPedro SilvaAinda não há avaliações
- Unidade 2Documento21 páginasUnidade 2arthurdemeneses100% (2)
- Direito Internacional PublicoDocumento16 páginasDireito Internacional PublicoDaríoAinda não há avaliações
- Autorização de viagem para menor brasileiroDocumento2 páginasAutorização de viagem para menor brasileiroigor janation clovis da silvaAinda não há avaliações
- Limite vertical entre espaço aéreo e ultraterrestreDocumento268 páginasLimite vertical entre espaço aéreo e ultraterrestreSilas PereiraAinda não há avaliações
- Angola Indice de Direito de Nacionalidade 2023 PortuguesDocumento94 páginasAngola Indice de Direito de Nacionalidade 2023 PortuguesMukumby De SousaAinda não há avaliações
- OIT e Direitos TrabalhistasDocumento28 páginasOIT e Direitos TrabalhistasDunkas Channel100% (1)
- Proteçao Ambiental No Sisrtema Interamenricano de Direitos HumanosDocumento152 páginasProteçao Ambiental No Sisrtema Interamenricano de Direitos HumanosSônia MatosAinda não há avaliações
- "Pacta Sunt Servanda" e "Rebus Sic Stantibus"Documento6 páginas"Pacta Sunt Servanda" e "Rebus Sic Stantibus"CMBS92Ainda não há avaliações
- PDF RG UniversalDocumento1 páginaPDF RG UniversalLarrisa QueirozAinda não há avaliações
- RG brasileiro com dados pessoaisDocumento1 páginaRG brasileiro com dados pessoaisLarrisa QueirozAinda não há avaliações
- Questões de Direito Internacional PublicoDocumento26 páginasQuestões de Direito Internacional PublicoGEOVANE MATOSAinda não há avaliações
- Teoria das Relações Internacionais: Utopia vs RealismoDocumento15 páginasTeoria das Relações Internacionais: Utopia vs RealismoBruna SofiaAinda não há avaliações
- Noções de Direito Tributário Municipal: um guia da teoria à práticaNo EverandNoções de Direito Tributário Municipal: um guia da teoria à práticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Os engenheiros do caos: Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleiçõesNo EverandOs engenheiros do caos: Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleiçõesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (24)
- Do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI: uma homenagem a Professora Maria do Livramento BezerraNo EverandDo Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI: uma homenagem a Professora Maria do Livramento BezerraAinda não há avaliações
- O Estado Dual: uma contribuição à teoria da ditaduraNo EverandO Estado Dual: uma contribuição à teoria da ditaduraAinda não há avaliações
- Planejamento Patrimonial e Sucessório: controvérsias e aspectos práticos: Volume IINo EverandPlanejamento Patrimonial e Sucessório: controvérsias e aspectos práticos: Volume IIAinda não há avaliações
- Finanças Organizadas, Mentes Tranquilas: A organização precede a prosperidadeNo EverandFinanças Organizadas, Mentes Tranquilas: A organização precede a prosperidadeNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (17)
- Uma leitura negra: Interpretação bíblica como exercício de esperançaNo EverandUma leitura negra: Interpretação bíblica como exercício de esperançaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Imunidade, não incidência e isenção: Doutrina e práticaNo EverandImunidade, não incidência e isenção: Doutrina e práticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Desvendando O Metodo De Taufic Darhal Para Mega SenaNo EverandDesvendando O Metodo De Taufic Darhal Para Mega SenaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (3)
- Responsabilidade Civil Extracontratual: Nos Perspetivas em matéria de Nexo de CausalidadeNo EverandResponsabilidade Civil Extracontratual: Nos Perspetivas em matéria de Nexo de CausalidadeAinda não há avaliações
- Analise Grafotécnica Para IniciantesNo EverandAnalise Grafotécnica Para IniciantesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Conformismo e resistência: Escritos de Marilena Chaui, vol. 4No EverandConformismo e resistência: Escritos de Marilena Chaui, vol. 4Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- História das religiões: Perspectiva histórico-comparativaNo EverandHistória das religiões: Perspectiva histórico-comparativaAinda não há avaliações
- COMUNICAÇÃO JURÍDICA: Linguagem, Argumentação e Gênero DiscursivoNo EverandCOMUNICAÇÃO JURÍDICA: Linguagem, Argumentação e Gênero DiscursivoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)