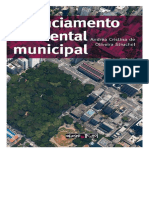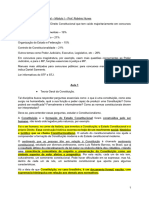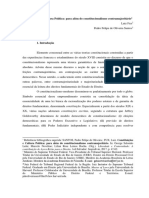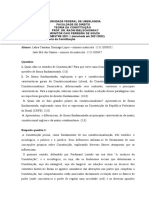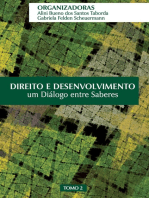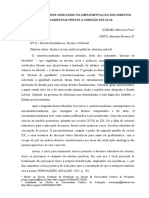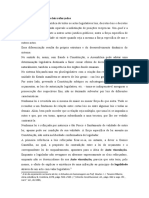Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Formulação Política Pública
Formulação Política Pública
Enviado por
Carolina PlothowDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Formulação Política Pública
Formulação Política Pública
Enviado por
Carolina PlothowDireitos autorais:
Formatos disponíveis
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - FACULDADE DE DIREITO
Optativa: Formulação de Políticas Públicas
Professor: Luiz Guilherme Conci
Alunas: Isabela Vasques Tamai RA00195701; Carolina de André Plothow RA00197013.
Avaliação - 1º bimestre
“(...) na Constituição italiana, as normas que se referem a direitos sociais foram chamadas
puramente de programáticas. Será que já nos perguntamos alguma vez que gênero de
normas são essas que não ordenam, proíbem e permitem num futuro indefinido e sem
prazo de carência claramente delimitado? E, sobretudo, já nos perguntamos alguma vez
que gênero de direitos são esses que tais normas definem? Um direito cujo reconhecimento
e cuja efetiva proteção são adiados sine die, além de confiados à vontade de sujeitos cuja
obrigação de executar o ‘programa’ é apenas uma obrigação moral ou, no máximo, política,
pode ainda ser chamado corretamente de ‘direito’?”( Bobbio, N. (2004). Era dos direitos.
Elsevier Brasil).
A partir da afirmação por Norberto Bobbio:
a) Responda se é possível afirmar que existem tais normas programáticas em
constituições dirigentes? Explique.
Essencialmente, a Constituição Dirigente refere-se a um instrumento de estatização
do mundo e da vida, de forma que se caracteriza por conter normas definidoras de tarefas e
programas de ação a serem concretizados pelo poder estatal.
José Joaquim Gomes Canotilho, em seu texto “Brancosos” e Interconstitucionalidade
já afirmava que a Constituição dirigente e os textos constitucionais, eram carregados de
programaticidade. Historicamente, a Constituição Dirigente ganhou potência no século XX,
sendo fruto das lutas de integração política da classe trabalhadora. Ademais, desde a
Constituição Mexicana de 1918 até a Constituição Brasileira de 1988, já haviam traços do
pragmatismo estatal, no qual o Estado e o Direito foram arrastados pela crise política
regulatória.
Como aponta Bobbio, há necessidade de reflexão no que tange a classe dos
gêneros de direitos que tais normas definem. Canotilho, já se referia a tentativa da
Constituição Dirigente de transportar um modelo de modernidade: a conformação do mundo
político econômico no decurso do direito estruturado sob forma de pirâmide. Entretanto, o
que não se esperava, era um autismo nacionalista e patriótico na tentativa de aplicar as
normas programáticas nas constituições dirigentes.
Tentava-se, assim, repousar-se na ideia de um estado soberano e programático nas
constituições dirigentes. No entanto, não se contava com a ideia de que os espaços de
decisão não estão centrados unicamente de forma autárquica e nacional, ainda mais em um
mundo globalizado, rodeado por decisões de interdependência e cooperação entre Estados
de forma internacionalizada.
Ante o exposto, retoma-se que a Constituição Dirigente é detentora de normas
definidoras de tarefas e programas de ação a serem concretizados pelos poderes públicos,
de modo que se faz necessária a existência de normas programáticas. É importante
ressaltar que a Constituição deve fornecer exigências constitucionais mínimas, ou seja, o
complexo de direitos e liberdades definidoras das cidadanias pessoais, políticas e
econômicas.
b) Reflita a respeito do trecho a partir do texto de Holmes e Sustein com o qual
trabalhamos.
No que se refere ao trecho de Norberto Bobbio, é necessário ponderar quanto à
efetividade dos direitos constitucionais de segunda geração, e, portanto, os direitos sociais.
Sobre esses, referem-se a garantia e efetivação das igualdades sociais via entes estatais.
A partir da Segunda Guerra, viu-se a inevitabilidade de um Estado como ente
atuante nos preceitos sociais e legislativos. Estipulou-se, assim, o “direito positivo”, como
forma de efetivação de direitos estatais nos Estados de bem-estar social. Em discordância
dos direitos positivos, surgem, os chamados de “direitos negativos”, que decorrem do
pensamento liberal inglês, que vem como forma de uma tentativa de autonomia dos
indivíduos sociais, que buscavam o descolamento dos entes estatais.
No entanto, tanto Holmes quanto Sustein, apontam discordância na nomenclatura
dos direitos negativos. Isso se deve, pois entendem que mesmo os direitos positivos
acabam por frear o poder do Estado contra o indivíduo, tendo em vista que em ambos os
casos, o Estado encontra-se como elemento central da efetivação da garantia de direitos.
Ao contrário do que se concentra no liberalismo econômico, o indivíduo por si só não é
capaz de dispor de direitos sem um aparato social, coletivo, e, portanto, estatal.
Assim sendo, Bobbio, acaba por aprofundar-se também no próprio conceito de
direito. Se o direito é feito pelos homens, os homens estão em sociedade, até que ponto os
direitos são normativas de fato igualitárias? E, portanto, a reflexão se direciona às
normativas legislativas que acabam por efetivar “direitos”, que, se olharmos a fundo,
transcorrem de características sociais de determinados momentos políticos advindos dos
cidadãos que se inserem nesses contextos sociais.
c) Recentemente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos vem, desde o artigo 26
da Convenção Americana de Direitos Humanos, implementando decisões que
alcançam direitos sociais, algo inovador em sua trajetória. Qual seria o papel dos
tribunais internacionais na concretização de tais direitos?
É necessário, antes de tudo, conceituar sobre o que se referem os direitos sociais.
Os direitos sociais buscam a garantia dos direitos fundamentais constitucionalmente
assegurados. Dessa forma, entende-se a ambiguidade de interesses que devem ser
promovidos pelo Estado: os indivíduos sociais e os entes governamentais - com o
pressuposto da chamada de supremacia do interesse público.
Cumpre destacar que a ideia de que há uma hierarquia dos tribunais internacionais
em detrimento dos tribunais nacionais é equivocada. Isso porque verifica-se que a proteção
dos direitos humanos no âmbito internacional deve ser vista como um elemento a funcionar
conjuntamente com a estrutura estabelecida no direito doméstico. Assim, infere-se que a
denominada integração substancial, quando trata-se de integração por meio de direitos
humanos, é realizada quando os tribunais internacionais atuam para garantia e efetividade
dos direitos humanos.
Não obstante, o que se discute nos processos de integração tem um potencial de
influenciar decisões no âmbito doméstico, mais especificamente, em políticas públicas.
Assim, os tratados cumprem papel importante com o fim de produzir uma certa
homogeneização de políticas públicas.
Pode-se dizer que existe um conjunto de normas jurídicas de cunho internacional
que produzem efeitos quanto às políticas públicas em âmbito doméstico, que influenciam
autoridades domésticas, administradores públicos e juízes domésticos, considerando existir
movimento jurisprudencial que utiliza esse material para servir como norte às decisões
judiciais.
À título exemplificativo, cita-se a implementação das audiências de custódia na
seara processual penal, instituto previsto em tratados internacionais de direitos humanos
internalizados pelo Brasil, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a
Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, e que visa a proteção em face de
eventuais ocorrências de tortura ou de maus-tratos, entre outras irregularidades.
Você também pode gostar
- DIINAMARCO, Candido. A Instrumentalidade Do ProcessoDocumento393 páginasDIINAMARCO, Candido. A Instrumentalidade Do ProcessoThais Faro100% (2)
- Licenciamento Ambiental MunicipalDocumento132 páginasLicenciamento Ambiental MunicipalizabelaAinda não há avaliações
- Direito Constitucional à Gestão por Resultados: Mentalidade Jurídica (Legal Mindset), Ciclo da Política Pública (PDCA) e controle judicial por meio do processo estruturalNo EverandDireito Constitucional à Gestão por Resultados: Mentalidade Jurídica (Legal Mindset), Ciclo da Política Pública (PDCA) e controle judicial por meio do processo estruturalAinda não há avaliações
- Questões Comentadas Direito ConstitucionalDocumento19 páginasQuestões Comentadas Direito ConstitucionalDaniel CorreiaAinda não há avaliações
- A Eficácia Dos Direitos Fundamentais - Ingo W. SarletDocumento65 páginasA Eficácia Dos Direitos Fundamentais - Ingo W. Sarletlaudiceia demetrio100% (2)
- Resenha Crítica: A Constitucionalização Do Direito CivilDocumento4 páginasResenha Crítica: A Constitucionalização Do Direito Civilgugatavo50% (2)
- 700 QuestõesDocumento350 páginas700 QuestõesDouglas Gomes100% (2)
- Gilmar Ferreira Mendes - A Doutrina Constitucional e o Controle de Constitucionalidade Como Garantia Da CidadaniaDocumento27 páginasGilmar Ferreira Mendes - A Doutrina Constitucional e o Controle de Constitucionalidade Como Garantia Da CidadaniaThomas V. YamamotoAinda não há avaliações
- Sociedades Por QuotasDocumento25 páginasSociedades Por QuotasJose LealAinda não há avaliações
- 15 Laudas de Direito Civil, Sobre Dos Direitos de Personalidades, IndioDocumento14 páginas15 Laudas de Direito Civil, Sobre Dos Direitos de Personalidades, IndioOdinei MacielAinda não há avaliações
- BUCCI, Maria Paula Dallari. O Conceito de Política Pública em Direito.Documento12 páginasBUCCI, Maria Paula Dallari. O Conceito de Política Pública em Direito.Francisca Liduína0% (1)
- Direitos Sociais Andreas KrellDocumento22 páginasDireitos Sociais Andreas KrellLuiza Denardin Negrini100% (2)
- Separação de Poderes - HERMES ZANETI JR PDFDocumento30 páginasSeparação de Poderes - HERMES ZANETI JR PDFmarcusbernoAinda não há avaliações
- A Problemática Da Constituição DirigenteDocumento18 páginasA Problemática Da Constituição DirigenteArielson SilvaAinda não há avaliações
- Ativismo Judicial e MPDocumento24 páginasAtivismo Judicial e MPTD EduardoAinda não há avaliações
- Artigo Judicialização Das Políticas Públicas No BrasilDocumento24 páginasArtigo Judicialização Das Políticas Públicas No BrasilPlinio Braga NetoAinda não há avaliações
- Direito Constitucional - Módulo I - Prof. Robério NunesDocumento157 páginasDireito Constitucional - Módulo I - Prof. Robério NunesMarina NovisAinda não há avaliações
- Sistema Prisional Brasileiro Estudo AedDocumento17 páginasSistema Prisional Brasileiro Estudo AedThaís FernandaAinda não há avaliações
- 29317-Texto Do Artigo-108558-1-10-20220922Documento17 páginas29317-Texto Do Artigo-108558-1-10-20220922Renat NureyevAinda não há avaliações
- Artigo Natalia e ThaisDocumento13 páginasArtigo Natalia e ThaisThaís FernandaAinda não há avaliações
- MOTTA, Fabricio - Principios Constitucionais Aplicaveis Aos Concursos Publicos PDFDocumento26 páginasMOTTA, Fabricio - Principios Constitucionais Aplicaveis Aos Concursos Publicos PDFalessandropgeAinda não há avaliações
- A Constituição Federal de 1988 e o Princípio Da Solidariedade Como Instrumentos de Realização Da Dignidade HumanaDocumento16 páginasA Constituição Federal de 1988 e o Princípio Da Solidariedade Como Instrumentos de Realização Da Dignidade HumanaWagner BertonAinda não há avaliações
- A Crise Na Prestação Jurisdicional. Os Direitos Sociais e A Judicialização Da Política No Espaço LocalDocumento23 páginasA Crise Na Prestação Jurisdicional. Os Direitos Sociais e A Judicialização Da Política No Espaço LocalFilipe EtgesAinda não há avaliações
- Apostila de Sociologia Geral e JurídicaDocumento17 páginasApostila de Sociologia Geral e JurídicaYanna NenevêAinda não há avaliações
- Estudo DirigidoDocumento4 páginasEstudo DirigidoJosé Geraldo Alves PegoAinda não há avaliações
- Conteúdo Interativo Direitos Humanos Aula 3Documento15 páginasConteúdo Interativo Direitos Humanos Aula 3Bruna ReisAinda não há avaliações
- Aluno - Caderno Enade Direito 2017.2Documento41 páginasAluno - Caderno Enade Direito 2017.2Júnior OliveiraAinda não há avaliações
- A Constitucionalizacao Do Direito CivilDocumento29 páginasA Constitucionalizacao Do Direito CiviljoseAinda não há avaliações
- APS I Teoria Da ConstituicaoDocumento4 páginasAPS I Teoria Da ConstituicaoNajida AlineAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido 01Documento3 páginasEstudo Dirigido 01isabellamartins111Ainda não há avaliações
- ANDREAS KRELL Direitos-sociais-Andreas-KrellDocumento22 páginasANDREAS KRELL Direitos-sociais-Andreas-Krelldinizr2d2Ainda não há avaliações
- A Política Brasileira - Artigo Científico PDFDocumento41 páginasA Política Brasileira - Artigo Científico PDFRobson Ana Paula BertoldoAinda não há avaliações
- Funcao Social - Posse e PropriedadeDocumento13 páginasFuncao Social - Posse e PropriedadeCleunicio Alves FerreiraAinda não há avaliações
- Constituições e CulturaDocumento16 páginasConstituições e CulturaManoel VanessaAinda não há avaliações
- Constituição Dirigente X Constituição Garantia - Cadernos ColaborativosDocumento2 páginasConstituição Dirigente X Constituição Garantia - Cadernos ColaborativosvicurcioAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido 1 - Teoria Da ConstituiçãoDocumento8 páginasEstudo Dirigido 1 - Teoria Da ConstituiçãoLahra LopesAinda não há avaliações
- Introducao Ao Direito ConstitucionalDocumento97 páginasIntroducao Ao Direito ConstitucionalLuis LimaAinda não há avaliações
- Garantias Da ConstituicaoDocumento20 páginasGarantias Da ConstituicaoDioclencio NhamposseAinda não há avaliações
- Direito E Desenvolvimento:No EverandDireito E Desenvolvimento:Ainda não há avaliações
- FICHAMENTO Manoel Jorge e Silva NetoDocumento12 páginasFICHAMENTO Manoel Jorge e Silva Netooto luiz da silvajuniorAinda não há avaliações
- BLAU - Breno. A Promoção Dos Dirietos Humanos Como Parâmetro de Legitimidade... Revista Do CAAPDocumento26 páginasBLAU - Breno. A Promoção Dos Dirietos Humanos Como Parâmetro de Legitimidade... Revista Do CAAPBreno BlauAinda não há avaliações
- PAPER Sobre Ativismo JudicialDocumento4 páginasPAPER Sobre Ativismo JudicialMarcelo alves godinhoAinda não há avaliações
- As Faces Das Restrições Às Liberdades Individuais Sob A Perspectiva Dos Direitos Fundamentais No Brasil GT7Documento16 páginasAs Faces Das Restrições Às Liberdades Individuais Sob A Perspectiva Dos Direitos Fundamentais No Brasil GT7Giovanna de Sa da CunhaAinda não há avaliações
- Questionário 03 - Direitos Sociais e A Constituição Dirigente InvertidaDocumento7 páginasQuestionário 03 - Direitos Sociais e A Constituição Dirigente InvertidaNATHALIA GONZALEZ SCHELTINGAAinda não há avaliações
- Introdução Direito Constitucional - Curso SenadoDocumento65 páginasIntrodução Direito Constitucional - Curso SenadosabnascimentoAinda não há avaliações
- Artigo CientíficoDocumento16 páginasArtigo CientíficoGabriel SantosAinda não há avaliações
- OAB 2fase ConstitucionalDocumento93 páginasOAB 2fase ConstitucionalCarolAinda não há avaliações
- Lista Questões Revisão A2 - Estado, Política e DireitoDocumento13 páginasLista Questões Revisão A2 - Estado, Política e DireitoronniksandersonAinda não há avaliações
- Caderno de Direito Civil CPI ADocumento179 páginasCaderno de Direito Civil CPI AClara RodriguesAinda não há avaliações
- Provas de SociologiaDocumento22 páginasProvas de SociologiaGabrielle HenselAinda não há avaliações
- Ações Afirmativas e A Constituição Da República Federativa Do Brasil de 1988 - Fabio Henrique Navarro PDFDocumento28 páginasAções Afirmativas e A Constituição Da República Federativa Do Brasil de 1988 - Fabio Henrique Navarro PDFJosé Rodolfo Jacob EutrópioAinda não há avaliações
- Caderno 1 - 20 Todo Dia - FixciclandoDocumento17 páginasCaderno 1 - 20 Todo Dia - FixciclandoAdryano Mafaldo de SouzaAinda não há avaliações
- 03 DesenvolvimentoDocumento12 páginas03 DesenvolvimentoricardodiogozatulaAinda não há avaliações
- A EFICÁCIA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - Versão para ImpressãoDocumento5 páginasA EFICÁCIA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - Versão para ImpressãoFulvio De Moraes GomesAinda não há avaliações
- Politicas Publicas e Direito AdministrativoDocumento10 páginasPoliticas Publicas e Direito AdministrativoAnaGabrieleAinda não há avaliações
- A Legitimidade Do Poder Judiciario paraDocumento35 páginasA Legitimidade Do Poder Judiciario paraJessica Brenda Ribeiro de Sousa FortesAinda não há avaliações
- Direito Constitucional Economico e Social - AlunoDocumento88 páginasDireito Constitucional Economico e Social - AlunoMarcos TheodoroAinda não há avaliações
- Mundo ContemporâneoDocumento29 páginasMundo ContemporâneorafadeoliveiraxAinda não há avaliações
- Judicialialização Das Questões SocialDocumento3 páginasJudicialialização Das Questões Social溪大水Ainda não há avaliações
- Lista ConstitucionalismoDocumento9 páginasLista ConstitucionalismoGracielly FerreiraAinda não há avaliações
- Introdução Ao Direito ConstitucionalDocumento13 páginasIntrodução Ao Direito ConstitucionalLarissa RosaAinda não há avaliações
- O Dirigismo Constitucional No Senso Comum Teórico Dos Juristas: Do Mito Das Impossibilidades Às Impossibilidades MitológicasDocumento35 páginasO Dirigismo Constitucional No Senso Comum Teórico Dos Juristas: Do Mito Das Impossibilidades Às Impossibilidades MitológicasWálber Araujo CarneiroAinda não há avaliações
- Atuação Do Poder Judiciário Na Implementação Dos Direitos Fundamentais Frente À Omissão EstatalDocumento4 páginasAtuação Do Poder Judiciário Na Implementação Dos Direitos Fundamentais Frente À Omissão EstatalRuyAinda não há avaliações
- Ativismo judicial e o princípio da reserva legalNo EverandAtivismo judicial e o princípio da reserva legalAinda não há avaliações
- O Papel Democrático do Supremo Tribunal Federal nas Práticas de Ativismo JudicialNo EverandO Papel Democrático do Supremo Tribunal Federal nas Práticas de Ativismo JudicialAinda não há avaliações
- A tutela jurisdicional coletiva do direito social à saúdeNo EverandA tutela jurisdicional coletiva do direito social à saúdeAinda não há avaliações
- Perguntas 20 05Documento1 páginaPerguntas 20 05Carolina PlothowAinda não há avaliações
- PL 1482 2023Documento5 páginasPL 1482 2023Carolina PlothowAinda não há avaliações
- Tese - Marlon J. Gavlik MendesDocumento193 páginasTese - Marlon J. Gavlik MendesCarolina PlothowAinda não há avaliações
- análisePL - MaraGabrilli - Jornal EstadãoDocumento8 páginasanálisePL - MaraGabrilli - Jornal EstadãoCarolina PlothowAinda não há avaliações
- Adi 7222 MC - Decisão MLRBDocumento30 páginasAdi 7222 MC - Decisão MLRBGuilherme Goulart100% (1)
- Caderno Pareceres Ibam Consultas Municipios 2020Documento161 páginasCaderno Pareceres Ibam Consultas Municipios 2020JOni SantoAinda não há avaliações
- Resumo - Direito FinanceiroDocumento19 páginasResumo - Direito FinanceirombeltraminAinda não há avaliações
- PC PB - Polícia Civil Do Estado Da Paraíba - Delegado - 3º SimuladoDocumento57 páginasPC PB - Polícia Civil Do Estado Da Paraíba - Delegado - 3º SimuladoLeonardo LessaAinda não há avaliações
- Roteiro de Aula - Intensivo I - D. Administrativo - Barney Bichara - Aula 1Documento13 páginasRoteiro de Aula - Intensivo I - D. Administrativo - Barney Bichara - Aula 1Fábio MedeirosAinda não há avaliações
- Modelo Recurso ExtraordinárioDocumento4 páginasModelo Recurso ExtraordinárioGabriel GdaaAinda não há avaliações
- Edital Pge MS Esquematizado - Proposto Pelo @aprovacaopge PDFDocumento9 páginasEdital Pge MS Esquematizado - Proposto Pelo @aprovacaopge PDFClaraUlrichsenAinda não há avaliações
- Auditor Federal de Financas e Controle Correicao e Combate A CorrupcaoDocumento28 páginasAuditor Federal de Financas e Controle Correicao e Combate A CorrupcaoDanielle RochaAinda não há avaliações
- Infância e Juventude Um Breve Olhar Sobre As Políticas Públicas No Brasil.Documento19 páginasInfância e Juventude Um Breve Olhar Sobre As Políticas Públicas No Brasil.isabelaAinda não há avaliações
- Lei Organica 1 2003 Sapucaia Do Sul RS PDFDocumento74 páginasLei Organica 1 2003 Sapucaia Do Sul RS PDFFernando MarcoAinda não há avaliações
- Questões Constitucional Tais FloresDocumento57 páginasQuestões Constitucional Tais FloresdenermendesAinda não há avaliações
- Lei Organica - ParacambiDocumento65 páginasLei Organica - ParacambiFabricio Aguiar100% (1)
- R - D - Aurelio Adelino BernardoDocumento195 páginasR - D - Aurelio Adelino BernardoLuiz GarciaAinda não há avaliações
- A Ideia de Nação No Pensamento de ManciniDocumento18 páginasA Ideia de Nação No Pensamento de Manciniroseoliveira07Ainda não há avaliações
- Diferença Entre A Leis de Enquadramento e Leis de BasesDocumento13 páginasDiferença Entre A Leis de Enquadramento e Leis de BasesLeonel AnorAinda não há avaliações
- Ambiente Legal de NegociosDocumento11 páginasAmbiente Legal de NegociosFabrício de OliveiraAinda não há avaliações
- Direito Constitucional I - Princípio Do Estado de DireitoDocumento35 páginasDireito Constitucional I - Princípio Do Estado de DireitoMaria SaraivaAinda não há avaliações
- Caso Prático n.4 Principio LegalidadeDocumento5 páginasCaso Prático n.4 Principio LegalidadeBruno Cardoso100% (1)
- Democracia Militante e A Candidatura de Bolsonaro - Daniel SarmentoDocumento12 páginasDemocracia Militante e A Candidatura de Bolsonaro - Daniel SarmentoFelipe Guelber100% (1)
- UntitledDocumento17 páginasUntitledbrunno marinhoAinda não há avaliações
- ConstitucionalDocumento241 páginasConstitucionalMarina MatosAinda não há avaliações
- 1588011111PCPR-Delegado de Policia - RODADA 1Documento148 páginas1588011111PCPR-Delegado de Policia - RODADA 1Maurício ApolinárioAinda não há avaliações
- 8202-Texto Do Artigo-42914-2-10-20201217Documento14 páginas8202-Texto Do Artigo-42914-2-10-20201217luana olanda avilaAinda não há avaliações
- Texto Aula2 Direitos HumanosDocumento16 páginasTexto Aula2 Direitos Humanossamara samaAinda não há avaliações