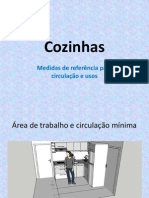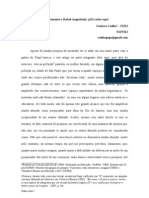Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Tecnologia como problema para teoria crítica da educação
Enviado por
Monique Guerreiro BastosDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Tecnologia como problema para teoria crítica da educação
Enviado por
Monique Guerreiro BastosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Pro-Posies, v. 18, n. 1 (52) - jan./abr.
2007
A tecnologia como problema
para uma teoria crtica da educao1
Gildemarks Costa Silva*
A anlise social e a reflexo filosfica observaram,
durante um longo perodo, uma reserva no questionamento
dessa esfera [tecnologia]. Em particular, a anlise social
revelou dificuldades singulares em considerar a tecnologia
como uma varivel-chave nos seus esquemas de
compreenso, para alm de sua mera insero em
contextos sociais mais alargados, ou em proceder a uma
ateno crtica sistemtica, contrastando com sua atitude
para com outros campos religioso, econmico, estatal,
organizacional etc. [Dilemas da Civilizao Tecnolgica
(MARTINS; GARCIA, 2003)].
Resumo: Neste texto, procura-se apresentar os principais elementos tericos da pesquisa
de doutorado A tecnologia como um problema para a teoria da educao, defendida na
Faculdade de Educao da Unicamp. Nessa apresentao geral da estrutura da pesquisa, o
dilogo entre os estudos da tecnologia e os estudos da educao ganha destaque,
procurando, assim, fazer emergir a tecnologia como um problema para o campo pedaggico.
Palavras-chave: Filosofia da educao; Andrew Feenberg; teoria crtica da tecnologia.
Abstract: This text is aimed at presenting the main theoretical elements of the doctors
research Technology as a problem for education theory, presented in the College of Education
at Unicamp. In this general presentation of the research structure, the dialogue between
the studies of tecnology and the studies of education are highlighted,in a search to
show technology as a problem for the pedagogical field.
Key words: Philosophy of education; Andrew Feenberg; critical theory of technolgy.
Introduo
Nesta pesquisa, de natureza terica, tem-se por objetivo central interrogar e
compreender a crtica da tecnologia no pensamento de Andrew Feenberg, tendo
*
1.
Professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). gildemark@yahoo.com.br
Sou grato ao Professor Dr. Slvio Gamboa (FE/UNICAMP) pelos comentrios sobre este texto.
115
Pro-Posies, v. 18, n. 1 (52) - jan./abr. 2007
como horizonte pensar a relao entre tecnologia e educao. Procura-se, com
isso, contribuir para a superao do problema em especial no campo educacional do tecnocentrismo, que significa a visualizao da tecnologia como um destino e no como uma possibilidade. No sem razo, portanto, que a tecnologia,
embora seja parte constituinte de poderosos processos e modalidades de ao que
modelam a existncia humana (FEENBERG, 1991; MARTINS, 2003), pouco
vista como objeto de anlise terico-crtica por parte das humanidades
(FEENBERG, 1991; 2001) e da teoria da educao (PUCCI, 2003; CROCHK,
2003). Destaca-se que a crtica da sociedade deveria implicar, tambm, a crtica
dos instrumentos tcnicos, considerando-se estes ltimos representantes das relaes dos homens com a natureza e dos homens entre si, em determinado momento histrico (CROCHIK, 2003, p. 99). A hiptese central que norteia este trabalho que a teoria crtica da tecnologia de Andrew Feenberg permite as bases para
aprofundar o dilogo entre moderna tecnologia e educao. Espera-se demonstrar, ainda, que a tecnologia pode ser considerada como um elemento-chave para
a compreenso da sociedade moderna e no pode ter a sua anlise reduzida
dimenso instrumental do fenmeno, o que exige uma abordagem terico-crtica
ao problema por parte da teoria da educao.
O tema da tecnologia
A preocupao com o tema da tecnologia no recente. O fundamental, porm, que, embora alvo de preocupao h alguns anos, a questo da tecnologia
ingressa no sculo XXI como tema merecedor de reflexes, de contestaes, de
provocaes; um tema que continua inquietante. O termo provocao no est
evidentemente destitudo de sentido nesse contexto, pois s os que esto seguros
na defesa de que o atual desenvolvimento tecnolgico no deve ser questionado
que se sentem provocados por reflexes que procuram aprofundar os caminhos
desse desenvolvimento; e, como nota Heidegger (2001), s os que esto seguros
de sua cincia que se sentem incomodados com a reflexo que trilha os caminhos do pensamento livre.
De fato, a tecnologia um dos principais problemas tericos e prticos do
atual sculo. Da Engenharia Sociologia da cincia, da Histria Biotecnologia,
da Antropologia aos Estudos Sociais da Cincia, da Fsica/Qumica/Matemtica
Pedagogia/Psicologia/Economia, passando pelas Cincias da Computao, ecoam
questes que envolvem a condio tecnolgica. No s! O tema no se restringe
ao universo acadmico e um observador mais estimulado no ter dificuldade de
encontrar nas transmisses televisivas, nos jornais, nos mercados, nas praas, nos
dilogos do cotidiano, elementos tericos problematizadores da referida temtica.
116
Pro-Posies, v. 18, n. 1 (52) - jan./abr. 2007
No caso especfico das Cincias Humanas, a tecnologia tem sido temtica recorrente. Para Sterne (2003), se as Cincias Humanas passaram por uma virada
hermenutica nos anos 1970 e 1980, ao que parece, a partir das dcadas de 1990
e 2000, talvez elas estejam passando por uma virada tecnolgica. Para Sterne (2003)
no h, porm, como fazer uma correlao direta entre as duas perspectivas, uma
vez que, atualmente, as administraes das universidades tm muito mais interesse naquilo que denominam tecnologia do que tinham na questo da hermenutica.
De acordo com o autor, para tratar do que se denomina tecnologia, as universidades tm criado novas faculdades, novos departamentos, novas iniciativas de ensino e novos temas de pesquisa. E, nesse contexto, complementa o autor, no so
poucos os recursos financeiros para os pesquisadores interessados em determinadas questes da tecnologia ou, mais diretamente, para os pesquisadores interessados em efetuar determinadas aplicaes da tecnologia digital no campo dos negcios, da pesquisa e das tarefas pedaggicas.
Esse universo, aparentemente estimulante, coloca, no entanto, empecilhos para
uma consistente pesquisa nas Cincias Humanas sobre questes como as caractersticas da moderna tecnologia, seus efeitos sociais, a relao entre cincia e
tecnologia, a interao entre tecnologia e progresso, o conceito de ser humano na
sociedade tecnolgica e, mais especificamente, a relao entre tecnologia e educao
para mencionar alguns temas.
Para Sterne (2003), as condies de financiamento e os interesses dos empresrios educacionais conduzem, muitas vezes, o estudo da tecnologia para temas e
abordagens que interessam, especialmente, ao comrcio, ao domnio militar e a
outros propsitos administrativos. um processo sutil, o qual Sterne se esfora
para esclarecer: ele convida o leitor a considerar, como exemplo, o uso e o no-uso
da palavra digital como um modificador da palavra tecnologia no discurso acadmico. Para o autor, descries de empregos acadmicos e artigos em jornais
tematizam a categoria da tecnologia digital nas suas relaes com a tecnologia.
Assim, o autor enfatiza, caso algum esteja preocupado em estudar a tecnologia,
acaba por ter o seu interesse dirigido para aquilo que novo e digital.
Em outro exemplo, o autor conclama o leitor para considerar a expresso
new technologies. Para ele, as to proclamadas novas tecnologias existem h
dcadas; portanto, no so to novas assim. Assim, pede para que se comparem as
relaes entre os computadores pessoais, a idade de ouro do rdio e a idade de
ouro da televiso, para se perceber que os computadores pessoais esto disponveis no mercado de consumo tanto quanto os rdios estiveram nas dcadas de
1920 e 1930 e a televiso na dcada de 1950. assim que, para Sterne (2003),
referir-se s novas tecnologias dentro da academia pode ser uma forma de trazer
diretamente os valores do sistema para dentro da pesquisa acadmica, o que remete a questes socioculturais e de poder.
117
Pro-Posies, v. 18, n. 1 (52) - jan./abr. 2007
No se aprofunda, de imediato, nas questes socioculturais e de poder, mas
convm enfatizar, ainda, que, para Sterne (2003), tambm tem acontecido o inverso: as corporaes que tm grandes interesses na questo da tecnologia se apropriam de discursos que tm origem no universo acadmico. Para ele, o exemplo
mais notvel tem sido daquilo que se denomina de online community (STERNE,
2003). De acordo com o autor, pesquisadores tm mostrado largo interesse na
questo da comunidade online: O que ela ? Como ela trabalha? No entanto, os
mesmos conceitos de comunidade online tm sido utilizados por algumas empresas para vender os seus produtos. Veja-se, por exemplo, os casos da Amazon.com
e ebay.com, que se utilizam desse processo para os seus fins de incremento do fator
lucro (STERNE, 2003). Para o autor, algo semelhante se aplica ao conceito de
online identity, entre outros.
Para alm dos limites e do carter apressado que a apresentao das posies de
Sterne (2003) assumiu anteriormente, o essencial que tudo isso evidencia, conforme o autor, que existem muitas foras que estimulam a colocar certas questes
para a tecnologia, a fim de defini-la de certa maneira, com excluso de outras
formas, e de aceitar os termos do debate pblico para os programas de pesquisa. Os
problemas de pesquisa podem, por um lado, parecer evidentes, conforme o pesquisador se relacione com a tecnologia como consumidor, como leitor de jornais, como
usurio, como investidor, etc.; mas tambm pode a questo da tecnologia ser a
afirmao de certa autonomia relativa do intelectual diante da preocupao dos
meios de comunicao, dos empresrios, do lucro e colocar questes que estes no
fazem, no podem fazer, ou no faro. E esta a perspectiva que neste trabalho se
pretende aprofundar: interroga-se a anlise terico-crtica da questo da tecnologia
no pensamento de Andrew Feenberg. Quais os principais elementos tericos da teoria crtica da tecnologia? Como ela supera o problema do tecnocentrismo? At que ponto a proposta de Andrew Feenberg permite uma abordagem terico-crtica questo da
tecnologia? Com base no arcabouo terico proposto pelo autor, como possvel pensar
a relao entre moderna tecnologia e educao? Em sntese: Quais as contribuies da
teoria crtica da tecnologia para se pensar a relao entre tecnologia e educao?
provvel que as presses institucionais e econmicas sobre os pesquisadores
tenham proporcionado a ausncia de um aprofundamento sistemtico e crtico
sobre a questo da tecnologia nos ltimos anos. Com efeito, a tecnologia, que
parece ser um dos metarrelatos do sculo XXI (FEENBERG, 1991), um dos
grandes acordos sociais, algo de insero social cada vez maior, contraditoriamente, apresenta-se para parte da academia, dos polticos e para o cidado comum como tema no merecedor de reflexo terico-crtica ou como algo que
possa sofrer uma abordagem digna dos grandes temas humansticos, ou, at mesmo, como algo que possa ser inserido no universo cultural. Em resumo: a tecnologia
vista, por muitos, como um destino, e no como uma possibilidade.
118
Pro-Posies, v. 18, n. 1 (52) - jan./abr. 2007
Reflexes como a de Heidegger sobre a questo da tcnica, contraditoriamente, parecem perder flego no incio do sculo XXI, especialmente em determinados setores da academia. Heidegger, um dos principais filsofos do sculo passado, deu tratamento especial questo da tcnica. Muito do seu trabalho consistiu
em um questionamento terico desse fenmeno, em especial da questo sobre a
essncia da tcnica. No pensamento do autor, evidente a necessidade do estudo
da essncia da tcnica, principalmente quando demonstra que a essncia dela no
se reduz, de forma alguma, ao que tcnico.
Por isso nunca faremos a experincia de nosso relacionamento
com a essncia da tcnica enquanto concebermos e lidarmos
apenas com o que tcnico, enquanto a ele nos moldarmos
ou dele nos afastarmos. Haveremos sempre de ficar presos,
sem liberdade, tcnica tanto na sua afirmao como na sua
negao apaixonada. (HEIDEGGER, 2001, p. 11).
No se pretende abordar o conceito de tcnica de Heidegger no momento;
busca-se, antes, ilustrar como o tema foi merecedor de reflexo por aquele que
considerado um dos grandes filsofos do sculo XX. Aproveita-se, contudo, para
enfatizar que neste estudo se pretende manter como norte a idia acima, ou seja,
a defesa de que a compreenso da tcnica no pode se reduzir apenas percepo
instrumental do fenmeno. Saliente-se, ainda, que, para Heidegger, o
questionamento da tcnica est relacionado ao controle desta. Este querer dominar torna-se tanto mais urgente quanto mais a tcnica ameaa escapar ao controle
do homem (HEIDEGGER, 2001, p. 12). Ora, at mesmo um olhar mais apressado capaz de perceber que o risco de a tcnica escapar ao controle humano
permanece premente. Para Feenberg (1999), a questo de saber se os seres humanos devem se submeter lgica dura da mquina ou se, ao contrrio disso, eles
sero capazes de controlar a mquina o conflito que, longe de ser resolvido,
clama por reflexo urgente.
No h, porm, como negar que a revoluo tecnolgica existe e, como expe
Klinge (2003), as possibilidades de retorno so nulas. De fato, Feenberg (1991;
2001) aponta com preciso que posies que propem uma sada a-histrica para
o problema da tecnologia talvez em aluso a um controle da tecnologia por
dimenses que lhe so externas e fazem apologia a um mundo no tecnolgico
no se sustentam. A no-existncia da possibilidade de retorno no significa, contudo, a condio de refm do desenvolvimento tecnolgico e de aceitao das
escatologias tericas de um progresso contnuo da tecnologia. Neste trabalho, concorda-se com Klinge (2003), para quem as abordagens sobre a tecnologia sofrem,
no momento, por excesso de tecnocentrismo, por visualizar a tecnologia como
um destino e no como possibilidade, e, em conseqncia disso, no encontram o
119
Pro-Posies, v. 18, n. 1 (52) - jan./abr. 2007
caminho a seguir. O fato que tudo isto evidencia a importncia de fazer uma
reflexo que aborde seriamente o fenmeno tecnolgico e suas conseqncias sobre a humanidade (KLINGE, 2003, p. 1). Assim, por demais vlido o apelo de
Klinge aos pesquisadores do tema: h que procurar colocar as perguntas corretas
para encontrar algumas respostas que ajudem a que este desenvolvimento seja
realmente para proveito do ser humano e no perca sua natureza e se volte contra
o prprio homem. (KLINGE, 2003, p. 1).
O problema da tcnica [...] e de sua relao com a cultura e a Histria no se
pe at o sculo XIX (SPENGLER2, 1932, p. 13), embora tenha razes profundas. Como esclarece Klinge (2003), o tema acompanha os seres humanos desde a
Antigidade e possvel encontrar em Aristteles, na Metafsica, a referncia ao
fato de que o ser humano vive pela arte e pelo raciocnio (technei kai logismos).
Este conceito de techne j foi traduzido como arte, cincia e procedimento,
simultaneamente constitui a base a partir da qual se desenvolveram a tcnica e a
tecnologia (KLINGE, 2003, p. 2). evidente que, aps 2.000 anos, os conceitos
no tm o mesmo significado, porm a reflexo aristotlica ilustra que a preocupao com a tecnologia tem um longo percurso. Alis, sobre a relao tcnicatecnologia, aceita-se, por ora, por razes de clareza uma equivalncia no fundamental da tcnica com a tecnologia, precisando, entretanto, que a tecnologia agrega
um componente terico que a tcnica no tem (KLINGE 2003, p. 2).
De fato, Klinge (2003) coincide sua anlise com a de Spengler (1932), ao
observar que, embora o assunto tcnica aparea integrado a outras reflexes durante sculos, somente no sculo XIX o tema obteve a centralidade que detm no
momento. Nesse sculo, a tcnica conquistou o status de assunto independente,
imps-se como problema social e exigiu reflexes sobre sua natureza e suas conseqncias para a humanidade. Pouco a pouco comear a constituir um fenmeno singular, isolvel do resto dos fatores da realidade (KLINGE, 2003, p. 2). O
autor esclarece que possvel observar, por exemplo, a preocupao com o fenmeno da tcnica na literatura do sculo XIX, com a obra de Johann Wolfgang
Goethe (1749-1832) e, mais fortemente, na segunda metade do sculo XIX, com
o gnero literrio denominado de antecipao, com as obras exemplares de J.
Verne (1828-1905) e H. G. Wells (1866-1946).
No mesmo perodo, a filosofia do sculo XIX voltou-se para o problema da
tecnologia: [...] o filsofo alemo Ernst Kapp (1808-1896) definir o termo filosofia da tcnica. Influenciado pelo pensamento de Hegel e de Ritter, vai desbravando o caminho desta reflexo. (KLINGE, 2003, p. 2). A filosofia atribuiu
tecnologia uma natureza peculiar, a ponto de propor um ramo especfico, a filoso2.
A utilizao do pensamento de Spengler (1932) resume-se aceitao de algumas constataes
histricas.
120
Pro-Posies, v. 18, n. 1 (52) - jan./abr. 2007
fia da tecnologia3 em processo de consolidao at o presente , que possui
seus prprios cnones.
A constituio histrica do problema da tecnologia, sem dvida, encontrava,
j no incio do sculo XX, o vis polmico e paradoxal que se observa at os nossos
dias. No sem razo que, ao refletir sobre a tecnologia nesse sculo, Klinge (2003)
o denomina de o paradoxal sculo XX. O desenvolvimento industrial que
carrega consigo a polmica e consistente aliana entre cincia e tcnica instalou,
efetivamente, a preocupao sobre as conseqncias do desenvolvimento
tecnolgico para o futuro da humanidade. A velocidade com que a aliana descrita se concretizou, bem como suas conseqncias desumanizantes mais imediatas,
fizeram eclodir um volume de reflexes sobre o novo fenmeno, a maioria delas,
para Klinge (2003), marcadamente pessimistas4. A partir de campos diversos ergueram-se vozes de alarma contra o desenvolvimento que a tcnica estava alcanando e visto como desumanizante (KLINGE, 2003, p. 3). Na literatura, passando pela sociologia at a filosofia, no foram poucos os autores, s vezes de
perspectivas tericas dspares, que se voltaram para o fenmeno da tecnologia e
suas conseqncias negativas para o seio da sociedade5.
Na dcada de sessenta, Klinge (2003) observa o incio de uma virada nessa
abordagem negativa da tecnologia. Nessa poca, a reflexo explode e sai dos trilhos prioritrios da literatura, de filosofia e da sociologia, no qual havia-se movido
at esse momento (KLINGE, 2003, p. 4). Para o autor, a reflexo ento assumia
um matiz popular e via-se consolidar uma perspectiva propriamente tcnica.
Entusiasmados pelo desempenho cada vez mais consistente e amplo dos fenmenos tecnolgicos no seio da sociedade, os novos tericos construram algumas
apologias da bondade natural da tecnologia.
O fato que a compreenso da temtica da tecnologia tem sido marcada pelas
divergncias sobre seus efeitos positivos e/ou negativos para a sociedade moderna.
Distante de um consenso sobre a relao entre tecnologia e sociedade, as reflexes
caracterizam-se, at recentemente, pela existncia de duas posies aparentemente antagnicas. O certo que a tecnologia tem uma penetrao cada vez maior no
seio da sociedade moderna, de modo que no fcil negar benefcios sociais
advindos do desenvolvimento tecnolgico; porm temerrio, para no dizer ingnuo, defender tal desenvolvimento como algo que tem levado melhoria contnua para o conjunto dos seres vivos do planeta Terra. Apareceram, em decor3.
4.
5.
Compreende-se por filosofia da tecnologia o esforo por parte dos filosfos em abordar a
tecnologia como um objeto de reflexo sistemtica (MITCHAM, 1989).
As reflexes pessimistas restringem-se a momentos especficos. No geral, as reflexes que tomam
a tecnologia como fenmeno positivo constituem a tendncia dominante.
Para citar alguns: Ellul (1968), Heidegger (2001), Marcuse (1967;1999), McLuhan (1966;1969),
Mumford (1982; 2001), Spengler (1932).
121
Pro-Posies, v. 18, n. 1 (52) - jan./abr. 2007
rncia, os defensores da tecnologia que alguns tm chamado de tecnfilos os
quais tomaram posio contra os detratores deste desenvolvimento qualificados
de tecnfobos. (KLINGE, 2003, p. 1).
evidente que a dualidade corre o risco de ser considerada argumentao
primria e os qualificativos postos nos termos acima podem vir a anular as posies intermedirias que compreendem a tecnologia em termos positivos e negativos. No se desconhecem posies que, distanciando-se do fogo ardente da condenao e dos refletores, definam a tecnologia como algo que tem seus aspectos
positivos e negativos. Na construo deste texto, uma significativa posio intermediria aparecer mais adiante6, inclusive como fonte de anlise. Por ora, aceitase a dualidade, pois ela carrega a fora para expor um elemento terico relativo ao
problema de pesquisa, o tecnocentrismo. Conforme Snow (1995), o dualismo sempre provoca receios, porm justamente por isso que ele interessante.
O concreto que, como escreve Klinge (2003), a tecnologia contraditria e
ambgua. Tem suas luzes e suas sombras. Klinge (2003) encontra na ambigidade a dificuldade de muitos em refletir adequadamente sobre a tecnologia e conseguir formular um diagnstico consistente sobre o que denomina sociedades
tecnificadas. Reconhece, no entanto, que a academia, em especial, tem feito significativos esforos para compreender o tema e no sem motivo a existncia de
vrios ensaios, artigos, livros, teses que tomam a tecnologia como foco de anlise.
Enfim, no momento o debate tem os seus extremos, e no Brasil a situao no
parece ser diferente da de outros pases. Santos (2002), ao refletir sobre as perspectivas que a revoluo microeletrnica e a internet abrem luta pelo socialismo,
apresenta, com base nas condies brasileiras, duas posies comuns sobre a relao entre tecnologia e sociedade: a) de um lado encontram-se os que acreditam
que a tecnologia neutra e est a servio do progresso, cabendo apenas democratizla (distribu-la no momento adequado). De certo modo, continua intacto o mito
do sculo XIX, segundo o qual o progresso s traz benefcios e bem-estar, cabendo
aos democratas lutar pela universalizao (SANTOS, 2002, p. 24); b) na outra
perspectiva esto aqueles que parecem atribuir tecnologia um aspecto por demais negativo, no havendo quase nenhuma perspectiva de mudana nesse mundo tecnologizado, em que cincia e tcnica se aliam ao capital para colonizar todas
as facetas da existncia humana.
No caso especfico da educao, ela ainda no possui um corpus de conhecimentos prprios, estruturados e slidos acerca de sua relao com o fenmeno
tecnolgico. Assim, em virtude da no-existncia de uma tradio de reflexo
6.
A referncia teoria crtica da tecnologia, formulada nas obras Questioning Technology (2001),
Alternative Modernity: The technical Turn in Philosophy and Social Theory (1995) e Critical Theory
of Technology (1991), de Andrew Feenberg.
122
Pro-Posies, v. 18, n. 1 (52) - jan./abr. 2007
sistemtica e crtica sobre a tecnologia no campo educacional que se impe que
este trabalho se concentre, num primeiro momento, dentro da filosofia da
tecnologia para, a partir da, promover o dilogo com o campo pedaggico, estabelecendo, assim, as bases para a constituio, no futuro, de uma filosofia da
tecnologia educacional. Reconhece-se que, no Brasil, existem significativos filsofos da educao, como Dermeval Saviani, Paulo Freire, entre outros; no entanto,
a discusso da tecnologia no pensamento desses filsofos tem sido relegada a um
segundo plano ou, quando no, ela aparece limitada por esquemas de interpretao de contextos socioeconmicos mais amplos. Na teoria da educao como
um todo e, especialmente, na teoria da educao de esquerda no Brasil, a reflexo
sobre a tecnologia e suas repercusses no seio da sociedade ainda no mereceu a
centralidade que o tema impe (GHIRALDELLI JR., 2003). A tecnologia aparece sempre tributria de outras reflexes nas obras dos filsofos da educao brasileira, embora a filosofia da tecnologia possua um corpus de conhecimentos sistematizados. Para Ghiraldelli Jr., os que fazem a filosofia da educao brasileira
nunca abriram espao para uma discusso sria, sem preconceitos, a respeito das
novas tecnologias educacionais (GHIRALDELLI JR., 2003, p. 4).
Alm da pouca tradio que o tema da tecnologia possui nas reflexes dos
tericos da educao brasileira, possvel observar no texto de Ghiraldelli Jr. (2003)
duas posies que expressam a abordagem do tema pela teoria da educao. De
um lado, h aqueles que tapam o nariz. Para estes, tudo que for relacionado
tecnologia ruim e ter sempre uma repercusso negativa no seio da sociedade.
Todos ns, os de esquerda, no Brasil, tendo ou no lido os frankfurtianos, uma
vez que nos interessvamos por educao, olhvamos para qualquer elogio s tcnicas e tecnologias com desconfiana (GHIRALDELLI JR., 2003, p. 1). A outra
perspectiva de abordagem da tecnologia a que efetua a opo pela tese da neutralidade da tecnologia: (...) as tecnologias so boas, nascem boas, mas a sociedade
acadmica as corrompe (GHIRALDELLI JR., 2003, p. 11).
Tecnolofia e tecnofobia
O fato que a compreenso da tecnologia, seja por parte da filosofia da
tecnologia, seja na educao, tem seus extremos. Alguns observam o futuro com
otimismo e vislumbram mais benefcios do que problemas. Outros tm uma
visualizao crtica com variados graus de reservas, inclusive alguns com acentuado pessimismo, e at rejeio (KLINGE, 2003, p. 5). Tais pensadores so tecnfilos
e tecnfobos, e a tecnologia, nesse universo, acaba por ser compreendida apenas
na sua dimenso instrumental; na verdade, ela compreendida como um destino,
e no como uma possibilidade, o que se traduz na existncia de um problema, o
tecnocentrismo.
123
Pro-Posies, v. 18, n. 1 (52) - jan./abr. 2007
Com efeito, formulaes extremas acerca da tecnologia existem h certo tempo, porm elas, como se enfatizou, continuam a ser forte clivagem para entender
o fenmeno tecnolgico. Tal reflexo compartilhada por Andrew Feenberg, para
quem as teorias da tecnologia se reduzem a dois grandes grupos: a) teoria instrumental, que a viso dominante dos atuais governos e suas polticas cientficas; b)
teoria substantiva, que atribui um elevado grau de autonomia para a tecnologia.
De acordo com Feenberg, a teoria instrumental considera que a tecnologia
est subserviente a valores estabelecidos em outras esferas sociais, por exemplo,
cultura e poltica, enquanto que a teoria substantiva compreende a prpria
tecnologia como uma fora autnoma capaz de se sobrepor s diferentes formas
de valores, anulando-os.
Considerando a importncia de sua posio para este trabalho, aprofunda-se
um pouco mais a posio de Feenberg (1991; 2001), para quem as teorias sobre a
tecnologia podem ser diferenciadas conforme as suas respostas a duas questes
bsicas: a) a tecnologia neutra ou carregada de valores? b) Pode o impacto da
tecnologia ser humanamente controlado ou ela opera de acordo com sua prpria
lgica autnoma? Ou seja, a humanidade capaz de guiar o sentido histrico no
qual a tecnologia est nos levando?
A teoria instrumental oferece a viso mais amplamente aceita da tecnologia.
Ela est baseada na idia senso comum de que tecnologias so ferramentas prontas para servir aos propsitos de seus usurios (FEENBERG, 1991, p. 5). Para os
tericos dessa viso, a tecnologia neutra, o que significa, de acordo com Feenberg
(1991), pelo menos quatro aspectos:
a) tecnologia como instrumentalidade pura, ou seja, ela indiferente variedade de fins nos quais ela pode ser empregada. A neutralidade da tecnologia
meramente exemplo especial da neutralidade dos meios instrumentais,
que so apenas eventualmente relacionados aos valores substantivos que
eles servem. (FEENBERG, 1991, p.5);
b) tecnologia como neutra politicamente, ou seja, ela indiferente questo
poltica, especialmente na sociedade moderna; fica descartada sua relao
com projetos sociais, sejam estes capitalistas ou socialistas. Um martelo
um martelo, uma turbina uma turbina, e tais ferramentas so teis em
qualquer contexto social (FEENBERG, 1991, p. 6);
c) tecnologia como algo racional e de verdade universal, ou seja, a tecnologia
tem sua neutralidade atribuda a seu suposto carter racional e, como conseqncia, portadora de uma verdade universal. As proposies causais
verificveis em que ela est baseada no so nem socialmente nem politicamente relativas, como as idias cientficas, mantm status cognitivo em
todo contexto social concebvel. (FEENBERG, 1991, p. 6);
124
Pro-Posies, v. 18, n. 1 (52) - jan./abr. 2007
d) Sua universalidade tambm significa que os mesmos padres de medida
podem ser aplicados a ela em diferentes cenrios (FEENBERG, 1991, p.
6). Assim, pressupe-se que a tecnologia pode incrementar a produtividade
em diferentes regies, pases e culturas. A tecnologia neutra porque permanece essencialmente sob as mesmas normas de eficincia em todo e qualquer contexto. (FEENBERG, 1991, p. 6).
A teoria substantiva da tecnologia aceita por uma pequena minoria de
pensadores, conforme explica Feenberg (1991): [Eles] argumentam que a
tecnologia constitui um novo sistema cultural, que reestrutura todo o mundo
social como um objeto de controle. (FEENBERG, 1991, p. 7). E mais: esse
sistema caracterizado por uma dinmica expansiva que ultimamente alcana
todos os enclaves pr-tecnolgicos e molda toda a vida social. A instrumentalizao
total , no obstante, um destino do qual no h maneira de escapar que no seja
retrocedendo. (FEENBERG, 1991, p. 7).
At aqui, enfatizou-se a existncia de dois grandes modelos de abordagem terica da tecnologia (tecnofilia/instrumentalismo; tecnofobia/substantivismo). Tais
modelos, trabalhados como extremos, induzem idia de que as duas teorias so
antagnicas. De fato, h diferenas significativas entre elas, como se viu. No entanto, conforme Feenberg (1991; 2001), Bourg (1998) e Klinge (2003) entre
outros autores elas, em certa medida, coincidem e fazem parte de um mesmo
problema, o tecnocentrismo.
Essa a posio de Klinge na citao que se segue, cuja transcrio, embora
longa, justifica-se em virtude da sua importncia para este trabalho:
as duas posies mencionadas seja a instrumental ou a substantiva correm o risco de outorgar tecnologia um lugar de
protagonista decisivo na anlise da sociedade e da cultura.
De fato, muitos autores tm incorrido neste equvoco, esta
uma caracterstica daqueles que somente vem benefcios na
tecnologia tecnfilos e, inclusive, sugerem, direta ou indiretamente, um certo determinismo tecnolgico. Todavia, este
vcio no cultivado apenas pelos tecnfilos. Pode tambm
contagiar aqueles que se aproximam das novas tecnologias
e seus efeitos, como de fato parece estar sucedendo com no
poucos. Como nos primeiros, a perspectiva dos tecnfobos
coloca a tecnologia no centro de tudo, outorgando-lhe um
rol determinante na vida do ser humano e sua cultura, o que
nos parece excessivo. Ambas dirigem seu olhar para a utopia
tecnolgica, uns para rejeit-la e outros para acelerar sua
chegada. Em ambos os casos a utopia tecnolgica termina
sendo o tema focal, desde o qual se redefine todo o universo
humano. (KLINGE, 2003, p. 6).
125
Pro-Posies, v. 18, n. 1 (52) - jan./abr. 2007
A posio de Klinge sobre a tecnologia aproxima-se da anlise de Feenberg
(1991); para este, a tecnologia surge, nas teorias instrumentais e teorias substantivas, como um destino e, embora ambas guardem diferenas, elas se aproximam na atitude diante do fenmeno da tecnologia, qual seja: uma atitude de
pegar ou largar. O que quer dizer:
de um lado, se a tecnologia uma mera instrumentalidade,
indiferente aos valores, ento seu design no est em questo
no debate poltico, apenas a extenso e a eficincia de sua
aplicao. De outro lado, se a tecnologia o veculo de uma
cultura de dominao, ento ns estamos condenados a seguir seus avanos em direo distopia ou a regressar a um
modo mais primitivo de vida. Em nenhum dos casos, ns
podemos mud-la: em ambas teorias, a tecnologia o destino. (FEENBERG, 1991, p. 8).
Seja para os instrumentalistas (tecnfilos), seja para os substantivistas
(tecnfobos), a tecnologia aparece determinando os rumos dos seres humanos, ou
seja, o mundo uma nave cujo rumo no tem chances de reorientao. A posio tecnocntrica (o tecnocentrismo) transforma-se em problema, na medida em
que a sua existncia impede a real compreenso do fenmeno da tecnologia e de
sua repercusso no seio da sociedade e, de modo especial para este estudo, da
educao. O problema do tecnocentrismo, ao no colocar a questo da tecnologia
em termos adequados, necessita ser superado: a correta aproximao ao assunto
deve rejeitar as posies inspiradas por esta perspectiva tecnocntrica e buscar
colocar a tecnologia em um marco mais amplo, no mbito humano [...] (KLINGE,
1991, p. 6).
Para Klinge (2003), a superao do problema do tecnocentrismo no fcil,
pois, medida que a tecnologia fica mais complexa, ela aumenta o seu poder de
seduo. Apoiando-se na referncia que o escritor Arthur Clarke faz da relao
entre tecnologia e magia, Klinge (2003) argumenta que a tecnologia no pode se
constituir como um novo deus, pois ela fruto da inteligncia humana e deve
ser vista dessa forma. Ora, no demais lembrar que, como obra dos seres humanos, carrega, portanto, os limites e possibilidades desse mesmo ser. Se os seres
humanos foram capazes de criar um determinado modelo tecnolgico, eles tm
tambm a capacidade de reorient-lo, refaz-lo ou anul-lo.
Para Feenberg (1991; 2001), a tecnologia tem que ser inserida no universo
cultural e h que se colocar a questo de saber quais so as possibilidades que os
seres humanos possuem para intervir nesse universo cada vez mais tecnologizado:
devem os seres humanos submeter-se lgica spera da maquinaria ou pode a
tecnologia ser melhor desenhada para servir aos seus criadores? (FEENBERG,
126
Pro-Posies, v. 18, n. 1 (52) - jan./abr. 2007
1991). uma tarefa para a teoria crtica da tecnologia, que toma como mvel tal
questo e deve superar, ao mesmo tempo, as posies unilaterais das teorias instrumentais (tecnofilia) e teorias substantivas (tecnofobia) e o problema do
tecnocentrismo, com a sua conseqente posio de que a tecnologia um destino.
assim que, neste estudo, pretende-se compreender e interrogar a abordagem
terico-crtica questo da tecnologia no pensamento de Andrew Feenberg, com
a finalidade de pensar a relao entre tecnologia e educao. Como a tecnologia
quase um fenmeno formativo no mundo atual (FEENBEG, 1991; MARTINS
2003; KLINGE, 2003, entre outros), ela impe aos que compem a teoria da
educao a necessidade urgente de refletir sobre os seus efeitos e suas possibilidades. As palavras abaixo, de Pucci (2003, p. 15), so por demais interessantes a esse
respeito:
se a racionalidade tecnolgica, que estrutura e d suporte
sociedade atual nos setores da produo, pervade cada vez
mais e irreversivelmente o cotidiano das pessoas, as relaes
sociais, e, entre elas, as relaes educacionais; se nesse processo imperativo leva consigo sua lgica funcional e intervm
internamente nas aes e reaes das pessoas; como desenvolver, ento, uma reflexo terica e possibilitar formas de
interveno poltico-pedaggica que estejam, ao mesmo tempo, abertas para a importncia essencial da tcnica em todos
os setores da vida humana no mundo contemporneo; que
ajude a formao de personalidades resistentes racionalizao instrumental progressiva das esferas da vida, em particular da educao; que promova um novo esprito e maneira
de ser em relao tcnica um novo ethos perante o
furor compulsivo do esprito tecnolgico? [grifo nosso].
Nesse sentido, alia-se o questionamento de Pucci (2003) s indagaes anteriores e se prope, para a educao, a tecnologia como um elemento-chave para os
seus esquemas de compreenso da realidade moderna.
Antes de continuar torna-se necessrio definir os termos.
A tecnologia, neste texto, compreendida como um modo de produo, uma
totalidade de instrumentos, dispositivos e invenes que fazem parte de uma sociedade, era da mquina: [...] assim, ao mesmo tempo, uma forma de organizar
e perpetuar (ou modificar) as relaes sociais, uma manifestao do pensamento e
dos padres de comportamento dominantes, um instrumento de controle e dominao (MARCUSE, 1999, p.73). Conforme esse conceito, a tcnica (aparato
tcnico da indstria, transportes, comunicao) corresponde apenas a uma parte
da tecnologia, a qual tem que ser vista como um processo social muito mais amplo
(MARCUSE, 1999).
127
Pro-Posies, v. 18, n. 1 (52) - jan./abr. 2007
Neste trabalho, a educao compreendida como uma atividade, um fenmeno social, cuja meta envolve um movimento de transformao interna de uma
condio de saber a outra condio de saber mais elevada, ou ainda, compreenso do outro, de si mesmo, da realidade, da cultura acumulada, do seu presente
(CHAU, 2003). E mais: a educao inseparvel do processo de formao humana, permanente (CHAU, 2003) e deve, ainda, proporcionar aos educandos
a capacidade de compreenso e de interveno na sociedade. Conseqentemente,
por teoria da educao define-se o processo de (re)pensar de modo normativo e
projetivo a atividade educativa.
O fato que, neste texto, alm de assumir como argumento a noo de meio
tcnico, busca-se a defesa da teoria da educao; mais especificamente, aceita-se
o conceito de teoria crtica da educao, conforme formulao de SchmiedKowarzik (1988).
Para ele, a teoria crtica da educao tem como tarefa primeira superar o problema dos modismos educacionais, ou seja, a adeso acrtica da educao a reflexes oriundas de outras reas do conhecimento. Porm, isso no deve ser tomado
como a no-necessidade de dilogo entre educao e demais reas do conhecimento; ao contrrio, a afirmao da teoria da educao, que toma como cerne a
educao, vista como a possibilidade de estabelecer as bases para o dilogo entre
a educao e demais campos do conhecimento que podem trazer algumas contribuies para o pensamento pedaggico. Sobre os modismos, escreve o autor (1988,
p. 7):
no mbito da cincia da educao, tornou-se comum ultimamente assumir questes e posicionamentos tericos e cientficos do plano das discusses das cincias prximas, aplicando-os, de modo mais ou menos modificado, a problemas
pedaggicos, em vez de continuar a desenvolver a tradio
terica e cientfica prpria, tantas vezes negada, confrontando-a com questes e exigncias novas.
Da que, para o autor, a reflexo da educao deve tambm olhar para si mesma, para sua prpria produo; e, ao visualizar a si mesma, em confronto com
novas questes, dialogar com os demais campos do conhecimento. Segundo ele, a
construo de uma teoria crtica da educao pode, assim, contribuir significativamente para uma melhoria da qualidade das prticas pedaggicas.
A posio de Schmied-Kowarzik (1988) no incorporada na sua totalidade
neste trabalho; embora sua concretizao da proposta de fundamentao da Pedagogia no seja assumida aqui, aceita a sua defesa de uma teoria crtica da educao, a qual deve ser de natureza crtica e propositiva. Por um lado, para ser crtica,
a teoria da educao precisa considerar os determinantes histrico-sociais do fe128
Pro-Posies, v. 18, n. 1 (52) - jan./abr. 2007
nmeno educacional, o qual, por isso mesmo, no pode ser concebido sem as
relaes que o constituem e que lhe do sentido; alm disso, no basta a teoria da
educao analisar criticamente a realidade educacional: ela precisa aliar a essa compreenso um sentido de transformao dessa mesma realidade; em outras palavras, precisa estabelecer tambm perspectivas de transformao do contexto que
analisa.
Este trabalho permeado pela perspectiva metodolgica defendida por Mayorga
(1990), a qual prev que o trabalho terico s pode se exercer no domnio de uma
reflexo crtica. [...] O conceito de crtica utilizado nestas reflexes enfatiza que
[...] as elaboraes tericas esto determinadas por fraturas, ambigidades e contradies internas (MAYORGA, 1990, p 10). Nesse caso, sustenta Mayorga
(1990), no h teoria absolutamente verdadeira e, por isso, o trabalho da crtica
a reflexo do pensamento sobre si mesmo pode visualizar problemas no explorados e ampliar a verdade a partir das rupturas e fissuras dos pensamentos existentes. Trata-se de uma lgica de la desintegracin (ADORNO, 1968, p. 146) que
ataca a reificao dos conceitos e rechaa de imediato aquela percepo equivocada do conhecimento cientfico como simples aplicao de modelos universais a
situaes particulares (MAYORGA, 1990). Como enfatiza o autor, uma espcie de propedutica que tem por finalidade pensar determinados problemas de
forma a evidenci-los, sem cair, ao mesmo tempo, na distoro da reduo ideolgica.
Nesse contexto, ento, a reflexo proposta ser concretizada com base em referncias de natureza terico-histrica, num primeiro momento, para, na parte seguinte, concentrar-se nos textos da filosofia da tecnologia. Busca-se analisar a obra
de um dos expoentes da filosofia da tecnologia americana que tem penetrao no
Brasil, o professor Andrew Feenberg. Pensa-se em Feenberg como uma alternativa, alm de sua presena terica no contexto brasileiro, pelo fato de que ele formula uma proposta de teoria crtica da tecnologia, cuja meta apontar para um
conceito ampliado de tecnologia. Entre os vrios textos de Feenberg, utiliza-se, de
forma especial, o texto Questionamento da tecnologia (2001), uma vez que este
se apresenta como uma sntese da posio terica do autor.
Consideraes finais
Assim, neste trabalho, ao se concentrar numa tradio terica especfica, a da
teoria crtica, pretende-se, essencialmente, compreender a crtica da tecnologia
em um dos expoentes da filosofia da tecnologia, mantendo sempre o horizonte de
pensar a relao entre tecnologia e educao. Feenberg foi escolhido, entre outros
motivos, por buscar inspirao para o seu trabalho em uma das tradies mais
representativas do debate acerca da tecnologia na filosofia dos ltimos tempos.
129
Pro-Posies, v. 18, n. 1 (52) - jan./abr. 2007
Situada, portanto, na articulao da crtica da sociedade com a crtica dos
instrumentos tcnicos, a pesquisa tem como hiptese central a defesa de que a
teoria crtica da tecnologia permite as bases para aprofundar o dilogo entre moderna tecnologia e educao. Espera-se demonstrar, ainda, a tecnologia como um
elemento-chave para entender a sociedade moderna e, portanto, no se pode reduzir a compreenso da tecnologia dimenso instrumental do fenmeno. Isso
exige uma abordagem terico-crtica do problema por parte da educao.
Ao ser concretizado em referncias de natureza terico-histrica, num primeiro momento, e em textos de filosofia da tecnologia, num segundo momento, em
especial o texto Questionamento da tecnologia, no trabalho acredita-se confirmar a
hiptese estabelecida, principalmente quando se confrontado com a noo de
ambivalncia da tecnologia, conforme proposio de Feenberg.
O conceito de ambivalncia da tecnologia significa que no h uma nica
relao entre o avano tecnolgico e a distribuio social do poder. Esse conceito,
como se viu, apresenta dois princpios: a) conservao da hierarquia enfatiza que
a hierarquia social pode ser preservada e reproduzida quando uma determinada
tecnologia introduzida. Esse princpio explica a continuidade do poder nas sociedades capitalistas avanadas sobre as ltimas geraes, o que foi possvel, para
Feenberg, graas a estratgias tecnocrticas de modernizao, apesar das enormes
transformaes tecnolgicas; b) racionalizao democrtica isso quer dizer que
tal tecnologia tambm pode ser utilizada para minar a hierarquia social existente
ou for-la a visualizar necessidades que esta tem ignorado.
Acredita-se, em sntese, que o conceito de ambivalncia da tecnologia, que
significa dizer que a tecnologia est disponvel a desenvolvimentos alternativos
com diferentes conseqncias sociais, abala a to propalada noo de eficincia,
com o culto tecnolgico que lhe peculiar, e permite, ao mesmo tempo, articular
moderna tecnologia e educao sem comprometer, evidentemente, o carter
emancipatrio desta ltima.
A noo de que determinados interesses e valores esto incorporados nos objetos tcnicos abre, assim, a possibilidade de implicar a perspectiva dos usurios e
dos consumidores naqueles prprios objetos que, nesse caso, aproximam-se da
condio de objetos sociais. Essa perspectiva permite a crtica dos objetos tcnicos
existentes, ao mesmo tempo que possibilita preservar-lhes dimenses que poderiam contribuir para o desenvolvimento de determinadas dimenses humanas atualmente negadas pela sociedade de consumo. Quer dizer, a construo de outra
sociedade possvel a partir das fissuras dos objetos existentes. E, nesse aspecto, o
trabalho de Feenberg parece ser uma alternativa consistente entre as perspectivas
do instrumentalismo e do substantivismo.
Essa alternativa de compreenso do desenvolvimento tecnolgico permite, ainda, situar melhor a tecnologia como uma dimenso da vida humana. E isso, no
130
Pro-Posies, v. 18, n. 1 (52) - jan./abr. 2007
caso da educao, torna-se fundamental para quebrar parte do culto tecnolgico,
com a conseqente noo de instrumentalidade pura. A noo de que a tecnologia
neutra e, portanto, no incorpora valores parece ser fragilizada pela referncia de
Feenberg s pesquisas que mostram como determinados interesses e valores dos
grupos dominantes acabam por incorporar-se nos prprios objetos tcnicos. Nesse sentido, o trabalho de Feenberg se constitui, tambm, numa dimenso heurstica,
ao alertar para a fragilidade das teses da tecnologia como um destino, e no como
uma possibilidade humana. Conforme enfatiza CUPANI (2004, p. 517): de
qualquer modo, a anlise da tecnologia realizada por Feenberg tem, sem dvida, o
carter que o autor lhe atribui, ou seja, possui funo heurstica de quebrar a
iluso de necessidade de que o mundo quotidiano est recoberto.
Com isso, a contribuio de Feenberg se faz no sentido de construir uma perspectiva terica que possibilita a visualizao da tecnologia como um espao em
disputa. Descortina-se, ento, a possibilidade de a educao contribuir para que
as pessoas estejam atentas a questionar o moderno tecnolgico e, ao mesmo tempo, procurarem incorporar, cada vez mais, os seus interesses nos prprios mecanismos. Pode-se, at mesmo, com essa noo de tecnologia, ampliar a urgente e
necessria participao dos usurios nos destinos da moderna tecnologia.
Referncias bibliogrficas
ADORNO, Theodor Wiesengrund; HORKHEIMER, Max. Dialtica do esclarecimento:
fragmentos filosficos. Traduo de Guido Antnio de Almeida. Rio de Janeiro: J. Zahar
Editor, 1985. 254 p.
ARISTOTELES. Metafsica (livro I e livro II); tica a Nicmaco; Potica. Traduo direta
do grego por Vincenzo Cocco. So Paulo: Abril Cultural, 1984. 329 p.
BOURG, Dominique. Natureza e tcnica ensaio sobre a idia de progresso. Traduo de
Maria Carvalho. Lisboa: Instituto Piaget, 1998. 158 p.
CHAU, Marilena. A universidade pblica sob nova perspectiva. 12 p. Disponvel em: <http:/
/www.anped.org.br>. Acesso em: 01 de novembro de 2003.
CROCHK, Jos Len. Teoria crtica e novas tecnologias da educao. In: PUCCI, Bruno
et al. Tecnologia, Cultura e Formao... ainda Auschwitz. So Paulo: Cortez, 2003. p. 97114.
CUPANI, Alberto. A tecnologia como um problema filosfico: trs enfoques. SCIENTIAE
Studia, So Paulo, v. 2, n. 4, p. 493-518, out./dez. 2004.
ELLUL, Jacques. A tcnica e o desafio do sculo. Traduo de Roland Corbisier. Rio de
Janeiro: Editora Paz e Terra Ltda., 1968. 445 p.
FEENBERG, Andrew. Critical theory of technology. New York: Oxford University Press,
1991. 235 p.
131
Pro-Posies, v. 18, n. 1 (52) - jan./abr. 2007
FEENBERG, Andrew. Alternative modernity: the technical turn in philosophy and social
theory. California: University of California Press, 1995. 251 p.
FEENBERG, Andrew. Questioning Technology. 3. ed. London and New York: Routeledge
Taylor & Francis Group, 2001. 243 p.
FEENBERG, Andrew. Teoria Crtica da Tecnologia. Traduo da equipe de tradutores do
Colquio Internacional teoria crtica e educao. 17 p. Disponvel em: <http://www.sfu.ca/
~andrewf/>. Acesso em: maro de 2005a.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 218 p.
GHIRALDELLI JR., Paulo. O ensino na internet dentro de uma filosofia da educao de
esquerda. 11p. Disponvel em: <http://www.pedagogia.pro.br/info-educao.htm>. Acesso
em: 20 de maro de 2003.
HEIDEGGER, Martin. Ensaios e conferncias. Traduo de Emmanuel Carneiro Leo;
Gilvan Fogel; Mrcia S Cavalcante Schuback. Petrpolis: Vozes, 2001. 269 p.
KLINGE, Grman Doig. Tecnologia, Utopia e Cultura. 13p. Disponvel em: <http://
www.fides.org.br/artigo08.pdf>. Acesso em: 01 de abril de 2003.
MARCUSE, Herbert. Tecnologia, Guerra e Facismo. Traduo de Maria Cristina Vidal Borba;
reviso de traduo de Isabel Maria Loureiro. So Paulo: Fundao Editora da UNESP,
1999. 371p.
MARTINS, Hermnio; GARCIA, Jos Lus; (Org.). Dilemas da Civilizao Tecnolgica.
Lisboa: Imprensa de Cincias Sociais. 2003. 377 p.
MAYORGA, Ren Antonio. Teoria como reflexion critica. La Paz/Bolvia: Talleres Grficos
Hisbol, 1990. 217 p.
MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicao: como extenses do homem. Traduo
de Decio Pignatari. So Paulo: Cultrix, 1969. 407 p.
MITCHAM, Carl. Qu es la Filosofa de la Tecnologa? Barcelona: Editora Antrhropos,
1989. 213 p.
MUMFORD, Lewis. Tcnica y Civilizacin. 4. ed. Versin espaola de Constantino Asnar
de Azevedo. Madrid: Alianza Editorial, 1982. 525 p.
MUMFORD, Lewis. Arte e Tcnica. Traduo de Ftima Godinho. Lisboa: Edies 70,
2001. 143 p.
PUCCI, Bruno. Apresentao: Tecnologia, cultura e formao... ainda Auschwitz. In:
PUCCI, Bruno et al. Tecnologia, Cultura e Formao... ainda Auschwitz. So Paulo: Cortez,
2003. p. 7-18.
SANTOS, Laymert Garcia dos. Perspectivas que a revoluo micro-eletrnica e a internet
abrem luta pelo socialismo. Revista Adunicamp, Campinas, ano 4, n. 1, p. 19-28, nov.
2002.
SAVIANI, Dermeval. Educao: do senso comum conscincia filosfica. 13. ed. Campinas:
Editora Cortez/Autores Associados, 2000. 247 p.
132
Pro-Posies, v. 18, n. 1 (52) - jan./abr. 2007
SCHMIED-KOWARZIK, Wolfdietrich. Pedagogia Dialtica. 2. ed. Traduo de Wolgang
Leo Maar. So Paulo: Editora Brasiliense, 1988. 143 p.
SNOW, Charles Percy. As Duas Culturas e uma Segunda Leitura: uma Verso Ampliada das
Duas Culturas e a Revoluo Cientfica. Traduo de Geraldo Gerson de Souza; Renato de
Azevedo Rezende Neto. So Paulo: Editora da Universidade de So Paulo, 1995. 128 p.
SPENGLER, Oswald. El hombre y la tcnica: contribucin a una filosofia de la vida. Traduo
de Manuel G. Morente. Bilbao/Madrid/Barcelona: Espasa-Calpe S. A., 1932. 125 p.
STERNE, Jonathan. Bourdieu, technique and technology. Cultural Studies, USA, v. 17, n.
3/4, , p. 367-389, maio/jul. 2003.
133
Você também pode gostar
- Psicologia Do Desenvolvimento e Aprendizagem PDFDocumento77 páginasPsicologia Do Desenvolvimento e Aprendizagem PDFSilmara RégiaAinda não há avaliações
- Huberto Rohden - A Voz Do SilêncioDocumento160 páginasHuberto Rohden - A Voz Do SilêncioUniversalismo Cultura100% (3)
- Registos e Notariado: Temas Jurídicos e Desafios AtuaisDocumento332 páginasRegistos e Notariado: Temas Jurídicos e Desafios AtuaisFlo100% (3)
- Livro Tecnolgia e CognicaoDocumento284 páginasLivro Tecnolgia e CognicaoJose Aires100% (1)
- Investigação Qualitativa Vol 1Documento154 páginasInvestigação Qualitativa Vol 1Lima CostaAinda não há avaliações
- Alfabetização Científica Ou Letramento CientíficoDocumento9 páginasAlfabetização Científica Ou Letramento CientíficoMarcos Alede N. DavelAinda não há avaliações
- Constitucionalismo, Democracia e Inovação: Diálogos sobre o Devir no Direito ContemporâneoNo EverandConstitucionalismo, Democracia e Inovação: Diálogos sobre o Devir no Direito ContemporâneoAinda não há avaliações
- Ética e valores no esporteDocumento27 páginasÉtica e valores no esporteeliabetaichiAinda não há avaliações
- Boas e o culturalismoDocumento5 páginasBoas e o culturalismoDik Grace M. MulliganAinda não há avaliações
- Apostila de Tecnologia Da Informação Conceitos e EvoluçãoDocumento85 páginasApostila de Tecnologia Da Informação Conceitos e EvoluçãoAlisson Bruno Barcelos De OliveiraAinda não há avaliações
- Tecnologia democrática e experiência: Uma introdução à teoria crítica da tecnologiaDocumento233 páginasTecnologia democrática e experiência: Uma introdução à teoria crítica da tecnologiaMonisa Lopes Monteiro100% (1)
- Educação Tecnologia e Cultura DigitalDocumento60 páginasEducação Tecnologia e Cultura DigitalSilvana Maria TresAinda não há avaliações
- Resenhas The Oxford Handbook of InnovationDocumento4 páginasResenhas The Oxford Handbook of InnovationSimone SartoriAinda não há avaliações
- Contribuição Da Sociologia para A Formação em EngenhariaDocumento38 páginasContribuição Da Sociologia para A Formação em Engenharia_Titchão_Ainda não há avaliações
- Tecnologia É Sociedade - Contra A Noção de Impacto TecnológicoDocumento28 páginasTecnologia É Sociedade - Contra A Noção de Impacto TecnológicoFabio AntonioAinda não há avaliações
- TAMARA Tecnologia e SociedadeDocumento22 páginasTAMARA Tecnologia e Sociedadesuhett2003Ainda não há avaliações
- Sociologia Da TécnicaDocumento4 páginasSociologia Da TécnicaJuan Paul100% (1)
- Classificação Das Tecnologias Baseada em Processos SustentáveisDocumento13 páginasClassificação Das Tecnologias Baseada em Processos SustentáveisSamanta Borges PereiraAinda não há avaliações
- Revista Educação Pública - O Ensino de Literatura e o Uso de Recursos Tecnológicos No Ensino MédioDocumento7 páginasRevista Educação Pública - O Ensino de Literatura e o Uso de Recursos Tecnológicos No Ensino MédioCíntia CruzAinda não há avaliações
- Didatico Cts Cts Carla 2023-1Documento16 páginasDidatico Cts Cts Carla 2023-1vanessaulisses77Ainda não há avaliações
- Didatico Cts Cts Carla 2021-1Documento16 páginasDidatico Cts Cts Carla 2021-1Elias Reis Dos AnjosAinda não há avaliações
- TAC - Tecnologias de Administração e ContabilidadeDocumento22 páginasTAC - Tecnologias de Administração e ContabilidadeADmjbAinda não há avaliações
- Engenheiro educador repensa atuação em empreendimentos econômicosDocumento12 páginasEngenheiro educador repensa atuação em empreendimentos econômicoslutoninAinda não há avaliações
- Pensar A Tecnologia Interdisciplinarmente: A Utilização Metodológica Dos Aspectos Modais. Vi Simpósio Nacional de Ensino de Ciência E TecnologiaDocumento11 páginasPensar A Tecnologia Interdisciplinarmente: A Utilização Metodológica Dos Aspectos Modais. Vi Simpósio Nacional de Ensino de Ciência E TecnologiaMarco van der MeerAinda não há avaliações
- Tecnologia e Mediação Pedagógica - Perspectivas Investigativas 1Documento10 páginasTecnologia e Mediação Pedagógica - Perspectivas Investigativas 1Gabriella Rocha DinizAinda não há avaliações
- CIENCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADEDocumento59 páginasCIENCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADEIFÁC EDUCACIONALAinda não há avaliações
- Artigo Educação Tecnologias, Cultura Hacker e Ensino de Artes TEMÁTICA 2Documento15 páginasArtigo Educação Tecnologias, Cultura Hacker e Ensino de Artes TEMÁTICA 2GuilhermeAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Os Limites 1Documento16 páginasArtigo Sobre Os Limites 1CantosAinda não há avaliações
- Apol Tecnologias Na Educa - o - Novas Formas de Ensinar e AprenderDocumento4 páginasApol Tecnologias Na Educa - o - Novas Formas de Ensinar e Aprenderangela ferreiraAinda não há avaliações
- Dialnet DeParsonsAElias 7684143Documento27 páginasDialnet DeParsonsAElias 7684143Ana Clara VianaAinda não há avaliações
- AD1 - CTS. Vinícius José de Oliveira-BICT-BCA - 2023 - 1Documento4 páginasAD1 - CTS. Vinícius José de Oliveira-BICT-BCA - 2023 - 1Vinícius JoséAinda não há avaliações
- Democratizacao_em_processos_decisorios_sobre_CT_o_Documento25 páginasDemocratizacao_em_processos_decisorios_sobre_CT_o_profacamilamariAinda não há avaliações
- Análise dos pressupostos da abordagem CTS na educação brasileiraDocumento6 páginasAnálise dos pressupostos da abordagem CTS na educação brasileirasamantha bonetteAinda não há avaliações
- Texto PucDocumento19 páginasTexto PucThais SouzaAinda não há avaliações
- Ranieri ArtigoDocumento9 páginasRanieri ArtigoRanieri Roberth AguiarAinda não há avaliações
- Da Instrução À EducaçãoDocumento16 páginasDa Instrução À EducaçãovanessamatoAinda não há avaliações
- Artigo 2 - Luís Guilherme - Urbanização e CTSDocumento18 páginasArtigo 2 - Luís Guilherme - Urbanização e CTSLuís CunhaAinda não há avaliações
- O tecnicismo revisitado na EaDDocumento16 páginasO tecnicismo revisitado na EaDLuciana CardosoAinda não há avaliações
- Currículo e Tecnologia EducativaDocumento9 páginasCurrículo e Tecnologia EducativabloguesAinda não há avaliações
- Introducao Aos Enfoques Cts Na Educacao e No Ensino FinalDocumento181 páginasIntroducao Aos Enfoques Cts Na Educacao e No Ensino FinalglauciargonzagaAinda não há avaliações
- A Evolução Tecnológica e A Sociedade Da InformaçãoDocumento12 páginasA Evolução Tecnológica e A Sociedade Da InformaçãoPós- Graduação Meio Ambiente UNINTERAinda não há avaliações
- Celso Joã..Documento26 páginasCelso Joã..Anália Bescia Martins de BarrosAinda não há avaliações
- Reflexão UFCD STC 7 Sociedade, Tecnologia e CiênciaDocumento3 páginasReflexão UFCD STC 7 Sociedade, Tecnologia e CiênciafjvasquespAinda não há avaliações
- 09 Dicotomia Tecnol SocieddDocumento10 páginas09 Dicotomia Tecnol Socieddxavier.unespAinda não há avaliações
- Tecnologias na educação discurso MECDocumento16 páginasTecnologias na educação discurso MECPriscilla LoboAinda não há avaliações
- ATAIDE e MESQUITA TicDocumento25 páginasATAIDE e MESQUITA Ticbrunohalluan4331Ainda não há avaliações
- Relação entre sociedade, ciência e tecnologiaDocumento8 páginasRelação entre sociedade, ciência e tecnologiaBerê XimenesAinda não há avaliações
- conforme solicitado e atende aos requisitos pedidosDocumento24 páginasconforme solicitado e atende aos requisitos pedidosNats MelãoAinda não há avaliações
- Letramentos Digitais e Formação de ProfessoresDocumento15 páginasLetramentos Digitais e Formação de ProfessoresLuciano Araújo Da CostaAinda não há avaliações
- Conceito de Tecnologia PDFDocumento4 páginasConceito de Tecnologia PDFcristiano100% (1)
- Monografia Final Carlos RamosDocumento54 páginasMonografia Final Carlos RamoscarlostteAinda não há avaliações
- Sobre o Marco Analítico-Conceitual Da Tecnologia SocialDocumento50 páginasSobre o Marco Analítico-Conceitual Da Tecnologia SocialThiago OsawaAinda não há avaliações
- Curriculo TecnologiadownloadDocumento14 páginasCurriculo TecnologiadownloadMarcelino Pedro BragaAinda não há avaliações
- Educação, Internet e Letramento DigitalDocumento14 páginasEducação, Internet e Letramento DigitalMARIA ALICE DE CASTRO ALVESAinda não há avaliações
- Artigo Final - Eder Marcio Araujo SobrinhoDocumento15 páginasArtigo Final - Eder Marcio Araujo SobrinhoMarcio AraujoAinda não há avaliações
- Tecnologias na Educação: evolução, potencialidades e desafiosDocumento20 páginasTecnologias na Educação: evolução, potencialidades e desafiosMicaela SouzaAinda não há avaliações
- Artigo Traduzido - IHC Da Terceira Onda - BodkerDocumento10 páginasArtigo Traduzido - IHC Da Terceira Onda - BodkerNetoAinda não há avaliações
- Ana - Henrique2,+8022 20271 1 RV+Documento16 páginasAna - Henrique2,+8022 20271 1 RV+Márcio RodrigoAinda não há avaliações
- A Perspectiva Ciência, Tecnologia e Sociedade No Contexto Da Educação Tecnológica e PolitécnicaDocumento18 páginasA Perspectiva Ciência, Tecnologia e Sociedade No Contexto Da Educação Tecnológica e Politécnicaostugeaqp10Ainda não há avaliações
- Aula1 PDFDocumento25 páginasAula1 PDFRicardo AlmeidaAinda não há avaliações
- Alfabetização Científico-Tecnológica - Auler e DelizoicovDocumento13 páginasAlfabetização Científico-Tecnológica - Auler e DelizoicovrenatoAinda não há avaliações
- Formação de professores para letramento digitalDocumento11 páginasFormação de professores para letramento digitalTalison de SouzaAinda não há avaliações
- Análise Pressupostos CTS Educação BrasileiraDocumento23 páginasAnálise Pressupostos CTS Educação BrasileiraGeorge E Nalva VelosoAinda não há avaliações
- Educação Profissional: conceitos-chave e formação para o trabalhoDocumento56 páginasEducação Profissional: conceitos-chave e formação para o trabalhomarcos afonso zanonAinda não há avaliações
- Ensino de Química com enfoque CTSDocumento5 páginasEnsino de Química com enfoque CTSWeber JuniorAinda não há avaliações
- 01 Revestimentos Classificação-Materiais PropriedadesDocumento40 páginas01 Revestimentos Classificação-Materiais PropriedadesMonique Guerreiro BastosAinda não há avaliações
- A06 Gabarito Estudo-Cor PDFDocumento6 páginasA06 Gabarito Estudo-Cor PDFMonique Guerreiro BastosAinda não há avaliações
- A01 PROJ INT DG Sustentabilidade EcodesignDocumento36 páginasA01 PROJ INT DG Sustentabilidade EcodesignMonique Guerreiro BastosAinda não há avaliações
- A03 INST-PRED Instalaçoes-Eletricas TelefoneDocumento14 páginasA03 INST-PRED Instalaçoes-Eletricas TelefoneMonique Guerreiro BastosAinda não há avaliações
- A01 PROJ COM Introducao ComercioDocumento21 páginasA01 PROJ COM Introducao ComercioMonique Guerreiro BastosAinda não há avaliações
- Aula Sobre EscalasDocumento27 páginasAula Sobre EscalasMonique Guerreiro BastosAinda não há avaliações
- Livro - Arquitetura Vivenciada, RasmussenDocumento14 páginasLivro - Arquitetura Vivenciada, Rasmussenmallu24Ainda não há avaliações
- A01 INST PRED Introduçao SistemasDocumento14 páginasA01 INST PRED Introduçao SistemasMonique Guerreiro BastosAinda não há avaliações
- Dissertação-UEM-UEL: Ananias de Assis Godoy Filho: Contribuições para o Ensino Do Projeto Arquitetônico-Por Um Novo ParadigmaDocumento235 páginasDissertação-UEM-UEL: Ananias de Assis Godoy Filho: Contribuições para o Ensino Do Projeto Arquitetônico-Por Um Novo ParadigmaMonique Guerreiro BastosAinda não há avaliações
- Ambientes Residenciais Conceitos Gerais HistoricoDocumento18 páginasAmbientes Residenciais Conceitos Gerais HistoricoMonique Guerreiro BastosAinda não há avaliações
- Classificação e Áreas de AvaliaçãoDocumento2 páginasClassificação e Áreas de AvaliaçãoMonique Guerreiro BastosAinda não há avaliações
- Técnica e Desenvolvimento: Perspectivas Analíticas A Partir de Álvaro Vieira Pinto e Martin HeideggerDocumento29 páginasTécnica e Desenvolvimento: Perspectivas Analíticas A Partir de Álvaro Vieira Pinto e Martin HeideggerMonique Guerreiro BastosAinda não há avaliações
- Educação Técnica e Educação Tecnológica Múltiplos Significados No Contexto Da Educação ProfissionalDocumento18 páginasEducação Técnica e Educação Tecnológica Múltiplos Significados No Contexto Da Educação ProfissionalMonique Guerreiro BastosAinda não há avaliações
- O Que É História Da CiênciaDocumento24 páginasO Que É História Da CiênciaMonique Guerreiro BastosAinda não há avaliações
- Aula Ambientes Sociais - Projeto de Interiores ResidenciaisDocumento28 páginasAula Ambientes Sociais - Projeto de Interiores ResidenciaisMonique Guerreiro BastosAinda não há avaliações
- Elementos Do Design - Ambientes ComerciaisDocumento29 páginasElementos Do Design - Ambientes ComerciaisMonique Guerreiro BastosAinda não há avaliações
- Amb Com Conceitos Gerais HistoricoDocumento31 páginasAmb Com Conceitos Gerais HistoricoMonique Guerreiro BastosAinda não há avaliações
- Como Se Tornar Um Associado PMI PMIAMDocumento7 páginasComo Se Tornar Um Associado PMI PMIAMwaterloofAinda não há avaliações
- Amb Com Conceitos Gerais HistoricoDocumento31 páginasAmb Com Conceitos Gerais HistoricoMonique Guerreiro BastosAinda não há avaliações
- Aula 10-10Documento12 páginasAula 10-10Monique Guerreiro BastosAinda não há avaliações
- 14 Ergonomia Conforto Ambiental PalestraDocumento54 páginas14 Ergonomia Conforto Ambiental PalestramarcosastAinda não há avaliações
- Desenho Técnico - Norma ABNTDocumento8 páginasDesenho Técnico - Norma ABNTMarlúcio JúniorAinda não há avaliações
- Viva Melhor - MeditaçãoDocumento15 páginasViva Melhor - MeditaçãoMonique Guerreiro BastosAinda não há avaliações
- Resumo O CaibalionDocumento3 páginasResumo O CaibalionFioravante Castilho100% (1)
- A existência de Deus provada pela razão e experiência humanaDocumento10 páginasA existência de Deus provada pela razão e experiência humanaAngelo RaimundoAinda não há avaliações
- Desrazão e criação na experiência da loucuraDocumento13 páginasDesrazão e criação na experiência da loucuraEterno RetornoAinda não há avaliações
- Observação em Psicologia Clínica: Uma importante técnica de coleta de dadosDocumento10 páginasObservação em Psicologia Clínica: Uma importante técnica de coleta de dadosLusineideAinda não há avaliações
- ESDE - Lei Divina Ou NaturalDocumento9 páginasESDE - Lei Divina Ou NaturalNeima Quele Almeida da Silva100% (1)
- Educar Com o Coração!Documento1 páginaEducar Com o Coração!Armando RibeiroAinda não há avaliações
- René Descartes - Biografia e IntroduçãoDocumento3 páginasRené Descartes - Biografia e IntroduçãoFelipeAinda não há avaliações
- Pre Socraticos EscolaDocumento5 páginasPre Socraticos EscolaMarcus Vinicios Pantoja da SilvaAinda não há avaliações
- Modelos de fichamentoDocumento14 páginasModelos de fichamentoLívia A. NevesAinda não há avaliações
- Resumo 10 ºDocumento13 páginasResumo 10 ºJoão Marques FernandesAinda não há avaliações
- Artigo Científico Escolhas Publicas Sem AutoriaDocumento19 páginasArtigo Científico Escolhas Publicas Sem AutoriaNicole RovarisAinda não há avaliações
- A semiótica visual entre princípios gerais e especificidades: a partir do Groupe μDocumento12 páginasA semiótica visual entre princípios gerais e especificidades: a partir do Groupe μSimone Rocha da ConceiçãoAinda não há avaliações
- Agradecimento A Rafael Augustaitiz - Pixa Tudo Rapá! - Gustavo Coelho - AI5Documento16 páginasAgradecimento A Rafael Augustaitiz - Pixa Tudo Rapá! - Gustavo Coelho - AI5arteinstitucional100% (2)
- Capitalismo e EscravidãoDocumento9 páginasCapitalismo e EscravidãoJefferson SankofaAinda não há avaliações
- O PODER TRANSFORMADOR DO EVANGELHODocumento9 páginasO PODER TRANSFORMADOR DO EVANGELHOElydiane CardosoAinda não há avaliações
- Análise Institucional e Seso PDFDocumento66 páginasAnálise Institucional e Seso PDFgeusisocial6992Ainda não há avaliações
- Da Arte À Terapia Implicações Terapêuticas Da Dança À Luz Da Psicologia CorporalDocumento19 páginasDa Arte À Terapia Implicações Terapêuticas Da Dança À Luz Da Psicologia CorporalCalila CarlaAinda não há avaliações
- Fundamentos Filosóficos Do Cognitivismo EPUDocumento175 páginasFundamentos Filosóficos Do Cognitivismo EPURhael PereiraAinda não há avaliações
- VideodançaDocumento15 páginasVideodançaJúliaAinda não há avaliações
- Cassini (2009)Documento436 páginasCassini (2009)Leandro Antonelli0% (1)
- Resenha - A Gênese Da DoutrinaDocumento4 páginasResenha - A Gênese Da DoutrinaRômulo RodriguesAinda não há avaliações
- Monografia Morte e MorrerDocumento20 páginasMonografia Morte e Morrerchico1977Ainda não há avaliações
- ESCOBAR, Carlos Henrique. Quem Tem Medo de AlthusserDocumento12 páginasESCOBAR, Carlos Henrique. Quem Tem Medo de AlthusserLucasReginatoAinda não há avaliações