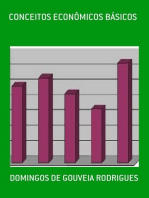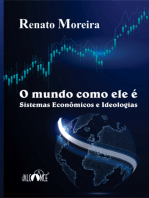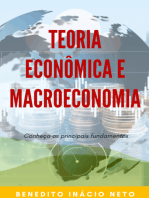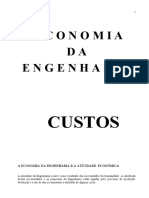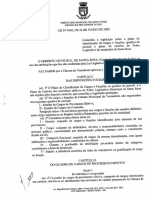Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila - Elementos de Analise de Viabilidade Economica e Financeira-Vol-I PDF
Enviado por
Marcelo DiedrichTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apostila - Elementos de Analise de Viabilidade Economica e Financeira-Vol-I PDF
Enviado por
Marcelo DiedrichDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade
Econmica Financeira
Parte I
A NATUREZA DO PROBLEMA ECONMICO.
m.s. Leonam Bueno Pereira
2011
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
INTRODUO
Parte I.
A NATUREZA DO PROBLEMA ECONMICO.
1. OS FATORES DE PRODUO
Os fatores de produo so aqueles elementos indispensveis ao processo de
produo. So os elementos mobilizados, ou ainda, dito de outra forma, empregados, no
processo produtivo sem os quais no haveria a produo de bens e servios para
satisfazerem as necessidades humanas.
Para a maioria dos autores, os fatores de produo so classificados em: Terra,
Trabalho e Capital.
a)
Terra: compreende a natureza, o solo, o subsolo e os recursos naturais.
A Terra considerada a fonte originria, de grande importncia porque
ela que supre o homem de bens e servios necessrios para a sua
sobrevivncia. (P.ex: as matrias-primas). A condio de terra tornar-se
um fator de produo na situao de uma economia de mercado reside
no fato de a terra ter-se tornado propriedade privada e, assim, tornadose tambm uma mercadoria.
Existem ainda consideraes a serem feitas quanto ao Meio Geogrfico,
como uma gama de possibilidades que esse meio oferece ao ser
humano e que so mais ou menos limitadas. Por exemplo, a localizao,
o acesso, a fertilidade etc., so elementos que permitem ou facilitam a
instalao de um empreendimento econmico.
b)
Trabalho: compreende a capacidade de realizar trabalho de uma
pessoa. Compreende tambm a capacidade de realizar trabalho contida
em determinada populao existente em um pas. Dentre os elementos a
destacar cabem:
i)
A Densidade, isto , a quantidade relativa dessa populao em um
meio geogrfico, em um espao. Essa varivel apresentada como
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
um clculo em que seu resultado o nmero de habitantes por
Km2.
ii)
O Volume: entendido como a quantidade de pessoas existentes em
uma dada regio ou pas;
iii)
A Idade: elemento fundamental para a compreenso da capacidade
de realizar trabalho de uma populao, uma vez que implica
identificar, dentro da populao, a sua distribuio por idade,
identificando assim a Populao em Idade Ativa PIA, aquela que
esta
em
condies
de
realizar
trabalho
e,
Populao
Economicamente Ativa PEA, aquela populao que alm de estar
em idade ativa, j realiza trabalho e recebe rendimentos por isso.
iv)
O Movimento: ou seja, seu crescimento vegetativo que leva em
considerao o saldo dos nascimentos e da mortalidade e, a
migrao, segundo a qual e muitas vezes essa uma situao de
fato na maioria dos paises, a populao se movimenta de uma
regio (at mesmo de paises) para outra a procura de emprego.
Desse raciocnio pode-se perceber que existe uma profunda relao entre
a capacidade de realizar trabalho de uma populao com as condies de
sua sade e educao. Em determinadas circunstncias, esses fatores
(sade e educao) podem comprometer a capacidade de resposta de
uma sociedade para o desenvolvimento.
Uma outra relao tambm existente com a populao est relacionada
com a dimenso do mercado em uma determinada regio ou pas. Isto
porque, so as pessoas, em ltima instncia, que constituem o mercado de
consumo de uma sociedade. Embora essa dimenso seja relativizada, ou
ainda ponderada, pela distribuio de renda existente.
c)
Capital: constituem nos fatores que auxiliam o trabalho humano para
retirar da natureza os bens e servios de que necessita. Podemos dividir
o fator de produo Capital em trs categorias, a saber:
i)
Capital Fsico (ou fixo): consiste nos bens de capital, aqueles que
so empregados no processo produtivo, direta ou indiretamente na
gerao de outros bens. Por exemplo: mquinas e equipamentos.
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
ii)
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
Capital Financeiro: aquele capital necessrio para a aquisio
do capital fsico ou fixo e tambm do capital de giro de um negcio,
que permite a aquisio de matrias primas, contratar trabalhadores
e adquirir outros insumos necessrios produo. Pode ser obtido
a partir de diferentes fontes de financiamento.
Geralmente as mquinas e equipamentos se desgastam no
processo produtivo e, portanto, necessrio repor. O sistema
econmico tem uma capacidade de produzir para alm do que
necessrio para repor o que foi desgastado. Esse excedente
acumulado de alguma forma e pode voltar ao sistema na forma de
capital financeiro, financiando o processo em um novo ciclo de
produo. Pode ser prprio ou de terceiros.
iii)
Tecnologia ou Tcnica: a tcnica filha do progresso cientfico.
Uns dos principais objetivos da aplicao da tcnica no processo
produtivo o aumento da produtividade ou do rendimento do
trabalho. Essa medida de poupar esforos mira no somente o
aumento da produo, mas tambm a reduo dos custos de
produo. Alm disso, a tcnica tambm exerce o papel de criar
outros e novos bens e servios teis e tambm de melhorar a
qualidade dos bens e servios j existentes.
Alguns autores consideram um quarto fator de produo como sendo a
capacidade empresarial (ou empreendedorismo), algo relacionado com o empresrio e
sua capacidade reunir os recursos necessrios para produzir, as funes que exerce no
processo de produo e os riscos que est submetido nesse processo.
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
2. OS FLUXOS FUNDAMENTAIS
O sistema econmico pode ser definido como uma reunio dos diversos elementos
participantes da produo e do consumo de bens e servios que satisfazem s
necessidades da sociedade, organizados no apenas do ponto de vista econmico, mas
tambm social, jurdico, poltico e institucional.
No sistema econmico encontramos uma grande quantidade de empresas cada
qual organizando os recursos de produo para produzirem determinados produtos ou
servios.
Nesse sentido, podemos imaginar que a atividade do sistema se resuma na
existncia de duas entidades bsicas 1: as empresas e as famlias.
As empresas representam os setores organizados da produo social que para o
nosso exemplo produzem os bens e servios de que a sociedade necessita e para isso
precisam contratar os recursos de produo necessrios para essa produo.
As famlias representam um conjunto de pessoas que necessitam e se utilizam
dos bens e servios produzidos pelas empresas e que so proprietrias dos recursos de
produo de que fazem uso as empresas.
Assim, a atividade econmica se resume a um fluxo de recursos de mo dupla, de
diferente natureza, entre esses dois componentes bsicos.
Ento temos de um lado um Fluxo de Produtos ou Real (produtos e servios que
so colocados disposio das famlias) e, de outro, um Fluxo Monetrio ou Financeiro
(a remunerao que as famlias recebem pela propriedade dos fatores de produo).
O Fluxo de Produto ou Real o lado da Oferta da economia, ou seja, aquilo que
tiver sido produzido e estiver disposio dos consumidores.
No estamos considerando a existncia de outras entidades como o Governo e o Setor Externo (outras economias
nacionais) para simplificar a demonstrao.
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
O Fluxo Monetrio ou Financeiro, formado pelo total da remunerao dos fatores
produtivos (salrio da mo de obra, juros, aluguel, lucro) representa a demanda ou a
procura da economia.
A oferta e a procura so duas funes mais importantes de um sistema
econmico. Essas duas funes formam o mercado em que as pessoas que querem
vender se encontram com as pessoas que querem comprar. Formam tambm a Lei mais
bsica da atividade econmica: a Lei da Oferta e Demanda.
Esquema estilizado do fluxo da economia:
Receitas
dos
Negcios
Custo de
vida das
Famlias
Dinheiro
Bens e Servios
Empresas
Custos
de
Produo
Famlias
Fatores de Produo
Fatores de
produo :
Terra,
Trabalho e
Capital
Renda
das
Famlias
Dinheiro
= Fluxo Real
= Fluxo Financeiro (monetrio)
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
O funcionamento de uma economia de mercado est baseada em um conjunto de
regras. O fato que as empresas ao produzirem seus produtos remuneram os fatores de
produo por elas empregados: pagam salrios aos seus funcionrios, aluguis pelas
instalaes que ocupam juros pelos financiamentos obtidos, distribuem lucros aos
proprietrios. O pagamento ou remunerao garantem aos seus proprietrios, seja ele
trabalhador ou capitalista, banqueiro etc., adquirir os bens e os servios de que
necessitam.
3. AS QUESTES CENTRAIS DA ECONOMIA
Para que o sistema econmico funcione e diante a impossibilidade do atendimento
pleno ou total de todas as necessidades humanas, principalmente em virtude da escassez
de recursos, qualquer sistema econmico deve responder a trs questes bsicas:
a)
O que produzir?
b)
Como Produzir?
c)
Como distribuir?
A experincia nos mostra que temos trs tipos de sociedade que respondem cada
qual a sua maneira as essas trs questes levantadas acima.
As sociedades que nos referimos podem assim diferenciadas:
a)
Economia de Mercado propriamente dita onde predomina o livre jogo
das foras de produo e onde todas as decises so tomadas em funo do sistema de
preos;
b)
Economia planificada onde predomina a atuao do Estado na tomada
de decises quanto s questes acima levantadas.
c)
Economia mista em que existe a presena do Estado decidindo
algumas questes relacionadas produo de bens e servios e tambm existe o
mercado que decide mediante o sistema de preos.
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
ORGANIZAO SOCIAL
Indivduos e famlias atravs de suas
rendas sinalizam pelo sistema de
preos a sua disposio a pagar por
bens e servios (mercado)
ECONOMIA
PLANIFICADA
O Estado atravs do
planejamento verifica as
necessidades e determina a
alocao dos recursos
Empresrios, atravs do Estado atravs de normas
mercado e atravs das
legais, tributao, crdito
orientaes do Estado
e financiamento e o seu
prprio consumo
Pela competio entre os produtores e
dada a estrutura de preos e custos,
os produtores maximizam os lucros e
minimizam os custos
O Estado atravs da tcnica e
da pesquisa disponvel no
momento orientam a tomada
de deciso
Empresrios, atravs do O Estado atravs da
mercado e atravs das
pesquisa cientfica oficial
orientaes do Estado
e a produo de
Empresas Estatais (p.ex.)
A cada qual segundo a sua renda. A
estrutura de Preos e a Renda
determinam a quem e o qu e quanto
ser distribudo
O Estado ao determinar a
estrutura de distribuio de
Renda possibilita distribuir
mais coerente com a estrutura
existente. (A cada qual
segundo sua necessidade)
Pelo Sistema de Preos. Embora caibam ao Estado
funes de promover o consumo de bens e servios
populao de baixa renda (p.ex.: renda mnima), e
ainda legislando ou prestando ele prprio os
servios. (p.ex. sade e educao)
P
R
O
B
L
E
M
A
S
COMO
COMO
O QUE
DISTRIBUIR ? PRODUZIR ? PRODUZIR ?
ECONOMIA DE MERCADO
ECONOMIA MISTA
Como os fatores produtivos so escassos e as necessidades humanas ilimitadas,
os agentes econmicos precisam decidir onde aplicar preferencialmente os recursos
disponveis. Por exemplo, a sociedade pode escolher entre produzir mais canhes e
menos alimentos, ou mais escolas e menos estradas. No dia a dia, os consumidores
fazem escolhas desse tipo no supermercado.
E os consumidores fazem essas escolhas utilizando como referencial o sistema de
preos e a disponibilidade de sua renda.
O Governo seja ele federal, estadual ou municipal, quando envia ao poder
legislativo a pea oramentria anual, o oramento anual, tambm est realizando as
mesmas escolhas. Isto , est indicando onde deseja gastar os recursos de que dispe.
No entanto, o governo ao formular a poltica econmica pode orientar e induzir o
sistema econmico a produzir mais de um ou de outro bem. Pode tambm, orientar
quanto ao abastecimento do mercado interno ou a prioridade para a produo de
exportao, ou seja, ao aumentar as exportaes dever existir uma reduo da oferta
interna. Essas escolhas referem-se s possibilidades de produo da economia.
2
SOUZA, Nali de Jesus de Curso de Economia So Paulo, Atlas, 2000. pg. 21.
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
4 - CURVA DE POSSIBILIDADE DE PRODUO E O CUSTO OPORTUNIDADE
A curva de possibilidade de produo revela o que uma economia capaz de
produzir, ou uma indstria, ou mesmo a capacidade do consumidor utilizar toda a sua
renda.
Reflete a produo mxima possvel de dois bens.
Para o seu entendimento alguns pressupostos devem estar colocados. Em
primeiro lugar o pressuposto bsico que existe Pleno Emprego, ou seja, no existe
capacidade ociosa ou, dito de outra forma, desemprego de fatores de produo. Isto
significa que todos os fatores de produo esto sendo utilizados, no existindo
trabalhadores desempregados, terras ociosas e capital no utilizado.
No grfico abaixo se tem a produo de roupas no eixo das ordenadas (eixo do Y)
e a produo de alimentos no eixo das abscissas (eixo do X).
a) A linha que vai de 8000 unidades do produto B (por exemplo, roupas) a
5000 unidades do produto A (por exemplo: alimentos), denomina-se Curva
de Possibilidade de Produo (linha azul cheia);
b) Em cada um dos pontos dessa linha existe uma possibilidade de
combinar a produo do produto B e do produto A;
c) O espao interno curva de possibilidade de produo um espao
onde existe capacidade ociosa;
d) A linha tracejada (em verde) mostra uma produo que s ser possvel
se houver um aumento da capacidade produtiva. Isto significa que dever
existir a incorporao de algum tipo de alterao na composio dos
fatores at ento utilizados.
As fontes principais para a incorporao do crescimento da produo so trs:
i)
Avano tecnolgico, incorporao de progresso tcnico;
ii)
Um aumento na quantidade de capital;
iii)
Um aumento na fora de trabalho.
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
Portanto, a CURVA DE POSSIBILIDADE DE PRODUO (CPP) representa as
opes abertas sociedade dentro de certos limites, pois a curva o limite ou fronteira
de produo ou pleno emprego de todos os fatores de produo (recursos naturais terra, capital e fora de trabalho)
Pode-se escolher um ponto na fronteira se a economia for bem administrada e for
mantido um nvel de alto de emprego. Se for mal administrada e houver uma recesso,
pode-se acabar em um ponto dentro da curva, isto , no espao interno (abaixo da curva)
onde haver desemprego de fatores, portanto haver capacidade ociosa.
Em resumo, a curva de possibilidade de produo ilustra trs importantes
conceitos: escassez, escolha e custo de oportunidade.
a) A escassez mostrada pelo fato de que combinaes fora da curva no
podem ser atingidas, a no ser que se alterem os pressupostos que esto
dados (principalmente a quantidade dos fatores de produo);
b) Decorrncia do anterior, como no se pode atingir o ponto fora da curva,
deve-se fazer a escolha por uma das combinaes possveis delimitadas
ao longo da curva de possibilidade de produo.
c) O custo de oportunidade ilustrado pela inclinao da curva de
possibilidade de produo Quando se coloca os recursos disponveis para
produzir mais de um bem, produz-se menos do outro.
4.1 - CUSTO DE OPORTUNIDADE
Situaes mais razoveis so aquelas em que produzimos um pouco de ambos os
bens. No ponto (0;8000), nada se produz, com exceo de roupas. Para comear a
produzir alimentos, plantaramos algodo naqueles solos mais adequados para o cultivo
de algodo e os demais recursos, trabalho e capitais, seriam direcionados para a
produo de alimentos.
Neste solo que se cultivaria algodo haveria um sacrifcio do cultivo de alimentos.
Esta escolha est representada pelo ponto (1000;7500), onde unidades de roupas so
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
sacrificadas para obtermos unidades de alimentos. Para obtermos mais unidades de
alimentos precisaramos sacrificar mais unidades de roupas, assim sucessivamente at
chegarmos a uma situao onde no haveria nenhuma produo de roupas e somente a
produo de alimentos. Esta uma situao limite, representada pelo ponto (0;5000).
Ento o custo de oportunidade da produo de um produto a alternativa que tem
de ser sacrificada a fim de obter este produto. (No nosso exemplo, o custo oportunidade
de se produzir alimentos o sacrifcio de unidades de roupas, no caso, os valores 500;
1000; 1500; 2000; 3000.)
Em resumo o CUSTO OPORTUNIDADE um custo implcito, que no envolve
desembolso. Para o setor privado so os valores dos insumos que pertencem empresa
e so usados no processo produtivo. Esses valores so estimados a partir do que poderia
ser ganho, no melhor uso alternativo (por isso tambm so chamados de custos
alternativos). Diferem dos custos contbeis que envolvem dispndios monetrios e so
custos explcitos.
Exemplos:
a) capital em caixa na empresa: o custo oportunidade o que a empresa poderia
estar ganhando, aplicando, por exemplo, no mercado financeiro;
b) quando a empresa tem prdio prprio, ela deve imputar um custo de
oportunidade, correspondente ao que ela receberia se alugasse o prdio.
10
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
A CURVA DE POSSIBILIDADE DE PRODUO E O CUSTO DE OPORTUNIDADE
(O Papel do Progresso Tcnico)
a
expresso do
que
sacrificado
de um bem
para a
produo de
outro
Quando existe
Capacidade Ociosa
A
(alimentos)
Hiptese:
B
(roupas)
Custo de Oportunidade
8000
1000
7500
500
2000
6500
1000
3000
5000
1500
4000
3000
2000
5000
3000
(tambm pode ser
entendida como o custo
de aplicao do capital
em determinado ramo
3000 em detrimento da
aplicao em outro. Um
valor de comparao
(p.ex.: TIR))
6000
1. Existe Pleno Emprego, ou seja, no existe capacidade ociosa.
Existe eficincia quando se caminha na linha BA, porque a reduo de um bem implicar no
aumento do outro. (linha azul)
11
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
Outros exemplos de clculo de custo de oportunidade:
Exemplo 1: Uma companhia A possui instalaes avaliada em R$100 milhes. Seu lucro
lquido aps os impostos foi de R$ 12 milhes - tal como determinado pelas tcnicas
contbeis. Presumindo que a taxa normal de retorno sobre o capital de firmas
equivalentes de 8%, o lucro normal da companhia em considerao de R$ 8 milhes.
O lucro econmico da companhia A foi, portanto, de R$ 4 milhes (R$ 12 milhes - R$ 8
milhes). Esses R$ 4 milhes representam a parcela do retorno total dos proprietrios
(acionistas) acima do que pode ser obtido em negcios similares.
Exemplo 2: Uma companhia X fez um investimento de R$ 50 milhes em instalaes
para produzir mquinas de fotocpias de alta velocidade. Com base nas tcnicas
convencionais de contabilidade, seus ganhos aps a deduo de impostos foram de R$ 5
milhes ou 10 % do investimento realizado. Contudo, uma avaliao das alternativas
disponveis indicou que ela poderia obter ganhos de R$ 6 milhes aps os impostos se
dedicasse suas energias produo de processadores de texto e no de mquinas de
fotocpias. Portanto, muito embora a companhia X obtivesse uma taxa de retorno de 10
% sobre o seu investimento, ela perdeu uma oportunidade de ganhar 12 % sobre o seu
capital, resultando, portanto, num custo oportunidade de 2 %.
Para entendermos de outra forma o conceito do custo oportunidade, podemos
aborda-lo pelo lado do lucro.
O lucro tipicamente definido como a diferena entre a receita e os custos
totais.
Essa definio de lucro, embora amplamente aceita e aparentemente intuitiva, ,
no entanto, ambgua. Para o contador, o lucro geralmente significa a receita total menos o
custo incorrido; logo o lucro contbil um conceito "ex-post", isto , baseado nas
transaes passadas e nos fatos histricos.
Para o economista o lucro, tambm significa a receita total menos todos os custos,
mas no s as despesas efetivas incorridas pela firma, mas tambm uma previso para
um retorno normal sobre o capital do proprietrio. Essas diversas abordagens de como se
12
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
constitui o custo e o lucro e de como ele deve ser medido do origem aos conceitos de
lucro contbil, lucro normal e lucro econmico.
O elemento mais significativo da divergncia entre os conceitos de lucro contbil e
lucro econmico relaciona-se com o tratamento dado ao investimento de capital dos
acionistas na empresa.
Os economistas afirmam que, em uma economia de mercado, os proprietrios de
uma empresa precisam, mesmo a longo prazo, receber um retorno sobre o seu
investimento de magnitude suficiente para induzir a empresa a continuar operando.
Sempre que a lucratividade da empresa estiver persistentemente abaixo do que
pode ser obtido por outras empresas que operam em setores similares quanto ao nvel de
risco, os acionistas tentaro obter um retorno maior para seus fundos de investimentos.
Como os recursos e o capital tendem a ser retirados de uma empresa se e quando
ela realiza lucros contbeis menores do que os nveis minimamente aceitveis por longos
perodos apropriado definir essa lucratividade mnima como um custo.
Ela um custo no sentido de que, a menos que as receitas da firma sejam
suficientes para proporcionar aos acionistas um retorno aceitvel, os fundos de
investimento necessrios para manter as operaes da firma acabaro e ela encolher e
deixar de existir. Em outras palavras, a longo prazo, um volume mnimo de lucro um
condio necessria para a sobrevivncia da firma.
4.2 - CUSTO DE OPORTUNIDADE, A TAXA MNIMA DE ATRATIVIDADE (TMA) E O
RISCO.
Dado ento, que existe uma curva de possibilidade de produo onde a empresa
ou o empresrio pode exercer a sua opo de decidir entre investir em diferentes projetos
(no nosso caso, entre roupas e alimentos), deve existir uma taxa de atratividade, uma
taxa de referncia mnima que possibilite situar essa deciso no cenrio de comparao
de valores e de tempo.
13
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
Na anlise de projetos existe a necessidade de se estabelecer parmetros
mnimos de comparabilidade. Nesse sentido, a Taxa Mnima de Atratividade (TMA)
representa uma taxa de juros que identifica o mnimo que um investidor est disposto a
ganhar quando faz uma aplicao (um investimento), ou ainda, a taxa de juros mxima
que um tomador de financiamento (tomador de crdito) estar disposto a pagar quando
faz um financiamento.
No h nesse clculo uma frmula que a identifique plenamente, no entanto, a
taxa mnima de atratividade formada pela conjuno de trs fatores presentes no
clculo econmico financeiro, ou seja: o custo de oportunidade, o risco do negcio e sua
liquidez.
Ela, a TMA, composta pelo custo de oportunidade, representando se ponto de
partida e as alternativas que esto embutidas na anlise de viabilidade de escolhas de
diferentes projetos, assim como tambm composta por um risco do negcio, uma
espcie de proteo contra a incerteza que caracteriza toda tomada de ao nova. Dessa
forma, o risco como componente da TMA assume uma remunerao, um prmio pela
adoo daquela ao. Por fim, a liquidez representa a facilidade, a velocidade com que
podemos alterar nossa posio no mercado e tomar outra posio como mais vantajosa.
Por exemplo, o rendimento das cadernetas de poupana no Brasil considerado,
em muitas circunstncias, como um parmetro mnimo de taxa de atratividade tendo em
vista seu baixo risco. Para pessoas fsicas, por exemplo, esse recurso de comparao
muito recorrente. Para pessoas jurdicas, ou para investidores mais aquinhoados, essa
determinao de uma taxa mnima mais complexa e exige maior conhecimento do
mercado para encontra-la.
Como aponta KASSAI et ali (2000:pg. 59), esse mnimo necessrio deve, alm
de remunerar satisfatoriamente os investidores, garantir a continuidade das empresas.
Uma empresa de produtos com ciclos de vida muito curtos, por exemplo, necessita de
taxas de retorno maiores, de prazos de recuperao menores etc.
14
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
5. - ESTRUTURAS DE MERCADO E ASPECTOS DA OFERTA E DEMANDA.
5.1 Estruturas de Mercado, Conceitos e Tipologias.
Em geral a atividade econmica ocorre em locus, ou lugar em que as pessoas
denominam mercado. No necessariamente deve ou pode ser um espao fsico,
geogrfico, mas deve corresponder a um mbito de relaes que venham a se
materializar, em ltima instncia, no confronto entre compradores e vendedores.
Nesse sentido, o conceito de mercado, sua tipologia objeto de estudo da cincia
econmica. Existem vrios conceitos de mercado, de acordo com os pesquisadores e
seus pontos de vista, no entanto, o que o caracteriza so essas relaes de procura ou
demanda e de oferta.
Assim, o mercado se define pela existncia da oferta e da procura por bens e
servios, sejam eles de qualquer natureza. Quando ambas se encontram definem um
mercado, seja de trabalho (oferta e procura por trabalhadores para a indstria por
exemplo), seja de crdito (oferta e demanda por recursos financeiros disponibilizados
pelos bancos e agncias financiadoras), enfim quando os recursos humanos , financeiros
e de capital so ofertados e procurados pode-se dizer que h um mercado de recursos,
ou mercado de trabalho, mercado financeiro, mercado de divisas, mercado de capitais,
mercado de produtos, etc.
H ainda outras qualificaes relacionadas a mercados. Quando se diz que um
mercado est em expanso, porque nele esto correndo simultaneamente
deslocamentos para mais na procura e na oferta. Se um mercado est em contrao,
perdendo expresso econmica, porque a procura e a oferta esto se contraindo.
H mercados definidos ainda pelo ciclo de vida do produto e que est
relacionado com a expanso ou retrao de seus mercados e com o avano tecnolgico
em seus setores. As fases iniciais de lanamento de um produto no mercado, quando
este bem sucedido, caracterizam-se pela expanso, depois, vem a fase de estabilizao
e por fim maturidade e declnio.
A Figura 1 abaixo ilustra o ciclo de vida do produto ou servio.
15
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
FIGURA 1
CICLO DE VIDA DO PRODUTO / SERVIO
Quantidade
Maturidade
Crescimento
Declnio
Introduo
Tempo
Estgio
Introduo
Crescimento
Maturidade
Declnio
Investimentos
Vendas
Preos
Retorno
altos
baixas (fracas)
altos
negativo
moderados
crescentes
altos
crescente
baixos
altas
menores
(baixam)
elevado
baixo ou
nenhum
queda
baixos (no
cobrem custos)
mnimo
Fonte: ASSEF,1997
16
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
Em geral, o preo e a quantidade de produtos que so comercializados nos
mercados so resultados da ao e da interao da oferta e da demanda. No entanto,
caractersticas distintivas dos mercados de produtos e servios, como por exemplo: o
prprio
produto,
as
condies
tecnolgicas,
acesso,
informaes,
tributao,
regulamentao, participantes, localizao etc., acabam tornando-o especfico e nico.
Apesar dessas caractersticas, podemos identificar algumas caractersticas comuns que
permitem classificar as diferentes estruturas de mercado. Por exemplo:
a) o nmero dos agentes envolvidos;
b) As formas de comportamento desses agentes;
c) A natureza dos fatores de produo empregados no produto
d) e da prpria natureza do produto.
Assim, resumindo uma tipologia das estruturas de mercado podemos apontar
quatro estruturas bsicas, ou seja, estruturas onde predominam a concorrncia perfeita;
estruturas onde predominam o monoplio; estruturas onde predominam os oligoplios e
estruturas onde encontramos a concorrncia monopolstica.
Outros elementos diferenciadores sero incorporados na classificao alm do
nmero dos agentes, tais como: controle dos preos, concorrncia extra-preo, barreiras
de entrada de novos concorrentes, caractersticas dos produtos transacionados.
A Figura 2 abaixo ilustra as caractersticas de cada uma das quatro estruturas de
referncia:
17
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
FIGURA 2
CARACTERSTICAS DOS TIPOS DE MERCADOS
Descritores
MONOPLIO
OLIGOPLIO
CONCORRENCIAL
Uma
Poucas
Muitas
Negcios
Estatais / Controlados
Capital Intensivo
Comrcio/Indstria/Servi
os
Preos
Fixados Politicamente
Cartelizados
(definidos pelas
empresas a partir
do Mark-up) 3
Mercado
Novas Empresas
Existem Barreiras
Existem Barreiras
No Existem Barreiras
Ampla/Global
Ampla/Global
Local/Regional
N. de Empresas
Atuao
Produto/Servio
Exemplos
Diferenciado,
sem Diferenciados por
com
substitutos prximos. marca ou quali- Homogneos,
4
dade.
Tambm substitutos prximos
podem ser Homogneos
Refino de Petrleo
Transporte Pblico
Telefonia fixa
Eletricidade
Xerox (antigo)
Lmina
Barbear
(antigas)
Cimento
Comrcio Varejista em
Cia. Areas
geral (p.ex. vesturio)
Grandes
Redes Bares e Restaurantes
Hotis
(Fast food)
Montadoras Ve- Servios de Manuteno
culos
e Reparo
Bebidas
Mark-up = Receita de Vendas - Custos Diretos. As empresas oligopolsticas buscam maximizar o markup, definido como uma margem sobre os custos diretos. Podendo dessa forma, concorrerem via preos.
4
Para o caso dos servios de turismo, p.ex., (hotelaria), o mercado se caracteriza pela concorrncia
monopolstica, onde o principal elemento a diferenciao do produto, mantendo o livre acesso de
empresas e com inmeras empresas atuando.
18
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
Explicitando as diferentes tipologias de estruturas de mercado:
CONCORRNCIA PERFEITA
Quando se refere concorrncia perfeita trs elementos so necessrios: a) um
grande nmero de participantes. Um mercado competitivo quando h tantas firmas que
nenhuma firma individual pode afetar os preos que so praticados nesse mercado, tanto
para pagamento dos fatores de produo como os recebidos pelos produtos gerados.
Exemplos disso so os estabelecimentos agrcolas, as pequenas empresas industriais e
comerciais. b) fcil ingresso e sada do mercado e c) os produtos das firmas competitivas
no so diferenciados, isto so homogneos.
Consequentemente, a concorrncia entre as empresas se faz unicamente via
preos. No h outra forma de atrair compradores para determinado produto que no seja
atravs do preo. Os participantes desses mercados so chamados de tomadores de
preos.
MONOPLIO
Esse mercado se caracteriza pelas condies opostas s da concorrncia. Neste
existe um nico vendedor para muitos compradores, dominando inteiramente a oferta.
Nesta estrutura de mercado, a curva de demanda da empresa a prpria curva de
demanda do mercado como um todo. Ao ser exclusivo no mercado, a empresa no estar
sujeita aos preos vigentes. Mas isso no significa que poder aumentar os preos
infinitamente. Posto que a partir de determinado ponto sua receita decresce.
OLIGOPLIOS
A maioria das grandes empresas opera numa estrutura de mercado de oligoplio.
Nessa situao, alguns poucos vendedores dividem o grosso do mercado. Ao agirem de
forma independente, torna-se possvel determinar a curva de demanda. Neste caso a
posio da curva ir depender do que faro seus concorrentes.
Por exemplo, se uma empresa oligopolista baixar seus preos objetivando ampliar
sua fatia no mercado provocaria idntica poltica em suas rivais o que neutralizaria suas
19
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
intenes. Vale dizer, haveria um desencadeamento de uma guerra de preos, cujos
resultados seriam nefastos para todas as empresas.
CONCORRNCIA MONOPOLSTICA
A expresso concorrncia monopolstica foi cunhada por Chamnberlaein na
dcada de 30. Ela identifica um elevado nmero de situaes de mercado verificadas na
realidade prtica e situadas entre os extremos da concorrncia perfeita e do monoplio,
mas sem as caractersticas resultantes do pequeno nmero de empresas que marcam o
oligoplio.
Trata-se, assim, de uma estrutura de mercado em que h um grande nmero de
empresas concorrentes e em que as condies de ingresso so relativamente fceis;
todavia, cada uma das empresas concorrentes possui suas prprias patentes ou, ento,
capaz de diferenciar o seu produto de tal forma que passa a criar um segmento prprio de
mercado, que dominar e procurar manter.
O consumidor, todavia, encontrar outros substitutos, no ocorrendo, dessa forma,
a caracterizao essencial do monoplio puro. Determinada patente ou determinado
elemento de diferenciao pode significar uma espcie de monopolizao. Mas, havendo
outros concorrentes com bens ou servios similares e substitutos, haver tambm
concorrncia. Combinando-se, dessa forma, o elemento de monopolizao com as
possveis foras concorrenciais, define-se uma estrutura especial de mercado, conhecida
como concorrncia monopolstica.
Exemplos: lojas de roupas feitas, restaurantes, Suas principais caractersticas so:
a) um elevado nmero de empresas relativamente iguais; b) acentuada diferenciao dos
produtos; c) aprecivel, porm no muito ampla capacidade de controle dos preos; d)
relativa facilidade de ingresso de novas empresas no mercado, mas o ingresso bem mais
fcil do que nas estruturas de mercados oligopolsticas e mais difcil do que na
concorrncia perfeita.
20
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
PRINCIPAIS CARACTERSTICAS DAS QUATRO ESTRUTURAS DE MERCADO
CARACTERSTICAS
NMERO DE
CONCORRENTES
PRODUTO OU
FATOR
CONTROLE SOBRE
PREOS OU
REMUNERAES
CONCORRNCIA
EXTRAPREO
CONDIES DE
INGRESSO
INFORMAES
CONCORRNCIA
PERFEITA
MUITO GRANDE
/MERCADO
PERFEITAMENTE
ATOMIZADO
PADRONIZAD NO
H QUAISQUER
DIFERENAS
ENTRE OS
OFERTADOS
NO H
QUALQUER
POSSIBILIDADE
MONOPLIO
OLIGOPLIO
CONCORRNCIA
MONOPOLISTICA
APENAS UM
PREVALECE A
UNICIDADE
GERALMENTE
PEQUENO
GRANDE PREVALECE
A COMPETITIVIDADE
NO TEM
SUBSTITUTOS
SATISFATRIOS OU
PRXIMOS
PODE SER
PADRONIZADO OU
DIFERENCIADO
DIFERENCIADO A
DIFERENCIAO
FATOR-CHAVE
MUITO ALTO,
SOBRETUDO QUANDO
NO H
INTERVENES
CORRETIVAS.
DIFICULTADO PELA
INTERDEPNCIA
DAS
CONCORRENTES
RIVAIS. AMPLIA-SE
QUANDO
OCORREM
CONLUIOS
H POSSIBILIDADE
MAS SO LIMITADAS
PELA SUBSTITUIO.
DIFERENCIAO
POSSIBILITA PREOSPRMIO
VITAL SOBRETUDO
NOS CASOS DE
PRODUTOS
DIFERENCIADOS
DECORRENTE DA
DIFERENCIAO.
RESULTA DE FATORES
COMO MARCA,
IMAGEM,
LOCALIZAO E
SERVIOS
COMPLEMENTARES
NO POSSVEL
NEM EFICAZ
ADMISSVEL PARA
OBJETIVOS
INSTITUCIONAIS
NO H
QUAISQUER TIPOS
DE OBSTCULOS
IMPOSSVEL A
ENTRADA DE
CONCORRENTES
IMPLICA O
DESAPARECIMENTO
DO MONOPLIO
TOTAL
TRANSPARNCIA
OPACIDADE
H
CONSIDERVEIS
OBSTCULOS
GERALMENTE
DERIVADOS DE
ESCALAS E DE
TECNOLOGIAS DE
PRODUO
H VISIBILIDADE
EMBORA LIMITADA
PELA RIVALIDADE
SO RELATIVAMENTE
FCEIS
GERALMENTE AMPLAS
21
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
5.2. A Oferta e Demanda
A lei da oferta e da demanda descreve que a quantidade demandada, assim como
a quantidade ofertada, ambas variam em funo de vrios fatores, sendo o principal, o
preo das mercadorias. Esta Lei bsica para a estruturao do nosso conhecimento do
funcionamento de uma economia de mercado e tem, sob determinados aspectos, papel
principal na formulao e na implementao de projetos de investimentos. Isto por que
atravs da oferta e da demanda que conseguimos dimensionar o mercado do projeto
onde pretendemos atuar. E este um ponto fundamental: Dimensionar a demanda.
Dessa forma, a definio precisa da demanda pode ser assim explicitada: A
demanda de uma mercadoria ir variar em funo dos seguintes fatores: a) preos dos
bens e servios; b) renda do consumidor; c) gosto do consumidor; d) preos de bens
substitutos e, e) preo dos bens complementares.
Assim, a quantidade demandada de determinado bem ou servio varia na
razo inversa da variao dos preos. Sendo que, a quantidade ofertada varia na
razo direta da variao dos preos.
O Grfico abaixo resume o processo de interao entre a oferta e a demanda:
22
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
DADA A TABELA :
PREO
50
40
30
20
10
DEMANDA
6
12
18
24
30
OFERTA
30
24
18
12
6
Excesso de Oferta
Excesso de Demanda
O Grfico acima o desenho estilizado da interao entre a oferta e a demanda.
Nesse sentido, deve existir um preo de equilbrio em que a quantidade demandada se
iguala quantidade ofertada, de forma que esses valores podem ser identificados como
sendo o preo e a quantidade de equilbrio. No caso do exemplo apresentado, a
interseco das duas curvas (oferta e demanda) mostra o preo de equilbrio igual a 30 e
as quantidades ofertadas e demandadas de equilbrio igual a 18.
Evidentemente, essa situao idealizada e nem sempre se apresenta no
mercado dessa forma, mais comum encontrarmos situaes definidas conforme as
linhas tracejadas identificam os excessos, no caso da linha azul, na parte de cima do
grfico, identifica o excesso de oferta e a linha tracejada abaixo do grfico, na cor
vermelha, identifica o excesso de demanda.
23
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
Essa situao, equilbrio, uma situao ideal como j dissemos. No
necessariamente corresponde situao efetivamente encontrada nos mercados. Estes,
quando possvel se aproximam dessa situao com variaes. E encontrar essa
situao ou identifica-lo no mercado que consiste um estudo de mercado para saber
como se comporta a demanda do produto em estudo.
5.3. Determinao da Demanda (Modelos Econmicos)
Modelos econmicos so equaes matemticas que procuram representar, de
maneira simplificada, o comportamento dos agentes econmicos, isto , os consumidores,
as empresas e o governo.
Por exemplo, pelo lado da oferta os produtores de um determinado bem iro
produzi-lo mais medida que o preo do mesmo aumentar.
Os consumidores, por outro lado, vo aumentar o consumo do mesmo produto
medida que o preo se reduzir e/ou que sua renda aumentar. Neste caso, a equao
matemtica pode ser do tipo:
QD = -b1P + b2R
Onde:
QD a quantidade demandada;
P o preo do produto e
R representa a renda da populao analisada.
A quantificao das respostas dos agentes a essas variaes depende de
parmetros, escolhidos ou estimados, chamados de elasticidades do modelo.
No caso da equao acima as variaes dos agentes, ou seja, as elasticidades de
cada comportamento so calculadas a partir dos parmetros b1 e b2.
A partir da modelagem destes comportamentos podem ser realizadas simulaes
de mudana nas variveis exgenas (que geralmente a renda) e assim identificar o
impacto nas variveis endgenas (que podem ser os preos e as quantidades) do
modelo.
24
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
Os modelos so geralmente descritos para uma economia em equilbrio, ou seja,
com oferta igual demanda.
Exemplo:
Com base no texto acima, identifique:
a) Dada a Renda R = 1000 e os parmetros: elasticidade da demanda = -0,8 e
elasticidade da Renda = 1,2 considerando que o preo do produto varie de 10 para
20, qual a quantidade demandada ao preo de 20 ?
Soluo:
QD10 = -0,8 x 10 + 1,2 x 1000 // -8 + 1200 = 1192
QD20 = -0,8 x 20 + 1,2 x 1000 // -16 + 1200 = 1184
Ou seja, dada a variao no preo de 10 para 20, a quantidade demandada
tambm variou, s que em sentido contrario, reduzindo a quantidade demandada em 8
unidades do produto.
b) Ocorrendo uma variao na Renda R de 1000 para 1500 e ocorrendo uma
reduo nos preos de 20 para 15, qual ser a nova quantidade demandada?
Soluo:
QD15 = -0,8 x 15 + 1,2 x 1500 // -12 + 1800 = 1788
Ou seja, dada a variao no preo, com a reduo de 25% e com o aumenta na
renda do consumidor de 50%, a quantidade demandada aumentou em 51%.
c) Considerando os resultados encontrados nos exerccios acima, a que concluses
voc pode chegar sobre: (Complete o exerccio)
i.
O bem ou produto consumido;
ii.
O papel da renda no comportamento do consumidor frente a esse produto;
iii.
A caracterstica do bem ou produto consumido.
25
Apostila: Elementos de Analise de Viabilidade Econmica e Financeira
Prof. Ms. Leonam Bueno Pereira.
Referncias Bibliogrficas:
Bsica:
ASSAF, Alexandre Neto Estrutura e Anlise de Balanos: um enfoque econmico
financeiro. So Paulo, Atlas, 1987.
ASSEF, Roberto: Guia prtico de formao de preos: aspectos mercadolgicos,
tributrios e financeiros para pequenas e mdias empresas. Rio de Janeiro, Campus,
1997.
PASSOS, Carlos Roberto M. & NOGAMI, Otto Princpios de Economia. So Paulo:
Pioneira, 1998.
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Economia: micro e macro. So Paulo:
Atlas, 2001.I
MONTORO FILHO, Andr Franco. (et ali) Manual de Economia. Organizadores: Diva
Benevides Pinho, Marco Antonio Sandoval Vasconcelos. 3 ed. So Paulo: Saraiva,
1998.
Complementar:
ARAJO, Carlos Roberto Vieira Arajo. Histria do pensamento econmico. So Paulo,
Ed Atlas, 1988.
HEILBRONER, Robert A Histria do Pensamento Econmico So Paulo, Ed. Nova
Cultural 1996.
PINTO, Anbal e FREDES, Carlos Curso de Economia Entrelivros Cultural
Rio de Janeiro, 1978.
SOUZA, Nali de Jesus de Curso de Economia, So Paulo, Atlas, 2000.
26
Você também pode gostar
- Apostila de Analise de Viabilidade Economica e Financeira Vol IDocumento27 páginasApostila de Analise de Viabilidade Economica e Financeira Vol ILenakamuraAinda não há avaliações
- Princípios Econômicos Para AdministradoresNo EverandPrincípios Econômicos Para AdministradoresAinda não há avaliações
- Apostila Economia 1Documento17 páginasApostila Economia 1Alba Valeria AssisAinda não há avaliações
- Economia Tópicos (Resumo) PDFDocumento13 páginasEconomia Tópicos (Resumo) PDFmaxceusAinda não há avaliações
- Unidade 1Documento4 páginasUnidade 1Priscila FreitasAinda não há avaliações
- INTRODUÇADocumento68 páginasINTRODUÇAlelela23Ainda não há avaliações
- Crescimento Econômico E Desenvolvimento EconômicoNo EverandCrescimento Econômico E Desenvolvimento EconômicoAinda não há avaliações
- UNIDADE IV - Curso - 222RGR1377A - GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕESDocumento17 páginasUNIDADE IV - Curso - 222RGR1377A - GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕESDaniel OliveiraAinda não há avaliações
- Exercicio - Economia 27-03Documento36 páginasExercicio - Economia 27-03DaltonAinda não há avaliações
- 2º Slide - O Sistema Econômico (Modo de Compatibilidade)Documento10 páginas2º Slide - O Sistema Econômico (Modo de Compatibilidade)Nelson Ribeiro da Silva JuniorAinda não há avaliações
- Apostila EconomiaDocumento45 páginasApostila Economiamartussp100% (1)
- Conceitos Básicos EconomiaDocumento7 páginasConceitos Básicos Economiafernando_trAinda não há avaliações
- Conceitos EconomiaDocumento2 páginasConceitos EconomiaThaine Luchetti LapereAinda não há avaliações
- Apostila de Economia Política-1Documento23 páginasApostila de Economia Política-1Saulo SilveiraAinda não há avaliações
- Noçoes de Economia de MercadoDocumento9 páginasNoçoes de Economia de MercadocarolmarroigAinda não há avaliações
- Macro e MicroeconomiaDocumento109 páginasMacro e MicroeconomiaLeafar Zurc0% (1)
- Por Que Estudar EconomiaDocumento24 páginasPor Que Estudar Economiaarlindobazante50% (2)
- Políticas MacroeconômicasDocumento65 páginasPolíticas Macroeconômicasrjalexandre.74Ainda não há avaliações
- Economia e Mercado Resumo Geral Da MatériaDocumento54 páginasEconomia e Mercado Resumo Geral Da MatériarbulcaoAinda não há avaliações
- Apostila EconomiaDocumento12 páginasApostila Economiafabiojunior100% (4)
- Atividade 1 Economia No AgronegócioDocumento7 páginasAtividade 1 Economia No AgronegócioMaria Gabriela AlvesAinda não há avaliações
- Economia E Mercado: Rede de Ensino Técnico Ceteps Curso Técnico em Transações ImobiliáriasDocumento33 páginasEconomia E Mercado: Rede de Ensino Técnico Ceteps Curso Técnico em Transações ImobiliáriasThays SaraivaAinda não há avaliações
- Fluxo Circular Da Actividade EconomicaDocumento5 páginasFluxo Circular Da Actividade EconomicaStelio Cuinica100% (2)
- ApostilaDocumento9 páginasApostilaJussa UísqueAinda não há avaliações
- Trabalho Jatobá 1Documento20 páginasTrabalho Jatobá 1Naiana LiborioAinda não há avaliações
- Os Mercados Dos Factores de ProduçãoDocumento13 páginasOs Mercados Dos Factores de ProduçãoGisele GonçalvesAinda não há avaliações
- Economia IDocumento4 páginasEconomia IjulianoAinda não há avaliações
- A Economia Da EngenhariaDocumento101 páginasA Economia Da EngenhariaAn100% (1)
- Economia Conceitos PreliminaresDocumento8 páginasEconomia Conceitos PreliminaresLuana FrançaAinda não há avaliações
- Conceitos de Economia 2Documento33 páginasConceitos de Economia 2Alisson MartinsAinda não há avaliações
- Tde Economia PolíticaDocumento3 páginasTde Economia PolíticaIgorAinda não há avaliações
- Agradecemos o Preenchimento de Economia 4Documento3 páginasAgradecemos o Preenchimento de Economia 4Alesandra GhettiAinda não há avaliações
- Fundamentos Da EconomiaDocumento26 páginasFundamentos Da Economiaagfaustojr50% (2)
- Microeconomia - MarcílioDocumento46 páginasMicroeconomia - Marcíliollobao10Ainda não há avaliações
- Unid. 2 Ok - Sistema Econ MicoDocumento9 páginasUnid. 2 Ok - Sistema Econ MicoVictor CoelhoAinda não há avaliações
- Economia 2017 GabaritoDocumento37 páginasEconomia 2017 GabaritoCaptaAinda não há avaliações
- Conceitos de EconomiaDocumento42 páginasConceitos de EconomiaSandra Regina MartinsAinda não há avaliações
- RuralDocumento80 páginasRuralCarolayne Souza PintoAinda não há avaliações
- Economia Cabulas 1Documento33 páginasEconomia Cabulas 1Leliana SantosAinda não há avaliações
- Resumo Gestão Das Organizações 1Documento7 páginasResumo Gestão Das Organizações 1Juliana MaiaAinda não há avaliações
- Economia Engenharia CustosDocumento104 páginasEconomia Engenharia CustosLeonardo MedeirosAinda não há avaliações
- Introduã - Ã - o A EconomiaDocumento48 páginasIntroduã - Ã - o A EconomiaWilliam CajicuaAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios 01 - Introdução À EconomiaDocumento2 páginasLista de Exercícios 01 - Introdução À EconomiaNATALIA PINHEIROAinda não há avaliações
- Revisão Hem - Fatores de Prod e Setores EconomiaDocumento2 páginasRevisão Hem - Fatores de Prod e Setores EconomiaDANIELAAinda não há avaliações
- Resumo de Economia e Financas Publicas 27 Junho 2013Documento91 páginasResumo de Economia e Financas Publicas 27 Junho 2013CarlosAinda não há avaliações
- Apostila HumanidadesDocumento7 páginasApostila HumanidadesLeticia Alves100% (8)
- Descomplica - Análise de Cenários EconômicosDocumento6 páginasDescomplica - Análise de Cenários EconômicosAna ClaraAinda não há avaliações
- Buarque - Avaliação Econômica de ProjetosDocumento33 páginasBuarque - Avaliação Econômica de ProjetosDavid Rufino Ferreira80% (5)
- Introducao A EconomiaDocumento34 páginasIntroducao A EconomiaRodrigo VérasAinda não há avaliações
- Economia para Negócios 23-08-22Documento41 páginasEconomia para Negócios 23-08-22abner abnerAinda não há avaliações
- Apostila de EconomiaDocumento78 páginasApostila de Economiapablorenan100% (1)
- Revisao Economia Política - DIREITO OPET - 1Documento11 páginasRevisao Economia Política - DIREITO OPET - 1cesarcosta_opet100% (13)
- A Fronteira de Possibilidades de Produção PDFDocumento88 páginasA Fronteira de Possibilidades de Produção PDFNick Edu50% (2)
- Economia Política Ucam 2023 1Documento23 páginasEconomia Política Ucam 2023 1Quaresma MartinsAinda não há avaliações
- EconomiaDocumento34 páginasEconomiagraciele rodrigues figueredo100% (4)
- EconomiaDocumento6 páginasEconomiaHeverton DiasAinda não há avaliações
- Horários Onibus GeralDocumento13 páginasHorários Onibus GeralMarcelo DiedrichAinda não há avaliações
- Perry Anderson - Linhagens Do Estado Absolutista, Parte 1 Europa Ocidental, Cap 1 (1) LER PG 15 A 41Documento58 páginasPerry Anderson - Linhagens Do Estado Absolutista, Parte 1 Europa Ocidental, Cap 1 (1) LER PG 15 A 41Thi Ago83% (6)
- Lista A de Medicamentos de Referência 11-05-2017Documento34 páginasLista A de Medicamentos de Referência 11-05-2017Marcelo DiedrichAinda não há avaliações
- Inflação e Plano RealDocumento16 páginasInflação e Plano RealMarcelo DiedrichAinda não há avaliações
- Intruções Uso Da HP 12C - Teclas e FunçõesDocumento3 páginasIntruções Uso Da HP 12C - Teclas e FunçõesMarcelo DiedrichAinda não há avaliações
- Padrões Proibidos - Jack EllisDocumento20 páginasPadrões Proibidos - Jack Ellistony2002b100% (5)
- O Uso Do Conhecimento Na Sociedade - Friedrich A. Hayek PDFDocumento17 páginasO Uso Do Conhecimento Na Sociedade - Friedrich A. Hayek PDFSamuel Ribeiro100% (1)
- Plano de Cargos e Salários Santa RosaDocumento21 páginasPlano de Cargos e Salários Santa RosaMarcelo DiedrichAinda não há avaliações
- Luciana Menezes Estudo Das ConcessoesDocumento13 páginasLuciana Menezes Estudo Das ConcessoesMarcelo DiedrichAinda não há avaliações
- Economia Sem TruquesDocumento150 páginasEconomia Sem TruquesAgostino Burla100% (4)
- Passagens Da Antiguidade Ao Feudalismo - Perry AndersonDocumento10 páginasPassagens Da Antiguidade Ao Feudalismo - Perry AndersonMarcelo DiedrichAinda não há avaliações
- Noções de Orçamento e Finanças PúblicasDocumento146 páginasNoções de Orçamento e Finanças PúblicasDarlan Silva MarianoAinda não há avaliações
- Lei OrgânicaDocumento44 páginasLei OrgânicaMarcelo DiedrichAinda não há avaliações
- Intruções Uso Da HP 12C - Teclas e FunçõesDocumento3 páginasIntruções Uso Da HP 12C - Teclas e FunçõesMarcelo DiedrichAinda não há avaliações
- Contabeis - Hotelaria em FlorianópolisDocumento24 páginasContabeis - Hotelaria em FlorianópolisMarcelo DiedrichAinda não há avaliações
- Código de Obras - Santa RosaDocumento51 páginasCódigo de Obras - Santa RosaMarcelo DiedrichAinda não há avaliações
- Regime Previdência SantaDocumento8 páginasRegime Previdência SantaMarcelo DiedrichAinda não há avaliações
- Estados e Moedas No Desenvolvimento Das Nações - FIORI, J.L PDFDocumento36 páginasEstados e Moedas No Desenvolvimento Das Nações - FIORI, J.L PDFMarcelo DiedrichAinda não há avaliações
- Manifestação PGR 29.04.2016Documento11 páginasManifestação PGR 29.04.2016Marcelo DiedrichAinda não há avaliações
- Como Medir Retorno Sobre o InvestimentoDocumento8 páginasComo Medir Retorno Sobre o InvestimentoSandro NogueiraAinda não há avaliações
- Curso - Administração de HotéisDocumento169 páginasCurso - Administração de HotéisFernanda Rodrigues AlvesAinda não há avaliações
- Léon Walras - Compêndio Dos Elementos de Economia Política Pura (Os Econoistas)Documento316 páginasLéon Walras - Compêndio Dos Elementos de Economia Política Pura (Os Econoistas)Mateus Ramalho100% (1)
- Livro Proprietario - Fundamentos de EconomiaDocumento160 páginasLivro Proprietario - Fundamentos de Economiatatiane100% (1)
- Como Montar Um ProjetoDocumento16 páginasComo Montar Um ProjetoJose Carlos TorresAinda não há avaliações
- Weber - Parlamento e Governo Na Alemanha Reordenada (Prefácio, 1,2,3,5)Documento192 páginasWeber - Parlamento e Governo Na Alemanha Reordenada (Prefácio, 1,2,3,5)Aline Sales100% (1)
- Teclas de AtalhoDocumento9 páginasTeclas de AtalhoMarcelo DiedrichAinda não há avaliações
- Licitação Pública - ModalidadesDocumento2 páginasLicitação Pública - ModalidadesKlayton SantosAinda não há avaliações
- Formação Preço de Venda Unid 2Documento8 páginasFormação Preço de Venda Unid 2AdrianaSousaAinda não há avaliações
- EconomiaDocumento19 páginasEconomiaAvelízio ZithaAinda não há avaliações
- Regulação, Concorrência e Mercado - Pfeiffer - 2018 - COMPLETO - Guilherme Antonio Gonçalves PDFDocumento42 páginasRegulação, Concorrência e Mercado - Pfeiffer - 2018 - COMPLETO - Guilherme Antonio Gonçalves PDFViniciusElleroAinda não há avaliações
- Inovação Da Área de Alimentação: Ao Final Desta Unidade de Aprendizagem, Você Deve Apresentar Os Seguintes AprendizadosDocumento32 páginasInovação Da Área de Alimentação: Ao Final Desta Unidade de Aprendizagem, Você Deve Apresentar Os Seguintes AprendizadosDANIELAinda não há avaliações
- Exercícios - Teoria Da Firma, Custo e Estrutura de Mercado.Documento5 páginasExercícios - Teoria Da Firma, Custo e Estrutura de Mercado.Kennedy CarvalhoAinda não há avaliações
- 6 Marketing MixDocumento92 páginas6 Marketing MixRui MadureiraAinda não há avaliações
- Slides de Aula - Unidade IIDocumento60 páginasSlides de Aula - Unidade IIDenis OliveiraAinda não há avaliações
- Cidades Imaginárias - o Brasil É Menos Urbano Que Se ImaginaDocumento6 páginasCidades Imaginárias - o Brasil É Menos Urbano Que Se ImaginaErick MuntzAinda não há avaliações
- Apontamentos Gestao de Operacoes Parte 1Documento35 páginasApontamentos Gestao de Operacoes Parte 1Miguel100% (1)
- Como Montar Uma Oficina de MotocicletasDocumento32 páginasComo Montar Uma Oficina de MotocicletasDavydsonnAinda não há avaliações
- Performance Measurement Using Overall Equipment EfDocumento47 páginasPerformance Measurement Using Overall Equipment EfManutenção EucaturAinda não há avaliações
- Fusão de EmpresasDocumento14 páginasFusão de EmpresasRogerio PetraroliAinda não há avaliações
- Prova Zootecnista ADocumento15 páginasProva Zootecnista ALucas GustavoAinda não há avaliações
- Modulo Economia AmbientalDocumento87 páginasModulo Economia AmbientalSérgio SaguarAinda não há avaliações
- Dissertação - Dora Oliveira AlmeidaDocumento96 páginasDissertação - Dora Oliveira AlmeidaRicardoMadeiraAinda não há avaliações
- Dissertação - Fernando Bocabello - 112717 - MPA 2019Documento122 páginasDissertação - Fernando Bocabello - 112717 - MPA 2019mramosunoAinda não há avaliações
- Manual Processamento Da Carne BovinaDocumento12 páginasManual Processamento Da Carne Bovinajose dias macedo juniorAinda não há avaliações
- Prova 1 Administrador A JuniorDocumento21 páginasProva 1 Administrador A JuniornasctifaAinda não há avaliações
- Orçamento de Obras de Construção CivilDocumento139 páginasOrçamento de Obras de Construção CivilWildson Santos67% (3)
- Capitalismo 140903202830 Phpapp01Documento29 páginasCapitalismo 140903202830 Phpapp01Tatiane Lima de BarrosAinda não há avaliações
- Monografia DesignDocumento38 páginasMonografia DesignRoberto PedrosaAinda não há avaliações
- Question A RioDocumento4 páginasQuestion A RioManuel AlvesAinda não há avaliações
- 1223379783V7oBL9qs1Du95OK0 ESPADA, João Carlos. Direitos Sociais de Cidadania - Uma CríticaDocumento23 páginas1223379783V7oBL9qs1Du95OK0 ESPADA, João Carlos. Direitos Sociais de Cidadania - Uma CríticaGustavo MartinsAinda não há avaliações
- Resumo Expandido - BNCC - Seminário - UfbaDocumento5 páginasResumo Expandido - BNCC - Seminário - UfbaSandra Maria Xavier BeijuAinda não há avaliações
- AGUSTINA DEL CAMPO Fake News On The Internet 2021 em PortuguêsDocumento42 páginasAGUSTINA DEL CAMPO Fake News On The Internet 2021 em PortuguêsCristiane ScheidAinda não há avaliações
- Trabalho de Economia Nathy e OliDocumento51 páginasTrabalho de Economia Nathy e OliGisely PalopoliAinda não há avaliações
- Case Embraer X Bombardier - Teoria Dos JogosDocumento15 páginasCase Embraer X Bombardier - Teoria Dos Jogosnathalia_fasAinda não há avaliações
- Pim IV - Documentação Final (Polinfo)Documento41 páginasPim IV - Documentação Final (Polinfo)Cauê MenezesAinda não há avaliações
- Como Montar Um BistrôDocumento49 páginasComo Montar Um Bistrôandre_tfjrAinda não há avaliações
- Reexame de CompetenciasDocumento5 páginasReexame de Competenciasmauro_ferreira_20100% (1)