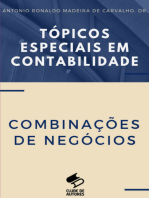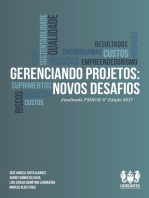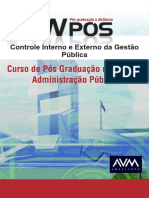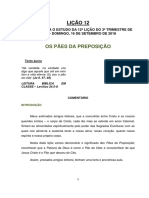Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Introdução ao Direito: Fundamentos, Legislação Social, Trabalhista, Comercial e Tributária
Enviado por
Junior CorrêaDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Introdução ao Direito: Fundamentos, Legislação Social, Trabalhista, Comercial e Tributária
Enviado por
Junior CorrêaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Introduo
ao Direito:
Fundamentos,
Legislao
Social,
Trabalhista,
Comercial e
Tributria
Janes Sandra Dinon Ortigara
Curitiba
2013
Livro_legislacao_katia.indb 1 20/11/2014 09:58:38
Ficha Catalogrfica elaborada pela Fael. Bibliotecria Cassiana Souza CRB9/1501
Ortigara, Janes Sandra Dinon
Introduo ao direito: fundamentos, legislao
social, trabalhista, comercial e tributria / Janes San-
dra Dinon Ortigara. Curitiba: Fael, 2014.
x p.; x cm.; il.
ISBN 978-85-8287-064-8
1. Direito - Introduo 2. Direito do trabalho
3.Direito empresarial 4. Direito tributrio I.Ttulo CDD 340
Direitos desta edio reservados Fael.
proibida a reproduo total ou parcial desta obra sem autorizao expressa da Fael.
Editora fael
Projeto Grfico Sandro Niemicz
Design Instrucional Francine Canto
Reviso Claudia Helena Carvalho Wigert
Diagramao Thiago Rocha Oliveira
Mariana Bugo
Reviso de Diagramao Katia Cristina Santos Mendes
Capa Katia Cristina Santos Mendes
Imagem capa Shutterstock.com/Sebastian Duda
Livro_legislacao_katia.indb 2 20/11/2014 09:58:40
Sumrio
Introduo | 5
1 Introduo ao Estudo do Direito | 7
2 Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho | 59
3 Aspectos Relevantes do Direito Tributrio | 105
4 Aspectos Relevantes do Direito Empresarial | 145
Referncias | 173
Livro_legislacao_katia.indb 3 20/11/2014 09:58:43
Livro_legislacao_katia.indb 4 20/11/2014 09:58:43
Introduo
Janes Sandra Dinon Ortigara
Este livro trata de questes fundamentais do Direito e de
alguns ramos especficos, como o Direito do Trabalho, Tributrio
e Empresarial, ou Comercial, e est dividido em quatro captulos.
O primeiro captulo uma introduo ao estudo do Direito,
no qual veremos conceitos introdutrios e teorias jurdicas, que so
uma espcie de fundamento ao Direito em geral. Esse fundamento
que sustenta o campo jurdico e seus conceitos em geral advm prin-
cipalmente da Filosofia do Direito e da Lgica Jurdica. O estudo
desses conceitos e teorias essencial para que posteriormente o
estudo nas diversas reas do Direito tenha concretude. Todo campo
jurdico se ampara nesses conceitos e teorias como o prprio termo
Direito, o conceito de Norma Jurdica, a Teoria da Norma Funda-
mental, a Teoria das Lacunas, as fontes do Direito, os princpios do
Direito em geral e outros termos e teorias.
O segundo captulo tratar sobre os aspectos essenciais do
Direito do Trabalho, que so considerados pilares para esta rea jur-
Livro_legislacao_katia.indb 5 20/11/2014 09:58:46
Introduo ao Direito
dica, e a legislao trabalhista, que determina os direitos e as obrigaes dos
empregados e dos empregadores. As bases da rea jurdica do trabalho so, em
primeiro lugar, a prpria definio do que vem a ser o Direito do Trabalho
como limites de aplicao e regulamentao desta rea jurdica. Em segundo
lugar, podemos dizer que esto presentes questes como as fontes do Direito
do Trabalho e os princpios especficos e, tambm, os gerais da rea jurdica.
O terceiro captulo analisar os aspectos relevantes do Direito Tribu-
trio. Este, por sua vez, tem como finalidade a regulamentao dos tributos
cobrados pelo Estado com o intuito de gerar receita. Estudaremos neste cap-
tulo a Legislao Tributria, as normas gerais desta rea jurdica, os princpios
jurdicos que regem o Direito Tributrio e os diferentes tipos de tributao,
como as taxas e os impostos.
Por fim, o quarto, e ltimo, captulo tratar dos aspectos relevantes do
Direito Empresarial, ou Comercial. Este ramo jurdico caracterizado como
mbito privado do Direito. Como veremos, ele disciplina o conjunto de
regras jurdicas relativas atividade comercial, ou empresarial. Desta forma,
estudaremos as fontes que regem o Direito Empresarial, os diferentes tipos de
sociedades empresrias.
Este livro tem como objetivo introduzir o aluno no mbito jurdico de
forma que ele adquira conhecimentos em relao aos fundamentos jurdicos
que fazem parte da Teoria do Direito, e que tambm adquira conhecimentos
na parte mais tcnica do Direito, estabelecida por meio da legislao de cada
ramo jurdico.
Livro_legislacao_katia.indb 6 20/11/2014 09:58:46
1
Introduo ao
Estudo do Direito
Janes Sandra Dinon Ortigara
Neste captulo, estudaremos conceitos introdutrios que
so necessrios e fundamentais ao estudo do Direito em geral. Ini-
cialmente faremos uma sntese da histria do surgimento do Direito
no Brasil; explicaremos noes essenciais do Direito como o prprio
conceito de Direito, de Norma Jurdica e de ordenamento jurdico.
Apresentaremos o que so as fontes do Direito, os princpios gerais,
alm de mostrarmos os seus diferentes ramos. Ao final do captulo,
faremos uma espcie de resumo do que seriam as funes do Direito.
1.1 Breve histria do Direito no Brasil
No podemos dizer com preciso quando o Direito surgiu,
mas sua existncia est diretamente ligada ao desenvolvimento da
civilizao humana. Podemos dizer que, no Egito Antigo e na Gr-
cia Antiga, o Direito j existia, no como o entendemos hoje, mas
como regras bsicas da conduta humana.
Livro_legislacao_katia.indb 7 20/11/2014 09:58:49
Introduo ao Direito
O Direito, no Brasil iniciou-se com a chegada e instalao dos portugue-
ses no Pas, fazendo do Brasil a colnia de Portugal. Desta forma, nessa poca,
a histria do Direito brasileiro confunde-se com a histria do Direito por-
tugus, ou com parte deste. A partir da, a histria jurdica, de certa forma,
passa a ser comum aos dois povos, como ressalta Simes (2007, p. 1):
Como o Brasil ficou vinculado, em determinado momento hist-
rico, aos ditames de Portugal, todos os costumes e tradies portu-
guesas passaram a fazer parte da sociedade e do cotidiano brasileiro,
incluindo, por consequncia, seu sistema de normas e imposies.
Como toda histria feita por ns, seres humanos, ela no totalmente
objetiva e imparcial, como uma frmula matemtica. Desta maneira, Bris
Fausto (2002) lembra-nos que [...] a histria uma cincia humana. Isso quer
dizer que ela tem uma certa relatividade dependendo muito da viso do histo-
riador. A histria tem um lgica, tem normas, tem um processo, portanto, tem
uma objetividade1. Logo, podemos analisar dois pontos de vista diferentes em
relao a este mesmo fato histrico do Direito no Brasil, como veremos a seguir.
Para analisarmos um ponto de vista, podemos citar Justo (2002, p. 3),
que comenta sobre a herana do Direito portugus ao Brasil. O Direito pode
ser entendido a partir de:
Quando, em 22 de Abril de 1500, a armada comandada por Pedro
lvares Cabral chegou Terra de Vera Cruz, o Direito Portugus
estendeu a sua vigncia a um territrio mais, com sensibilidade s
condies especficas da grande Nao de que todos (Brasileiros e Por-
tugueses) nos orgulhamos. Vigoravam, ento, em Portugal, as Orde-
naes Afonsinas e diversa legislao extravagante que rapidamente
iriam tambm aplicar-se ao Brasil.
Assim, as Ordenaes Afonsinas, vigentes em Portugal no momento da
descoberta das terras brasileiras, passaram a ser tambm aplicadas no Brasil.
Como explanava o jurista Moncada ([19--]): As Ordenaes do Reino so o
mais considervel monumento legislativo da nossa histria jurdica (ius lusitanae)
desde os sculos XIII-XIV e o factor primacial da unidade poltica da Nao.
Outro ponto de vista sobre este fato histrico mostra-nos que a legisla-
o do Brasil-Colnia foi o reflexo da imposio e da vontade do colonizador
1 Srie publicada pelo historiador Bris Fausto na TV Escola (MEC), 2002. Dispon-
vel em: <http://tvescola.mec.gov.br>.
Livro_legislacao_katia.indb 8 20/11/2014 09:58:49
Introduo ao Estudo do Direito
portugus, da mesma forma que o modelo judicirio implantado seguiu os
moldes do modelo de Portugal, representando os interesses da sua burguesia.
O QUE SO ORDENAES?
Ordenaes significam ordens, decises
ou normas jurdicas avulsas ou agrupadas
que comungam de mesmos preceitos de
elaborao. Peas fundamentais da
histria do Direito em Portugal e por
correspondncia no Brasil. onde esto
oficialmente registradas as normas
jurdicas fixadas nos diversos reinados.
Sistema de normas do reino portugus
em sua histria, aconteceu na seguinte
ordem: Ordenaes Afonsivas,
Ordenaes Manuelinas e Ordenaes
Filipinas, conhecidas assim pelos seus
mandantes.
Aps as Ordenaes Afonsinas, as Ordenaes Manuelinas vigoraram
de forma definitiva, a partir do ano 1521, no tempo em que Dom Manuel
assumiu seu reinado. Segundo Silva (1991, p. 269):
[...] a reforma definitiva das Ordenaes Manuelinas (1521) teve
como fator impulsionador a promulgao de legislao extravagante,
destacando-se em importncia o Regimento dos Contadores das
Comarcas (1514) e o Regimento e Ordenaes da Fazenda (1516)
[...].
Para no ocasionar divergncia entre as edies anteriores das Orde-
naes, Dom Manuel, atravs de Carta datada em 15 de maro de
1521, determinou que aqueles que tivessem as Ordenaes antigas
deveriam se desfazer delas, sob pena de, se assim no se procedesse
em trs meses, pagar uma taxa, bem como, nesse mesmo perodo, os
conselhos deveriam adquirir as novas Ordenaes.
Livro_legislacao_katia.indb 9 20/11/2014 09:58:49
Introduo ao Direito
De acordo com Faoro (1998, p. 64):
O estatuto da organizao poltico-administrativa do reino, com a
minudente especificao das atribuies dos delegados do reino, no
apenas daqueles devotados justia, seno dos ligados corte e
estrutura municipal. Elas respiram, em todos os poros, a interveno
do Estado na economia, nos negcios, no comrcio martimo, nas
compras e vendas internas, no tabelamento de preos, no embargo de
exportaes aos pases mouros e ndia. A codificao expressa, alm
do predomnio incontestvel e absoluto do soberano, a centralizao
poltica e administrativa.
Andr (2007, p. 2) contribui com muita clareza:
As Ordenaes levaram o nome de seus mandantes rgios e trs foram
essas compilaes: a Afonsina de 1447, ordenada por Afonso IV pos-
sua cinco livros que versavam sobre Direito Administrativo (Livro I),
Direito Constitucional (Livro II), Processo Civil (Livro III), Direito
Civil (Livro IV), e Direito e processo Criminal (Livro V); as Orde-
naes Manuelinas datam de 1521 e foram elaboradas no reinado
de D. Manuel, mantendo a mesma sistematizao das Ordenaes
Afonsinas; e, finalmente as Ordenaes Filipina, que apesar de sua
vigncia ter iniciado em 1603, no reinado de Filipe II, sua elaborao
iniciou-se em 1583, sob a gide de Filipe I. Sua sistematizao de
assuntos a mesma das Ordenaes anteriores, 13 onde encontramos
cinco livros, subdivididos em ttulos e pargrafos.
Na percepo de Silva (1991), um dos maiores defeitos das Ordenaes
Filipinas teve origem justamente do respeito pelas ordenaes anteriores, ou
seja, da sua falta de clareza e da obscuridade de muitas disposies.
Em um pequeno quadro, podemos resumir a diferena entre as Ordena-
es Afonsinas (1446), Manuelinas (1521) e Filipinas (1603):
Ord. Afonsivas - 1446 Ord. Manuelinas - 1521 Ord. Filipinas - 1603
Sem praticamente muitas
Objetivaram a atualiza-
Sofreu vrias influ- mudanas com relao
o das inmeras regras
ncias do Direito Afonsiva. Tem como pri-
esparsas editadas no
Romano e Cannico. meira inovao a supresso
perodo de 1521 a 1600.
das normas revogadas.
10
Livro_legislacao_katia.indb 10 20/11/2014 09:58:49
Introduo ao Estudo do Direito
Ord. Afonsivas - 1446 Ord. Manuelinas - 1521 Ord. Filipinas - 1603
A segunda inovao foi o
fato de o documento estar
redigido de maneira mais
concisa e decretria.
Consagrou-se como
fonte do direito nacional,
realizando uma unifor-
mizao das leis para E finalmente a terceira Destacar tambm que
todo o pas. Isso impediu inovao foi o estabele- as penas previstas nas
que os abusos praticados cimento de normativas Ordenaes Filipinas
pela nobreza, no que diz especficas para as questes eram consideradas severas
respeito sua interpreta- da expanso martima. e bastante variadas.
o. Alm de permitir a
amplificao da poltica
centralizadora do Rei.
Fonte: SILVA, 2011.
O Direito vigente nesse perodo caracterizou-se pela juno de leis e
costumes dessas trs Ordenaes. Em muitos casos, a discordncia com a
realidade encontrada provocava a reviso da legislao, conforme esclarece
Wolkmer (2002, p. 48):
[...] a legislao privada comum, fundada nessas Ordenaes do
Reino, era aplicada sem qualquer alterao em todo o territrio
nacional. Concomitantemente, a inadequao, no Brasil, de certas
normas e preceitos de Direito Pblico que vigoravam em Portugal
determinava a elaborao de uma legislao especial que regulasse a
organizao administrativa da Colnia.
Tendo em vista tal contexto, ainda segundo Wolkmer (2002, p. 48),
[...] a insuficincia das Ordenaes para resolver todas as necessidades da
Colnia tornava obrigatria a promulgao avulsa e independente de vrias
Leis Extravagantes, versando, sobretudo, sobre matrias comerciais.
Em 1769, ocorreu uma grande modificao na matria legislativa.
Trata-se da criao da Lei da Boa Razo, que definia regras centralizadoras
11
Livro_legislacao_katia.indb 11 20/11/2014 09:58:49
Introduo ao Direito
e uniformes para interpretao e aplicao das leis no caso de omisso,
impreciso ou lacuna. Essas mudanas foram decorrentes da Reforma
Pombalina. Conforme apresenta Wolkmer (2002), a Lei da Boa Razo foi
responsvel por minimizar a autoridade do Direito Romano, da glosa e dos
arestos, dando preferncia e dignidade s leis ptrias e s recorrendo quele
direito, subsidiariamente, se estivesse de acordo com o direito natural e as leis
das Naes Crists iluminadas e polidas, se em boa razo fossem fundadas.
Neste contexto, importante saber um pouco mais sobre a Lei da Boa
Razo. Ela foi publicada em 18 de agosto de 1769 pelo rei D. Jos I, tendo
como principais objetivos a reformulao das matrias concernentes s fontes
do Direito em Portugal e o fornecimento de um critrio seguro e objetivo
sobre o que seria a boa razo sobre a qual se referiram as Ordenaes Filipi-
nas quando a estabeleceu como critrio aplicao do Direito romano. Seu
carter instrumental notrio. Foi uma lei cuja finalidade era tratar de outras
leis ou, mais precisamente, aplic-las do modo mais adequado. Mais que uma
simples norma sobre aplicao, a Lei da Boa Razo trazia, alm do modo
de utilizao das leis, o que poderia ser aplicado; era uma meta-norma, um
instrumento legal indicador do que era Direito de Portugal do sculo XVIII.
De acordo com o comentrio de Telles (1824, p. 5), em 1769:
As mudanas trazidas pela Lei da Boa Razo ao Direito Portugus
foram profundas. Apesar de serem muitas delas apenas a consolida-
o e o reforo de algumas posturas j h algum tempo tomadas pela
Coroa, a publicao de uma lei reguladora do Direito foi importante
para dar a segurana almejada principalmente pelo Estado. As incer-
tezas sobre as matrias jurdicas eram prejudiciais e s atrapalhavam
as tendncias centralizadoras de D. Jos I e do Marqus de Pombal.
Em todo este processo, no se tem dvida de que os portugueses man-
tinham total domnio dos assuntos governamental e jurdico. indiscutvel,
portanto, reconhecer que, no Brasil-Colnia, a administrao da justia atuou
sempre como instrumento de dominao colonial. Neste sentido, Wolkmer
(2002, p. 13) esclarece:
A monarquia portuguesa tinha bem em conta a necessria e impe-
riosa identificao entre o aparato governamental e o poder judicial.
Frisa-se, deste modo, que a organizao judicial estava diretamente
vinculada aos nveis mais elevados da administrao real, de tal
forma que se tornava difcil distinguir em certos lugares da colnia,
12
Livro_legislacao_katia.indb 12 20/11/2014 09:58:49
Introduo ao Estudo do Direito
a representao de poder das instituies uma da outra, pois ambas
se confundiam.
1.2 Conceitos jurdicos fundamentais
Estudaremos, nesta sesso, alguns conceitos fundamentais para a rea
jurdica em geral, como o conceito de Direito, de norma, a classificao das
normas jurdicas, a validade, vigncia e eficcia da norma, a teoria da Norma
Fundamental e a teoria da antinomia.
1.2.1 O que Direito
A palavra Direito possui definio complexa, com diversos significados.
Muitas vezes, o Direito confundido com a prpria lei. Embora sejam intrin-
secamente relacionados, distinguem-se entre si, pois a diferena entre Direito
e lei pertence ao mbito ideolgico do Estado. Da mesma forma, Direito e
Justia diferenciam-se quanto a significados, mas sua relao to prxima faz
com que os conceitos se confundam tambm por uma questo ideolgica.
Podemos dizer que Direito, em sentido amplo, vai alm do Direito Posi-
tivo, pois abrange uma realidade social na qual o Direito Positivo est em
permanente transformao.
O Direito Positivo nasce ao mesmo tempo e por conta do Estado
Moderno. Por consequncia desta relao, entendemos o Direito Positivo
como um conjunto de normas jurdicas que busca regular a ordem da socie-
dade. Essas normas podem ser escritas e no escritas; sua vigncia se altera
com o tempo, com o territrio ou com o povo em questo, opondo-se, neste
sentido, ao Direito Natural.
Podemos entender o Direito Natural como uma doutrina cuja tese
sustenta a ideia de que h um ordenamento mais elevado, vlido e justo
universalmente, proveniente da natureza, da razo ou da vontade de Deus.
Desta forma, segundo a doutrina do Direito Natural, o Direito tem validade
universal e imutvel e superior ao Estado, supostamente vinculado a prin-
cpios fundamentais.
Como indaga o professor Joo Chaves: Qual a origem do Direito? Ele
nasceria em rvores? Por algum processo de esporulao, como se originam
13
Livro_legislacao_katia.indb 13 20/11/2014 09:58:49
Introduo ao Direito
as samambaias?2. perceptvel que a resposta negativa. Segundo lies que
remontam aos antigos romanos, ubi societas ibi ius, o que significa dizer que
onde h sociedade, h direito.
Desta forma, Reale (1995) lembra-nos que:
No caso das cincias humanas, talvez o caminho mais aconselhvel
seja aceitar, a ttulo provisrio, ou para princpio de conversa, uma
noo corrente consagrada pelo uso. Ora, aos olhos do homem
comum o direito lei e ordem, isto , um conjunto de regras obri-
gatrias que garantem a convivncia social graas ao estabelecimento
de limites ao de cada um de seus membros. Assim sendo, quem
age de conformidade com essas regras comporta-se direito; quem no
o faz, age torto.
Mas o que Reale (1995) entende realmente por Direito em sentido
lato o fato de este ser um fenmeno social, s existindo na medida em que
existe uma sociedade, no podendo ser concebido fora dela. Desta forma,
na sua concepo, para a realidade jurdica, h uma qualidade de ser social.
Partindo deste pressuposto, o autor fundamenta sua Teoria Tridimensional
do Direito. Brevemente podemos dizer que essa teoria uma concepo
que leva em conta trs aspectos que fundamentam o Direito. O primeiro
aspecto o normativo, no qual a Norma Jurdica um dos fundamen-
tos. O segundo aspecto o ftico, no qual a relevncia social e histrica
outro fundamento em que o Direito est alicerado. E, em terceiro lugar, o
aspecto axiolgico ou de valores buscados pela sociedade o ltimo funda-
mento para o Direito.
J para Ferraz Jr. (2001):
[...] o direito muito difcil de ser definido com rigor. De uma
parte, consiste em grande nmero de smbolos e ideais recipro-
camente incompatveis, o que o homem comum percebe quando
se v envolvido num processo judicial: por mais que ele esteja
seguro de seus direitos, a presena do outro, contestandoo, crialhe
certa angstia que desorganiza sua tranquilidade. De outra parte,
no deixa de ser um dos mais importantes fatores de estabilidade
social, posto que admit um cenrio comum em que as mais diver-
sas aspiraes podem encontrar uma aprovao e uma ordem.
2 Pergunta proferida em aula pelo professor Joo Chaves, ministrante da disciplina
Introduo ao Estudo do Direito 2 da Unicap.
14
Livro_legislacao_katia.indb 14 20/11/2014 09:58:49
Introduo ao Estudo do Direito
O que Ferraz Jr. (2001) aponta de extrema importncia para enten-
dermos que o Direito nem sempre corresponde diretamente ao sinnimo de
justia. Muitas vezes, quando h justia para um, no h para o outro sobre
o mesmo fato, pois a Justia para um nem sempre corresponde justia para
o outro. Podemos dizer que a justia d sentido ao Direito ou que ela um
princpio que o regula. A justia tem uma relao direta com o tipo de con-
duta e ao humana.
Tentando definir um princpio que regulasse de forma perfeita a ao
humana, o filsofo Imanuel Kant definiu o seu Imperativo Categrico como
uma mxima da ao justa, pois, para ele, justa a ao cuja consequncia no
interfira na liberdade do outro de forma universal. Mas na prtica isso no
acontece de forma espontnea por parte de todos: se todas as pessoas agissem
segundo a mxima do Imperativo Categrico kantiano, no haveria motivo
para estabelecer regras jurdicas. Desta forma, o Direito regula determinados
tipos de conduta humana para que as pessoas ajam em conformidade com a
lei, afim de promover a ordem e a paz em sociedade.
Dessa mxima kantiana Imperativo Categrico , implica o conceito
de Liberdade. Este, por sua vez, passa a ser definido pelo Estado como uma
liberdade delimitada, pois o Estado, com seu poder de polcia, o nico
agente que possui o direito de tirar a liberdade do indivduo, ao mesmo
tempo em que o nico agente que regula as condutas por meio das leis.
Podemos dizer, deste modo, que o Direito delimita a liberdade do indivduo
acerca do seu convvio em sociedade.
Tambm podemos nos referir ao conceito de Justia de forma mais
universal que nas relaes entre indivduos, de tal forma que uma premissa
valha para toda a humanidade. A Declarao dos Direito Humanos baseia-se
nestes moldes do conceito de Justia, na qual traa direitos universais,
essenciais e valorativos.
Podemos falar em Justia no mesmo sentido de direito, quando quere-
mos dizer que no direito viver na misria e que no direito roubar, pois
queremos dizer que no justo viver na misria e que no justo roubar; j
quando dizemos que pagamento direito do credor ou educao direito
das crianas, temos em mente o sentido de que os bens pagamento e edu-
cao so devidos, por justia, s pessoas mencionadas (MONTORO, 2005).
15
Livro_legislacao_katia.indb 15 20/11/2014 09:58:49
Introduo ao Direito
Nas palavras de Pedro (2006, p. 13), Direito :
Destaco que o direito no apenas um conjunto de regras. muito
mais do que isso. As regras, escritas (leis), so um dos instrumentos de
aplicao e atuao do direito, que se vale de outros componentes em
sua configurao. Temos assim, ao lado das leis, a doutrina, a jurispru-
dncia, os costumes, os princpios gerais, que, somados, compem o
conceito de Direito. E esses elementos, em conjunto, aplicados, bus-
cam atingir o ideal supremo, que a obteno da justia.
Desta forma, podemos entender que o Direito mais um instrumento
que procura regular e ordenar as relaes da vida humana que apenas um con-
junto esttico de regras. No entanto, regula determinados tipos de relaes
humanas: as que podem ser consideradas como vnculos jurdicos. Como
observa Reale (1995), quando os romanos ensinavam que a Justia funda-
mentum regni, estavam, por certo, concebendo uma ideia de Direito como
condio de vida, visando a realizao de fins no jurdicos. Talvez a grandeza
da Justia consista exatamente no fato de ser o fundamento para o desenvol-
vimento das demais virtudes. Para Reale (1995, p. 59):
Todas as regras sociais ordenam a conduta, tanto as morais como as
jurdicas e as convencionais ou de trato social. A maneira, porm,
dessa ordenao difere de uma para outra. prprio do Direito orde-
nar a conduta de maneira bilateral e atributiva, ou seja, estabelecendo
relaes de exigibilidade segundo uma proporo objetiva. O Direito,
porm, no visa a ordenar as relaes dos indivduos entre si para
satisfao apenas dos indivduos, mas, ao contrrio, para realizar uma
convivncia ordenada, o que se traduz na expresso: bem comum.
O bem comum no a soma dos bens individuais, nem a mdia do
bem de todos; o bem comum, a rigor, a ordenao daquilo que cada
homem pode realizar sem prejuzo do bem alheio, uma composio
harmnica do bem de cada um com o bem de todos.
Portanto, podemos entender que o objetivo maior do Estado visar e
manter o interesse do bem pblico. Esta finalidade do Estado faz com que ele
seja o detentor do monoplio estatal do uso da fora como pessoa jurdica de
direito interno, o que significa dizer que tem personalidade legal e jurdica
por determinao de lei. Da advm o Direito Positivo, que nasce juntamente
com a ideia de Estado Moderno, no qual o poder estatal regula determinadas
condutas dos indivduos. Lembremos que o terico que primeiro conceituou
o Estado Moderno foi Nicolau Maquiavel, diferenciando o Estado Moderno
do estado de natureza. Enquanto no estado de natureza o homem vive sem
16
Livro_legislacao_katia.indb 16 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Estudo do Direito
regras em um estado animalesco, porque age conforme seus sentimentos
e impulsos , no Estado Moderno, o homem vive conforme regras que o
mantm civilizado. Esse Estado Moderno detm a soberania estatal e a fora.
Podemos entender o Direito como um conceito mais amplo que
o Direito Positivo, como analisa Castro (2007, p. 2), ao considerar que o
homem no existe sem o Direito e o Direito no existe sem o homem:
Entende-se, em sentido comum, o Direito como sendo o conjunto
de normas para a aplicao da justia e a minimizao de conflitos de
uma dada sociedade. Estas normas, estas regras, esta sociedade no
so possveis sem o Homem, porque o Ser Humano quem faz o
Direito e para ele que o Direito feito.
Assim, Ro (1991, p. 31) entende por Direito:
o direito um sistema de disciplina social fundado na natureza
humana que, estabelecendo nas relaes entre os homens uma pro-
poro de reciprocidade nos poderes e deveres que lhes atribui,
regula as condies existenciais dos indivduos e dos grupos sociais
e, em conseqncia, da sociedade, mediante normas coercitivamente
impostas pelo poder pblico.
Embora haja um grande nmero de definies sobre o que entendemos
hoje por Direito, no podemos deixar de lado os fatos histricos e sociais.
Desta forma, Venosa (2005, p. 32) lembra-nos que:
[...] o direito uma realidade histrica, um dado contnuo, provm
da experincia. S h uma histria e s pode haver uma acumula-
o de experincia valorativa na sociedade. No existe Direito fora
da sociedade. (ubi societas, ibi ius, onde existe a sociedade, existe o
direito). Da dizer-se que no Direito existe o fenmeno da alteridade,
isto , da relao jurdica. S pode haver direito onde o homem, alm
de viver, convive. Um homem que vive s, em uma ilha deserta, no
alcanado, em princpio, pelo Direito, embora esse aspecto moderna-
mente tambm possa ser colocado em dvida. H, portanto, particu-
laridades que distinguem a cincia do Direito das demais.
J Kelsen (2006, p. 33) acrescenta o entendimento de sistema para defi-
nir o que Direito:
[...] o direito uma ordem da conduta humana. Uma ordem um
sistema de regras. O Direito no , como s vezes se diz, uma regra.
um conjunto de regras que possui o tipo de unidade que entende-
mos por sistema. impossvel conhecermos a natureza do Direito
17
Livro_legislacao_katia.indb 17 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Direito
se restringirmos nossa ateno a uma regra isolada. As relaes que
concatenam as regras especficas de uma ordem jurdica tambm so
essenciais natureza do Direito. Apenas com base numa compreenso
clara das relaes que constituem a ordem jurdica que a natureza do
Direito pode ser plenamente entendida.
Desta maneira, percebemos que a definio de Direito bastante com-
plexa e, por isso mesmo, h uma grande diversidade de descries, pelos
autores, do seu significado. Montoro (2005) traz uma diviso do conceito de
Direito segundo o seu entendimento, analisando as diferentes concepes da
palavra Direito segundo cinco expresses:
1. o direito no permite o duelo; consequentemente, podemos
entender esta expresso como norma: neste caso, o Direito a lei, a
regra social obrigatria. Assim, quando dissemos o direito nos per-
mite contratar, estamos relacionando uma norma, uma sentena
que nos permite, ou no, praticar determinado ato.
2. o Estado tem o direito de legislar; esta expresso nos remete ao
conceito de Direito como faculdade estamos revelando a facul-
dade, a liberdade que o Estado possui de criar leis a fim de organizar
a convivncia em sociedade. Como exemplo, podemos observar, na
Constituio Federal brasileira de 1988, em seu Art. 22:
Compete privativamente Unio legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrrio, mar-
timo, aeronutico, espacial e do trabalho;
II - desapropriao;
III - requisies civis e militares, em caso de iminente perigo e em
tempo de guerra;
[...]
3. a educao direito da criana; esta expresso nos revela o sentido
de Direito como sinnimo de justo, ou por Justia. Tambm na
Constituio Federal de 1988, em seu art. 5o, caput, afirmado que,
[...] todos so iguais perante a lei, sem distino de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pas a
inviolabilidade do direito vida, liberdade, igualdade, segurana
e propriedade [...].
18
Livro_legislacao_katia.indb 18 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Estudo do Direito
4. cabe ao direito estudar a criminalidade. No caso desta expresso,
o conceito de Direito refere-se ao Direito como Cincia do Direito,
pois prope estudar, com metodologia e rigor cientifico, os aspectos
e fenmenos sociais que do origem ao surgimento do direito como
norma e da regulamentao das relaes sociais. Assim, o direito
como cincia tem a finalidade de estudar o dever-ser jurdico, ou
seja, investigar e estudar as normas jurdicas, situando-as no tempo e
no espao. Venosa (2005, p. 34) contribui afirmando que: Direito
cincia do deve ser que se projeta necessariamente no plano da
experincia. Para cada um receber o que seu, o Direito coercvel,
isto , imposto sociedade por meio de normas de conduta.
5. o direito constitui um setor da vida social, nesta ltima expresso
de Montoro, Direito significa fato social: o Direito um fenmeno
da vida coletiva, j que um dos setores da vida social, ao lado dos
fatos econmicos, sociais, culturais, entre outros. Este aspecto do
Direito sempre existiu, uma vez que nas relaes humanas sempre
existiram regras de conduta, ainda que primitivas.
Os significados exibidos aqui so apenas uma parte das possibilidades
de definies do Direito. Em outras reas do saber, a palavra indica reta
(segmento direito), perfeio aritmtica (clculo direito), perfeio moral
(homem direito) ou, simplesmente, um dos lados de qualquer coisa (lado
direito, oposto ao esquerdo) (BETIOLI, 2013).
Mas por que estudar Direito?
Porque a vida em sociedade regida por
regras sociais e de DIREITO.
Porque o DIREITO tem a Porque os negcios
funo de garantir a empresariais na atualidade
paz e o equilbrio da so fortemente regidos
sociedade. pelo DIREITO.
Porque uma cincia que se entrelaa com
todos os demais ramos do conhecimento.
19
Livro_legislacao_katia.indb 19 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Direito
1.2.2 O que Norma
Podemos dizer que a Norma Jurdica a estrutura fundamental do
Direito, na qual esto estampados preceitos e valores que construiro ordem
jurdica. Ela o elemento responsvel por regular o comportamento do
homem, ao mesmo tempo em que consolida enunciados, determinando em
grande medida a organizao da sociedade e do Estado. Como caracterizou
Dal Vecchio (1953), a Norma Jurdica a coluna vertebral do corpo social.
A Norma Jurdica, alm de ordenar, expressa um valor que estabelecido
previamente por meio da prpria norma.
Nem toda norma jurdica: h as normas no jurdicas que so ape-
nas morais, de costume ou de conduta, por exemplo. Quando falamos em
normas no jurdicas, nos referimos norma no sentido de regra em geral;
quando falamos em normas jurdicas, nos referimos norma em sentido
de regra em um mbito estatal, da qual decorre uma imposio por parte do
Estado, que implica, no mais das vezes, em uma sano.
Geralmente, a Norma Jurdica acarreta como consequncia uma sano,
aplicada quando h o no cumprimento de seu enunciado. Essa sano
decorrente, por sua vez, de uma coao externa, porque advm do Estado
por meio do ordenamento jurdico. enquanto as normas puramente morais
podem acarretar algum tipo de coao mas esta de carter interno, do
prprio indivduo, advm da conscincia desse indivduo.
H tericos do Direito que argumentam que a sano o elemento
intrnseco e constituidor da Norma Jurdica. Isso significa dizer que em toda
Norma Jurdica implicaria uma sano ou que o ordenamento jurdico estaria
fundado na ideia de sano. Mas para outros tericos do Direito, pode haver
Norma Jurdica sem implicar em uma sano como defende o terico Hans
Kelsen. Ele esclarece muito bem que a existncia de normas jurdicas que no
acarretam sano um fato que no pode ser ignorado. Desta forma, pode-
mos dar exemplos destas, como a parte que diz respeito organizao dos
poderes do Estado na Constituio, no caso especfico da nossa Constituio
Federal de 1988 esta parte encontra-se em seu Ttulo III.
Diniz (2010, p. 387) ressalta que: Todas as normas so imperativas
porque fixam as diretrizes da conduta humana [...], pois tanto a Norma Jur-
dica quanto a norma moral constituem norma de comportamento. Porm,
20
Livro_legislacao_katia.indb 20 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Estudo do Direito
somente a Norma Jurdica tem a caracterstica autorizante, o que significa
dizer que ela tem o poder de autorizar o cumprimento do dever. Desta
forma, podemos dizer que essa caracterstica autorizante d Norma Jur-
dica o poder de obrigatoriedade. A autora conceitua a Norma Jurdica como
sendo bilateral.
A norma jurdica , por conseguinte, bilateral, porque se dirige a duas
pessoas. De um lado, como imperativo, impe dever a determinada
pessoa, dizendo o que ela deve fazer; de outro lado, autoriza o lesado
pela sua violao a exigir o dever. bilateral por ser imperativa e auto-
rizante, exemplificativamente: se algum paga sua dvida e o credor se
recusa a dar-lhe quitao, estar ele violando uma norma do Cdigo
Civil (art. 319). Em consequncia, o lesado tem a autorizao de exi-
gir dele, por meio do poder pblico, o cumprimento dessa norma e a
quitao negada. (DINIZ, 2010, p. 387).
Desta definio de Diniz, podemos dizer que a Norma Jurdica d ao
indivduo o poder de exigir o cumprimento do dever no momento em que a
outra parte no o cumpre ou o desobedece. Seria como se a Norma Jurdica
emprestasse o poder momentaneamente ao indivduo, e esse poder, que
do Estado, estende-se provisoriamente ao indivduo por meio do Direito.
Podemos confundir norma, regra e lei. Isto acontece porque, em pri-
meiro lugar, no sentido comum, ns acabamos utilizando como sinnimos
no cotidiano; e, em segundo lugar, porque na prpria doutrina jurdica os
autores divergem quanto a algumas diferenas e semelhanas desses conceitos
em certa medida, esses termos se equivalem.
Para Venosa (2003, p. 37): Lei uma regra geral de direito, abstrata
e permanente, dotada de sano, expressa pela vontade de uma autoridade
competente, de cunho obrigatrio e deforma escrita.
Machado (2000, p. 72) enfatiza a diferena entre norma e lei quando
diz que: [...] a diferena entre norma e lei fica bem clara quando se constata
que a norma um conceito de teoria Geral do Direito, ou de Lgica Jurdica,
enquanto lei um conceito de Direito Positivo.
Podemos dizer que toda lei, em sentido amplo, tem como caracterstica
ser uma regra que implica na necessidade. H duas espcies de leis: as leis
naturais e as leis jurdicas. No podemos dizer que toda lei uma norma,
porque a norma um tipo de regra que se refere apenas s aes humanas.
21
Livro_legislacao_katia.indb 21 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Direito
Desta forma, no podemos dizer que as leis da Fsica so normas, pois, alm
de no se referirem s aes humanas, elas dizem respeito ao o que , no ao
que deve ser. As leis jurdicas determinam o que deve ser, por este motivo,
ela uma norma prescritiva, ela prescreve a conduta.
A fim de encerrar nossa anlise sobre o conceito de Norma Jurdica,
citaremos mais algumas definies de tericos do Direito para complementar
e cercar suas caractersticas. Montoro (2005, p. 361) define que: A norma
jurdica , em primeiro lugar, uma regra de conduta social. Seu objetivo
regular a atividade dos homens em relaes sociais.
Machado (2004, p. 88) complementa que as normas jurdicas:
[...] so prescries jurdicas de carter hipottico e eficcia repetitiva.
Elas prescrevem comportamentos para situaes descritas em carter
hipottico. Em outras palavras, elas fazem a previso de condutas a
serem adotadas nas situaes que descrevem hipoteticamente.
Para Ferraz Jr. (1996, p. 115), a Norma Jurdica um fenmeno complexo
[...] de expectativas contrafticas, que se expressam por meio de
proposies de dever-ser (deve, obrigatrio, proibido, permi-
tido, facultado), estabelecendo-se entre os comunicadores sociais
relaes complementares institucionalizadas em alto grau (relao
meta-complementar de autoridade/sujeito), cujos contedos tem um
sentido generalizvel conforme ncleos significativos mais ou me-
nos abstratos.
A definio de Reale (2001, p. 88) sobre as Normas Jurdicas :
O que efetivamente caracteriza uma norma jurdica, de qualquer esp-
cie, o fato de ser uma estrutura proposicional enunciativa de uma
forma de organizao ou de conduta, que deve ser seguida de maneira
objetiva e obrigatria. [...] Dizemos que a norma jurdica uma
estrutura proposicional porque o seu contedo pode ser enunciado
mediante uma ou mais proposies entre si correlacionadas, sendo
certo que o significado pleno de uma regra jurdica s dado pela
integrao lgico-complementar das proposies que nela se contm.
Destacamos tambm a definio de Diniz (2010, p. 342), ao dizer que:
O fundamento das normas est na exigncia da natureza humana
de viver em sociedade, dispondo sobre o comportamento dos seus
membros. As normas so fenmenos necessrios para a estruturao
ntica do homem. E como a vida do grupo social est intimamente
22
Livro_legislacao_katia.indb 22 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Estudo do Direito
ligada disciplina das vidas individuais, elas fundam-se tambm na
necessidade de organizao na sociedade, exatamente porque no h
sociedade sem normas de direito, que tm por objetivo uma ao
humana, obrigando-a, permitindo-a ou proibindo-a.
Para alguns tericos do Direito, uma norma, para ser considerada jurdica,
ou seja, ser uma regra jurdica, precisa obedecer a trs critrios: ser vlida, ter
vigncia e ser eficaz. Para outros tericos do Direito, como Kelsen e Bobbio,
a Norma Jurdica deve ter correspondncia com o que se entende por justia,
deve ter validade e deve ser eficaz. Veremos essas caractersticas da Norma
Jurdica com mais detalhes posteriormente. Segundo Vasconcelos (1993,
p. 163), para classificar as normas necessrio considerar os seguintes critrios:
[...] quanto destinao (normas de Direito e normas de Sobredi-
reito), quanto ao modo de existncia (normas explcitas e normas
implcitas), quanto fonte (teorias de Kelsen e Savigny, apontando
como formas de expresso do Direito ou normas jurdicas, a lei, o cos-
tume, a jurisprudncia, a doutrina e os princpios gerais do direito),
quanto matria (normas de Direito Pblico, normas de Direito Pri-
vado e normas de Direito Social).
1.2.2.1 Classificao das Normas Jurdicas
Classificar as normas jurdicas no um trabalho fcil, pois na doutrina
do Direito h vrios tipos e modos de classificaes. Desta forma, mostra-
remos a classificao que Diniz faz em relao s normas jurdicas, pois esta
terica do Direito tem relevncia na doutrina jurdica e sua classificao
muito completa.
Para Diniz (2010), as Normas Jurdicas so classificadas em sete catego-
rias e cada uma delas apresenta suas especificidades. Veja a seguir, de forma
resumida, como a autora faz esta classificao.
I. Quanto imperatividade:
1. imperatividade absoluta, ou impositiva so de ordem
pblica, pois tutelam interesses fundamentais, ligados ao bem
comum; ordenam ou probem de modo absoluto, podendo ser
de ordem positiva ou negativa;
2. imperatividade relativa, ou dispositiva no ordenam nem
probem de modo absoluto, podendo ser permissivas por
23
Livro_legislacao_katia.indb 23 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Direito
consentir ao ou absteno; podem tambm ser supletivas,
quando suprem a falta de manifestao de vontade das
partes, e pode tornar-se impositiva em razo da doutrina e
da jurisprudncia.
II. Quanto ao autorizamento:
1. mais que perfeitas autorizam a nulidade do ato praticado
ou o restabelecimento da situao anterior e tambm a aplica-
o de uma pena ao violador;
2. perfeitas autoriza a declarao da nulidade do ato ou a pos-
sibilidade de anulao do praticado contra sua disposio, e
no a aplicao de pena ao violador;
3. menos que perfeitas as que autorizam a aplicao de pena
ao violador, mas no a nulidade ou anulao do ato que as
violou;
4. imperfeitas aquelas cuja violao no acarreta qualquer con-
sequncia jurdica.
III. Quanto hierarquia:
1. normas constitucionais;
2. leis complementares;
3. leis ordinrias, leis delegadas, medidas provisrias, decretos
legislativos e resolues;
4. decretos regulamentares;
5. normas internas (despachos, estatutos, regimentos etc.);
6. normas individuais (contratos, testamentos, sentenas etc.).
IV. Quanto natureza de suas disposies:
1. substantivas regulam relaes jurdicas ou criam direitos e
impem deveres;
2. adjetivas as que regulam o modo ou o processo de efetivar as
relaes jurdicas.
24
Livro_legislacao_katia.indb 24 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Estudo do Direito
V. Quanto aplicao:
1. de eficcia absoluta contm fora paralisante total;
2. de eficcia plena disciplinam as relaes jurdicas;
3. de eficcia relativa restringvel tem seu alcance reduzido pela
atividade legislativa, sendo que a possibilidade de produzir
efeitos imediata;
4. de eficcia relativamente complementvel se a possibilidade
de produzir efeitos mediata, dependendo de norma posterior
que lhe devolva a eficcia.
VI. Quanto ao poder de autonomia legislativa:
1. nacionais e locais;
2. federais, estaduais e municipais.
VII. Quanto sistematizao:
1. esparsas ou extravagantes (lei do inquilinato, do salrio-famlia
etc.);
2. codificadas (Cdigo Tributrio Nacional, Cdigo Civil,
Cdigo Penal etc.);
3. consolidadas (Consolidao das Leis do Trabalho etc.).
Para percebermos com mais clareza que a classificao das normas jur-
dicas difere na doutrina jurdica entre os tericos do Direito, mostraremos a
classificao de Mynez apontada por Nader (2012), como voc pode ver no
quadro a seguir:
Classificao das Normas Jurdicas quanto...
ao sistema a que per-
Podem ser nacionais, estrangeiras e de Direito uniforme.
tencem.
Podem ser legislativas, consuetudinrias e
fonte.
jurisprudenciais.
25
Livro_legislacao_katia.indb 25 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Direito
Classificao das Normas Jurdicas quanto...
mbito espacial de validez: gerais e locais. mbito
temporal de validez: de vigncia por prazo indeterminado
aos diversos mbitos
e de vigncia por prazo determinado. mbito material de
de validez.
validez: normas de Direito Pblico e de Direito Privado.
mbito pessoal de validez: genricas e individualizadas.
Dividem-se em: constitucionais, complementares,
hierarquia.
ordinrias, regulamentares e individualizadas.
Dividem-se em: leges perfectae, leges plus quam per-
sano.
fectae, leges minus quam perfectae, leges imperfectae.
Podem ser: positivas (ou permissi-
qualidade.
vas) e negativas (ou proibitivas).
Primrias e secundrias. As secundrias so das
s relaes de com- espcies: a) de iniciao, durao e extino da
plementao. vigncia; b) declarativas ou explicativas; c) per-
missivas; d) interpretativas; e) sancionadoras.
vontade das partes. Dividem-se em taxativas e dispositivas.
Fonte: Adaptado de NADER, 2012.
No entendimento de Reale (2001, p. 89) sobre a classificao das nor-
mas, podemos relatar que:
[...] h regras de direito cujo objetivo imediato disciplinar o com-
portamento dos indivduos, ou as atividades dos grupos e entidades
sociais em geral; enquanto que outras possuem um carter instrumen-
tal, visando estrutura e funcionamento de rgos, ou disciplina de
processos tcnicos de identificao e aplicao de normas, a fim de
assegurar uma convivncia juridicamente ordenada. Surge, desse fato,
a tendncia natural a considerar primrias as normas que enunciam
as formas de ao ou comportamento lcitos ou ilcitos; e secundrias
as normas de natureza instrumental.
Ao analisarmos a diferena existente entre a classificao das normas
jurdicas, podemos dizer que no h um padro estabelecido pela doutrina
em relao unificao dessa classificao. Quanto desigualdade nos termos
classificatrios, Vasconcelos (1993, p. 163) afirma que:
26
Livro_legislacao_katia.indb 26 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Estudo do Direito
[...] tal diversidade classificatria no decorre de meras razes pessoais
de ordem doutrinria e que, mesmo restritas ao meio acadmico tais
classificaes no perdem sua importncia, j que se tornam indispen-
sveis do ponto de vista da prtica jurdica, por motivos metodolgi-
cos de ordenao dos conhecimentos.
As classificaes aqui apresentadas, de Diniz e de Mynez, abrangem
apenas duas perspectivas acerca das diferentes maneiras de classificar uma
Norma Jurdica. Desta forma, no esgotam o assunto; pelo contrrio, nos
mostra que o tema muito amplo, com muitas discusses.
1.2.2.2 Validade, vigncia e eficcia da Norma Jurdica
Em relao validade da Norma Jurdica, podemos dizer que esta uma
qualidade prpria. Para se caracterizar assim, necessrio que essa norma seja
vlida de acordo com o ordenamento jurdico em que se insere. Por meio desta
perspectiva, Ferraz Jr. (2008, p. 71) define a validade da Norma Jurdica:
Validade uma qualidade da norma que designa sua pertinncia
ao ordenamento, por terem sido obedecidas as condies formais e
materiais de sua produo e consequente integrao no sistema. Por
sua vez, a vigncia seria uma qualidade da norma que diz respeito
ao tempo de validade, ao perodo que vai do momento em que ela
entra em vigor (passa a ter fora vinculante) at o momento em que
revogada/extinta.
Quando falamos que a norma tem fora vinculante, queremos dizer que
ela foi aprovada juridicamente, contendo fora de lei, e que essa fora se
estende aos terceiros, que so todos os cidados de determinado territrio
cujo ordenamento est em vigor. Portanto, a qualidade de ser vlida essen-
cial para que a norma se torne uma norma efetivamente jurdica e que seja
absorvida pelo ordenamento jurdico. Essa fora vinculante depende do
cumprimento de todas as etapas legais, como ressalta Venosa (2007, p. 103):
[...] para sua validade, necessrio que todas as etapas legais de sua elabora-
o tenham sido obedecidas.
Para Vasconcelos (1993, p. 225-226), a validade da Norma Jurdica
uma categoria cuja anlise e aprovao uma questo formal.
Na categoria da validade, examinam-se as condies existenciais da
norma jurdica, o que requer apenas o emprego de critrios tcnicos,
sendo tal abordagem, portanto, eminentemente formal. Pretende-se
27
Livro_legislacao_katia.indb 27 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Direito
apurar se a norma, de que se trata, formalmente boa, a saber, se
admite as provas de aferio relativas juridicidade, positividade,
vigncia e eficcia. Da norma que resistir a tal anlise, s se pode
afirmar, ainda, que existe validamente como norma jurdica.
A aprovao formal desta norma o que corresponde a sua validade
torna-lhe uma regra jurdica ou, como vimos, torna-lhe uma norma com
fora vinculante. Em relao a esta formalizao e objetivao, por assim
dizer, da Norma Jurdica, Bobbio (2005, p. 46-47) expressa muito bem a
diferena entre uma anlise formal e uma moral.
Enquanto para julgar a justia de uma norma, preciso compar-la
a um valor ideal, para julgar a sua validade preciso realizar investi-
gaes do tipo emprico-racional, que se realizam quando se trata de
estabelecer a entidade e a dimenso de um evento.
J o professor e desembargador Rizzatto Nunes (2001, p. 5) atribui
validade da norma tanto ao aspecto tcnico-jurdico, ou formal, quanto ao
aspecto da legitimidade, conforme exposto:
No primeiro caso, fala-se de a norma jurdica ser vlida quando criada
segundo os critrios j estabelecidos no sistema jurdico [...] No
outro, fala-se do fundamento axiolgico, cuja incidncia tica seria a
condio que daria legitimidade norma jurdica, tornando-a vlida.
Para Diniz (2010), a validade da Norma Jurdica obedece a trs requisi-
tos necessrios. Em primeiro lugar, a validade jurdica tem carter formal, ou
tcnico-jurdica, por conta da vigncia; em segundo, a validade tem carter
ftico, por conta da eficcia; e em terceiro, a validade da Norma Jurdica tem
carter tico, por conta do fundamento axiolgico. Montoro (1973, p. 146)
segue esta mesma posio de Diniz quando afirma que a validade da Norma
Jurdica tambm se relaciona com o carter tico, ao dizer que: Toda norma
jurdica tem, assim, um mbito temporal, espacial, material e pessoal, dentro
dos quais ela tem vigncia ou validade.
Porm, importante ressaltar que, na viso de Diniz, a validade pode
ser entendida como um gnero da Norma Jurdica e que a justia, a eficcia
e a vigncia so espcies deste gnero. A validade como gnero conteria, de
certa forma, os elementos vigncia, eficcia e justia. J para outros tericos
do Direito, a validade, a justia e a eficcia estariam no mesmo nvel de clas-
sificao referentes Norma Jurdica e seriam critrios de valorao, como
entendem Kelsen (2000) e Bobbio (1997).
28
Livro_legislacao_katia.indb 28 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Estudo do Direito
Para Kelsen (2000), estes trs elementos so independentes entre si, pois
uma norma, segundo ele, pode ser justa sem ser vlida, pode tambm ser
vlida sem ser justa, pode ser vlida sem ser eficaz, pode ser eficaz sem ser
vlida, pode ser justa sem ser eficaz e pode ser eficaz sem ser justa. Na viso de
Bobbio (1997), ao tratar da soluo dos conflitos gerados pela antinomia de
duas normas vlidas, a existncia de quatro mbitos distintos de validade da
Norma Jurdica so apontados: temporal, espacial, pessoal e material.
A questo da validade jurdica das normas e do ordenamento jurdi-
cos uma questo zettica, portanto uma questo aberta. Do ngulo
dogmtico, a questo fechada. Por isso, sua formulao diferente.
Em vez de se perguntar que validade e como se define validade jur-
dica, pergunta-se pela identificao da validade das normas de dado
ordenamento Oproblema dogmtico da validade das normas ,pois,
questo deidentific-las noordenamento brasileiro, alemo, francs,
americano etc. A questo tecnolgica. Nessesentido, a validadedas
normas do ordenamento brasileiro no definida, mas assinalada:
cumpre ao dogmtico mostr-la e, senecessrio, demonstr-la. (FER-
RAZ JR., 1994, p. 196).
Como vimos, para Diniz (2006, p. 393-394), a vigncia um aspecto
da validade formal. Desta forma, so elencados trs aspectos fundamentais, os
quais so primeiramente classificados por Reale, para que a vigncia se efetue:
1o) elaborao por um rgo competente, que legtimo por
ter sido constitudo para tal fim;
2o) competncia ratione materiae do rgo, isto , a matria objeto da
norma deve estar contida na competncia do rgo;
3o) observncia dos processos ou procedimentos estabelecidos em lei
para sua produo. (DINIZ, 2006, p. 394).
interessante acrescentarmos como o jurista e filsofo Hans Kelsen
(2000, p. 11) define vigncia:
Com a palavra vigncia designamos a existncia especfica de uma
norma. Quando descrevemos o sentido ou o significado de um ato
normativo dizemos que, com o ato em questo, uma qualquer con-
duta humana preceituada, ordenada, prescrita, exigida, proibida; ou
ento consentida, permitida ou facultada. Se, como acima propusemos,
empregarmos a palavra dever ser num sentido que abranja todas estas
significaes, podemos exprimir a vigncia (validade) de uma norma
dizendo que certa coisa deve ou no deve ser, deve ou no ser feita.
29
Livro_legislacao_katia.indb 29 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Direito
Quando Kelsen (2000) se refere existncia da norma, ele quer dizer
que a sua vigncia est diretamente relacionada com a sua durao no tempo,
pois podemos dizer que a norma tem um incio, assim como tem um fim. Da
mesma forma que a vigncia confere norma carter de validade, o dever
ser da norma tambm configura validade a esta, desde que este dever ser
tenha uma consequncia vinculante entre o contedo da norma e a Norma
Fundamental, e que estejam ligadas a um ordenamento vlido. Sobre o con-
ceito de Norma Fundamental, estudaremos mais adiante.
Podemos citar mais um terico do Direito a fim de encerrarmos nossa an-
lise acerca do conceito de vigncia. Carvalho (1999, p. 82), por sua vez, explica:
Viger ter fora para disciplinar, para reger, cumprindo a
norma seus objetivos finais. A vigncia propriedade das
regras jurdicas que esto prontas para propagar efeitos, to
logo aconteam, no mundo ftico, os eventos que elas des-
crevem. H normas que existem e que, por conseguinte, so
vlidas no sistema, mas no dispem dessa aptido. A despeito
de ocorrerem os fatos previstos em sua hiptese, no se desen-
cadeiam as consequncias estipuladas no mandamento. Dizemos
que tais regras no tm vigor, seja porque j o perderam, seja porque
ainda no o adquiriram.
O que Carvalho quer dizer com vigor, podemos entender como eficcia.
Bobbio (2005, p. 47) bem explica que: [...] o problema da eficcia da norma
o problema de ser ou no ser seguida pelas pessoas a quem dirigida [...],
pois h normas que podem ser vigentes mas, ao mesmo tempo, no serem
eficazes, por exemplo, algumas leis ambientais e algumas normas do antigo
Cdigo Penal brasileiro.
Podemos dizer tambm que h graus diferentes de eficcia. Quando,
por exemplo, uma norma seguida espontaneamente e de maneira universal,
falamos que ela mais eficaz; quando as normas esto munidas de coao
e s por esta razo so seguidas, dizemos que elas so apenas eficazes; mas
quando uma norma no obedecida nem quando impem sanso, falamos
que esta norma ineficaz.
Diniz (2010, p. 396-397) classifica a eficcia em quatro tipos: a eficcia
absoluta, que so as insuscetveis de emenda (p. ex.: CF, arts. 1o, 2o, 5o, I, a
LXXVII, e 14); a eficcia plena, que disciplina as relaes jurdicas (p. ex.:
30
Livro_legislacao_katia.indb 30 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Estudo do Direito
arts. 14, , 69, 155 e 156 da Constituio Federal); a eficcia relativa restrin-
gvel, que tem seu alcance reduzvel pela atividade legislativa (p. ex.: CF, arts.
5o, XII e LXVI, 139 e 170); a eficcia relativa complementvel, na qual sua
possibilidade de produzir efeitos mediata (p. ex.: arts. 205 e 218 da CF).
Ao analisarmos a eficcia da norma, devemos considerar dois segmentos,
que so a eficcia social e a jurdica. Assim elucida Ferraz Jr. (2008):
Eficcia uma qualidade da norma que se refere possibilidade de
produo concreta de efeitos, porque esto presentes as condies
fticas exigveis para sua observncia, espontnea ou imposta, ou para
satisfao de objetivos visados (efetividade ou eficcia social), ou por-
que esto presentes as condies tcnico-normativas exigveis para sua
aplicao (eficcia tcnica).
De forma muito clara, Diniz (2010, p. 407) define, ao explicar eficcia
social: A eficcia social seria a efetiva correspondncia da norma ao querer
coletivo, ou dos comportamentos sociais ao seu contedo.
Segundo Silva (1999, p. 65), a eficcia social:
[...] designa uma efetiva conduta acorde com a prevista pela
norma; refere-se ao fato de que a norma realmente obedecida
e aplicada; nesse sentido, a eficcia da norma diz respeito, como
diz Kelsen, ao fato real de que ela efetivamente aplicada e
seguida, da circunstncia de uma conduta humana conforme
norma se verificar na ordem dos fatos. o que tecnicamente
se chama efetividade da norma. Eficcia a capacidade de atin-
gir objetivos previamente fixados como metas.
Ainda Silva (1999, p. 66), referindo-se eficcia jurdica, afirma que:
[...] se diz que a eficcia jurdica da norma designa a qualidade de
produzir em maior ou menor grau, efeitos jurdicos, ao regular, desde
logo, as situaes, relaes e comportamentos de que cogita; nesse
sentido, a eficcia diz respeito aplicabilidade, exigibilidade ou exe-
cutoriedade da norma, como possibilidade de sua aplicao jurdica.
Diniz (1995) nos apresenta a interao entre vigncia, validade e efic-
cia. Como se v, a eficcia condio da validade na sua teoria, pois a eficcia
a validade ftica; a eficcia seria uma espcie de validade.
A eficcia de uma norma consiste em que esta , em geral, efetiva-
mente cumprida e, se no cumprida, aplicada. A validade consiste
31
Livro_legislacao_katia.indb 31 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Direito
em que a norma deve ser cumprida, ou, se no o for, deve ser apli-
cada. Assim, se uma norma probe matar animal de uma certa espcie,
ao ligar a tal matar uma pena como sano, perderia sua validade se
aquela espcie de animal desaparecesse e, por conseguinte, no fosse
possvel nem o cumprimento nem a aplicao da norma jurdica.
(DINIZ, 1995, p. 47).
Bobbio (1997, p. 47) nos explica que:
No nossa tarefa aqui indagar quais possam ser as razes para que
uma norma seja mais ou menos seguida. Limitamo-nos a consta-
tar que h de existir normas que so seguidas universalmente de
modo espontneo (e so as mais eficazes), outras que so seguidas na
generalidade dos casos somente quando esto providas de coao, e
outras, enfim, que so violadas sem que nem sequer seja aplicada
a coao (e so as mais ineficazes). A investigao para averiguar a
eficcia ou a ineficcia de uma norma de carter histrico-socio-
lgico, se volta para o estudo do comportamento dos membros de
um determinado grupo social e se diferencia, seja da investigao
tipicamente filosfica em torno da justia, seja da tipicamente jur-
dica em torno da validade. Aqui tambm, para usar a terminologia
douta, se bem que em sentido diverso do habitual pode se dizer que
o problema da eficcia das regras jurdicas o problema fenomeno-
lgico do direito.
Porm, como h os tericos que aceitam que h Norma Jurdica mesmo
com graus diferentes de eficcia e que uma Norma Jurdica pode ser dita
ineficaz, como visto anteriormente em Bobbio (1995), h outros teri-
cos, como Reale (1998), que denominam como Norma Jurdica apenas
se nela contiver um mnimo de eficcia; se ela for ineficaz, j por defini-
o, no ser uma Norma Jurdica. No entendimento de Reale (1998, p.
112), A eficcia se refere, pois, aplicao ou execuo da norma jur-
dica, ou por outras palavras, a regra jurdica enquanto momento da
conduta humana.
Nas palavras de Reale (1998, p. 112):
O certo , porm, que no h norma jurdica sem um mnimo de
eficcia, de execuo ou aplicao no seio do grupo.
O Direito autntico no apenas declarado, mas reconhecido,
vivido pela sociedade, como algo que se incorpora e se integra na sua
maneira de conduzir- se. A regra de direito deve, por conseguinte, ser
formalmente vlida e socialmente eficaz.
32
Livro_legislacao_katia.indb 32 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Estudo do Direito
Desta forma, para este autor, a Norma Jurdica caracteriza-se como
tal somente a partir da existncia destes dois fatores: validade e eficcia,
pois, para ele, estes elementos seriam inseparveis, ao se tratar de Nor-
ma Jurdica.
Para Diniz, alm da eficcia e da vigncia, a justia outro elemento ou
uma espcie de validade da Norma Jurdica. Para a autora, a justia corres-
ponde validade tica e ao fundamento axiolgico da Norma Jurdica.
Quanto a isso, esperamos ter exposto os principais critrios de classifi-
cao das normas jurdicas. Existem diversos critrios e vrias outras inter-
pelaes que podem ser analisveis, pois a doutrina jurdica, assim como a
cincia do Direito, procura, como prioridade, solucionar conflitos e definir
conceitos jurdicos.
1.2.3 Teoria da Norma Fundamental
A teoria da Norma Fundamental foi criada por Kelsen e trata-se da ideia de
uma norma que serve como fundamento ou base para todas as outras normas do
mesmo ordenamento. Conforme apresentado por Kelsen (1998, p. 136):
A norma fundamental a fonte comum da validade de todas as nor-
mas pertencentes a uma e mesma ordem normativa, o seu funda-
mento de validade comum. O fato de uma norma pertencer a uma
determinada ordem normativa baseia-se em que o seu ltimo funda-
mento de validade a norma fundamental desta ordem. a norma
fundamental que constitui a unidade de uma pluralidade de normas
enquanto representa o fundamento da validade de todas as normas
pertencentes a essa ordem normativa.
Segundo Bobbio (1995), existe uma Norma Fundamental para cada
ordenamento, e essa norma responsvel por dar unidade a todas as demais
normas que se encontram espalhadas e que possuem variadas origens.
As normas respeitam critrios de hierarquia dentro do ordenamento
jurdico, conforme nos mostra Bobbio (1995, p. 49):
H normas superiores e normas inferiores. As inferiores dependem
das superiores. Subindo das normas inferiores quelas que se encon-
tram mais acima, chegamos a uma norma suprema, que no depende
de nenhuma outra norma superior, e sobre a qual repousa a unidade
do ordenamento. Essa norma suprema a norma fundamental.
33
Livro_legislacao_katia.indb 33 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Direito
A princpio, Kelsen formula sua teoria da Norma Fundamental argumen-
tando que ela seria uma hiptese no ordenamento jurdico. Porm, em seu
livro Teoria Geral das Normas, reconceitua essa teoria entendendo que ela
no seria uma hiptese, mas uma fico. Primeiramente precisamos entender
o que a Norma Fundamental para depois explic-la como sendo uma fico.
A Norma Fundamental fundamenta a validade de um ordenamento
jurdico, ou seja, ela a norma primria, originria, na qual todas as outras
normas (ditas como secundrias) estariam em conformidade com ela.
Em outras palavras, a Norma Fundamental, ou primria, aquela que
descreve uma conduta, enquanto a norma secundria prescreve uma sano.
interessante analisarmos as prprias palavras de Kelsen (1986, p. 9):
Admite-se que a distino de uma norma que descreve uma certa con-
duta e de uma norma que prescreve uma sano para o fato de viola-
o da primeira essencial para o Direito, ento precisa-se qualificar a
primeira como norma primria e a segunda, como norma secundria
e no ao contrrio, como o foi por mim anteriormente formulado.
[...] Costuma-se diferenciar entre normas jurdicas que impem uma
conduta fixada e normas jurdicas que ligam uma sano conduta
contra essas normas, para distinguir entre normas jurdicas primrias
e secundrias, como, porventura: No se deve furtar; se algum furta
deve ser punido. Mas a formulao da primeira de ambas as normas
suprflua, visto que o no-dever-furtar juridicamente s existe no
dever-ser-punido ligado condio do furto.
Portanto, a Norma Fundamental valida todas as outras normas: se outra
norma a legitimasse, ela no seria a fundamental. Ento, ela no precisa, em
uma definio lgica, ser validada; precisa ser presumida pelo pensamento.
Para se compreender a forma como as normas jurdicas se estruturam e
se correlacionam, deve-se ter em mente que nenhuma norma tem existncia
isolada, independente, solitria. Ao contrrio, as normas jurdicas convivem
umas com as outras, entrelaam-se, complementam-se, ajustam-se reciproca-
mente, conjugando-se de forma harmoniosa (KELSEN, 1986).
1.3 Ordenamento jurdico
O ordenamento jurdico um conjunto de normas jurdicas organizadas
que precisam ser coerentes e vlidas entre si.
34
Livro_legislacao_katia.indb 34 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Estudo do Direito
O ensinamento a partir do ordenamento jurdico complexo, pois
estes, em geral, tm um nmero muito grande de normas que no devem
ser contraditrias entre si. As normas de um ordenamento jurdico devem
obedecer validade correspondente entre elas e devem ser coerentes entre
si. Ao falarmos em ordenamento jurdico, no podemos deixar de citar a
teoria da hierarquia das normas de Kelsen, conhecida tambm como teo-
ria da pirmide das normas jurdicas, pois esta teoria, alm de clssica no
Direito, seguida pela doutrina jurdica em geral como a teoria fundamen-
tal do ordenamento jurdico.
A teoria da pirmide das normas aceita o pressuposto de que o ordena-
mento jurdico corresponde a um conjunto de normas que se estabelecem
de forma organizada e que seguem uma hierarquia. Esta obedece seguinte
ordem: em primeiro lugar, est a norma constitucional como a principal e
mais elevada Norma Jurdica; em segundo lugar, esto as normas gerais; e, em
ltimo lugar, esto as normas individualizadas. Por normas gerais, entende-
mos as leis, os costumes, os decretos e a jurisprudncia. Por normas individu-
alizadas, entendemos as decises judiciais e os negcios jurdicos.
Ento, podemos elencar em ordem hierrquica as normas jurdicas
segundo a teoria da hierarquia das normas de Kelsen:
1. constituio;
2. emendas constitucionais;
3. leis complementares;
4. leis ordinrias;
5. leis delegadas;
6. medidas provisrias;
7. decretos;
8. resolues;
9. instrues normativas;
10. portarias;
11. contratos e sentenas.
35
Livro_legislacao_katia.indb 35 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Direito
1. A Constituio Federal a norma hierarquicamente mais ele-
vada, sendo que todas as normas abaixo dela precisam obri-
gatoriamente estabelecer uma relao de coerncia com esta.
2. A emenda constitucional modifica algumas partes do texto
constitucional originrio, sem a necessidade de este ser substi-
tudo totalmente.
3. A lei complementar se diferencia da lei ordinria por exigir um
quorum de aprovao referente a sua formao. Este quorum
de maioria absoluta. A finalidade da lei complementar de
complementar o texto constitucional.
4. A lei ordinria exige um quorum de votao de maioria sim-
ples para ser criada. Sua finalidade de criar normas gerais
e abstratas.
5. De acordo com o art. 68 da CF/88, As leis delegadas sero
elaboradas pelo presidente da Repblica, que dever solicitar a
delegao ao Congresso Nacional.
6. A medida provisria executada pelo presidente da Repblica;
em casos de urgncia e relevncia, tem fora de lei.
7. Os decretos so ordens que podem ser provenientes de autori-
dade superior ou rgos. So atos administrativos.
8. As resolues so provenientes do Poder Legislativo. Vide arts.
155, VI, 51, 52, 59,VII, 68 2o e 3o da CF/88.
9. Instrues normativas so atos normativos.
10. A portaria se caracteriza por ser um documento derivado de
um ato normativo.
11. O contrato um negcio jurdico que estipula vnculo jur-
dico entre, pelo menos, dois sujeitos de direito.
Bobbio (1995) menciona que os ordenamentos jurdicos so com-
postos por uma quantidade incontvel de normas que no podem deixar
de ser criadas, pois precisam satisfazer as variadas necessidades da socie-
dade. Essas necessidades tornam-se cada vez maiores com o desenvolvi-
36
Livro_legislacao_katia.indb 36 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Estudo do Direito
mento das sociedades, consequentemente h a regulamentao de novas
normas jurdicas.
Estas necessidades fazem com que os ordenamentos jurdicos se tor-
nem complexos, pois, como as necessidades mudam com o tempo, h o
surgimento de novas necessidades e h tambm a necessidade da extin-
o de algumas normas. Mas o ponto crucial de um ordenamento jur-
dico a questo da validade da norma. Esta no pode ser contraditria
com o restante do ordenamento, a comear pela Constituio. De acordo
com Dantas (2005, p. 9), A complexidade de um ordenamento jurdico
advm do fato de que a necessidade de regras de conduta, seja qual for
a sociedade, tamanha que no h poder ou rgo capaz de satisfaz-
las sozinho.
Por definio, um ordenamento jurdico deve ter, pelo menos, duas nor-
mas, pois se tiver apenas uma norma no ser considerado um ordenamento
jurdico. Na prtica, no entanto, os ordenamentos jurdicos so um conjunto
com um nmero quase incontvel de normas. Para cada estado, h um orde-
namento jurdico diferente, constitudo a partir das necessidades de regulao
das condutas de cada nao.
Bobbio (1995, p. 34) menciona que: [...] se um ordenamento jurdico
composto de mais de uma norma, disso advm que os principais problemas
mais conexos com a existncia de um ordenamento so os que nascem das
relaes das diversas normas entre si.
De acordo com a teoria de Kelsen sobre a validade das normas de um
ordenamento jurdico, o fundamento de validade de toda norma deve estar
amparada na Norma Fundamental. Como vimos no tpico anterior, a Norma
Fundamental valida todas as outras normas do ordenamento. A princpio,
Kelsen chama a Norma Fundamental de hipottica, mas em seus ltimos
trabalhos, Kelsen a denomina no mais como hipottica, mas como ficcional.
Por conta da teoria da Norma Fundamental que podemos dizer que o orde-
namento jurdico um sistema porque todas as normas so vlidas de acordo
com a Norma Fundamental.
Podemos dizer que o ordenamento jurdico no aceita normas contr-
rias entre si: se houver contradio, h antinomia. Por antinomia jurdica,
entende-se a contradio existente entre normas jurdicas, e essa contradio
37
Livro_legislacao_katia.indb 37 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Direito
pode ser real ou aparente. De acordo com Bobbio (1995), a antinomia das
normas uma das maiores dificuldades que os juristas encontram.
Com base na Teoria Geral do Direito, apontamos a origem do grego
Anti = oposio + nomos = norma, conceituando antinomia como Conflito
entre duas normas jurdicas, cuja soluo no se acha prevista na ordem jur-
dica (AQUAVIVA, 2003).
Bobbio (1995, p. 49) menciona tambm que:
Devido tendncia de cada ordenamento jurdico se constituir em
sistema, a presena de antinomias em sentido prprio um defeito
que o intrprete tende a eliminar. Como antinomia significa o encon-
tro de duas preposies incompatveis, que no podem ser ambas ver-
dadeiras, e, com referncia a um sistema normativo, o encontro de
duas normas que no podem ser ambas aplicadas, a eliminao do
inconveniente no poder consistir em outra coisa seno a eliminao
de uma das duas normas (no caso de normas contrrias tambm a
eliminao das duas).
S existir antinomia real se, depois da anlise acertada das duas normas,
a divergncia entre elas permanecer. E por isso conhecida como a diver-
gncia entre duas normas contraditrias, proveniente de poderes eficazes em
uma mesma esfera normativa, a qual coloca o sujeito responsvel por aplicar
o Direito, em um ponto injustificvel de seleo, no podendo escolher por
uma delas sem ferir a outra.
Como ressalta Raz (1974, p. 94-95), A funcionalidade, portanto, de
uma norma (hipottica) fundamental estabelecer a nota da unidade de um
ordenamento jurdico, pois, o ordenamento jurdico no um conjunto de
normas escolhidas ao acaso.
Para Ferraz Jr. (2008, p. 171-173), o ordenamento jurdico,
Em termos mais elaborados, consolida um sistema dinmico, aberto,
coeso, heterogneo e circular, composto de elementos normativos e
no normativos, associados a regras estruturais, norteado pelas ideo-
logias (de origem interna ou externa) em voga naquele corpo coletivo.
Ferraz Jr. (2008, p. 172-173) conceitua o ordenamento jurdico como
um sistema:
O ordenamento jurdico se caracteriza como sistema, conjunto de
contornos identificveis (sabe-se o que est dentro e o que est fora),
38
Livro_legislacao_katia.indb 38 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Estudo do Direito
formado por repertrio (feixe de elementos normativos e no norma-
tivos interligados) e estrutura (somatrio de regras estruturais e das
relaes por elas estabelecidas).
Os ordenamentos jurdicos, para Bobbio (1995), podem ser simples ou
complexos, dependendo das normas que os compem. Ordenamentos deri-
vados de juristas e historiadores so caracterizados como complexos.
Segundo Bobbio (1995, p. 38), a complexidade de um ordenamento
jurdico deriva do fato de que a necessidade de regras de conduta numa socie-
dade to grande que no existe nenhum poder (ou rgo) em condies de
satisfaz-la sozinho.
Muitas so as definies dadas pelos autores aqui citados sobre o
ordenamento jurdico. Podemos, ento, dizer que o ordenamento um
conjunto de normas jurdicas com uma configurao ordenada ou categorizada;
h estgios distintos, com as normas mais resistentes, e estgios secundrios,
com as normas mais inferiores. Em resumo, no estgio superior, ficam as
normas constitucionais; posteriormente, as normas legais; seguidamente, as
normas julgadas; e, por ltimo, as normas contratuais.
1.3.1 Teoria das lacunas
Em um ordenamento jurdico no qual h ausncia de determinadas nor-
mas, estas so chamadas de lacunas. J em um ordenamento jurdico em que
no h lacunas, chama-se de ordenamento completo.
Para Bobbio (1995, p. 49):
Por completude entende-se a propriedade pela qual um ordenamento
jurdico tem uma norma para regular qualquer caso. Uma vez que a falta
de uma norma se chama geralmente lacuna (num dos sentidos do termo
lacuna), completude significa falta de lacunas. Em outras palavras,
um ordenamento completo quando o juiz pode encontrar nele uma
norma para regular qualquer caso que se lhe apresente, ou melhor, no
h caso que no possa ser regulado com uma norma tirada do sistema.
Segundo Lemke (2005), lacuna da lei a ausncia da norma legal para
determinado caso concreto. O referido autor cita Larenz e expe que lacuna
[...] significa a ausncia de uma regra determinada, que seria de se esperar no
contexto global daquele sistema jurdico (LARENZ apud LEMKE, 2005,
p. 10-11).
39
Livro_legislacao_katia.indb 39 20/11/2014 09:58:50
Introduo ao Direito
Segundo Kelsen (1998, p. 172), a teoria das lacunas no ordenamento
jurdico errnea, pois, para ele:
Esta teoria errnea, pois funda-se na ignorncia do fato de que,
quando a ordem jurdica no estatui qualquer dever de um indivduo
de realizar determinada conduta, permite esta conduta. A aplicao
da ordem jurdica vigente no , no caso em que a teoria tradicional
admite a existncia de uma lacuna, logicamente impossvel. Na ver-
dade, no possvel, neste caso, a aplicao de uma norma jurdica
singular. Mas possvel a aplicao da ordem jurdica - e isso tambm
aplicao do Direito.
Por sua vez, Diniz (2002, p. 70) conceitua as lacunas dizendo que elas
so [...] faltas ou falhas de contedos de regulamentao jurdico-positiva
para determinadas situaes fticas, que admitem sua remoo por uma deci-
so judicial jurdico-integradora.
So muitas as classificaes das lacunas, com relaes bastante diferentes
e com perspectivas distintas. A fim de preservar que o tema fique montono,
relacionamos as principais a respeito das lacunas.
A mais antiga das classificaes se deve a Zitelmann, segundo o qual
as lacunas se dividem em autnticas e no autnticas. Aquelas sero obser-
vadas quando a lei no dispor de resposta para determinado caso concreto,
enquanto estas sero vislumbradas quando a lei apresentar uma soluo inde-
sejvel para determinado fato-tipo. Neste nterim, considera-se que a soluo
prevista pela lei insatisfatria. A autora observa que apenas a lacuna autn-
tica uma lacuna jurdica, considerada propriamente dita, pois a no autn-
tica apenas uma lacuna poltica ou crtica (DINIZ, 2002).
Bobbio (1995), de outro turno, estabelece a existncia de lacunas reais
(iure conditio) e lacunas ideolgicas, ou imprprias (iure condendo). Nesta
classificao, as lacunas reais so lacunas propriamente ditas, enquanto as
lacunas ideolgicas surgem a partir de uma confrontao entre o que um
sistema real e um sistema ideal, significando a ausncia de Norma Justa.
Diniz (2002) lembra que a doutrina alem distinguiu as lacunas em
primrias, ou originrias, e secundrias, posteriores ou derivadas. As pri-
meiras existem desde o surgimento da norma, e as segundas so as que
aparecem posteriormente, decorrendo de modificaes nos valores ou das
situaes de fato.
40
Livro_legislacao_katia.indb 40 20/11/2014 09:58:51
Introduo ao Estudo do Direito
Lemke (2005, p. 11), por sua vez, expe a distino entre as lacunas
normativas e as axiolgicas. As primeiras referem-se ausncia de soluo
no sistema, e, quando se trata das ltimas, no h ausncia de regra, mas sim
uma regra insatisfatria ou injusta na opinio do aplicador da deciso: [...] as
normativas levam a uma interpretao praeter legem, enquanto as axiolgicas
produzem uma interpretao contra legem.
Perelman (2004, p. 67) destaca a classificao das lacunas em intra
legem, praeter ou contra legem. A lacuna intra legem resulta da omisso do
legislador. As praeter legem [...] so criadas pelos intrpretes que, por uma
ou outra razo, pretendem que certa rea deveria ser regida por uma dis-
posio normativa, quando no o expressamente [...]. J a lacuna contra
legem pode ser dita como o [...] encontro s disposies expressas da lei,
tambm criada pelos intrpretes, que, desejando evitar a aplicao da lei, em
dada espcie, restringem-lhe o alcance introduzindo um princpio geral que a
limita. (PERELMAN, 2004, p. 66-67).
Para finalizar, Diniz (2002, p 95) menciona que:
[...] ante a considerao dinmica do direito e a concepo multifria
do sistema jurdico, que abrange um subsistema de normas, de fatos
e de valores, [...] trs so as principais espcies de lacunas: 1) nor-
mativa, quando se tiver ausncia de norma sobre determinado caso;
2) ontolgica, se houver norma, mas ela no corresponder aos fatos
sociais, (por exemplo, o grande desenvolvimento das relaes sociais e
o progresso tcnico acarretarem o ancilosamento da norma positiva);
e 3) axiolgica, no caso de ausncia de norma justa, ou seja, quando
existe um preceito normativo, mas, se for aplicado, sua soluo ser
insatisfatria ou injusta.
De acordo com o que foi exposto, existem muitas outras categorizaes.
Contudo, as apresentadas aqui so consideradas as mais relevantes para o
entendimento do tema.
1.4 Fontes do Direito
Neste tpico, vamos contemplar os diversos conceitos sobre as fontes do
Direito, conferindo alguns dos principais autores e seus ideais acerca do tema,
embora, no exista uma igualdade nos pensamentos e nas definies do que
vem a ser fonte do Direito.
41
Livro_legislacao_katia.indb 41 20/11/2014 09:58:51
Introduo ao Direito
A fonte do Direito pode ser entendida como o alicerce, o local de onde
originrio o Direito. Fonte, do latim fons ou fontis, significa nascente de gua.
Esta comparao feita por Nader (2005, p. 141) quando diz: [...] remontar
fonte de um rio buscar o lugar de onde suas guas saem da terra; do mesmo
modo, inquirir sobre a fonte de uma regra jurdica buscar o ponto pelo qual
sai das profundidades da vida social para aparecer na superfcie do Direito.
Seguindo esta mesma analogia, Nunes (2003, p. 71) completa: [...] a
fonte reveladora do que estava oculto, daquilo que ainda no havia surgido,
uma vez que exatamente o ponto de passagem do oculto ao visvel.
O termo fontes de Direto definido por muitos autores como a ori-
gem do Direito. Para Diniz (2001, p. 278), no diferente, tanto que ela
sugere que fonte seja correspondente origem primria do direto: Fonte
jurdica seria a origem primria do Direito, confundindo-se com o problema
da gnese do Direito. Trata-se da fonte real ou material do Direito, ou seja, os
fatores reais que condicionaram o aparecimento de Norma Jurdica.
Desta forma, temos que a fonte do Direito a sua prpria origem, cons-
titui-se pelo que forma sua base.
1.4.2 Espcies de fontes do Direito
As classificaes existentes de fontes do Direito so as mais variadas.
Reale (1998, p. 139), por sua vez, afirma que a diviso de fontes em materiais
e formais est totalmente equivocada, [...] tornando-se indispensvel empre-
garmos o termo fonte do direito para indicar apenas os processos de produo
de normas jurdicas. Ele prope outra classificao baseando-se na relao
entre o Direito e o poder, qual seja:
[...] quatro so as fontes de direito, porque quatro so as formas de
poder: o processo legislativo, expresso do Poder Legislativo; a juris-
dio, que corresponde ao Poder Judicirio; os usos e costumes jurdi-
cos, que exprimem o poder social, ou seja, o poder decisrio annimo
do povo; e, finalmente, a fonte negocial , expresso do poder negocial
ou da autonomia da vontade.
Diniz (2001) classifica as fontes de Direito como fontes materiais, esta-
tais e no estatais. Nader (2004), no entanto, classifica as espcies de fontes
do Direito como histricas, formais e materiais.
42
Livro_legislacao_katia.indb 42 20/11/2014 09:58:51
Introduo ao Estudo do Direito
Fontes do Direito so fatos e atos dos quais o ordenamento jurdico
depende para a produo de normas jurdicas. Segundo Santos (2007, p. 10),
entende-se por fonte jurdica o local de onde surge a Norma Jurdica.
O termo fonte no quer dizer propriamente aquele lugar no qual se
origina o Direito, e sim aqueles lugares dos quais possvel extrair normas
jurdicas ou nos quais se pode buscar o fundamento de validade dessas nor-
mas ou, ainda, indicando, segundo Reale (2011, p. 139), [...] os processos
de produo de normas jurdicas.
Levando em considerao o que j foi dito, vamos discorrer sobre
quatro classificaes de fontes do Direito. So elas:
1.4.2.1 Fontes materiais e fontes formais
As fontes materiais so os fatores sociais e os valores de determinada
sociedade em uma poca definida, que inspiram e influenciam a produo do
Direito Positivo, determinando tanto o surgimento quanto as mudanas e a
extino das normas jurdicas. Logo, fontes materiais, como aponta Gusmo
(1997, p. 98), [...] so as constitudas por fenmenos sociais e por dados
extrados da realidade social, das tradies e dos ideais dominantes, com as
quais o legislador, resolvendo questes que dele exigem soluo, d contedo
ou matria s regras jurdicas [...], s fontes formais do Direito.
Assim, as fontes materiais so fontes pr-jurdicas, de maneira que, como
Reale (2011, p. 140) afirma, a expresso fonte material indica:
[...] o estudo filosfico ou sociolgico dos motivos ticos ou dos fatos
econmicos que condicionam o aparecimento e as transformaes das
regras de direito. Fcil perceber que se trata do problema do funda-
mento tico ou do fundamento social das normas jurdicas, situando-
-se, por conseguinte, fora do campo da Cincia do Direito.
Segundo Nader (2005, p. 142), as fontes formais [...] so os meios de
expresso do Direito, as formas pelas quais as normas jurdicas se exteriori-
zam, tornam-se conhecidas. Ou, ainda, o elemento jurdico somente ser
considerado fonte se ele possuir o poder de criar o Direito. Assim, a lei, o
regulamento, o costume, o decreto, a jurisprudncia e a doutrina so fontes
formais, porque so os responsveis por dar a uma regra o carter de Direito
Positivo e obrigatrio.
43
Livro_legislacao_katia.indb 43 20/11/2014 09:58:51
Introduo ao Direito
J as fontes materiais so fundadas pelos conflitos que surgem na socie-
dade e que so medidos pelos fatores de direito, como explica Nader (2005,
p. 142) ao dizer que:
[...] o Direito no um produto arbitrrio da vontade do legislador,
mas uma criao que se lastreia no querer social. a sociedade, como
centro das relaes de vida, como sede de acontecimentos que envol-
vem o homem, quem fornece ao legislador os elementos necessrios
formao dos estatutos jurdicos.
Logo, fontes materiais no possuem o poder direto de criar a Norma
Jurdica, mas norteiam e justificam a sua criao. Isso porque consistem o
conjunto de valores que o Direito procura realizar e a realidade social, pois
convergem para a formao do contedo ou da matria da Norma Jurdica.
1.4.2.2 Fontes formais estatais
As fontes estatais so as que se originam do Estado. Correspondem lei
e jurisprudncia. Vamos ver cada uma em separado.
1.4.2.3 As leis
Buscando um melhor entendimento, temos a definio de Machado
(2011, p. 80):
Em nosso sistema jurdico existem duas espcies de leis, a saber: a lei
ordinria e a lei complementar. So duas espcies de lei formalmente
definidas, que se encartam no ordenamento jurdico em diferentes pata-
mares hierrquicos, sendo a lei complementar superior lei ordinria.
, indubitavelmente, a mais importante das fontes de Direito existente,
uma vez que representa toda a sociedade e foi criada por rgos especiais, des-
tinados a este fim, e constitudos pelo povo. Conforme expresso no art. 5o,
inciso II, a Constituio Federal afirma que [...] ningum ser obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa seno em virtude de lei [...]. Tambm encon-
tramos no art. 4o da Lei de Introduo ao Cdigo Civil a seguinte afirmao:
[...] quando a lei for omissa, o juiz decidir o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princpios gerais de direito [...], tornando visvel, desta forma, a
importncia desta fonte de Direito para o nosso ordenamento (NADER, 2005).
Para Montoro (2005, p. 383), [...] a lei que fixa as linhas fundamentais
no sistema jurdico e serve de base para a soluo da maior parte dos proble-
mas do direito.
44
Livro_legislacao_katia.indb 44 20/11/2014 09:58:51
Introduo ao Estudo do Direito
Nader (2005, p. 148) considera a lei como [...] o preceito comum e
obrigatrio, emanado do Poder Legislativo, no mbito de sua competncia.
J para Reale (1995, p. 146), a origem da lei:
[...] sempre certa e predeterminada. H sempre um momento no
tempo, e um rgo do qual emana o Direito legislado. A origem da
lei, portanto, no sofre qualquer dvida, porquanto o rgo, que tem
competncia para edit-la, j est anteriormente previsto, com sua
linha de atividade claramente marcada no espao e no tempo.
Segundo Del Vecchio (1972, p. 148), lei [...] o pensamento jurdico
deliberado e consciente, formulado por rgos especiais, que representam a
vontade predominante numa sociedade. Desta forma, a lei estabelece a von-
tade do povo, sendo criada por legisladores eleitos por este.
1.4.2.4 A jurisprudncia
Para Nunes (2005, p. 87), jurisprudncia pode ser definida como [...] o con-
junto das decises dos tribunais a respeito do mesmo assunto. Montoro (2005,
p. 410) enfatiza a jurisprudncia como [...] o conjunto uniforme e constante de
decises judiciais sobre casos semelhantes. J Nader (2005, p. 171) afirma ser
a [...] reunio das decises judiciais, interpretadoras do Direito vigente.
Machado (2000, p. 63) explica que:
A palavra jurisprudncia pode ser empregada em sentido amplo, sig-
nificando a deciso ou o conjunto de decises judiciais, e em sentido
estrito, significando o entendimento ou diretiva resultante de decises
reiteradas dos tribunais sobre um determinado assunto.
Neste contexto, Reale (1995, p. 158) menciona que: Pela palavra juris-
prudncia (stricto sensu) devemos entender a forma de revelao do direito
que se processa atravs do exerccio da jurisdio, em virtude de uma sucesso
harmnica de decises dos tribunais.
1.4.2.5 Fontes formais no estatais
Correspondem s fontes no estatais o costume jurdico e a doutrina.
1.4.2.6 O costume jurdico
Para Nader (2005, p. 157), o costume [...] uma prtica gerada espon-
taneamente pela foras sociais. O autor tambm relata que: [...] a formao
45
Livro_legislacao_katia.indb 45 20/11/2014 09:58:51
Introduo ao Direito
do costume lenta e decorre da necessidade social de frmulas prticas para
resolverem problemas em jogo.
Segundo Reale (1995, p. 146), o costume:
[...] no tem origem certa, nem se localiza ou suscetvel de locali-
zar-se de maneira predeterminada. Geralmente no sabemos onde e
como surge determinado uso ou hbito social, que, aos poucos, se
converte em hbito jurdico, em uso jurdico.
O Direito costumeiro nasce por toda parte, de maneira annima, ao
passo que a lei, desde a sua origem, se reveste de segurana e de certeza.
J Montoro (2005, p. 405) assegura que o costume [...] a norma jur-
dica que resulta de uma prtica geral, constante e prolongada, observada com
a convico de que juridicamente obrigatria [...], relativa determinada
situao de fato e observada com a convico de corresponder a uma neces-
sidade jurdica.
1.4.2.7 A doutrina
A doutrina capaz de investigar e analisar o ordenamento jurdico de
maneira crtica, por esta razo denominada como fonte de Direito.
Montoro (2005, p. 415) explica que:
[...] a doutrina o estudo de carter cientfico que os juristas realizam
a respeito do direito, seja com o propsito puramente especulativo
de conhecimento e sistematizao, seja com a finalidade prtica de
interpretar as normas jurdicas para sua exata aplicao.
Da mesma forma, Nunes (2005, p. 103) afirma que doutrina [...] o
resultado do estudo que pensadores juristas e filsofos do Direito fazem
a respeito do Direito.
A doutrina corresponde a uma importantssima fonte do Direito, utili-
zada no somente para a constituio da Norma Jurdica, mas tambm para
a interpretao e aplicao.
1.5 Princpios gerais do Direito
fundamental esclarecer o significado do vocbulo princpios dentro
do ordenamento jurdico.
46
Livro_legislacao_katia.indb 46 20/11/2014 09:58:51
Introduo ao Estudo do Direito
Os princpios gerais do Direito direcionam-se para todos os ramos do
Direito, esto expressos nas normas formais, mas tambm emanam de todos
os tipos de normas jurdicas. No necessariamente esto expressos na lei, pois
podem ser extrados de princpios ticos e filosficos.
Para Reale (1991, p. 300), os princpios so [...] certos enunciados lgi-
cos admitidos como condio ou base de validade das demais asseres que
compem dado campo do saber.
Silva (1991, p. 447) nos ensina que os [...] princpios so o conjunto de
regras ou preceitos que se fixam para servir de norma a toda espcie de ao
jurdica, traando a conduta a ser tida em uma operao jurdica.
Princpio , por definio, segundo Mello (1981, p. 230):
[...] mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele,
disposio fundamental que se irradia sobre diferentes normas,
compondo-lhes o esprito e servindo de critrio para a sua exata
compreenso e inteligncia, exatamente por definir a lgica e a
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tnica
e lhe d sentido harmnico. o conhecimento dos princpios que
preside a inteleco das diferentes partes componentes do todo uni-
trio que h por nome sistema jurdico positivo.
Decorrente das definies, podemos ver que os princpios correspon-
dem a conceitos fundamentais e servem de base para a elaborao e aplica-
o do Direito.
1.5.1 Princpio da igualdade ou isonomia
O Princpio da igualdade, conforme nos explicado por Bastos (2001,
p. 5), consiste no [...] tratamento uniforme de todos os homens. No se
cuida, como se v, de um tratamento igual perante o direito, mas de uma
igualdade real e efetiva perante os bens da vida.
Em nossa Constituio Federal de 1988, esse princpio est expresso em
seu art. 5o caput, como podemos ver:
Art. 5 Todos so iguais perante a lei, sem distino de qualquer natu-
reza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pas
a inviolabilidade do direito vida, liberdade, igualdade, segu-
rana e propriedade.
47
Livro_legislacao_katia.indb 47 20/11/2014 09:58:51
Introduo ao Direito
Pellegrini (2004, p. 53) expressa seu entendimento conforme descrito
em relao ao princpio da igualdade, ou da isonomia:
A igualdade perante a lei premissa para a afirmao da igual-
dade perante o juiz: da norma inscrita no art. 5, caput, da
Constituio, brota o princpio da igualdade processual. As
partes e os procuradores devem merecer tratamento igualitrio,
para que tenham as mesmas oportunidades de fazer valer em
juzo as suas razes.
Bastos (2001, p. 7), ainda nos ensina que a igualdade formal corres-
ponde ao [...] direito de todo cidado no ser desigualado pela lei seno em
consonncia com os critrios albergados, ou ao menos no vedados, pelo
ordenamento constitucional.
Esse princpio tem por objetivo oferecer o mesmo tratamento para as
partes que esto envolvidas em um processo.
No entendimento de Medeiros (2001, p. 104), [...] as partes se acham
no litgio em p de igualdade e essa igualdade, dentro do processo, outra
coisa no seno uma manifestao do Princpio da Igualdade dos indiv-
duos perante a lei [...].
O mesmo apresentado por Silva (1997, p. 35):
[...] a igualdade de tratamento, todavia, corresponde igualdade nas
oportunidades que sero oferecidas s partes no referente pratica
dos atos processuais, encontrando certa restries em alguns casos
legais, no sendo, portanto, absoluto [...]
Na viso de Couture (apud THEODORO,1981, p. 182):
[...] princpio da igualdade domina todo o processo civil e, por
fora a isonomia constitucional de todos perante a lei, impe que
ambas as partes da lide possam desfrutar, na relao processual,
de iguais faculdades e devam se sujeitar a iguais nus e deveres.
Vemos que, para Nery Jr. (1996, p. 43), [...] o princpio da isonomia
processual o direito que tem os litigantes de receberem idntico trata-
mento pelo juiz.
Conforme se observa do art. 125, inciso I, do Cdigo de Processo
Civil, tem como objetivo [...] assegurar s partes igualdade de tratamento.
48
Livro_legislacao_katia.indb 48 20/11/2014 09:58:51
Introduo ao Estudo do Direito
1.5.2 Princpio do contraditrio e da ampla defesa
Nossa lei maior situou os destacados princpios conjuntamente em seu
inciso LV, art. 5o: Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral so assegurados o contraditrio e a ampla defesa, com
meios e recursos a ela inerentes.
Marinoni (1996, p. 147) nos apresenta o seu entendimento sobre o
princpio do contraditrio:
O princpio do contraditrio, na atualidade, deve ser desenhado
com base no princpio da igualdade substancial, j que no pode se
desligar das diferenas sociais e econmicas que impedem a todos de
participar efetivamente do processo.
No conhecimento de Sanseverino (1983), o princpio do contraditrio
a perfeita combinao entre o princpio da ampla defesa e princpio da
igualdade das partes. Conforme enuncia,
O princpio constitucional da igualdade jurdica, do qual um
dos desdobramentos o direito de defesa para o ru, con-
traposto ao direito de ao para o autor, est intimamente
ligado a uma regra eminentemente processual: o princpio da
bilateralidade da ao, surgindo, da composio de ambos,
o princpio da bilateralidade da audincia. (SANSEVERINO,
1983, p. 78).
A Constituio Federal de 1988 preceitua, em seu art. 5o, inciso
LIV, que:
[...] ningum ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal. Juntamente com o art. 5, inciso LV, da Carta
Magna, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral so assegurados o contraditrio e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.
O contraditrio se efetiva, assegurando-se os seguintes elementos: a) o
conhecimento da demanda por meio de ato formal de citao; b) a oportu-
nidade, em prazo razovel, de se contrariar o pedido inicial; c) a oportuni-
dade de produzir prova e se manifestar sobre a prova produzida pelo adver-
srio; d) a oportunidade de estar presente a todos os atos processuais orais,
fazendo consignar as observaes que desejar; e) a oportunidade de recorrer
da deciso desfavorvel (GRECO FILHO, 1996).
49
Livro_legislacao_katia.indb 49 20/11/2014 09:58:51
Introduo ao Direito
Segundo o que nos apresenta Portanova (2001, p. 162), [...] o contra-
ditrio tem duplo fundamento, afigurando-se tanto em seu sentido lgico,
quanto poltico (lato senso). O fundamento lgico justamente a natureza
bilateral da pretenso que gera a bilateralidade do processo.
Silva (2000, p. 70) observa que: O Contraditrio tido mesmo como o
princpio norteador do prprio conceito da funo jurisdicional.
Nesta mesma direo, tem-se o Princpio da Ampla Defesa, que,
segundo Portanova (2001), traduz a liberdade inerente ao indivduo (no
mbito do Estado Democrtico) em defesa de seus interesses, de alegar fatos
e propor provas.
Ainda seguindo o entendimento de Portanova (2001, p. 125), a ampla
defesa [...] no uma generosidade, mas um interesse pblico. Para alm de
uma garantia constitucional de qualquer pas, o direito de defender-se essen-
cial a todo e qualquer Estado que se pretenda minimamente democrtico.
Conforme Di Pietro (1997, p. 402), o princpio da ampla defesa [...]
aplicvel em qualquer tipo de processo que envolva o poder sancionatrio do
Estado sobre as pessoas fsicas e jurdicas
1.6 Ramos do Direito
Neste tpico, vamos identificar os diversos ramos existentes na esfera do
Direito, utilizando referncias de alguns autores para apresentar o assunto.
Os diversos ramos do Direito nasceram em virtude da exigncia que o
Direito tem de ser especfico, com o intuito de legitimar de maneira com-
petente os problemas atuais e os eventos do dia a dia na sociedade, que, por
muitas vezes, so de grande complexidade.
Podemos classificar o Direito em dois grupos: Direito Pblico e Direito
Privado; uma diviso bem antiga que originou do Direito Romano na qual as
normas se classificam conforme a essncia de determinado interesse.
Para Reale (1995, p. 319), os ramos do Direito esto divididos entre
Pblico e Privado:
A primeira diviso que encontramos na histria da Cincia do Direito
a feita pelos romanos, entre Direito Pblico e Privado, segundo o
50
Livro_legislacao_katia.indb 50 20/11/2014 09:58:51
Introduo ao Estudo do Direito
critrio da utilidade pblica ou particular da relao: o primeiro diria
respeito s coisas do Estado (publicum jus est quod ad statum rei roma-
nae spectat), enquanto que o segundo seria pertinente ao interesse de
cada um (privatum, quod ad ingulorum utilitatem spectat).
A diviso clssica entre Direito Pblico e Privado dada pelos romanos,
com base no critrio da utilidade pblica ou particular. Reale (1995) estabe-
lece a diviso quanto forma da relao jurdica e quanto ao contedo ou
objeto da relao jurdica, como podemos ver no quadro a seguir.
Quanto ao contedo ou
Quanto forma da relao.
objeto da relao jurdica.
Quando visado
Quando imediato Se a relao de Se a relao de
imediata e preva-
e prevalecente o coordenao, trata- subordinao, trata-
lecentemente o
interesse particular, -se, geralmente, de -se, geralmente, de
interesse geral, o
o Direito privado. Direito Privado. Direito Pblico.
Direito pblico.
Fonte: REALE, 1995, p. 336.
Ferraz Jr. (2001, p. 133) apresenta, a seguir, a diferena entre a esfera
pblica e a privada:
Juridicamente, o Estado, um verdadeiro organismo (burocrtico) de
funes, um ente abstrato, produto do agir poltico transformado
em fazer, guarda perante os indivduos uma relao de comando
supremo: soberania. O direito, explicado pela soberania, torna-se
comando, relao de autoridade no sentido do poder. A distino
entre o poder soberano e sua esfera e o poder dos indivduos em suas
relaes marca, assim, a distino entre esfera pblica e privada e, por
conseguinte, entre direito pblico e privado.
Os ramos do Direito Pblico estudam a disciplina normativa do Estado.
Citaremos aqui apenas os principais ramos do Direito Pblico, pois a totali-
dade dos ramos do Direito de uma dimenso muito vasta. So eles: Consti-
tucional, Administrativo, Tributrio, Eleitoral, Penal, Urbanstico, Ambien-
tal, Econmico, Financeiro, Internacional Pblico, Internacional Privado,
Processo Civil, Processo Penal e Processo do Trabalho. Por outro lado, per-
51
Livro_legislacao_katia.indb 51 20/11/2014 09:58:51
Introduo ao Direito
tencem ao Direito Privado os ramos voltados compreenso do regramento
jurdico dos particulares. Atualmente, os principais ramos que se enquadram
nesta categoria so o Direito Civil, o Direito Comercial ou Empresarial,
Direito do Consumidor e o Direito do Trabalho.
Em sntese, a necessidade de separao entre o Direito Pblico e Privado
decorre da necessidade de o jurista avaliar cada caso dos ramos de Direito da
forma mais correta. Para Reale (1995, p. 319), Toda cincia, para ser bem
estudada, precisa ser dividida, ter as suas partes claramente discriminadas.
Assim foram nascendo ramos do Direito, cada um atuando com funo
especfica, mas ligados entre si quando h relao em sua matria. A seguir,
podemos analisar mais claramente os principais ramos do Direito:
Ramos do Direito
Direito Pblico
Direito do
Constitucional
Direito Direito Direito Direito Direito Direito Direito
Administrativo Tributrio Penal Eleitoral Militar Urbanstico Internacional
Direito Privado
Direito Direito Direito
Civil Empresarial Internacional
Direito Difuso
Direito do Direito Direito do Direito
Trabalho Previdencirio Consumidor Ambiental
No que diz respeito a Direito Pblico, prevalece o interesse pblico
sobre o particular. O Direito Privado aquele no qual prevalece o interesse
imediato do particular e mediato do Estado. Elencamos, a seguir, alguns dos
principais ramos do Direito.
1.6.1 Direito Constitucional
O Direito Constitucional um ramo do Direito Pblico, cujo objeto
Reale (1995, p. 322) menciona como:
52
Livro_legislacao_katia.indb 52 20/11/2014 09:58:51
Introduo ao Estudo do Direito
O Direito Constitucional tem por objeto o sistema de regras referente
organizao do Estado, no tocante distribuio das esferas de com-
petncia do poder poltico, assim como no concernente aos direitos
fundamentais dos indivduos para com o Estado, ou como membros
da comunidade poltica.
Segundo Miranda (1990, p. 13-14), o Direito Constitucional refere-se:
[...] parcela da ordem jurdica que rege o prprio Estado, enquanto
comunidade e enquanto poder. o conjunto de normas (disposi-
es e princpios) que recordam o contexto jurdico correspondente
comunidade poltica como um todo e a situam os indivduos e os
grupos uns em face dos outros e frente ao Estado-poder e que, ao
mesmo tempo, definem a titularidade do poder, os modos de forma-
o e manifestao da vontade poltica, os rgos de que esta carece e
os actos em que se concretiza.
1.6.2 Direito Administrativo
O Direito Administrativo est elencado como um ramo do Direito
Pblico. Segundo Reale (1995, p. 324), o Direito Administrativo, de certa
maneira, o Direito dos servios pblicos e das relaes constitudas para a
sua execuo.
Reale (1995, p. 325) destaca tambm que: [...] Direito Administrativo
tem por objeto o sistema de princpios e regras, relativos realizao de servi-
os pblicos, destinados satisfao de um interesse que, de maneira direta e
prevalecente, do prprio Estado.
1.6.3 Direito Financeiro
Conceituando Direito Financeiro, Schwantz (2010, p. 14) cita que o
Direito Financeiro o ramo do Direito Pblico que estuda a atividade finan-
ceira do Estado sob o ponto de vista jurdico.
A atividade financeira do Estado controlada pelo Direito financeiro.
Segundo Reale (1995, p. 334), o Direito Financeiro uma disciplina jur-
dica que tem por objeto toda a atividade do Estado no concernente forma
de realizao da receita e despesa necessrias execuo de seus fins.
Schwantz (2010) menciona que o Direito Financeiro possui autono-
mia prpria, embora muitos autores ainda o considerem parte do Direito
53
Livro_legislacao_katia.indb 53 20/11/2014 09:58:51
Introduo ao Direito
Administrativo. Sua autonomia, conforme cita o autor, d-se em funo de
suas especificidades jurdicas que lhe conferem caractersticas nicas.
1.6.4 Direito Penal
Direito Penal um ramo do Direito Pblico que busca controlar atos de
violncia, reprimindo os delitos e permitindo, assim, defender a sociedade.
Conforme Reale (1995, p. 327):
No existe sociedade sem crime. por esse motivo que a sociedade
se organiza, para preservar-se contra o delito e atenuar-lhe os efei-
tos. No no Direito Penal, porm, que se estuda o delito como
fato social, que objeto da Criminologia, baseada em pesquisas de
ordem sociolgica, antropolgica, psicolgica etc. O Direito Penal
estuda, mais propriamente, as regras emanadas pelo legislador com a
finalidade repressiva do delito e preservativa da sociedade.
Fragoso (2004, p. 3) menciona que: [...] o conjunto de normas jurdi-
cas mediante as quais o Estado probe determinadas aes ou omisses, sob
ameaa de caracterstica sano penal.
1.6.5 Direito Internacional
O Direito Internacional pblico regula as relaes correspondentes
comunidade internacional. Segundo Reale (1995, p. 327), [...] podemos
dizer que o Direito Internacional tem por objeto de estudo a experin-
cia jurdica correspondente comunidade internacional e seu ordenamen-
to jurdico.
Conforme Reale (1995) apresenta, a incidncia do Direito Internacional
ocorre entre naes. Por exemplo, quando o Brasil faz contato com outro pas
para solucionar dificuldades mtuas.
O Direito Internacional privado, por sua vez, descrito por Reale (1995,
p. 332) da seguinte maneira:
O Direito Internacional Privado , s vezes, includo na esfera do
Direito Privado. A sua finalidade, alega-se, a satisfao de inte-
resses de particulares, pertencentes a naes diversas e, por conse-
guinte, pertencentes a sistemas jurdicos distintos, cujas normas
podem ser conflitantes.
54
Livro_legislacao_katia.indb 54 20/11/2014 09:58:51
Introduo ao Estudo do Direito
1.6.6 Direito Tributrio
O Direito Tributrio a base, o fisco e o contribuinte. No que se refere
s ligaes entre o fisco (fazenda) e o contribuinte, seu conceito marcante o
fato gerador da incidncia fiscal. Exemplo: Imposto predial e o imvel.
O Direito Tributrio o ramo do Direito que regula a formao, a fis-
calizao e a arrecadao de tributos, diferenciando-se, contudo, do Direito
Financeiro, que tem o propsito de arrecadar tributos.
1.7 Funes do Direito
A funo do Direito deve estar relacionada com a busca constante da
efetivao da justia. Devemos estar cientes que, para isso, necessrio, por
um lado, ter tica profissional e, por outro, contar com valores bsicos para
colaborar na realizao da funo social do Direito.
A primeira funo social do Direito prevenir conflitos, evitando, sem-
pre que possvel, a coliso de interesses. O conflito gera o litgio e este, por
sua vez, quebra o equilbrio e a paz social. A sociedade no tolera o estado
litigioso, pois necessita de ordem, tranquilidade e equilbrio em suas relaes.
Por este motivo, o Direito tem o objetivo de prevenir conflitos. A segunda
funo do Direito compor conflitos que acabam por ocorrer no obstante
toda preveno exercida por ele, e isto feito por meio do critrio jurdico
(CAVALIERI, 2008).
Na opinio de Rocha (2003), a primeira grande funo do Direito
de direo de condutas. Deve estabelecer normas que determinam pautas
de comportamentos tidos como socialmente desejveis (ex.: o pagamento de
IPVA pelo contribuinte proprietrio de automvel, a troca de produtos ava-
riados pelo seu fornecedor etc.). Revela, pois, a aptido do Direito de fazer
com que grupos sociais aceitem os modelos normativamente estabelecidos.
Muitos so os entendimentos dados ao Direito; destacamos aqui alguns
deles. Nas palavras de Kant (1954, p. 80), Direito o conjunto de condi-
es pelas quais o arbtrio de um pode conciliar-se com o arbtrio do outro,
segundo uma lei geral de liberdade. Na opinio de Kelsen (1974, p. 57),
[...] o Direito se constitui primordialmente como um sistema de normas
coativas permeado por uma lgica interna de validade que legitima, a partir
55
Livro_legislacao_katia.indb 55 20/11/2014 09:58:51
Introduo ao Direito
de uma Norma Fundamental, todas as outras normas que o integram. De
acordo com Ehrlich (1986, p. 24-25), o direito ordenador e o suporte de
qualquer associao humana e, em todos os lugares, encontramos comunida-
des porque organizadas. Isto posto, temos aqui exemplos e posicionamentos
das mais variadas concepes sobre o Direito, por meio das diferentes reas
do conhecimento: Kant, sob a tica da Filosofia; Kelsen, com a concepo da
Cincia do Direito; e Ehrlich, com a compreenso da Sociologia.
Sem maiores indagaes, podemos dizer que o Direito corresponde
exigncia essencial e indeclinvel de uma convivncia ordenada, pois
nenhuma sociedade poderia subsistir sem um mnimo de ordem, de direo
e solidariedade. (REALE, 1995, p. 2).
J a autora Diniz (2001, p. 228) narra os efeitos produzidos pelo Direito
no meio social, concluindo que:
a) O direito emana da sociedade: como resultante do poder social que
o apia e o impe aplicando sanes aos transgressores; como reflexo
dos objetivos, valores e necessidades sociais, pois procura assegurar o
respeito aos valores e necessidades sociais, pois procura assegurar o
respeito aos valores que os membros da sociedade consideram neces-
srios convivncia social [...].
b) O direito influencia a sociedade com um instrumento de controle
social, reconhecido pela comunidade: por conter normas imperativo-
aotorizantes, isto , que impem deveres aos seus destinatrios,
autorizando aplicao da sano em caso de sua violao; por garantir
a manuteno da ordem social existente; por ser o principal agente da
mudana social, pois o legislador, ao elaborar a lei, o administrador
e o juiz ao aplic-la, o advogado e o assessor jurdico ao orientarem
empreendimentos, contratos etc. esto contribuindo para a
modificao da realidade social.
A autora tambm implementa seu argumento assegurando que o Direito
um fato social que compreende dois aspectos: a ao e a norma. Tal dualismo
epistemolgico leva a separar a Sociologia jurdica, que se ocupa da ao, da
cincia do Direito, que trata da norma, mas ambas as cincias se implicam
porque a conduta, o objetivo sociologicamente observvel, assume carter de
juridicidade em funo das normas jurdicas em vigor. (DINIZ, 2001).
O Direito incessantemente teve sua funo social. A Norma Jurdica
existe a fim de governar as relaes jurdicas, assim, o respeito da norma deve
56
Livro_legislacao_katia.indb 56 20/11/2014 09:58:51
Introduo ao Estudo do Direito
atingir o fim para o qual foi criada. Se ela no atinge o seu alvo, no h como
governar as relaes jurdicas, e, consequentemente, no efetiva a sua funo,
o seu propsito.
Alm do mais, deve pronunciar-se que a funo social do Direito
compatibilizar os direitos e as garantias do homem e do cidado, no sentido
de constituir mecanismos de polticas pblicas, as quais oportunizam que
direitos e garantias se confirmem no plano ttico. Convm expressar que o
cumprimento dos Direitos oportuniza ao homem, ao cidado, empresa e ao
empresrio conseguir, do Estado, da sociedade e do mundo em que habitam,
as circunstncias fundamentais para se fortalecer e semear seus planos, sonhos
e escolhas em um espao prprio.
57
Livro_legislacao_katia.indb 57 20/11/2014 09:58:51
Introduo ao Direito
58
Livro_legislacao_katia.indb 58 20/11/2014 09:58:51
2
Aspectos Relevantes do
Direito do Trabalho
Janes Sandra Dinon Ortigara
Neste segundo captulo, trataremos das principais questes
que envolvem o Direito do Trabalho e a sua conceituao. Alm
de estudarmos o conceito, faremos um breve apanhado histrico.
Veremos tambm os princpios que regem este ramo especfico do
Direito, alm das fontes do Direito do Trabalho. Ao final do cap-
tulo, veremos os principais direitos e obrigaes do trabalhador e
do empregador. Neste captulo, que se dedica a estudar o Direito
do Trabalho, veremos os principais posicionamentos doutrinrios
e a relao de trabalho entre empregado e empregador, regida pela
legislao trabalhista.
2.1. Aspectos tericos e prticos
do Direito do Trabalho
Resumidamente podemos entender Direito do Trabalho como
o conjunto de princpios, normas, leis e instituies que regem as
relaes do trabalho subordinado. Os sujeitos do Direito do Tra-
Livro_legislacao_katia.indb 59 20/11/2014 09:58:54
Introduo ao Direito
balho so o empregado e o empregador, como disposto no art. 3o da CLT,
enquanto que o objeto do Direito do Trabalho a relao de trabalho entre o
empregado e empregador.
Por empregador, entende-se a pessoa fsica, prestadora de servios habi-
tuais mediante remunerao com subordinao. Esta definio no cabe a
toda espcie de trabalhador, mas ao empregado subordinado, e no ao servi-
dor pblico, por exemplo. J a definio de empregador no to delimitada.
Entende-se por empregador a pessoa fsica ou jurdica que assalaria, admite e
dirige a prestao pessoal dos servios, como est expresso no art. 2o da CLT.
Alguns tericos consideram o Direito do Trabalho como um ramo do
Direito Pblico; outros consideram um ramo do Direito Privado; e h aque-
les que o consideram como um ramo do Direito Pblico e igualmente do
Direito Privado, desta forma, aceitam uma natureza mista. Segundo Ferraz
(2003, p. 142):
A natureza pblica ou privada das situaes depende, como vimos,
tanto das normas incidentes (regidas ou pelo princpio da soberania
ou da autonomia privada), [...]. Ora, o mesmo ocorre com as espe-
cificaes do direito pblico e privado, com a identificao de seus
ramos. O objetivo o mesmo: criar condies para decidibilidade
com certeza e segurana.
Inicialmente considerava-se o Direito do Trabalho essencialmente de
natureza privada, mas com o crescimento do domnio do Estado passou-se
a admitir tambm uma natureza pblica incorporada a ele, pois, no mbito
estatal, surgem os conjuntos normativos de natureza pblica por meio dos
atos e interesses pblicos, como a previdncia social e normas que regulam o
trabalho em geral, sendo que estas so reguladas pelo prprio Estado.
Os tericos que defendem que o Direito do Trabalho faz parte do ramo
do Direito Privado argumentam que, embora o Direito do Trabalho seja regu-
lado por normas de ordem pblica, pois impem limites estabelecendo obri-
gaes e deveres s partes contratantes na relao empregatcia, o Estado no
participante de um dos lados na relao de trabalho, nem do empregado, nem
do empregador. Assim, esta relao se caracteriza no mbito privado, pois
predomina o interesse dos particulares. Segundo esta perspectiva, baseiam-se
tambm a teoria do titular da ao e a teoria dos interesses em jogo.
60
Livro_legislacao_katia.indb 60 20/11/2014 09:58:54
Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho
H os tericos que defendem que o Direito do Trabalho tem caracters-
ticas do Direito difuso. Este, por sua vez, podemos entender como o Direito
que ultrapassa o interesse de um indivduo. Sendo considerado como inte-
resse da sociedade, podemos considerar o Direito do meio ambiente como
um Direito difuso, assim como alguns tericos consideram o Direito do Tra-
balho, pois, segundo eles, ultrapassa o interesse de apenas um indivduo.
Segundo Nunes (2006, p. 135):
[...] cada vez mais o Estado intervm na rbita privada, no s para
garantir os direitos ali estabelecidos, mas para impor normas de con-
duta, anular pactos e contratos, rever clusulas contratuais, etc. H,
de fato, uma nova concepo social do Direito. Ainda de acordo
com Nunes (2006) esta nova concepo atinge o Direito do Tra-
balho e este se torna um ramo do direito difuso. O autor especifica
direito difuso como sendo o Direito em que os titulares no podem
ser identificados.
O Direito do Trabalho relaciona-se com outros ramos do Direito, como
o Direito Previdencirio, o Direito Civil, o Direito Internacional, o Direito
Penal, entre outros. At mesmo na Constituio Federal, em seu art. 7o, esta-
belece as garantias mnimas dos trabalhadores urbanos e rurais visando uma
melhoria da sua condio social. A emenda constitucional 45/04 alterou o
texto original, gerando uma nova redao no art. 114 da CF/88, definindo
a competncia da Justia do Trabalho para processar e julgar, caso haja o no
cumprimento da lei entre empregados e empregadores.
Desta forma, os contedos trabalhistas so analisados pela Justia Espe-
cializada do Trabalho. Como podemos ver no art. 114 e incisos da Constitui-
o Federal de 1988, que assim dispe:
Art. 114. Compete Justia do Trabalho processar e julgar:
I - as aes oriundas da relao de trabalho, abrangidos os entes de
direito pblico externo e da administrao pblica direta e indireta da
Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios.
II - as aes que envolvam exerccio do direito de greve;
III - as aes sobre representao sindical, entre sindicatos, entre sin-
dicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;
IV - os mandados de segurana, habeas corpus e habeas data, quando
o ato questionado envolver matria sujeita sua jurisdio;
61
Livro_legislacao_katia.indb 61 20/11/2014 09:58:54
Introduo ao Direito
V - os conflitos de competncia entre rgos com jurisdio traba-
lhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o;
VI - as aes de indenizao por dano moral ou patrimonial, decor-
rentes da relao de trabalho;
VII - as aes relativas s penalidades administrativas impostas aos
empregadores pelos rgos de fiscalizao das relaes de trabalho;
VIII - a execuo, de ofcio, das contribuies sociais previstas no art.
195, I, a, e II, e seus acrscimos legais, decorrentes das sentenas que
proferir;
IX - outras controvrsias decorrentes da relao de trabalho, na forma
da lei.
1 [...]
2 Recusando-se qualquer das partes negociao coletiva ou
arbitragem, facultado s mesmas, de comum acordo, ajuizar dissdio
coletivo de natureza econmica, podendo a Justia do Trabalho deci-
dir o conflito, respeitadas as disposies mnimas legais de proteo
ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. 3 Em
caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de leso do
interesse pblico, o Ministrio Pblico do Trabalho poder ajuizar
dissdio coletivo, competindo Justia do Trabalho decidir o con-
flito. (NR)
2.1.1 Evoluo histrica do Direito do Trabalho
No mbito de formao histrica do Direito do Trabalho, Delgado
(2010) menciona que este ramo do Direito nasceu de fatores polticos, eco-
nmicos e sociais. O autor cita tambm que os fatores econmicos influen-
ciaram na criao do Direito do trabalho medida que, com a criao das
grandes indstrias, houve a preciso de mo de obra assalariada para suprir as
necessidades de produo da indstria emergente. O aspecto social, segundo
Delgado (2010), tambm influenciou na criao do Direito do Trabalho, pois
a classe proletria se localizou em torno das grandes indstrias da Europa e
dos Estados Unidos, dando assim uma nova identidade profissional para as
classes operrias. A influncia da poltica na criao do Direito do Traba-
lho deu-se devido a aes criadas e desenvolvidas pela sociedade Civil e pelo
Estado, objetivando esclarecer preceitos para que se desenvolvesse a forma de
contratao e de gerenciamento da fora de trabalho para o sistema produtivo
(DELGADO, 2010).
62
Livro_legislacao_katia.indb 62 20/11/2014 09:58:54
Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho
No Brasil, a abolio da escravatura surgiu como um marco histrico
para o Direito do Trabalho. Segundo Nascimento (2011, p. 88): Abolida a
escravido e proclamada a Repblica, iniciou-se o perodo liberal do direito
do trabalho, caracterizado por algumas iniciativas que, embora sem maior
realce, contriburam para o ulterior desenvolvimento da nossa legislao.
A partir deste momento, eventos histricos marcaram a evoluo do
Direito Trabalhista no Brasil. Delgado (2010, p. 100) cita que: O primeiro
perodo significativo na evoluo do direito do Trabalho no Brasil estende-se
de 1988 a 1930, identificando-se sob o epteto de fase de manifestaes
incipientes ou esparsas. Quanto segunda fase de evoluo do Direito do
Trabalho no Brasil, Delgado (2010, p. 103) menciona:
O segundo perodo a se destacar nessa evoluo histrica ser a fase
de institucionalizao (ou oficializao) do Direito do Trabalho. Essa
fase tem seu marco inicial em 1930, firmando a estrutura jurdica
e institucional de um novo modelo trabalhista at final da ditadura
getulista (1945).
Buscando unificar as leis trabalhistas e estabelecer critrios, surgiu, em
1943, a Constituio de Leis do Trabalho (CLT), que rege as relaes traba-
lhistas at o momento no Brasil. Nascimento (2011, p. 163) esclarece que:
Foram reunidas as leis sobre o direito individual do trabalho, o direito
coletivo do trabalho e o direito processual do trabalho. Surgiu, por-
tanto, promulgada pelo Decreto-lei n. 5.452, de 1 de maio de 1943,
a Consolidao das Leis do Trabalho CLT, [...].
Seguindo este contexto, apresenta-se a evoluo histrica do Direito do
Trabalho, que se desenvolveu a partir de acontecimentos histricos envol-
vendo a sociedade moderna. Neste sentido, destaca-se a Revoluo Industrial
como um acontecimento de suma relevncia para o surgimento do Direito do
Trabalho. Como afirma Nascimento (2011, p. 32):
O direito do trabalho surgiu como conseqncia da questo social
que foi precedida pela Revoluo Industrial do sculo XVIII e da rea-
o humanista que se props a garantir ou preservar a dignidade do
ser humano ocupado no trabalho das indstrias, que, com o desen-
volvimento da cincia, deram nova fisionomia ao processo de produ-
o de bens na Europa e em outros continentes.
Delgado (2010, p. 82) afirma, tambm, que: O Direito do Trabalho ,
pois, produto cultural do sculo XIX e das transformaes econmico-sociais
63
Livro_legislacao_katia.indb 63 20/11/2014 09:58:54
Introduo ao Direito
e polticas ali vivenciadas. O autor menciona ainda que essas transformaes
fizeram da relao do trabalho subordinado o centro do processo produtivo
da sociedade da poca.
No contexto da origem e evoluo histrica do Direito do Trabalho,
Delgado (2010, p. 62) cita:
No que tange a sua origem e evoluo na histria, caracteriza-se por
ser ramo especializado do Direito, oriundo do segmento obrigacional
civil, porm dele se apartando e se distanciando de modo pronun-
ciado. ramo especializado que se construiu a partir da especfica
relao jurdica de trabalho o vinculo de emprego.
Ainda quanto origem do Direito do Trabalho, Delgado (2010, p. 78) apre-
senta:
O Direito do Trabalho produto do capitalismo, atado evoluo
histrica desse sistema, retificando-lhe distores econmico-sociais
e civilizando a importante relao de poder que sua dinmica eco-
nmica cria no mbito da sociedade civil, em especial no estabeleci-
mento e na empresa.
Delgado (2010) tambm menciona que o Direito do Trabalho implan-
tou controles para o sistema econmico iniciado com a Revoluo Indus-
trial do sculo XVIII, inserindo a civilidade e procurando suprimir maneiras
cruis utilizadas por esta economia para tratar a fora de trabalho.
2.1.2 Conceito, natureza e caractersticas
do Direito do Trabalho
Como j vimos, o Direito do Trabalho tm como sujeitos o empregado e
o empregador, e seu objeto a relao trabalhista entre ambas as partes.
O Direito do Trabalho ramo jurdico especializado, que regula certo
tipo de relao laborativa na sociedade contempornea. Seu estudo
deve iniciar-se pela apresentao de suas caractersticas essenciais,
permitindo ao analista uma imediata visualizao de seus contornos
prprios mais destacados. (DELGADO, 2005).
Segundo Martins (apud DIAS, 2009, p. 32), Direito do Trabalho:
[...] o conjunto de princpios, regras e instituies atinentes rela-
o de trabalho subordinado e situaes anlogas, visando assegurar
melhores condies de trabalho e sociais ao trabalhador, de acordo
com as medidas de proteo que lhe so destinadas.
64
Livro_legislacao_katia.indb 64 20/11/2014 09:58:54
Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho
Muitas so as definies do direito do trabalho pelos doutrinadores, mas
h dois eixos principais de teorias, que se dividem em teoria objetiva e teoria
subjetiva. A teoria objetiva d mais enfoque ao trabalho, enquanto a teoria
subjetiva foca mais o trabalhador. A posio subjetiva tem origem na forma-
o histrica do Direito do Trabalho, na medida em que visa proteo dos
trabalhadores. Para Gomes e Gottschakl (2004, p. 9), direito do trabalho :
[...] o conjunto de princpios e regras jurdicas aplicveis s relaes
individuais e coletivas que nascem entre os empregadores privados -
ou equiparados - e os que trabalham sob sua direo e de ambos com
o Estado, por ocasio do trabalho ou eventualmente fora dele.
Donato (1979, p. 6) adota uma definio objetiva para o Direito do
Trabalho ao afirmar que o [...] corpo de princpios e de normas jurdicas
que ordenam a prestao do trabalho subordinado ou a este equivalente, bem
como as relaes e os riscos que dela se originam.
O Direito do Trabalho o ramo do Direito que regula as relaes de
trabalho subordinado por meio das normas jurdicas especficas. Estas, por sua
vez, determinam os sujeitos e as organizaes, e tem como finalidade a prote-
o da atividade e da estrutura desse trabalho caracterizado como subordinado.
Alm das normas jurdicas positivadas, o Direito do Trabalho com-
posto pelo conjunto de princpios que tambm disciplinam e regulam a rela-
o de trabalho entre empregados e empregadores.
Moraes (2003, p. 39) ressalta que o Direito do Trabalho tambm
regula eventualmente o trabalho autnomo, quando define o Direito do
Trabalho como o:
Conjunto de princpios e de normas que regulam as relaes jurdicas
oriundas da prestao do servio subordinado e excepcionalmente do
autnomo, alm de outros aspectos destes ltimos, como conseqn-
cia da situao econmica das pessoas que o exercem.
Quanto s funes do Direito do Trabalho, a doutrina diverge quanto a
sua funo essencial, havendo pelo menos seis posies diferentes em relao
s funes do Direito do Trabalho: normativa, tutelar, social, econmica, coor-
denadora e conservadora. Posteriormente analisaremos cada uma em separado.
Delgado (2010, p. 62) menciona que: [...] segmento jurdico que
cumpre objetivos fortemente sociais, embora tenha tambm importantes
65
Livro_legislacao_katia.indb 65 20/11/2014 09:58:54
Introduo ao Direito
impactos econmicos, culturais e polticos. Mas esta posio diverge entre
os tericos, como veremos posteriormente.
As normas jurdicas do Direito do Trabalho englobam, por exemplo,
o registro do empregado, o contrato de trabalho, a despedida, a resciso, os
salrios e reajustes, a jornada de trabalho, entre outros. Essas normas regu-
lamentam tambm o chamado Direito Coletivo do Trabalho, que trata dos
acordos coletivos de trabalho, da organizao sindical, do direito de greve etc.
Importante elucidar a posio de Reale (1995) a respeito do Direito do
Trabalho. Para ele:
[...] estabelece-se como um sistema de regras e princpios que regu-
lamentam as relaes entre empregados e empregadores, alm de
regular as atividades das entidades representativas e organizar rgos
Previdencirios e de Seguridade sociais, o Direito do Trabalho busca
ainda, soluo de conflitos entre indivduos e as categorias profissio-
nais permitindo assim o benefcio da coletividade.
O Direito do Trabalho possui caractersticas que o distinguem dos
demais ramos do Direito, por ser um ramo com peculiaridades prprias.
Dessa forma, podemos dizer que o Direito do Trabalho um ramo autnomo
do Direito.
Sobre a autonomia legislativa do Direito do Trabalho, Nascimento
(2011, p. 346) cita:
A elaborao legislativa do direito do trabalho no recente, e
podem ser apontados como antecedentes histricos os Estatutos
das Corporaes de Ofcio, da Idade Mdia. No perodo da sua
expanso na Europa, foi buscar as suas diretrizes no direito civil,
em especial na locao de servios, sendo essa a sua primeira funda-
mentao normativa. Na atualidade, goza o direito do trabalho de
uma total e prpria legislao, quer no plano constitucional, quer no
nvel da lei ordinria.
Este autor menciona que o Direito do Trabalho possui autonomia
doutrinria, pois h uma extensa bibliografia trabalhista prpria e princ-
pios prprios. Ele tambm cita que o Direito do Trabalho possui autono-
mia didtica, sustentando uma cadeira prpria em faculdades de Direito
e tambm em outros cursos, o que permitido graas a sua maturidade
cientfica. Nascimento (2011) enfatiza que o Direito do Trabalho possui
66
Livro_legislacao_katia.indb 66 20/11/2014 09:58:54
Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho
tambm autonomia jurisdicional, pois possui uma jurisdio especial, que
se trata da Justia do Trabalho.
No mbito da estrutura jurdica prpria do Direito do Trabalho, Del-
gado (2010, p. 62) aduz:
No que diz respeito sua estrutura jurdica, composto essencial-
mente por normas imperativas (e no dispositivas). Alm disso, no
seu cerne normativo, tm decisiva presena os princpios jurdicos,
notadamente seus princpios jurdicos especiais e os princpios jurdi-
cos gerais, inclusive de matriz constitucional, que sejam valorizado-
res da dignidade da pessoa humana e do trabalho e emprego. Outra
peculiaridade de relevo reside no fato de possuir, internamente, duas
dimenses: a dimenso individual, que gira em torno da regulao
do contrato de trabalho, e a dimenso coletiva, que gira em torno das
relaes e seres coletivos trabalhistas.
Lima (2004 apud NORONHA NETO, 2005) indica as principais
caractersticas que diferenciam este ramo jurdico dos demais: a socialidade,
a imperatividade, o protecionismo, o coletivismo, a justia social e a distri-
buio de riqueza.
A fim de fixar o que consideram caracteres fundamentais do Direito do
Trabalho, Moraes Filho e Moraes (1995) fizeram a seguinte exposio:
a) um direito in fieri, um werdendes Recht, que tende cada vez
mais a ampliar-se;
b) trata-se de uma reivindicao de classe tuitivo por isso mesmo;
c) intervencionista, contra o dogma liberal da economia, por isso
mesmo cogente, imperativo, irrenuncivel;
d) de cunho nitidamente cosmopolita, internacional ou universal;
e) os seus institutos mais tpicos so de ordem coletiva ou socializante;
f ) um direito de transio, para uma civilizao em mudana.
Na mesma linha de pensamento, Barros (2005) defende que:
[...] entre as caractersticas do Direito do Trabalho, a doutrina nacio-
nal aponta: a) a tendncia in fieri, isto , ampliao crescente; b) o
fato de ser um direito tuitivo, de reivindicao de classe; c) de cunho
intervencionista; d) o carter cosmopolita, isto , influenciado pelas
normas internacionais; e) o fato de os seus institutos jurdicos mais
tpicos serem de ordem coletiva ou socializante; f ) o fato de ser um
direito em transio.
67
Livro_legislacao_katia.indb 67 20/11/2014 09:58:54
Introduo ao Direito
Podemos dizer, desta forma, que o Direito do Trabalho detm a tutela
na relao do trabalho entre pessoas privadas a fim de garantir uma relao
autnoma de trabalho entre empregado e empregador, garantindo que no
haja explorao pela parte economicamente mais forte, equilibrando as foras
desiguais. Com a finalidade de garantir este equilbrio, o Direito do Trabalho
se pauta tambm em princpios jurdicos, como veremos a seguir.
2.1.3 Princpios do Direito do Trabalho
Os princpios fundamentais de Direito do Trabalho asseguram a existn-
cia deste ramo do Direito, pois seus princpios regulam a fora de poder entre
as partes no contrato de trabalho e durante seu desenvolvimento.
vila (2009, p. 80) nos ensina que:
[...] os princpios no so apenas valores cuja realizao fica na
dependncia de meras preferncias pessoais. Eles so, ao mesmo
tempo, mais do que isso e algo diferente disso. Os princpios ins-
tituem o dever de adotar comportamentos necessrios realizao
de um estado de coisas ou, inversamente, instituem o dever de efe-
tivao de um estado de coisas pela adoo de comportamentos a
ele necessrios.
Podemos entender por princpios, no mbito do Direito, uma espcie
de enunciado lgico que serve como base ou condio de validade para os
demais enunciados que compem o Direito. O ramo do Direito do Trabalho
tem seus princpios especficos, mas que tem certa variao, dependendo do
terico do Direito.
Segundo Nascimento (2011, p. 453), os princpios esto no ordena-
mento jurdico caracterizando-se como valores que o direito reconhece, dos
quais as regras jurdicas no se devem afastar para que possam cumprir ade-
quadamente os seus fins.
Delgado (2010, p. 180) menciona que: O Direito Material do Trabalho
segmenta-se em um ramo individual e em um ramo coletivo, cada um pos-
suindo regras, institutos e princpios prprios.
Lembremos que a CLT traz, em seu art. 8o, a previso da possibilidade
da utilizao dos princpios por parte das autoridades administrativas e da
Justia do Trabalho:
68
Livro_legislacao_katia.indb 68 20/11/2014 09:58:54
Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho
Art. 8 As autoridades administrativas e a Justia do Trabalho, na
falta de disposies legais ou contratuais, decidiro, conforme o caso,
pela jurisprudncia, por analogia, por eqidade e outros princpios
e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e,
ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas
sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular pre-
valea sobre o interesse pblico. (CLT, 1943).
Quanto ao Direito Individual do Trabalho e ao Direito Coletivo, Del-
gado (2010, p. 181) esclarece que:
Essa disparidade de posies na realidade concreta fez emergir um
direito Individual do Trabalho largamente protetivo, caracterizado
por mtodos, princpios e regras que buscam reequilibrar, juridica-
mente, a relao desigual vivenciada na prtica cotidiana da relao
de emprego.
O Direito Coletivo, ao contrrio, um ramo jurdico construdo a
partir de uma relao entre seres teoricamente equivalentes: seres cole-
tivos ambos, o empregador de um lado e, de outro, o ser coletivo obreiro,
mediante as organizaes sindicais.
Vejamos, ento, os mais importantes princpios justrabalhistas indicados
pela doutrina segundo Delgado (2010, p. 182):
a) Princpio da Proteo (conhecido tambm como princpio tute-
lar ou tuitivo ou protetivo ou ainda, tutelar-protetivo e denomi-
nao congneres);
b) princpio da norma mais favorvel;
c) princpio da imperatividade das normas trabalhistas;
d) princpio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas (conhe-
cido ainda como princpio da irrenunciabilidade dos direitos
trabalhistas);
e) princpio da condio mais benfica (ou da clusula mais benfica);
f ) princpio da inalterabilidade contratual lesiva (mais conhecido
simplesmente como princpio da inalterabilidade contratual;
merece ainda certos eptetos particularizados, como princpio da
intangibilidade contratual objetiva);
g) princpio da intangibilidade salarial (chamado tambm integra-
lidade salarial, tendo ainda como correlato o princpio da irre-
dutibilidade salarial);
h) princpio da primazia da realidade sobre a forma;
69
Livro_legislacao_katia.indb 69 20/11/2014 09:58:55
Introduo ao Direito
i) princpio da continuidade da relao de emprego;
j) princpio in dbio pro operario;
k) princpio do Maior Rendimento.
a) Princpio da Proteo
Este princpio uma proteo parte hipossuficiente na relao
empregatcia o obreiro, ou trabalhador visando retificar (ou
atenuar), no plano jurdico, o desequilbrio inerente ao plano ftico
do contrato de trabalho (DELGADO, 2010, p. 183). Este princpio
tem o objetivo de proteger o empregado, especificamente, e no
qualquer trabalhador, pois o servidor pblico no assegurado pela
CLT, mas por lei especfica.
Na definio de Rodrigues (1996, p. 30), o Princpio da Proteo se
refere ao critrio fundamental que orienta o Direito do Trabalho,
pois este, em vez de inspirar-se em um propsito de igualdade,
responde ao objetivo de estabelecer um amparo preferencial a uma
das partes: o trabalhador. Ou seja, esse princpio tem por desgnio
o amparo do empregado, que a parte mais frgil na relao
de emprego.
Segundo Martins (2012, p. 69), o Princpio da Proteo pode ser
desmembrado em trs partes: a) o in dbio pro operario; b) o da
aplicao da norma mais favorvel ao trabalhador; c) o da aplica-
o da condio mais benfica ao trabalhador. No entanto, outros
autores classificam esses princpios de forma separada e indepen-
dente, como podemos ver a seguir.
b) Princpio da Norma Mais Favorvel
Este princpio impe ao jurista o dever de aplicar ao caso a medida
que mais favorece ao trabalhador. Neste sentido, Sssekind et al.
(1997, p. 134) nos ensinam que: [...] independentemente da sua
colocao na escala hierrquica das normas jurdicas, aplica-se, em
cada caso, a que for mais favorvel ao trabalhador.
Godinho (2007, p. 199) afirma que no somente na interpretao
das normas que este princpio deve ser observado, mas tambm:
70
Livro_legislacao_katia.indb 70 20/11/2014 09:58:55
Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho
[...] no instante de elaborao da regra (princpio orientador da
ao legislativa, portanto) ou no contexto de confronto entre regras
concorrentes (princpio orientador do processo de hierarquizao de
normas trabalhistas) ou, por fim, no contexto de interpretao das
regras jurdicas (princpio orientador do processo de revelao do
sentido da regra trabalhista).
Delgado (2010, p. 184) nos explica que:
O presente princpio dispe que o operador do Direito do Trabalho
deve optar pela regra mais favorvel ao obreiro em trs situaes ou
dimenses distintas: no instante de elaborao da regra (princpio
orientador da ao legislativa, portanto) ou no contexto de confronto
entre regras concorrentes (princpio orientador do processo de
hierarquizao de normas trabalhistas) ou, por fim, no contexto de
interpretao das regras jurdicas (princpio orientador do processo de
revelao do sentido da regra trabalhista).
Esse princpio tambm citado na CLT, no art. 620, ao enunciar
que: [...] as condies estabelecidas em Conveno, quando mais
favorveis, prevalecero sobre as estipuladas em Acordo. Desta
forma, assegura garantias aos trabalhadores, independentemente
da posio hierrquica da norma.
c) Princpio da Imperatividade das Normas Trabalhistas
Este princpio d obrigatoriedade e imperatividade s normas tra-
balhistas em relao a outras normas. Segundo esse princpio, no
pode haver transaes ou renncia em relao s normas trabalhis-
tas, salvo se houver previso nos arts. 9o, 444 e 468 da CLT.
Para esse princpio, Delgado (2010, p. 196) expe que:
[...] prevalece a restrio autonomia da vontade no contrato tra-
balhista, em contraponto diretriz civil de soberania das partes no
ajuste das condies contratuais. Esta restrio tida como instru-
mento assecuratrio eficaz de garantias fundamentais ao trabalhador,
em face de desequilbrio de poderes inerentes ao contrato de emprego.
Rodriguez (2000, p. 150) observa que as regras de Direito do
Trabalho tm, em geral, carter imperativo e irrenuncivel. [...] No
caso das leis do trabalho, a imperatividade se baseia no interesse e
na necessidade de organizar a economia e de preservar a espcie.
Ou seja, as normas no podem ser flexibilizadas pelas partes
71
Livro_legislacao_katia.indb 71 20/11/2014 09:58:55
Introduo ao Direito
(empregador e empregado). Correspondem a normas imperativas,
que esto acima da vontade das partes.
d) Princpio da Indisponibilidade dos Direitos Trabalhistas
Este princpio conceituado por Delgado (2010, p. 186) de
forma que: [...] traduz a inviabilidade tcnico-jurdica de poder
o empregado despojar-se, por sua simples manifestao de von-
tade, das vantagens e protees que lhe asseguram a ordem jurdica
e o contrato.
Delgado (2010, p. 186), no seu vasto conhecimento, ainda expe:
A indisponibilidade inata aos direitos trabalhistas constitui-se tal-
vez no veculo principal utilizado pelo Direito do Trabalho para
tentar igualizar, no plano jurdico, a assincronia clssica existente
entre os sujeitos da relao socioeconmica de emprego. O aparente
contingenciamento de liberdade obreira que resulta da observncia
desse princpio desponta, na verdade, como o instrumento hbil a
assegurar efetiva liberdade no contexto da relao empregatcia:
que aquele contingenciamento atenua ao sujeito individual obreiro
a inevitvel restrio de vontade que naturalmente tem perante o
sujeito coletivo empresarial.
O Princpio da Indisponibilidade dos Direitos Trabalhistas corres-
ponde impossibilidade de o empregado abdicar, voluntariamente,
das vantagens que lhe so garantidas pela lei trabalhista. Tem por
objetivo proteger o trabalhador contra possveis coaes que os
empregadores possam vir a exercer por meio de ameaas, como a
resciso do contrato, por exemplo.
Art. 468 Nos contratos individuais de trabalho s lcita a alte-
rao das respectivas condies por mtuo consentimento, e ainda
assim desde que no resultem, direta ou indiretamente, prejuzos
ao empregado, sob pena de nulidade da clusula infringente desta
garantia. (CLT).
e) Princpio da Condio mais Benfica
Segundo Barros (2005, p. 170), o Princpio da Condio mais
Benfica
[...] se direciona a proteger situaes pessoais mais vantajosas que se
incorporam ao patrimnio do empregado, por fora do prprio con-
72
Livro_legislacao_katia.indb 72 20/11/2014 09:58:55
Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho
trato, de forma expressa ou tcita consistente esta ltima em forne-
cimentos habituais de vantagens que no podero ser retiradas, sob
pena de violao ao artigo 468 da CLT.
Conforme podemos ver a seguir, o art. 468 da CLT:
Nos contratos individuais de trabalho s lcita a alterao das respec-
tivas condies por mtuo consentimento, e ainda assim desde que
no resultem, direta ou indiretamente, prejuzos ao empregado, sob
pena de nulidade da clusula infringente desta garantia.
Pargrafo nico No se considera alterao unilateral a determi-
nao do empregador para que o respectivo empregado reverta ao
cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exerccio de fun-
o de confiana.
No entendimento de Delgado (2010, p. 187):
Este princpio importa na garantia de preservao, ao longo do con-
trato, da clusula contratual mais vantajosa ao trabalhador, que se
reveste do carter de direito adquirido (art. 5, XXXVI, CF/88). Ade-
mais, para o princpio, no contraponto entre dispositivos contratuais
concorrentes, h de prevalecer aquele mais favorvel ao empregado.
Maranho et al. (1997, p. 129), por sua vez, conceituam o Princ-
pio da Condio mais Benfica como
[...] o que determine a prevalncia das condies mais vantajosas para
o trabalhador, ajustadas no contrato de trabalho ou resultantes do
regulamento da empresa, ainda que vigore ou sobrevenha norma jur-
dica imperativa prescrevendo menor nvel de proteo e que com esta
no sejam elas incompatveis.
Desta forma, esse princpio assemelha-se ao Princpio da Norma
mais Favorvel. A diferena que este aplica-se s clusulas contra-
tuais, enquanto aquele dirige-se s leis.
Smula no 51 do TST: As clusulas regulamentares, que revoguem
ou alterem vantagens deferidas anteriormente, s atingiro os traba-
lhadores admitidos aps a revogao ou alterao do regulamento.
f) Princpio da Inalterabilidade Contratual Lesiva
O Princpio da Inalterabilidade Contratual Lesiva diz respeito
expresso pacta sunt servanda, o que significa dizer que os pactos
devem ser respeitados. Este princpio advm do Direito Civil,
73
Livro_legislacao_katia.indb 73 20/11/2014 09:58:55
Introduo ao Direito
mas de extrema importncia para o Direito do Trabalho. Nor-
malmente, esse princpio estudado como [...] princpio geral do
direito (ou de seu ramo civilista) aplicvel ao segmento juslaboral
(DELGADO, 2010).
Ainda conforme Delgado (2010) nos ensina, as clusulas dos con-
tratos de trabalho so cada vez mais o objeto de negociao entre
empregadores e empregados. Este fato marcado principalmente
pelo fortalecimento das entidades representativas dos empregados.
Por este motivo, a observncia do Princpio da Inalterabilidade
Contratual Lesiva fundamental para a proteo da classe traba-
lhadora, conforme artigo a seguir.
Art. 444 As relaes contratuais de trabalho podem ser objeto de
livre estipulao das partes interessadas em tudo quanto no contrave-
nha s disposies de proteo ao trabalho, aos contratos coletivos que
lhes sejam aplicveis e s decises das autoridades competentes. (CLT).
H alteraes que so permitidas, desde que no lesivas ao con-
trato de trabalho. Trata-se daquelas de menor importncia, que no
atingem as clusulas efetivas do pacto entre as partes, como as do
pargrafo nico do art. 468 da CLT e do art. 7o, VI, CF/88, a saber:
Art. 468. Nos contratos individuais de trabalho s lcita a alterao
das respectivas condies por mtuo consentimento, e ainda assim
desde que no resultem, direta ou indiretamente, prejuzos ao empre-
gado, sob pena de nulidade da clusula infringente desta garantia.
Pargrafo nico No se considera alterao unilateral a determi-
nao do empregador para que o respectivo empregado reverta ao
cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exerccio de fun-
o de confiana.
Art. 7. So direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alm de
outros que visem melhoria de sua condio social:
VI - irredutibilidade do salrio, salvo o disposto em conveno
ou acordo coletivo.
Este princpio assegura o direito do trabalhador de ter o seu contrato
de trabalho inalterado por parte do empregador, ou seja, assegura
os direitos do empregado diante do empregador em relao ao
contrato de trabalho.
74
Livro_legislacao_katia.indb 74 20/11/2014 09:58:55
Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho
g) Princpio da Intangibilidade Salarial
Este princpio refere-se ao direito que o trabalhador tem de rece-
ber a contraprestao por seu trabalho. Seu salrio (advindo do seu
trabalho) deve prover suas necessidades bsicas como alimentao,
moradia, educao, sade, transporte etc. Garante tambm que o
salrio do trabalhador no seja reduzido, visando assegurar a esta-
bilidade econmica do empregado.
O Princpio da Intangibilidade Salarial tem relao direta com o
Princpio Constitucional: o princpio da dignidade do ser humano.
h) Princpio da Primazia da Realidade sobre a Forma
Este princpio assegura outra garantia para o trabalhador: a de que,
mesmo se o trabalho no estiver documentado formalmente, ele
tenha direitos, pois os fatos prevalecem sobre a forma. Tambm, se
h discordncia entre a realidade e o que est documentado, preva-
lecer a realidade.
Delgado (2010, p. 192) nos apresenta a sua viso sobre este princpio:
O princpio da primazia da realidade sobre a forma (chamado ainda
de princpio do contrato realidade) amplia a noo civilista de que
o operador jurdico, no exame das declaraes volitivas, deve aten-
tar mais inteno dos agentes do que ao envoltrio formal atra-
vs de que transpareceu a vontade (art. 85, CCB/1916; art. 112,
CCB/2002).
Sob a observao de Delgado (2010), podemos observar a mudana
no Cdigo Civil:
Art. 85 do Cdigo Civil de 1916 Lei 3071/16
Art. 85. Nas declaraes de vontade se atender mais sua inteno
que ao sentido literal da linguagem.
Art. 112 do Cdigo Civil - Lei 10406/02.
Art.112. Nas declaraes de vontade se atender mais inteno nelas
consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.
i) Princpio da Continuidade da Relao de Emprego
Este princpio tem relao com a indeterminao do tempo de tra-
balho, pois pressupe que o trabalhador deseja continuar prestando
75
Livro_legislacao_katia.indb 75 20/11/2014 09:58:55
Introduo ao Direito
servio para determinado empregador. Esse princpio encontra
amparo tanto constitucional, em seu art. 7o, inciso I, quanto na
smula 212 do TST, assim como na CLT.
Segundo o que nos ensina Delgado (2010, p. 193):
[...] tal princpio que de interesse do Direito do Trabalho a perma-
nncia do vnculo empregatcio, com a interao do trabalhador na
estrutura e dinmica empresarial. Apenas mediante tal permanncia
e integrao que a ordem justrabalhista poderia cumprir satisfato-
riamente o objetivo teleolgico do Direito do Trabalho, de assegurar
melhores condies, sob a tica obreira, de pactuao e gerencia-
mento da fora de trabalho em determinada sociedade.
O Princpio da Continuidade da Relao de Emprego tem seu suporte
terico regulado pelos arts. 10 e 448 da CLT, conforme segue:
Art. 10 Qualquer alterao na estrutura jurdica da empresa no
afetar os direitos adquiridos por seus empregados.
Art. 448 A mudana na propriedade ou na estrutura jurdica da
empresa no afetar os contratos de trabalho dos respectivos empregados.
Constituio Federal de 1988:
Artigo 7 - So direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alm de
outros que visem melhoria de sua condio social:
I - relao de emprego protegida contra despedida arbitrria ou sem
justa causa, nos termos de lei complementar, que prever indenizao
compensatria, dentre outros direitos.
De acordo com a Smula no 212 do TST (nus da Prova Tr-
mino do Contrato de Trabalho Princpio da Continuidade), o
nus de provar o trmino do contrato de trabalho, quando negados
a prestao de servio e o despedimento, do empregador, pois o
Princpio da Continuidade da Relao de Emprego constitui pre-
suno favorvel ao empregado.
Esse princpio tem por objetivo definir que, em regra, os contratos
de trabalho so vlidos por tempo indeterminado. Esta mais uma
garantia que o trabalhador tem em relao a seu emprego.
Pensamos ser importante analisar mais dois princpios fundamentais
para o ramo do Direito do Trabalho: o Princpio in Dbio pro Ope-
rario e o Princpio do maior Rendimento, como veremos a seguir.
76
Livro_legislacao_katia.indb 76 20/11/2014 09:58:55
Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho
j) Princpio in Dubio pro Operario
importante analisar este princpio, pois ele um dos princpios
mais antigos na doutrina referente aos princpios justrabalhistas.
Ele est diretamente ligado ao Princpio da Norma mais Favorvel,
como vimos anteriormente.
Conforme nos apresenta Leite (2006, p. 488), o Princpio in Dubio
pro Operario [...] consiste na possibilidade de o juiz, em caso de
dvida razovel, interpretar a prova em benefcio do empregado,
geralmente autor da ao trabalhista. Afinal, o carter instrumental
do processo no se confunde com sua forma.
Conforme Schiavi (2011), o Princpio in Dubio pro Operario deve
ser aplicado somente no caso de se esgotar todas as possibilidades
de avaliao precedentes.
No obstante, em caso de dvida, o Juiz do Trabalho deve procurar
a melhor prova, inclusive se baseando pelas regras de experincia
do que ordinariamente acontece, intuio, indcios e presunes.
Somente se esgotados todos os meios de se avaliar qual foi a melhor
prova, a sim poder optar pelo critrio de aplicabilidade ou no do
princpio in dubio pro operario como razo de decidir. (SCHIAVI,
2011, p. 83).
De uma forma geral, esse princpio corresponde ao fato de que,
havendo dvida, o aplicador da lei dever aplic-la da maneira mais
benfica ao trabalhador.
k) Princpio do maior Rendimento
Conforme apresentado por Vilhena (1993, p. 127), o Princpio do
maior Rendimento dispe que: [...] o empregado est na obri-
gao de desenvolver suas energias normais em prol da empresa,
prestando servios regularmente, disciplinar e funcionalmente.
Da podemos pressupor que o empregado deva agir conforme os
valores da lealdade e da boa-f no cumprimento de suas obrigaes
para com o empregador.
Desta forma, esse princpio fala a respeito do dever do empregado
de dar o melhor trabalho em benefcio do empreendimento ou
da empresa.
77
Livro_legislacao_katia.indb 77 20/11/2014 09:58:55
Introduo ao Direito
Os princpios que fundamentam o ramo justrabalhista so de
grande importncia no mbito do Direito do Trabalho, pois, alm
de assegurarem direitos ao trabalhador, preservam as conquistas
alcanadas por estes no decurso da histria das relaes empregat-
cias e equilibram a relao entre partes desiguais economicamente.
2.1.4 Classificao das fontes do Direito do Trabalho
Primeiramente, consideramos importante elencar as fontes do Direito
em geral e do Trabalho, a fim de termos uma noo clara de quais so essas
fontes, como podemos ver a seguir, para em um segundo momento classifi-
carmos essas fontes em materiais e formais.
Importante ressaltar que, no Direito do Trabalho, as fontes de Direito
no obedecem a uma hierarquia, como acontece no Direito em geral; em
primeiro lugar, a finalidade do Direito do Trabalho se diferencia da finalidade
do Direito comum: o Direito do Trabalho tem como objetivo a melhoria das
condies sociais do trabalhador. Em segundo lugar, o princpio da Norma
mais Favorvel ao Trabalhador prevalece em relao ao Princpio da Hierar-
quia, desta maneira, ao haver conflito entre normas, no prevalecer a norma
hierarquicamente superior, mas a norma mais favorvel ao trabalhador.
Fontes do Direito em geral e do Direito do Trabalho:
1. constituio;
2. leis;
3. atos do Poder Executivo;
4. sentena normativa;
5. convenes e acordos coletivos;
6. regulamentos de empresa;
7. disposies contratuais;
8. usos e costumes;
9. normas internacionais.
Podemos dizer que as fontes do Direito em geral so o lugar legitima-
dor das regras jurdicas. Ao mesmo tempo em que legitimam e do fora obri-
78
Livro_legislacao_katia.indb 78 20/11/2014 09:58:55
Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho
gatria s normas jurdicas por meio da vigncia e da eficcia, elas so vli-
das e aceitas por serem tambm fundamento de validade do prprio Direito,
como vimos no primeiro captulo deste livro.
De modo geral, podemos dizer que o Direito do Trabalho detm fontes
formais e materiais, assim como o Direito em geral. So entendidas como
fontes materiais os acontecimentos que orientam o legislador a publicar a lei.
Por fontes formais, entendemos aquelas impostas pelo ordenamento jurdico,
e se fragmentam em diretas e indiretas.
No entendimento geral, o apontamento fonte, entre outras definies,
pode ser conhecido como origem, provenincia. Podemos expressar desta
forma: fonte como a origem das normas trabalhistas.
Para Ascenso (2003):
As Fontes podem ser apreendidas conforme seu significado:
Histrico (como o direito romano);
Instrumental (documentos que contm as regras jurdicas leis,
cdigos, etc.) Sociolgicos ou materiais (condicionamentos
sociais que produzem determinada norma);
Orgnico (rgos de produo da norma jurdica);
Tcnico-jurdico ou dogmtico (modos de formao e revelao
das regras jurdicas).
O entendimento de Cassar (2009, p. 56) sobre a definio de fontes
formais e materiais muito esclarecedor para compreendermos as diferenas
entre as duas fontes de Direito:
[...] fontes materiais de Direito do Trabalho encontra-se num estgio
anterior s fontes formais, porque contribuem com a formao do
direito material; antecedente lgico das fontes formais. O fenmeno
da movimentao social dos trabalhadores, em busca de melhoria das
condies de trabalho atravs de protestos, reivindicaes e paralisa-
es, constituem exemplos de fonte material de Direito do Trabalho.
Da mesma forma, as presses dos empregadores em busca de seus
interesses econmicos ou para flexibilizao das regras rgidas tra-
balhistas tambm so consideradas fontes materiais. Em resumo, a
fonte material de Direito do Trabalho a ebulio social, poltica e
econmica que influencia de forma direta ou indireta na confeco,
transformao ou formao de uma norma jurdica. Afinal, as leis so
79
Livro_legislacao_katia.indb 79 20/11/2014 09:58:55
Introduo ao Direito
confeccionadas para a satisfao dos apelos sociais e o direito para
satisfazer a coletividade.
Desta forma, podemos entender que, se as fontes materiais so fruto de
fenmenos sociais em geral, ento as fontes materiais so provenientes do
Estado, pois estas so consequncia lgica das fontes materiais.
Podemos observar tambm a classificao adotada por Delgado (2010),
a qual consegue detectar os principais mbitos originrios das fontes mate-
riais, como podemos ver a seguir.
a) Fontes Materiais Econmicas:
Para Delgado (2010, p. 129):
As fontes materiais do Direito do Trabalho, sob a perspectiva eco-
nmica, esto, regra geral, atadas existncia e evoluo do sistema
capitalista. Trata-se da Revoluo Industrial, no sculo XVIII, e suas
consequncias na estruturao e propagao do sistema econmico
capitalista, da forma de produo adotada por esse sistema, baseada
no modelo chamado grande indstria, em oposio s velhas frmu-
las produtivas, tais como o artesanato e a manufatura. Tambm so
importantes fatores que favoreceram o surgimento do ramo justraba-
lhista a concentrao e centralizao dos empreendimentos capitalis-
tas, tendncia marcante desse sistema econmico-social.
Todos esses fatos provocaram a macia utilizao de fora de trabalho,
nos moldes empregatcios, potencializando, na economia e sociedade
contemporneas, a categoria central do futuro ramo justrabalhista, a
relao de emprego.
b) Fontes Materiais Sociolgicas:
apresentado por Delgado (2010, p. 129) da seguinte maneira:
[...] dizem respeito aos distintos processos de agregao de trabalha-
dores assalariados, em funo do sistema econmico, nas empresas,
cidades e regies do mundo ocidental contemporneo. Esse processo,
iniciado no sculo XVIII, especialmente na Inglaterra, espraiou-se
para a Europa Ocidental e norte dos Estados Unidos, logo a seguir,
atingindo propores significativas no transcorrer do sculo XIX.
A crescente urbanizao, o estabelecimento de verdadeiras cidades
industriais-operrias, a criao de grandes unidades empresariais,
todos so fatores sociais de importncia na formao do Direito do
Trabalho: que tais fatores iriam favorecer a deflagrao e o desenvol-
vimento de processos incessantes de reunies, debates, estudos e aes
80
Livro_legislacao_katia.indb 80 20/11/2014 09:58:55
Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho
organizativas por parte dos trabalhadores, em busca de formas eficazes
de interveno no sistema econmico circundante.
c) Fontes Materiais Polticas:
Para Delgado (2010, p. 129), elas:
[...] dizem respeito aos movimentos sociais organizados pelos traba-
lhadores, de ntido carter reivindicatrio, como o movimento sin-
dical, no plano das empresas e mercado econmico, e os partidos e
movimentos polticos operrios, reformistas ou de esquerda, atuando
mais amplamente no plano da sociedade civil e do Estado. Observe-
-se, a propsito, que a dinmica sindical, nas experincias clssicas
dos pases capitalistas desenvolvidos, emergiu no somente como
veculo indutor elaborao de regras justrabalhistas pelo Estado;
atuou, combinadamente a isso, como veculo produtor mesmo de
importante espectro do universo jurdico laboral daqueles pases (no
segmento das chamadas fontes formais autnomas).
d) Fontes Materiais Filosficas (Poltico-Filosficas):
Delgado (2010, p. 130), por sua vez, ensina que:
[...] correspondem s ideias e correntes de pensamento que, articulada-
mente entre si ou no, influram na construo e mudana do Direito
do Trabalho. Em um primeiro instante, trata-se daquelas vertentes
filosficas que contriburam para a derrubada da antiga hegemonia
do iderio liberal capitalista, preponderante at a primeira metade do
sculo XIX. Tais ideais antiliberais, de fundo democrtico, propunham
a interveno normativa nos contratos de trabalho, seja atravs das
regras jurdicas produzidas pelo Estado, seja atravs das produzidas pela
negociao coletiva trabalhista, visando atenuar-se o desequilbrio de
poder inerente relao de emprego. Nesta linha foram tpicas fontes
materiais, sob o prisma filosfico, o socialismo, nos sculos XIX e XX,
e correntes poltico-filosficas afins, como o trabalhismo, o socialismo-
-cristo, etc. Alm dessas correntes de carter socialista, trabalhista,
social-democrtico e congneres, existem outras linhas de pensamento
sistematizado que influenciaram, nos ltimos cem anos, a criao ou
mudana do Direito do Trabalho. Cite-se por ilustrao, o bysmarquia-
nismo, no final do sculo XIX, o fascismo-corporativismo, na primeira
metade do sculo XX, e, finalmente, o neoliberalismo, nas ltimas
dcadas do sculo XX e incio do sculo XXI [...].
Por fontes formais, podemos considerar aquelas que necessitam de
um fenmeno exteriorizante, entendendo este fenmeno como as
fontes materiais (como vimos anteriormente). As fontes formais
81
Livro_legislacao_katia.indb 81 20/11/2014 09:58:55
Introduo ao Direito
so o meio pelo qual as regras e normas jurdicas se revelam. Como
define Delgado (2010, p. 130), [...] os mecanismos exteriores e
estilizados pelos quais as normas ingressam instalam-se e cristali-
zam-se na ordem jurdica.
Acrescentamos a definio de Cassar (2009, p. 58) para enriquecer
a definio sobre fontes formais:
As fontes formais so os comandos gerais, abstratos, impessoais e
imperativos. Conferem norma jurdica o carter positivo, obri-
gando os agentes sociais. imposta e se incorpora s relaes jur-
dicas. Ordena os fatos segundo valores, regula as relaes e as liga a
determinadas consequncias
As fontes formais conferem o carter positivo Norma Jurdica
porque emanam do Estado ou so asseguradas por este. H dois
tipos de fontes formais, as heternomas e as autnomas.
a) Fontes Formais Heternomas
Na viso de Cassar (2009, p. 58), [...] so aquelas que emanam do
Estado e normalmente so impostas ou aquelas em que o Estado
participa ou interfere.
Delgado (2010, p. 132) nos apresenta o seu conceito:
Heternomas seriam as regras cuja produo no se caracteriza pela
imediata participao dos destinatrios principais das mesmas regras
jurdicas. So, em geral, as regras de direta origem estatal, como a
Constituio, as leis, medidas provisrias, decretos e outros diplomas
produzidos no mbito do aparelho do Estado ( tambm heternoma
a hoje cada vez mais singular fonte justrabalhista brasileira denomi-
nada sentena normativa).
Ainda segundo Delgado (2010, p. 133):
O Direito do Trabalho brasileiro constitui-se das seguintes fontes
heternomas: Constituio; leis (inclusive medidas provisrias); regu-
lamentos normativos (expedidos mediante decretos do Presidente da
Repblica); tratados e convenes internacionais favorecidos por rati-
ficao e adeso internas; sentenas normativas.
a) Fontes Formais Autnomas do Direito do Trabalho
Autnomas seriam as regras cuja produo caracteriza-se pela ime-
diata participao dos destinatrios principais das regras produzi-
82
Livro_legislacao_katia.indb 82 20/11/2014 09:58:55
Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho
das. So, em geral, as regras originrias de segmentos ou organiza-
es da sociedade civil, como os costumes ou os instrumentos da
negociao coletiva privada (contrato coletivo, conveno coletiva
ou acordo coletivo de trabalho). As regras autnomas caso coleti-
vamente negociadas e construdas consubstanciam um autodisci-
plinamento das condies de vida e trabalho pelos prprios interes-
sados, tendendo a traduzir um processo crescente de democratizao
das relaes de poder existentes na sociedade (DELGADO, 2010).
Desta forma, podemos entender por fontes autnomas: os costu-
mes, as convenes coletivas de trabalho e os acordos coletivos
de trabalho.
No Direito do Trabalho, predomina, de forma incontestvel, o
princpio da Norma mais Favorvel, at mesmo sobre o princpio
da hierarquia das normas, j que possvel haver conflitos entre
normas, e neste caso uma norma inferior pode ser escolhida, em vez
de uma superior, para beneficiar o trabalhador.
Alm das fontes de Direito do Trabalho propriamente ditas, h
outros institutos que podem orientar a resoluo de controvrsias
trabalhistas, conforme elencados no art. 8o, nico, da CLT:
Art. 8 As autoridades administrativas e a Justia do Trabalho, na
falta de disposies legais ou contratuais, decidiro, conforme o caso,
pela jurisprudncia, por analogia, por eqidade e outros princpios
e normas gerais de direito, principalmente de direito do trabalho e,
ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas
sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular pre-
valea sobre o interesse pblico.
Pargrafo nico: O direito comum ser fonte subsidiria do direito
do trabalho, naquilo em que no for incompatvel com os princpios
fundamentais deste.
Enfim, para resumir, as fontes materiais so os prprios fenmenos
sociais, o fato social em si, e as fontes formais so aquelas que discor-
rem a regra jurdica de carter de Direito Positivo. Estas podem ser
de natureza estatal: constitucionais, leis, medidas provisrias, por-
taria; e de natureza privada: contratos, conveno coletiva de traba-
lho, acordo coletivo de trabalho e contrato individual de trabalho.
83
Livro_legislacao_katia.indb 83 20/11/2014 09:58:55
Introduo ao Direito
2.1.5 Funes do Direito do Trabalho
Podemos dizer que o Direito do Trabalho tem algumas funes especfi-
cas do seu ramo do Direito, sendo que as principais funes so: normativa,
tutelar e social. No entanto, alguns tericos acrescentam as funes: econ-
mica, coordenadora e conservadora.
a) Funo normativa
O Direito do Trabalho tem funo normativa pelo fato de que esta-
belece uma legislao que rege tanto as relaes de trabalho quanto
as solues de controvrsia ou conflitos advindos dessas relaes.
b) Funo tutelar
O Direito do Trabalho tem funo tutelar porque protege o
hipossuficiente; este que a parte mais frgil economicamente
na relao de trabalho, o empregado. O Estado agiria impossibi-
litando o abuso do trabalho humano. Esta tutela decorre de leis
e normas trabalhistas, ou seja, das fontes de Direito do Trabalho
em geral.
c) Funo social
O Direito do Trabalho tem funo social, pois, agindo na soluo
dos conflitos trabalhistas, atua, ao mesmo tempo, para assegurar a
paz em sociedade. Os autores que defendem que o Direito do Tra-
balho tem funo social excluem a possibilidade de ele ter funo
econmica.
d) Funo econmica
O Direito do Trabalho tem funo econmica. Os autores que
defendem esta premissa, sustentam que o Direito do Trabalho est
diretamente vinculado ou at mesmo includo no Direito Econ-
mico. Defendem esta tese por entender que a relao do trabalho
tem como fim o plano econmico, e no o social. Desta forma, os
autores que defendem que o Direito do Trabalho tem funo eco-
nmica no defendem que ele tenha uma funo social.
Alguns tericos sustentam que o Direito do Trabalho tem a fun-
o de disciplinar a economia, agindo como instrumento da polti-
ca econmica.
84
Livro_legislacao_katia.indb 84 20/11/2014 09:58:55
Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho
e) Funo coordenadora
O Direito do Trabalho tem funo coordenadora. Os autores que
defendem essa premissa sustentam que a funo deste Direito
de coordenar os interesses entre o capital e o trabalho, ao invs de
coordenar a relao entre trabalhador e empregador.
Estes tericos sustentam que o Direito do Trabalho teria se tor-
nado um Direito que organiza a produo, agindo como um regu-
lador do mercado de trabalho.
f ) Funo conservadora
O Direito do Trabalho tem funo conservadora. Esta funo
apenas considerada pelos autores que defendem a tese de que o
Estado um agente opressor que impe sua vontade por meio da
legislao trabalhista, retirando a liberdade do trabalhador, ou seja,
o Estado retiraria do trabalhador a capacidade de deciso diante do
seu emprego.
2.2 Direitos e obrigaes dos trabalhadores e empregadores
Neste tpico, trataremos dos direitos e das obrigaes de trabalhadores
e empregadores, conceituando seu significado e caracterizando seus direitos e
obrigaes no mbito trabalhista.
Como j dito, o empregado, ou trabalhador, pessoa fsica que presta
servio de natureza contnua mediante salrio, segundo o art. 3o da CLT.
Delgado (2010, p. 130) define empregado como: [...] toda pessoa natu-
ral que contrate, tcita ou expressamente, a prestao de seus servios a um
tomador, a este efetuados com pessoalidade, onerosidade, no eventualidade
e subordinao. Podemos dizer que empregado o destinatrio da tutela
exercida pelo Estado, sendo o hipossuficiente na relao trabalhista e que
presta servio subordinado.
Quanto ao empregador, podemos considerar a definio de Nascimento
(2011, p. 668):
[...] ser empregador todo ente para quem uma pessoa fsica prestar,
com pessoalidade, servios continuados, subordinados e assalariados.
85
Livro_legislacao_katia.indb 85 20/11/2014 09:58:55
Introduo ao Direito
por meio da figura do empregado que se chegar do empregador,
independentemente da estrutura jurdica que tiver.
Na CLT, a definio de empregador se encontra no seu art. 2o: [...] a
empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econ-
mica, admite, assalaria e dirige a prestao pessoal de servios.
A fim de reforar a definio de empregador, citaremos o que Gomes
(2001, p. 89) entende por empregador: [...] devedor da contraprestao sala-
rial e outras acessrias; credor da prestao de trabalho e de sua utilidade, ele
a figura central de empresa, no seu dinamismo econmico, social e disciplinar.
2.2.1 Direitos e obrigaes do empregado
O empregado o principal elemento para o Direito do Trabalho, pois
a ele destinado grande parte das normas de proteo que constituem este
ramo do Direito.
2.2.1.1 Jornada de trabalho
Corresponde ao tempo em que o empregado deve prestar servios ou
permanecer disposio do empregador.
Segundo a Constituio Brasileira, este perodo pode ser de, no mximo,
8 horas dirias ou 44 horas semanais, salvo limite diferenciado em acordo
coletivo ou conveno coletiva de trabalho, como podemos observar a seguir:
Art. 7 So direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alm de outros
que visem melhoria de sua condio social:
XIII - durao do trabalho normal no superior a oito horas dirias
e quarenta e quatro semanais, facultada a compensao de horrios
e a reduo da jornada, mediante acordo ou conveno coletiva de
trabalho. (CF/88)
Na CLT, encontramos a definio referente jornada de trabalho em seu:
Art. 58 A durao normal do trabalho, para os empregados em
qualquer atividade privada, no exceder de 8 (oito) horas dirias,
desde que no seja fixado expressamente outro limite.
1 No sero descontadas nem computadas como jornada extraor-
dinria as variaes de horrio no registro de ponto no excedentes de
cinco minutos, observado o limite mximo de dez minutos dirios.
86
Livro_legislacao_katia.indb 86 20/11/2014 09:58:55
Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho
2 O tempo despendido pelo empregado at o local de trabalho
e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, no ser com-
putado na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de
difcil acesso ou no servido por transporte pblico, o empregador
fornecer a conduo.
3 Podero ser fixados, para as microempresas e empresas de
pequeno porte, por meio de acordo ou conveno coletiva, em caso
de transporte fornecido pelo empregador, em local de difcil acesso ou
no servido por transporte pblico, o tempo mdio despendido pelo
empregado, bem como a forma e a natureza da remunerao. (CLT)
2.2.1.2 Salrio e remunerao
De forma simples, podemos dizer que o salrio a gratificao devida
e paga pelo empregador diretamente ao empregado pelo seu trabalho pres-
tado. Segundo Delgado (2005, p. 206), salrio [...] o conjunto de parcelas
contraprestativas pagas pelo empregador ao empregado em decorrncia da
relao de emprego.
No entendimento de Nascimento (2006, p. 816):
Salrio a contraprestao fixa paga pelo empregador pelo tempo
de trabalho prestado ou disponibilizado pelo empregado, calcu-
lada com base no tempo, na produo ou em ambos os critrios,
periodicamente e de modo a caracterizar-se como o ganho habitual
do trabalhador.
Conforme observamos no art. 76 da CLT:
Salrio a contraprestao mnima devida e paga diretamente pelo
empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem
distino de sexo, por dia normal de servio, e capaz de satisfazer, em
determinada poca e regio do Pas, as suas necessidades normais de
alimentao, habitao, vesturio, higiene e transporte.
Outro termo utilizado para salrio remunerao. Na CLT, art. 457,
encontramos a seguinte definio:
Artigo 457 Compreendem-se na remunerao do empregado, para
todos os efeitos legais, alm do salrio devido e pago diretamente pelo
empregador, como contraprestao do servio, as gorjetas que receber.
1 Integram o salrio no s a importncia fixa estipulada, como
tambm as comisses, percentagens, gratificaes ajustadas, dirias
para viagens e abonos pagos pelo empregador.
87
Livro_legislacao_katia.indb 87 20/11/2014 09:58:55
Introduo ao Direito
2 No se incluem nos salrios as ajudas de custo, assim como as
dirias para viagem que no excedam de 50% (cinqenta por cento)
do salrio percebido pelo empregado.
3 Considera-se gorjeta no s a importncia espontaneamente
dada pelo cliente ao empregado, como tambm aquela que fr
cobrada pela empresa ao cliente, como adicional nas contas, a qual-
quer ttulo, e destinada a distribuio aos empregados.
2.2.1.3 Salrio-famlia
Segundo o Ministrio da Previdncia Social, o salrio-famlia corresponde a:
Benefcio pago aos segurados empregados, exceto os domsticos,
e aos trabalhadores avulsos com salrio mensal de at R$ 971,78,
para auxiliar no sustento dos filhos de at 14 anos de idade ou inv-
lidos de qualquer idade. (Observao: So equiparados aos filhos os
enteados e os tutelados, estes desde que no possuam bens suficien-
tes para o prprio sustento, devendo a dependncia econmica de
ambos ser comprovada).1
O salrio-famlia foi criado pela Lei no 4.266, de 3 de outubro de 1963,
que define:
Art. 1 O salrio-famlia institudo pela Lei n 4.266, de 8 de
outubro de 1963, visando a dar cumprimento ao preceituado no art.
157, n I, parte final, da Constituio Federal, tem por finalidade
assegurar aos trabalhadores, por ela abrangidos, quotas pecunirias
destinadas a auxili-los no sustento e educao dos filhos, observadas
as condies e limites na mesma lei estabelecidos e os termos do pre-
sente Regulamento.
Art. 2 O salrio-famlia devido aos seus empregados, por todas as
empresas vinculadas ao sistema geral da Previdncia Social institudo
pela Lei n 3.807, de 26 de agosto de 1960 ( Lei Orgnica da Pre-
vidncia Social) e como tal nessa mesma lei definidas, excetuadas as
reparties pblicas, autrquicas e quaisquer outras entidades pbli-
cas, com relao aos respectivos servidores no filiados a sistema geral
da Previdncia Social, bem como aos demais para os quais j vigorar
regime legalmente estabelecido de salrio-famlia.
Art. 3 - Tem direito ao salrio-famlia todo empregado, como tal
definido no Art. 3 e seu pargrafo nico da Consolidao das Leis
do Trabalho, qualquer que seja o valor e a forma de sua remunerao,
1 Disponvel em: <http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=25>.
88
Livro_legislacao_katia.indb 88 20/11/2014 09:58:55
Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho
das empresas mencionadas no Art. 2 com a ressalva constante da
parte final do mesmo artigo. (relao dada pelo D-0059.122-1966).
Pargrafo nico. Quando pai e me forem empregados, nos termos
deste artigo, assistir a cada um, separadamente, o direito ao salrio-
famlia com relao aos respectivos filhos.
Art. 4 - O salrio-famlia devido na proporo do nmero de filhos
menores, de qualquer condio, at 14 anos de idade.
Pargrafo nico. Consideram-se filhos de qualquer condio os
legtimos, legitimados, ilegtimos e adotivos, nos termos da legis-
lao civil.
Art. 5 - A prova de filiao, asseguradora do direito ao salrio-famlia
ser feita mediante a certido do registro civil de nascimento, ou, para
os casos especiais de filiao ilegtima, pelas demais provas admitidas
na legislao civil (artigos 29 e 31).
1 As certides expedidas para os fins deste artigo podero contar
apenas breve extrato dos dados essenciais e, nos termos do 3 do
Art. 4 da Lei n 4.266, de 3 de outubro de 1963, so isentas de selo,
taxas ou emolumentos de qualquer espcie, assim como o reconheci-
mento de firmas a elas referente, quando necessrio.
2 Os Cartrios do Registro Civil podero, consoante as possibilida-
des do servio, estabelecer prazo de at 10 (dez) dias para sua concesso.
3 Quando do registro do nascimento, os Cartrios expediro,
desde logo, conjuntamente com a certido comum, o breve extrato
dos dados essenciais, para efeito deste Regulamento, nos termos do
1 deste artigo.
Art. 6 - O salrio-famlia ser devido a partir do ms em que for feita
pelo empregado, perante a respectiva empresa, prova de filiao rela-
tiva a cada filho, nos termos dos artigos 4 e 5, mediante a entrega do
documento correspondente, e at o ms, inclusive, em que completar
14 anos de idade.
Art. 7 - Para efeito da manuteno do salrio-famlia, o empregado
obrigado a firmar, perante a empresa, em janeiro e julho de cada
ano, declarao de vida e residncia do filho, ficando sujeito s san-
es aplicveis de acordo com a legislao penal vigente, pela eventual
declarao falsa prestada, alm de a mesma constituir falta grave, por
ato de improbidade, ensejando a resciso do contrato de trabalho,
pelo empregador, por justa causa conforme prev a letra a do Art.
482 da Consolidao das Leis do Trabalho (artigos 29 e 31). (relao
dada pelo D-0054.014-1964).
89
Livro_legislacao_katia.indb 89 20/11/2014 09:58:55
Introduo ao Direito
Pargrafo nico. A falta dessa declarao obrigatria pelo empre-
gado, na poca prpria, importar na imediata suspenso do paga-
mento da quota respectiva, pela empresa, at que venha a ser efeti-
vada. (relao dada pelo D-0054.014-1964).
Art. 8 - Em caso de falecimento do filho, o empregado obrigado a
fazer imediata comunicao de bito empresa, para efeito de cassa-
o da respectiva quota (Art. 29), apresentando a respectiva certido
ou declarao escrita.
Art. 9 - As indicaes referentes prova da filiao de cada filho
sero lanadas, pela empresa, na Ficha de salrio-famlia do empre-
gado, conforme modelo anexo, a este Regulamento (n I), de confec-
o a seu cargo, devendo permanecer o documento correspondente
em poder da empresa, enquanto estiver ele a seu servio.
Art. 10 - O direito ao salrio-famlia cessar automaticamente:
I - Por morte do filho, a partir do ms seguinte ao do bito;
II - Pelo completar o filho 14 anos de idade, a partir do ms seguinte
ao da data aniversria;
III - Com relao empresa respectiva, pela cessao da relao de
emprego entre a mesma e o empregado, a partir da data em que esta
se verificar.
Art. 11 - Cessado o direito ao salrio-famlia, por qualquer dos
motivos enumerados no Art. 10, sero imediatamente restitudos ao
empregado, mediante recibo, passado no verso da Ficha respectiva,
os documentos correspondentes aos filhos, devendo, porm, ser sem-
pre conservada pela empresa a Ficha e os atestados de vida e residn-
cia para efeito da fiscalizao prevista na Seo III do Captulo III.2.
2.2.1.4 13 Salrio
O 13o salrio surgiu inicialmente como uma gratificao espontnea que
as empresas pagavam aos empregados no final de cada ano. O benefcio se
tornou obrigatrio a partir de 1962, por meio da Lei no 4.090/62, mantida
pela Constituio Federal de 1988. A lei institui que:
Art. 1 - No ms de dezembro de cada ano, a todo empregado ser
paga, pelo empregador, uma gratificao salarial, independentemente
da remunerao a que fizer jus.
1 - A gratificao corresponder a 1/12 avos da remunerao
devida em dezembro, por ms de servio, do ano correspondente.
2 Lei no 4.266, de 3 de outubro de 1963.
90
Livro_legislacao_katia.indb 90 20/11/2014 09:58:55
Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho
2 - A frao igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho ser
havida como ms integral para os efeitos do pargrafo anterior.
3 - A gratificao ser proporcional:
I - na extino dos contratos a prazo, entre estes includos os de safra,
ainda que a relao de emprego haja findado antes de dezembro; e
II - na cessao da relao de emprego resultante da aposentadoria do
trabalhador, ainda que verificada antes de dezembro.
Art. 2 - As faltas legais e justificadas ao servio no sero deduzidas
para os fins previstos no 1 do art. 1 desta Lei.
Art. 3 - Ocorrendo resciso, sem justa causa, do contrato de traba-
lho, o empregado receber a gratificao devida nos termos dos par-
grafos 1 e 2 do art. 1 desta Lei, calculada sobre a remunerao do
ms da resciso3.
2.2.1.5 Horas extras
Correspondem a horas extras aquelas trabalhadas alm da jornada con-
tratual de trabalho. Desta forma, se a jornada for de 4, 6 ou 8 horas, todas
as excedentes devero ser pagas como extras. O valor da hora extra de uma
hora normal de trabalho acrescido de, no mnimo, 50%, ressaltando a impor-
tncia de consultar as convenes ou os acordos coletivos, pois, em alguns
casos, este percentual pode ser ampliado.
Segue a definio de hora extra segundo art. 59 da CLT:
Art. 59 A durao normal do trabalho poder ser acrescida de horas
suplementares, em nmero no excedente de 2 (duas), mediante
acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato
coletivo de trabalho.
1 Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho dever
constar, obrigatoriamente, a importncia da remunerao da hora
suplementar, que ser, pelo menos, 20% (vinte por cento) superior
da hora normal.
2 Poder ser dispensado o acrscimo de salrio se, por fora de
acordo ou conveno coletiva de trabalho, o excesso de horas em um
dia for compensado pela correspondente diminuio em outro dia, de
maneira que no exceda, no perodo mximo de um ano, soma das
jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite
mximo de dez horas dirias.
3 Lei no 4.090/62, mantida pela Constituio Federal de 1988.
91
Livro_legislacao_katia.indb 91 20/11/2014 09:58:55
Introduo ao Direito
3 Na hiptese de resciso do contrato de trabalho sem que tenha
havido a compensao integral da jornada extraordinria, na forma
do pargrafo anterior, far o trabalhador jus ao pagamento das horas
extras no compensadas, calculadas sobre o valor da remunerao na
data da resciso.
4 Os empregados sob o regime de tempo parcial no podero
prestar horas extras.
2.2.1.6 Frias
Aps o perodo de 12 meses de trabalho, todo o trabalhador passa a
ter direito a um perodo de at 30 dias para descanso e lazer, sem deixar de
receber seu salrio.
Na CLT, art. 130, encontramos:
Art. 130 Aps cada perodo de 12 (doze) meses de vigncia do
contrato de trabalho, o empregado ter direito a frias, na seguinte
proporo:
I 30 (trinta) dias corridos, quando no houver faltado ao servio
mais de 5 (cinco) vezes;
II 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis)
a 14 (quatorze) faltas;
III 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a
23 (vinte e trs) faltas;
IV 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e qua-
tro) a 32 (trinta e duas) faltas.
1 vedado descontar, do perodo de frias, as faltas do empre-
gado ao servio.
2 O perodo das frias ser computado, para todos os efeitos,
como tempo de servio.
2.2.1.7 Abono de frias
Corresponde ao direito que o trabalhador possui de vender um tero
de suas frias ao empregador para receber o correspondente a esses dias
em dinheiro.
Esse direito consta na CLT, nos arts. 143 e 144, conforme segue:
92
Livro_legislacao_katia.indb 92 20/11/2014 09:58:55
Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho
Art. 143 facultado ao empregado converter 1/3 (um tero) do
perodo de frias a que tiver direito em abono pecunirio, no valor
da remunerao que lhe seria devida nos dias correspondentes.
1 O abono de frias dever ser requerido at 15 (quinze) dias
antes do trmino do perodo aquisitivo.
Art. 144. O abono de frias de que trata o artigo anterior, bem como
o concedido em virtude de clusula do contrato de trabalho, do regu-
lamento da empresa, de conveno ou acordo coletivo, desde que no
excedente de vinte dias do salrio, no integraro a remunerao do
empregado para os efeitos da legislao do trabalho.
2.2.1.8 Intervalo
No perodo da jornada de trabalho, o trabalhador tem direito a interva-
los para repouso, descanso e alimentao.
Segue art. 71 da CLT que trata do intervalo:
Art. 71 Em qualquer trabalho contnuo, cuja durao exceda de 6
(seis) horas, obrigatria a concesso de um intervalo para repouso
ou alimentao, o qual ser, no mnimo, de 1 (uma) hora e, salvo
acordo escrito ou contrato coletivo em contrrio, no poder exceder
de 2 (duas) horas.
1 No excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, ser, entretanto,
obrigatrio um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a durao
ultrapassar 4 (quatro) horas.
2 Os intervalos de descanso no sero computados na durao
do trabalho.
3 O limite mnimo de 1 (uma) hora para repouso ou refei-
o poder ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho quando,
ouvida a Secretaria de Segurana e Higiene do Trabalho, se verifi-
car que o estabelecimento atende integralmente s exigncias con-
cernentes organizao dos refeitrios e quando os respectivos
empregados no estiverem sob regime de trabalho prorrogado a
horas suplementares.
4 Quando o intervalo para repouso e alimentao, previsto
neste artigo, no for concedido pelo empregador, este ficar obrigado
a remunerar o perodo correspondente com um acrscimo de no
mnimo 50% (cinqenta por cento) sobre o valor da remunerao da
hora normal de trabalho.
93
Livro_legislacao_katia.indb 93 20/11/2014 09:58:55
Introduo ao Direito
2.2.1.9 Licena-maternidade, ou licena-gestante
A licena-maternidade (ou licena-gestante) o benefcio previdenci-
rio, garantido pela Constituio Federal, que concede mulher que deu luz,
ou adotou criana, licena remunerada de 120 dias. Em alguns casos, depen-
dendo de acordos coletivos, este perodo pode ser ampliado para 180 dias.
Art. 392. A empregada gestante tem direito licena-maternidade de
120 (cento e vinte) dias, sem prejuzo do emprego e do salrio.
1o A empregada deve, mediante atestado mdico, notificar o seu
empregador da data do incio do afastamento do emprego, que
poder ocorrer entre o 28 (vigsimo oitavo) dia antes do parto e
ocorrncia deste.
Art. 392a. empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para
fins de adoo de criana ser concedida licena-maternidade nos ter-
mos do art. 392, observado o disposto no seu 5.
4 A licena-maternidade s ser concedida mediante apresenta-
o do termo judicial de guarda adotante ou guardi.
2.2.1.10 Licena-paternidade
Corresponde a um direito ao homem de afastar-se do seu trabalho para
auxiliar a me de seu filho, sem prejuzo em seu salrio.
A licena paternidade de cinco dias, nos termos do art. 7o, inciso XIX,
da CF/88 c/c art. 10, 1o, do Ato das Disposies Constitucionais Transit-
rias da CF/88, na qual se encontra: At que lei venha a disciplinar o disposto
no art. 7o, XIX da Constituio, o prazo da licena-paternidade a que se refere
o inciso de cinco dias.
2.2.1.11 Adicional noturno
Quando o trabalho realizado noite, em horrio compreendido entre
22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, o empregado tem direito a rece-
ber uma compensao, tanto em horas como em salrio, pelo seu trabalho.
Como consta no art. 73 da CLT:
Art. 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o tra-
balho noturno ter remunerao superior do diurno e, para esse
efeito, sua remunerao ter um acrscimo de 20% (vinte por cento),
pelo menos, sobre a hora diurna.
94
Livro_legislacao_katia.indb 94 20/11/2014 09:58:55
Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho
1 - A hora do trabalho noturno ser computada como de 52 (cin-
qenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.
2 - Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho
executado entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 5 (cinco)
horas do dia seguinte.
3 - O acrscimo a que se refere o presente artigo, em se tratando de
empresas que no mantm, pela natureza de suas atividades, trabalho
noturno habitual, ser feito tendo em vista os quantitativos pagos por
trabalhos diurnos de natureza semelhante. Em relao s empresas cujo
trabalho noturno decorra da natureza de suas atividades, o aumento
ser calculado sobre o salrio mnimo geral vigente na regio, no sendo
devido quando exceder desse limite, j acrescido da percentagem.
4 - Nos horrios mistos, assim entendidos os que abrangem pero-
dos diurnos e noturnos, aplica-se s horas de trabalho noturno o dis-
posto neste artigo e seus pargrafos.
5 - s prorrogaes do trabalho noturno aplica-se o disposto
neste Captulo.
2.2.1.12 Repouso semanal
Repouso semanal corresponde medida scio-recreativa que visa a recu-
perao fsica e mental do empregado. Esse repouso semanal remunerado e
pago pelo empregador, como expressa o art. 67 da CLT:
Art. 67. Ser assegurado a todo empregado um descanso semanal de
24 (vinte e quatro) horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conve-
nincia pblica ou necessidade imperiosa do servio, dever coincidir
com o domingo, no todo ou em parte.
Pargrafo nico Nos servios que exijam trabalho aos domingos,
com exceo quanto aos elencos teatrais, ser estabelecida escala de
revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito
fiscalizao.
2.2.1.13 Fundo de Garantia do Tempo de Servio (FGTS)
O FGTS foi institudo na dcada de 1960 para proteger o trabalhador
demitido sem justa causa. Desta forma, no incio de cada ms, os emprega-
dores depositam, em contas abertas na Caixa Econmica Federal, em nome
dos seus empregados, e vinculadas ao contrato de trabalho, o valor correspon-
dente a 8% do salrio do funcionrio.
95
Livro_legislacao_katia.indb 95 20/11/2014 09:58:55
Introduo ao Direito
O FGTS foi criado pela Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, e hoje
regido pela Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990. Definido pelo art. 2o: O
FGTS constitudo pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei
e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualizao
monetria e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigaes.
2.2.1.14 Abono salarial do Programa de Integrao Social (PIS)
O abono salarial do PIS correspondente a um salrio mnimo pago
anualmente ao trabalhador pelo Governo Federal.
2.2.1.15 Acidente no trabalho
considerado acidente de trabalho, segundo o art. 19 da Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991:
Art. 19. Acidente do trabalho o que ocorre pelo exerccio do traba-
lho a servio da empresa ou pelo exerccio do trabalho dos segurados
referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando leso corporal
ou perturbao funcional que cause a morte ou a perda ou reduo,
permanente ou temporria, da capacidade para o trabalho.
2.2.1.16 Insalubridade
Corresponde ao trabalho que expe o empregado a agentes nocivos
sade acima dos limites tolerados, seja por sua natureza, intensidade ou
tempo de exposio.
O art. 189 da CLT determina que:
Sero consideradas atividades ou operaes insalubres aquelas que,
por sua natureza, condies ou mtodos de trabalho, exponham os
empregados a agentes nocivos sade, acima dos limites de tolerncia
fixados em razo da natureza e da intensidade do agente e do tempo
de exposio aos seus efeitos.
2.2.1.17 Contribuio sindical
A contribuio sindical corresponde ao desconto, realizado na folha de
pagamento do trabalhador, de um dia de trabalho por ano (equivalente a
3,33% do salrio). Esta contribuio previsto por lei e sua definio, na
CLT, consta no art. 578:
96
Livro_legislacao_katia.indb 96 20/11/2014 09:58:56
Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho
As contribuies devidas aos sindicatos pelos que participem das
categorias econmicas ou profissionais ou das profisses liberais
representadas pelas referidas entidades, sero, sob a denominao
de Contribuio Sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma
estabelecida neste Captulo.
Na CF, o art. 149 prev a contribuio sindical, nos seguintes termos:
Art. 149. Compete exclusivamente Unio instituir contribuies
sociais, de interveno no domnio econmico e de interesse das cate-
gorias profissionais ou econmicas, como instrumento de sua atuao
nas respectivas reas, observado o disposto nos arts. 146, III e 150,
I e III, e sem prejuzo do previsto no art. 195, 6, relativamente s
contribuies a que alude o dispositivo.
Pargrafo nico Os Estados, o Distrito Federal e os municpios
podero instituir contribuio, cobrada de seus servidores, para o
custeio, em benefcio destes, de sistemas de previdncia e assistn-
cia social.
2.2.1.18 Seguro-desemprego
O seguro-desemprego corresponde assistncia financeira temporria
concedida aos trabalhadores demitidos sem justa causa, ao trabalhador com
contrato de trabalho suspenso decorrente de participao em curso de qua-
lificao profissional, oferecido pelo empregador, conforme conveno ou
acordo coletivo celebrado para esse fim, a pescadores artesanais durante o
perodo de proibio da pesca e para os trabalhadores resgatados de regimes
de trabalho forado ou em condies escravas.
A Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, institui o seguro-desemprego;
porm, com a Lei no 8.900, de 30 de junho de 1994, passou a vigorar a
seguinte redao:
Art. 1. O programa do seguro-desemprego tem por finalidade:
I - prover assistncia financeira temporria ao trabalhador desempre-
gado em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta;
II - auxiliar os trabalhadores na busca de emprego, promovendo, para
tanto, aes integradas de orientao, recolocao e qualificao pro-
fissional.
Art. 2. O benefcio do seguro-desemprego ser concedido ao traba-
lhador desempregado por um perodo mximo varivel de trs a cinco
97
Livro_legislacao_katia.indb 97 20/11/2014 09:58:56
Introduo ao Direito
meses, de forma contnua ou alternada, a cada perodo aquisitivo,
cuja durao ser definida pelo Codefat.
De acordo com a Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, tem direito ao
seguro-desemprego:
Art. 3. Ter direito percepo do seguro-desemprego o trabalhador
dispensado sem justa causa que comprove:
I ter recebido salrios de pessoa jurdica ou pessoa fsica a ela equi-
parada, relativos a cada um dos 6 (seis) meses imediatamente anterio-
res data da dispensa;
II ter sido empregado de pessoa jurdica ou pessoa fsica a ela equi-
parada ou ter exercido atividade legalmente reconhecida como aut-
noma, durante pelo menos 15 (quinze) meses nos ltimos 24 (vinte
e quatro) meses;
III no estar em gozo de qualquer benefcio previdencirio de pres-
tao continuada, previsto no Regulamento dos Benefcios da Previ-
dncia Social, excetuado o auxlio-acidente e o auxlio suplementar
previstos na Lei n 6.367, de 19 de outubro de 1976, bem como o
abono de permanncia em servio previsto na Lei n 5.890, de 8 de
junho de 1973;
IV no estar em gozo do auxlio-desemprego; e
V no possuir renda prpria de qualquer natureza suficiente sua
manuteno e de sua famlia.
1 A Unio poder condicionar o recebimento da assistncia finan-
ceira do Programa de Seguro-Desemprego comprovao da matr-
cula e da frequncia do trabalhador segurado em curso de formao
inicial e continuada ou qualificao profissional, com carga horria
mnima de 160 (cento e sessenta) horas.
2 O Poder Executivo regulamentar os critrios e requisitos para
a concesso da assistncia financeira do Programa de Seguro-Desem-
prego nos casos previstos no 1o, considerando a disponibilidade
de bolsas-formao no mbito do Pronatec ou de vagas gratuitas na
rede de educao profissional e tecnolgica para o cumprimento da
condicionalidade pelos respectivos beneficirios.
3 A oferta de bolsa para formao dos trabalhadores de que trata
este artigo considerar, entre outros critrios, a capacidade de oferta,
a reincidncia no recebimento do benefcio, o nvel de escolaridade e
a faixa etria do trabalhador.
98
Livro_legislacao_katia.indb 98 20/11/2014 09:58:56
Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho
2.2.1.19 Resciso de contrato
Segundo o texto do art. 477 da CLT:
Art. 477. assegurado a todo empregado, no existindo prazo estipu-
lado para a terminao do respectivo contrato, e quando no haja ele
dado motivo para cessao das relaes de trabalho, o direito de haver
do empregador uma indenizao, paga na base da maior remunerao
que tenha percebido na mesma empresa.
2.2.1.20 Dispensa sem justa causa
A dispensa sem justa causa corresponde resciso do contrato de tra-
balho por iniciativa do empregador, sem que o trabalhador tenha cometido
falta grave.
Quando o empregado demitido sem justa causa, as seguintes verbas
rescisrias so direitos do trabalhador:
aviso prvio (que pode ser trabalhado ou indenizado, quando a
dispensa imediata);
13o salrio proporcional (referente aos meses trabalhados);
frias vencidas (quando houver);
frias proporcionais;
adicional de um tero sobre frias;
saldo de salrios (referente aos dias trabalhados do ms);
FGTS, 8% sobre os dias trabalhados, e 13o salrio;
40% sobre o total dos valores referentes ao FGTS;
fornecimento da Comunicao de Dispensa, preenchido e assinado
pelo empregador para recebimento do seguro desemprego.
2.2.1.21 Dispensa por justa causa
A dispensa por justa causa acontece quando o trabalhador comete
alguma falta grave contra a empresa ou os colegas de trabalho.
A CLT, em seu art. 482, considera dispensa por justa causa:
99
Livro_legislacao_katia.indb 99 20/11/2014 09:58:56
Introduo ao Direito
Art. 482. Constituem justa causa para resciso do contrato de traba-
lho pelo empregador:
a) ato de improbidade;
b) incontinncia de conduta ou mau procedimento;
c) negociao habitual por conta prpria ou alheia sem permis-
so do empregador, e quando constituir ato de concorrncia
empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial
ao servio;
d) condenao criminal do empregado, passada em julgado, caso
no tenha havido suspenso da execuo da pena;
e) desdia no desempenho das respectivas funes;
f ) embriaguez habitual ou em servio;
g) violao de segredo da empresa;
h) ato de indisciplina ou de insubordinao;
i) abandono de emprego;
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no servio contra
qualquer pessoa, ou ofensas fsicas, nas mesmas condies, salvo
em caso de legtima defesa, prpria ou de outrem;
k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas fsicas praticadas
contra o empregador e superiores hierrquicos, salvo em caso de
legtima defesa, prpria ou de outrem;
l) prtica constante de jogos de azar.
Pargrafo nico. Constitui igualmente justa causa para dispensa de
empregado a prtica, devidamente comprovada em inqurito admi-
nistrativo, de atos atentatrios contra a segurana nacional.
Na resciso por justa causa, o empregado perde todos os direitos de resciso.
2.2.1.22 Resciso de contrato homologao do sindicato
A homologao corresponde conferncia feita pelo sindicato para veri-
ficar se os valores pagos ao trabalhador, na resciso do contrato, esto corretos.
Conforme 1o do art. 477 da CLT:
Art. 477. assegurado a todo empregado, no existindo prazo
estipulado para a terminao do respectivo contrato, e quando no
100
Livro_legislacao_katia.indb 100 20/11/2014 09:58:56
Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho
haja le dado motivo para cessao das relaes de trabalho, o
direto de haver do empregador uma indenizao, paga na base
da maior remunerao que tenha percebido na mesma empresa.
1 O pedido de demisso ou recibo de quitao de resciso, do
contrato de trabalho, firmado por empregado com mais de 1 (um)
ano de servio, s ser vlido quando feito com a assistncia do res-
pectivo Sindicato ou perante a autoridade do Ministrio do Trabalho
e Previdncia Social.
2.2.1.23 Acordos coletivos
Corresponde a documento que formaliza os termos das negociaes
trabalhistas firmadas entre uma empresa e o(s) sindicato(s) dos trabalhadores.
A CLT, no art. 611, afirma:
Art. 611. Conveno Coletiva de Trabalho o acrdo de carter nor-
mativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de cate-
gorias econmicas e profissionais estipulam condies de trabalho
aplicveis, no mbito das respectivas representaes, s relaes indi-
viduais de trabalho.
2.2.2 Direitos e obrigaes do empregador
O empregador tem deveres com os seus trabalhadores e usufruem de
direitos a partir do momento em que o contrato de trabalho entra em vigor
at ao seu termo.
Conforme aprendemos com Delgado (2010, p. 381):
A caracterstica de assuno de riscos do empreendimento ou do tra-
balho consiste na circunstncia de impor a ordem justrabalhista
exclusiva responsabilidade do empregador, em contraponto aos inte-
resses obreiros oriundos do contrato pactuado, os nus decorrentes
de sua atividade empresarial ou at mesmo do contrato empregatcio
celebrado. Por tal caracterstica, em suma, o empregador assume os
riscos da empresa, do estabelecimento e do prprio contrato de tra-
balho e sua execuo.
Referente sucesso, a CLT, no art. 10, esclarece: Qualquer altera-
o na estrutura jurdica da empresa no afetar os direitos adquiridos por
seus empregados.
101
Livro_legislacao_katia.indb 101 20/11/2014 09:58:56
Introduo ao Direito
Ainda encontramos aparato no art. 448, tambm da CLT, que afirma:
A mudana na propriedade ou na estrutura jurdica da empresa no afetar
os contratos de trabalhos dos respectivos empregados.
Considerando estes artigos, Delgado (2010, p. 394) expressa sua opi-
nio, afirmando que, quando ocorre alteraes na estrutura jurdica, [...]
no se afetam os contratos de trabalho existentes. A alterao na modali-
dade societria preserva, pois, com a nova forma societria emergente, os
antigos contratos de trabalho, com todos os seus efeitos passados, presentes
e futuros.
Quanto ao salrio, o art. 462 da CLT afirma que:
Art. 462. Ao empregador vedado efetuar qualquer desconto nos
salrios do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos,
de dispositivos de lei ou de contrato coletivo.
1 Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto ser
lcito, desde de que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocor-
rncia de dolo do empregado.
2 vedado empresa que mantiver armazm para venda de mer-
cadorias aos empregados ou servios destinados a proporcionar-lhes
prestaes in natura exercer qualquer coao ou induzimento no sen-
tido de que os empregados se utilizem do armazm ou dos servios.
3 Sempre que no for possvel o acesso dos empregados a
armazns ou servios no mantidos pela empresa, lcito auto-
ridade competente determinar a adoo de medidas adequadas,
visando a que as mercadorias sejam vendidas e os servios presta-
dos a preos razoveis, sem intuito de lucro e sempre em benefcios
dos empregados.
4 Observado o disposto neste Captulo, vedado s empresas
limitar, por qualquer forma, a liberdade dos empregados de dispor
do seu salrio.
Ainda quanto ao seu pagamento, institudo pela CLT no art. 459:
Art. 459. O pagamento do salrio, qualquer que seja a modalidade
do trabalho, no deve ser estipulado por perodo superior a 1 (um)
ms, salvo no que concerne a comisses, percentagens e gratificaes.
1 Quando o pagamento houver sido estipulado por ms, dever
ser efetuado, o mais tardar, at o quinto dia til do ms subsequente
ao vencido.
102
Livro_legislacao_katia.indb 102 20/11/2014 09:58:56
Aspectos Relevantes do Direito do Trabalho
Outras observaes que devem ser consideradas que o pagamento do sal-
rio deve ser feito, em dia til e no local do trabalho, em dinheiro ou mediante
depsito em conta bancria, aberta para esse fim, com o consentimento do
empregado, em estabelecimento prximo ao local do trabalho conforme
exposto nos arts. 465, 463, e 464, pargrafo nico, da CLT que segue abaixo:
Art. 465. O pagamento dos salrios ser efetuado em dia til e no
local do trabalho, dentro do horrio do servio ou imediatamente
aps o encerramento deste, salvo quando efetuado por depsito em
conta bancria, observado o disposto no artigo anterior.
Art. 463. A prestao, em espcie, do salrio ser paga em moeda
corrente do Pas.
Pargrafo nico O pagamento do salrio realizado com inobservn-
cia deste artigo considera-se como no feito.
Art. 464. O pagamento do salrio dever ser efetuado contra recibo,
assinado pelo empregado; em se tratando de analfabeto, mediante sua
impresso digital, ou, no sendo esta possvel, a seu rogo.
Pargrafo nico. Ter fora de recibo o comprovante de depsito em
conta bancria, aberta para esse fim em nome de cada empregado,
com o consentimento deste, em estabelecimento de crdito prximo
ao local de trabalho.
Lembrando que o recibo deve ser feito em duas vias, a primeira para o
empregador e a segunda para o empregado.
O empregador responsvel pelo cuidado de evitar acidentes de traba-
lho e doenas profissionais, e tambm pelo cumprimento das normas aplic-
veis ao ambiente de trabalho.
Maranho (2000, p. 261) nos d o seu entendimento sobre isto: [...]
acima de tudo, tem o empregador a obrigao de respeitar a personalidade
moral do empregado na sua dignidade absoluta de pessoa humana.
Ainda com relao s condies de trabalho, na CLT, no art. 157, temos:
Art. 157. Cabe s empresas:
I cumprir e fazer cumprir as normas de segurana e medicina
do trabalho;
II instruir os empregados, atravs de ordens de servio, quanto s
precaues a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou
doenas ocupacionais;
103
Livro_legislacao_katia.indb 103 20/11/2014 09:58:56
Introduo ao Direito
III adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo rgo regio-
nal competente;
IV facilitar o exerccio da fiscalizao pela autoridade competente.
Com relao carteira de trabalho, temos as seguintes observaes,
segundo o art. 29 da CLT:
Art. 29. A Carteira de Trabalho e Previdncia Social ser obrigato-
riamente apresentada, contra recibo, pelo trabalhador ao emprega-
dor que o admitir, o qual ter o prazo de quarenta e oito horas para
nela anotar, especificamente, a data de admisso, a remunerao e as
condies especiais, se houver, sendo facultada a adoo de sistema
manual, mecnico ou eletrnico, conforme instrues a serem expe-
didas pelo Ministrio do Trabalho.
1 As anotaes concernentes remunerao devem especificar o
salrio, qualquer que seja sua forma e pagamento, seja ele em dinheiro
ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta.
2 As anotaes na Carteira de Trabalho e Previdncia Social sero
feitas:
a) na data-base;
b) a qualquer tempo, por solicitao do trabalhador;
c) no caso de resciso contratual; ou
d) necessidade de comprovao perante a Previdncia Social.
3 A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste
Art. acarretar a lavratura do auto de infrao, pelo Fiscal do Traba-
lho, que dever, de ofcio, comunicar a falta de anotao ao rgo
competente, para o fim de instaurar o processo de anotao.
4 vedado ao empregador efetuar anotaes desabonadoras
conduta do empregado em sua Carteira de Trabalho e Previdn-
cia Social.
5 O descumprimento do disposto no 4 deste artigo sub-
meter o empregador ao pagamento de multa prevista no art. 52
deste Captulo.
104
Livro_legislacao_katia.indb 104 20/11/2014 09:58:56
3
Aspectos Relevantes
do Direito Tributrio
Janes Sandra Dinon Ortigara
Neste terceiro captulo, vamos apresentar a Legislao Tri-
butria com uma linguagem simples, mas sem deixar as proprieda-
des tcnicas de lado. Explicaremos os conceitos e as caractersticas
do Direito Tributrio e a Legislao Tributria. Esta, por sua vez,
composta por normas, leis, tratados e medidas provisrias. Eluci-
daremos tambm os princpios jurdicos fundamentais do Direito
Tributrio. Ao fim do captulo, estudaremos os conceitos de tribu-
tao, explanando o que so taxas, impostos e fato gerador.
3.1. Conceito e caractersticas
do Direito Tributrio
O Direito Tributrio o ramo do Direito Pblico interno;
considerado um sub-ramo do Direito Financeiro. Podemos consta-
tar isto por meio da citao de Amaro (2006, p. 1):
O direito financeiro, como sistema normatizador de toda
a atividade financeira do Estado, abarca, por compreen-
Livro_legislacao_katia.indb 105 20/11/2014 09:58:59
Introduo ao Direito
so, as prestaes pecunirias exigidas pelo Estado, abrangidas no
conceito de tributo. Com efeito, o direito financeiro tem por objeto a
disciplina do oramento pblico, das receitas pblicas (entre as quais
se incluem as receitas tributrias), da despesa pblica e da dvida
pblica.
Amaro (2006) menciona ainda que Direito Tributrio se trata da disci-
plina jurdica dos tributos, compreendendo assim todas as normas e os prin-
cpios que regulam a criao, fiscalizao e arrecadao dos tributos.
De forma geral, podemos dizer que o Direito Tributrio estabelece as
relaes jurdicas que tm como finalidade ou meio o tributo entre o Estado e
os particulares. Esse tributo o meio de arrecadao do Estado a fim de gerar
sua receita.
Na viso de Denari (1994, p. 9-10), o Direito Tributrio o [...] ramo
do direito pblico que regula as normas relativas imposio, fiscalizao e
arrecadao de tributos e disciplina a relao entre fisco e contribuinte.
Para Machado (2011, p. 49), a prpria definio do Direito Tributrio
envolve a questo da soberania, pois O Estado, no exerccio de sua sobe-
rania, tributa. Mas a relao de tributao no simples relao de poder.
relao jurdica, pois est sujeita a normas s quais se submetem os con-
tribuintes e tambm o estado. Para o autor, os tributos so institudos por
lei e a sua fiscalizao e arrecadao tratam-se de atividades administrativas
vinculadas. O autor afirma tambm que por meio dos princpios jurdicos
fundamentais de tributao, que se encontram na Constituio, que so ins-
titudos os tributos.
Quanto finalidade do Direito Tributrio, Machado (2011, p. 52) alega que:
A finalidade do direito tributrio no se confunde com a finalidade
do tributo, e a distino alis, evidente muito importante. O tri-
buto tem por finalidade suprir os cofres pblicos dos recursos finan-
ceiros necessrios ao custeio das atividades do Estado.
Neste contexto, Machado (2011, p. 52) conceitua Direito Tributrio
evidenciando questes sobre a finalidade deste segmento jurdico:
O direito tributrio existe para delimitar o poder de tributar, transfor-
mando a relao tributria, que antigamente foi uma relao simples-
mente de poder, em relao jurdica. A finalidade essencial do direito
tributrio, portanto, no a arrecadao do tributo, at porque esta
106
Livro_legislacao_katia.indb 106 20/11/2014 09:58:59
Aspectos Relevantes do Direito Tributrio
sempre aconteceu, e acontece, independentemente da existncia
daquele. O direito tributrio surgiu para delimitar o poder de tributar
e evitar abusos no exerccio deste.
Moraes (1984, p. 106) conceitua o Direito Tributrio como o Con-
junto sistemtico de princpios e normas jurdicas que disciplinam o poder
fiscal do Estado e suas relaes com as pessoas sujeitas a tal poder.
Novelli (1993) entende o Direito Tributrio como:
[...] o captulo do direito pblico, ou o seu ramo, que estuda as rela-
es entre particulares e o Estado para a obteno de tributos, ou seja,
aquele que expe os princpios e as normas relativas imposio e
arrecadao de tributos e analisa as relaes jurdicas consequentes,
entre os entes pblicos e os cidados.
Por meio das constataes cientficas citadas, possvel evidenciar
a relevncia do Direito Tributrio para os cidados e para a manuteno
do Estado.
Como vimos anteriormente, o Direito Tributrio um dos ramos jur-
dicos inerentes do Direito Pblico, conforme cita Machado (2011, p. 52):
Relativamente ao direito tributrio, no h dvida. Trata-se de um
ramo do direito pblico, qualquer que seja o critrio utilizado para
formular a distino entre direito pblico e direito privado. Na ver-
dade, o titular do direito regulado o Estado, o interesse protegido
o da coletividade e suas normas so cogentes.
Neste mesmo sentido, Amaro (2006, p. 5) afirma que: [...] em aten-
o utilidade relativa que possa ter a diviso do direito nos ramos pblico
e privado, cumpre precisar a posio do direito tributrio no campo do
direito pblico.
Machado (2011) alude que possvel verificar, no Direito Tributrio,
caractersticas semelhantes ao direito das obrigaes, ou obrigacional.
No direito tributrio inegavelmente encontram-se as caractersticas
do direito obrigacional, eis que ele disciplina, essencialmente, uma
relao jurdica entre um sujeito ativo (Fisco) e um sujeito passivo
(contribuinte ou responsvel), envolvendo uma prestao (tributo).
Adotando-se, porm, a distino entre obrigao tributria e crdito
tributrio, importante esclarecer que antes de se formar a relao
jurdica de direito obrigacional h, no direito tributrio, uma relao
diversa, de direito potestativo [...].
107
Livro_legislacao_katia.indb 107 20/11/2014 09:58:59
Introduo ao Direito
O Direito Tributrio se relaciona com os outros ramos do Direito, como
podemos ver a seguir.
a) Direito Constitucional Tributrio: Constituio Federal de 1988,
no meio do universo constitucional, disciplina o Direito Tributrio.
b) Direito Tributrio Penal: norteia as inquisies tributrias que
justificam a pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de
direito, na contingncia dos crimes tributrios, decorrendo do tipo
penal. Ex.: sonegao fiscal.
c) Direito Tributrio Ambiental: as indagaes ambientais que, se
evoludas pelo contribuinte, podem auferir a iseno fiscal.
d) Direito Civil: na compra de bens ou na herana destes, por meio
de inventrio ou por concesso. Mesmo assim, o imposto devido
baseado no Direito Tributrio.
e) Direito Processual Civil: este usado em todas as aes e os pro-
cessos tributrios.
f ) Direito Administrativo: as taxas deliberadas para o exerccio do
poder de polcia ou a prtica de servio pblico especificado sero
baseadas no Direito Tributrio.
Elencamos somente alguns exemplos, uma vez que o Direito Tributrio
acaba por tocar todos os outros ramos do Direito.
3.2. Legislao Tributria
de extrema importncia ressaltar que o ponto de partida dos estudos em
relao ao Direito Tributrio deve ser a Constituio Federal, principalmente
seu Ttulo VI, que trata da tributao e do oramento, e, em especial, observar
seu art. 153, no qual designa competncia da Unio a instituir impostos.
Tendo em vista que a Constituio Federal delimita as competncias
e os poderes de seus entes polticos, deve-se observar a legislao infracons-
titucional a fim de abrangermos com maiores detalhes o mbito tributrio.
Lembrando que, ao falar de legislao infraconstitucional, queremos dizer a
legislao abaixo da Constituio, tendo em vista a teoria de Kelsen sobre a
hierarquia das normas, vista no primeiro captulo deste livro.
108
Livro_legislacao_katia.indb 108 20/11/2014 09:58:59
Aspectos Relevantes do Direito Tributrio
O instrumento legislativo mais importante abaixo da Constituio, em
matria tributria, o Cdigo Tributrio Nacional (CTN), introduzido por
meio de lei ordinria, a Lei no 5.172, de 1966, mas que foi recepcionado com
fora de lei complementar a partir da Constituio Federal de 1988.
Especificamente, o CTN regula o Sistema Tributrio Nacional e esta-
belece as normas gerais de Direito tributrio. Essa regulao define e deli-
mita a competncia tributria; define o que imposto, as competncias e
abrangncias em relao aos impostos nas esferas federal, estadual e muni-
cipal; estabelece as taxas; estabelece a contribuio de melhoria; e estabelece
as distribuies de receitas tributrias. J as normas gerais de Direito Tribu-
trio dispem sobre a Legislao Tributria, especificamente em seu art. 96,
sustentando que o termo legislao tributria abrange as leis, os tratados e
as convenes internacionais e os decretos e as normas complementares que
explicam, no todo ou em parte, a respeito dos tributos e das relaes jurdicas
a eles apropriados.
As normas gerais de Direito Tributrio tambm definem a obrigao e
a responsabilidade tributria e versam sobre o crdito tributrio, como sua
suspenso, extino, excluso, garantias e privilgios e a administrao do
crdito tributrio.
Desta forma, podemos dizer que a legislao tributria alcana todas
as normas que versam sobre tributos e relaes jurdicas relacionadas aos tri-
butos de forma geral.
3.2.1 Normas gerais de Direito Tributrio
No Brasil, as normas gerais do Direito Tributrio emanam da Consti-
tuio Federal de 1988, alm de serem institudas pelo Cdigo Tributrio
Nacional. A referncia entre as normas gerais do Direito Tributrio e outras
normas no se caracteriza como apenas diviso de competncia, mas sim a
partir de um vnculo hierrquico.
A Constituio Federal de 1988, no seu captulo I, do Ttulo VI, sobre o
sistema tributrio nacional, prescreve trplice competncia para a lei comple-
mentar em matria tributria, quais sejam: dispor sobre conflitos de compe-
tncia entre a Unio, os Estados, o Distrito Federal e o Municpio (art. 146,
I); disciplinar as limitaes constitucionais ao poder de tributar (art. 146, II);
109
Livro_legislacao_katia.indb 109 20/11/2014 09:58:59
Introduo ao Direito
e estatuir normas gerais (art. 146, III), notadamente em relao a definio
de tributos, espcies de tributos, lanamento, obrigao, crdito, decadncia,
prescrio, adequado tratamento tributrio ao ato cooperativo praticado pelas
sociedades simples cooperativas e a definio de tratamento diferenciado e
favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte.
Alm do texto constitucional, alguns autores recorrem defesa dos prin-
cpios constitucionais da Federao, a autonomia dos Municpios e o princpio
constitucional da isonomia entre os entes federativos. Entendem que as leis
complementares podem dispor a respeito das normas gerais de direito Tribut-
rio, desde que tenham apenas como tema de fundo os conflitos de competn-
cia entre os entes federativos ou a regulao das limitaes constitucionais ao
poder de tributar. Caso contrrio, as normas gerais de Direito Tributrio seriam
vigentes como legislao ordinria federal, e no nacional, acarretando a possi-
bilidade jurdica de desobedincia por meio do uso da competncia legislativa
ordinria tributria dos Estados, Municpios e Distrito Federal.
Desta forma, estaria reduzida, assim, a lei complementar em matria
tributria, na funo de solucionar os conflitos de atribuio entre os entes
da Federao ou regular as restries constitucionais ao poder de tributar,
fazer-se intil, no sentido de consequncia, o mecanismo que viesse a ordenar
sobre normas gerais tributrias.
As normas gerais de Direito Tributrio evidenciam as questes mais
importantes do padro normativo constitucional tributrio, afirmamos ento
que so normas de integrao do texto constitucional, implementando-o de
forma a clarear a inteno do poder constituinte, ou seja, tornam fixadas as
normas jurdicas constitucionais tributrias, e no podem modernizar ou ir
alm desses princpios.
3.2.2. Leis tributrias
No entendimento de Machado (2011, p. 79), lei corresponde ao [...]
ato jurdico produzido pelo Poder competente para o exerccio da funo
legislativa, nos termos estabelecidos pela Constituio. O autor menciona
ainda que, na nomenclatura adotada pelo o Cdigo Tributrio Nacional,
existe uma clara distino entre os dois conceitos de lei, a lei em sentido
amplo e lei em sentido estrito, fator que, segundo o autor, de suma impor-
tncia para a interpretao do Cdigo Tributrio Nacional.
110
Livro_legislacao_katia.indb 110 20/11/2014 09:58:59
Aspectos Relevantes do Direito Tributrio
Neste sentido, Machado (2011, p. 79) diferencia os dois sentidos de lei
como:
[...] a palavra lei tem um sentido amplo e outro restrito. Lei, em sen-
tido amplo, qualquer ato jurdico que se compreenda no conceito
de lei em sentido formal ou em sentido material. Basta que seja lei
formalmente, ou materialmente para ser lei em sentido amplo. J, em
sentido restrito s lei aquela que seja tanto em sentido formal como
em sentido material.
Ichihara (1997, p. 87), com muita propriedade, oferece a sua definio
para ambas, sendo uma o complemento da outra.
A Lei uma espcie de norma abstrata, geral e obrigatria, emanada
do Poder Legislativo e sancionada pelo Executivo, ou promulgada
pelo prprio Legislativo; j a Legislao Tributria compreende o
conjunto de normas, de diversas hierarquias, desde a norma constitu-
cional at as normas complementares. A lei faz parte deste conjunto,
caracterizando uma relao de espcie e gnero.
Quanto Legislao Tributria, Machado (2011, p. 80) cita:
A palavra legislao como utilizada no Cdigo Tributrio Nacional,
significa lei em sentido amplo, abrangendo, alm das leis em sentido
restrito, os tratados e as convenes internacionais, os decretos e as
normas complementares que versem no todo ou em parte, sobre tri-
butos e relaes jurdicas a elas pertinentes.
Legislao, no Cdigo Tributrio Nacional, art. 96, assim definida: A
expresso legislao tributria compreende as leis, os tratados e as conven-
es internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relaes jurdicas a eles pertinentes.
Em geral, podemos dizer que a norma trata de tributos na Unio, nos
Estados e nos Municpios, sem estabelecer qualquer desses tributos. A norma
trata de crdito, obrigao, prescrio e decadncia, sem ter vnculo a tributo
especfico. J a lei complementar trata da limitao constitucional ao poder
de tributar.
3.2.2.1. Lei complementar e lei ordinria
A lei complementar tem a finalidade de complementar a Constituio,
esclarecendo ou complementando algum assunto determinado na mat-
ria constitucional.
111
Livro_legislacao_katia.indb 111 20/11/2014 09:58:59
Introduo ao Direito
Em referncia lei complementar, Amaro (2006) menciona que sua fun-
o encontra-se tambm em estabelecer normas gerais ao Direito Tributrio,
alm de acrescentar maior detalhamento s formas de tributao institudas
pela Constituio:
Dir-se-ia que a Constituio desenha o perfil dos tributos (no que
respeita identificao de cada tipo tributrio aos limites do poder
de tributar etc.) e a lei complementar adensa os traos gerais dos tri-
butos, preparando o esboo que, finalmente, ser utilizado pela lei
ordinria, qual compete instituir o tributo, na definio exaustiva
de todos os traos que permitam identific-lo na sua exata dimenso,
ainda abstrata, obviamente, pois a dimenso concreta depender da
ocorrncia do fato gerador que, refletindo a imagem minudentemente
desenhada na lei, dar nascimento a obrigao tributria. (AMARO,
2006, p. 168-169).
Segundo o art. 146 da Constituio Federal, as principais funes das
leis complementares so:
Art.146. Cabe lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competncia, em matria tributria, entre
a Unio, os Estados, o Distrito Federal e os Municpios;
II - regular as limitaes constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matria de legislao tributria,
especialmente sobre:
a) definio de tributos e de suas espcies, bem como, em relao
aos impostos discriminados nesta Constituio, a dos respectivos
fatos geradores, bases de clculo e contribuintes;
b) obrigao, lanamento, crdito, prescrio e decadncia tributrios;
c) adequado tratamento tributrio ao ato cooperativo praticado
pelas sociedades cooperativas.
d) definio de tratamento diferenciado e favorecido para as
microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive
regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto
no artigo 155, II, das contribuies previstas no artigo 195, I
e 12 e 13, e da contribuio a que se refere o artigo 239.
(Includo pela Emenda Constitucional n 42, de 19.12.2003)
Pargrafo nico. A lei complementar de que trata o inciso III, d, tam-
bm poder instituir um regime nico de arrecadao dos impostos e
contribuies da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
112
Livro_legislacao_katia.indb 112 20/11/2014 09:58:59
Aspectos Relevantes do Direito Tributrio
cpios, observado que: (Includo pela Emenda Constitucional n 42,
de 19.12.2003)
I - ser opcional para o contribuinte; (Includo pela Emenda Consti-
tucional n 42, de 19.12.2003)
II - podero ser estabelecidas condies de enquadramento diferen-
ciadas por Estado; (Includo pela Emenda Constitucional n 42, de
19.12.2003)
III - o recolhimento ser unificado e centralizado e a distribuio da
parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados ser
imediata, vedada qualquer reteno ou condicionamento; (Includo
pela Emenda Constitucional n 42, de 19.12.2003)
IV - a arrecadao, a fiscalizao e a cobrana podero ser compar-
tilhadas pelos entes federados, adotado cadastro nacional nico de
contribuintes. (Includo pela Emenda Constitucional n 42, de
19.12.2003)
Art. 146. A. Lei complementar poder estabelecer critrios especiais
de tributao, com o objetivo de prevenir desequilbrios da concor-
rncia, sem prejuzo da competncia de a Unio, por lei, estabelecer
normas de igual objetivo. (Includo pela Emenda Constitucional n
42, de 19.12.2003)
Quanto lei ordinria, Amaro (2006, p. 172) cita:
A Lei ordinria , em regra, o veculo legislativo que cria o tributo,
traduzindo, pois, o instrumento formal mediante o qual se exer-
cita a competncia tributria, observados os balizamentos contidos
na Constituio e nas normas infraconstitucionais que, com apoio
naquela, disciplinam, limitam ou condicionam o exerccio do poder
de tributar.
Segundo Amaro (2006, p. 172), [...] a lei ordinria (da Unio, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municpios) que implementa, em regra,
o princpio da legalidade tributria.
A lei ordinria fundamentada nos art. 59, III, e 61 da Constituio
Federal, na qual encontramos:
Art. 59. O processo legislativo compreende a elaborao de:
I emendas Constituio;
II leis complementares;
III leis ordinrias;
113
Livro_legislacao_katia.indb 113 20/11/2014 09:58:59
Introduo ao Direito
IV leis delegadas;
V medidas provisrias;
VI decretos legislativos;
VII resolues.
Pargrafo nico. Lei complementar dispor sobre a elaborao, reda-
o, alterao e consolidao das leis.
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinrias cabe a
qualquer membro ou Comisso da Cmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da Repblica, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-
Geral da Repblica e aos cidados, na forma e nos casos previstos
nesta Constituio.
Sintetizando caractersticas referentes lei ordinria e lei complementar,
Machado (2011, p. 81) apresenta:
[...] Lei Ordinria e Lei Complementar so duas espcies normativas
distintas, sendo a ltima hierarquicamente superior primeira. E
que as leis ordinrias editadas antes do advento da atual Constituio
Federal tratando de matrias que esta reservou lei complementar
continuam vlidas e ganharam o status de leis complementares, e s
por lei complementar, portanto, podem ser alteradas ou revogadas.
o que aconteceu com o Cdigo Tributrio Nacional.
Resumindo, podemos dizer que a lei, quando acompanhada do adjetivo
ordinria, indica que comum, normal. Diferentemente da lei comple-
mentar, que legitima o preceito da Constituio Federal, conhecida como lei
bsica ou lei maior.
3.2.3 Tratados internacionais
Outro tipo de Norma Jurdica que engloba a Legislao Tributria so
os tratados internacionais, firmados entre dois ou mais Estados (sujeitos de
Direito Internacional Pblico) com o objetivo de criar, modificar, resguar-
dar ou extinguir entre eles uma relao de direito, produzindo desta forma
efeitos jurdicos.
O art. 98 do Cdigo Tributrio Nacional trata do assunto referente aos
tratados internacionais, mencionando: Os tratados e as convenes interna-
114
Livro_legislacao_katia.indb 114 20/11/2014 09:58:59
Aspectos Relevantes do Direito Tributrio
cionais revogam ou modificam a Legislao Tributria interna, e sero obser-
vados pela que lhes sobrevenha.
Segundo Machado (2011, p. 86):
H evidentemente, impropriedade terminolgica na disposio
legal. Na verdade um tratado internacional no revoga nem modi-
fica a legislao interna. A lei revogada no volta a ter vigncia pela
revogao da lei que a revogou. Denunciado um tratado, todavia,
a lei interna com ele incompatvel estar restabelecida em pleno
vigor. Tem-se que procurar, assim, o significado da regra legal em
foco. O que ela pretende dizer que os tratados e as convenes
internacionais prevalecem sobre a legislao interna, seja anterior ou
mesmo posterior.
Em relao hierarquia das normas jurdicas do Direito Tributrio,
Xavier (1996, p.) elucida que:
[...] os tratados tm supremacia hierrquica sobre a lei interna e se
encontram numa relao de especialidade em relao a esta, con-
firmada em matria tributria, pelo artigo 98 do Cdigo Tributrio
Nacional que, em preceito declaratrio dispe que os tratados e as
convenes internacionais revogam ou modificam a legislao tribu-
tria interna e sero observados pela que lhes sobrevenha.
Em relao hierarquia das normas, sendo considerado o Tratado Inter-
nacional superior s leis internas, este produz a consequncia de que as leis
internas no podem revog-lo. Sobre este ponto, esclarece Ataliba (1997, p.
116-118):
Cumpre notar que a supremacia hierrquica dos tratados sobre as leis
internas tem como efeito exclusivo proibir a sua revogao por leis
internas subsequentes, no sendo porm o fundamento da sua apli-
cao prevalecente. que, ainda que tratado e lei ordinria tivessem
paridade de valor hierrquico, a aplicao prevalecente do primeiro
resulta diretamente de uma relao de especialidade.
3.2.4 Medida provisria
um instrumento que integra o ordenamento jurdico brasileiro,
exclusivo ao presidente da Repblica. destinada a matrias relevantes
ou de urgncia pelo Poder Executivo. Este mecanismo jurdico regu-
lado de forma exclusiva pelo art. 62 da Constituio Federal em vigor,
ue determina:
115
Livro_legislacao_katia.indb 115 20/11/2014 09:58:59
Introduo ao Direito
Art. 62. Em caso de relevncia e urgncia, o Presidente da Rep-
blica poder adotar medidas provisrias, com fora de lei, devendo
submet-las de imediato ao Congresso Nacional, que, estando em
recesso, ser convocado extraordinariamente para se reunir no prazo
de cinco dias.
Pargrafo nico. As medidas provisrias perdero eficcia, desde a
edio, se no forem convertidas em Lei no prazo de trinta dias, a
partir de sua publicao, devendo o Congresso nacional disciplinar as
relaes jurdicas delas decorrentes.
Segundo o jurista Bandeira de Mello, de acordo com a nova redao do
art. 62, dada pela Emenda Constitucional 32/2001, medidas provisrias so:
[...] providncias (como o prprio nome diz, provisrias) que o Pre-
sidente da Repblica poder expedir, com ressalva de certas mat-
rias nas quais no so admitidas, em caso de relevncia e urgncia, e
que tero fora de lei, cuja eficcia, entretanto, ser eliminada desde
o incio se o Congresso Nacional, a quem sero imediatamente sub-
metidas, no as converter em lei dentro do prazo que no correr
durante o recesso parlamentar - de 120 dias contados a partir de
sua publicao.
Machado (2011, p. 84), sobre a medida provisria, esclarece:
Em caso de relevncia e urgncia, o Presidente da Repblica poder
adotar medidas provisrias, com fora de lei, devendo submet-las
de imediato ao Congresso Nacional. Algumas matrias, porm, no
podem ser tratadas por medidas provisrias, destacando-se entre
estas, porque relevantes na relao de tributao, a que diz respeito ao
processo civil e a que seja reservada lei complementar, que envolve
as normas gerais em matria de legislao tributria.
Amaro (2006, p. 175) cita: No temos nenhuma simpatia pelas medi-
das provisrias e cremos que a Constituio deveria afast-las do campo do
direito tributrio.
Neste contexto, menciona ainda:
Contra a intromisso das medidas provisrias em matria tributria
afirmou-se: a) que os tributos precisam ter prvia aprovao popular;
b) que as referidas medidas so incompatveis com o princpio da
anterioridade; c) que a Constituio exige lei para a criao de tri-
butos, e, por isso, no admitiria a medida provisria, que no lei.
(AMARO, 2006, p. 176).
116
Livro_legislacao_katia.indb 116 20/11/2014 09:58:59
Aspectos Relevantes do Direito Tributrio
Machado (2011), por sua vez, destaca que as medidas provisrias tm
causado muitas questes, principalmente no que se refere abrangncia das
normas gerais de Legislao Tributria. Neste sentido, Machado (2011, p. 85)
cita: Espera-se que a jurisprudncia o diga de modo a no anular a garan-
tia constitucional consubstanciada na reserva de competncia para o legis-
lador complementar.
Assim, podemos dizer em poucas palavras que medidas provisria so
atos procedentes do Poder Executivo, em especfico do presidente da Rep-
blica, que tem fora de lei.
3.2.5 Normas complementares
Conforme menciona Machado (2011), normas complementares so atos
administrativos, no sentido formal; e no mbito material, so leis. Segundo
o autor, pode-se mencionar que so leis em sentido amplo e encontram-se
determinadas no CTN.
Diz-se que so complementares porque se destinam a completar o
texto das leis, dos tratados e convenes internacionais e decretos.
Limitam-se a completar. No podem inovar ou de qualquer forma
modificar o texto da norma que complementam. Alm de no pode-
rem invadir o campo da reserva legal, devem observncia tambm aos
decretos e regulamentos, que se colocam em posio superior porque
editados pelo chefe do Poder Executivo, e a este os que editam as
normas complementares esto subordinados.
Segundo o art. 100 do CTN:
So normas complementares das leis, dos tratados, e das convenes
internacionais e dos decretos:
I os atos administrativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II as decises dos rgos singulares ou coletivos de jurisdio admi-
nistrativa, a que a lei atribua eficcia norminativa;
III as prticas reiteradamente observadas pelas autoridades admi-
nistrativas;
IV os convnios que entre si celebrem a Unio, os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municpios.
Quanto ao pargrafo nico do art. 100 da CTN, Amaro (2006,
p. 192) enfatiza:
117
Livro_legislacao_katia.indb 117 20/11/2014 09:58:59
Introduo ao Direito
A observncia das normas complementares faz presumir a boa-f
do contribuinte, de modo que aquele que pautar seu comportamento
por uma dessas normas no pode (na hiptese de a norma ser consi-
derada ilegal) sofrer penalidade, nem cobrana de juros de mora, nem
pode ser atualizado o valor monetrio da base de clculo do tributo
(artigo 100, pargrafo nico).
3.3 Princpios do Direito Tributrio
Os princpios de Direito so normas jurdicas e agem como se fossem
condutores dos padres de conduta que dirigem as normas positivas. Prin-
cpio o embasamento, o alicerce que justifica as demais normas jurdicas
positivas que integram o sistema.
Como bem define Bandeira de Mello (2000, p. 748):
Violar um princpio muito mais grave que transgredir uma norma
qualquer. A desateno ao princpio implica ofensa no apenas a um
especfico mandamento obrigatrio, mas a todo o sistema de coman-
dos. a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade,
conforme o escalo do princpio atingido, porque representa insur-
gncia contra todo o sistema, subverso de seus valores fundamen-
tais, contumlia irremissvel a seu arcabouo lgico e corroso de sua
estrutura mestra. Isto porque, com ofend-lo, abatem-se as vigas que
o sustm e alui-se toda a estrutura nelas esforada.
Os princpios de Direito Tributrio, de uma maneira ampla, apresen-
tam-se como precaues ao contribuinte, em oposio ao poder do Estado;
so autnticas limitaes ao poder de tributar, muitos dos quais com expressa
previso constitucional.
3.3.1 Princpio da Legalidade
O Princpio da Legalidade est previsto no ordenamento jurdico brasi-
leiro, no art. 150, I, da Constituio Federal de 1988: [...] vedado Unio,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municpios exigir ou aumentar tribu-
tos sem lei que o estabelea. Este princpio protege o contribuinte contra o
aumento de tributos sem determinao da lei, limitando, assim, os poderes
da Administrao Pblica em relao aos tributos.
O Princpio da Legalidade tambm expresso no art. 5o, II, da Consti-
tuio Federal, conforme podemos conferir:
118
Livro_legislacao_katia.indb 118 20/11/2014 09:58:59
Aspectos Relevantes do Direito Tributrio
Todos so iguais perante a lei, sem distino de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pas a
inviolabilidade do direito vida, liberdade, igualdade, segurana
e propriedade, nos termos seguintes:
II - ningum ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
seno em virtude de lei [...].
Este princpio auxilia na formao do Estado Democrtico de Direito,
pois garante a participao dos cidados, por meio de seus representantes, na
criao de atos normativos que previnam restries liberdade individual.
Tambm responsvel por garantir a segurana jurdica necessria convi-
vncia dos indivduos em sociedade.
Neste sentido, a lio de Silva (2009, p. 420) nos ensina:
O princpio da legalidade nota essencial do Estado de Direito. ,
tambm, por conseguinte, um princpio basilar do Estado Democr-
tico de Direito, como vimos, porquanto da essncia do seu conceito
subordinar-se Constituio e fundar-se na legalidade democrtica.
Para Martins (1995, p. 141-142), o Princpio da Legalidade trata verda-
deiramente da garantia constitucional, conforme podemos ver a seguir:
[...] se o princpio da legalidade limita o poder de tributrio, colo-
cando-o sob monoplio da lei escrita, proveniente do legislativo, a
criao e majorao dos tributos, faz nascer o direito pblico subje-
tivo do cidado contribuinte exigir que os entes de governo interfi-
ram na sua rea particular de ao, criando ou aumentando tributos,
atravs de lei.
A lei, alm de caracterizar o Estado Democrtico de Direito, garante
uma segurana jurdica e tambm social, a fim de regular e estabelecer uma
ordem pblica. Como bem expressa Machado (2011, p. 32):
Sendo a lei a manifestao legtima da vontade do povo, por seus
representantes nos Parlamentos, entende-se que o ser institudo em
lei significa ser o tributo consentido. O povo consente que o Estado
invada seu patrimnio para dele retirar os meios indispensveis
satisfao das necessidades coletivas. Mas no s isto. Mesmo no
sendo a lei, em certos casos, uma expresso desse consentimento
popular, presta-se o princpio da legalidade para garantir a segurana
nas relaes do particular (contribuinte) com o Estado (Fisco), as
quais devem ser inteiramente disciplinadas, em lei, que obriga tanto o
sujeito passivo como o sujeito ativo da relao obrigacional tributria.
119
Livro_legislacao_katia.indb 119 20/11/2014 09:58:59
Introduo ao Direito
No conhecimento de Oliveira (2001, p. 113), podemos observar que:
O princpio uma limitao do poder de tributar, que reserva de modo
exclusivo lei escrita, proveniente do Legislativo, a criao ou majo-
rao dos tributos. Fato relevante que essa limitao continue ligada
clssica separao dos Poderes, que alcanou grande repercusso
por intermdio de Montesquieu, objetivando resguardar a liberdade
do cidado contribuinte contra a concentrao e o desvio de poder.
3.3.2 Princpio da Anterioridade
O Princpio da Anterioridade expresso no art. 150, III, b, da Cons-
tituio Federal, sendo vedado aos entes tributantes cobrar tributo [...] no
mesmo exerccio financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu
ou aumentou. Este princpio garante ao contribuinte um tempo hbil a se
preparar para o novo pagamento, ou seja, determina um prazo impeditivo, o
prximo exerccio financeiro.
Como nos ensina Carrazza (2004, p. 177), o princpio da anterioridade
veda a aplicao da lei instituidora ou majoradora do tributo (caso, por exem-
plo, da que extingue ou reduz isenes tributrias) sobre fatos ocorridos no
mesmo exerccio financeiro em que entrou em vigor.
No art. 150, inciso III, alneas b e c da Constituio Federal, pode-
mos verificar esse princpio:
Sem prejuzo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
vedado Unio, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municpios:
III - cobrar tributos:
a) no mesmo exerccio financeiro em que haja sido publicada a lei
que os instituiu ou aumentou;
b) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publi-
cada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na
alnea b; [...].
No entendimento de Ataliba (1997, p. 153):
A Constituio, em outras palavras, est dizendo o seguinte: o legis-
lador pode criar ou aumentar tributos a qualquer instante, mas, a
eficcia desta lei criadora ou aumentadora s se vai dar no prximo
exerccio. Fica com eficcia suspensa a lei que cria e que aumenta, at
o ano que vem. Esta a regra geral.
120
Livro_legislacao_katia.indb 120 20/11/2014 09:58:59
Aspectos Relevantes do Direito Tributrio
Machado (2011, p. 35) explica de forma clara a diferena entre a exign-
cia do Princpio da Anterioridade e a exigncia da vacncia:
Para que o tributo seja cobrado a partir de 1 de janeiro j no
basta que a lei seja publicada at o ltimo dia do exerccio anterior,
ou seja, j no basta a obedincia ao princpio da anterioridade.
Para que o tributo seja devido a partir de 1 de janeiro, a lei que o
criou ou aumentou deve ser publicada pelo menos 90 dias antes.
Entretanto, a exigncia da anterioridade no se confunde com a
exigncia da vacncia legal de 90 dias. Assim, se a lei que cria ou
aumento o tributo publicada at o ltimo dia de dezembro est
atendida a exigncia do princpio da anterioridade, e a exigncia
da vacncia de 90 dias faz com que a vigncia da lei s tenha
incio 90 dias depois de sua publicao. Isto quer dizer que se a
lei publicada no ltimo dia de dezembro est atendido o princ-
pio da anterioridade, mas essa lei s entrar em vigor em abril do
ano seguinte.
Na viso de Ichihara (1997, p. 56):
[...] a aplicao do princpio da anterioridade da lei tributria regra,
sendo exceo os tributos no sujeitos a tal princpio.
Assim, os tributos sujeitos anterioridade da lei s podero ser cobra-
dos a partir do exerccio seguinte ao da instituio ou da alterao.
Este princpio que decorre da segurana jurdica, mais qua-
lificado que a irretroatividade de lei e especfico princpio do
Direito Tributrio.
J para Amaro (2005, p. 121), sua contribuio :
[...] a constituio exige, como dizamos, que a lei que crie ou aumente
o tributo seja anterior ao exerccio financeiro em que o tributo seja
cobrado e, ademais, que se observe a antecedncia mnima de noventa
dias entre a data de publicao da lei que o instituiu ou aumentou e a
data em que passa a aplicar-se.
Podemos observar que este princpio vem reforar o Princpio da Irre-
troatividade, pois, alm de o legislador vedar a aplicabilidade da lei a fatos
anteriores sua edio, ele tambm veda que a lei que cria ou aumenta tri-
buto venha a ser aplicada no mesmo exerccio financeiro. Este Princpio
Constitucional, assim como o Princpio da Irretroatividade, considerado
clusula ptrea, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, na
ADIN 939-7 DF, Rel. Min. Sydney Sanches.
121
Livro_legislacao_katia.indb 121 20/11/2014 09:58:59
Introduo ao Direito
Desta forma, o Princpio da Anterioridade, alm de uma forma de defesa
dos cidados contribuintes, uma garantia de Direito fundamental.
3.3.3 Princpio da Igualdade, ou Isonomia
O Princpio da Igualdade, relacionado com a tributao, refere-se
capacidade contributiva. De uma forma geral, o conceito de igualdade fonte
de estudo desde Aristteles e caracteriza-se, segundo Baleeiro (2006, p. 378)
pela ideia de que: [...] os indivduos podem ser agrupados segundo notas
comuns e separados por suas diferenas.
Ainda segundo Baleeiro (2006, p. 379), [...] o princpio da igualdade for-
mal norma que impe o mesmo tratamento aos iguais e outro aos desiguais.
Ao se referir aos contribuintes, o mesmo autor afirma: [...] iguais
so aqueles contribuintes de mesma capacidade econmica (BALEEIRO,
2006, p. 380).
Machado (2011, p. 37) nos apresenta o seu entendimento:
O princpio da igualdade a projeo, na rea tributria, do prin-
cpio geral da isonomia jurdica, ou princpio pelo qual todos so
iguais perante a lei. Apresenta-se aqui como garantia de tratamento
uniforme, pela entidade tributante, de quantos se encontrem em con-
dies iguais. Como manifestao desse princpio temos, em nossa
Constituio, a regra da uniformidade dos tributos federais em todo
o territrio nacional.
O Princpio da Igualdade alcanado ao se levar em conta a capacidade
contributiva das pessoas, mas deve-se lembrar que: [...] essa capacidade
objetiva, ou seja, se refere no s condies econmicas de cada contribuinte,
mas s suas manifestaes objetivas de riqueza (CARRAZA, 2004, p. 89).
No estudo de Ichihara (1997, p. 57), podemos verificar que:
Na realidade, em matria tributria, o princpio da isonomia diri-
gido ao legislador, no sentido de evitar normas que quebram este
princpio. [...]
Ferir este princpio, que aparece como direito fundamental do indiv-
duo, importa em desrespeitar diretriz constitucional.
O Princpio da Igualdade est expresso na Constituio Federal, no art.
150, inciso II:
122
Livro_legislacao_katia.indb 122 20/11/2014 09:59:00
Aspectos Relevantes do Direito Tributrio
Art. 150. Sem prejuzo de outras garantias asseguradas ao con-
tribuinte, vedado Unio, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municpios:
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem
em situao equivalente, proibida qualquer distino em razo de ocu-
pao profissional ou funo por eles exercida, independentemente da
denominao jurdica dos rendimentos, ttulos ou direitos; [...]
Considerando o Princpio da Igualdade, Carrazza (2012, p. 477) explica:
Isto, no significa, por bvio, que as leis tributrias devem tratar todas as pes-
soas da mesma maneira, mas, to somente, que precisam dispensar o mesmo
tratamento jurdico s que se encontrem em situaes idnticas.
Ao abordar o Princpio da Igualdade, importante lembrar do posicio-
namento de um dos maiores juristas de todos os tempos, Rui Barbosa (2004):
A regra da igualdade no consiste seno em quinhoar desigualmente
aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade
social, proporcionada desigualdade natural, que se acha a ver-
dadeira lei da igualdade... Tratar com desigualdade a iguais, ou a
desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e no igual-
dade real.
Portanto, podemos concluir que o objetivo deste princpio o de proibir
que o legislador tributrio trate de forma desigual contribuintes em situa-
o equivalente.
3.3.4 Princpio da Competncia
Com relao a este princpio, Machado (2011, p. 38-39) nos apresenta
seu estudo e nos explica este conceito:
O princpio da competncia aquele pelo qual a entidade tri-
butante h de restringir sua atividade tributacional quela mat-
ria que lhe foi constitucionalmente destinada. J sabemos que a
competncia tributria o poder impositivo juridicamente delimitado,
e, sendo o caso, dividido. O princpio da competncia obriga que cada
entidade tributante se comporte nos limites da parcela de poder
impositivo que lhe foi atribuda. Temos um sistema tributrio
rgido, no qual as entidades dotadas de competncia tributria
tm, definido pela Constituio, o mbito de cada tributo, vale
dizer, a matria de fato que pode ser tributada.
123
Livro_legislacao_katia.indb 123 20/11/2014 09:59:00
Introduo ao Direito
Cabe ressaltar que a competncia tributria abrange quatro funes bsi-
cas: legislar, fiscalizar, arrecadar e executar as normas essenciais respectiva
Legislao Tributria.
No CTN, nos arts. 6o a 8o, verificamos que esta competncia se refere
ao poder de instituir tributo por meio de lei, sendo ela atribuda a Unio,
Estados, DF e Municpios. Conforme podemos ver a seguir, de acordo com
o CTN:
Art. 6. A atribuio constitucional de competncia tributria com-
preende a competncia legislativa plena, ressalvadas as limitaes con-
tidas na Constituio Federal, nas Constituies dos Estados e nas
Leis Orgnicas do Distrito Federal e dos Municpios, e observado o
disposto nesta Lei.
Pargrafo nico. Os tributos cuja receita seja distribuda, no todo ou
em parte, a outras pessoas jurdicas de direito pblico pertencer
competncia legislativa daquela a que tenham sido atribudos.
Art. 7. A competncia tributria indelegvel, salvo atribuio das
funes de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, servi-
os, atos ou decises administrativas em matria tributria, conferida
por uma pessoa jurdica de direito pblico a outra, nos termos do
3 do artigo 18 da Constituio.
1 A atribuio compreende as garantias e os privilgios processuais
que competem pessoa jurdica de direito pblico que a conferir.
2 A atribuio pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato uni-
lateral da pessoa jurdica de direito pblico que a tenha conferido.
3 No constitui delegao de competncia o cometimento, a pes-
soas de direito privado, do encargo ou da funo de arrecadar tributos.
Art. 8. O no-exerccio da competncia tributria no a defere a pes-
soa jurdica de direito pblico diversa daquela a que a Constituio
a tenha atribudo.
Segundo a Constituio Federal, arts. 153 e 154, de competncia
exclusiva da Unio:
Art.153. Compete Unio instituir impostos sobre:
I - importao de produtos estrangeiros;
II - exportao, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
124
Livro_legislacao_katia.indb 124 20/11/2014 09:59:00
Aspectos Relevantes do Direito Tributrio
IV - produtos industrializados;
V - operaes de crdito, cmbio e seguro, ou relativas a ttulos ou
valores mobilirios;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
1 - facultado ao Poder Executivo, atendidas as condies e os
limites estabelecidos em lei, alterar as alquotas dos impostos enume-
rados nos incisos I, II, IV e V.
2 - O imposto previsto no inciso III:
I - ser informado pelos critrios da generalidade, da universalidade e
da progressividade, na forma da lei;
II - no incidir, nos termos e limites fixados em lei, sobre rendimen-
tos provenientes de aposentadoria e penso, pagos pela previdncia
social da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios, a
pessoa com idade superior a sessenta e cinco anos, cuja renda total seja
constituda, exclusivamente, de rendimentos do trabalho . (Revogado
pela Emenda Constitucional n 20, de 1998)
3 - O imposto previsto no inciso IV:
I - ser seletivo, em funo da essencialidade do produto;
II - ser no-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada
operao com o montante cobrado nas anteriores;
III - no incidir sobre produtos industrializados destinados
ao exterior.
IV - ter reduzido seu impacto sobre a aquisio de bens de capital
pelo contribuinte do imposto, na forma da lei. (Includo pela Emenda
Constitucional n 42, de 19.12.2003)
4 - O imposto previsto no inciso VI ter suas alquotas fixadas de
forma a desestimular a manuteno de propriedades improdutivas e
no incidir sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando
as explore, s ou com sua famlia, o proprietrio que no possua
outro imvel.
4 O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redao dada pela
Emenda Constitucional n 42, de 19.12.2003)
I - ser progressivo e ter suas alquotas fixadas de forma a desesti-
mular a manuteno de propriedades improdutivas; (Includo pela
Emenda Constitucional n 42, de 19.12.2003)
125
Livro_legislacao_katia.indb 125 20/11/2014 09:59:00
Introduo ao Direito
II - no incidir sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando
as explore o proprietrio que no possua outro imvel; (Includo pela
Emenda Constitucional n 42, de 19.12.2003)
III - ser fiscalizado e cobrado pelos Municpios que assim optarem,
na forma da lei, desde que no implique reduo do imposto ou qual-
quer outra forma de renncia fiscal.(Includo pela Emenda Constitu-
cional n 42, de 19.12.2003) (Regulamento)
5 - O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou ins-
trumento cambial, sujeita-se exclusivamente incidncia do imposto
de que trata o inciso V do caput deste artigo, devido na operao
de origem; a alquota mnima ser de um por cento, assegurada a
transferncia do montante da arrecadao nos seguintes termos: (Vide
Emenda Constitucional n 3, de 1993)
I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o Territrio,
conforme a origem;
II - setenta por cento para o Municpio de origem.
Art. 154. A Unio poder instituir:
I - mediante lei complementar, impostos no previstos no artigo ante-
rior, desde que sejam no-cumulativos e no tenham fato gerador ou
base de clculo prprios dos discriminados nesta Constituio;
II - na iminncia ou no caso de guerra externa, impostos extraordin-
rios, compreendidos ou no em sua competncia tributria, os quais
sero suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criao.
competncia dos Estados e do Distrito Federal, conforme o art. 155,
da Constituio Federal:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impos-
tos sobre: (Redao dada pela Emenda Constitucional n 3, de 1993)
I - transmisso causa mortis e doao, de quaisquer bens ou direitos;
(Redao dada pela Emenda Constitucional n 3, de 1993)
II - operaes relativas circulao de mercadorias e sobre presta-
es de servios de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicao, ainda que as operaes e as prestaes se iniciem no
exterior;(Redao dada pela Emenda Constitucional n 3, de 1993)
III - propriedade de veculos automotores. (Redao dada pela
Emenda Constitucional n 3, de 1993)
1. O imposto previsto no inciso I: (Redao dada pela Emenda
Constitucional n 3, de 1993)
126
Livro_legislacao_katia.indb 126 20/11/2014 09:59:00
Aspectos Relevantes do Direito Tributrio
I - relativamente a bens imveis e respectivos direitos, compete ao
Estado da situao do bem, ou ao Distrito Federal
II - relativamente a bens mveis, ttulos e crditos, compete ao Estado
onde se processar o inventrio ou arrolamento, ou tiver domiclio o
doador, ou ao Distrito Federal;
III - ter competncia para sua instituio regulada por lei com-
plementar:
a) se o doador tiver domicilio ou residncia no exterior;
b) se o de cujus possua bens, era residente ou domiciliado ou teve
o seu inventrio processado no exterior;
IV - ter suas alquotas mximas fixadas pelo Senado Federal;
[...]
Ainda no art. 156 da Constituio Federal, temos as competncias de
responsabilidade dos Municpios:
Art. 156. Compete aos Municpios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmisso inter vivos, a qualquer ttulo, por ato oneroso,
de bens imveis, por natureza ou acesso fsica, e de direitos reais
sobre imveis, exceto os de garantia, bem como cesso de direitos
a sua aquisio;
III - servios de qualquer natureza, no compreendidos no artigo 155,
II, definidos em lei complementar.(Redao dada pela Emenda Cons-
titucional n 3, de 1993)
1 Sem prejuzo da progressividade no tempo a que se refere o artigo
182, 4, inciso II, o imposto previsto no inciso I poder:(Redao
dada pela Emenda Constitucional n 29, de 2000)
I - ser progressivo em razo do valor do imvel; e (Includo pela
Emenda Constitucional n 29, de 2000)
II - ter alquotas diferentes de acordo com a localizao e o uso do
imvel.(Includo pela Emenda Constitucional n 29, de 2000)
2 - O imposto previsto no inciso II:
I - no incide sobre a transmisso de bens ou direitos incorpo-
rados ao patrimnio de pessoa jurdica em realizao de capital,
nem sobre a transmisso de bens ou direitos decorrente de fuso,
incorporao, ciso ou extino de pessoa jurdica, salvo se, nesses
127
Livro_legislacao_katia.indb 127 20/11/2014 09:59:00
Introduo ao Direito
casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e
venda desses bens ou direitos, locao de bens imveis ou arren-
damento mercantil;
3 Em relao ao imposto previsto no inciso III do caput deste
artigo, cabe lei complementar: (Redao dada pela Emenda Consti-
tucional n 37, de 2002)
I - fixar as suas alquotas mximas e mnimas; (Redao dada pela
Emenda Constitucional n 37, de 2002)
II - excluir da sua incidncia exportaes de servios para o exterior.
(Includo pela Emenda Constitucional n 3, de 1993)
III - regular a forma e as condies como isenes, incentivos e bene-
fcios fiscais sero concedidos e revogados. (Includo pela Emenda
Constitucional n 3, de 1993).
3.3.5 Princpio da Capacidade Contributiva
Alguns tericos do Direito denominam o Princpio da Capacidade
Contributiva como um subprincpio do Princpio da Isonomia, ou Igual-
dade Tributria.
O Princpio da Capacidade Contributiva caracteriza-se por ser o princ-
pio jurdico que orienta a instituio de tributos, impondo a observncia da
capacidade do contribuinte de recolher aos cofres pblicos.
Desta forma, Barbosa (1999, p. 12) nos ensina que: [...] conceito da
capacidade de pagar imposto a soma da riqueza disponvel, depois de satis-
feitas as necessidades elementares de existncia que pode ser absorvida pelo
Estado, sem reduzir o padro de vida do contribuinte e sem prejudicar as suas
atividades econmicas.
Na Constituio Federal, em seu art. 145, 1o. temos a seguinte afirmao:
A Unio, os Estados, o Distrito Federal e os Municpios podero ins-
tituir os seguintes tributos:
1 - Sempre que possvel, os impostos tero carter pessoal e sero
graduados segundo a capacidade econmica do contribuinte, facul-
tado administrao tributria, especialmente para conferir efetivi-
dade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais
e nos termos da lei, o patrimnio, os rendimentos e as atividades
econmicas do contribuinte.
128
Livro_legislacao_katia.indb 128 20/11/2014 09:59:00
Aspectos Relevantes do Direito Tributrio
Moraes (1997, p. 118) define este princpio como sendo: O princpio
da capacidade contributiva, pelo qual cada pessoa deve contribuir para as des-
pesas da coletividade de acordo com a sua aptido econmica, ou capacidade
contributiva, origina-se do ideal de justia distributiva.
Na viso de Amaro (2001, p. 136.), O princpio da capacidade con-
tributiva inspira-se na ordem natural das coisas: onde no houver riqueza
intil instituir imposto, do mesmo modo que em terra seca no adianta abrir
poo busca de gua.
Baleeiro (1997, p. 546) tambm deixa a sua contribuio: A capacidade
contributiva , de fato, a espinha dorsal da justia tributria. um critrio de
comparao que inspira o princpio constitucional da igualdade.
Machado (2001, p. 39) expressa o seu entendimento quanto a este
princpio:
[...] o princpio da capacidade contributiva, ou capacidade
econmica, diz respeito aos tributos em geral e no apenas
aos impostos, embora apenas em relao a estes esteja expres-
samente positivado na Constituio. Alis, este princpio
que justifica a iseno de certas taxas, e at da contribui o
de melhorias, em situaes nas quais evidente a inexistncia
da capacidade contributiva daquele de quem teria de ser o
tributo cobrado.
Podemos perceber a aplicao do Princpio da Capacidade Contribu-
tiva no Imposto de Renda, em relao alquota progressiva, e tambm no
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e Urbana.
Para Ichihara (1997, p. 59), o Princpio da Capacidade Contributiva
[...] aparece como instrumento de realizao da justia fiscal, que acabar
por desembocar na realizao da justia social, pois a relao entre o nus e a
capacidade contributiva se d de forma proporcionalmente direta, na busca de
uma distribuio equitativa de renda e na diminuio da desigualdade social.
3.3.6 Princpio da Vedao do Confisco
O Princpio da Vedao do Confisco previsto no sistema tribut-
rio nacional como uma das limitaes constitucionais ao poder de tributar,
segundo a regra nsita no art. 150, IV, da Constituio Federal, Sem prejuzo
129
Livro_legislacao_katia.indb 129 20/11/2014 09:59:00
Introduo ao Direito
de outras garantias asseguradas ao contribuinte, vedado Unio, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municpios utilizar tributo com efeito de confisco.
Machado (2011, p. 40) nos esclarece o seu entendimento a respeito do
Princpio da Vedao do Confisco:
No obstante seja problemtico o entendimento do que seja um tri-
buto com efeito de confisco, certo que o dispositivo constitucional
pode ser invocado sempre que o contribuinte entender que o tributo,
no caso lhe est confiscando os bens. Cabe ao Judicirio dizer que o
tributo confiscatrio.
Este princpio age no sentido tanto da proteo do contribuinte quanto
na proteo do Estado, pois se o tributo com efeito de confisco cobrado, o
Estado est destruindo a fonte do seu prprio recurso. Desta forma, o tributo
no pode ir contra a economia geradora de riqueza do Estado.
importante ressaltar o sentido da palavra confiscar usada no
Direito Penal, no sentido da perda da propriedade, enquanto no Direito
Administrativo confisco tem o sentido de desapropriar sem indenizao
de propriedade.
De acordo com Goldschmidt (2003, p. 39), o princpio expresso no art.
150, IV, da Carta Magna:
[...] tem a precpua funo de estabelecer um marco s limitaes ao
direito de propriedade atravs da tributao, para indicar (e barrar)
o momento em que a tributao deixar de lubrificar e construir o
direito de propriedade (viabilizando a sua manuteno), para inviabi-
liz-lo. Graficamente, poderamos dizer que a limitao via tributao
termina onde comea a privao, o efeito de confisco.
Ou seja, vedada a utilizao do tributo com efeito de confisco, o que
impede que o Estado, com o pretexto de cobrar tributo, se aposse dos bens
do contribuinte.
3.3.7 Princpio da Liberdade de Trfego de Pessoas ou Bens
O art. 150, V, da Constituio Federal, veda a cobrana de tributos com
a finalidade de limitar o trfego de pessoas ou bens, por meio de tributos inte-
restaduais ou intermunicipais. A presente vedao vem ao encontro do que
est prescrito no art. 5o, XV, da CF, que assegura a liberdade de locomoo
no territrio nacional.
130
Livro_legislacao_katia.indb 130 20/11/2014 09:59:00
Aspectos Relevantes do Direito Tributrio
A origem mais remota deste princpio no sistema tributrio brasileiro
est na poca da Regncia de Dom Pedro, momento em que se definiu o pri-
meiro oramento brasileiro, visando imunizar o comrcio entre as provncias.
No Imprio, contudo, criou-se o imposto interprovincial, na Repblica,
apesar da vedao constitucional, algumas prticas contornaram o obstculo
(AMARO, 2005, p. 145).
Importante salientar que tal princpio tambm encontra respaldo nas
garantias constitucionais referentes ao direito de locomoo e ao direito de
propriedade, respectivamente estabelecidas nos incisos XV e XXII do art. 5,
da Carta Magna de 1988. corolrio, ainda, da liberdade de comrcio e do
princpio federativo. Tal princpio tem razo de ser, [...] visto que o Brasil
uma Federao e no uma Confederao. (MARTINS, 1992, p. 144).
Neste sentido da proibio de cobrana de tributos limitando a loco-
moo, pensamos imediatamente nos pedgios, mas estes so considerados
por alguns doutrinadores como uma exceo ao Princpio da Liberdade de
Trfego de Pessoas ou Bens. J para outros doutrinadores, como Silva Neto
(2004), o Princpio da Liberdade de Trfego absoluto, tendo em vista a
ausncia de excees. Para ele, embora o dispositivo supracitado faa a res-
salva com relao ao pedgio, tal no pode ser considerado como exceo,
pois o pedgio no espcie de tributo, chegando concluso pela incluso
do conceito do pedgio como uma tarifa ou um preo pblico.
Alm de analisar o constituinte que estabelece a competncia para insti-
tuir pedgio em uma ressalva limitao do poder de tributar, Amaro (2005,
p. 147) lembra, com muita propriedade, que por estar previsto em um dis-
positivo: [...] trata da vedao de tributos intermunicipais ou interestaduais,
lcito ser concluir que o trfego em trecho que se contenha dentro do terri-
trio de um mesmo Municpio no onervel pelo pedgio.
Conclui-se, portanto, que os aplicadores do Direito Tributrio interpre-
tam as normais gerais de maneira similar moldura exposta na Constituio
Brasileira de 1988, de modo a preservar o Estado Democrtico de Direito.
No podendo esquecer a sua funo de ajustar e padronizar os conceitos e ins-
titutos do ordenamento jurdico tributrio, com o intuito de evitar que, em
matria de tributos, se conceda tratamento diferente aos entes federativos ou
que ocorra transformao, por meio de lei ordinria, da repartio da compe-
tncia tributria de cada um desses entes, facultado pelo poder constituinte.
131
Livro_legislacao_katia.indb 131 20/11/2014 09:59:00
Introduo ao Direito
No entendimento de Machado (2011, p. 42), este princpio no confi-
gura propriamente uma imunidade, mas estabelece parmetros para a ativi-
dade tributria, como podemos ver a seguir:
importante esclarecer que esta regra no impede a cobrana
de impostos sobre a circulao em operaes interestaduais ou
intermunicipais. O que ela probe a instituio de tributo em cuja
hiptese de incidncia seja elemento essencial a transposio de
fronteiras interestadual e intermunicipal.
3.3.8 Princpio da Uniformidade Geogrfica
Este princpio est expresso no art. 151, I, da Constituio Federal:
Art. 151. vedado Unio:
I - instituir tributo que no seja uniforme em todo o territrio nacio-
nal ou que implique distino ou preferncia em relao a Estado, ao
Distrito Federal ou a Municpio, em detrimento de outro, admitida a
concesso de incentivos fiscais destinados a promover o equilbrio do
desenvolvimento scio-econmico entre as diferentes regies do Pas.
Esse princpio tem como finalidade promover o equilbrio entre as dife-
rentes regies brasileiras em relao ao mbito socioeconmico.
3.3.9 Princpio da no Cumulatividade
Este princpio est expresso no art. 155, 2o, I; no art. 153, 3o, II; e no
art. 154, I da Constituio Federal:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impos-
tos sobre: (Redao dada pela Emenda Constitucional n 3, de 1993)
2. O imposto previsto no inciso II atender ao seguinte:(Redao
dada pela Emenda Constitucional n 3, de 1993)
I - ser no-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada
operao relativa circulao de mercadorias ou prestao de servios
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado
ou pelo Distrito Federal;
Art. 153. Compete Unio instituir impostos sobre:
3 - O imposto previsto no inciso IV:
II - ser no-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada
operao com o montante cobrado nas anteriores;
132
Livro_legislacao_katia.indb 132 20/11/2014 09:59:00
Aspectos Relevantes do Direito Tributrio
Art. 154. A Unio poder instituir:
I - mediante lei complementar, impostos no previstos no artigo ante-
rior, desde que sejam no-cumulativos e no tenham fato gerador ou
base de clculo prprios dos discriminados nesta Constituio.
O Princpio da no Cumulatividade se refere aos impostos: IPI, ICMS e
impostos residuais da Unio.
3.3.10 Princpio da Seletividade
Este princpio est expresso no art. 153, 3o, da Carta Magna, como
podemos ver:
Art. 153. Compete Unio instituir impostos sobre:
3 - O imposto previsto no inciso IV:
I - ser seletivo, em funo da essencialidade do produto;
II - ser no-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada
operao com o montante cobrado nas anteriores;
III - no incidir sobre produtos industrializados destinados ao exterior.
IV - ter reduzido seu impacto sobre a aquisio de bens de capital
pelo contribuinte do imposto, na forma da lei.(Includo pela Emenda
Constitucional n 42, de 19.12.2003)
Os princpios em matria tributria tm expressivo papel, pois balizam o
poder de tributar do Estado, sendo utilizadas como direcionadoras das aes
do prprio Estado. So consideradas tambm como ferramentas essenciais
colocadas disposio do particular. O poder constituinte originrio aten-
tou-se em mencionar expressamente no texto constitucional, servindo como
meta de orientao do legislador e como proteo de direitos do contribuinte.
3.4 Tributao
O Estado desenvolve atividade financeira, pois precisa de recursos para
suprir as obrigaes advindas da necessidade social. Qualquer que seja a con-
cepo de Estado que se venha a adotar, inegvel que ele desenvolve ativi-
dade financeira. Para alcanar seus objetivos, precisa de recursos financeiros e
desenvolve atividade para obter, gerir e aplicar tais recursos. Isso no significa
que no possa atuar no campo econmico. E atua, com maior e menor inten-
133
Livro_legislacao_katia.indb 133 20/11/2014 09:59:00
Introduo ao Direito
sidade, ora explorando patrimnio seu, com o fim de lucrar, ora intervindo
no setor privado da economia, na defesa da coletividade. De qualquer forma,
pelo menos em princpio, o Estado no prescinde de recursos financeiros que
arrecada do setor privado, no exerccio de sua soberania (MACHADO, 2011).
A ocorrncia da tributao advm da necessidade que o Estado tem de
arrecadar recursos para suprir as necessidades ou os direitos fundamentais dos
indivduos. Quanto tributao, Machado (2011, p. 24) cita:
A tributao , sem sobra de dvida, o instrumento de que se tem
valido a economia capitalista para sobreviver. Sem ele no poderia
o Estado realizar os seus fins sociais, a no ser que se monopolizasse
toda a atividade econmica. O tributo inegavelmente a grande e
talvez a nica arma contra a estatizao da economia.
3.4.1 Tributos
Alguns doutrinadores repreendem o fato de o prprio CTN conceituar
o vocbulo tributo, alegando que no finalidade da lei conceituar os termos.
De acordo com o art. 3o do CTN: Tributo toda prestao pecuniria com-
pulsria, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que no constitua
sano de ato ilcito, instituda em lei e cobrada mediante atividade adminis-
trativa plenamente vinculada.
Amaro (2006) menciona que a capacidade de arrecadar tributos no
apenas conferida ao Estado, pois existem tributos que so arrecadados por
entidades no estatais (parafiscalidade) que so beneficirias por lei e, por-
tanto, recebem as arrecadaes financeiras advindas dos tributos, de acordo
com os fins pblicos ou de interesse pblico que estas entidades mantm.
Quanto expresso tributo, Amaro (2006, p. 18) observa que: O
direito brasileiro utiliza o vocbulo tributo em sentido genrico. Imposto,
taxa, contribuio, emprstimo compulsrio e pedgio so expresses
empregadas para designar figuras tributrias [...].
Neste contexto, Machado (2011, p. 57-62) especifica e analisa os diver-
sos conceitos de tributos formulados pelos juristas e pelos financistas, con-
forme segue:
a) Toda Prestao Pecuniria. Cuida-se de prestao tendente a asse-
gurar ao Estado os meios financeiros de que necessita para a con-
134
Livro_legislacao_katia.indb 134 20/11/2014 09:59:00
Aspectos Relevantes do Direito Tributrio
secuo de seus objetivos, por isto de natureza pecuniria. No
h mais nos sistemas tributrios modernos o tributo em natureza,
pago em servios ou em bens diversos do dinheiro.
b) Compulsria. Pode parecer desnecessrio qualificar-se a presta-
o tributria como compulsria. No assim, todavia. Embora
todas as prestaes jurdicas sejam, em princpio, a compulso-
riedade da prestao tributria caracteriza-se pela ausncia do
elemento vontade no suporte ftico da incidncia da norma de
tributao. O dever de pagar tributo nasce independentemente
da vontade.
c) Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. A prestao tri-
butria pecuniria, isto , seu contedo expresso em moeda.
O Direito brasileiro no admite a instituio de tributo em
natureza, ou em unidade de servios. Em outras palavras, nosso
direito desconhece os tributos in natura ou in labore.
d) Que no se constitua sano de ato ilcito. O tributo distingue-
-se da penalidade exatamente porque esta tem como hiptese de
incidncia um ato ilcito, enquanto a hiptese de incidncia do
tributo sempre algo lcito.
e) Instituda em lei. S a lei pode instituir o tributo. Isso decorre
do princpio da legalidade, prevalente no estado de Direito.
Nenhum tributo ser exigido sem que a lei o estabelea, con-
forme assegura o artigo150, I, da CF.
f ) Cobrada Mediante atividade administrativa plenamente vincu-
lada. Em geral os administrativistas preferem dizer poder vin-
culado, em lugar de atividade vinculada. Em virtude, porm, da
terminologia utilizada pelo Cdigo Tributrio Nacional, faremos
referncia, aqui, a atividade, que se classifica, evidentemente, de
acordo com a natureza do poder de quem disponha a autori-
dade administrativa. Esta observao tem por fim apenas evitar
equvocos por parte daqueles que, a este propsito, consultem os
compndios do direito administrativo, a cujo campo pertence o
disciplinamento da atividade em geral desenvolvida pela Admi-
nistrao Pblica.
Quanto ao tributo, Amaro (2006, p. 25) define: Tributo a presta-
o pecuniria no sancionatria de ato ilcito, instituda em lei e devida ao
Estado ou a entidades no estatais de fins de interesse pblico.
No mbito que se refere a instituir tributos, Machado (2011, p. 61)
esclarece que:
135
Livro_legislacao_katia.indb 135 20/11/2014 09:59:00
Introduo ao Direito
Instituir um tributo no apenas dizer que ele fica criado, ou ins-
titudo. Sua criao depende da definio da hiptese ou hipteses
em que o mesmo ser devido, vale dizer, da definio da hiptese
de incidncia, dos sujeitos da obrigao correspondente, e ainda
da indicao precisa dos elementos necessrios ao conhecimento
do valor a ser pago, vale dizer, da base de clculo e da alquota,
bem como do prazo respectivo. Tratando-se de tributo fixo obvia-
mente no se cogitar de base de clculo, nem de alquota, pois a
lei j refere o prprio valor devido, independentemente de qualquer
clculo, como acontece com o ISS dos profissionais liberais. Seja
como for, importante saber que, segundo o princpio da legali-
dade, todos os elementos necessrios a que se saiba quem deve, a
quem deve, quanto deve e quando deve pagar residem na lei, em
sentido estrito.
Segundo Machado (2011), o sistema tributrio brasileiro classifica seus
tributos conforme o contexto a seguir:
a) quanto espcie: os impostos, as taxas, as contribuies de melho-
ria, as contribuies sociais e os emprstimos compulsrios;
b) quanto competncia impositiva: destaca-se que os tributos
podem ser federais, estaduais ou municipais;
c) quanto vinculao da atividade estatal: os tributos so:
22 vinculados, por exemplo: as taxas, as contribuies de melho-
ria e as contribuies sociais;
22 no vinculados: os impostos. Estes por sua vez so classificados
de acordo com o CTN em quatro grupos:
22 1o sobre o comrcio exterior;
22 2o sobre o patrimnio e a renda;
22 3o sobre a produo e a circulao;
22 4o impostos especiais.
d) quanto funo: destaca-se que os tributos so extrafiscais, para-
fiscais e fiscais.
Os tributos possuem trs funes especficas, as fiscais, as parafiscais e as
extrafiscais. Conforme Machado especifica (2011, p. 69):
136
Livro_legislacao_katia.indb 136 20/11/2014 09:59:00
Aspectos Relevantes do Direito Tributrio
a) Fiscal, quando seu principal objetivo a arrecadao de recursos
financeiros para o Estado.
b) Extrafiscal, quando seu objetivo principal a interferncia no
domnio econmico, buscando um efeito diverso da simples
arrecadao de recursos financeiros.
c) Parafiscal, quando o seu objetivo a arrecadao de recursos para
o custeio de atividades que, em princpio, no integram funes
prprias do Estado, mas este as desenvolve atravs de entidades
especficas.
No sistema tributrio, existem os chamados tributos ocultos ou dis-
farados. Neste mbito, Machado (2011, p. 70-71) elucida estes tributos de
acordo com o ordenamento jurdico brasileiro:
O tributo disfarado ou oculto caracteriza-se como tal em nosso
ordenamento jurdico pelo fato de no ser institudo com obedincia
s normas e princpios que, em nosso Direito, regem a instituio
e cobrana de tributos. Ele institudo e cobrado disfaradamente,
embutido no preo de bens ou de servios prestados pelo Estado,
atravs de empresas suas ou de concessionrias, a salvo das leis do
mercado e, portanto, com preos fixados de forma unilateral e sem
qualquer possibilidade de controle, em face do conluio que se esta-
belece entre o Estado e a empresa vendedora do bem ou prestadora
do servio.
3.4.2 Taxas
As taxas so espcies de tributos vinculados, o que as diferencia do
imposto. O imposto no vinculado, pois o fato gerador no vinculado
atividade estatal especfica, como determina o art. 16 do CTN. J a taxa
vinculada, pois [...] seu fato gerador vinculado a uma atividade estatal
especfica relativa ao contribuinte. (MACHADO, 2011, p. 402). Quanto ao
fato gerador, Machado (2011, p. 437) menciona que: O fato gerador da taxa
sempre uma atividade estatal especfica relativa ao contribuinte. A taxa se
diferencia da contribuio de melhoria, lembrando que esta tambm vin-
culada por ter seu fato gerador vinculado atividade estatal especfica. A taxa
tem como particularidade a finalidade de sua vinculao, pois ela est ligada
ao servio pblico ou ao exerccio do poder de polcia. Podemos verificar essas
afirmaes nos art. 145, inciso II, da Constituio Federal e no art. 77 do
Cdigo Tributrio Nacional, como vemos a seguir.
137
Livro_legislacao_katia.indb 137 20/11/2014 09:59:00
Introduo ao Direito
Art. 145. A Unio, os Estados, o Distrito Federal e os Municpios
podero instituir os seguintes tributos:
II - taxas, em razo do exerccio do poder de polcia ou pela utiliza-
o, efetiva ou potencial, de servios pblicos especficos e divisveis,
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposio;
2 - As taxas no podero ter base de clculo prpria de impostos.
Art. 77. As taxas cobradas pela Unio, pelos Estados, pelo Distrito
Federal ou pelos Municpios, no mbito de suas respectivas atribui-
es, tm como fato gerador o exerccio regular do poder de polcia,
ou a utilizao, efetiva ou potencial, de servio pblico especfico e
divisvel, prestado ao contribuinte ou posto sua disposio.
Pargrafo nico. A taxa no pode ter base de clculo ou fato gera-
dor idnticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em
funo do capital das empresas.(Vide Ato Complementar n 34, de
30.1.1967)
Desta forma, a taxa uma espcie de tributo, cuja competncia da
esfera comum da Unio, do Estado, do Distrito Federal e dos Municpios,
e o fato gerador vinculado a uma atuao especfica do Estado em relao
ao contribuinte. Consistente, desta forma, no exerccio regular do poder de
polcia, o qual est disposto no art. 78 do CTN, ou na utilizao efetiva ou
potencial de servio pblico divisvel e especfico, o qual est disposto no art.
77 do CTN.
Art. 78. Considera-se poder de polcia atividade da administrao
pblica que, limitando ou disciplinando direito, intersse ou liber-
dade, regula a prtica de ato ou absteno de fato, em razo de
intresse pblico concernente segurana, higiene, ordem, aos
costumes, disciplina da produo e do mercado, ao exerccio de
atividades econmicas dependentes de concesso ou autorizao do
Poder Pblico, tranqilidade pblica ou ao respeito propriedade
e aos direitos individuais ou coletivos. (Redao dada pelo Ato
Complementar n 31, de 28.12.1966)
Pargrafo nico. Considera-se regular o exerccio do poder de polcia
quando desempenhado pelo rgo competente nos limites da lei apli-
cvel, com observncia do processo legal e, tratando-se de atividade
que a lei tenha como discricionria, sem abuso ou desvio de poder.
Neste contexto, Amaro (2006) menciona que as taxas se destinam a
financiar algumas tarefas que se referem a um indivduo ou um grupo de
138
Livro_legislacao_katia.indb 138 20/11/2014 09:59:00
Aspectos Relevantes do Direito Tributrio
indivduos de forma direta ou indireta, cujos fatos geradores esto ligados
atividade estatal.
Conforme Amaro (2006, p. 23):
Esta atuao pode traduzir-se:
a) na execuo de um servio pblico;
b) no exerccio do poder de polcia;
c) na manuteno de uma via pblica utilizada pelo indivduo;
d) na execuo de uma obra pblica que valorize a propriedade do
indivduo.
Enquadram-se neste grupo as taxas de servios, as taxas de polcia, o
pedgio e a contribuio de melhoria.
Em relao base de clculo das taxas, Machado (2011, p. 441) escla-
rece que:
As taxas geralmente so estabelecidas em quantias prefixadas. No se
h de falar, nestes casos, de base de clculo, nem de alquota. Mas
pode ocorrer que o legislador prefira indicar uma base de clculo e
uma alquota. Pode ainda ocorrer que a determinao do valor da
taxa seja feita em funo de elementos como, por exemplo, a rea do
imvel, como acontece com a taxa de licena para localizao de esta-
belecimento comercial ou industrial. Nestes casos, possvel dizer-se
que o clculo feito mediante aplicao de alquota especfica.
De acordo com o art. 80 do CTN:
Para efeito de instituio e cobrana de taxas, consideram-se com-
preendidas no mbito da Unio, dos Estados, do Distrito Federal,
ou dos Municpios, aquelas que, segundo a Constituio Federal, as
Constituies dos Estados, as Leis Orgnicas do Distrito Federal e dos
Municpios e a legislao com elas compatvel, competem a cada uma
dessas pessoas de direito pblico.
Em relao competncia para instituir e criar taxas, Machado (2011,
p. 442-443) menciona:
Competente para instituir e cobrar taxa a pessoa jurdica de Direito
pblico que seja competente para a realizao da atividade qual se
vincule o fato gerador respectivo. Sabe-se que a taxa um tributo vin-
culado, vale dizer, o seu fato gerador sempre ligado a uma atividade
estatal. Assim, a entidade estatal competente para o desempenho da
139
Livro_legislacao_katia.indb 139 20/11/2014 09:59:00
Introduo ao Direito
atividade competente, por conseqncia, para instituir e cobrar a
taxa correspondente.
Segundo Machado (2011), o poder ou a atividade de polcia pode se
manifestar de vrias formas. De acordo com o disposto no art.78 da CTN, o
autor esclarece que: [...] em face da plasticidade dos conceitos empregados,
sua abrangncia praticamente ilimitada. Desde que se possa vislumbrar um
interesse pblico, pode o Estado utilizar o seu poder de polcia para proteg-
-lo (MACHADO, 2011, p. 437).
Como exemplos de taxas nas quais o fato gerador o exerccio do poder
ou da atividade de polcia, Machado (2011, p. 439) cita:
[...] a taxa de licena para localizao e funcionamento, cobrada por
diversos municpios brasileiros de quem quer se estabelecer com
qualquer atividade empresarial; a taxa de licena para publicidade,
cobrada dos que utilizam os denominados outdoors e outras placas ou
faixas com anncios; a taxa de licena para construes ou edificaes,
entre outras.
Quanto taxa de servio pblico, Machado (2011, p. 439) apresenta
que:
[...] podemos entender por servio pblico toda e qualquer atividade
prestacional realizada pelo Estado, ou por quem fizer suas vezes, para
satisfazer, de modo concreto e de forma direta, necessidades coletivas.
No se confunde com o poder de polcia porque sempre atividade
prestacional de natureza material.
Conforme Machado (2011, p. 439), para que um servio pblico possa
gerar uma taxa, este precisa ser: [...] (a) especfico e divisvel; (b) prestado ao
contribuinte ou posto sua disposio; e, finalmente, (c) utilizado, efetiva ou
potencialmente, pelo contribuinte.
3.4.3 Impostos
Imposto uma espcie de tributo no vinculado, o que significa dizer
que tem por fato gerador uma situao independente de qualquer atividade
estatal especfica relativa ao contribuinte. De acordo com o art. 16 do CTN:
Imposto o tributo cuja obrigao tem por fato gerador uma situao inde-
pendente de qualquer atividade estatal especfica, relativa ao contribuinte.
Classifica-se no rol dos tributos no vinculados, assim, seu fato gerador
140
Livro_legislacao_katia.indb 140 20/11/2014 09:59:00
Aspectos Relevantes do Direito Tributrio
composto por uma situao que, para sua ocorrncia, no h qualquer ati-
vidade do Estado. Como exemplo, podemos citar o Imposto de Renda cujo
nascimento da obrigao independe de qualquer ao estatal que tenha como
finalidade especfica o contribuinte. Este fato decorre da obrigao tributria,
pois esta obrigao considerada como necessria e suficiente e est prevista
em lei, o que significa dizer que a obrigao de pagar o imposto de renda
independe do agir do Estado, independe do fato de o Estado prestar ou no
algum servio. Podemos ver claramente, de acordo com a lei, esta posio,
conforme esclarece Machado (2011, p. 281):
O exame das vrias hipteses de incidncia de impostos deixa evi-
dente que em nenhuma delas est presente a atuao estatal. Pelo
contrrio, em todas elas a situao descrita pela lei como necessria
e suficiente ao surgimento da obrigao tributria sempre relacio-
nada ao agir, ou ao ter, do contribuinte, e inteiramente alheia ao
agir do Estado.
Carrazza (2006, p. 497) considera o imposto como: [...] uma moda-
lidade de tributo que tem por hiptese de incidncia um fato qualquer, no
consistente numa atuao estatal.
O Brasil tem uma das cargas tributrias mais elevadas do mundo. Vamos
elencar aqui os principais impostos cobrados no Brasil, classificados como
impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais.
3.4.3.1 Principais impostos federais
22 Imposto de Renda (IR): tambm conhecido como imposto sobre
o rendimento, est presente em diversos pases. Todo contribuinte,
seja pessoa fsica ou jurdica, obrigada a deduzir certa porcenta-
gem de sua renda mdia anual para o Governo Federal. No caso de
salrios, este imposto descontado direto na fonte.
22 Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI): um imposto
federal, sendo que somente a Unio tem competncia para
institu-lo. Este imposto gerado quando:
1. h um desembarao aduaneiro do produto importado;
2. ocorre sada do produto industrializado do estabelecimento do
importador, do industrial, do comerciante ou do arrematador;
141
Livro_legislacao_katia.indb 141 20/11/2014 09:59:00
Introduo ao Direito
3. quando um produto apreendido ou abandonado levado a lei-
lo e arrematado;
Os contribuintes do imposto podem ser o importador, o industrial, o
comerciante, o arrematador ou a quem a lei os equiparar, a depender do caso.
A alquota utilizada varia conforme o produto.
22 Imposto sobre Operaes Financeiras (IOF): crdito, operaes de
cmbio e seguro ou relativos a ttulos ou valores mobilirios.
22 Imposto Territorial Rural (ITR): aplicado em propriedades rurais.
3.4.3.2 Principais impostos estaduais
22 Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS).
22 Imposto sobre Propriedade de Veculos Automotores (IPVA) (car-
ros, motos, caminhes).
3.4.3.3 Principais impostos municipais
22 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
(sobre terrenos, apartamentos, casas, prdios comerciais).
22 Imposto sobre Transmisso Inter Vivos de Bens e Imveis (ITBI) e
de Direitos Reais a eles relativos.
22 Impostos Sobre Servios (ISS).
3.4.4 Fato gerador
Podemos dizer que fato gerador um fato jurdico vinculado ao Direito
Tributrio que acarreta responsabilidade, obrigao ou capacidade tributria.
Esta, por sua vez, considerada uma capacidade passiva.
Para Machado (2011, p. 128-129):
[...] o estudo do fato gerador de grande importncia, mas no cons-
titui sequer especificidade do direito tributrio. Os direitos em geral
tm seus fatos gerados. So os fatos jurdicos. [...] No existe direito
algum que no tenha o seu fato gerador.
Falco (1995, p. 27) apresenta como sendo [...] o fato gerador da obri-
gao tributria um fato jurdico em sentido estrito, afirmando no ser ele
142
Livro_legislacao_katia.indb 142 20/11/2014 09:59:00
Aspectos Relevantes do Direito Tributrio
para o Direito Tributrio, um ato jurdico de contedo negocial ou um neg-
cio jurdico. Ainda, nesta mesma linha de raciocnio, o mesmo autor des-
creve que: [...] o fato gerador constitui-se em um critrio, um ndice ou um
indcio para aferio da capacidade econmica ou contributiva dos sujeitos
aos quais se atribui (FALCO, 1995, p. 27). Ou seja, o fato gerador um
fato tambm econmico, para o qual o Direito empresta conceito jurdico.
Entretanto, Falco (1995, p. 28) observa:
[...] o fato gerador no simplesmente um fato econmico, dizer
isso, seria incorrer em erro. Os fatos polticos, econmicos, sociais em
geral, ou mesmo do mundo fsico, quando juridicizados pelo Direito
passam a conceituar-se como fatos jurdicos.
Pires (1997, p. 46), no entanto, avalia como sendo fato gerador:
[...] qualquer manifestao positiva e concreta da capacidade eco-
nmica das pessoas, observada pelo legislador tributrio, que a ele
atribui qualidade bastante para provocar o nascimento da obrigao
tributria principal, quando se verificar, na prtica, a sua ocorrncia.
A obrigao tributria pode ser principal ou acessria. Seguindo esta
lgica, o CTN estabelece dois tipos de fato gerador:
e) fato gerador da obrigao principal (art. 114): Art. 114. Fato
gerador da obrigao principal a situao definida em lei como
necessria e suficiente sua ocorrncia.
f ) fato gerador da obrigao acessria (art. 115): Art. 115. Fato
gerador da obrigao acessria qualquer situao que, na forma
da legislao aplicvel, impe a prtica ou a absteno de ato que
no configure obrigao principal.
O estudo de Nogueira (1999, p. 142) nos explica que: Fato gerador do
tributo o conjunto dos pressupostos abstratos descritos na norma de direito
material, de cuja concreta realizao decorrem os efeitos jurdicos previstos.
Na viso de Paulsen (2008, p. 137), A hiptese de incidncia integra o
antecedente ou pressuposto da norma tributria impositiva. O fato gerador
a prpria situao que, ocorrida, atrai a incidncia da norma.
Machado (2011, p. 131-132) nos transmite o seu conhecimento quando
expressa o seguinte enunciado:
143
Livro_legislacao_katia.indb 143 20/11/2014 09:59:00
Introduo ao Direito
A expresso hiptese de incidncia designa com maior propriedade
a descrio, contida na lei, da situao necessria e suficiente ao nasci-
mento da obrigao tributria, enquanto a expresso fato gerador diz
da ocorrncia, no mundo dos fatos, daquilo que est descrito na lei.
A hiptese simples descrio, simples previso, enquanto o fato
a concretizao da hiptese, o acontecimento do que fora previsto.
H inegavelmente dois nveis em que pode ser entendida a expresso
fato gerador, como esclarece Bastos (1992, p. 192):
[...] ou no plano hipottico em que o situa a norma, ou seja, de forma
a abstrair por completo a efetiva concretizao do que foi descrito
pela lei; ou, de outro lado, ao nvel do fato gerador, isto , da concreta
ocorrncia do fato ou ato. Nestas condies, possvel a existncia de
um tributo obviamente com fato gerador includo que no tenha,
contudo, do ngulo material, se concretizado. Neste caso, o tributo
s existe como norma, no tendo dado lugar ainda ao surgimento de
nenhuma obrigao tributria. Mas bem de ver que h de existir
uma absoluta correspondncia entre os fatos geradores concretos e os
normativos. Nada mais se trata pois do que a constatao de que o
Direito apresenta sempre dois ngulos ou facetas: o puramente abs-
trato ou normativo e o concretizado ou realizado.
Desta forma, podemos dizer que o fato gerador corresponde ao evento
ocorrido que gera a obrigao de pagar tributo.
144
Livro_legislacao_katia.indb 144 20/11/2014 09:59:00
4
Aspectos Relevantes
do Direito Empresarial
Janes Sandra Dinon Ortigara
Neste quarto e ltimo captulo, vamos abordar de uma
forma conceitual e sucinta o Direito Comercial, que hoje em dia
tem sido conhecido por Direito Empresarial por grande parte dos
doutrinadores, devido ao seu objeto ser a atividade empresarial.
Desta forma, o Direito Empresarial regula o estabelecimento de
regras que versam sobre os empresrios, as empresas, os registros
pblicos de empresas, os ttulos de crdito, sobre a falncia, a con-
cordata, contratos mercantis etc. Estudaremos a natureza e origem
do Direito Comercial, as fontes, suas caractersticas e divises, os
tipos de sociedade, contrato social e as leis das SAs.
4.1 Conceito, natureza e origem do
Direito Comercial, ou Empresarial
O Direito Comercial surgiu na Idade Mdia em decorrncia
das atividades mercantis da poca. Segundo Pimentel (2006, p. 2):
Livro_legislacao_katia.indb 145 20/11/2014 09:59:03
Introduo ao Direito
A Idade Mdia marcou o surgimento do Direito Comercial, quando
um conjunto sistematizado de normas lastreadas nos usos e costumes
dos mercadores nasceu no mbito das corporaes, em contraste com
a forma esparsa de regras ou costumes at ento praticados [...].
Para Fernandes (2007), o desenvolvimento histrico do Direito Comer-
cial [...] perpassa pela poca romana, pelos fencios, assrios, babilnicos e
os gregos onde estes no trouxeram contribuies diretas para o desenvolvi-
mento da matria.
De acordo com Pimentel (2006), no perodo colonial do Brasil, o
Direito aplicado era o portugus, apesar do intenso comrcio que se desen-
volvia nesse perodo.
Quanto ao processo histrico do Direito Comercial brasileiro, Pimentel
(2006, p. 6) elucida que:
Alguns anos aps a declarao da independncia, j em 1834, foi
apresentado Cmara o Projeto do Cdigo Comercial. Dezesseis
anos de discusses legislativas passaram-se, at surgir a Lei Federal
n. 556, de 25 de junho de 1850, mais conhecida como o Cdigo
Comercial Brasileiro.
Com forte influncia francesa, o Cdigo Brasileiro adotou a Teoria dos
Atos de Comrcio, reputando de comerciante todo aquele que praticasse com-
pra e venda de mercadorias de forma profissional, alm de algumas poucas
espcies de servios. Estava criada a base para o desenvolvimento do Direito
Comercial brasileiro, fincado no objetivismo por meio do qual a concepo
do status de comerciante era atribuda aos que praticassem atividades espec-
ficas, a serem definidas posteriormente.
Os dispositivos do Cdigo Comercial Brasileiro de 1850 foram sendo
revogados por leis mais contemporneas. Em 2002, com a nova edio do
Cdigo Civil Brasileiro, os artigos referentes ao Cdigo de 1850 que ainda
vigoravam, foram revogados, conforme expresso no art. 2045 da Lei no
10.406. Manteve-se em vigor apenas a segunda parte do Cdigo, referente ao
comrcio martimo. Esta segunda parte ainda mantm a redao do Cdigo
Comercial Brasileiro de 1850.
Atualmente, as matrias referentes ao Direito Comercial Brasileiro,
como as empresas, os empresrios, o registro pblico de empresas etc., so
disciplinadas pelo Cdigo Civil Brasileiro por meio da Lei no 10.406, de 10
146
Livro_legislacao_katia.indb 146 20/11/2014 09:59:03
Aspectos Relevantes do Direito Empresarial
de janeiro de 2002, conforme expressa seu Livro II (Do Direito de Empresa)
Ttulo I (Do Empresrio).
De acordo com Reale (1995, p. 340):
O Direito Comercial , pois, um dos ramos do Direito Privado,
sendo um desdobramento ou especificao do Direito Civil. Per-
deu, todavia, a sua caracterstica de Direito classista, para passar a
reger, objetivamente, determinado campo da experincia jurdica
privada. Desse modo, o seu objeto passou a ser a atividade nego-
cial enquanto destinada a fins de natureza econmica, sendo essa
atividade habitual e dirigida produo de resultados patrimo-
niais. Hoje em dia, por conseguinte, prevalece a tese de que no
o ato de comrcio como tal que constitui o objeto do Direito
Comercial, mas algo mais amplo: a atividade econmica habitual-
mente destinada circulao das riquezas, mediante bens ou ser-
vios, o ato de comrcio inclusive, implicando uma estrutura de
natureza empresarial.
Entendendo-se por comrcio a atividade que visa o lucro. Consequente-
mente, o comerciante, que o indivduo que pratica o comrcio, visa vanta-
gem de natureza econmica e patrimonial. Desta forma, podemos dizer que
o Direito Comercial est em conformidade com esta atividade empresarial ou
comercial, regulando e disciplinando este setor. Este, por sua vez, composto
pelo comrcio, pela indstria e pelas atividades mercantis. Alm de regular e
disciplinar as atividades, determina os direitos e as obrigaes dos profissio-
nais que exercem essas atividades.
O conceito de empresrio definido de acordo com o art. 966 do
Cdigo Civil Brasileiro.
Art. 966. Considera-se empresrio quem exerce profissionalmente
atividade econmica organizada para a produo ou a circulao de
bens ou de servios.
Pargrafo nico. No se considera empresrio quem exerce profisso
intelectual, de natureza cientfica, literria ou artstica, ainda com o
concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exerccio da profis-
so constituir elemento de empresa.
Neste contexto, Reale (1995, p. 341) cita:
Podemos, por conseguinte, concluir que o Direito Comercial,
entendido como especificao do Direito Civil, repousa sobre estes
elementos basilares:
147
Livro_legislacao_katia.indb 147 20/11/2014 09:59:03
Introduo ao Direito
a) autonomia da vontade expressa, dinamicamente, numa ativi-
dade negocial, com propsito de lucro;
b) estrutura empresarial;
c) garantia e certeza da circulao e do crdito.
consenso, na doutrina jurdica, que o Direito Comercial um ramo
autnomo do Direito. Ele disciplina o conjunto de regras jurdicas relativas
atividade comercial ou empresarial. Sua autonomia deriva do fato de que
uma rea jurdica especializada, na qual os profissionais do Direito buscam
conhecimentos tambm fora da prpria rea do Direito. Embora o Direito
Comercial seja autnomo, ele se relaciona com outros ramos, como o Direito
Constitucional, o Direito Administrativo, o Direito Tributrio, o Direito
Civil, o Direito do Trabalho e at mesmo com o Direito Internacional.
Quanto autonomia do Direito Comercial, Reale (1995, p. 343) cita:
O Direito Comercial um Direito autnomo, porquanto visa a deter-
minados problemas, cuja existncia se configura de forma clara e bem
ntida nas relaes sociais, sendo necessrio, alm do mais, ponderar
que o Cdigo Civil abrange matria que no toda de Direito Civil,
assim como este no se contm por inteiro nesse Cdigo. Pelas mes-
mas razes, alm de se fundar nas normas constantes do Cdigo Civil
unificado, o Direito Comercial tem outras fontes legais, como, por
exemplo, as leis sobre falncia, ttulos cambiais etc. Ora, se vigora,
separadamente, uma lei de falncias, ao lado de outras leis especiais,
regulando as atividades empresariais, porque, indiscutivelmente,
persiste algo nos fatos sociais que no justifica o desaparecimento do
Direito Comercial, como campo autnomo de pesquisa.
No entendimento de Silva (1999, p. 16):
O Direito Comercial definido e compreendido como o complexo de
normas legais ou costumeiras, que regulam as relaes provenientes
da prtica dos atos mercantis, e bem assim os direitos e obrigaes das
pessoas que, habitualmente, exercitam estes atos (os comerciantes) e
de seus auxiliares.
O Direito Comercial brasileiro est relacionado com a teoria da empresa,
positivado por meio do novo Cdigo Civil. A teoria da empresa caracteriza-
-se por buscar solues aos conflitos relacionados a questes empresariais,
diferentemente da teoria dos atos do comrcio, positivados de acordo com o
antigo cdigo civil de 1850.
148
Livro_legislacao_katia.indb 148 20/11/2014 09:59:04
Aspectos Relevantes do Direito Empresarial
Coelho (2006) observa que o Direito Comercial cuida do exerccio das
atividades econmicas. Desta forma, cita que:
Seu objeto o estudo dos meios socialmente estruturados de
superao dos conflitos de interesses envolvendo empresrios ou
relacionados s empresas que exploram. As leis e a forma pela qual so
interpretadas pela jurisprudncia e doutrina, os valores prestigiados
pela sociedade, bem assim o funcionamento dos aparatos estatal e
paraestatal, na superao desses conflitos de interesses, formam o
objeto da disciplina. (COELHO, 2006, p. 4).
Pimentel (2006, p. 10) observa que: [...] importante entendermos
que antecedem norma os anseios da sociedade. Estes so mutantes, variando
com as geraes, mas se revelam determinantes para o surgimento do ordena-
mento jurdico de uma nao.
Nos ensinamentos de Negro (2001), vemos que o Direito Comercial
pertence ao gnero do Direito Privado, vinculado no campo do Direito Obri-
gacional e estabelecendo, desta forma, juntamente com o Cdigo Civil, nor-
mas comuns aos empresrios civis e comerciais.
Neste contexto, Negro (2001, p. 38) ainda expressa a evidncia de que:
[...] o direito comercial se estabeleceu, originalmente, em razo dos comer-
ciantes, para facilitar-lhes o exerccio profissional e, desta origem no se afas-
tou, mantendo, apenas por tradio, separao do direito civil.
Segundo Pimentel (2006), o Direito Comercial possui caractersticas
peculiares que o diferenciam de outros ramos do Direito, em especial do
Direito Civil.
Bulgarelli (2001, p. 16) cita: [...] enquanto o direito comercial din-
mico, o direito civil esttico, conservador, tradicional.
Ainda neste contexto, Bulgarelli (2001, p. 17) aduz que: [...]
enquanto o direito comercial de ndole internacionalista e inovadora,
o direito civil nacional e conservador, pois representa as concepes de
uma sociedade determinada, produto de sua formao histrica, dos seus
ideais, costumes e tradies.
Pimentel (2006) destaca as caractersticas do Direito Comercial, como
podemos ver a seguir.
149
Livro_legislacao_katia.indb 149 20/11/2014 09:59:04
Introduo ao Direito
22 Simplicidade ou informalismo: trata de solues mais simples e
para a resoluo das dificuldades.
22 Internacionalidade ou cosmopolitismo: a regulamentao do
Direito Comercial ocorre por meio de normas que possuem abran-
gncia internacional, como, a Lei Uniforme de Genebra.
22 Elasticidade: o Direito Comercial est em constante mudana e
inovao, buscando acompanhar as evolues que decorrem das
relaes comerciais.
22 Onerosidade: o comerciante visa o lucro e a atividade empresarial
onerosa.
Quanto ao carter internacionalista e inovador que conduz o Direito
Comercial, Bulgarelli (2001, p. 17) cita:
As exigncias do comrcio internacional se fazer sentir a todo tempo,
e em nossos dias com um carter de urgncia, no s devido s facili-
dades de comunicaes, que tornam imediatamente conhecidas novas
formas de negociar, mas tambm pela necessidade de no se inferio-
rizar um pas em relao ao outro nas trocas comerciais. A adoo,
entre ns, de contratos utilizados por empresas de outros pases como
o leasing; de formas de concentrao de empresas, como as holdings,
so exemplos frisantes desse carter internacionalista e inovador que
inspira o direito comercial, refletindo-se em suas normas.
4.2 Fontes do Direito Comercial
De forma geral, podemos dizer que, no Direito Comercial, h dois
tipos de fontes: as primrias, ou diretas, e as subsidirias, ou indiretas. As
fontes primrias do Direito Comercial so: as normas de Direito Comer-
cial; o Cdigo Civil brasileiro, em seus artigos relacionados empresa,
ao empresrio e suas atividades; o Cdigo Comercial, por meio da Lei no
556/1850; e a Legislao Complementar. Esta, por sua vez, expressa atra-
vs das seguintes Leis:
a) Lei n 11.101 que, de acordo com seu art. 1o, [...] disciplina a
recuperao judicial, a recuperao extrajudicial e a falncia do
empresrio e da sociedade empresria, doravante referidos simples-
mente como devedor;
150
Livro_legislacao_katia.indb 150 20/11/2014 09:59:04
Aspectos Relevantes do Direito Empresarial
b) Lei n 6.404, que dispe sobre as Sociedades por Aes;
c) Lei n 5.474/68, que dispe sobre duplicatas;
d) Decreto n 57.663/66, que promulga as convenes para ado-
o de uma lei uniforme em matria de letras de cmbio e no-
tas promissrias.
As fontes de Direito Comercial subsidirias, ou indiretas, so: as normas
de Direito Civil; os usos e costumes; a jurisprudncia; a analogia; e os princ-
pios gerais de Direito.
Segundo Pimentel (2006), ao definirmos fontes de Direito Comercial,
geralmente ficamos restritos expresso do Direito, ou seja, forma como
ele se manifesta. Para Martins (2010), as fontes do Direito Comercial, por
conta da classificao em fontes primrias e fontes subsidirias, implica em
uma seriao, o que significa dizer que, em primeiro lugar, ao caso concreto
deve ser procurada, para aplicao, a fonte primria e, s na sua inexistncia,
deve-se recorrer s fontes subsidirias.
Requio (2008), no entanto, entende por fontes do Direito Comercial
[...] o modo pelo qual surgem as normas jurdicas de natureza
comercial, as quais constituem um direito especial, que determina
o que seja a matria comercial e a ela se aplica exclusivamente, per-
manecendo as regras de direito comum, ao lado dessas regras, como
pano de fundo.
Podemos dizer que os usos e costumes tambm so fontes do Direito
Comercial e, para que sejam caracterizadas como tal, necessitam de alguns
critrios, como a uniformidade, ser reiterada como se fosse Norma Jurdica,
ter periodicidade (ser observada por certo perodo de tempo), ser exercida de
boa-f e no ser contrria lei. Alguns tericos entendem que as fontes do
Direito Comercial so as diferentes maneiras de realizao do Direito. Porm,
importante ressaltar que nem todo costume comercial aceito como fonte
do Direito Comercial, como o caso do costume comercial contra legem,
como ocorre no caso do cheque pr-datado.
De uma forma geral, os doutrinadores jurdicos costumam dividir as
fontes do Direito Comercial em dois tipos: fontes primria e fontes secund-
rias, como vimos anteriormente.
151
Livro_legislacao_katia.indb 151 20/11/2014 09:59:04
Introduo ao Direito
Neste contexto, Pimentel (2006, p. 10) cita as fontes primrias do
Direito Comercial:
Leis A principal fonte primria de nosso Direito Comercial a lei.
Existe uma profuso delas, a comear pelo prprio Cdigo Comercial
de 1850, que, embora com a revogao da maioria de seus artigos,
permanece vivo em sua Segunda Parte, tratando do comrcio mar-
timo. Outras, apenas para citar algumas, so as Leis no 6.404/76, que
disciplina as sociedades por aes, e no 5.474/68, que dispe sobre
duplicatas. Importa ressaltar que o Cdigo Civil de 2002, na parte
que trata sobre Direito de Empresa, considerado fonte primria do
Direito Comercial.
Regulamentos So considerados fontes primrias justamente por-
que servem eficacizao das leis comerciais.
Tratados internacionais A matria comercial tambm incorporou
alguns tratados internacionais, a exemplo da Lei Uniforme de Gene-
bra, tratando de cheque, letra de cmbio e nota promissria.
Em relao s fontes secundrias do Direito Comercial, Pimentel (2006,
p. 10-11) classifica:
Inexistindo, portanto, em um caso concreto, norma primria sobre
a matria, fica a autoridade judiciria autorizada a lanar mo de
uma norma secundria, de forma subsidiria. So elas: usos e cos-
tumes comerciais, a analogia, a jurisprudncia e os princpios gerais
do Direito.
Usos e costumes comerciais Estes se constituem em importante
fonte do Direito Comercial. Alis, no princpio (Idade Mdia),
ele era consuetudinrio. Tambm no mbito do Direito Civil,
a Lei de Introduo ao Cdigo Civil, em seu art. 4, concede
analogia, aos costumes, ou, mesmo, aos princpios gerais do
Direito a qualificao de fontes subsidirias do Direito. Os cos-
tumes, para serem aceitos como fonte do Direito Comercial,
necessitam revestir-se de alguns requisitos. Primeiro, pre-
ciso que se trate de uma prtica reiterada e uniforme, que seja
assimilada por todos como se fora lei. De outra forma, dever
estar previsto na prpria lei. No pode, contudo, ser contra a
lei, pois violaria a prpria concepo de fonte subsidiria lei.
Normalmente, no Direito Comercial, os costumes, para serem
admitidos como prova, necessitam estar assentados na Junta
Comercial, que emitem certido a respeito. No entanto, o juiz
tem direito livre convico na anlise das provas, desde que no
se afaste das premissas bsicas quanto ilegalidade das mesmas.
152
Livro_legislacao_katia.indb 152 20/11/2014 09:59:04
Aspectos Relevantes do Direito Empresarial
Analogia Na ausncia de outra fonte formal do Direito, per-
mite-se a aplicao da analogia, considerada como a possibili-
dade de utilizar-se entendimento a respeito de um caso concreto
similar, j julgado, a fim de dirimir a lide.
Jurisprudncia A jurisprudncia, assim entendida como a uni-
formidade das decises dos tribunais a respeito de determinada
matria, tambm fonte secundria do Direito Comercial. Isso
no implica a obrigao de o juiz segui-la, pois ele pode desen-
volver sua prpria convico, mesmo que seja diversa daquela.
Alerto que h autores que no consideram esta uma fonte do
Direito Comercial, por entenderem que ela no fonte geradora
do Direito, j que se trata da observao de fatos pretritos.
Princpios gerais do Direito Os princpios gerais do Direito, que
so os norteadores da construo do prprio sistema jurdico
positivo vigente.
4.3 Divises do Direito Comercial
O Direito Comercial interno possui divises. Conforme Silva (2001,
p. 23): Tradicionalmente, o direito comercial era dividido em terrestre e
martimo, dependendo do meio em que a relao jurdica iria se desenvolver.
Posteriormente, foi acrescentado o direito aeronutico.
No entendimento de Silva (2001, p. 23), a forma de diviso do Direito
Comercial apresenta-se da seguinte forma:
Parte geral, compreendendo os conceitos e princpios bsicos do
direito comercial. Inclui aqui a noo de comerciante, atos de
comrcio, teoria da empresa, registro do comrcio, nome comer-
cial (nome empresarial), estabelecimento comercial, etc.;
Direito das obrigaes e contratos mercantis, que consiste no
estudo das obrigaes geradas por atos e contratos comerciais,
bem como das relaes jurdicas positivadas como mercantis
[...];
Direito societrio, compreendendo o estudo das formas de
sociedade, seus regimes jurdicos, etc.;
Direito da propriedade industrial, que abrange os estudos das
marcas, patentes, etc.;
Direito dos ttulos de crdito, que estuda os ttulos de crdito
(nota promissria, cheque, duplicata, etc.);
153
Livro_legislacao_katia.indb 153 20/11/2014 09:59:04
Introduo ao Direito
Direito falimentar, que abrange os institutos da falncia e
da concordata.
De acordo com Bulgarelli (2001, p. 210), as divises internas do Direito
Comercial ocorrem da seguinte maneira:
a) Teoria geral do direito comercial, que compreende toda parte
geral da disciplina, sua conceituao, sua posio no quadro
geral das cincias e a delimitao da sua matria, e, portanto,
do seu contedo;
b) Direito das empresas e das sociedades, que compreende o estudo
do empresrio, quer individual - o antigo comerciante em nome
individual e os agentes auxiliares do comrcio quer coletivo,
que so as sociedades comerciais, nos seus vrios tipos;
c) Direito industrial, que modernamente, estuda a teoria jurdica
do estabelecimento comercial e a propriedade industrial [...];
d) Direito cambirio ou cartular, que compreende os ttulos de crdito;
e) Direito das obrigaes mercantis, que compreende o estudo das
operaes e contratos mercantis, que se subdivide em:
f ) direito bolsstico (referente s operaes da Bolsa);
g) direito bancrio (referente aos bancos);
h) direito securitrio (referente aos seguros); e
i) direito dos transportes (referente aos transportes);
j) Direito falimentar ou concursal, referente s falncias, concorda-
tas e liquidaes extrajudiciais;
k) Direito da navegao, que compreende o transporte por gua
(comrcio martimo) ou pelo ar (navegao area).
A finalidade de classificar e dividir o Direito Comercial em sub-ramos
ou partes apenas em prol do estudo desta rea de forma mais detalhada.
4.4 Sociedades empresrias e sociedades simples
Contrariamente ao que o senso comum entende por empresa, o Direito
Comercial, por meio do Cdigo Civil, entende empresa como atividade, e
no como o estabelecimento ou entidade do empresrio.
A empresa a atividade exercida pelo empresrio, e no a sua enti-
dade. Como vimos anteriormente, de acordo com o art. 966 do Cdigo
154
Livro_legislacao_katia.indb 154 20/11/2014 09:59:04
Aspectos Relevantes do Direito Empresarial
Civil, empresrio [...] quem exerce profissionalmente atividade econ-
mica organizada para a produo ou a circulao de bens ou de servios.
E entende-se por profissionalmente no sentido de que a atividade seja
habitual e organizada.
De acordo com o art. 967, obrigatria a inscrio do empresrio no
Registro Pblico de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do incio
de sua atividade. Desta forma, empresrio caracteriza-se como sociedade
empresria ou como empresrio individual.
A sociedade empresria a pessoa jurdica que exerce a atividade eco-
nmica caracterizada por empresa. J o empresrio individual caracteriza-se
por ser pessoa fsica que se equipara a uma sociedade empresria.
Tanto a sociedade empresria quanto o empresrio individual precisam
adotar um nome empresarial para se registrarem, como determinam os arts.
1.155 a 1.168 do Cdigo Civil brasileiro.
O empresrio individual, ao se registrar, adota um nome empresa-
rial denominado por firma individual. J as sociedades empresrias, ao se
registrarem, adotaro o nome empresarial denominado por firma (ou razo
social) ou por denominao.
Para esclarecer melhor o conceito de sociedade empresria, citaremos
Nogueira (2010), que a define como:
[...] um contrato celebrado entre pessoas fsicas e/ou jurdicas, ou
somente entre pessoas fsicas (artigo 1.039), por meio do qual estas
se obrigam reciprocamente a contribuir, com bens ou servios, para o
exerccio de atividade econmica e a partilhar, entre si, os resultados.
Em nosso Cdigo Civil, nos arts. 981 e 983, a definio :
Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciproca-
mente se obrigam a contribuir, com bens ou servios, para o exerccio
de atividade econmica e a partilha, entre si, dos resultados.
Pargrafo nico. A atividade pode restringir-se realizao de um ou
mais negcios determinados.
Art. 983. A sociedade empresria deve constituir-se segundo um dos
tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092; a sociedade simples pode
constituir-se de conformidade com um desses tipos, e, no o fazendo,
subordina-se s normas que lhe so prprias.
155
Livro_legislacao_katia.indb 155 20/11/2014 09:59:04
Introduo ao Direito
Pargrafo nico. Ressalvam-se as disposies concernentes sociedade
em conta de participao e cooperativa, bem como as constantes de
leis especiais que, para o exerccio de certas atividades, imponham a
constituio da sociedade segundo determinado tipo.
No Direito Comercial, as sociedades passam a ter diversas categoriza-
es. Dentre estas, uma delas diferencia as sociedades simples das sociedades
empresrias. Podemos ver essa diferena no Cdigo Civil, em seu art. 982:
Salvo as excees expressas, considera-se empresria a sociedade que tem por
objeto o exerccio de atividade prpria de empresrio sujeito a registro (art.
967); e, simples, as demais.
Desta forma, uma sociedade empresria tem como finalidade e por
objeto as atividades economicamente organizadas, que se caracterizam como
atividades do empresrio. Esta atividade empresarial , conforme o art. 966
do Cdigo Civil, [...] econmica organizada para a produo ou a circula-
o de bens ou de servios. Diferentemente da sociedade simples que se
caracteriza pelo fato de seu objeto ser social, ou seja, seu objeto poder ser a
prestao de servios de natureza artstica, intelectual, cientfica ou literria,
ao mesmo tempo em que pode visar o lucro, mas no na mesma escala da
produo de uma empresa.
importante ressaltar que nem toda sociedade que tenha seu objeto
caracterizado como social ser uma sociedade simples. As sociedades em
comandita por aes e as sociedades annimas sempre sero sociedades
empresrias, independentemente do seu objeto, assim como as sociedades
cooperativas e as sociedades de advogados sempre sero sociedades simples,
independentemente do seu objeto.
Quanto ao tipo de Sociedade, cabe destacar ainda o art. 983 do Cdigo
Civil, o qual nos orienta que:
Art. 983. A sociedade empresria deve constituir-se segundo um dos
tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092; a sociedade simples pode
constituir-se de conformidade com um desses tipos, e, no o fazendo,
subordina-se s normas que lhe so prprias.
Pargrafo nico. Ressalvam-se as disposies concernentes sociedade
em conta de participao e cooperativa, bem como as constantes de
leis especiais que, para o exerccio de certas atividades, imponham a
constituio da sociedade segundo determinado tipo.
156
Livro_legislacao_katia.indb 156 20/11/2014 09:59:04
Aspectos Relevantes do Direito Empresarial
Segundo Bertoldi e Ribeiro (2009, p. 146), esta categorizao [...] leva
em conta a forma de organizao que a sociedade assume, ou seja, feita de
acordo com o exerccio ou no de atividade econmica organizada para a
produo ou circulao de bens ou servios.
Devemos entender que a sociedade simples tambm pratica atividade
econmica, mas, de uma forma geral, a diferena em relao sociedade
empresria est no fato de que a sociedade simples no organizada de forma
a se caracterizar como produo ou circulao de bens ou servios.
Conforme analisa Fazzio Jr. (2009) em relao sociedade empresria, esta
Identifica-se como sociedade empresria a pessoa jurdica de direito
privado, implementada por um contrato, cujo objeto social a explo-
rao de atividade empresarial, ou que, independente de seu objeto,
adota a forma societria por aes. [...] uma sociedade contratual,
cuja personalidade jurdica surge quando devidamente registrada na
Junta Comercial.
Na mesma linha, Bertoldi e Ribeiro (2009, p. 146) classificam socieda-
des empresrias como [...] organizaes econmicas, dotadas de personali-
dade jurdica e patrimnio prprio, constitudas ordinariamente por mais de
uma pessoa, que tm como objetivo a produo ou a troca de bens ou servios
com fins lucrativos.
Podemos descrever a sociedade empresria como aquela que desenvolve
uma movimentao econmica, baseada na produo e/ou circulao de bens
e/ou servios com a finalidade de obter lucro.
Conforme expresso no art. 997 do Cdigo Civil:
Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, par-
ticular ou pblico, que, alm de clusulas estipuladas pelas partes,
mencionar:
I - nome, nacionalidade, estado civil, profisso e residncia dos scios,
se pessoas naturais, e a firma ou a denominao, nacionalidade e sede
dos scios, se jurdicas;
II - denominao, objeto, sede e prazo da sociedade;
III - capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo com-
preender qualquer espcie de bens, suscetveis de avaliao pecuniria;
IV - a quota de cada scio no capital social, e o modo de realiz-la;
157
Livro_legislacao_katia.indb 157 20/11/2014 09:59:04
Introduo ao Direito
V - as prestaes a que se obriga o scio, cuja contribuio consista
em servios;
VI - as pessoas naturais incumbidas da administrao da sociedade, e
seus poderes e atribuies;
VII - a participao de cada scio nos lucros e nas perdas;
VIII - se os scios respondem, ou no, subsidiariamente, pelas obri-
gaes sociais.
Pargrafo nico. ineficaz em relao a terceiros qualquer pacto sepa-
rado, contrrio ao disposto no instrumento do contrato.
4.4.1 Tipos de sociedades
Todos os tipos de sociedades personificadas pelo Direito Comercial so:
a) sociedade em nome coletivo (N/C), regulamentada pelos arts.
1.039 a 1.044 do Cdigo Civil de 2002;
b) sociedade em comandita simples (C/S), regulamentada pelos arts.
1.045 a 1.051 do Cdigo Civil de 2002;
c) sociedade em comandita por aes (C/A), regulamentada pelos arts.
1.090 a 1.092 do Cdigo Civil de 2002 e pela Lei no 6.404/76, nos
arts. 280 a 284;
d) sociedade limitada (Ltda.), regulamentada pelos arts. 1.052 a 1.087
do Cdigo Civil de 2002;
e) sociedade annima (SA) ou companhia (Cia); regulamentada pelos
arts. 1.088 e 1.089 do Cdigo Civil de 2002 e pela Lei no 6.404/76;
f ) sociedade simples (S/S), regulamentada pelos arts. 997 a 1.038 do
Cdigo Civil de 2002;
g) sociedade cooperativa, regulamentada pelos arts. 1.093 a 1.096 do
Cdigo Civil de 2002 e pela Lei no 5.764/71.
As sociedades annimas e as em comandita por aes sero sempre socie-
dades empresrias, e as sociedades cooperativas e as de advogados sero sem-
pre sociedades simples.
As sociedades empresrias precisam se registrar na Junta Comercial, a
fim de adquirir personalidade jurdica; as sociedades simples devem regis-
158
Livro_legislacao_katia.indb 158 20/11/2014 09:59:04
Aspectos Relevantes do Direito Empresarial
trar-se no Registro Civil das Pessoas Jurdicas. Bertoldi e Ribeiro (2009, p.
175) traam um panorama histrico referente implementao dos diversos
tipos de sociedades na rea jurdica brasileira, como voc pode ver:
O Cdigo Comercial de 1850 possibilitava a criao de algumas
formas de sociedade. Eram elas: sociedade em comandita (arts.
311 a 314), sociedade em nome coletivo (arts. 315 e 316), socie-
dade de capital e indstria (arts. 317 a 324) e sociedade em conta
de participao (arts. 325 a 328). Outras trs formas eram con-
cebidas por leis esparsas: sociedade por cotas de responsabilidade
limitada (Dec. 3.708/19), sociedade annima (Lei 6.404/76) e
sociedade em comandita por aes (Lei 6.404/76). Com a edio
do Cdigo Civil de 2002, permanecem em nosso ordenamento
jurdico as seguintes sociedade empresariais: sociedade em nome
coletivo (arts. 1.039 a 1.044), sociedade em comandita simples
(arts. 1.045 a 10.051), sociedade limitada (arts. 1.052 a 1.087),
sociedade annima (arts. 1.088 e 1.089) e sociedade em coman-
dita por aes (arts. 1.090 a 1.092). Quanto sociedade annima
e comandita por aes, o Cdigo Civil remete seu regramento
lei especial, neste caso, Lei 6.404/76.
A seguir, faremos uma breve descrio dos tipos de sociedades, propi-
ciando a diferenciao entre eles.
4.4.1.1 Da sociedade em nome coletivo
Este modelo de sociedade definido no Cdigo Civil de 2002, como
vimos anteriormente, nos arts. 1.039 a 1.044, como disposto:
Art. 1.039. Somente pessoas fsicas podem tomar parte na sociedade
em nome coletivo, respondendo todos os scios, solidria e ilimitada-
mente, pelas obrigaes sociais.
Pargrafo nico. Sem prejuzo da responsabilidade perante terceiros,
podem os scios, no ato constitutivo, ou por unnime conveno
posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um.
Art. 1.040. A sociedade em nome coletivo se rege pelas normas deste
Captulo e, no que seja omisso, pelas do Captulo antecedente.
Art. 1.041. O contrato deve mencionar, alm das indicaes referidas
no art. 997, a firma social.
Art. 1.042. A administrao da sociedade compete exclusivamente a
scios, sendo o uso da firma, nos limites do contrato, privativo dos
que tenham os necessrios poderes.
159
Livro_legislacao_katia.indb 159 20/11/2014 09:59:04
Introduo ao Direito
Art. 1.043. O credor particular de scio no pode, antes de dissolver-
-se a sociedade, pretender a liquidao da quota do devedor.
Pargrafo nico. Poder faz-lo quando:
I - a sociedade houver sido prorrogada tacitamente;
II - tendo ocorrido prorrogao contratual, for acolhida judicialmente
oposio do credor, levantada no prazo de noventa dias, contado da
publicao do ato dilatrio.
Art. 1.044. A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das
causas enumeradas no art. 1.033 e, se empresria, tambm pela decla-
rao da falncia.
Como podemos verificar por meio do art. 1039 do CC/2002 supracitado,
a sociedade em nome coletivo composta apenas por pessoas fsicas, empres-
rios individuais ou no. Desta forma, os scios tambm devem ser compostos
por pessoas fsicas e nenhum deles poder ser pessoa jurdica. Seu contrato
dever ser registrado como firma social e deve conter as clusulas obrigatrias
do contrato da sociedade simples. Neste tipo de sociedade, todos os scios
respondem de forma ilimitada e solidariamente pelas obrigaes sociais.
Sobre a origem desse tipo societrio, Nogueira (2010) corrobora:
As sociedades em nome coletivo tambm chamadas solidrias ou,
ainda, livres ou gerais, como faz o decreto francs de 1673 tm
sua origem na compagnia, sociedade familiar, assim identificada pelo
prprio nome: com po (cum panis), isto , entre aqueles que compar-
tilham o alimento cotidiano.
A sociedade em nome coletivo, [...] originada na Idade Mdia, teve
seu surgimento do fato de que os irmos que recebiam, por herana, os
negcios do seu ancestral os mantinham em nome coletivo era, por-
tanto, sociedade composta essencialmente por familiares (BERTOLDI;
RIBEIRO, 2009, p. 182).
J para Nogueira (2010, p. 377), a referida solidariedade entre os scios
significa que no se deve obedecer a qualquer ordem de prioridade quando
da cobrana.
Esgotados os bens sociais, os credores podero acionar um, alguns ou
todos os scios indistintamente, sem obedecer a qualquer ordem de
prioridade na cobrana, pois a solidariedade se contrape ao benefi-
cium ordinis et excussionis entre os scios. Essa solidariedade carac-
160
Livro_legislacao_katia.indb 160 20/11/2014 09:59:04
Aspectos Relevantes do Direito Empresarial
terstica distintiva da sociedade em nome coletivo, desde sua origem,
abraada no s pelo Cdigo Comercial (art. 317) como tambm pela
nova legislao civil (art. 1.039).
Deste modo, mesmo que os scios no faam parte da mesma famlia,
sua peculiaridade sempre familiar, conectando-os por um contrato social.
4.4.1.2 Da sociedade em comandita simples
A sociedade em comandita simples mescla tanto pessoas fsicas quanto
pessoas jurdicas como scios. As pessoas fsicas so caracterizadas como
comanditados e suas obrigaes sociais so ilimitadas e solidrias. J os
comanditrios podem ser tanto pessoas fsicas quanto pessoas jurdicas,
sendo que sua responsabilidade limitada, pois se obrigam apenas pelo valor
da sua quota, como determina o art. 1.045 do Cdigo Civil brasileiro de 2002.
Rege sobre esta modalidade os arts. 1.045 a 1.051 do Cdigo Civil,
como segue:
Art. 1.045. Na sociedade em comandita simples tomam parte scios
de duas categorias: os comanditados, pessoas fsicas, responsveis soli-
dria e ilimitadamente pelas obrigaes sociais; e os comanditrios,
obrigados somente pelo valor de sua quota.
Pargrafo nico. O contrato deve discriminar os comanditados e os
comanditrios.
Art. 1.046. Aplicam-se sociedade em comandita simples as normas
da sociedade em nome coletivo, no que forem compatveis com as
deste Captulo.
Pargrafo nico. Aos comanditados cabem os mesmos direitos e obri-
gaes dos scios da sociedade em nome coletivo.
Art. 1.047. Sem prejuzo da faculdade de participar das deliberaes
da sociedade e de lhe fiscalizar as operaes, no pode o comanditrio
praticar qualquer ato de gesto, nem ter o nome na firma social, sob
pena de ficar sujeito s responsabilidades de scio comanditado.
Pargrafo nico. Pode o comanditrio ser constitudo procurador da
sociedade, para negcio determinado e com poderes especiais.
Art. 1.048. Somente aps averbada a modificao do contrato, pro-
duz efeito, quanto a terceiros, a diminuio da quota do comandit-
rio, em conseqncia de ter sido reduzido o capital social, sempre sem
prejuzo dos credores preexistentes.
161
Livro_legislacao_katia.indb 161 20/11/2014 09:59:04
Introduo ao Direito
Art. 1.049. O scio comanditrio no obrigado reposio de
lucros recebidos de boa-f e de acordo com o balano.
Pargrafo nico. Diminudo o capital social por perdas supervenien-
tes, no pode o comanditrio receber quaisquer lucros, antes de rein-
tegrado aquele.
Art. 1.050. No caso de morte de scio comanditrio, a sociedade,
salvo disposio do contrato, continuar com os seus sucessores, que
designaro quem os represente.
Art. 1.051. Dissolve-se de pleno direito a sociedade:
I - por qualquer das causas previstas no art. 1.044;
II - quando por mais de cento e oitenta dias perdurar a falta de uma
das categorias de scio.
Pargrafo nico. Na falta de scio comanditado, os comanditrios
nomearo administrador provisrio para praticar, durante o perodo
referido no inciso II e sem assumir a condio de scio, os atos
de administrao.
Para a sociedade em comandita simples, o nome empresarial o de firma
social, e este composto apenas dos nomes dos comanditados.
4.4.1.3 Da sociedade em comandita por aes
A sociedade em comandita por aes tem como caracterstica prpria
ter seu capital dividido em aes. Possuem tambm os scios comandidatos
e os comanditrios. Os administradores so os comandidatos que respondem
de forma ilimitada e solidria s obrigaes sociais, ou seja, os acionistas ou
scios que possuem os cargos de diretores ou gerentes possuem responsabili-
dade solidria e ilimitada pelo total das obrigaes assumidas pela sociedade.
Por outro lado, os acionistas ou scios que no executam cargo de direo ou
gerncia respondem apenas pela integralizao de seu capital ou de suas aes.
Bertoldi e Ribeiro (2009, p. 421) apresentam o seu ponto de vista refe-
rente sociedade em comandita por aes: Praticamente todas as disposi-
es referentes sociedade annima aplicam-se a esse tipo de sociedade, com
exceo do que se refere s disposies relativas responsabilidade de alguns
acionistas, forma de administrao e denominao.
Nogueira (2010) nos esclarece que: [...] essa sociedade tem a
mesma origem da sociedade em comandita simples. A partir da necessi-
162
Livro_legislacao_katia.indb 162 20/11/2014 09:59:04
Aspectos Relevantes do Direito Empresarial
dade de restringir a responsabilidade de alguns scios, surgiu a pessoa do
scio comanditrio.
No Cdigo Civil, esta sociedade regulada a partir do art. 1.090 at o
1.092, conforme podemos ver a seguir.
Art. 1.090. A sociedade em comandita por aes tem o capital divi-
dido em aes, regendo-se pelas normas relativas sociedade an-
nima, sem prejuzo das modificaes constantes deste Captulo, e
opera sob firma ou denominao.
Art. 1.091. Somente o acionista tem qualidade para administrar a
sociedade e, como diretor, responde subsidiria e ilimitadamente
pelas obrigaes da sociedade.
1o Se houver mais de um diretor, sero solidariamente responsveis,
depois de esgotados os bens sociais.
2o Os diretores sero nomeados no ato constitutivo da sociedade,
sem limitao de tempo, e somente podero ser destitudos por deli-
berao de acionistas que representem no mnimo dois teros do capi-
tal social.
3o O diretor destitudo ou exonerado continua, durante dois anos,
responsvel pelas obrigaes sociais contradas sob sua administrao.
Art. 1.092. A assemblia geral no pode, sem o consentimento dos
diretores, mudar o objeto essencial da sociedade, prorrogar-lhe o
prazo de durao, aumentar ou diminuir o capital social, criar debn-
tures, ou partes beneficirias.
Como vimos, a sociedade em comandita por aes tem seu capital social
dividido em aes, podendo adotar como nome uma firma ou denominao,
[...] sempre seguida das palavras comandita por aes, por extenso ou abre-
viadamente. Caso adote como nome a forma de firma, ela necessariamente
dever conter to-somente os nomes dos scios diretores ou gerentes (BER-
TOLDI; RIBEIRO, 2009, p. 183).
4.4.1.4 Da sociedade limitada
A sociedade limitada surgiu na Alemanha, em 1892, com a criao da
intitulada sociedade de responsabilidade limitada, como esclarece Bertoldi
e Ribeiro (2009, p. 189).
Logo o novo modelo serviu de inspirao para que outros pases
adotassem aquele formato de sociedade, que tinha como vantagem
163
Livro_legislacao_katia.indb 163 20/11/2014 09:59:04
Introduo ao Direito
a simplicidade de sua constituio, se comparada com as socieda-
des annimas, alm do fato de seus scios no responderem de
forma ilimitada pelas dvidas da sociedade, com ocorria com os
demais tipos de sociedades ento existentes. Uma vez integrali-
zado o capital da sociedade limitada, estaro os scios desonera-
dos de responsabilidade no que se refere s dvidas assumidas pe-
la sociedade.
No Brasil, a sociedade limitada regulamentada pelo Cdigo Civil de
2002, por meio dos arts. 1.052 a 1.087.
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada scio
restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente
pela integralizao do capital social.
Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omisses deste Captulo,
pelas normas da sociedade simples.
Pargrafo nico. O contrato social poder prever a regncia supletiva
da sociedade limitada pelas normas da sociedade annima.
Art. 1.054. O contrato mencionar, no que couber, as indicaes do
art. 997, e, se for o caso, a firma social.
Bertoldi e Ribeiro (2009, p. 189) observam que:
Vale ressaltar que o termo limitada, contido em seu nome, significa
uma limitao de responsabilidade somente em relao aos scios,
e no sociedade como um todo, a qual deve responder integral e
ilimitadamente pelas dvidas em seu nome.
No art. 1.052 do Cdigo Civil, podemos ver que, na sociedade limitada,
a responsabilidade de cada scio restrita ao valor de suas quotas. Porm,
todos respondem solidariamente pela integralizao do capital social.
Ainda no art. 1.053 do Cdigo Civil, temos que esta sociedade deve
adotar as normas da sociedade simples, em caso de omisso do Captulo que
a regulamenta, estabelecendo no seu pargrafo nico a adoo supletiva das
normas da sociedade annima, caso haja previso no contrato social e assim
se faa necessrio.
Tambm, pelo que trata o art. 1.054 do Cdigo Civil, o ato constitutivo
da sociedade limitada um contrato social. Este deve mencionar, quando
assim couber, as indicaes do art. 997 do mesmo diploma e, quando for o
caso, a firma social.
164
Livro_legislacao_katia.indb 164 20/11/2014 09:59:04
Aspectos Relevantes do Direito Empresarial
Nogueira (2010, p. 398) comenta a respeito do ingresso de incapazes na
sociedade limitada:
No novo Cdigo Civil parece no existir dvidas quanto possibili-
dade de o menor poder prosseguir na qualidade de scio, em virtude
de sucesso por morte do titular da quota, mediante suprimento
judicial e por meio de representante, devidamente assistido (art.
974). Se a lei autoriza o prosseguimento da atividade empresarial,
no h qualquer restrio ao exerccio do direito de scio.
Referente ao nome empresarial, temos no art. 1.158 do Cdigo Civil
que a sociedade limitada pode adotar firma ou denominao, integradas pela
palavra final limitada ou a sua abreviatura, como podemos verificar a seguir.
Art. 1.158. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominao,
integradas pela palavra final limitada ou a sua abreviatura.
1oA firma ser composta com o nome de um ou mais scios, desde
que pessoas fsicas, de modo indicativo da relao social.
2oA denominao deve designar o objeto da sociedade, sendo per-
mitido nela figurar o nome de um ou mais scios.
3o A omisso da palavra limitada determina a responsabilidade
solidria e ilimitada dos administradores que assim empregarem a
firma ou a denominao da sociedade.
J o art. 1055 do Cdigo Civil apresenta que, quanto ao capital social
da sociedade limitada, este dividido em quotas, iguais ou desiguais, cabendo
uma ou diversas a cada scio, como podemos verificar:
Art. 1.055. O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais,
cabendo uma ou diversas a cada scio.
1oPela exata estimao de bens conferidos ao capital social respon-
dem solidariamente todos os scios, at o prazo de cinco anos da data
do registro da sociedade.
2o vedada contribuio que consista em prestao de servios.
O capital social fracionado em quotas, iguais ou desiguais. Cabe aos
scios determinar quantas quotas representaro o total do capital social e qual
o seu valor unitrio. Usualmente e de molde a facilitar a sua diviso e repre-
sentao, cada quota corresponde a uma unidade monetria. Como explica
Bertoldi e Ribeiro (2009, p. 205):
165
Livro_legislacao_katia.indb 165 20/11/2014 09:59:04
Introduo ao Direito
Assim, imaginemos uma sociedade composta por quatro scios que
resolvem dividir o capital social em partes iguais, ou seja, 25% para
cada um deles, tendo como capital social o valor de R$ 100.000,00.
Cada quota valer R$ 1,00, a sociedade ter 100.000 quotas e os
scios sero titulares de 25.000 quotas cada um. No entanto, nada
impede que essa mesma sociedade, por determinao de seus compo-
nentes, estabelea que seu capital social se dividir em apenas quatro
quotas no valor de R$ 25.000,00 cada uma, distribudas uma para
cada scio.
Encontramos, do art. 1.060 ao art. 1.065 do Cdigo Civil, referncias
forma de administrao da sociedade limitada. Existe a determinao de que
o administrador seja apontado no contrato social ou em ato separado, bem
como permisso para que pessoas, que no os scios, exeram tal funo.
Art. 1.060. A sociedade limitada administrada por uma ou mais
pessoas designadas no contrato social ou em ato separado.
Pargrafo nico. A administrao atribuda no contrato a todos os
scios no se estende de pleno direito aos que posteriormente adqui-
ram essa qualidade.
Art. 1.061.A designao de administradores no scios depender de
aprovao da unanimidade dos scios, enquanto o capital no estiver
integralizado, e de 2/3 (dois teros), no mnimo, aps a integraliza-
o.(Redao dada pela Lei n 12.375, de 2010)
Art. 1.062. O administrador designado em ato separado investir-se-
no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administrao.
1oSe o termo no for assinado nos trinta dias seguintes designa-
o, esta se tornar sem efeito.
2o Nos dez dias seguintes ao da investidura, deve o administrador
requerer seja averbada sua nomeao no registro competente, men-
cionando o seu nome, nacionalidade, estado civil, residncia, com
exibio de documento de identidade, o ato e a data da nomeao e
o prazo de gesto.
Art. 1.063. O exerccio do cargo de administrador cessa pela desti-
tuio, em qualquer tempo, do titular, ou pelo trmino do prazo se,
fixado no contrato ou em ato separado, no houver reconduo.
1o Tratando-se de scio nomeado administrador no contrato, sua
destituio somente se opera pela aprovao de titulares de quotas
correspondentes, no mnimo, a dois teros do capital social, salvo dis-
posio contratual diversa.
166
Livro_legislacao_katia.indb 166 20/11/2014 09:59:04
Aspectos Relevantes do Direito Empresarial
2oA cessao do exerccio do cargo de administrador deve ser aver-
bada no registro competente, mediante requerimento apresentado
nos dez dias seguintes ao da ocorrncia.
3oA renncia de administrador torna-se eficaz, em relao socie-
dade, desde o momento em que esta toma conhecimento da comu-
nicao escrita do renunciante; e, em relao a terceiros, aps a aver-
bao e publicao.
Art. 1.064. O uso da firma ou denominao social privativo dos
administradores que tenham os necessrios poderes.
Art. 1.065. Ao trmino de cada exerccio social, proceder-se-
elaborao do inventrio, do balano patrimonial e do balano de
resultado econmico.
Havendo a necessidade, os dispositivos que regulamentam a sociedade
limitada permitem que esta possa, em seu contrato social, contemplar a exis-
tncia de um conselho fiscal. A este caber acompanhar e fiscalizar os atos de
administrao da sociedade, regulada pelo art. 1069 do Cdigo Civil, e as
outras que podem estar no contrato social e em lei.
Cabe ainda ressaltar que a sociedade limitada pode ser dissolvida, de
pleno direito, como previsto no art. 1044 do Cdigo Civil, o qual menciona
a falncia e faz remio ao art. 1033, a seguir.
Art. 1033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer:
I - o vencimento do prazo de durao, salvo se, vencido este e sem
oposio de scio, no entrar a sociedade em liquidao, caso em que
se prorrogar por tempo indeterminado;
II - o consenso unnime dos scios;
III - a deliberao dos scios, por maioria absoluta, na sociedade de
prazo indeterminado;
IV - a falta de pluralidade de scios, no reconstituda no prazo de
cento e oitenta dias;
V - a extino, na forma da lei, de autorizao para funcionar.
Pargrafo nico. No se aplica o disposto no inciso IV caso o scio
remanescente, inclusive na hiptese de concentrao de todas as cotas
da sociedade sob sua titularidade, requeira no Registro Pblico de
Empresas Mercantis a transformao do registro da sociedade para
empresrio individual, observado, no que couber, o disposto nos arts.
1.113 a 1.115 deste Cdigo.
167
Livro_legislacao_katia.indb 167 20/11/2014 09:59:04
Introduo ao Direito
4.4.1.5 Da sociedade annima
Por sociedade annima, podemos entender uma sociedade empresria
com capital dividido em aes. A responsabilidade dos seus scios limitada
ao preo de emisso, como caracterizado pelos arts. 1.088 e 1.089 do Cdigo
Civil brasileiro, como podemos ver:
Art. 1.088. Na sociedade annima ou companhia, o capital divide-se
em aes, obrigando-se cada scio ou acionista somente pelo preo de
emisso das aes que subscrever ou adquirir.
Art. 1.089. A sociedade annima rege-se por lei especial, aplicando-
se-lhe, nos casos omissos, as disposies deste Cdigo.
A sociedade annima tambm est regulamentada por meio da Lei no
6.404/76, que dispe sobre as Sociedades por Aes, como veremos com mais
detalhes posteriormente.
Os estudiosos Bertoldi e Ribeiro (2009, p. 218-219) nos ensinam que:
A sociedade annima teve origem na Idade Mdia. Podem-se citar
dois empreendimentos surgidos nesta poca, que foram um esboo
do modelo atual desta espcie societria: o Banco de So Jorge e a
Companhia Holandesa das ndias Ocidentais. [...] O Banco de So
Jorge nasceu a partir dos emprstimos que eram realizados pelos par-
ticulares ao Estado, a fim de que este cobrisse despesas com obras
pblicas e guerras. [...] formaram-se associaes de credores, cujos
crditos representavam parcela do capital social. Nelas, o capital era
divido em aes, os credores recebiam dividendos obtidos com as
transaes bancrias, havia estatutos e a responsabilidade dos scios
era limitada ao capital investido.
[...] foram criadas em 1604, com o intuito de explorar o Novo
Mundo. O Estado, necessitando de investir nas expedies de explo-
rao, reunia capital privado, abrindo aos particulares oportunidade
de investimento no negcio. A eles era dado o direito de ter da com-
panhia os lucros e parcela no patrimnio.
Desta forma, Nogueira (2010) observa que, no evoluir da histria, as
sociedades annimas se desvencilharam do Estado e, a partir da Revoluo
Francesa, passaram a depender apenas de autorizao legal.
A sociedade annima adota como nome empresarial a denominao. Essa
sociedade pode ser aberta ou fechada e constitui-se por estatuto, desta forma,
so consideradas institucionais. Geralmente essas sociedades realizam grandes
operaes financeiras, buscando no mercado a oferta de ttulos de crditos.
168
Livro_legislacao_katia.indb 168 20/11/2014 09:59:04
Aspectos Relevantes do Direito Empresarial
Fazzio Jr. (2009, p. 175) conceitua a sociedade annima como:
[...] pessoa jurdica de direito privado, empresria por fora de lei,
regida por um estatuto e identificada por uma denominao, criada
com o objetivo de auferir lucro mediante o exerccio da empresa, cujo
capital dividido em fraes transmissveis, composta por scios de
responsabilidade limitada ao pagamento das aes subscritas.
4.6 Lei das Sociedades por Aes
Segundo Coelho (2007, p. 181), Duas so as sociedades por aes, tam-
bm classificadas como institucionais: a sociedade annima e a sociedade em
comandita por aes. Neste contexto, o autor destaca ainda que: A sociedade
annima uma sociedade de capital. Os ttulos representativos da participa-
o societria (ao) so livremente negociveis (COELHO, 2007, p. 181).
As sociedades annimas tinham suas atividades reguladas pela Lei
das Sociedades por Aes (6.404, de 1976). Conforme apresenta Coelho
(2007, p. 181):
A sociedade annima sujeita-se s regras da Lei das Sociedades por
Aes (LSA), de n. 6.404, de 1976. O Cdigo Civil de 2002 seria
aplicvel apenas nas omisses desta (art. 1.089). J a sociedade em
comandita por aes referida nos arts. 1.090 a 1.092 do CC, e se
submete, em caso de omisso dessas normas, ao regime da socie-
dade annima.
Em 2007, foi publicada a nova Lei das Sociedades por Aes que altera a
Lei no 6.404/76. Segundo Gelbcke, Ludcibus e Martins (2008, p. 5):
Em 28 de dezembro de 2007, foi sancionada a Lei n 11.638 que
modificou a Lei das Sociedades por Aes, de n 6.404/76, princi-
palmente em suas disposies de natureza contbil. Alguns ajustes
relativos tributao e de outra natureza tambm foram inseridos.
Gelbcke, Ludcibus e Martins (2008) citam que a nova Lei das Socie-
dades por Aes passou a vigorar a partir de 1o janeiro de 2008. A respeito
da criao da nova Lei no 11.638/07 das Sociedades por Aes, cujo obje-
tivo principal alterao das regras contbeis, Gelbcke, Ludcibus e Martins
(2008, p. 5) citam:
Muitas normatizaes precisam ser emitidas pelos rgos prprios,
a comear pelo Comit de Pronunciamentos Contbeis (CPC);
169
Livro_legislacao_katia.indb 169 20/11/2014 09:59:04
Introduo ao Direito
e, a seguir, esses pronunciamentos do CPC devero ser aprova-
dos pela Comisso de Valores Mobilirios (CVM), Banco Central
do Brasil (BACEN), Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
Superintendncia de Seguros Privados (SUSEP) e outros rgos
reguladores para que se tenha um conjunto de regras homogneas
nos diversos setores.
A nova Lei no 11.638/07 objetiva que as empresas de sociedades por
aes adotem padres internacionais para as prticas contbeis. Segundo
Gelbcke; Ludcibus e Martins (2008, p. 5-6):
A Lei apenas est ajustando determinadas disposies que impediam
a adoo dessas normas, introduzindo algumas disposies novas j
alinhadas com as regras internacionais, e determinando que, daqui
para a frente, todas as novas normas contbeis que forem emitidas
pela CVM sejam convergentes a tais normas internacionais.
medida que o mercado de aes foi evoluindo em todo o mundo, surgi-
ram novas situaes que precisaram ser normatizadas para este tipo de mercado,
principalmente no que diz respeito ao aspecto informacional das companhias
com aes negociadas em bolsas de valores que, no Brasil, so as sociedades
annimas de capital aberto. Nos pases desenvolvidos, em particular os Estados
Unidos e tambm no Continente Europeu, entidades responsveis pela nor-
matizao contbil, como o Financial Accounting Standards Board (FASB) e
International Accounting Standards Board (IASB), acompanharam a demanda
pela modernizao do poder informacional da contabilidade. No Brasil, esta
tarefa coube principalmente Comisso de Valores Mobilirios, que procurou
avanar, em termos normativos, sem extrapolar o mbito da legalidade repre-
sentado pela Lei no 6.404/76. A Lei das SA, por sua vez, a cada dia ficava mais
distante dos padres contbeis considerados mais modernos e que j vinham
sendo largamente utilizados fora do Brasil, com destaque para as normas inter-
nacionais editadas pelo IASB (RENGEL; CUNHA; LAVARDA, 2009).
Com este mesmo objetivo, Pereira (2008) cita:
H cerca de uma dcada, a Comisso de Valores Mobilirios (CVM)
vm propondo alteraes significativas na escriturao e na forma de
apresentao das demonstraes financeiras, ou demonstraes con-
tbeis como tambm so intituladas. Este ltimo projeto de lei se
arrastou por um bom tempo, mas em fim, foi sancionado.
Essa nova alterao na lei 6.404/76, embora possa parecer aos olhares
de um leigo como sendo de pouca significncia, trouxe na opinio dos
170
Livro_legislacao_katia.indb 170 20/11/2014 09:59:04
Aspectos Relevantes do Direito Empresarial
especialistas, profundas mudanas na escriturao contbil, na elabo-
rao das demonstraes financeiras, estendeu essa obrigatoriedade
s demais formas societrias, atingindo em cheio, todas as entidades
de grande porte e talvez o mais importante, abriu definitivamente as
portas para a penetrao das normas internacionais de contabili-
dade no mercado brasileiro.
Os estudiosos, Regel, Cunha e Lavarda (2009) ainda indicam o con-
tedo da referida lei:
Em dezembro de 2007 foi publicada a Lei n 11.638, que alterou
uma srie de dispositivos da Lei das Sociedades por Aes (Lei n
6.404/76), todos relativos s obrigaes contbeis das companhias.
Essas alteraes introduzidas na lei das S/A visam convergncia das
regras de contabilidade das sociedades brasileiras aos padres interna-
cionais. Dessa forma, a partir da vigncia da Lei 11.638/07, a Lei das
S/A (Lei 6.404/76) passou a conter no Brasil dispositivos equivalentes
s normas internacionais.
Neste mesmo sentido, Dias (2008) explana a funo da Lei no 11.638/07
e relaciona alguns de seus pontos positivos:
Um aspecto importante da nova lei a maior transparncia e melhor
compreenso pelos principais mercados de valores mobilirios.
Alguns efeitos positivos da nova lei: menor risco para o investidor;
estmulo ao ingresso de capital estrangeiro no Pas; e mais facilidade
de acesso de empresas brasileiras no mercado externo.
A Lei no 11.638/07 deu nova redao aos art. 176 a 179, 181 a 184,
187, 188, 197, 199, 226 e 248 da Lei no 6.404/76, bem como acrescentou
o art. 195-A.
Alteraes significativas so a substituio da Demonstrao de Origens
e Aplicaes de Recursos (DOAR) pela Demonstrao do Fluxo de Caixa
(DFC). A DOAR considerada, pelos especialistas, uma demonstrao mais
rica em termos de informao, mas seus conceitos no so facilmente apren-
didos. A DFC possui linguagens e conceitos mais simples e melhor comu-
nicao com a maioria dos usurios das demonstraes contbeis. Para as
companhias abertas, h a introduo da Demonstrao do Valor Adicionado
(DVA), que expe a riqueza gerada pela empresa e sua distribuio (emprega-
dos, financiadores, acionistas, governo etc.) e a parcela no distribuda. Esta
prtica muito utilizada no exterior e, inclusive, um tipo de demonstra-
o financeira recomendada pela Organizao das Naes Unidas (ONU)
(DIAS, 2010).
171
Livro_legislacao_katia.indb 171 20/11/2014 09:59:04
Introduo ao Direito
Torna-se importante destacar que as alteraes na Lei das Sociedades
Annimas pela Lei no 11.638/07 atingiram, primordialmente, a rea con-
tbil, responsvel pelas demonstraes financeiras das pessoas jurdicas e
das companhias.
No final, compreendemos que o Direito Comercial prope compor
a organizao empresarial desenvolvida e regular o regimento jurdico do
empresrio, ou seja, e o ramo do Direito que se preocupa com a afinidade
entre empresas, tem o cuidado no exercicio da atividade econmica estrutu-
rada, direcionada para o fornecimento de bens ou servios e se interessa pela
forma como as leis sao interpretadas pela doutrina e jurisprudncia.
172
Livro_legislacao_katia.indb 172 20/11/2014 09:59:04
Referncias
Livro_legislacao_katia.indb 173 20/11/2014 09:59:07
Introduo ao Direito
AMARO, Luciano da Silva. Direito Tributrio brasileiro. 7. ed. So Paulo:
Saraiva, 2001.
______. ______. 11. ed. So Paulo: Saraiva, 2005.
______. ______. 12. ed. So Paulo: Saraiva, 2006.
ANDR, Luiz Pedro. As ordenaes e o Direito privado brasileiro. 2007.
Disponvel em: <http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/AndreAndre.pdf.>.
Acesso em: 3 jan. 2012.
ANTINARELI, Mnica llen Pinto Bezerra. O princpio do no confisco e
sua efetividade no mbito dos poderes estatais. Jus Navigandi. 2012. Dis-
ponvel em: <http://jus.com.br/revista/texto/17779/o-principio-do-nao-
-confisco-e-sua-efetividade-no-ambito-dos-poderes-estatais/2>. Acesso em: 3
jan. 2012.
AQUAVIVA, Marcus Cludio. Dicionrio acadmico de Direito. So
Paulo: Jurdica Brasileira, 2003.
ARAJO, Suely Mara Vaz Guimares de. Apreenso e Confisco do pro-
duto e do instrumento do crime ambiental. 2000. Disponvel em: <http://
bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/881/apreensao_confisco_
vaz.pdf?sequence=1>. Acesso em: 25 maio 2012.
ASCENSO, Jos de Oliveira. O Direito: introduo e teoria geral. Coim-
bra: Almedina, 2003.
ATALIBA, Geraldo. Limitaes constitucionais ao poder de tributar. Revista
de Direito Tributrio, So Paulo, v. 51, 1997.
VILA, Alexandre Rossato da Silva. Curso de Direito Tributrio. Porto Ale-
gre: Verbo Jurdico, 2005.
VILA, Humberto. Teoria dos princpios: da definio aplicao dos prin-
cpios jurdicos. 9. ed. So Paulo: Malheiros, 2009.
BALEEIRO, Aliomar. Limitaes constitucionais ao Poder Tributar.
Atual. Mizabel Abreu Machado Derzi. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
______, ______. 7. ed. rev. e comp. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
174
Livro_legislacao_katia.indb 174 20/11/2014 09:59:07
Referncias
BARBOSA, Rui. Atos Inconstitucionais. Atualizao Ricardo Rodrigues
Gama. 2. ed. Campinas: Russell, 2004.
BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. So Paulo:
LTR, 2005.
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Financeiro e de Direito Tribu-
trio. 2. ed. So Paulo: Saraiva, 1992.
______. Curso de Direito Constitucional. 19. ed. So Paulo: Saraiva, 1998.
BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do Direito Tributrio. 3. ed. So
Paulo: Lejus, 1998.
BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Mrcia Carla Pereira. Curso avanado
de Direito Comercial. 5. ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
BETIOLI, Antonio Bento. Introduo ao Direito. So Paulo: Saraiva, 2013.
Lio VIII.
BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurdico. Braslia: Editora
UnB, 1994.
______. ______. 6. ed. Braslia: Editora UnB, 1995.
______. Teoria do ordenamento jurdico. Trad. Maria Celeste Cordeiro
Leite dos Santos. 9. ed. Braslia: Editora UnB, 1997.
______. Teoria da norma jurdica. Trad. Fernando Pavan Baptista e Ariani
Bueno Sudatti. Bauru, SP: Edipro, 2001.
______. ______. Trad. de Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno Sudatti.
3. ed. So Paulo: Edipro, 2005.
______. Da estrutura funo: novos estudos de teoria do Direito. Trad.
Daniela Baccaccia Versani. Barueri, SP: Manole, 2007.
BORGES, Joo Eunpio. Curso de Direito Comercial terrestre. 2. ed. Rio
de Janeiro: Forense, 1964.
175
Livro_legislacao_katia.indb 175 20/11/2014 09:59:07
Introduo ao Direito
BRASIL. Decreto-lei no 5452, de 1 de maio de 1943, Aprova a Consolidao
das Leis do Trabalho.Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 5 jan. 2012.
BULGARELLI, Waldrio. Direito Comercial. 16. ed. So Paulo: Atlas, 2001.
CAIRO JR., Jos. Introduo ao Direito do Trabalho. 2. ed. rev. ampl. e.
atual. Bahia: Podivm, 2008.
CASSAR, Vlia Bomfim. Direito do Trabalho. 3. ed. Rio de Janeiro: Impe-
tus, 2009.
CASTRO, Flvia Lages de Castro. Histria do Direito Geral e Brasil. 4. ed.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.
CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributrio. Fundamentos jurdicos
da incidncia. 2. ed. So Paulo: Saraiva, 1999.
CAVALIERI, Sergio. As funes do Direito by Sergio Cavalieri. Direito em
Revista, 2008. Disponvel em: <http://direitoemrevista.wordpress.com>.
Acesso em: 13 jun. 2013.
CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tribut-
rio. 20. ed. So Paulo: Malheiros, 2004.
______. ______. 22. ed. So Paulo: Malheiros, 2006.
______. ______. 28. ed. So Paulo: Malheiros, 2012.
CARRION, Valentin. Comentrios Consolidao das Leis do Trabalho.
25. ed. So Paulo: Saraiva, 2000.
COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: Direito de
Empresa. 17. ed. So Paulo: Saraiva, 2006.
______. ______. 18. ed. So Paulo: Saraiva, 2007.
______. Curso de Direito Comercial: direito de empresa. 11. ed. rev. e
atual. So Paulo: Saraiva, 2007. v. 1.
176
Livro_legislacao_katia.indb 176 20/11/2014 09:59:08
Referncias
COLEO ITAN-ADAYAN. Trajes: da frica ao Brasil: Eixo III: Brasil
Colnia. Negros do Eito. Disponvel em: <http://colecaoitan.org/trajes/
brasil-colonia-negros-do-eito.html>. Acesso em: 13 jun. 2013.
DANTAS, Aldemiro. Lacunas do ordenamento jurdico. So Paulo:
Manole, 2005.
DELGADO. Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 9. ed. So
Paulo: LTR, 2010.
______. Curso de Direito do Trabalho. 4. ed. So Paulo: LTR, 2005.
DEL VECCHIO, Georges. Philosophie Du droit. Paris: Dalloz, 1953.
DENARI, Zelmo. Curso de Direito Tributrio. Rio de Janeiro: Forense,
1994.
DIAS, Evander. A flexibilizao das normas trabalhistas como uma ten-
dncia da globalizao e seus reflexos no direito do trabalho brasileiro.
Dissertao (Mestrado em Direito) Univem, Marlia, 2009.
DIAS, Adriana. Impactos positivos da nova Lei das Sociedades Annimas.
Empreendedor, 2008. Disponvel em: <http://www.empreendedor.com.br/
content/impactos-positivos-da-nova-lei-das-sociedades-an%C3%B4nimas>.
Acesso em: 19 jul. 2013.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 8. ed. So
Paulo: Atlas, 1997.
DINIZ, Maria Helena. Compndio de introduo cincia do direito. 3.
ed. So Paulo: Saraiva, 1991.
______. A cincia jurdica. 3. ed. So Paulo: Saraiva, 1995.
______. Compndio de introduo cincia do Direito. 13. ed. So Paulo:
Saraiva, 2001.
______. ______. 18. ed. So Paulo: Saraiva, 2006.
______. ______. 21. ed. ver. e atual. So Paulo: Saraiva, 2010.
______. As lacunas no direito. 7. ed. So Paulo: Saraiva, 2002.
177
Livro_legislacao_katia.indb 177 20/11/2014 09:59:08
Introduo ao Direito
DONATO, Messias Pereira. Curso de Direito do Trabalho. So Paulo:
Saraiva, 1979.
DRIA, Dylson. Curso de Direito Comercial. 13. ed. So Paulo: Saraiva,
1998. v. 1.
EHRLICH, Eugen. Fundamentos da sociologia do direito. Braslia: Edi-
tora Universidade de Braslia, 1986.
FALO, Amlcar de. Fato gerador da obrigao tributria. 6. ed. rev. e
atual. por Flvio Bauer Novelli. Rio de Janeiro: Forense, 1995.
FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formao do patronato poltico
brasileiro. v. 1. 13. ed. So Paulo: Globo, 1998.
FAZZIO JR., Waldo. Manual de Direito Comercial. 10. ed. So Paulo:
Atlas, 2009.
FERNANDES, Jean Carlos. Direito Empresarial aplicado. Belo Horizonte:
Del rey, 2007.
FERRAZ JR., Trcio Sampaio. Introduo ao estudo do Direito: Tcnica,
Deciso, Dominao. 4. ed. So Paulo: Atlas, 2003.
______. Introduo ao estudo do Direito. 2. ed. So Paulo: Atlas, 1994.
______. Introduo ao estudo do Direito: tcnica, deciso, dominao. 3.
ed. So Paulo: Atlas, 2001.
______. ______. 4. ed. So Paulo: Atlas, 2003.
______. ______. 6. ed. So Paulo: Atlas, 2008.
FRAGOSO, Heleno Cludio. Lies de Direito Penal. Parte Geral. Rio de
Janeiro: Forense, 2004.
GAVAZZONI, Aluisio. Histria do Direito: dos Sumrios at a nossa era.
2002. Disponvel em: http://www.scribd.com/doc/49269319/Historia-do-
-Direito-dos-Sumerios-ate-a-nossa-Era>. Acesso: 12 de junho de 2013.
178
Livro_legislacao_katia.indb 178 20/11/2014 09:59:08
Referncias
GELBCKE, Ernesto Rubens; IUDCIBUS, Srgio de; MARTINS, Eliseu;
Manual de contabilidade das sociedades por aes: aplicvel s demais
sociedades. So Paulo: Atlas, 2008.
GOLDSCHMIDT, Fabio Brun. O princpio do no-confisco no direito
tributrio. So Paulo: RT, 2003.
GOMES, Orlando. Curso de Direito do Trabalho. 16. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2001.
GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil brasileiro. 11. ed.
atual. So Paulo: Saraiva, 1996. v. 2.
GUSMO, Paulo Dourado de. Introduo ao estudo do Direito. 20. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 1997.
ICHAHARA, Yoshiaki. Direito Tributrio. 7. ed. So Paulo: Atlas, 1997.
JESUS, Damsio E. de. Direito Penal: parte geral. 31. ed. So Paulo: Saraiva,
2010.
JUSTO, Antnio dos Santos. O direito brasileiro: razes histricas. Revista
do Direito comparado luso-brasileiro, Rio de Janeiro, n. 20, 2002.
KANT, Emmanuel. Introduccin a la teora del derecho. Madrid: Instituto
de Estudios Polticos, 1954.
KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Trad. Jos Florentino Duarte.
Porto Alegre: Fabris, 1986.
______. Teoria pura do Direito. 3. ed. Coimbra: Armnio Amado Editora,
1974.
______. ______. Trad. Joo Baptista Machado. 5. ed. So Paulo: Martins
Fontes, 1996.
______. ______. Trad. Joo Baptista Machado. 6. ed. So Paulo: Martins
Fontes, 1998.
______. ______. So Paulo: Martins Fontes, 2000.
179
Livro_legislacao_katia.indb 179 20/11/2014 09:59:08
Introduo ao Direito
______. ______. Trad. Joo Baptista Machado. 7. ed. So Paulo: Martins
Fontes, 2006.
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Traba-
lho. 4 ed. So Paulo: LTR, 2006.
______. Justia, validade eficcia das normas jurdicas. Revista Bonijuris,
Curitiba, ano 13, n. 454, set. 2001.
LEMKE, Nardim Darcy. Lacunas no sistema jurdico e as concepes no
positivistas da norma. Revista Jurdica, Universidade Regional de Blume-
nau, Centro de Cincias Jurdicas, Santa Catarina, a. 9, n. 18, p. 9-40, jul./
dez. 2005.
LIMA, Francisco Meton Marques de. Elementos de Direito do Trabalho.
10. ed. So Paulo: LTR, 2004.
MACHADO, Hugo de Brito. Uma introduo ao estudo do Direito. So
Paulo: Dialtica, 2000.
______. Curso de Direito Tributrio. 19. ed. So Paulo: Malheiros, 2001.
______. ______. 33. ed. So Paulo: Malheiros, 2011.
MARANHO, Dcio; et al. Instituies de Direito do Trabalho. v. 2. 17.
ed. atual. So Paulo: LTR, 1997.
______. ______. 19. ed. So Paulo: LTR, 2000. v. 1.
MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do Processo Civil. 2. ed. So
Paulo: Malheiros, 1996.
MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Curso de Direito Tributrio.
Par: Cejup, 1995.
MARTINS, Sergio Pinto. Curso de Direito do Trabalho. 4. ed. So Paulo:
Dialtica, 2005.
______. ______. 25. ed. So Paulo: Atlas, 2009.
______. ______. 28. ed. So Paulo: Atlas. 2012.
180
Livro_legislacao_katia.indb 180 20/11/2014 09:59:08
Referncias
MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial: empresa comercial, empre-
srios individuais, microempresas, sociedades empresrias, fundo de comr-
cio. 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 489 p.
MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 2. ed. So Paulo:
Saraiva, 2012.
MEDEIROS, Hortencio Catunda de. Esquema de teoria geral do processo.
4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
MELLO, Celso Antnio Bandeira. Elementos de Direito Administrativo.
So Paulo: Revista dos Tribunais, 1981.
______. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. So Paulo: Malheiros,
2000.
MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 4. ed. Coimbra:
Coimbra Editora, 1990.
______. Textos histricos do direito constitucional. 2. ed. Lisboa: Imprensa
Nacional/Casa da Moeda, 1990.
MONCADA, Lus Cabral de Oliveira. Ordenaes. VELBC, vol. XIX, col.
739, [19--].
MONTORO, Andr Franco. Introduo cincia do Direito. v. 2. 5. ed.
So Paulo: Martins, 1973.
______. ______. 26. ed. rev. e ampl. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
MORAES FILHO, Evaristo de; MORAES, Antonio Carlos Flores de. Intro-
duo ao Direito do Trabalho. 7. ed. So Paulo: LTR, 1995.
MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compndio de Direito Tributrio. Rio de
Janeiro: Forense, 1984.
MORAES, Luciana Furtado de. Medidas provisrias e matria tributria. Jus
Navigandi. 2004. Disponvel em: <http://jus.com.br/artigos/6164/medidas-
-provisorias-e-materia-tributaria>. Acesso em: 10 jan. 2012
______. Compndio de Direito Tributrio. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense,
1997.
181
Livro_legislacao_katia.indb 181 20/11/2014 09:59:08
Introduo ao Direito
NADER. Paulo. Introduo ao estudo do Direito. 9. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1994.
______. ______. 25. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho: histria
e teoria geral do direito do trabalho relaes individuais e coletivas do tra-
balho. 26. ed. So Paulo: Saraiva, 2011.
______. Curso de Direito do Trabalho. So Paulo: Saraiva, 2006.
NEGRO, Ricardo. Manual de Direito Comercial. 2. ed. Campinas:
Bookseller, 2001.
NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributrio. 15. ed. So Paulo:
Saraiva, 1999.
NOGUEIRA, Ricardo Jos Negro. Manual de Direito Comercial e de
empresas: teoria geral da empresa e Direito Societrio. 7. ed. So Paulo:
Saraiva, 2010.
NORONHA NETO, Francisco Tavares. Noes fundamentais de Direito
do Trabalho. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 904, dez. 2005. Disponvel
em: <http://jus.com.br/artigos/7686>. Acesso em: 27 dez. 2005.
NOVELLI, Flvio Bauer. Introduo ao Direito Tributrio. 4. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1993.
NUNES, Rizzatto. Manual de introduo ao estudo do Direito. 5. ed. rev.
e ampl. So Paulo: Saraiva, 2003.
______. Manual de introduo ao estudo do Direito: com exerccios para
sala de aula e lies de casa. 6. ed. So Paulo: Saraiva, 2006.
PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributrio. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2008.
PEDROSA, Ronaldo Leite. Direito em histria. 5. ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2006.
182
Livro_legislacao_katia.indb 182 20/11/2014 09:59:08
Referncias
PERELMAN, Cham. Lgica jurdica: nova retrica. Trad. Virgnia K. Pupi.
Rev. Maria Ermantina de Almeida Padro Galvo. Reviso tcnica Gildo S
Leito Rios. 2. ed. So Paulo: Martins Fontes, 2004.
PIMENTEL, Carlos Barbosa. Direito Comercial: teoria e questes comen-
tadas. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
PINTO, Jos Correia. Introduo ao estudo do Direito. Universidade Aut-
noma de Lisboa. Disponvel em: <http://cogitoergosun.no.sapo.pt/ied1sem.
pdf>. Acesso em: 12 jun. 2013.
PORTA NOVA, Rui. Princpios do Processo Civil. 4. ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2001.
RABELO NETO, Luiz Octvio. Teoria funcionalista e funo promocio-
nal do Direito. Jus Navegandi. 2011. Disponvel em: <http://jus.com.
br/revista/texto/20369/teoria-funcionalista-e-funcao-promocional-do-
-direito#ixzz2XA9PINDu>. Acesso em: 3 jan. 2012.
RAMOS, Andr Luiz Santa Cruz. Curso de Direito Empresarial: o novo
regime jurdico-empresarial brasileiro. 2. ed. Salvador: JusPodium, 2009.
RO, Vicente. O Direito e a vida dos direitos. So Paulo: Revista dos Tri-
bunais, 1991.
RAZ, Joseph. Kelsens theory of the basic norm. American Journal of Juris-
prudence, v. 19, p. 94-95, 1974.
REALE, Miguel. Lies preliminares de Direito. 19. ed. So Paulo: Saraiva,
1991.
______. ______. 22. ed. So Paulo: Saraiva, 1995.
______. ______. 24. ed. So Paulo: Saraiva, 1998.
______. ______. 25. ed. So Paulo: Saraiva, 2001.
______. ______. 27. ed. So Paulo: Saraiva, 2011.
______. Teoria tridimensional do Direito. 5. ed. So Paulo: Saraiva, 2000.
183
Livro_legislacao_katia.indb 183 20/11/2014 09:59:08
REQUIO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 31. ed. So Paulo:
Saraiva, 2012. v. 1.
______. ______. 25. ed. So Paulo: Saraiva, 2008. v. 2.
RENGEL, S.; CUNHA, J. V. A.; LAVARDA, C. E. F. As alteracoes da lei
das S/A sob a otica dos proprietarios de organizacoes de servicos contabeis do
estado de Santa Catarina. In: CONGRESSO USP CONTROLADORIA E
CONTABILIDADE, Sao Paulo, ano 9, 2009. Disponivel em: <http://www.
congressousp.fipecafi.org/artigos92009/184.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2011.
REZEK, Jos Francisco. Direito internacional pblico: curso elementar. 2.
ed. So Paulo: Saraiva, 1991.
RIBAS, Luiz Otvio. Negros e ndios na inveno do Brasil. Internacio-
nalize-se. 2011. Disponvel em: <http://internacionalizese.blogspot.com.
br/2011/05/negros-e-indios-na-invencao-do-brasil.html>. Acesso em: 3
maio 2011.
ROCCO, Alfredo. Princpios de Direito Comercial. So Paulo: Saraiva,
1931.
RODRIGUEZ, Amrico Pl. Princpios de Direito do Trabalho. Trad.
Wagner D. Giglio. So Paulo: LTR, 1997.
______. Princpios de Direito do Trabalho. 3. ed. So Paulo: LTR, 2000.
RUSSOMANO, Mozart Victor. Curso de Direito do Trabalho. 4. ed. Curi-
tiba: Juru,1993.
SANSEVERINO, Milton. Procedimento sumarssimo. So Paulo: Revista
dos Tribunais, 1983.
SANTOS, Christiano Jorge. Direito Penal Parte Geral. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2007.
SCHIAVI, Mauro. Provas no processo do trabalho. 2. ed. So Paulo: LTR,
2011.
SCHWANTZ, Giuliani. Caderno de Direito Financeiro Dom Alberto.
Santa Cruz do Sul: Faculdade Dom Alberto, 2010.
184
Livro_legislacao_katia.indb 184 20/11/2014 09:59:08
SILVA, Jos Afonso. Direito Constitucional Positivo. 32. ed. So Paulo:
Malheiros, 2009.
______. Apontamentos de Direito Tributrio. Rio de Janeiro: Forense,
2004.
SILVA, Bruno Mattos e. Curso elementar de Direito Comercial: parte geral
e contratos mercantis. So Paulo: Juarez de Oliveira, 2001.
SILVA, De Plcido e. Noes prticas de Direito Comercial. 14. ed. Rio de
Janeiro: Forence, 1999.
SILVA, Nuno J. Espinosa Gomes da. Histria do Direito portugus . 2. ed.
Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1991.
SILVA, Jos Amilton da. Teoria geral do processo. Rio de Janeiro: Forense,
1997.
______. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3. ed. So Paulo:
Malheiros, 1999.
SILVA, Eduardo. Diferena entre as Ordenaes Afonsinas (1446),
Manuelinas (1521) e Filipinas (1603). Blog do Eduardo Silva. 2011. Dis-
ponvel em: <http://edurosa.blogspot.com.br/2011/05/diferenca-entre-as-
-ordenacoes-afonsinas.html>. Acesso em: 10 jan. 2012.
SIMES, Thiago Felipe Vargas. A famlia afetiva: afeto como formador de
famlia. Dissertao (Mestrado). Universidade Catlica de So Paulo, So
Paulo, 2007.
SOUZA, Rubens Gomes de. Compndio de Legislao Tributria. 2. ed.
Rio de Janeiro: Edies Financeiras S.A., 1954.
______. Compndio de Legislao Tributria. So Paulo: Resenha Tribu-
tria, 1975.
SSSEKIND, Arnaldo et al. Instituies de Direito do Trabalho. 16. ed.
So Paulo: LTR, 1997.
185
Livro_legislacao_katia.indb 185 20/11/2014 09:59:08
TELLES, Jose Homem Correia. Comentrio critico Lei da Boa Razao, em data
de 18 de agosto de 1769. Lisboa: Typografia de N. P. de Lacerda, 1824.
THEODORO JR, Humberto. Princpios Gerais de Direito Processual Civil. Revista
de Processo, So Paulo, ano 6, n. 23, 1981.
VALLS, lvaro L. M. O que tica. 7. ed. So Paulo: Brasiliense, 1993.
VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria geral do Direito. Teoria da norma jurdica. v.
1. 13. ed. So Paulo: Malheiros, 1993.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: parte geral. 5. ed. So Paulo: Atlas, 2005.
______. Introduo ao estudo do Direito. Primeiras linhas. 2 ed. So Paulo: Atlas,
2007.
______. Slvio de Salvo. Direito Civil: parte geral. 9. ed. So Paulo: Atlas, 2009. v.
1.
VILHENA, Paulo Emlio Ribeiro de. Princpios do Direito. So Paulo: LTR, 1993.
WOLKMER, Antnio Carlos. Histria do Direito no Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2002.
XAVIER, Alberto. Tratados: superioridade hierrquica em relao lei face consti-
tuio federal de 1988. Revista de Direito Tributrio, So Paulo, n. 66, p. 30-48,
1996.
186
Livro_legislacao_katia.indb 186 20/11/2014 09:59:08
Você também pode gostar
- Tópicos Especiais Em ContabilidadeNo EverandTópicos Especiais Em ContabilidadeAinda não há avaliações
- Gerenciando Projetos:No EverandGerenciando Projetos:Ainda não há avaliações
- Livro - Analise Orcamentaria e FiscalDocumento188 páginasLivro - Analise Orcamentaria e FiscalMatias X Nathalia BarcellusAinda não há avaliações
- Apostila - Contabilidade - Contabiliadade para ConcursosDocumento183 páginasApostila - Contabilidade - Contabiliadade para ConcursosJose Alexandre MarangoniAinda não há avaliações
- Fundamentos e Evolucao Da Administracao E1670361674Documento102 páginasFundamentos e Evolucao Da Administracao E1670361674Bia SantosAinda não há avaliações
- Planilha EVADocumento7 páginasPlanilha EVAanon-191940100% (4)
- Aula 06 - Princípios de Contabilidade - CPCDocumento52 páginasAula 06 - Princípios de Contabilidade - CPCMara PiovesanAinda não há avaliações
- 01 - A Terceirização No BrasilDocumento14 páginas01 - A Terceirização No BrasilFlavio CardosoAinda não há avaliações
- Aula 13: Participações Societárias, Método da Equivalência Patrimonial e Tratamento da Mais-ValiaDocumento86 páginasAula 13: Participações Societárias, Método da Equivalência Patrimonial e Tratamento da Mais-ValiaFernandinho GonçalvesAinda não há avaliações
- A semente do futuroDocumento71 páginasA semente do futuroWagner Fernando da SilvaAinda não há avaliações
- LIVRO DIDÁTICO-Contabilidade de Custos e Orçamento-Provisorio 2021-2Documento78 páginasLIVRO DIDÁTICO-Contabilidade de Custos e Orçamento-Provisorio 2021-2Diego GomesAinda não há avaliações
- A sinergia da gestão organizacional na 3MDocumento5 páginasA sinergia da gestão organizacional na 3MNatália MahailaAinda não há avaliações
- 4 - Sistemas de Informações Gerenciais (SIG)Documento28 páginas4 - Sistemas de Informações Gerenciais (SIG)Fernando Mateus FernandezAinda não há avaliações
- (3952 - 18751) Contabilidade Societaria IIDocumento130 páginas(3952 - 18751) Contabilidade Societaria IIJohn AllyssonAinda não há avaliações
- Curso Sped Fiscal - Icms e IpiDocumento188 páginasCurso Sped Fiscal - Icms e IpiDilaura RodriguesAinda não há avaliações
- AFONSO e BIASOTO - Política Fiscal No Pós-Crise de 2008 - A Credibilidade Perdida PDFDocumento31 páginasAFONSO e BIASOTO - Política Fiscal No Pós-Crise de 2008 - A Credibilidade Perdida PDFAllan AntunesAinda não há avaliações
- Apostila - Contabilidade IntrodutoriaDocumento112 páginasApostila - Contabilidade IntrodutoriaGabriela MeissAinda não há avaliações
- Gestão Empresarial CompletaDocumento2 páginasGestão Empresarial CompletarodrigobcgAinda não há avaliações
- Contabilidade SocioambientalDocumento422 páginasContabilidade SocioambientalGeni VanzoAinda não há avaliações
- Normas contábeis: evolução e importânciaDocumento91 páginasNormas contábeis: evolução e importânciaJorUge FerrariAinda não há avaliações
- Apostila Normas e Práticas TributáriasDocumento203 páginasApostila Normas e Práticas TributáriasFelipe GamaAinda não há avaliações
- Livro - Contabilidade de CustosDocumento90 páginasLivro - Contabilidade de Custosalmd laAinda não há avaliações
- Direito TributárioDocumento12 páginasDireito TributárioMarcelo Ladeira de AzevedoAinda não há avaliações
- MBA Finanças e Contabilidade GerencialDocumento37 páginasMBA Finanças e Contabilidade GerencialPhilipe BittencourtAinda não há avaliações
- A Técnica ContábilDocumento111 páginasA Técnica ContábilFelipe Amorim100% (1)
- 02 Gestão Contábil Financeira FGV Santo André 01 2021 Apostíla - PPT (Modo de Compatibilidade)Documento73 páginas02 Gestão Contábil Financeira FGV Santo André 01 2021 Apostíla - PPT (Modo de Compatibilidade)Vinicius DionisioAinda não há avaliações
- Cálculo do SN para empresas de transporte de cargasDocumento69 páginasCálculo do SN para empresas de transporte de cargasAntonio QuirinoAinda não há avaliações
- 66 O Impacto Tributário em Projetos LogísticosDocumento11 páginas66 O Impacto Tributário em Projetos LogísticosFisichella SimõesAinda não há avaliações
- Análise administrativa de Cury e processos organizacionaisDocumento4 páginasAnálise administrativa de Cury e processos organizacionaisJosé MagalhãesAinda não há avaliações
- Direito Público e PrivadoDocumento145 páginasDireito Público e PrivadoBianca Ribeiro100% (1)
- Controle Interno e Externo Da Gestao Publica PDFDocumento94 páginasControle Interno e Externo Da Gestao Publica PDFFernandoAinda não há avaliações
- DFC: conceitos e estruturaDocumento10 páginasDFC: conceitos e estruturafilipe liraAinda não há avaliações
- Apostila Disciplina - Recursos Humanos Na Administracao PublicaDocumento140 páginasApostila Disciplina - Recursos Humanos Na Administracao Publicasandro MayhemAinda não há avaliações
- Apostila Contabilidade PúblicaDocumento16 páginasApostila Contabilidade PúblicaAlecsandro WillamyAinda não há avaliações
- Terceirização Contábil: Vantagens, Desafios e ImplementaçãoDocumento10 páginasTerceirização Contábil: Vantagens, Desafios e Implementaçãojoaquim jacintoAinda não há avaliações
- UNIDADE 5 - Lucro RealDocumento30 páginasUNIDADE 5 - Lucro RealAnderson IsmaelAinda não há avaliações
- Cooperativas no Brasil: conceito, características e classificaçãoDocumento6 páginasCooperativas no Brasil: conceito, características e classificaçãoJoão SalazarAinda não há avaliações
- Contabilidade Geral e Tributária - 12ed - 2021 - Lourivaldo Lopes Da SilvaDocumento39 páginasContabilidade Geral e Tributária - 12ed - 2021 - Lourivaldo Lopes Da SilvaMarcelo ToledoAinda não há avaliações
- Balanced Scorecard (BSC)Documento5 páginasBalanced Scorecard (BSC)Mcrs31100% (1)
- 16 - Apostila - Contabilidade Intermediária - UnifatecieDocumento97 páginas16 - Apostila - Contabilidade Intermediária - UnifatecieJhonne GonçalvesAinda não há avaliações
- Apostila Curso Introducao Gestao Financeira - CertificasolDocumento42 páginasApostila Curso Introducao Gestao Financeira - CertificasolRodrigo SilvaAinda não há avaliações
- Planeje seus impostosDocumento49 páginasPlaneje seus impostosIBRAinda não há avaliações
- Administracao de Sistemas de Informacao e A Gestao Do ConhecimenDocumento232 páginasAdministracao de Sistemas de Informacao e A Gestao Do ConhecimenMarcio MizukaAinda não há avaliações
- Diretrizes Práticas Contábeis e EstágioDocumento254 páginasDiretrizes Práticas Contábeis e EstágioRodrigo LanferdiniAinda não há avaliações
- SLIDES Contabilidade Tributária FiscalDocumento174 páginasSLIDES Contabilidade Tributária Fiscalney MendesAinda não há avaliações
- Administracao FinanceiraDocumento128 páginasAdministracao FinanceiraTaissa SanchesAinda não há avaliações
- O Papel Do Contador Na SociedadeDocumento8 páginasO Papel Do Contador Na SociedadeesafacebookAinda não há avaliações
- Texto de Apoio Atividade de ConexaoDocumento192 páginasTexto de Apoio Atividade de ConexaoEllen Joicy100% (1)
- Contabilidade Intermediária IDocumento11 páginasContabilidade Intermediária IAdriano Pamplona100% (1)
- Apostila de Contabilidade Comercial IDocumento176 páginasApostila de Contabilidade Comercial IViana VianaAinda não há avaliações
- Op 031fv 21 Prep Receita Federal AuditorDocumento79 páginasOp 031fv 21 Prep Receita Federal AuditorThiago BRAinda não há avaliações
- Contabilidade Básica IDocumento25 páginasContabilidade Básica ILUIZ BEZERRA100% (1)
- ESTÁGIO SUPERVISIONADO 7° e 8° SEMESTRE 2019Documento18 páginasESTÁGIO SUPERVISIONADO 7° e 8° SEMESTRE 2019Alex NascimentoAinda não há avaliações
- Administração FinanceiraDocumento271 páginasAdministração FinanceiraThiago Laurindo 2Ainda não há avaliações
- Laudo pericial contábil de indenização por quebra de contratoDocumento8 páginasLaudo pericial contábil de indenização por quebra de contratoAFMGAinda não há avaliações
- Apostila Aula Teoria e Pratica em IfrsDocumento163 páginasApostila Aula Teoria e Pratica em IfrsJordan ArleyAinda não há avaliações
- Equivalencia PatrimonialDocumento16 páginasEquivalencia PatrimonialGELIDIAAinda não há avaliações
- Apostila Da DisciplinaDocumento90 páginasApostila Da DisciplinaAnderson Carlos Diniz SilvaAinda não há avaliações
- Resiliência Fiscal : uma nova abordagem diante de crises econômicas: diagnóstico e propostas no âmbito da gestão fiscal do Distrito FederalNo EverandResiliência Fiscal : uma nova abordagem diante de crises econômicas: diagnóstico e propostas no âmbito da gestão fiscal do Distrito FederalAinda não há avaliações
- Contabilidade de CustosDocumento66 páginasContabilidade de CustosJunior Corrêa100% (1)
- Noções sobre perícia e sua evolução históricaDocumento28 páginasNoções sobre perícia e sua evolução históricaIhury LimaAinda não há avaliações
- Estratégias de NegociaçãoDocumento4 páginasEstratégias de NegociaçãoJunior CorrêaAinda não há avaliações
- Diagrama MoodyDocumento46 páginasDiagrama MoodyCatarina DantasAinda não há avaliações
- Sistemas de Unidades do FtoolDocumento2 páginasSistemas de Unidades do FtoolJunior CorrêaAinda não há avaliações
- Custos e Formacao de PrecoDocumento29 páginasCustos e Formacao de PrecoaledeganiAinda não há avaliações
- Avaliação Imunoistoquímica Dos Receptores de Estrogênio e Progesterona No Câncer de Mama, Pré e Pós-Quimioterapia NeoadjuvanteDocumento7 páginasAvaliação Imunoistoquímica Dos Receptores de Estrogênio e Progesterona No Câncer de Mama, Pré e Pós-Quimioterapia NeoadjuvanteJunior CorrêaAinda não há avaliações
- Apostila Car Ii 02 2014 Parte I PDFDocumento25 páginasApostila Car Ii 02 2014 Parte I PDFhesiotjAinda não há avaliações
- AULA DE FUNDACOES - TODAS AS PARTES - PPT - Modo de Compatibilidade PDFDocumento29 páginasAULA DE FUNDACOES - TODAS AS PARTES - PPT - Modo de Compatibilidade PDFWudson NunesAinda não há avaliações
- Sistemas de Informações GerenciaisDocumento168 páginasSistemas de Informações GerenciaisJunior CorrêaAinda não há avaliações
- Patologiadasconstrucoes 2002Documento250 páginasPatologiadasconstrucoes 2002Leonardo MouraAinda não há avaliações
- NBR 5410 2004 Corrigida 2008Documento217 páginasNBR 5410 2004 Corrigida 2008sgrinev100% (8)
- Manutenção de conjunto motor-bombaDocumento25 páginasManutenção de conjunto motor-bombaJunior CorrêaAinda não há avaliações
- Sistemas de Informações GerenciaisDocumento168 páginasSistemas de Informações GerenciaisJunior CorrêaAinda não há avaliações
- Análise da aplicabilidade do conceito de Put/Call Parity no mercado brasileiroDocumento6 páginasAnálise da aplicabilidade do conceito de Put/Call Parity no mercado brasileiroJunior CorrêaAinda não há avaliações
- Calculo de Horas TrabaladaDocumento5 páginasCalculo de Horas TrabaladadelavoaAinda não há avaliações
- Tecnicas de Analise de Defeitos em RolamentosDocumento16 páginasTecnicas de Analise de Defeitos em RolamentosDeleon GalvinAinda não há avaliações
- Manual de Construção em Aço - Manual Tratamento de Superficie e PinturaDocumento96 páginasManual de Construção em Aço - Manual Tratamento de Superficie e PinturaGanderlan100% (3)
- Orçamento Público TRT4 Taís Flores PDFDocumento80 páginasOrçamento Público TRT4 Taís Flores PDFPradipGhandiAinda não há avaliações
- 1787 2011 Sergio AlitollefDocumento37 páginas1787 2011 Sergio AlitollefGil Eng MesquitaAinda não há avaliações
- Livro Da Disciplina PDFDocumento164 páginasLivro Da Disciplina PDFJunior CorrêaAinda não há avaliações
- Lig Paraf 05Documento42 páginasLig Paraf 05sabinumAinda não há avaliações
- Bazzo, E. - Geração de Vapor (2a Edição) PDFDocumento116 páginasBazzo, E. - Geração de Vapor (2a Edição) PDFAndreAinda não há avaliações
- Estatística Aplicada A Adm - Prof Marcelo TavaresDocumento142 páginasEstatística Aplicada A Adm - Prof Marcelo Tavareskkmizuta100% (1)
- Termos de RefrigeraçãoDocumento61 páginasTermos de RefrigeraçãoPedro Vieira100% (1)
- Teoria Geral da AdministraçãoDocumento248 páginasTeoria Geral da AdministraçãoJunior CorrêaAinda não há avaliações
- Mercado de CapitaisDocumento55 páginasMercado de CapitaisJunior CorrêaAinda não há avaliações
- Motores A GasDocumento20 páginasMotores A Gasg4nimed3s0% (1)
- Psicologia e Cultura OrganizacionalDocumento172 páginasPsicologia e Cultura OrganizacionalJunior CorrêaAinda não há avaliações
- Guia completo sobre juros simples e compostosDocumento98 páginasGuia completo sobre juros simples e compostosJunior CorrêaAinda não há avaliações
- DP - Micro Imuno e ParasitoDocumento11 páginasDP - Micro Imuno e ParasitoAndrea50% (2)
- Role-Play e Role-Taking na Terapia Cognitivo-ComportamentalDocumento28 páginasRole-Play e Role-Taking na Terapia Cognitivo-ComportamentalRicardo Pereira100% (1)
- Plano Anal Geog 10a CL 2017Documento4 páginasPlano Anal Geog 10a CL 2017Anonymous 9FiCpUkTCAinda não há avaliações
- Gestão FacturaçãoDocumento95 páginasGestão FacturaçãojubasatAinda não há avaliações
- Geo Plano IME 2000 A 2012Documento5 páginasGeo Plano IME 2000 A 2012deathdinoAinda não há avaliações
- Manual Radiologia Ultrassonografia Animais PequenosDocumento4 páginasManual Radiologia Ultrassonografia Animais PequenoswilsonAinda não há avaliações
- Trabalho Avaliativo de Arte Renasciemento e BarrocoDocumento8 páginasTrabalho Avaliativo de Arte Renasciemento e Barrocovalquiria carvalho limaAinda não há avaliações
- Guia de Aprendizagem GeografiaDocumento2 páginasGuia de Aprendizagem GeografiaPriscilla TertoAinda não há avaliações
- Lição 12 - Os Pães Da ProposiçãoDocumento11 páginasLição 12 - Os Pães Da ProposiçãoDeptoInfPinAinda não há avaliações
- Edital Curso de ConfeitariaDocumento13 páginasEdital Curso de ConfeitariaAlexandre Lima de AlmeidaAinda não há avaliações
- Desenvolvimento físico e cognitivo da criança escolarDocumento12 páginasDesenvolvimento físico e cognitivo da criança escolarAline RafaelaAinda não há avaliações
- Tabela SIAR 3º Desafio-ProblemaDocumento2 páginasTabela SIAR 3º Desafio-ProblemaAntónio Pedro Correia da Silva PinheiroAinda não há avaliações
- Apostila MatematicafinanceiraiiDocumento100 páginasApostila MatematicafinanceiraiiJamil ArrudaAinda não há avaliações
- Apostila de Manutenção Guindastes e BaleeirasDocumento102 páginasApostila de Manutenção Guindastes e BaleeirasAntonio Ribeiro100% (5)
- A Semana de Arte ModernaDocumento19 páginasA Semana de Arte Modernatatins1987100% (11)
- Teorias psicológicas sobre adolescência e vida adultaDocumento14 páginasTeorias psicológicas sobre adolescência e vida adultaLashawn BaldwinAinda não há avaliações
- Poder de Cura Do Yoga Por HarvardDocumento22 páginasPoder de Cura Do Yoga Por HarvardNelvaPatricia100% (1)
- Anais SIPDocumento90 páginasAnais SIPRadael JuniorAinda não há avaliações
- Terapêutica MedicamentosaDocumento24 páginasTerapêutica MedicamentosafabiolakatelAinda não há avaliações
- O significado do amorDocumento2 páginasO significado do amorcarmitalivAinda não há avaliações
- ZapotecasDocumento3 páginasZapotecasJuniorAinda não há avaliações
- Dicas para Calculo Da PenaDocumento6 páginasDicas para Calculo Da PenaCarmono Estulano0% (1)
- Proposta de Recuperacao Da Mata Ciliar Do Corrego Brejo Comprido Palmas-ToDocumento13 páginasProposta de Recuperacao Da Mata Ciliar Do Corrego Brejo Comprido Palmas-Tocleomila21Ainda não há avaliações
- Primeiro passo para sucesso na NutriçãoDocumento9 páginasPrimeiro passo para sucesso na NutriçãoJacqueline SantiniAinda não há avaliações
- Glossario Quimica ProjetosdepolimerosDocumento162 páginasGlossario Quimica ProjetosdepolimerosDébora SouzaAinda não há avaliações
- Pronomes Oblíquos ÁtonosDocumento9 páginasPronomes Oblíquos Átonosjessikadasilva555Ainda não há avaliações
- Literaturas AfricanasDocumento14 páginasLiteraturas AfricanasBasilioAntonioSamuelSamuelAinda não há avaliações
- A mensagem de amor e disciplina de Deus em OséiasDocumento7 páginasA mensagem de amor e disciplina de Deus em OséiasArthur Corrêa100% (1)
- GConferencia GA 323 C 2 A Necessidade de Fundamentar A Astronomia A Partir Do Ser HumanoDocumento15 páginasGConferencia GA 323 C 2 A Necessidade de Fundamentar A Astronomia A Partir Do Ser HumanoRenato CaioAinda não há avaliações
- Dêmonios Que Atuam Na MenteDocumento5 páginasDêmonios Que Atuam Na Menteamilton messiasAinda não há avaliações