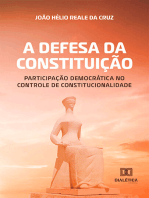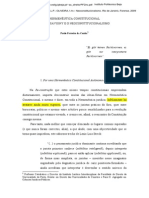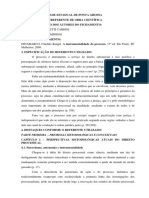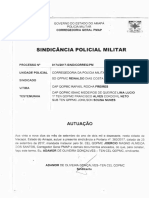Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Ativismo Judicial111
Enviado por
Pedro Augusto0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações27 páginasTítulo original
ATIVISMO JUDICIAL111
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações27 páginasAtivismo Judicial111
Enviado por
Pedro AugustoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 27
controle, nesse caso, compete ao próprio órgão ao qual foi deferido
o poder discricionário, o que não significa que possa, em harmonia
com o sistema, tudo fazer. Percebe-se, destarte, a importância de
construções doutrinárias que permitam indicar os limites normativos
da discricionariedade judicial, trabalho esse que, se consistente,
poderá resultar eficaz, mercê da estrutura plural do Poder Judiciário
e das características de seu modo de atuar (devido processo legal),
favoráveis à prevalência da racionalidade jurídica.
14 Passivismo, interpretação criativa e ativismo
judicial
O desenvolvimento teórico até aqui realizado já permite uma
conceituação do fenômeno denominado “ativismo judicial”,
necessariamente amplo por não se atrelar a um específico sistema
jurídico, muito embora se revele mais próximo aos sistemas
constitucionais da família romano--germânica, em que a
organização do aparato estatal seja informada pelo princípio da
separação dos Poderes: por ativismo judicial deve-se entender o
exercício da função jurisdicional para além dos limites impostos pelo
próprio ordenamento que incumbe, institucionalmente, ao Poder
Judiciário fazer atuar, resolvendo litígios de feições subjetivas
(conflitos de interesse) e controvérsias jurídicas de natureza objetiva
(conflitos normativos). Há, como visto, uma sinalização claramente
negativa no tocante às práticas ativistas, por importarem na
desnaturação da atividade típica do Poder Judiciário, em detrimento
dos demais Poderes 319. Não se pode deixar de registrar mais uma
vez, contudo, que o fenômeno golpeia mais fortemente o Poder
Legislativo, o qual tanto pode ter o produto da legiferação
irregularmente invalidado por decisão ativista (em sede de controle
de constitucionalidade), quanto o seu espaço de conformação
normativa invadido por decisões excessivamente criativas.
O positivismo liberal e sua atrofiada teorização hermenêutica, ao
propugnarem a primazia absoluta do texto normativo sobre a
atividade do intérprete-aplicador, reduzida à mera constatação e
aplicação mecânica dos enunciados normativos, eliminaram
qualquer possibilidade de ativismo judicial. Todavia, deram ensejo a
fenômeno de gravidade equiparável, qual seja, o passivismo
judiciário.
Nos Estados Unidos da América o passivismo está radicado nas
duas variantes do chamado interpretativismo: o textualismo e o
originalismo. Em seminário sobre interpretação constitucional
realizado na Faculdade de Direito da Universidade de Samford, em
comemoração ao bicentenário da Constituição de 1787, o professor
Erwin Chemerinsky fez sucinta descrição das principais teorias
interpretativas conexas ao judicial review. Assinalou, então, ser o
textualismo ou literalismo “a teoria que requer que toda
interpretação constitucional considere apenas o texto da
Constituição”, devendo a Suprema Corte, em face dela, “assentar o
artigo da Constituição, o qual é questionado ao lado do estatuto que
o afronta, para decidir se o recente se ajusta ao antigo”. No que
concerne ao originalismo, foi apresentado como “uma teoria de
interpretação constitucional que toma o texto da Constituição tão
autoritariamente como o faz o textualismo, mas os originalistas
olham, além da mera linguagem textual, para o significado que os
constituintes ou as ratificações pretenderam dar ao texto” 320.
Conforme adverte Mark Tushnet, “é difícil distinguir na prática entre
interpretação textual e originalista, porque elas frequentemente
andam de mãos dadas” 321.
São evidentes as dificuldades para se proceder a uma
interpretação constitucional fundada no textualismo ou no
originalismo 322. Porém, além delas, certamente a viragem
hermenêutica ocorrida na Teoria do Direito contribuiu para que nos
Estados Unidos o prestígio acadêmico e, principalmente, a prática
da Suprema Corte pendesse para o não interpretativismo ou
construction 323, o qual também se subdivide em variantes,
agrupadas por Charles Cole nas correntes do conceitualismo e do
simbolismo.
Para o professor da Cumberland School of Law, “o
conceitualismo é a teoria da interpretação constitucional que
reconhece que a sociedade evolui e muda, e o significado da
Constituição evolui de acordo com os conceitos básicos derivados
(pela Corte) do próprio documento”. Já o “simbolismo pode ser
genericamente definido como uma teoria da interpretação
constitucional que permite à Corte lançar mão das aspirações
fundamentais da história e tradição norte-americana (qual definidas
pela Corte) para determinar a constitucionalidade das ações das
diferentes ramificações políticas do governo” 324.
O não interpretativismo conceitualista é identificado, por alguns
autores, como um “originalismo moderado”, por apontar as
insuficiências do literalismo e do originalismo estrito sob formas
argumentativas aparentemente originalistas. Assim, se justifica a
presença no texto constitucional de cláusulas genéricas ou
indeterminadas por corresponderem à intenção deliberada do
Constituinte de permitir ao Poder Judiciário a adaptação da
Constituição a novas circunstâncias ou, simplesmente, se propõe a
fundamentação de decisão construída com algum apelo ao método
teleológico em termos que invocam a vontade dos founding fathers,
se vivessem na atualidade. Cuida-se, na verdade, de um uso
retórico do originalismo da parte de certos conceitualistas, mas que
não os aparta do núcleo central dessa vertente do não
interpretativismo: como sucede no interpretativismo, o texto
constitucional é tido pelo conceitualismo como um elemento
vinculante do trabalho do intérprete, porém se reconhece a
necessidade de certa criatividade exegética, dentro dos limites
admitidos pela Constituição, a qual é exercida mediante a utilização
combinada dos diversos métodos de interpretação 325. Em
particular, a interpretação sistemático--teleológica propicia a
evolução da jurisprudência constitucional e a adaptação do Texto
Magno às exigências contemporâneas da sociedade.
O conceitualismo estadunidense se mostra perfeitamente
compatível com uma teoria positivista da interpretação, desde que
atualizada nos termos por mim expostos no item 10 da Seção II
deste capítulo. Como se constata do amplo e recente estudo de
Mark Tushnet sobre a interpretação constitucional nos Estados
Unidos, a despeito do reconhecido ecletismo da jurisprudência da
Suprema Corte em relação às técnicas hermenêuticas, tem
merecido a preferência os elementos metodológicos da invocação
de precedentes (o que importa, sob o prisma do common law, no
respeito ao direito posto) e os de ordem gramatical e histórica. A
metodologia sistemático-teleológica é utilizada com menos
frequência, muito embora a Corte recorra a questões estruturais “em
casos envolvendo a separação de Poderes e o federalismo, os
quais, certamente, envolvem a estrutura do governo, e algumas
vezes nos casos sobre direitos individuais, mediante a descrição
das finalidades gerais da ordem constitucional de modo a incluir a
preservação da liberdade”. Por último, “referências explícitas a
considerações sobre o reforço à representação, ou à moral ou à
filosofia política, são bastante raras” 326. Ou seja, mesmo em um
sistema jurídico que atribui considerável dose de poder normativo a
juízes e tribunais tem prevalecido, ao longo da história, excetuados
alguns períodos de passivismo ou de ativismo judicial, o que se
poderia denominar de interpretação criativa de perfil positivista 327.
Por seu turno, a outra corrente não interpretativista de
interpretação constitucional, denominada de simbolismo, se afasta
do positivismo para se aproximar do moralismo jurídico. Com bem
apontou Charles Cole, o simbolismo, “definido como uma teoria de
interpretação constitucional que permite à Corte utilizar aspirações
fundamentais da história e tradição norte-americana, reconhece que
sua aplicação envolve uma elaboração e um fortalecimento de
valores além daqueles constitucionalizados pelos autores da
Constituição” 328.
No longevo debate hermenêutico propiciado pela jurisdição
constitucional estadunidense é preciso atentar para a ambiguidade
do termo “ativismo”, que serve para caracterizar qualquer
modalidade de não interpretativismo, mesmo que não destoante dos
postulados positivistas. Diante disso, a expressão “ativismo judicial”
possui uma carga valorativa positiva ou negativa, dependendo do
enfoque teórico de quem realiza a avaliação das decisões judiciais.
Para os adeptos do literalismo e do originalismo, toda a prática
judiciária que não se filie ao interpretativismo é ativista,
emprestando ao termo conotação negativa, que o contrapõe à
democracia, ao Estado de Direito, à objetividade e segurança
jurídica, ao pluralismo ideológico etc. Em sentido oposto, os
defensores da construction (não interpretativismo) não veem o
ativismo de forma negativa, na medida em que incorporam a
supremacia da Constituição e o controle de constitucionalidade ao
conjunto das instituições que expressam o sistema político
democrático, insistindo na inevitabilidade da criatividade
jurisprudencial, como demonstrado pela Hermenêutica
contemporânea. Para os não interpretativistas, o passivismo judicial
é que deve ser combatido, pois apenas uma interpretação evolutiva
da Constituição teria permitido a sua sobrevivência durante duas
centúrias, acomodando-se às profundas transformações sociais,
econômicas e culturais experimentadas pelos Estados Unidos. Mas
é preciso sublinhar que há uma profunda diferença entre o ativismo
judicial preconizado por conceitualistas, como Charles Cole, em
relação àquele defendido por simbolistas, como Michael Perry. Na
conceituação de início apresentada, a teoria hermenêutica
identificada como conceitualismo não seria, propriamente, ativista,
exatamente por se revelar respeitosa aos parâmetros normativos
impostos pelo sistema constitucional em vigor. O mesmo não se
pode dizer, contudo, do simbolismo, que, influenciado pelo
objetivismo axiológico, faz apelo constante à “função ética do judicial
review”, reconhecendo-lhe um papel supletivo e corretivo no tocante
à Constituição que aplica. Não se deve ignorar, de outra parte, que o
ativismo axiológico na doutrina estadunidense 329 também comporta
gradações, compreendendo desde aqueles que admitem a
ultrapassagem das limitações normativas apenas em defesa das
regras do jogo democrático (procedimentalismo), até os que
sustentam que a jurisdição constitucional deve ser amplamente
ativista, por vislumbrarem por sobre a Constituição uma ordem
objetiva de valores, refletida na tradição democrática do
constitucionalismo americano 330.
O positivismo pós-kelseniano, renovado pela incorporação das
conquistas da moderna Teoria da Interpretação, por um lado aceita
a criatividade inerente ao processo de concretização normativa,
porém, por outro, impõe ao juiz que se atenha à natureza
predominantemente executória de sua função, o que importa no
dever de observar a moldura jurídica que baliza os seus
movimentos. Não se trata aqui das limitações de ordem formal,
decorrentes do peculiar modo pelo qual os magistrados aplicam o
direito, exercendo a função jurisdicional, e que poderiam ser
expressas no princípio do devido processo legal (em sua acepção
formal) 331. Se as decisões judiciais não são elaboradas livremente
e se, tampouco, a discricionariedade do juiz é tão ampla quanto a do
legislador, é nos limites substanciais que o próprio direito a aplicar
lhe impõe que se há de buscar os critérios para a aferição do
ativismo judiciário, nos termos já anteriormente assinalados 332.
Se o positivismo clássico nos remete ao passivismo, o
pragmatismo e o moralismo jurídico, necessariamente,
desembocam em ativismo judiciário. Quanto ao pragmatismo,
bastaria lembrar o seu ceticismo quanto à possibilidade de
contenção normativa da atividade judiciária, liberando-se o juiz para
decidir de acordo com as necessidades sociais 333. Mas, a
aceitação dos pressupostos teóricos do moralismo jurídico também
constitui fator de impulsão ao ativismo judicial, ainda que sem a
mesma magnitude das concepções pragmáticas no tocante a esse
quesito. A razão disso reside no fundamentalismo axiológico que
está na base do moralismo jurídico, presidindo a ideia de que há
uma ordem objetiva de valores fundamentais que deve servir de
modelo ao direito positivo, atuando o juiz como um autêntico
sacerdote a serviço dessas diretrizes ontológicas. Para tanto, deve
se valer das ambiguidades, contradições e insuficiências de que os
textos normativos são permeados e, principalmente, do controle de
constitucionalidade, que lhe permite recusar validade a atos
legislativos a partir de parâmetros normativos altamente flexíveis e
que se prestam a manipulações argumentativas de toda a espécie.
Não é preciso muito esforço para perceber (e a jurisprudência dos
valores apenas confirma isto) que a atração exercida pelo idealismo
axiológico fatalmente conduz, em algum momento e com maior ou
menor elastério, ao rompimento das barreiras que o direito positivo,
constitucional e infraconstitucional, impõe aos órgãos oficialmente
incumbidos de sua aplicação.
O curioso é que Dworkin, um dos mais influentes representantes
do pensamento moralista, insiste em negar que sua concepção de
direito (como integridade) conduza ao ativismo judiciário, por
pretendê-la mais inflexivelmente interpretativa do que o
convencionalismo (positivismo) ou o pragmatismo 334:
“O ativismo é uma forma virulenta de pragmatismo jurídico.
Um juiz ativista ignoraria o texto da Constituição, a história de
sua promulgação, as decisões anteriores da Suprema Corte que
buscaram interpretá-la e as duradouras tradições de nossa
cultura política. O ativista ignoraria tudo isso para impor a outros
poderes do Estado o seu próprio ponto de vista sobre o que a
justiça exige. O direito como integridade condena o ativismo e
qualquer prática de jurisdição constitucional que lhe esteja
próxima. Insiste em que os juízes apliquem a Constituição por
meio da interpretação, e não por fiat, querendo com isso dizer
que suas decisões devem ajustar-se à prática constitucional, e
não ignorá-la. Um julgamento interpretativo envolve a moral
política, e o faz da maneira complexa que estudamos em vários
capítulos. Mas põe em prática não apenas a justiça, mas uma
variedade de virtudes políticas que às vezes entram em conflito
e questionam umas às outras. Uma delas é a equidade: o direito
como integridade é sensível às tradições e à cultura política de
uma nação, e, portanto, também a uma concepção de equidade
que convém a uma Constituição. A alternativa ao passivismo
não é um ativismo tosco, atrelado apenas ao senso de justiça de
um juiz, mas um julgamento muito mais apurado e
discriminatório, caso por caso, que dá lugar a muitas virtudes
políticas mas, ao contrário tanto do ativismo quanto do
passivismo, não cede espaço algum à tirania” 335.
É preciso bem compreender em que consiste o caráter
interpretativo do direito como integridade. Dworkin rotula de
“passivistas” todas as correntes do intepretativismo (textualismo e
originalismo), bem como as teorias não interpretativistas que
permaneceram fiéis ao positivismo (e.g., o “convencionalismo” de
Hart) ou que seguiram o caminho de um ativismo axiológico restrito
(e.g., o procedimentalismo de Ely) 336. Sua concepção de direito
levaria até as últimas consequências a interpretação do direito
porque, ao contrário do convencionalismo (positivismo) moderado,
que admite a existência de alguma discricionariedade no ato de
interpretar, o direito como integridade postula a existência, mesmo
nos “casos difíceis”, de apenas uma solução hermenêutica
correta 337. Ao contrário do pragmatismo, Dworkin entende não
estar dando ensejo ao ativismo judiciário, porque o seu protótipo de
juiz 338 não decide livremente, guiado apenas pela própria
consciência, e sim vinculado à prática constitucional de um País que
adote a visão do direito como integridade (os Estados Unidos,
segundo Dworkin). O moralismo jurídico de Dworkin, portanto,
concebe uma ordem objetiva de valores encarnada na história de
uma sociedade específica. Destarte, para ele, devem os juízes e
tribunais considerar os precedentes, as leis e a Constituição, porém
não no sentido limitante característico da postura positivista e sim
como parte da tradição política dos Estados Unidos da América.
Outros elementos interpretativos que, à luz do positivismo jurídico,
não possuem o status de fontes do direito, são considerados em pé
de igualdade, como é caso de qualquer documento de valor
histórico que seja portador das mesmas tradições. Em busca da
continuidade dessa ordem de valores historicamente situada admite-
se a transposição dos marcos estritamente jurídicos da atividade
interpretativa, como fica nítido na defesa da absorção da equidade
pela ordem jurídica, via interpretação, por ser isto conveniente à
Constituição (e não compatível com as suas normas, nos limites da
concretização possível) 339. Essa é a marca ativista da proposta
teórica de Ronald Dworkin, conquanto se admita que do direito
como integridade não decorra um ativismo tão acentuado como
aquele que deflui do moralismo fundamentalista de Perry ou das
concepções pragmáticas.
Se no positivismo clássico a interpretação se submete à vontade
do legislador, a consequência do pragmatismo e do moralismo
jurídico é o ativismo subjetivista do intérprete-aplicador; amplo e
explícito no primeiro caso, circunscrito e implícito, no segundo. No
positivismo moderado ou renovado, o que prevalece é a vontade da
lei, não no sentido de um pressuposto prévio, pronto e acabado, que
o juiz tenha que meramente atender, mas no sentido de que o texto
normativo objeto de exegese contém algo de objetivo, que não pode
ser desconsiderado, embora constitua apenas um limite no trabalho
de construção da norma de decisão, em que também conta (embora
não com o mesmo peso) a vontade do intérprete 340. Mais uma vez,
Miguel Reale, em outro exercício de prudência e conhecimento,
deitou página indelével sobre o modo de conciliar criatividade e
obediência ao direito no plano da jurisprudência:
“Não nos atemoriza, em mais esta oportunidade, afirmar que
a verdade está no meio-termo, na conciliação dos extremos,
devendo o juiz ser considerado livre, não perante a lei e os
fatos, mas sim dentro da lei, em razão dos fatos e dos fins que
dão origem ao processo normativo, segundo a advertência de
Radbruch de que a interpretação jurídica, visando o sentido
objetivamente válido de um preceito, ‘não é pura e
simplesmente um pensar de novo aquilo que já foi pensado,
mas, pelo contrário, um saber pensar até o fim aquilo que já
começou a ser pensado por outro’, observação que deve ser
completada com a de que a interpretação de uma norma
envolve o sentido de todo o ordenamento a que pertence” 341.
O ATIVISMO JUDICIAL À LUZ DO DIREITO
CONSTITUCIONAL BRASILEIRO
CARACTERIZAÇÃO DOGMÁTICA DO ATIVISMO
Sumário: 15. Aplicação da Constituição e ativismo. 16. A categoria
retórica das questões políticas. 17. Os diversos graus de
controle judiciário em matéria constitucional: 17.1. Inexistência
de controle: função de governo; 17.2. Controle mínimo:
exercício da jurisdição pelo Poder Legislativo; 17.3. Controle
médio fraco: atos interna corporis, atos de Chefia de Estado e
controle de constitucionalidade fundado em princípios; 17.4.
Controle médio forte: controle de constitucionalidade fundado
em regras e de atos administrativos em que haja
discricionariedade; 17.5. Controle máximo: atos administrativos
plenamente vinculados. 18. A vinculação da interpretação ao
texto-base. 19. As exigências sistêmicas: princípios implícitos e
nexos funcionais. 20. A necessária intervenção legislativa para
o desdobramento de princípios constitucionais. 21. A limitação
eficacial das normas constitucionais. 22. Aspectos específicos
do controle abstrato de normas: 22.1. A modulação dos efeitos
temporais das decisões de controle. 22.2. As sentenças
interpretativas e manipulativas em sentido estrito.
15 Aplicação da Constituição e ativismo
Uma vez conceituado o ativismo judicial como o desrespeito aos
limites normativos substanciais da função jurisdicional, é preciso
situar a temática no contexto de determinado sistema jurídico se
quisermos avançar em relação ao estabelecimento de critérios que
permitam a caracterização de tal ou qual decisão como ativista. No
presente estudo, esse tratamento dogmático do ativismo judiciário
será feito à luz do ordenamento brasileiro e terá por foco apenas a
aplicação da Constituição, ou seja, as decisões versando sobre
matéria constitucional.
Quando se alude à ultrapassagem dos marcos normativos
materiais da função jurisdicional não significa isso, por certo, que
decisões ativistas, necessariamente, ampliem, de modo
juridicamente inaceitável, o campo de incidência projetado por um
enunciado normativo. Os limites substanciais a serem observados
pelo Poder Judiciário no exercício de sua função típica são os
referentes à atividade de interpretação e aplicação que constitui o
seu cerne, a qual sempre considera o conjunto do ordenamento,
seja para fixar o sentido das disposições que o integram, seja para
estabelecer a adequada relação entre elas. A norma de decisão
concretizada pelo juiz poderá desbordar do direito aplicado de
múltiplas formas, como, por exemplo, deixando de reconhecer a
revogação ou a invalidade de dispositivo legal ou ampliando,
reduzindo ou alterando o espaço de interpretação que ele comporta.
No caso de textos normativos veiculadores de conceitos
indeterminados, a incursão do Poder Judiciário na zona de
significação dúbia, conquanto não se possa afirmar desbordante do
dispositivo de base, pode importar em obstaculização do exercício
de discricionariedade legislativa ou administrativa assentada no
princípio da separação dos Poderes, princípio esse que resultaria,
afinal, violado.
Não se discute que o fenômeno do ativismo pode ocorrer na
aplicação de normas de qualquer setor do ordenamento. Todavia, a
busca de parâmetros que permitam a sua identificação em concreto
se revela mais produtiva se for feita levando em conta as
peculiaridades dos preceitos aplicados, podendo, destarte, se
circunscrever a conhecimento dogmático objeto de sistematização
específica, cientificamente autônoma.
A singularidade do ativismo judiciário em matéria constitucional
está, pois, diretamente relacionada às especificidades da atividade
de interpretação e aplicação da Lei Maior, que, dentre outras,
compreendem: a supremacia hierárquica das normas constitucionais
sobre todas as demais do ordenamento, revogando-as ou
invalidando-as em caso de conflito 342; o caráter nomogenético de
boa parte dos preceitos constitucionais, concretizados na estrutura
lógica de normas-princípio, o que amplia sua incidência a outros
quadrantes do ordenamento, porém, torna menos intensa sua
capacidade regulatória direta; a fluidez e a decorrente imprecisão
semântica (vagueza e ambiguidade) da linguagem constitucional,
frequentemente referida a conceitos indeterminados de cunho
valorativo; a fundamentalidade da maior parte das normas
formalmente constitucionais 343, que dizem respeito a aspectos
básicos da organização estatal e de seu relacionamento com a
sociedade civil 344; a posição de supremacia funcional dos órgãos
judiciários com atuação mais decisiva no tocante à interpretação--
aplicação da Constituição, quer por lhes incumbir, a título exclusivo,
o controle de constitucionalidade de atos e omissões legislativas
(sistema europeu), quer por se tratar do órgão de cúpula do Poder
Judiciário e que, nessa condição, tem a palavra final sobre questões
constitucionais (sistema estadunidense).
Diante disso, não se deve restringir o exame do ativismo judicial
de natureza constitucional ao controle de constitucionalidade, ou
seja, à jurisdição constitucional em sentido estrito. Se a essência do
fenômeno está no menoscabo aos marcos normativos que balizam
a atividade de concretização de normas constitucionais por juízes e
tribunais, toda e qualquer situação que envolva a aplicação da
Constituição por esses órgãos há que ser avaliada. Desse modo, o
ativismo pode se dar em sede de fiscalização de atos legislativos ou
administrativo-normativos, mas, também, no âmbito do controle de
atos administrativos de natureza concreta, de atos jurisdicionais
atribuídos a outro Poder ou de atos relativos ao exercício da função
de chefia de Estado 345.
Se, por meio de exercício ativista, se distorce, de algum modo, o
sentido do dispositivo constitucional aplicado (por interpretação
descolada dos limites textuais, por atribuição de efeitos com ele
incompatíveis ou que devessem ser sopesados por outro poder
etc.), está o órgão judiciário deformando a obra do próprio Poder
Constituinte originário e perpetrando autêntica mutação
inconstitucional 346, prática essa cuja gravidade fala por si só. Se o
caso envolve o cerceamento da atividade de outro Poder, fundada
na discricionariedade decorrente de norma constitucional de
princípio ou veiculadora de conceito indeterminado de cunho
valorativo, a par da interferência na função constituinte 347, haverá a
interferência indevida na função correspondente à atividade
cerceada (administrativa, legislativa, chefia de Estado etc.). É de se
ressaltar, portanto, que o ativismo judicial em sede de controle de
constitucionalidade pode agredir o direito vigente sob dois prismas
diversos: pela deformação da normatividade constitucional e pela
deformação, simultaneamente ou não, do direito infraconstitucional
objeto de fiscalização, nessa última alternativa mediante, por
exemplo, a indevida declaração de constitucionalidade ou de
inconstitucionalidade de dispositivo legal ou de variante exegética a
partir dele construída 348 e 349.
16 A categoria retórica das questões políticas
Qualquer tentativa de assentar critérios dogmáticos para a
filtragem das práticas judiciárias, reputando-as ativistas ou não, há
de passar, necessariamente, pela doutrina das questões políticas.
Com efeito, tem sido esse o parâmetro invocado com mais
frequência, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, para
extremar o campo de atuação constitucionalmente franqueado ao
Poder Judiciário, daquele em que lhe é vedada a incursão, sob pena
de infringência ao princípio da separação dos Poderes. E de tal
sorte se tornou fonte inspiradora do self-restraint judicial na Primeira
República que acabou ingressando no corpo da Constituição de 16
de julho de 1934, cujo artigo 68 declarava ser “vedado ao Poder
Judiciário conhecer de questões exclusivamente políticas” 350.
Em monografia dedicada ao tema, José Elaeres Marques Teixeira
anota que “a doutrina das questões políticas surgiu pela primeira
vez na Suprema Corte dos Estados Unidos, simultaneamente com a
doutrina do controle judicial de constitucionalidade” 351. De fato, no
julgamento em que se lançaram as bases do judicial review
(Marbury v. Madison – 1803), o Chief Justice John Marshall fez uma
distinção entre os poderes discricionários conferidos à Presidência
da República pela Constituição e por esta, eventualmente,
delegados aos Secretários de Estado, os quais não admitem
controle jurisdicional, e a atuação vinculada dessas autoridades, que
jamais podem dispor ao seu talante de direitos individuais oponíveis
ao Poder Público 352. Assim, onde “os chefes de administração são
instrumentos políticos e confidenciais do poder Executivo, instituídos
apenas para cumprir as vontades do presidente, ou antes, para
servir em assuntos, nos quais o Executivo exerça discrição legal ou
constitucional (...), perfeitamente óbvio é que seus atos não são
examináveis senão politicamente”. Porém, de outra parte, “onde a
lei estatui especificamente um dever, e há direitos individuais,
dependentes da observância deste, igualmente manifesto é que
qualquer indivíduo, que se considere agravado, tem o direito de
recorrer, em procura de remédio, às leis do país”. Rui Barbosa, de
cuja pena provieram as transcrições, em vernáculo, da lição de
Marshall, afirma que o seguinte excerto condensaria a fórmula
utilizada pelo célebre magistrado a propósito do dilema das
questões políticas:
“A esfera do tribunal é unicamente decidir acerca dos direitos
individuais, não investigar de que modo o Executivo (ou seus
funcionários) se desempenha de encargos cometidos à sua
discrição” 353.
Aliás, se deve ao trabalho competente e persistente de Rui junto
ao Supremo Tribunal Federal, na condição de advogado, a
importação ao Brasil da political question doctrine, tendo atuado,
especialmente, para evitar uma deturpação ou má compreensão
dessa construção teórica que deixasse ao desamparo direitos
individuais, simplesmente por se estar diante de matéria inserida em
“região política”, “impenetrável à autoridade da justiça” 354.
Em Atos inconstitucionais, o célebre jurista baiano deixou
consignado que “a questão pode ser política (no sentido que nos
interessa: no sentido estrito) por três modos: pela natureza do
assunto, pela forma que a controvérsia assumir, pelos termos em
que a resolverem”. A politicidade da questão quanto à forma estava
relacionada ao exame da constitucionalidade de uma lei ou ato
normativo enquanto objeto principal do processo (controle principal),
sendo que uma questão de constitucionalidade também se
caracterizaria como política se fosse resolvida em termos
abrangentes (eficácia erga omnes), que não se circunscrevessem
ao caso julgado, como etapa necessária para se chegar à “fixação
do direito dos litigantes” 355. Como se percebe, aqui a teoria das
questões políticas foi utilizada para demarcar os limites formais
impostos à atuação do Poder Judiciário em sede de fiscalização de
constitucionalidade, à luz das características do sistema de controle
de padrão estadunidense 356. No entanto, o que mais importa aos
fins da investigação em curso é examinar o que Rui considerava
questão política por sua natureza, algo que se conecta diretamente
ao tema dos limites materiais da função jurisdicional. Pois é nesse
ponto que as contribuições precursoras da jurisprudência e doutrina
estadunidenses sobre as political questions foram transpostas por
Rui Barbosa ao direito brasileiro, de acordo com a fórmula clássica
de Marshall, que combinava a ideia de discricionariedade
(legislativa, administrativa, de chefia de Estado etc.) com a de
respeito aos direitos e liberdades individuais. Em suma, o exercício
de poderes discricionários importa sempre em avaliações presididas
pelo binômio conveniência e oportunidade (escolhas quanto à
presença dos pressupostos, ao momento, ao próprio conteúdo da
medida a ser adotada etc.), as quais, entretanto, devem ser feitas
nos estritos limites admitidos pelo ordenamento e em sintonia com
os elementos inteiramente vinculados do ato a praticar (por
exemplo, a competência). Uma vez rompido o círculo no qual se
movimenta livremente o órgão ou a autoridade em favor de quem se
reconhece a discricionariedade e, desde que presente a lesão a
direito subjetivo, a justificar a intervenção do Poder Judiciário,
poderá este reparar a lesão causada sem qualquer empeço. Dos
escritos de Rui sobre o tema, pode-se inferir que não há
propriamente matérias de natureza política, em que a atuação do
Poder Público seja inteiramente discricionária e, portanto, imune ao
controle judiciário; o que há são aspectos discricionários de
determinadas matérias de elevada conotação política,
constitucionalmente reguladas 357.
No entanto, na já centenária história, entre nós, do uso da
categoria das questões políticas como parâmetro de autocontenção
do Poder Judiciário, o que se verifica é que a procura de
fundamentos para não conhecer de ações envolvendo questões
politicamente delicadas levou o Supremo Tribunal Federal, nos
primórdios de sua jurisprudência (como também o fez a Suprema
Corte americana), a maximizar a amplitude da cláusula de exclusão,
fazendo coincidir o conceito de questão política com o de matéria
política. Em outras palavras, a sua incompetência para decidir se
orientaria por um critério material (ratione materiae), e não por um
critério funcional (ratione muneris). Haveria, assim, assuntos
impenetráveis ao controle jurisdicional, mesmo que neles
aflorassem questões jurídicas, como é o caso da violação à
Constituição, o que se afigura manifestamente contrário aos
princípios do Estado Constitucional de Direito.
O caso mais emblemático de maximização da cláusula das
questões políticas pelo Supremo Tribunal Federal é o representado
pelo julgamento do Habeas Corpus n. 300, impetrado por Rui
Barbosa em favor de pessoas presas por ordem do Presidente
(interino) Floriano Peixoto, durante período de intensas
conturbações políticas provocadas pela negativa de convocação de
eleições para a Presidência da República (que vagara em razão da
renúncia de Deodoro da Fonseca), sob o fundamento de suspensão
das garantias constitucionais em razão da decretação de estado de
sítio. A decretação de estado de sítio sempre figurou nas listas de
matérias propícias à incidência da cláusula de exclusão, porém isso
não autorizava, em harmonia com os ensinamentos de Marshall, o
Supremo Tribunal a deixar ao desabrigo os direitos individuais dos
pacientes, declarando-se impossibilitado de anular “as medidas de
segurança decretadas pelo Presidente da República, visto ser
impossível isolar esses direitos da questão política” 358. José
Elaeres Marques Teixeira equipara a decisão do STF no HC n. 300,
em 1892, à decisão da Suprema Corte ao julgar o caso Colegrove v.
Grenn 359, em que se questionava a delimitação dos distritos
eleitorais no Estado de Illinois, em face do princípio da igualdade do
direito de voto (one man, one vote), assegurado pela 14ª Emenda,
tendo a Corte estadunidense deixado de apreciar a questão sob o
“argumento de que a natureza do conflito recomendava que se
abstivesse de julgar” 360. Como observa o referido autor, “nota-se de
comum nos dois casos a demonstração de fraqueza (institucional)
dos integrantes de ambas as Cortes” 361.
No tocante à jurisprudência da Suprema Corte dos Estados
Unidos, a decisão de Colegrove v. Grenn não chegou a constituir um
autêntico precedente na matéria, por haver se apartado da estrutura
clássica da political question doctrine, retomada e consolidada em
julgados mais recentes 362. No Brasil, poucos anos após o
julgamento do HC n. 300, a jurisprudência começou a evoluir na
direção do modelo em que se abeberara Rui Barbosa 363, podendo-
se considerar consolidada ao ensejo do julgamento do Mandado de
Segurança n. 1.423, em que se questionou a extensão do prazo de
duração de convocação extraordinária do Congresso Nacional para
além do termo final da legislatura em curso, em detrimento do início
de nova legislatura 364.
A cláusula das questões políticas, por conseguinte, não se presta
à identificação de matérias subtraídas do controle judiciário, ao
menos no tocante aos atos legislativos, administrativos ou
pertinentes à função de chefia de Estado, precisamente os que
foram considerados na formação da political question doctrine 365.
Na verdade, a fórmula segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário
se manifestar sobre tais questões, pela distorção de sentido a que
pode conduzir em uma primeira leitura, não é das mais felizes, como
já prenunciara Sampaio Dória, em 1926 366. A redação encontrada
pelo Constituinte de 1934, de inspiração na doutrina estadunidense
(purely political questions), não eliminou a ambiguidade apontada ao
vedar ao Judiciário o conhecimento apenas das questões
exclusivamente políticas, pois o que há, de rigor, são aspectos
exclusivamente políticos de uma questão (no sentido de matéria) e
não questões meramente políticas. Daí a crítica aguda que lhe
desferiu Pontes de Miranda:
“(...) de modo que o art. 68 da Constituição de 34, em vez de
dizer ‘é vedado ao Poder Judiciário conhecer de questões
exclusivamente políticas’, poderia ter dito ‘questões
exclusivamente entregues aos Poderes Legislativo e Executivo’.
Seria, apenas, tautológico. Melhor técnica é a das Constituições
que se abstêm de dar critérios discriminativos, ou de formular
regras jurídicas como a da Constituição de 1934” 367.
Além do caráter dúbio do substantivo “questões”, a expressão
“questões políticas” revela-se extremamente vaga, por força do
adjetivo “políticas”, servindo para cobrir uma ampla variedade de
atos estatais, de natureza díspar. Essa a razão pela qual, no Brasil e
nos Estados Unidos, a doutrina sentiu-se compelida a elaborar listas
indicativas de matérias em que poderiam, mais facilmente, aflorar
political questions, ou seja, matérias que ensejavam o exercício de
algum poder discricionário da parte dos Poderes não togados. Se a
exemplificação era inevitável para tornar compreensível a técnica de
contenção da função jurisdicional, as listagens de matérias mais
intensamente políticas reforçaram a distorção anteriormente
apontada, de se conferir completa imunidade de fiscalização judicial
nesses assuntos 368. Assim como não há ato inteiramente
discricionário 369, não existem matérias totalmente políticas e, por
isso, excluídas de apreciação judicial:
“Onde quer que haja poder discricionário há atividade política;
nem por isso, saltando o órgão agente as lindas da sua
competência, se veda ao Poder Judiciário o conhecimento da
questão eminentemente jurídica, como lhe caberia conhecer de
qualquer questão de devolução de competência. Toda
discricionariedade é interior, é ‘dentro’; nesse branco, que as
raias das atribuições concedem, é que o aspecto ou a dimensão
é só concernente à política. O que é difícil (...) é que a questão
política não possa, em certas circunstâncias, fundamentar pleito
legal, apresentar aspecto, lado, caráter ou dimensão política; de
modo que o princípio de não cognição do caso político deve ser
entendido como se estivesse escrito: ‘É vedado ao Poder
Judiciário conhecer de questões que não tenham sido postas
sob a forma de ação em juízo, ou por não serem suscetíveis de
se proporem como tais, ou porque não as enunciou como tais o
autor, ou, na reconvenção, o réu’. Sempre que se discute se é
constitucional, ou não, o ato do Poder Executivo, ou do Poder
Judiciário, ou do Poder Legislativo, a questão judicial está
formulada, o elemento político foi excedido, e caiu-se no terreno
da questão jurídica” 370.
O exame das inúmeras listas de matérias ensejadoras de
discricionariedade política, como aquela composta por Rui Barbosa,
na esteira da melhor doutrina estadunidense 371, torna visível a
enorme plasticidade da categoria teorética das questões políticas,
que recobre atos sujeitos a regimes extremamente diferenciados,
alguns concernentes à função legislativa (e.g., a fixação do regime
tributário ou o exercício da sanção e do veto), outros à função de
chefia de Estado (e.g., a declaração de guerra ou a celebração de
tratados) e outros, ainda, à função administrativa (a distribuição
orçamentária da despesa e o provimento dos cargos federais). A
amplitude da base material da cláusula de exclusão prossegue
sendo a sua marca característica, como se pode comprovar pelo
seu uso na jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal
Federal, que vislumbra questões políticas: nos atos interna corporis
do Poder Legislativo, como aqueles relativos ao desenvolvimento do
processo legislativo sob a égide de disposições regimentais das
Casas do Congresso ou ao exercício da função de controle
parlamentar (e.g., a constituição e o funcionamento de comissões
parlamentares de inquérito) 372; no desempenho excepcional de
função judicante pelo Senado Federal, em matéria de crimes de
responsabilidade 373; na responsabilização político-disciplinar de
parlamentares 374; na apreciação dos pressupostos para a edição
de medidas provisórias 375 etc. 376.
A versatilidade da cláusula das questões políticas, que tem sido
invocada como autêntica fórmula mágica, justificadora de toda sorte
de autocontenção judiciária (devesse esta ocorrer ou não) 377, se
explica, por um lado, o seu uso frequente na jurisprudência, resulta,
por outro, em sua inconsistência enquanto critério dogmático para
aferir o desbordamento ou não da jurisdição constitucional (lato
sensu) dos marcos que lhe são assinalados pela Constituição
aplicada. Com efeito, a discricionariedade do Poder Legislativo na
regulação normativa ostenta latitude que não pode ser equiparada à
da discrição inerente ao ato presidencial de decretação da
intervenção federal. De outra parte, nem todo ativismo judicial pode
ser contido pela invocação dos poderes discricionários dos órgãos
emissores dos atos controlados, ao mesmo tempo em que a
deformação no uso da cláusula, como já se viu, pode redundar em
passivismo judiciário, extremamente pernicioso ao Estado de Direito
e à supremacia da Constituição. Entendo, pois, que a denominada
“doutrina” das questões políticas constitui mera cortina de fumaça,
que mal disfarça a existência de categoria meramente retórica e de
nenhum valor científico. Em outros termos, a mencionada cláusula
de exclusão não consubstancia um parâmetro dogmático sólido de
avaliação da função jurisdicional, na tentativa de proscrever práticas
ativistas, devendo ser afastada em prol da construção de critérios
efetivamente consistentes e que não deem ensejo a
deformações 378. A desvalia da political question doctrine, enquanto
parâmetro para a identificação do ativismo judicial em matéria
constitucional, não interfere nas tentativas doutrinárias de
construção da categoria dos atos políticos, muito embora também
aqui se registre o problema da amplitude e diversidade de objeto,
razão da preferência pela utilização decomposta, em que se tomam
as subclasses de atos usualmente apontados como políticos (atos
legislativos, atos relativos às funções de governo ou de chefia de
Estado etc.) 379.
17 Os diversos graus de controle judiciário em
matéria constitucional
No Brasil, a doutrina não tem se dedicado à identificação e
sistematização dos diversos graus de intensidade pelos quais se
desenvolve o controle jurisdicional dos atos do Poder Público, ao
contrário do que sucede alhures.
Nos Estados Unidos, por exemplo, se admite a existência de três
standards de controle de constitucionalidade, tendo como referência
a distinta proteção que, segundo se entende, a Constituição
dispensa aos direitos fundamentais. Com efeito, a consolidação da
teoria das liberdades preferenciais (preferred freedoms),
correspondentes aos direitos de cunho pessoal (liberdades de
expressão do pensamento, de reunião, de associação, de imprensa,
de religião etc.), em meados do século passado, importou na
submissão de toda a legislação que de algum modo as afete a um
teste estrito de constitucionalidade, por meio do qual se exige a
cabal demonstração de ser ela indispensável à proteção de
interesses constitucionais de superior monta (em face das
especificidades da situação regulada). Em sentido oposto, desde
1937, com a reversão do ativismo conservador que deu azo ao
“governo dos juízes” 380, as leis atinentes a direitos econômicos e
sociais (direitos patrimoniais) passaram a receber um escrutínio
muito menos severo da Suprema Corte, segundo o qual apenas
seriam declaradas inconstitucionais se não passassem por um teste
de racionalidade. Em nível intermediário, estaria situada a
fiscalização de constitucionalidade de leis que contenham cláusulas
de discriminação por razões de sexo ou que promovam
discriminação positiva por critério étnico 381.
De toda sorte, no estudo pioneiro de Seabra Fagundes sobre O
controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário já se pode
divisar a existência de diferentes níveis de controle jurisdicional
tendo por objeto atos do Poder Público. O notável jurista potiguar,
primeiramente, faz alusão a situações excepcionais que, em nosso
direito, estariam excluídas do controle judicial, por importarem em
exercício anômalo da função jurisdicional por órgão estranho ao
Poder Judiciário (o caso mais típico seria o do processo e
julgamento dos chamados crimes de responsabilidade) 382. Além
disso, no terreno dos atos administrativos a extensão do controle
jurisdicional seria mais ou menos ampla, dependendo da presença
ou não de apreciação de mérito, deferida com exclusividade ao
Poder Executivo 383.
Entendo que deflui do próprio direito constitucional brasileiro a
gradação do controle exercido pelo Poder Judiciário em relação a
atos praticados pelos demais Poderes (ou por ele próprio, em
matéria administrativa), refletindo-se, ademais, na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. O que urge fazer é explicitá-la, com o
intuito de sistematização, criando-se, desse modo, valioso
instrumento para se aferir o caráter ativista ou não de determinada
decisão judicial.
17.1 Inexistência de controle: função de governo
Consoante já se deixou patenteado 384, a transformação do
Estado liberal-democrático em um Estado social-democrático fez
com que se alterasse profundamente o modo de expressão
institucional do princípio da separação dos Poderes, tanto no que
concerne ao elenco de funções estatais, quanto à configuração dos
órgãos que as desempenham, bem como em relação à distribuição
das funções entre os órgãos e ao modo de seu exercício 385.
Não se concebe nenhuma descrição das funções estatais,
respaldada pelas Constituições democráticas da atualidade, pouco
importando a estrutura dual ou monocrática do Poder Executivo, que
deixe de fazer referência ao que se convencionou denominar de
função de governo. No Brasil, em que o Executivo é monocrático, de
par com a modelagem presidencialista emprestada ao sistema de
governo, assiste-lhe o exercício de atividades de natureza
diversificada, que podem ser agrupadas em quatro conjuntos
principais, correspondentes: à função de chefia de Estado, à função
de governo, à participação na função legislativa e à função
administrativa 386. Nos Estados parlamentaristas, ocorre a cisão
orgânica do Poder Executivo, distinguindo-se a Chefia de Estado do
Governo (em sentido estrito). Subsiste, todavia, a pluralidade de
atividades de natureza diversa confiadas a este segundo órgão,
razão pela qual não se pode identificar como função de governo
tudo aquilo que faz o órgão denominado Governo 387. Na verdade, a
observação de Canotilho de que “não há uma caracterização
constitucional-material da função política ou de governo” 388 é válida
para a expressiva maioria dos sistemas constitucionais
contemporâneos, o que remete a incumbência ao plano doutrinário.
Na lição de Pietro Virga, “o conteúdo da função de governo é
dado pela determinação do direcionamento político, que condiciona
toda a atividade estatal no seu conjunto e na sua unidade”. Destarte,
“mediante a função de governo, são estabelecidos os fins do Estado
e traçadas as diretrizes para a coordenação e desenvolvimento das
três funções estatais” 389. Não se pode esquecer, entretanto, que “a
função de governo (indirizzo politico) é uma função, em
primeiríssimo lugar, de execução da Constituição”, como assinala
Paolo Barile, que também a caracteriza como uma função de
escolha das diretrizes políticas básicas que devem comandar a ação
estatal. Algumas delas já são prefixadas, direta ou indiretamente,
pela própria Constituição, cabendo ao Governo detalhá-las e
estabelecer a estratégia para alcançá-las (o que importa na fixação
de uma certa ordem de prioridades e em certa contextualização
temporal). Outras diretrizes da política governamental podem ser
tidas como contingentes, já que razoavelmente distanciadas da
Constituição, porém, “também esses fins, secundários sob um perfil
constitucional, mas sempre primários sob perspectiva histórica,
convertem-se em programas legislativos” 390.
O que se observa é que a função de governo, na maioria das
vezes, se desenvolve mediante a elaboração de programas de
governo, de planos de ação, globais ou setoriais, compreendendo,
ainda, a busca do engajamento dos demais Poderes e da sociedade
civil em relação às diretrizes traçadas. Ora, essas atividades
raramente assumem forma jurídica, permanecendo, via de regra,
adstritas à esfera política. A sua vocação natural, entretanto, é a de
se espraiar por toda as atividades estatais, deflagrando providências
legislativas, administrativas (de caráter normativo e não normativo) e
até mesmo jurisdicionais, sempre sob a impulsão do Governo, a
quem as Constituições social-democráticas conferem poderes para
tanto 391.
Enquanto se mantenha no plano exclusivamente político, a
função de governo revela-se judicialmente incontrolável, o que é
simples de demonstrar: em primeiro lugar, por não envolver a prática
de atos concretos, capazes de afetar a esfera jurídico-subjetiva de
quem quer que seja; em segundo lugar, porque mesmo o controle
preventivo da constitucionalidade de atos do Poder Público jamais
retroage a ponto de surpreender a planificação política da ação
governamental 392. É certo que, por vezes, a função de governo se
reveste de forma legislativa, se manifestando por meio de diplomas
legais que não veiculam normas gerais e abstratas e sim programas
de ação governamental, de abrangência maior ou menor, porém
sempre dimensionados tendo em vista uma concreta situação fática.
Desse teor, as leis pertinentes à programação da despesa pública
(plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual) ou as
que aprovam planos e programas nacionais, regionais ou setoriais
de desenvolvimento 393. Cuida-se de atos formalmente legislativos,
porém materialmente governativos, os quais, entretanto, se
submetem à fiscalização de constitucionalidade não pelo conteúdo e
sim pela forma que apresentam, a qual os submete ao regime de
controle jurisdicional próprio dos atos legislativos 394.
17.2 Controle mínimo: exercício de jurisdição pelo Poder
Legislativo
Uma das hipóteses sempre lembradas de exercício atípico de
função estatal entre nós é a do processo e julgamento do Presidente
da República e de algumas outras autoridades 395 pela prática de
crime de responsabilidade, atividade essa da competência do
Senado Federal, nos termos do artigo 52, incisos I e II, da
Constituição de 1988. Com efeito, trata-se do exercício de função
jurisdicional pelo Senado 396, precedido de autorização da Câmara
dos Deputados, por dois terços de seus membros, no caso de
processo contra o Presidente da República, o Vice-Presidente ou os
Ministros de Estado 397. Uma vez satisfeita a condição de
procedibilidade (admissibilidade da acusação pela Câmara), o
processo se instaura e se desenvolve perante o Senado Federal, a
quem compete, igualmente, o julgamento de mérito, limitando-se o
veredicto condenatório, que exige o voto de dois terços dos
Senadores, à imposição da perda do cargo, com inabilitação por oito
anos para o exercício de função pública 398. Por se cuidar de
sanção de natureza político-administrativa, admite-se a apuração de
responsabilidade criminal em relação aos mesmos fatos e, se for o
caso, a aplicação de sanção penal pela instância judiciária
competente 399. Reforça estar o Senado investido de função
jurisdicional ao conduzir e julgar o impeachment a circunstância de
assumir a presidência da Casa, para esse fim, o Presidente do
Supremo Tribunal Federal 400.
Ora, em relação a essa prestação jurisdicional anômala por órgão
do Poder Legislativo, no âmbito material estrito em que ela se dá,
sofre o Poder Judiciário forte restrição no tocante ao controle
jurisdicional amplo que, enquanto garantia constitucional, lhe
compete exercer 401. Não se lhe permite, por exemplo, substituir a
decisão de mérito proferida pelo Senado, sob qualquer viés
(apreciação da prova, interpretação do dispositivo--sede a que se
subsumiriam os fatos da acusação etc.) 402. Entretanto, na
jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal a partir
da década de noventa, especialmente em função do processo de
impeachment do Presidente Fernando Collor de Mello, estabeleceu-
se que existe, ainda que em um grau mínimo, o controle das
instâncias judiciárias sobre aquela atividade jurisdicional exercida
pelo Senado. Assim é que o princípio do devido processo legal e
seus consectários no plano formal (ampla defesa, contraditório, etc.)
deve ser observado pela Câmara Alta nos processos por crime de
responsabilidade de sua competência, sob pena de, em não o
fazendo, sujeitar-se à intervenção reparadora do Poder
Judiciário 403. Aliás, mesmo na fase preliminar à instauração do
processo propriamente dito, objetivando o juízo de admissibilidade
da acusação a ser proferido pela Câmara dos Deputados, entendeu-
se que deve o Judiciário velar pela observância da ampla defesa ao
acusado 404.
Além da responsabilização político-administrativa de altas
autoridades da República, da competência do Poder Legislativo, há,
pelo menos, mais uma situação em que o controle exercido pelo
Poder Judiciário, em matéria constitucional, é de grau mínimo.
Refiro-me ao controle sobre o veto presidencial a projetos de lei
aprovados pelo Congresso Nacional, nos termos do artigo 66, § 1º,
da Constituição Federal 405. Não obstante as razões de veto
possam versar sobre matéria jurídica, qual seja, a existência de
vícios de ordem constitucional que maculariam a propositura,
entende-se ser impossível, in casu, a dissociação entre a questão
jurídica e a apreciação de mérito, tendo em vista a natureza
eminentemente política do órgão que maneja o instrumento
legislativo. Mas, se não é lícito controlar na esfera jurisdicional o
acerto ou não dos motivos apresentados pelo Chefe do Executivo
para se opor à conversão em lei de projetos aprovados pelas Casas
do Legislativo 406, também não se pode dizer que inexista
fiscalização judicial nessa matéria. Pode o Judiciário, por exemplo,
reconhecer a intempestividade de veto oposto fora do prazo
constitucional ou a invalidade e, portanto, a ineficácia obstativa
daquele que não estiver acompanhado de motivação.
17.3 Controle médio fraco: atos interna corporis, atos de
chefia de Estado e controle de constitucionalidade
fundado em princípios
A partir da década de sessenta, começou a ganhar autonomia na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, relativamente às
questões ditas políticas, a categoria dos atos concernentes à
economia interna das Casas Legislativas, identificados pela
expressão “atos interna corporis”. Todavia, apenas a partir da
década de oitenta, com a agudização dos embates parlamentares
por força do processo de “abertura política” e o decorrente aumento
do número de controvérsias regimentais submetidas ao Supremo,
veio a se consolidar, claramente, um padrão de controle jurisdicional
específico para os litígios em que a matéria fática sub judice é
disciplinada, exclusivamente, por normas regimentais do Poder
Legislativo 407.
A diretriz de que os atos praticados no âmbito do Parlamento, em
aplicação unicamente de normas regimentais, devam merecer um
controle bem menos intenso da parte do Poder Judiciário restou
evidenciada na jurisprudência do STF em face de controvérsias
envolvendo o processo legislativo. Na apreciação da preliminar de
não conhecimento suscitada no Mandado de Segurança n. 22.503-
3/DF, impetrado por Deputados Federais contra ato do Presidente
da Câmara relativo à tramitação da PEC n. 33-A/95 (reforma da
previdência), firmou-se o entendimento de que as normas
regimentais sobre o processo legislativo seriam meramente
ordinatórias e, portanto, insuscetíveis de violar direitos subjetivos de
parlamentares, sendo, pois, a discussão sobre a sua adequada
observância imune à fiscalização jurisdicional. Ao contrário, se a
impugnação de ato integrante do iter procedimental de elaboração
legislativa se fizesse com fundamento na violação de dispositivo
constitucional, estaria habilitado o Poder Judiciário a dela
conhecer 408. A bem de ver, essa orientação já houvera sido
defendida, embora sem tanta precisão, por Themístocles Brandão
Cavalcanti, mais de trinta anos antes 409.
Você também pode gostar
- A defesa da Constituição: participação democrática no controle de constitucionalidadeNo EverandA defesa da Constituição: participação democrática no controle de constitucionalidadeAinda não há avaliações
- Resenha Crítica Fundamentos Do Direito ProcessualDocumento7 páginasResenha Crítica Fundamentos Do Direito ProcessualFernandaAinda não há avaliações
- PEREIRA, Ana L P - Jurisdição Const - Na Const 88Documento33 páginasPEREIRA, Ana L P - Jurisdição Const - Na Const 88Flavia BrazzaleAinda não há avaliações
- SSRN Id2633948Documento28 páginasSSRN Id2633948Gabriel PintoAinda não há avaliações
- A Hermenêutica Constitucional Sob o Paradigma Do Estado Democrático de DireitoDocumento14 páginasA Hermenêutica Constitucional Sob o Paradigma Do Estado Democrático de DireitodinizaAinda não há avaliações
- Limites Da Jurisdição ConstitucionalDocumento16 páginasLimites Da Jurisdição ConstitucionalPietro CerqueiraAinda não há avaliações
- 03 CANTARELLI, Priscila Dalla Porta Niederauer. Uma Análise Dos Métodos Clássicos de Interpretação ConstitucionalDocumento17 páginas03 CANTARELLI, Priscila Dalla Porta Niederauer. Uma Análise Dos Métodos Clássicos de Interpretação ConstitucionalJosé SiqueiraAinda não há avaliações
- Ativismo Judicial Ou Criação Judicial Do Direito - Os ConstitucionalistasOs ConstitucionalistasDocumento9 páginasAtivismo Judicial Ou Criação Judicial Do Direito - Os ConstitucionalistasOs ConstitucionalistasAlef AugustoAinda não há avaliações
- RESENHA: "O Que É Isto, Decido Conforme Minha Consciência?" de Lênio Luiz StreckDocumento4 páginasRESENHA: "O Que É Isto, Decido Conforme Minha Consciência?" de Lênio Luiz StreckGabiy Vasconcelos100% (1)
- Democracia e Desconfiança: Uma Análise Do Procedimentalismo em John Hart ElyDocumento20 páginasDemocracia e Desconfiança: Uma Análise Do Procedimentalismo em John Hart ElyMarcio MelloAinda não há avaliações
- Arnaldo Vasconcelos - A Questão Das Normas Constitucionais Sem JuridicidadeDocumento25 páginasArnaldo Vasconcelos - A Questão Das Normas Constitucionais Sem JuridicidadeGaiden AshtarAinda não há avaliações
- Artigo - Contraditório e Fundamentação - Professor Gustavo FariaDocumento30 páginasArtigo - Contraditório e Fundamentação - Professor Gustavo FariaAndre Freire de AlmeidaAinda não há avaliações
- Arguição OralDocumento4 páginasArguição OraloselieriAinda não há avaliações
- A Sociedade Aberta Dos Intérpretes Da ConstituiçãoDocumento2 páginasA Sociedade Aberta Dos Intérpretes Da ConstituiçãoEmanuelle OliveiraAinda não há avaliações
- A Hermeneutica Const - MenelickDocumento11 páginasA Hermeneutica Const - MenelickCícero Machado ConstantinoAinda não há avaliações
- 9149 Artigo 15290 1 10 20200629Documento42 páginas9149 Artigo 15290 1 10 20200629Beatriz LourençoAinda não há avaliações
- Hermeneutica ResumoDocumento7 páginasHermeneutica ResumoDaniel CorreaAinda não há avaliações
- Democracia e DesconfiançaDocumento23 páginasDemocracia e DesconfiançadanpiovanelliAinda não há avaliações
- Resenha Crítica - FMT - HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL - Os Princípios e Métodos Da Moderna Hermenêutica ConstitucionalDocumento15 páginasResenha Crítica - FMT - HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL - Os Princípios e Métodos Da Moderna Hermenêutica ConstitucionalJonathas FelipeAinda não há avaliações
- ColisaoDocumento12 páginasColisaoRodrigo OoAinda não há avaliações
- Ativismo Judicial, Autorestrição Judicial e o "Minimalismo"Documento21 páginasAtivismo Judicial, Autorestrição Judicial e o "Minimalismo"MikeGomesAinda não há avaliações
- Ativismo e Instrumentalidade Do ProcessoDocumento18 páginasAtivismo e Instrumentalidade Do ProcessoMarcosBarretoAinda não há avaliações
- Paulo Ferreira Da Cunha - Hermenêutica Constitucional - Entre Savigny e o Neoconstitucionalismo PDFDocumento20 páginasPaulo Ferreira Da Cunha - Hermenêutica Constitucional - Entre Savigny e o Neoconstitucionalismo PDFjair_ufrnAinda não há avaliações
- Princípios e Métodos Da Moderna Hermenêutica Constitucional - Análise Com Breves Incursões em Matéria Tributária - Revista Jus Navigandi - Doutrina e PeçasDocumento14 páginasPrincípios e Métodos Da Moderna Hermenêutica Constitucional - Análise Com Breves Incursões em Matéria Tributária - Revista Jus Navigandi - Doutrina e PeçasGuilherme AraújoAinda não há avaliações
- Resumo de John Austin, Hans Kelsen e HLA HartDocumento8 páginasResumo de John Austin, Hans Kelsen e HLA HartAndréAinda não há avaliações
- Constitucionalismo Cabo-Verdiano - Grupo 2Documento16 páginasConstitucionalismo Cabo-Verdiano - Grupo 2jaimearaujo2bAinda não há avaliações
- Lenio Luiz Streck - A Revolução Copernicana Do Neoconstitucionalismo e A (Baixa) Compreensão Do Fenômeno No Brasil - Uma AbDocumento34 páginasLenio Luiz Streck - A Revolução Copernicana Do Neoconstitucionalismo e A (Baixa) Compreensão Do Fenômeno No Brasil - Uma AbMateus Barbosa Gomes AbreuAinda não há avaliações
- RBDC 09 337 Andre - Ramos - TavaresDocumento12 páginasRBDC 09 337 Andre - Ramos - TavaresFrancisco JúniorAinda não há avaliações
- Conceito Do DireitoDocumento18 páginasConceito Do DireitoLeonardo CamaraAinda não há avaliações
- 01alexandre Araujo Costa - Judiciário e Interpretação - Entre Direito e PolíticaDocumento38 páginas01alexandre Araujo Costa - Judiciário e Interpretação - Entre Direito e PolíticaAl FernandesAinda não há avaliações
- Teoria Geral Da Infração - José Sousa e Brito (Documento17 páginasTeoria Geral Da Infração - José Sousa e Brito (Ines VieiraAinda não há avaliações
- Luigi Ferrajoli - Constitucionalismo Principialista y Constitucionalismo GarantistaDocumento39 páginasLuigi Ferrajoli - Constitucionalismo Principialista y Constitucionalismo GarantistaNatália LoboAinda não há avaliações
- DWORKIN Ronald. O Imperio Do Direito-289-297Documento9 páginasDWORKIN Ronald. O Imperio Do Direito-289-297Richiele AbadeAinda não há avaliações
- CAPPELLETTI, Mauro. O Controle Judicial de Constitucionalidade Das Leis No Direito ComparadoDocumento4 páginasCAPPELLETTI, Mauro. O Controle Judicial de Constitucionalidade Das Leis No Direito ComparadokarovastraAinda não há avaliações
- AlexyDocumento22 páginasAlexyThiago Abrahao SoaresAinda não há avaliações
- Princípios e Regras Prof Virgilio AfonsoDocumento12 páginasPrincípios e Regras Prof Virgilio Afonsomarcelo barrosAinda não há avaliações
- Unidade Iv Pronta TCDocumento7 páginasUnidade Iv Pronta TCFernanda AbreuAinda não há avaliações
- Direito Judicial e TeoriaDocumento23 páginasDireito Judicial e TeoriayabarrenaevanAinda não há avaliações
- Resumo II - Daniel - SarmentoDocumento1 páginaResumo II - Daniel - SarmentoJoão LealAinda não há avaliações
- Breves Considerações Sobre o Direito Processual ConstitucionalDocumento19 páginasBreves Considerações Sobre o Direito Processual ConstitucionalFilipe AlcântaraAinda não há avaliações
- Os Direitos Fundamentais e A Incerteza Do DireitoDocumento79 páginasOs Direitos Fundamentais e A Incerteza Do DireitoRebeca Guerreiro MachadoAinda não há avaliações
- Por Um Constitucionalismo Inclusivo PDFDocumento6 páginasPor Um Constitucionalismo Inclusivo PDFEvandro AlencarAinda não há avaliações
- Mutação ConstitucionalDocumento3 páginasMutação ConstitucionalAny CostaAinda não há avaliações
- Reflexões Sobre o JusnaturalismoDocumento16 páginasReflexões Sobre o JusnaturalismoClaudia PortellaAinda não há avaliações
- Prova de Teoria Do Direito e Da Política 17.06.2013 - Com GabaritoDocumento5 páginasProva de Teoria Do Direito e Da Política 17.06.2013 - Com GabaritoThiago Rodrigues PereiraAinda não há avaliações
- Artigo Lenio Luiz Streck HermeneuHERMENÊUTICA, NEOCONSTITUCIONALISMO E "O PROBLEMA DISCRICIONARIEDADE DOS JUÍZES"Documento31 páginasArtigo Lenio Luiz Streck HermeneuHERMENÊUTICA, NEOCONSTITUCIONALISMO E "O PROBLEMA DISCRICIONARIEDADE DOS JUÍZES"lugusthAinda não há avaliações
- Jurisdição Constitucional Resumo PDFDocumento40 páginasJurisdição Constitucional Resumo PDFAdriano SilvaAinda não há avaliações
- O STF e a prisão em segunda instância: contradições da suprema corte nos julgamentos sobre a presunção de inocênciaNo EverandO STF e a prisão em segunda instância: contradições da suprema corte nos julgamentos sobre a presunção de inocênciaAinda não há avaliações
- Primeira Avaliacao Obejtiva de Defesa Da Constituicao Noturno 2022 2 DocxDocumento5 páginasPrimeira Avaliacao Obejtiva de Defesa Da Constituicao Noturno 2022 2 DocxYasmin LoboAinda não há avaliações
- A Norma Jurídica Espécies Normativo JurídicasDocumento27 páginasA Norma Jurídica Espécies Normativo JurídicasfabbiorhAinda não há avaliações
- Sobre A Interpretação Sistemática Do DireitoDocumento15 páginasSobre A Interpretação Sistemática Do DireitoFelipe BarbosaAinda não há avaliações
- Konrad Hesse - Elementos de Direito Constitucional AlemãoDocumento68 páginasKonrad Hesse - Elementos de Direito Constitucional AlemãoLuis Felipe0% (1)
- Hans Kelsen Texto TesteDocumento16 páginasHans Kelsen Texto TesteFatima FernandesAinda não há avaliações
- Efeito - Backlash.jurisdicao - Constitucional 7Documento30 páginasEfeito - Backlash.jurisdicao - Constitucional 7Fabio PradoAinda não há avaliações
- Supremacia da Constituição e Controle de Constitucionalidade no BrasilNo EverandSupremacia da Constituição e Controle de Constitucionalidade no BrasilAinda não há avaliações
- RIBEIRO MOREIRA - NeoconstitucionalismoDocumento22 páginasRIBEIRO MOREIRA - NeoconstitucionalismoAnonymous PaHSbiOCAinda não há avaliações
- João Maurício Adeodato - Adeus À Separação Dos PoderesDocumento10 páginasJoão Maurício Adeodato - Adeus À Separação Dos PoderesBeatriz PedrosaAinda não há avaliações
- Fichamento - A Instrumentalidade Do ProcessoDocumento27 páginasFichamento - A Instrumentalidade Do ProcessoGuilherme CabriniAinda não há avaliações
- Dicas-Teoria Da ConstituiçãoDocumento10 páginasDicas-Teoria Da ConstituiçãoEstudante EstudandoAinda não há avaliações
- Processo Civil Juliano Colombo 08004011 Partes1 Parte1 Finalizado EadDocumento21 páginasProcesso Civil Juliano Colombo 08004011 Partes1 Parte1 Finalizado EadRoberta SilvaAinda não há avaliações
- Interceptação Telefônica Comentada para ConcursosDocumento20 páginasInterceptação Telefônica Comentada para ConcursosLuciana FariasAinda não há avaliações
- Justiça Determina Eleições Suplementares em Município de SergipeDocumento12 páginasJustiça Determina Eleições Suplementares em Município de SergipeNE NotíciasAinda não há avaliações
- Gabarito DiscrussivaDocumento3 páginasGabarito Discrussivathiagosx100% (1)
- ad44e0bb-a191-43e4-9d5e-b2fd4ac7719bDocumento21 páginasad44e0bb-a191-43e4-9d5e-b2fd4ac7719bkleyton julienne CasalAinda não há avaliações
- Ação Popular Contra Prefeito Roberto França Farra Das ContrataçõesDocumento7 páginasAção Popular Contra Prefeito Roberto França Farra Das ContrataçõesHaroldo AssunçãoAinda não há avaliações
- Edital Verticalizado - PCCEDocumento14 páginasEdital Verticalizado - PCCEcleciasilva2001Ainda não há avaliações
- Lei 8.112-90 SlidesDocumento110 páginasLei 8.112-90 SlidesDaniela Lima BarrosAinda não há avaliações
- Grupo de DefesaDocumento4 páginasGrupo de DefesaMARIA EDUARDA CAMACHOAinda não há avaliações
- Dasdasd SDocumento11 páginasDasdasd SLuiz MacielAinda não há avaliações
- Relatorio Completo - Iniciativa Por Direitos Reparacao e JusticaDocumento80 páginasRelatorio Completo - Iniciativa Por Direitos Reparacao e JusticaMichel MagalhãesAinda não há avaliações
- Da I Rita Preto Sebenta de Direito Administrativo I Das Auals Da DR Fernanda Paula 20152016Documento81 páginasDa I Rita Preto Sebenta de Direito Administrativo I Das Auals Da DR Fernanda Paula 20152016Margarida MarquesAinda não há avaliações
- 8º LP Atividade 2 Gênero Estatuto Estratégias e Procedimentos de Leitura em Textos Legais e Normativos PontuaçãoDocumento6 páginas8º LP Atividade 2 Gênero Estatuto Estratégias e Procedimentos de Leitura em Textos Legais e Normativos PontuaçãoDanielly LorranyAinda não há avaliações
- Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)Documento48 páginasAcordo de Não Persecução Penal (ANPP)Rogers FerreiraAinda não há avaliações
- Curso 181955 Aula 20 7eec CompletoDocumento130 páginasCurso 181955 Aula 20 7eec CompletoAndréAinda não há avaliações
- Contrarrazões Agravo de Instrumento e Recurso de Revista. EdinelsonDocumento11 páginasContrarrazões Agravo de Instrumento e Recurso de Revista. EdinelsonVinicius Melo100% (1)
- Curso 183039 Aula 08 4102 CompletoDocumento239 páginasCurso 183039 Aula 08 4102 CompletoEduardo YanAinda não há avaliações
- Sindicância Policial Militar: AutuaçãoDocumento174 páginasSindicância Policial Militar: Autuaçãoreinaldo diasAinda não há avaliações
- DECRETO #11.436, DE 15 DE MARÇO DE 2023 - DECRETO #11.436, DE 15 DE MARÇO DE 2023 - DOU - Imprensa NacionalDocumento4 páginasDECRETO #11.436, DE 15 DE MARÇO DE 2023 - DECRETO #11.436, DE 15 DE MARÇO DE 2023 - DOU - Imprensa Nacionaljackson_ufobAinda não há avaliações
- Artigo José Wellington - RePro - v.41, n.258, Ago.2016Documento25 páginasArtigo José Wellington - RePro - v.41, n.258, Ago.2016juuliacampassiAinda não há avaliações
- Teoria Pura Do DireitoDocumento22 páginasTeoria Pura Do DireitoLuisa FreitasAinda não há avaliações
- Art ReformaDocumento2 páginasArt ReformauriasAinda não há avaliações
- Direito Penal-208 A 212Documento9 páginasDireito Penal-208 A 212Edilaine Direito4Ainda não há avaliações
- TJ SP49832865 Recursos Parte IDocumento46 páginasTJ SP49832865 Recursos Parte IDiego BarretoAinda não há avaliações
- E-Book Tchê, É Bom Estudar! L Prof. Nidal AhmadDocumento124 páginasE-Book Tchê, É Bom Estudar! L Prof. Nidal AhmadLola EunAinda não há avaliações
- Recurso Ordinário - Prática Simulada Do TrabalhoDocumento7 páginasRecurso Ordinário - Prática Simulada Do TrabalhoLuiz ZanottiAinda não há avaliações
- Captura de Tela 2021-07-27 À(s) 14.41.46Documento25 páginasCaptura de Tela 2021-07-27 À(s) 14.41.46Evanilson PrimeiroAinda não há avaliações
- Linhas de Pesquisas para o Curso de Direito 2021Documento5 páginasLinhas de Pesquisas para o Curso de Direito 2021Sinélcio SamuelAinda não há avaliações
- Marcação de Artigos e Remissões - 2 Fase - Direito AdministrativoDocumento15 páginasMarcação de Artigos e Remissões - 2 Fase - Direito AdministrativoNellylton Borges Dos SantosAinda não há avaliações
- Doe 2021-12-08 CompletoDocumento128 páginasDoe 2021-12-08 CompletoColégio HelenaCelestinoMagalhãesAinda não há avaliações