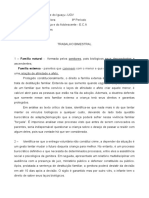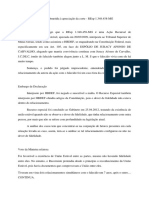Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
DPC1
Enviado por
luiz.zampier0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações13 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações13 páginasDPC1
Enviado por
luiz.zampierDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 13
1 Alienação
A responsabilidade civil no âmbito do Direito de Família não se limita
às relações matrimoniais ou de união estável, estendendo-se à parentalidade,
englobando as relações entre pais e filhos. Um exemplo dessa aplicação é a
responsabilidade civil por abandono afetivo, também conhecido como
abandono paterno-filial ou teoria do desamor.
Esta responsabilidade decorre do princípio da solidariedade social
ou familiar, expresso no art. 3º, inc. I, da Constituição Federal, sendo aplicado
imediatamente a uma relação privada. Segundo Rodrigo da Cunha Pereira, o
exercício da paternidade e maternidade é um bem indisponível para o Direito
de Família, cuja negligência deliberada acarreta sérias repercussões psíquicas,
justificando a intervenção legal e imposição de sanções.
O jurista fundamenta a reparabilidade dos danos sofridos na
dignidade da pessoa humana, destacando que o Direito de Família deve ser
congruente com esse princípio, exigindo cuidado e responsabilidade nas
relações familiares, independentemente da natureza do vínculo parental. A
omissão voluntária em conviver com o filho, conforme Pereira, viola o princípio
da dignidade humana, dando ensejo à possibilidade de indenização.
Além dos danos morais, o jurista sugere a consideração de uma
indenização suplementar pela perda da chance de convivência com o pai.
Rodrigo da Cunha Pereira, presidente Nacional do IBDFAM, teve participação
na primeira ação judicial que reconheceu a indenização extrapatrimonial por
abandono filial, conhecida como caso Alexandre Fortes. Nessa ocasião, o
Tribunal de Alçada de Minas Gerais condenou um pai a pagar indenização por
danos morais ao filho, fundamentando a decisão nos princípios da dignidade da
pessoa humana e da afetividade.
A professora Gisele Maria Fernandes Novaes Hironaka, renomada
jurista do Direito de Família e Responsabilidade Civil, também endossa a
possibilidade de indenização em casos semelhantes, alinhando-se ao
entendimento firmado no julgado mineiro.
A responsabilidade dos pais, sob a ótica contemporânea do Direito
de Família, consiste em proporcionar o desenvolvimento e a liberdade dos
filhos, rompendo com a antiga visão patriarcal. Essa compreensão destaca a
importância de atender às necessidades emocionais dos filhos, estabelecendo
laços afetivos positivos na vida familiar.
No entanto, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
reformou uma decisão anterior do Tribunal de Minas Gerais, afastando a
obrigação de indenizar por abandono afetivo. O STJ argumentou que a
reparação por dano moral requer a prática de um ato ilícito, e o abandono
afetivo não seria passível de compensação financeira.
Essa decisão do STJ não encerrou o debate sobre a indenização por
abandono afetivo na doutrina. Para alguns, especialmente se houver um dano
psíquico comprovado por meio de prova psicanalítica, deve-se reconhecer o
dever de indenizar em tais casos.
O desrespeito ao dever de convivência, expresso no art. 1.634 do
Código Civil, que atribui aos pais a direção da criação dos filhos e o dever de
tê-los em sua companhia, e no art. 229 da Constituição Federal, que
estabelece o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, configura um
ato ilícito conforme o art. 186 do Código Civil, caso cause danos.
Em 2012, o Superior Tribunal de Justiça revisou sua posição anterior
sobre a reparação civil pelo abandono afetivo no caso Luciane Souza. A
decisão afirmou que não existem restrições legais à aplicação das normas de
responsabilidade civil no Direito de Família, reconhecendo a possibilidade de
compensação por dano moral em casos de abandono afetivo. A Ministra Nancy
Andrighi destacou a obrigação inescapável dos pais de fornecer auxílio
psicológico aos filhos, fundamentando a presença do ilícito e da culpa do pai
pelo abandono.
A julgadora enfatizou a ideia de "amar é faculdade, cuidar é dever",
indicando que o cuidado como valor jurídico objetiva justifica a compensação
por danos morais decorrentes do abandono afetivo. O Tribunal reduziu o
quantum reparatório fixado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
exemplificando a aplicação do princípio da solidariedade e a função
pedagógica da responsabilidade civil.
Espera-se que esse posicionamento prevaleça na jurisprudência,
visando desencorajar futuros casos de abandono. No entanto, ainda há
divergências jurisprudenciais, com alguns casos reconhecendo o ato ilícito e o
dever de indenizar, enquanto outros o afastam. Por exemplo, um acórdão
estadual reconheceu o abandono afetivo e reduziu a indenização,
considerando o período de não abandono. Outro julgado reconheceu
indenização por abandono materno-filial, destacando o desfazimento da
afetividade ao longo dos anos.
No cenário jurídico, há divergências quanto à possibilidade de
indenização por abandono afetivo. Algumas decisões, alinhadas à primeira
orientação do Tribunal da Cidadania, afirmam que o abandono afetivo não
configura um ato ilícito passível de reparação, baseando-se no pressuposto do
art. 186 do Código Civil.
Pesquisas recentes indicam que, predominantemente, nos
julgamentos estaduais, as decisões tendem a afastar a indenização por
abandono afetivo, principalmente devido à falta de prova do dano e do nexo de
causalidade. Para reverter essa conclusão, é recomendável formular pedidos
de maneira clara, incluindo a instrução ou realização de prova psicossocial do
dano sofrido pela vítima.
Mesmo no Superior Tribunal de Justiça (STJ), existem acórdãos que
não admitem a reparação de danos por abandono afetivo antes do
reconhecimento da paternidade. No entanto, essa posição não é compartilhada
por todos, havendo divergências de entendimento.
Cabe ressaltar o caso emblemático julgado pelo STJ no Recurso
Especial 1.159.242/SP, que reconheceu a possibilidade de indenização por
abandono afetivo. A autora da ação, Luciane Souza, buscava, segundo
entrevista, apenas um mínimo de atenção de seu pai, algo que nunca foi
alcançado. A decisão do STJ representa uma abertura para casos similares,
compensando perdas imateriais irreparáveis sofridas por filhos abandonados
afetivamente. As palavras do autor refletem a importância da indenização para
vítimas desse tipo de abandono.
A responsabilidade civil na parentalidade também pode surgir em
casos de alienação parental, caracterizada pela interferência na formação
psicológica da criança ou adolescente promovida por um dos genitores. A
alienação pode envolver desqualificação do outro genitor, dificuldade no
exercício da autoridade parental, restrições ao contato entre a criança e o
genitor alienado, omissão de informações relevantes, apresentação de falsas
denúncias e mudança de domicílio sem justificativa para dificultar o convívio.
A Lei n. 12.318/2010, conhecida como Lei da Alienação Parental,
define o ato de alienação parental e enumera situações específicas. Além de
prejudicar o direito fundamental da criança à convivência familiar saudável, a
prática de alienação parental configura abuso moral, sendo considerada
descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental.
A responsabilidade civil do alienador, por abuso de direito, é objetiva,
não dependendo de culpa, conforme o Enunciado n. 37 da I Jornada de Direito
Civil. A alienação parental, ao ultrapassar os limites estabelecidos pela
Constituição Federal e pelo Código Civil, pode resultar em responsabilização
civil, sendo uma forma de abuso de direito.
A jurisprudência e a doutrina reconhecem a natureza objetiva da
responsabilidade civil na alienação parental, desconsiderando a necessidade
de culpa ou dolo. A Lei da Alienação Parental estabelece procedimentos
prioritários para casos em que haja indício desse tipo de comportamento,
visando proteger o direito da criança à convivência familiar saudável.
A Lei da Alienação Parental (Lei n. 12.318/2010) estabelece medidas
para preservar a integridade psicológica da criança ou adolescente em casos
de alienação parental. O juiz, ouvido o Ministério Público, pode adotar medidas
para garantir a convivência da criança com o genitor, incluindo visitação
assistida, exceto em situações de risco iminente à integridade física ou
psicológica, devidamente atestado por profissional designado pelo juiz.
Em casos de indício de alienação parental, o juiz pode determinar
perícia psicológica ou biopsicossocial, com prazo de 90 dias para apresentação
do laudo. O laudo deve considerar entrevistas com as partes, exame de
documentos, histórico do relacionamento do casal, cronologia de incidentes,
avaliação da personalidade dos envolvidos e a manifestação da criança sobre
as acusações contra o genitor.
O art. 6° da Lei da Alienação Parental prevê que, comprovada a
alienação parental, o juiz pode adotar diversas medidas, como declarar a
ocorrência da alienação, advertir o alienador, ampliar o regime de convivência
familiar, estipular multa, determinar acompanhamento psicológico, alterar a
guarda para compartilhada, fixar cautelarmente o domicílio da criança e
declarar a suspensão da autoridade parental.
Quanto à responsabilização civil do alienador, alguns casos
jurisprudenciais reconhecem a indenização por danos morais. Exemplos
incluem situações em que a alienação parental é comprovada, causando danos
psicológicos às crianças, com hostilidades constantes e afirmações infundadas
contra o genitor alienado. Em tais casos, tribunais têm mantido decisões que
reconhecem a existência do dano moral e determinam a responsabilização do
alienador.
O último caso analisado destaca uma situação peculiar de alienação
parental entre irmãs, denominada como "alienação parental ao inverso." O
reconhecimento dessa prática configura um dever de indenizar, conforme
jurisprudência apresentada.
Para que a responsabilização civil do alienador seja efetiva, é
imprescindível comprovar o dano sofrido pelo filho, demandando estudos
psicossociais específicos para avaliar seu estado psíquico. Um julgamento do
Tribunal do Distrito Federal ressalta a necessidade de avaliação imparcial
nesses estudos, alertando que a documentação unilateral produzida pelo pai
não é suficiente para reparação por danos morais.
O trecho final destaca que a indenização por danos morais não deve
servir como mecanismo de censura comportamental, sugerindo a resolução de
conflitos por meio de diálogo sem intervenção estatal.
Além disso, para estabelecer a responsabilidade civil do alienador, é
crucial comprovar o nexo de causalidade entre o prejuízo sofrido e suas ações.
Em um caso específico, o Tribunal gaúcho enfatiza que o atraso no pagamento
de pensão alimentícia por parte do alimentante não caracteriza
automaticamente alienação parental. Quanto ao dolo e à culpa, o autor defende
a aplicação da teoria objetiva, dispensando a prova desses elementos, devido
à presença do abuso de direito na alienação parental, conforme o art. 187 do
Código Civil de 2002.
2 Processo
Os meios de impugnação às decisões judiciais são categorizados
em recursos e ações autônomas. Recurso, no contexto brasileiro, é definido
como um remédio voluntário capaz de provocar, dentro da mesma relação
jurídica processual, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração
de uma decisão judicial. Esta concepção contrasta com a visão de José Carlos
Barbosa Moreira, que enfatiza que o recurso, no direito processual civil
brasileiro, é um remédio voluntário apto a promover, dentro do mesmo
processo, a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração de uma decisão
judicial impugnada, destacando que isso ocorre dentro do mesmo processo,
não necessariamente dos mesmos autos.
O texto aborda a distinção entre princípios e regras no contexto
jurídico. Enquanto as regras prescrevem condutas de forma específica e com
sanções claras para o descumprimento, os princípios são normas jurídicas
expressas ou não, presentes no ordenamento, que moldam valores para
diversas situações e exigem uma interpretação mais flexível. Destaca-se que
os princípios possibilitam a ponderação de valores e interesses, enquanto as
regras não permitem flexibilidade, exigindo cumprimento integral. A
coexistência e ponderação dos princípios em casos de conflito são ressaltadas,
contrastando com a natureza antinômica das regras. J. J. Gomes Canotilho
destaca que os princípios são normas jurídicas impositivas de otimização,
permitindo o balanceamento de valores e interesses, enquanto as regras são
normas que prescrevem imperativamente uma exigência. O texto ainda
menciona a função jurisdicional na construção da norma, a importância do
precedente judicial e a tendência do novo Código de Processo Civil em evitar a
não admissibilidade dos recursos, direcionando os processos para o
julgamento de mérito.
Os princípios que regem os recursos no processo civil, destacando
uma peculiaridade interessante. Enquanto áreas como o Direito Civil e
Comercial, predominantemente vinculadas ao Direito Privado, possuem
princípios explicitamente definidos na legislação (cláusulas gerais, como os
arts. 421 e 422 do CC/2002), o Direito Processual Civil, pertencente ao âmbito
do Direito Público e caracterizado por maior formalismo, opera com princípios
que não são positivados. Esses princípios são identificados por meio de uma
interpretação sistemática do ordenamento jurídico.
Dentre os princípios mencionados, merecem destaque o princípio do
duplo grau de jurisdição, o princípio da taxatividade dos recursos, o princípio da
unirrecorribilidade e, em certa medida, o princípio da fungibilidade. Este último
é abordado em relação a algumas disposições do CPC/2015, que o aplicam
explicitamente em situações como a interposição dos embargos de declaração
no lugar do agravo interno e a escolha entre o recurso especial e o
extraordinário (arts. 1.024, § 3.º, 1.033 e 1.032 do CPC/2015,
respectivamente), juntamente com outros princípios discutidos adiante.
No contexto pós-Revolução Francesa, a preocupação com possíveis
abusos de poder por parte dos juízes levou a uma resistência inicial ao
princípio do duplo grau de jurisdição. Havia receios de um tribunal elitista
exercendo poder sobre os magistrados de primeira instância, refletindo uma
mentalidade de casta. Essa apreensão limitou os tribunais a "cassarem"
decisões, remetendo os autos para instâncias inferiores, sem a típica reforma
das decisões como ocorre atualmente.
O princípio do duplo grau, fundamentalmente, busca corrigir erros e
imperfeições presentes nas decisões de primeira instância, admitindo um
reexame que lança novas luzes sobre a matéria em disputa. No entanto,
ressalta-se que a superioridade do segundo pronunciamento não é garantida
na prática, apenas presumida.
Embora a Constituição de 1924 tenha sido a única a prever
expressamente o duplo grau de jurisdição, a Constituição atual de 1988
também o contempla, mas com limitações. O STF, por exemplo, conhece casos
em grau de recurso ordinário e extraordinário, e a CF/1988 especifica situações
em que cabe recurso ordinário ou extraordinário, além de estabelecer a
irrecorribilidade das decisões do TSE, salvo contrariedade à Constituição.
É importante notar que, embora o princípio do duplo grau de
jurisdição esteja previsto na CF/1988, sua incidência não é ilimitada, sendo
circunscrito por disposições constitucionais específicas. O "Art. 25. Proteção
judicial" da Convenção Americana sobre Direitos Humanos é mencionado, mas
sua aplicação parece focar em violações de direitos fundamentais em
contextos específicos, sem consolidar a generalização desse princípio para
todo o direito processual civil.
No âmbito jurídico, os autores destacam que nenhum ordenamento
permite que as partes criem recursos conforme seus interesses, o que levaria a
uma prolongada indefinição nos litígios. A competência para disciplinar os
recursos é reservada à lei federal, garantindo a predeterminação de sua
tipificação, conforme o artigo 22, I, da CF/1988.
O autor menciona os "sucedâneos recursais", remédios que, embora
sirvam aos objetivos dos recursos, substituem-nos. Exemplos incluem a
"correição parcial", o "mandado de segurança" e outros, como "remessa
obrigatória", "pedido de reconsideração", "habeas corpus", "embargos de
terceiro", "ação rescisória", "cautelar inominada", "reclamação" e "suspensão
da liminar ou da sentença para evitar dano de difícil reparação". Certos writs
constitucionais, como habeas data e mandado de injunção, não são
considerados, pois não impugnam diretamente resoluções judiciais.
No contexto do novo CPC, que permite às partes estipular "negócios
jurídicos processuais", questiona-se se poderiam renunciar antecipadamente a
recursos em transações extrajudiciais ou outros contratos, especialmente
quanto à utilização das vias judiciais (arts. 190 e 200 do CPC/2015). Nas
transações judiciais, é comum que as partes abram mão dos prazos para
interposição de recursos, acelerando a implementação de acordos. A doutrina
diverge sobre a admissibilidade dessa renúncia prévia ao direito recursal, mas
há opiniões favoráveis, sustentando que as partes podem, por meio de acordo,
convencionar que o processo será decidido definitivamente em uma instância
específica, afastando resistências à renúncia antecipada ao direito de recorrer.
O princípio da singularidade, também conhecido como
unirrecorribilidade ou unicidade, estabelece que para cada ato judicial
recorrível, o ordenamento jurídico prevê apenas um único recurso, proibindo a
interposição simultânea ou cumulativa de outros recursos com o mesmo
propósito de impugnar o referido ato judicial. Essa disposição era expressa no
CPC de 1939, conforme o art. 809, e embora tenha sido mantida no CPC de
1973 e no de 2015, sua formulação atual depende de interpretação sistemática,
encontrando-se nos arts. 496 e 994.
A aplicação desse princípio demanda uma análise cuidadosa de
decisões judiciais objetivamente complexas, como aquelas proferidas no
saneamento do processo, que podem conter diversas decisões interlocutórias.
Exemplos incluem a sentença que concede ou revoga a tutela antecipatória de
mérito e o acórdão que possibilita recursos especiais e extraordinários.
A manutenção do princípio da unirrecorribilidade não é
comprometida mesmo diante da adoção da teoria dos "capítulos da sentença",
defendida por juristas como Dinamarco, Barbosa Moreira, José Rogério Cruz e
Tucci. Essa teoria destaca a autonomia de cada decisão, considerando-as
como capítulos integrantes de um único ato formal, como a sentença. A
relevância está em assegurar que cada decisão, mesmo integrada a um ato
mais amplo, seja passível de um único recurso, respeitando a regra com suas
exceções.
O princípio da fungibilidade, embora não tenha previsão explícita no
CPC/1973 e CPC/2015, é reconhecido pela doutrina e jurisprudência, estando
presente em situações específicas. De acordo com o CPC/1939, o art. 810
tratava expressamente desse princípio, estabelecendo que, salvo má-fé ou erro
grosseiro, a parte não seria prejudicada pela interposição equivocada de um
recurso por outro, sendo os autos encaminhados à Câmara ou Turma
competente para julgamento.
Nos cenários em que há dúvida objetiva sobre qual recurso utilizar,
divergência doutrinária ou jurisprudencial na classificação de atos judiciais, ou
quando o juiz profere um pronunciamento diferente do esperado, o princípio da
fungibilidade pode ser aplicado. É fundamental destacar a ausência de "erro
grosseiro" nesses casos.
O CPC/2015, ao padronizar os prazos de recursos em 15 dias
(exceto embargos de declaração), reduz a relevância prática em situações
como a dúvida entre agravo de instrumento e apelação, uma vez que ambos
devem ser interpostos dentro do prazo estabelecido.
O novo CPC apresenta dispositivos que consagram a fungibilidade,
como o art. 1.024, § 3.º, referente aos embargos de declaração recebidos
como agravo interno, exigindo complementação das razões recursais. Além
disso, os arts. 1.032 e 1.033 tratam da fungibilidade entre recurso especial e
recurso extraordinário, possibilitando o encaminhamento ao STJ ou STF, a
depender da natureza da questão.
Embora a fungibilidade atenda a determinados requisitos, é
importante considerar que sua aplicação pode entrar em conflito com o
princípio contemporâneo da instrumentalidade das formas, que busca
direcionar o processo para a efetivação das pretensões legítimas apresentadas
em Juízo.
O Princípio da Dialeticidade estabelece que é ônus do recorrente
fundamentar o recurso no ato da interposição. Diferentemente do processo
penal, onde o recurso pode ser fundamentado posteriormente, todos os
recursos no processo civil devem ser fundamentados de imediato. Isso
possibilita à parte contrária oferecer sua resposta, estabelecendo o
contraditório na fase recursal. A fundamentação deve ser dialética e discursiva,
envolvendo a exposição dos motivos que justificam o pedido de reexame da
decisão.
Esse princípio decorre da interpretação sistemática de dispositivos
do CPC/1973 e do CPC/2015, como os arts. 514, II e III; 524, I e II, 536; 540;
541, I, II e III, e parágrafo único, in fine, no CPC/1973, e arts. 1.010, II, III e IV;
1.016, II e III; 1.023; 1.028; 1.029, I, II, III e § 1.º, no CPC/2015. Na redação
original do art. 531 (embargos infringentes) do CPC/1973, exigia-se que o
recurso fosse interposto de modo articulado, "por artigos".
A simetria entre o decidido e o alegado no recurso é necessária,
sendo um requisito para a admissibilidade do recurso. O CPC/2015 estabelece
que o recurso deve "impugnar especificamente os fundamentos da decisão
recorrida" (art. 932, inc. III do CPC/2015), impedindo fundamentações
genéricas desvinculadas dos fundamentos da decisão recorrida, para preservar
o contraditório.
Quanto ao Princípio da Voluntariedade, o recurso é composto por
duas partes distintas sob o aspecto de conteúdo: a declaração expressa da
insatisfação com a decisão (elemento volitivo) e os motivos dessa insatisfação
(elemento de razão ou descritivo). A insatisfação, que gera a vontade de
recorrer, é uma manifestação do princípio dispositivo na fase recursal. A
exceção a esse princípio refere-se à remessa obrigatória (apelação ex officio),
em que o juiz pode determinar a subida dos autos, mesmo sem a manifestação
da parte interessada. A vontade de recorrer deve ser claramente expressa pela
parte que busca a reforma ou invalidação do ato judicial impugnado.
O Princípio da Irrecorribilidade (em separado) das decisões
interlocutórias é um ponto de relevância na política legislativa, determinando se
será ou não admitido recurso contra as decisões apresentadas ao órgão
judiciário desde o início do processo. Existem duas soluções radicais opostas
para esse problema: uma nega a possibilidade de impugnar qualquer
interlocutória, deixando para o recurso contra a decisão final acumular todas as
impugnações, independentemente da matéria; a outra torna as interlocutórias
recorríveis desde o início, permitindo a revisão pelo Juízo superior questão por
questão, à medida que o processo avança.
Ambos os regimes têm vantagens e desvantagens. O primeiro evita
perturbações, delongas e despesas decorrentes da reiterada interposição de
recursos, mas pode prejudicar a rápida correção de erros que poderiam causar
danos irreparáveis. O segundo possibilita a correção rápida de erros, mas pode
acarretar inconvenientes pela necessidade de processamento contínuo.
O CPC/1973 adotou o princípio da recorribilidade ampla das
interlocutórias, estabelecendo o agravo retido como regra e o agravo de
instrumento como exceção. O CPC/2015, pelo menos inicialmente, parece
buscar uma via média.
O Princípio da Complementaridade estabelece que o recorrente
pode complementar a fundamentação de seu recurso já interposto se houver
alteração ou integração da decisão devido ao acolhimento de embargos de
declaração. Essa complementação é permitida, mas não se permite a
interposição de novo recurso, a menos que a decisão modificativa ou
integrativa altere a natureza do pronunciamento judicial.
A jurisprudência tradicional veda o conhecimento da apelação
interposta quando ainda pende decisão de embargos de declaração a ela
opostos (apelação prematura). No entanto, o art. 1.024, § 5.º, do CPC/2015
estabelece uma exceção, indicando que se os embargos de declaração forem
rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso
interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de
declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.
O Princípio da Consumação destaca que a prática de qualquer ato
processual imediatamente produz a constituição, modificação ou extinção de
direitos processuais. No contexto dos recursos, a consumação é relevante, por
exemplo, para as razões de apelação, que não comportam ampliações ou
modificações após sua interposição.
Em relação à impugnação no bojo de contrarrazões, o § 1.º do art.
1.009 do CPC/2015 estabelece que as questões resolvidas na fase de
conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de
instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em
preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas
contrarrazões. Isso não afeta diretamente o Princípio da Unirrecorribilidade,
pois esse dispositivo permite que certas questões possam ser suscitadas nas
contrarrazões ou na apelação, dependendo do caso.
O Princípio da Proibição da Reformatio in Pejus visa impedir que, no
julgamento de recursos, especialmente na apelação, o órgão ad quem profira
decisão mais desfavorável ao recorrente do que o provimento impugnado.
Também conhecido como "princípio do efeito devolutivo" e "princípio da coisa
julgada parcial", sua finalidade é evitar que o tribunal possa decidir de maneira
a prejudicar a situação do recorrente, extrapolando o âmbito de devolutividade
fixado com a interposição do recurso ou por não haver recurso da parte
contrária.
É importante destacar que essa proibição não se relaciona ao
conhecimento de questões de ordem pública, as quais podem ser examinadas
a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sendo até mesmo
pronunciadas de ofício pelo juiz ou tribunal.
O § 3.º do art. 1.013 do CPC/2015 estabelece situações em que o
tribunal deve decidir o mérito imediatamente, inclusive reformando a sentença.
Já o § 4.º do mesmo artigo dispõe que, quando o tribunal reformar uma
sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, se possível, deverá
julgar o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do
processo ao juízo de primeiro grau.
O art. 488 do CPC/2015 tempera esse dispositivo, estabelecendo
que, quando possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for
favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do
art. 485. Esse artigo busca assegurar que, nos casos em que há a
possibilidade de resolver o mérito favoravelmente ao recorrente, o juiz o faça,
evitando uma reforma prejudicial ao recorrente.
Você também pode gostar
- Sebenta - Edição-De-09 - 01 - 2017 FAMILIA E MENORES PDFDocumento375 páginasSebenta - Edição-De-09 - 01 - 2017 FAMILIA E MENORES PDFAnonymous QKUuPuAinda não há avaliações
- Abandono Afetivo Parental 2Documento6 páginasAbandono Afetivo Parental 2JOSÉ NEVESAinda não há avaliações
- Análise Do Acórdão Judicial Do Terceiro Caso Do Seminário Temático: Abandono Afetivo E Papel Do JudiciárioDocumento4 páginasAnálise Do Acórdão Judicial Do Terceiro Caso Do Seminário Temático: Abandono Afetivo E Papel Do Judiciáriobt6vrbdggcAinda não há avaliações
- PRINCÍPIOSDocumento15 páginasPRINCÍPIOSEstudar atepassarAinda não há avaliações
- Pesquisa Sobre Abandono Afetivo e MaterialDocumento12 páginasPesquisa Sobre Abandono Afetivo e MaterialEduarda GrabskiAinda não há avaliações
- Indenização Civil Por Abandono Afetivo de Menor Perante A Lei BrasileiraDocumento10 páginasIndenização Civil Por Abandono Afetivo de Menor Perante A Lei BrasileiramarcinhasrpAinda não há avaliações
- TCC Completo Diane LouiseDocumento21 páginasTCC Completo Diane LouiseDiane Louise Pimenta BarbosaAinda não há avaliações
- Aula 2 - Princípios Do Direito Das FamíliasDocumento31 páginasAula 2 - Princípios Do Direito Das FamíliasEstudar atepassarAinda não há avaliações
- O Abandono Afetivo Como Forma de Abandono de IncapazDocumento4 páginasO Abandono Afetivo Como Forma de Abandono de IncapazronaldodiasprofAinda não há avaliações
- Abandono AfetivoDocumento23 páginasAbandono AfetivoJose Evilazio EvilazioAinda não há avaliações
- STJ - Abandono Afetivo - Dano MoralDocumento49 páginasSTJ - Abandono Afetivo - Dano MoralMario Alves Jr.Ainda não há avaliações
- Sentença PDFDocumento6 páginasSentença PDFeduardobmaciel2000Ainda não há avaliações
- Trabalho Sobre Abandono AfetivoDocumento6 páginasTrabalho Sobre Abandono AfetivoJéssica PaganotteAinda não há avaliações
- Resumo, Introdução e ConclusãoDocumento4 páginasResumo, Introdução e ConclusãoNayara RoqueAinda não há avaliações
- PROJETO DE LEI #4.053, DE 2008 (Brasil)Documento9 páginasPROJETO DE LEI #4.053, DE 2008 (Brasil)RicardoAinda não há avaliações
- Indenização Por Dano Moral em Invest. PaternidadeDocumento20 páginasIndenização Por Dano Moral em Invest. PaternidadebritoaugustoAinda não há avaliações
- Abandono AfetivoDocumento4 páginasAbandono AfetivoCarolina CadranelAinda não há avaliações
- Infelizmente A Alienação Parental É Realidade No Brasil-1Documento7 páginasInfelizmente A Alienação Parental É Realidade No Brasil-1JeffwcAinda não há avaliações
- Pai É Condenado A Indenizar Filho Por Abandono Afetivo - TJDFT - Tribunal de Justiça Do Distrito Federal e Dos TerritóriosDocumento2 páginasPai É Condenado A Indenizar Filho Por Abandono Afetivo - TJDFT - Tribunal de Justiça Do Distrito Federal e Dos TerritóriosAngelo MestrinerAinda não há avaliações
- Debate Alienação ParentalDocumento6 páginasDebate Alienação ParentalERICA MACÁRIO CARVALHO DE OLIVEIRAAinda não há avaliações
- Dano Moral Decorrente de Abandono Afetivo - TCC Camila JardiDocumento43 páginasDano Moral Decorrente de Abandono Afetivo - TCC Camila JardiFernando TorresAinda não há avaliações
- Atividade Avaliativa - Direito Civil FamíliaDocumento4 páginasAtividade Avaliativa - Direito Civil FamíliaVinicius DantasAinda não há avaliações
- Modelo de Projeto Monografia 2023Documento11 páginasModelo de Projeto Monografia 2023Michelem RibeiroAinda não há avaliações
- Alienação Parental (Artigo)Documento3 páginasAlienação Parental (Artigo)Ana Carolina Varanda CamposAinda não há avaliações
- Trabalho 2 Bimestre ECADocumento3 páginasTrabalho 2 Bimestre ECAAline Izabelle VeraAinda não há avaliações
- Consequências Civis PsicossociaisDocumento32 páginasConsequências Civis PsicossociaisJhuly SouzaAinda não há avaliações
- Uso de Mediação em Casos de Abandono AfetivoDocumento13 páginasUso de Mediação em Casos de Abandono AfetivoEduardo Silva de PaulaAinda não há avaliações
- Treino para Prova Oral - Rodada 3Documento3 páginasTreino para Prova Oral - Rodada 3Bárbara LopesAinda não há avaliações
- Alienação Parental TrabalhoDocumento5 páginasAlienação Parental TrabalhoNatan Santos DuffeckAinda não há avaliações
- Trabalho Lidiane Soluã-Ã-Es de Conflitos 1Documento9 páginasTrabalho Lidiane Soluã-Ã-Es de Conflitos 1LIDIANE DA SILVA ALVESAinda não há avaliações
- Possibilidades e Limites de Atuação Da Equipe Técnica Junto Às Varas de Família Eduardo BrandaoDocumento16 páginasPossibilidades e Limites de Atuação Da Equipe Técnica Junto Às Varas de Família Eduardo BrandaoLeonardo TeodósioAinda não há avaliações
- RoteiroDocumento4 páginasRoteiromanoel.juniorAinda não há avaliações
- Direito Da FamíliaDocumento9 páginasDireito Da Famíliadanielvitor.s.queirozAinda não há avaliações
- ALIENAÇÃO - PARENTAL - E - GUARDA - COMPARTILHADA CorrigidaDocumento6 páginasALIENAÇÃO - PARENTAL - E - GUARDA - COMPARTILHADA CorrigidaJeffwcAinda não há avaliações
- Caso Beateriz PIDocumento4 páginasCaso Beateriz PIeliveltonalmeida061Ainda não há avaliações
- TCC - Falta de Afeto e Direito de Indenização Pelos PaisDocumento42 páginasTCC - Falta de Afeto e Direito de Indenização Pelos Paisaldycezar100% (2)
- Guardadefilhos - 20230403155101 2Documento14 páginasGuardadefilhos - 20230403155101 2Thais DiasAinda não há avaliações
- g2 - Direito de Familia 2022.1Documento13 páginasg2 - Direito de Familia 2022.1joycezin09Ainda não há avaliações
- UntitledDocumento6 páginasUntitledJoão Vitor SantanaAinda não há avaliações
- Atividade NP IIDocumento1 páginaAtividade NP IInathalia 123Ainda não há avaliações
- E-Book Alienaçao Parental (Clínica Do Direito)Documento78 páginasE-Book Alienaçao Parental (Clínica Do Direito)Renata Almada de AndradeAinda não há avaliações
- DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR: Um Panorama Das Demandas Sobre AlienaçãoDocumento17 páginasDIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR: Um Panorama Das Demandas Sobre AlienaçãoCarolina da silva monteiro 8-P MonteiroAinda não há avaliações
- PROJETO Monografia Alienao ParentalDocumento23 páginasPROJETO Monografia Alienao ParentalRenato ReisAinda não há avaliações
- Anna Carolina Dias Teixeira LimaDocumento27 páginasAnna Carolina Dias Teixeira LimaJordanaAinda não há avaliações
- A Manifestação de Vontade dos Pais Biológicos em Face da Lei de Adoção e Legislação AfimNo EverandA Manifestação de Vontade dos Pais Biológicos em Face da Lei de Adoção e Legislação AfimAinda não há avaliações
- Paternidade e Reconhecimento de FilhosDocumento3 páginasPaternidade e Reconhecimento de FilhosFabio Salles100% (1)
- TCC MarieliDocumento56 páginasTCC MarieliAna Luiza SantosAinda não há avaliações
- Psicologia Jurídica No BrasilDocumento5 páginasPsicologia Jurídica No BrasilNayara ZanchettaAinda não há avaliações
- Alienação ParentalDocumento2 páginasAlienação ParentalIsabela GomesAinda não há avaliações
- Filhos Desamparados: Uma análise da legislação brasileira acerca da responsabilidade afetivaNo EverandFilhos Desamparados: Uma análise da legislação brasileira acerca da responsabilidade afetivaAinda não há avaliações
- Pressupostos, Elementos e Limites Do Dever de Indenizar Por PDFDocumento14 páginasPressupostos, Elementos e Limites Do Dever de Indenizar Por PDFAdriana LavoratoAinda não há avaliações
- Aspectos Psicológicos Da Separação e Do Divórcio PDFDocumento16 páginasAspectos Psicológicos Da Separação e Do Divórcio PDFMatilde FurtadoAinda não há avaliações
- Artigo SocioafetividadeDocumento12 páginasArtigo SocioafetividademonneratmurtaadvAinda não há avaliações
- Reflexão Final - Sociologia Política Do Direito e Da Justiça - Mestrado PDFDocumento16 páginasReflexão Final - Sociologia Política Do Direito e Da Justiça - Mestrado PDFMafalda MachadoAinda não há avaliações
- Direitos Das Crianças em Caso de Divórcio Dos PaisDocumento49 páginasDireitos Das Crianças em Caso de Divórcio Dos PaisManuel Dos Reis LopesAinda não há avaliações
- 7 - Abandono Afetivo de Idosos P. 146-167Documento22 páginas7 - Abandono Afetivo de Idosos P. 146-167Emanuel PepinoAinda não há avaliações
- Cópia de Petição Inicial - Abandono AfetivoDocumento3 páginasCópia de Petição Inicial - Abandono AfetivoJ. AmadorAinda não há avaliações
- A Síndrome de Alienação Parental: Uma Visão Jurídica e Psiclógica PDFDocumento24 páginasA Síndrome de Alienação Parental: Uma Visão Jurídica e Psiclógica PDFLuiz SouzaAinda não há avaliações
- Abandono AfetivoDocumento3 páginasAbandono Afetivoisadora.skalski.direitoAinda não há avaliações
- Apostila Direito CivilDocumento38 páginasApostila Direito CivilJonathan MouraAinda não há avaliações
- Termo de Compromisso de Estágio - EtepDocumento3 páginasTermo de Compromisso de Estágio - EtepTelma MetelloAinda não há avaliações
- Direito ConstitucionalDocumento36 páginasDireito ConstitucionalJoao FernandoAinda não há avaliações
- Simulado - Leis 9.784 e 8.112Documento42 páginasSimulado - Leis 9.784 e 8.112Ray GobbiAinda não há avaliações
- 1024822-27 2023 8 11 0041-1706126325842-95927-Processo1Documento241 páginas1024822-27 2023 8 11 0041-1706126325842-95927-Processo1Edinilson SilvaAinda não há avaliações
- Ficha AdmissaoDocumento1 páginaFicha AdmissaoRenataAinda não há avaliações
- Decreto 667 Completo AtualizadoDocumento6 páginasDecreto 667 Completo AtualizadoCesar Julio SouzaAinda não há avaliações
- SEI MPAM - 1092862 - Edital 3341eDocumento6 páginasSEI MPAM - 1092862 - Edital 3341eJonas BarrosoAinda não há avaliações
- QUESTÕES TDE KauaneDocumento4 páginasQUESTÕES TDE KauaneKauanne SantosAinda não há avaliações
- 50879Documento3 páginas50879Pablo Santiago Garavito ConisllaAinda não há avaliações
- 0 Doe 2019-05-16Documento6 páginas0 Doe 2019-05-16Lair MorissonAinda não há avaliações
- E-Book de Correção Do 37º Exame - CONSTITUCIONALDocumento37 páginasE-Book de Correção Do 37º Exame - CONSTITUCIONALEdney Luis de Sousa0% (1)
- Resposta À Acusação Modelo para Envio P Estágio ProbatórioDocumento5 páginasResposta À Acusação Modelo para Envio P Estágio ProbatórioL SallesAinda não há avaliações
- A Guerra - A Ascensão Do PCC e o Mundo Do Crime No Brasil - Bruno Paes MansoDocumento286 páginasA Guerra - A Ascensão Do PCC e o Mundo Do Crime No Brasil - Bruno Paes MansoRenan Camillo100% (1)
- Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL #1.559.791 - PB (2015/0250154-6) Relatora: Ministra Nancy AndrighiDocumento14 páginasSuperior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL #1.559.791 - PB (2015/0250154-6) Relatora: Ministra Nancy AndrighiRenato RolimAinda não há avaliações
- Concurso Público Da Fundação Estatal de Saúde (FEMAR) - Edital 1 - 2023 - Comprovante de Solicitação de Inscrição Via InternetDocumento1 páginaConcurso Público Da Fundação Estatal de Saúde (FEMAR) - Edital 1 - 2023 - Comprovante de Solicitação de Inscrição Via InternetLeo SilvaAinda não há avaliações
- N1 Semestre Passado ConsumidorDocumento6 páginasN1 Semestre Passado ConsumidorMayara Gonzaga DiasAinda não há avaliações
- Apostila CHS PM 2023 - EAD - Isolamento Preservacao Local CrimeDocumento44 páginasApostila CHS PM 2023 - EAD - Isolamento Preservacao Local Crime2cia14bpmAinda não há avaliações
- ApelaçãoDocumento20 páginasApelaçãoOdair Pedroso dos SantosAinda não há avaliações
- Termo de Responsabilidade para EscolaDocumento8 páginasTermo de Responsabilidade para EscolaSANTA HILDEGARDA DE BINGENAinda não há avaliações
- Pmerj 1 Simulado Soldado Policial Militar Classe C QPMP o Pos Edital Cod 962023641 Folha de RespostasDocumento15 páginasPmerj 1 Simulado Soldado Policial Militar Classe C QPMP o Pos Edital Cod 962023641 Folha de RespostasThiago FerreiraAinda não há avaliações
- Direito Nas Sociedades AntigasDocumento31 páginasDireito Nas Sociedades AntigasAmilcar VeigaAinda não há avaliações
- POP 08 Abordagem A Onibus Urbano Com Passageiro em Fundada SuspeitaDocumento7 páginasPOP 08 Abordagem A Onibus Urbano Com Passageiro em Fundada SuspeitaDouglas SantosAinda não há avaliações
- LaudaDocumento3 páginasLaudaEzequiasAinda não há avaliações
- BarnabeDocumento7 páginasBarnabeFernanda SpradaAinda não há avaliações
- Manual para Aprovação de Projetos para A Prefeitura de Imperatriz - FinalDocumento18 páginasManual para Aprovação de Projetos para A Prefeitura de Imperatriz - FinalAna Cândida D. do AmaralAinda não há avaliações
- Aura ComercialDocumento12 páginasAura ComercialDionisio CumbaneAinda não há avaliações
- Proposta de Emenda À Lei Orgânica 93/2023Documento5 páginasProposta de Emenda À Lei Orgânica 93/2023Midiamax [ Política ]Ainda não há avaliações
- AlvaráDocumento4 páginasAlvaráSilvio BatistaAinda não há avaliações
- 22.08.18 - Correção TCCDocumento35 páginas22.08.18 - Correção TCCManuu LuzAinda não há avaliações