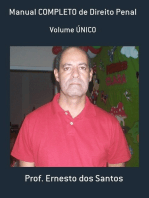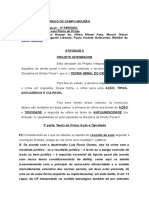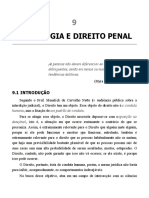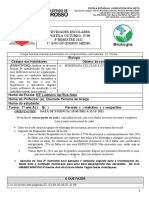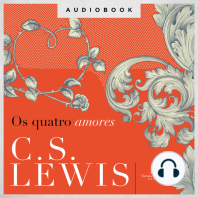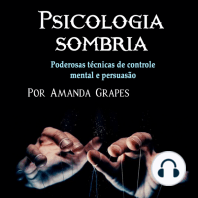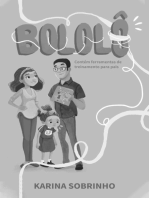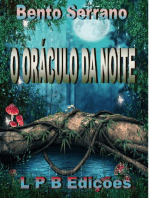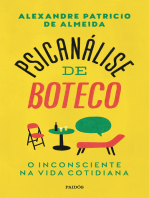Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Direitopenal Miguezgarcia
Enviado por
문라움Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Direitopenal Miguezgarcia
Enviado por
문라움Direitos autorais:
Formatos disponíveis
1
§ 1º A acção
I. A acção como objecto do juízo de imputação penal. Função delimitativa do
conceito de acção. O conceito de acção corresponde ao mínimo relevante para
a imputação penal.
CASO nº 1: A e B, na companhia dum terceiro, andaram a beber, até que entraram na adega
dum deles para tomarem mais uns copos. Quando A se encontrava agachado para tirar vinho
duma pipa, com as pernas afastadas, de costas para B, este agarroulhe, por detrás, com força,
por los genitales. Nesse momento, o A, contorcendose com dores, girou bruscamente o corpo,
batendo com o cotovelo no B, que perdeu o equilíbrio e caiu, dando com a cabeça no chão de
cimento. B ficou por algum tempo inconsciente e depois, muito abalado, pediu que o levassem
a casa, recusandose a ir a um hospital. Veio a morrer cerca de uma hora depois, apresentando
contusão frontoparietal produzida na queda. Resumo dos factos apreciados pelo aresto de 23
de Setembro de 1983 do Tribunal Supremo de Espanha.
Punibilidade de A? Procurase saber se o comportamento de A transpõe o limiar
da relevância como comportamento punível. Se se trata, no caso, dum
comportamento reflexo, qual o alcance deste entendimento ? Foi instintivo o
movimento corporal que provocou a queda do B, reconheceu o tribunal na
sentença que absolveu o A. A reacção foi devida a um estímulo fisiológico ou
corporal, sem intervenção da consciência, por acto reflexo ou em curto circuito.
Actos reflexos consistem em movimentos corporais que surgem de um estímulo
sensorial a uma acção motora, à margem do sistema nervoso central. A morte
do B resultou afinal dum simples acidente — à actuação do A não se poderá
atribuir o significado de acção normativamente controlável. Cf. o comentário a esta
M. Miguez Garcia. 2001
2
decisão em Silva Sánchez, La función negativa del concepto de acción. Algunos supuestos
problemáticos (movimientos reflejos, actos en cortocircuito, reacciones automáticas), in
ADPCP, 1986, p. 905 e ss.
Nos anos 50 e 60, o conceito de acção foi uma das questões mais debatidas
dentro da teoria da infracção criminal. Hoje em dia, como problema prático, o
significado da teoria da acção limitase a um ou outro apontamento. Uns, mais
chegados aos finalistas, afirmam que para podermos determinar se a
embriaguez plena, os actos reflexos ou os chamados automatismos devem ser
considerados como acções ou nãoacções necessitamos de manejar critérios que
só podem ser proporcionados pela teoria da acção. Para outros, a acção
desempenha uma função de filtro, puramente delimitativa: a partir do conceito
geral de acção pode eliminarse logo tudo aquilo que nunca poderia integrar
uma acção.
Em geral, quando nos encontramos perante um comportamento humano
qualificamolo logo como preenchendo ou não um tipo de ilícito. Se a conduta
contiver as cores da ilicitude, avançamos então para o outro nível de valoração
que é a culpa. Com efeito (cf. Fernanda Palma), a “conexão de sentido pré
normativo participa, por um lado, na constituição do juízo de ilicitude como
desvalor da acção e do resultado e do seu objecto como comportamento doloso
ou negligente, e conduz, por outro lado, a uma revaloração, em sede de culpa,
do comportamento cuja ilicitude foi anteriormente referida a uma ética de
responsabilidade”. Não fará sentido afirmar essa conexão quando alguém,
arrastado pela força irresistível duma multidão em debandada, esmaga uma
criança indefesa contra a parede dum prédio, provocandolhe lesões graves ou
a morte — aí, excluiremos logo a existência dum comportamento humano com
M. Miguez Garcia. 2001
3
relevância penal, estaremos simplesmente perante uma não acção, face a algo
que só poderá qualificarse como um infausto acontecimento. No dia a dia, o
sentido conferido pela sociedade a uma tal situação faz com que se elimine à
nascença, por inadequada e votada ao insucesso, qualquer pretensão de
proceder criminalmente. Não se justifica atirar o labéu de criminoso ao homem
cujo corpo projectado pela multidão esmagou a criança indefesa. Noutro
exemplo, se num ataque epiléptico A arranha, com movimentos incontroláveis,
a cara de quem o procura ajudar, ou origina a queda e a destruição de uma
valioso peça de louça — não se imagina sequer que a pessoa atingida ou
prejudicada vá fazer queixa à polícia por ofensas corporais ou por dano. O
objecto de valoração é um comportamento humano, mas no sofrimento do
epiléptico não se espelha uma acção com relevo jurídicopenal, a sua desdita
gerou, em determinado momento, um processo causal infeliz, que em nenhuma
circunstância caberá no catálogo dos ilícitos nem constituirá razão nem
fundamento de reprovação. Comentará, sensível e desolado, o vizinho, o amigo,
o próprio prejudicado: “Coitado, que azar o deste homem!”
A fixação consciente do objectivo, a selecção consciente dos meios e a
realização levada a efeito mediante um acto de direcção consciente representam
o tipo ideal de uma acção, o qual, todavia, não esgota a variedade dos
comportamentos humanos. Muitos dos comportamentos diários desenrolamse,
de facto, “por debaixo do umbral da consciência” —contudo, enquanto
“expressão da espiritualidade do homem” (Lenckner), enquanto tivermos
razões para entendêlos como “exteriorizações da personalidade” (Roxin),
deverão ser catalogados como acções.
M. Miguez Garcia. 2001
4
“Acção é um comportamento humano que é, ou pelo menos pode ser, dominado pela
vontade”. Roxin, Teoria da infracção; e AT, p. 179 e ss. “Não há crime sem conduta. Os delitos
chamados de mera suspeita ou de simples posição não encontram guarida em nossa
disciplina”. Paulo José da Costa Jr., Comentários.
II. Comportamentos inconscientes, reflexos e automáticos
CASO nº 1A: A sabe que sofre de epilepsia e até já foi afectado na rua por essa doença, sem
consequências para terceiros. Por isso, tem a preocupação de seguir à risca as prescrições dos
médicos. Há duas semanas, porém, A esqueceuse de tomar um medicamento muito
recomendado, contra o que era seu hábito. Apesar disso, pôsse ao volante do automóvel. Em
certa altura do percurso A sofreu um súbito ataque de epilepsia e perdeu o controle do carro,
que foi atropelar violentamente B, na altura em que este atravessava pela passagem destinada
aos peões.
CASO nº 1B: A seguia conduzindo o seu automóvel. No momento em que circulava por
uma curva entroulhe pela janela, que se encontrava aberta, um insecto num olho. A fez, por
isso, um “brusco movimento de defesa” com a mão. Este movimento comunicouse à direcção
do carro e o A perdeu o domínio da condução, de tal sorte que o automóvel entrou na faixa
contrária e aí chocou violentamente com outro que vinha em sentido contrário, tendo ficado
feridas diversas pessoas.
Toda a gente estará de acordo em que, naquele caso do indivíduo que é
arrastado pela força indomável da multidão e vai esmagar a criança, como em
todos os casos de vis absoluta, à qual se não pode resistir (cui resistere non potest),
ou de inconsciência absoluta — não há acção. Aquele que, submetido à força
irresistível de quem lhe comanda a mão (vis absoluta), “faz” a assinatura alheia,
não comete uma falsificação.
Diferente será o caso do indivíduo que imita a assinatura de outro sob a ameaça duma pistola
apontada à cabeça (vis compulsiva, a violência moral ou relativa): aquele que “assina” age,
M. Miguez Garcia. 2001
5
mesmo que o seu comportamento, típico e ilícito, possa ser desculpado, por aplicação do artigo
35º — houve uma acção voluntária, ainda que desacompanhada da liberdade de decisão e de
realização da vontade (coactus, sed voluit).
A mãe que durante um sono profundo, com as faculdades anímicas
inteiramente “desligadas”, esmaga com o seu corpo o filho que dorme a seu
lado não poderá ser penalmente responsabilizada por uma morte causada nesse
estado de inconsciência. Nem o seria em caso de sonambulismo ou de hipnose.
Mas o médico que estando de serviço na urgência hospitalar toma um forte
sonífero, omitindo uma determinada acção que tinha o dever de praticar, pode
ser responsabilizado tanto civil como criminalmente. É certo que também a mãe
tinha a obrigação de não criar uma situação de risco para a vida ou a
integridade física do filho. Mas aqui a “acção” não está no esmagamento do
filho ou na inacção do médico que chegou ao hospital, mas sim “na conduta
precedente que criou uma situação de perigo para determinados bens jurídicos,
ao impossibilitar o cumprimento do dever de não lesar, ou de salvar, bens
jurídicos alheios” (Prof. Taipa de Carvalho, A Legítima Defesa, p. 92). (1) Nesse
sentido, terá havido imprudência da parte da mãe, quando colocou o filho a
dormir, podendo prever que durante o sono o seu corpo abafaria o do menino
(cf. Lenckner, S / S, p. 143). Impõese, tudo o indica, diferente solução quando a
morte da criança ocorrer porque um terceiro a depôs ao lado da mãe, enquanto
esta dormia, em termos de a isentar de qualquer implicação no facto.
1
“A asserção de Roxin segundo a qual “quem cai inconsciente e parte assim um vaso não agiu” deve
frontalmente contestar-se: pode perfeitamente conceber-se que o agente devesse ter tomado um remédio
para evitar o ataque, sabendo que se o não fizesse poderia praticar um certo ilícito típico; neste caso a pessoa
“agiu” e pode mesmo, em certas condições, ser jurídico-penalmente responsabilizada e punível”.
Figueiredo Dias, RPCC 1991, p. 39.
M. Miguez Garcia. 2001
6
Já anteriormente se falou do epiléptico que, de repente, entrando em espasmos
e convulsões, parte a jarra alheia durante o desmaio. Há também quem ponha
em dúvida que um caso destes seja —no limite— inteiramente alheio ao Direito,
observandose, com Armin Kaufmann, que o epiléptico foi por si mesmo ao local
onde tudo aconteceu. Por maioria de razão, se o epiléptico do caso nº 1A, por
descuido, omite o cumprimento da prescrição médica com danos para terceiros,
a sua responsabilização será ainda mais evidente, mas com base numa actio
libera in causa. Com o que se pretende apenas demonstrar que as questões de
imputação nem sempre se apresentam como evidentes, ganham, por vezes,
contornos e relevo surpreendentes, a exigir atenções redobradas.
Devemos alinhar aqui alguns acontecimentos que participam de processos
causais vinculados a movimentos corporais de uma pessoa, como certos actos
reflexos, que são causados por uma excitação de carácter fisiológico, um acesso
de tosse, um vómito repentino, que praticamente impossibilitam o controle dos
movimentos. É de acto reflexo a conhecida imagem da medicina, em que o
médico bate com o martelinho no joelho do paciente e o induz a projectar o pé
para a frente, de forma descontrolada. Outros exemplos são as contracções
derivadas do contacto com uma corrente eléctrica ou da entrada dolorosa de
um insecto num olho. Ninguém sustentará em tais casos a relevância penal do
comportamento. Mas como melhor se justificará a seguir, houve ainda acção
quando uma condutora perdeu o controle do carro, provocando um acidente,
por se ter inclinado para trás, defendendose dum insecto que subitamente lhe
entrou num olho (cf. Eser / Burkhardt, caso nº 3).
3. A responsabilidade penal pode incidir em comportamentos inconscientes.
Mas até onde poderá ir um tal alargamento? É a vontade que separa a acção
M. Miguez Garcia. 2001
7
humana do simples facto causal. Esta vontade tem sido entendida, como
observa Lenckner, na maior parte dos casos, como vontade consciente, de forma
que a qualidade de acção parece estar posta em dúvida naqueles casos em que a
“actividade de direcção” (a dirigibilidade) também se pode produzir, em razão
da automação, de modo inconsciente.
Os automatismos são produto da aprendizagem, por ex., ao andar, ou no
exercício continuado da condução automóvel: meter as mudanças, dar gás,
guinar a direcção para a esquerda ou para a direita, fazer sinais de luzes, meter
o pé ao travão. A doutrina actual, mesmo quando se inclina para a não acção
nos actos reflexos, afirmaa em geral ao nível dos automatismos, que se
desenvolvem sem a intervenção da consciência activa.
Na primeira metade do século vinte, quando ainda se não adivinhava a
complexidade dos comportamentos nas actuais sociedades de tecnologia
avançada, e sobretudo se não atendia às incidências que hoje tem a condução
automóvel, um autor como Mezger equiparava os actos automáticos aos
movimentos reflexos — e como os automatismos eram reflexos não podiam ser
catalogados nas acções, na medida em que se desenrolam por “debaixo do
umbral da consciência”.
Também por essa altura apareceu em voga a teoria final da acção. Para esta teoria
(recordese, nomeadamente, os nomes de Welzel e Maurach) “actividade final é
uma intervenção causal conscientemente dirigida a um fim”. A aplicação literal
desta maneira de ver impediria que se afirmasse a acção em todos os casos
duvidosos. Consequentemente, em relação aos comportamentos automatizados,
em especial na condução rodoviária, onde a sua importância se faz sentir mais
M. Miguez Garcia. 2001
8
vincadamente, não teríamos outro remédio que não fosse negar o seu
envolvimento no conceito de acção. O próprio Welzel entendia que na prática
era inadmissível uma tal solução (Das Deutsche StrafR, p. 153), ao escrever que,
por ex., o condutor tem de adequar a velocidade à medida do seu domínio das
manobras técnicas e da sua capacidade de reacção. Ainda que a correcção das
nossas acções não derive, no caso concreto, de uma direcção consciente da
acção, mas de disposições automatizadas para a acção adquiridas
anteriormente, a sua falta pode ser censurada ao autor na medida em que ele,
na execução da sua acção final, não teve em consideração os perigos da situação
e os limites funcionais das suas disposições automatizadas, mesmo quando
podia têlos reconhecido.
Por isso mesmo, nos automatismos, como no caso das reacções emocionais ou
de formas de embriaguez profunda (sem se excluir totalmente a consciência),
quer dizer, em todos os casos duvidosos, de que se exceptuam os actos reflexos,
a doutrina tende a reconhecer a existência de acções — ainda que para isso
tenha que recorrer à noção de finalidade inconsciente, como faz Stratenwerth. É
possível, dizse, interpor a vontade consciente por forma a orientar o
comportamento (Rudolphi). “A acção penalmente relevante exige (mesmo que
automática) pelo menos uma possibilidade efectiva de substituir o
comportamento automático por um comportamento conscientemente dirigido,
imediatamente antes ou durante a execução do agente. Se o agente para se
defender duma mosca ou de uma abelha tira repentinamente as mãos do
volante e deixa o carro guinar para a faixa contrária (provocando um acidente)
parece ser possível afirmar que poderia ultrapassar conscientemente a cedência
a uma reacção defensiva excessiva e incontrolada, se tivesse a possibilidade de
M. Miguez Garcia. 2001
9
prever que outros veículos viajavam na faixa contrária (limiar subjectivo da
negligência inconsciente).” Cf. Profª Fernanda Palma, referindo Jakobs, AT, p.
69 e ss. e Eser / Burkhardt, Derecho Penal, p. 144.
Se um automobilista, que circula de noite a 90 quilómetros por hora, ao ver
aparecer subitamente na estrada um animal do tamanho duma lebre, a uma
distância de 1015 metros, dirige o carro para a esquerda e embate no separador
central, provocando a morte de quem o acompanha — a reacção de desviar o
carro, diz Roxin, AT, p. 205, a propósito deste caso julgado pelos tribunais
alemães, é uma actividade automatizada, em que o condutor actua no
seguimento de uma longa prática, a qual se transforma, eventualmente sem
uma reflexão consciente, em movimentos. Os movimentos que se repetem
constantemente estão, via de regra, em grande parte automatizados no homem.
É o que acontece com o andar e a condução automóvel. Esta automatização de
alguns comportamentos é dum modo geral favorável, por permitir acelerar a
reacção em situações que não consentem qualquer reflexão, por nisso se perder
demasiado tempo. Ainda assim, a automatização pode conduzir, em certos
casos, a reacções erradas, que se produzem de maneira tão pouco consciente
como as formas correctas de conduzir. Mas também os automatismos são
acções. De acordo com Roxin, AT, p. 155 e ss., as disposições para agir que são
fruto da aprendizagem (erlehrnte Handlungsdispositionen) pertencem ao conjunto
da personalidade, são, por isso mesmo, afirmações da personalidade,
independentemente das consequências, nocivas ou não, a que conduzam. Os
automatismos e as reacções espontâneas, como os estados de violenta excitação
emocional e de embriaguez profunda constituem acções. Todos eles representam
respostas do aparelho anímico ao mundo exterior, são ainda “exteriorizações da
M. Miguez Garcia. 2001
10
personalidade”, e portanto expressão da parte anímicoespiritual do ser
humano.
Lenckner, que igualmente reconhece a existência de acção nos comportamentos automáticos,
recorre “à expressão da espiritualidade do homem”, próxima, no seu significado e alcance
funcional, da que emprega Roxin. Por um lado, dá como assente que a maior parte das formas
comportamentais do quotidiano permanece por debaixo do limiar da consciência. Por outro,
entende que o facto de as reacções automáticas associadas à circulação rodoviária poderem ser,
por vezes, qualificadas como erradas — embora, na maior parte dos casos, felizmente sejam
correctas — mostra que aqui não se trata da qualidade da acção, porque, negandoa, não se
colocaria, pertinentemente, a questão da sua qualificação como correcta ou incorrecta. Estes
casos distinguemse dos reflexos corporais puros, constituídos por reacções que “aparecem
como resposta (pessoal), dada pelo comportamento, a uma determinada situação”. De forma
que, acrescenta Lenckner, o limiar da não acção só se ultrapassa quando de todo estiver
excluída a possibilidade de uma intervenção consciente na actividade de direcção que se
desenvolve de modo inconsciente.
No caso aqui apresentado como o caso nº 1B, Eser / Burkhardt apreciam assim
a punibilidade de A: a condução de um automóvel com a janela aberta e sem
que o condutor se concentre suficientemente de modo a evitar automatismos
perigosos fazem da condução um comportamento não permitido e perigoso —
tratase, portanto, de um comportamento objectivamente típico. Este
comportamento típico produziu lesões corporais noutras pessoas. A produção
do resultado típico é também a realização do risco não permitido por parte de
A. Daí que o tipo objectivo do [artigo 148º] se encontre preenchido. Faltará
analisar também em sede de ilícito se A actuou negligentemente e se a resposta
for afirmativa então passamos à apreciação das possíveis causas de justificação
e, eventualmente, das causas de exclusão da culpa.
M. Miguez Garcia. 2001
11
Há divergências na apreciação das acções em curto circuito, em que o elemento voluntário se
mantém, executandose, porém a uma velocidade tal que ao agente falta a possibilidade de
mobilizar as reacções inibidoras do comportamento (Bacigalupo), por ex., o autor mata quem
acaba de matar o seu próprio filho — em geral afirmase a existência de uma acção, já que
nestes casos sempre seria possível interpor uma vontade consciente a orientar o
comportamento.
III. Causalismo e finalismo na teoria do crime
O que atrás se disse encontrase de algum modo ligado às teorias que
historicamente se foram desenvolvendo em torno de alguns aspectos do
conceito de acção.
A teoria causal da acção é o sistema de v. Liszt e Beling (desenvolvido com
outros pormenores por Radbruch: vd. Welzel, p. 39) — identificase com o
chamado sistema clássico, que se desenvolveu nos finais do século dezanove, de
algum modo como reacção ao modelo hegeliano, até então dominante, no
contexto positivonaturalista da época, em que as ciências naturais e o
correspondente método tinham uma grande influência em todas as esferas do
saber.
O traço mais relevante da teoria causal da acção consiste em se abstrair do
conceito de vontade, considerando como critério único determinante a eficácia
causal da vontade. Não importa o conteúdo da vontade, por não interessar à
acção o que o autor queria, mas a simples causação das consequências de um
acto voluntário. Já se vê a importância conferida por esta teoria à associação da
causalidade com o conceito de acção: ao fim e ao cabo, o conceito causal de
acção só tem em conta a produção causal do resultado. A acção é a causação, ou
não evitação, do resultado (morte da vítima do homicídio, destruição da coisa
M. Miguez Garcia. 2001
12
alheia no dano), derivada de uma manifestação volitiva: definese, portanto,
como uma causação arbitrária ou não evitação de uma modificação (de um
resultado) no mundo exterior. Acção é todo e qualquer acto proveniente da
vontade que ponha em perigo interesses, quer se trate de um movimento
corporal, quer se trate da sua falta de realização, compreendendo a acção em
sentido estrito e a omissão (conceito unitário), uma e outra proveniente da
vontade (v. Liszt). O conteúdo da vontade sai do âmbito da acção e incluise na
culpa. Para se poder sustentar que existe uma acção basta saber que o sujeito,
volitivamente, actuou ou permaneceu inactivo, o conteúdo da vontade só tem
importância para o problema da culpa.
O sistema clássico serviase de um conceito objectivo de tipicidade, à margem
de qualquer valoração, consequentemente, de uma ilicitude objectiva e formal.
No ilícito não se levavam em conta factores de outra natureza: tudo o que for
objectivo pertence à ilícitude, tudo o que é subjectivo integrase na culpa.
Compreendese assim que, sendo o conteúdo da vontade de feição subjectiva,
não tenha lugar no conceito penal de acção.
Mais tarde, quando o sistema evoluiu, por influência da filosofia de raiz neokantiana,
começou a definirse o ilícito como um comportamento socialmente danoso, surgindo então a
possibilidade de graduar o ilícito e de nele incluir elementos subjectivos, não apreensíveis
pelos sentidos, e cuja ausência determina a atipicidade da acção. A descoberta destes elementos
subjectivos como integrantes da ilicitude conduziu à negação da neutralidade do tipo penal.
Por outro lado, o conceito causal de acção foi sendo progressivamente rejeitado como a pedra
angular do sistema penal e como portador das características do crime. Vem desse tempo a
ideia, que ainda hoje subsiste, do bem jurídico como princípio metodológico para a
interpretação dos tipos penais.
M. Miguez Garcia. 2001
13
Modelo estrutural “causal” (neoclássico).
Cf. Baumann/Weber/Mitsch, Strafrecht, AT, 10ª ed., p. 177.
Acção
I. Tipicidade
1. Tipicidade da acção: nos crimes de resultado, o resultado previsto no tipo e a
correspondente conexão entre acção e resultado, a causalidade.
2. Elementos subjectivos do ilícito.
II. Ilicitude. Ausência de causas de justificação.
III. Culpa
1. Capacidade de culpa.
2. Dolo.
3. Ausência de causas de desculpação.
IV. Outros pressupostos de punibilidade (excepcionalmente).
Concepção psicológica da culpa / teoria normativa da culpa. A culpa é agora
um autêntico juízo de censura. O sistema clássico caracterizavase ainda por
uma concepção psicológica da culpa, concebida como um simples nexo psíquico
entre e facto e o seu autor, que tanto podia revestir a forma dolosa como a
negligente — dolo e negligência constituem as duas formas de manifestação da
culpa e só se distinguiam entre si pela intensidade da relação psicológica. As
dificuldades que a visão psicológica da culpa enfrentava (pensese na
negligência inconsciente) vieram a ser corrigidas pela chamada teoria normativa
da culpa. Foi Frank quem, referindose à insuficiência da relação psicológica
para a culpa, utilizou o termo censurabilidade para a definir e ampliar os seus
contornos (cf. Welzel, p. 139). A culpa não se esgota numa simples relação
M. Miguez Garcia. 2001
14
psíquica entre a vontade e o evento fixada na lei. Na verdade, a culpa
fundamenta a censura pessoal contra o agente, já que este não omitiu a conduta
ilícita, embora a pudesse ter omitido. O sujeito é culpado se pudermos censurá
lo, dependendo esta possibilidade não só do dolo ou da negligência, mesmo só
inconsciente, como ainda da capacidade de culpa, ou seja, da imputabilidade.
Imputabilidade, consciência do ilícito, exigibilidade de outro comportamento. Para Welzel,
p. 138 e ss., elementos da censurabilidade são — a imputabilidade: atentas as suas forças
psíquicas, o autor é capaz de se motivar de acordo com a norma; — e a possibilidade de
avaliar o ilícito: o autor está em condições de se motivar de acordo com a norma por ter a
possibilidade de compreender a antijuridicidade. Do juízo de censura participam ainda os
elementos da exigibilidade de outro comportamento.
A teoria normativa da culpa teve um grande significado na evolução destes
conceitos, permitindo que o dolo se separasse da culpa, passando para o âmbito
da ilicitude, de acordo com a teoria finalista: “a quintessência desta teoria reside
na afirmação de que o dolo como factor caracterizador da acção seria um elemento
essencial do ilícito” (cf. Eser / Burkhardt, p. 36; e Welzel, especialmente p. 61).
Por outro lado, “extraindo este objecto da valoração da categoria da culpa e
situandoo na do ilícito, estava cumprida a condição necessária para “reduzir”
(“purificar”) a culpa àquilo que verdadeiramente ela deve ser: um “puro juízo
de (des)valor”, um autêntico juízo de censura” (Figueiredo Dias/Costa Andrade,
Direito Penal. Questões fundamentais. A doutrina geral do crime. UC, 1996, p. 329).
Idêntico papel no desenvolvimento de uma nova sistemática na estrutura de
crime coube a outros elementos subjectivos do ilícito.
A finalidade é “vidente”, a causalidade “cega” (Welzel, p. 33). A teoria
finalista da acção foi especialmente desenvolvida por Welzel como corrente
M. Miguez Garcia. 2001
15
contrária à teoria causal, o seu ponto de enlace com o direito penal foi, como
explica Roxin, a luta contra o conceito causal de acção. Para os finalistas, o
conceito de acção do direito penal deveria ser um conceito ontológico. O que
define a acção humana é a finalidade: o homem, graças ao seu saber causal,
pode prever, dentro de certos limites, as consequências possíveis da sua
actividade futura, proporse objectivos diversos, e dirigir aquela actividade, de
acordo com um plano, à consecução de um fim (Welzel, p. 33). A acção humana
é, portanto, um acontecer “final” e não somente “causal”. A acção é baseada na
direcção do comportamento do autor a um fim previamente fixado por este —é
assim o exercício de actividade final (conceito ontológico, da realidade) e existe
antes da valoração jurídica (conceito préjurídico).
O lugar sistemático do dolo é o ponto culminante da teoria da acção final, caracterizandoa e
caracterizando também o correspondente sistema (Eb. Schmidhäuser). Na concepção
finalista, o tipo engloba, juntamente com a sua parte objectiva (que tradicionalmente aparecia
como sendo a sua essência), uma parte subjectiva, formada pelo dolo e pelos restantes
elementos subjectivos específicos do ilícito (cf. Welzel, especialmente, p. 58: “nos delitos
dolosos, o tipo contém uma descrição precisa dos elementos objectivos e subjectivos da
acção, incluindo o resultado”). O tipo objectivo corresponde à objectivação da vontade
integrante do dolo, compreendendo portanto as características do produzir externo do autor.
O dolo, elemento fundamental da parte subjectiva, é constituído pela finalidade dirigida à
realização do tipo objectivo. Se a finalidade pertence à estrutura da acção, como pensam os
finalistas, e o tipo configura acções, compreendese perfeitamente que se inclua o dolo, não
na culpa, mas no tipo. Todavia, o dolo não se esgota na finalidade dirigida ao tipo objectivo:
como a ilicitude não é um elemento do tipo, não deverá estenderse à ilicitude o
conhecimento e a vontade próprios do dolo. Deste modo, o erro do tipo excluirá o dolo, e
portanto a tipicidade. Se o erro se referir à ilicitude, deixará intacta a tipicidade da conduta.
(Cf. Welzel, p. 62 e ss.; Eb. Schmidhäuser, p. 138).
M. Miguez Garcia. 2001
16
Ainda o dolo como elemento do ilícito. Uma das conclusões mais relevantes da
dogmática finalista é a de que o dolo como factor caracterizador da acção seria
um elemento do ilícito. O dolo, constituindo um elemento básico da acção,
pertence imediatamente ao tipo de ilícito. Aquilo que exprime o sentido de uma
acção é a finalidade do autor, é a condução do acontecimento pelo sujeito, de
forma que, para os finalistas — e ao contrário do que acontecia com os
causalistas — a espinha dorsal da acção é a vontade consciente do fim, rectora
do acontecer causal. Devendo o tipo descrever também a estrutura final da
acção, isso supunha uma deslocação do dolo e da negligência — até então
entendidos como formas de culpa — para o âmbito da ilicitude, que, como se
sabe, é a primeira área de valoração na estrutura do crime. O dolo e a
negligência não são elementos da culpa mas formas de infringir uma norma e,
por conseguinte, são formas de ilicitude; o dolo constitui um elemento
subjectivo do tipo de ilícito doloso e a infracção do dever de cuidado diz
respeito ao tipo de ilícito negligente, de forma que, nesta concepção, deverão
tomarse em consideração elementos pertencentes à pessoa que realiza a acção:
a direcção da acção ao resultado nos crimes dolosos e a infracção do dever de
cuidado nos crimes negligentes. Se na tentativa o dolo pertence ao tipo e não só
à culpa, tem que conservar a mesma função quando se passa ao estádio da
consumação.
Modelo estrutural “final”
Cf. Baumann/Weber/Mitsch, Strafrecht, AT, 10ª ed., p. 177.
Acção.
I. Tipicidade
M. Miguez Garcia. 2001
17
1. Tipo objectivo: nos crimes de resultado, resultado e causalidade.
2. Tipo subjectivo.
a) Dolo
b) Elementos subjectivos do ilícito.
II. Ilicitude. Ausência de causas de justificação.
III. Culpa.
1. Capacidade de culpa.
2. Ausência de causas de desculpação.
IV. Outros pressupostos de punibilidade (excepcionalmente).
IV. Desenvolvimentos posteriores.
A actual teoria da evitabilidade individual (Jakobs) é correntemente encarada
como um desenvolvimento da teoria final da acção. O que importa é a
imputação objectiva de uma conduta típica a uma pessoa, a realizar de acordo
com o ponto de vista social. A acção é um comportamento exterior evitável, uma
conduta que o seu autor poderia ter evitado se estivesse para tanto motivado.
Um comportamento será evitável quando o seu autor tinha a possibilidade de o
dirigir finalmente, em direcção a um fim por ele mesmo determinado. O
indivíduo que é arrastado pela multidão e esmaga um menino contra uma
parede não tinha nas suas mãos evitar tão trágico desfecho.
De certo modo, o critério de Welzel é o inverso da doutrina tradicional. Nesta
última, e só na sua fase mais avançada, como vimos, é que excepcionalmente se
incluíram elementos subjectivos no ilícito — e apenas na medida em que
influíam na "danosidade social" e tinham a ver com o resultado. Como observa
M. Miguez Garcia. 2001
18
Cordoba Roda, para Welzel, o fundamental está no desvalor do acto, chegando
o penalista alemão ao ponto de afirmar que a lesão do bem jurídico (o desvalor
do resultado) só tem significado jurídicopenal dentro de uma acção
pessoalmente antijurídica (dentro do desvalor da acção). Mas a discussão entre
causalistas e finalistas está dada por encerrada. Muita coisa ficou do sistema de
Welzel e dos seus imediatos seguidores. O conceito de acção e as teses finalistas
muito contribuíram para as alterações sofridas pelas categorias tradicionais. O
dolo, concebido como conhecimento e vontade de realização do tipo objectivo
do ilícito, converteuse no elemento subjectivo geral com sede na ilicitude,
deixando, nessa medida, de pertencer à culpa. Em sede de tipo de ilícito,
enquanto determinante da direcção do comportamento, o dolo entendese
agora, correntemente, como saber e querer, como conhecimento e vontade da
realização do tipo objectivo; para alguns (cf., entre nós, a exposição de Teresa
Serra, Homicídio qualificado, tipo de culpa e medida da pena, 1992, cuja leitura atenta se
recomenda) restalhe, como forma de culpa, enquanto modo de formação da
vontade que conduz ao facto, o ser portador da atitude pessoal contrária ao
direito — restalhe, nesta área, o que alguns apelidam de resquício do antigo
dolus malus do sistema clássico, i. e, uma atitude hostil ou no mínimo indiferente
em face do bem jurídico ameaçado. Dolo e negligência são ambos formas de
infringir uma norma. Hoje, na negligência, levase em conta um dever de
cuidado objectivo situado ao nível da ilicitude, ainda que se considere um dever
subjectivo situado ao nível da culpa (cf. o artigo 15º do Código Penal).
Finalmente, temse por adquirido que, no ilícito, ao lado dum desvalor do
resultado concorre um desvalor da acção. E esta distinção pertence,
indiscutivelmente, aos finalistas — é deles o mérito de terem assinalado que a
ilicitude não depende apenas da causação de um resultado mas também de
M. Miguez Garcia. 2001
19
uma determinada modalidade de actuar, quer dizer, o injusto é injusto de
resultado e injusto de acção. A causação do resultado —a lesão do bem jurídico
— não esgota o ilicito. É legítimo até concluir que o desvalor do resultado
poderá faltar num determinado caso concreto sem que desapareça o desvalor
da acção, v. gr., na tentativa inidónea (artigo 23º, nº 3). Cf. Welzel, p. 62.
O fim da teoria finalista ocorreu do modo como Thomas Kuhn descreveu o "impulso
revolucionário" nas descobertas e avanços científicos: os seus teoremas dogmáticos — quando
não foram de algum modo acolhidos — e a sua metodologia não foram refutados, mas apenas
esquecidos, e o fio da discussão prosseguiu noutros domínios e de outras formas. W.
Hassemer, História das ideias, p. 30.
As teorias sociais da acção manifestamse em diversas posturas (Jescheck,
Wessels). São teorias surgidas com o intuito de superar os conflitos entre a
teoria causal e os pontos de vista finalistas e que têm em comum, segundo
Eser / Burkhardt, o facto de na determinação do conceito de acção recorrerem,
pelo menos, aos critérios de relevância social e de domínio (dirigibilidade,
evitabilidade, intencionalidade e similares). A acção definese como a produção
arbitrária de consequências objectivamente intencionáveis e de relevância social
ou como o comportamento de relevância social dominado ou dominável pela
vontade. A perspectiva social é um denominador comum capaz de aglutinar
comportamentos que tanto podem integrar crimes dolosos, como os negligentes
e as omissões.
O irmão de vinte anos, dominando perfeitamente a língua francesa, mete na cabeça da irmãzita
de oito anos, que não sabe uma palavra daquela língua, que deve cumprimentar a professora
de música com a saudação "Bonjour madame la cocotte", para (como diz) dar a esta uma
grande alegria. Neste caso, a pequenita "agiu" pronunciando palavras de sentido injurioso. O
facto de ter querido dizer algo de totalmente diverso é absolutamente indiferente para efeito do
M. Miguez Garcia. 2001
20
sentido social do comportamento (dela). A professora teve de suportar uma expressão lesiva da
sua honra. Só quando nos aproximamos da valoração jurídicopenal relativa a esta "acção" é
que interessa ponderar que a pequenita considerou a sua actuação como acto de gentileza e
não como algo de injurioso. A partir daqui surge a possibilidade de qualificar o
comportamento do irmão: embora não tenha dito palavra perante a professora, o seu
comportamento, no todo, possui o sentido de uma injúria. Eb. Schmidt, p. 185.
Hoje tendem sobretudo a imporse razões e argumentos funcionalistas,
defendidos por nomes conhecidos como Roxin e Jakobs, que visam atribuir
novos conteúdos às categorias dogmáticas do crime orientandoas para o que se
chama “a função do direito penal na sociedade moderna”. Jakobs, o último
discípulo de Welzel, acentua que se assiste ao declínio da dogmática de base
ontológica e que conceitos como os de culpa e de acção —a que a dogmática
atribuiu, de forma continuada, uma estrutura préjurídica— se tornaram noções
que para nada contribuem sem que se atenda à missão do direito penal.
“Roxin ensina a pensar com os casos penais, extraindo deles, na sua significação social, a
possibilidade regulativa das normas. Quem desliga a máquina que mantém as funções
vegetativas de uma pessoa, quando a situação se tornou irreversível, não realiza uma acção
homicida, mas apenas uma omissão por fazer, exclusivamente punível se houver posição de
garante (e impune na medida em que a situação já não caiba no âmbito de protecção da
vida). A acção deixa de ser um conteúdo fixo e transcendental para se tornar um conceito
funcional representativo do que a norma reclama do seu destinatário. Quem desliga a
máquina, naqueles casos, apenas não mantém uma vida vegetativa e artificial, apenas não a
prolonga apesar de agir”. Maria Fernanda Palma, Laudatio, in Problemas fundamentais de
Direito Penal. Homenagem a Claus Roxin, Lisboa, 2002, p. 231.
M. Miguez Garcia. 2001
21
Na teoria do delito de Jakobs tem lugar cimeiro a circunstância de a pena ser determinada pela
sua função de prevenção geral positiva. “A pena é sempre reacção à infracção de uma norma.
Com a reacção, tornase óbvio que a norma é para ser observada —e a reacção demonstrativa
tem sempre lugar à custa do responsável pela infracção da norma”. A finalidade da pena
coincide com a reafirmação das normas e do ordenamento (prevenção geral positiva), o que se
inscreve no exercício da confiança, da fidelidade ao direito e da aceitação das consequências
jurídicas do delito (cf. A. Serrano Maíllo, p. 161).
Ainda que se distanciem em muitos pontos concretos, as correntes
funcionalistas têm em comum alguns princípios fundamentais. Os pressupostos
de punibilidade devem orientarse naturalmente para os objectivos do direito
penal e assentar em considerações de política criminal. O que legitima o sistema
de aplicação da lei não são as estruturas prévias do objecto de regulação das
normas mas a coincidência das suas soluções com determinados fins político
criminais, i. e, com os fins das penas. O sistema será o sistema da lei se e na
medida em que garanta resultados conformes com as finalidades das penas —e
de que se possa esperar maior utilidade, reconhecimento social e maior justiça
material nos casos concretos. A préestrutura das normas não seria então dada
pela acção mas pelos fins das penas. Cf. o estudo de Roxin, Contribuição para a
crítica da doutrina final, publicado pela primeira vez em 1962, e traduzido para
português, incluído em Problemas fundamentais de direito criminal, p. 91 e ss.;
Winfried Hassemer, História das ideias penais na Alemanha do pósguerra,
especialmente, a partir de p. 63, bem como Einführung in die Grundlagen des
Strafrechts, 2ª ed., 1990, especialmente a partir de p. 22; e Figueiredo Dias, in
Fundamentos de um sistema europeo del derecho penal. LibroHomenaje a Claus Roxin,
1995, p 447 e ss.
M. Miguez Garcia. 2001
22
Orientação para as consequências do sistema jurídicopenal pode significar que o legislador,
a justiça penal e a execução das penas não se vêem apenas na função de perseguir o ilícito
criminal e impor o castigo ao criminoso, mas que visam pelo menos o objectivo de
ressocializar o agente do crime e pôr um travão à criminalidade no seu todo. Hassemer,
Einführung, p. 22.
O direito para que serve? "... aos valores substituemse os fins (subjectivos), aos fundamentos
os efeitos (empíricos) — numa só palavra, tratase de um finalismo que se afere por um
consequencialismo. (...). Corolários disso, e em que o compromisso ideológico se manifesta: a
libertação da política, o pragmatismo filosófico, o utilitarismo social (este consequência
também da libertação do económico). Depois, já no nosso tempo, as formas radicais de
secularismo activo, da incondicional libertação ética e bem assim a dialética holística da
"razão crítica" e de todas as "teorias críticas" nelas fundadas a favor de uma total
emancipação, tal como no plano social o materialismo utilitarista do bem estar, etc." A.
Castanheira Neves, Entre o "legislador", a "sociedade" e o "juiz" ou entre "sistema", "função" e
"problema" — os modelos actualmente alternativos da realização jurisdicional do Direito, RLJ, 130º,
nº 3884, p. 325.
V. Outras indicações de leitura
• A. Castanheira Neves, Entre o "legislador", a "sociedade" e o "juiz" ou entre "sistema",
"função" e "problema" — os modelos actualmente alternativos da realização jurisdicional do
Direito, RLJ, 130º, nº 3883 e ss.
• A. Castanheira Neves, O Direito hoje e com Que Sentido? O problema actual da autonomia
do direito, Instituto Piaget, 2002.
• Albin Eser/B. Burkhardt, Strafrecht I. Schwerpunkt, 4ª ed., 1992, p. 86 e ss. Há tradução
espanhola: Derecho Penal, Cuestiones fundamentales de la Teoría de Delito sobre la base de
casos de sentencias, Ed. Colex, 1995.
• Alfonso Serrano Maíllo, Ensayo sobre el Derecho Penal como ciencia. Acerca de su
construcción. Madrid, 1999.
M. Miguez Garcia. 2001
23
• Beatriz de La Gándara Vallejo, Algunas consideraciones acerca de los fundamentos
teóricos del sistema de la teoría del delito de Jakobs, ADPCP, vol. L, 1997.
• Bockelmann/Volk, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 4ª ed., 1987.
• Cavaleiro de Ferreira, A tipicidade na técnica do direito penal, Lisboa, 1935.
• Claus Roxin, Reflexões sobre a problemática da imputação em direito penal, in Problemas
fundamentais de direito penal, p 145 e ss.
• Claus Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1. Grundlagen, der Aufbau der
Verbrechenslehre, 2ª ed., 1994. Há tradução espanhola.
• Claus Roxin,Teoria da infracção, in Textos de apoio de Direito Penal, tomo I, AAFD,
Lisboa, 1983/84.
• Dirk von Selle, Absicht und intentionaler Gehalt der Handlung, JR 1999, p. 309 e ss.
• Eb. Schmidt, Teoria da infracção social, in Textos de apoio de Direito Penal, tomo II, AAFD,
Lisboa, 1983/84.
• Eberhard Schmidhäuser, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 1970.
• Edmund Mezger, Derecho Penal. Parte General. Libro de estudio. Tradução da 6ª ed.
alemã, Buenos Aires, 1958.
• Eser / Burkhardt, Strafrecht I, 4ª ed., 1992. Há tradução espanhola com o título Derecho
Penal, Ed. Colex, 1995.
• Enrique Bacigalupo, Princípios de derecho penal, parte general, 2ª ed, 1990.
• F. Haft, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 6ª ed., 1994.
• Faria Costa, O Perigo em Direito Penal, especialmente, p. 471 e ss. e p. 542 e ss.
• G. Jakobs, Estudios de derecho penal, 1997.
• G. Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2ª ed., 1993. Há tradução espanhola.
• Günter Stratenwerth, Derecho Penal, Parte general, I, El hecho punible, 1982, p. 107 e ss.
• H.H. Jescheck, Grundfragen der Dogmatik und Kriminalpolitik im Spiegel der Zeitschrift
für die gesamte Strafrechtswissenschaft, in ZStW 93 (1981), p. 1.
• H.H. Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts: Allg. Teil, 4ª ed., 1988, de que há tradução
espanhola.
M. Miguez Garcia. 2001
24
• Hans Welzel, das Deutsche Strafrecht, 11ª ed., 1969. Há tradução parcial para o espanhol
com o título Derecho Penal Aleman, Parte general / 11ª edicion, 4ª edicion castellana, Editorial
Juridica de Chile, 1997.
• Johannes Wessels, Strafrecht, AT1, 17ª ed., 1993: há traduções para português e para
castelhano a partir de edições anteriores.
• Jorge de Figueiredo Dias, Sobre a construção da doutrina do crime (do facto punível), in
Temas básicos da doutrina penal, Coimbra Editora, 2001.
• Jorge de Figueiredo Dias, Sobre o estado actual da doutrina do crime, 1ª parte, Revista
Portuguesa de Ciência Criminal, ano 1º (1991).
• Jorge dos Reis Bravo, Critérios de imputação jurídicopenal de entes colectivos, RPCC 13
(2003), p. 207.
• José Cerezo Mir, Curso de derecho penal español, parte general, II. Teoría jurídica del
delito/I, 5ª ed., 1997.
• José Cerezo Mir, El concepto de la acción finalista como fundamento del sistema del
Derecho penal, in Problemas fundamentales del derecho penal, 1982.
• José de Sousa e Brito, Sentido e valor da análise do crime, Direito e Justiça, volume IV
1989 / 1990.
• Juan Bustos Ramírez, Manual de derecho penal español. Parte general, 1984, p. 170.
• Juan Cordoba Roda, Una nueva concepcion del delito la doctrina finalista, Barcelona,
1963.
• Kristian Kühl, Strafrecht, AT, 1994.
• Lenckner, in S / S, Strafgesetzbuch, Kommentar, 25ª ed., p. 142 e s.
• Manuel Jaén Vallejo, El concepto de acción en la dogmática penal, Colex, 1994.
• Maria Fernanda Palma, A teoria do crime como teoria da decisão penal (Reflexão sobre o
método e o ensino do Direito Penal), in RPCC 9 (1999), p. 523 e ss.
• Maria Fernanda Palma, Questões centrais da teoria da imputação e critérios de distinção
com que opera a decisão judicial sobre os fundamentos e limites da responsabilidade penal, in
Casos e Materiais de Direito Penal, Coimbra, 2000, p. 53.
• Max Weber, Conceitos sociológicos fundamentais, tradução por Artur Morão do 1º
capítulo de Wirtschaft und Gesellschaft, Edições 70, 1997.
M. Miguez Garcia. 2001
25
• Paulo José da Costa Jr., Comentários ao Código Penal, 6ª ed. actualizada, Saraiva, 2000.
• Rudolphi, in Rudolphi / Horn / Samson / Schreiber, Systematischer Kommentar zum
Strafgesetzbuch. Band I. Allgemeiner Teil, 2ª ed., 1977.
• Ruiz Antón, La acción como elemento del delito y la teoría de los actos de habla: cometer
delitos con palabras, ADPCP, vol. LI, 1998.
• W. Hassemer, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, 2ª ed., 1990.
• Winfried Hassemer, Strafrechtswissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland, in
Rechtswissenschaft in der Bonner Republik, Studien zur Wissenschaftsgeschichte der
Jurisprudenz, hrsg. von Dieter Simon, Suhrkamp, 1994, p. 282 e ss.; encontrase traduzido para
português com o título História das ideias penais na Alemanha do pósguerra, e publicado pela
AAFDL, 1995. Há também tradução espanhola, com o título La ciencia jurídico penal en la
República Federal Alemana, publicado no ADPCP 1996, p. 36 e ss.
M. Miguez Garcia. 2001
26
§ 2º A ilicitude dos crimes dolosos por acção e os diversos níveis
de valoração. Juízo de ilícito sobre o facto e juízo de desvalor sobre
o agente.
Pela acção perguntamos de que é o homem capaz. Pelo ilícito perguntamos de que é que o
homem é capaz em determinadas situações e desempenhando certos papéis. Pela
culpa perguntamos de que é que este homem é capaz (Kaufmann, apud Faria Costa, O
Perigo, p. 423).
I. Comportamento humano e tipicidade como requisitos da ilicitude. É no
tipo que a lei descreve uma conduta humana desaprovada. A punibilidade de
uma conduta depende de pressupostos gerais que como tal a declaram —a
tipicidade, a ilicitude e a culpa.
A doutrina penal define correntemente o crime como uma acção (ou
omissão) típica, ilícita e culposa, distinguindo estes três elementos e ordenandoos
de tal forma que cada um deles pressupõe a existência do anterior. O sistema
(sistema LisztBeling) é o de fazer intervir um escalonamento gradual — o
julgador ou o aplicador do direito tem que valorar, em diversas fases ou em
diferentes níveis, o comportamento de um possível criminoso antes de chegar
ao juízo definitivo que o declara ou não merecedor de uma reacção criminal. Ao
determinarmos os pressupostos mínimos do agir criminoso cumprimos o
primeiro degrau de valoração, integrando a matéria fáctica numa norma penal,
levando a cabo uma operação constitutiva de um juízo de ilicitude como
desvalor da acção e do resultado. Eventualmente, faltando nessa conduta os
elementos objectivos ou subjectivos pertinentes ao juízo de imputação penal,
poderemos já então excluíla do leque das condutas típicas.
“Quem” fizer isto ou aquilo — será punido”. Tratase por conseguinte de
analisar, ao nível da tipicidade, se um determinado comportamento (acção ou
omissão) é ou não ilícito. Com o termo tipicidade querse significar que o
legislador descreve as condutas proibidas ou que tem por obrigatórias dum
M. Miguez Garcia. 2001
27
ponto de vista jurídicopenal. Basicamente, a tipicidade descreve aquilo que é
contrário a Direito, assinalando o que é proibido ou o que é obrigatório
(Stratenwerth). A descrição legal fixa os pressupostos que têm de ser
preenchidos para que alguém possa ser perseguido por furto, por homicídio ou
como autor de um crime de ofensas à integridade física ou de omissão de
auxílio, cumprindose deste modo o preceito constitucional segundo o qual
ninguém pode ser sentenciado criminalmente senão em virtude de lei anterior
que declare punível a acção ou omissão, nem sofrer medida de segurança cujos
pressupostos não estejam fixados em lei anterior (artigo 29º, nº 1, da
Constituição da República).
Neste âmbito pode surgir a questão das chamadas leis penais em branco. O Prof. Cavaleiro de
Ferreira identificava a norma penal em branco como “aquela em que falta inicialmente o
preceito primário; comunicase a sanção de uma infracção cujos elementos constitutivos
só parcial, e não totalmente, estão definidos no preceito primário”. O preceito primário,
que contém a ameaça penal, é completado por remissão para outra norma. As
possibilidades de remissão são para outro preceito contido na mesma lei penal, para
outra lei distinta ou para uma disposição de grau ou nível inferior (v. g., um
regulamento). Hoje em dia pode ilustrase o conceito com o artigo 279º, onde se exige
que a conduta do agente poluidor contrarie prescrições ou limitações que lhe foram
impostas pela autoridade administrativa em conformidade com leis ou regulamentos,
sob a cominação da aplicação das penas previstas para a prática do crime, constituindo
como que uma condição objectiva de punibilidade. Cf. o acórdão da Relação do Porto de
3 de Abril de 2002, CJ 2002, tomo II, p. 235. Há quem encare de modo diferente os tipos
penais abertos, em que parte dos elementos constitutivos da infracção não estariam
incluídos no tipo. Um exemplo corrente é o dos crimes simplesmente negligentes, onde
fica para o juiz a tarefa de especificar os limites da matéria de proibição. No acórdão do
Tribunal Constitucional nº 147/99, de 9 de Março de 1999, BMJ 48563, a recorrente
M. Miguez Garcia. 2001
28
sustentara que o carácter vago e incompleto de parte da norma penal que refere
contraria os princípios da tipicidade e da legalidade consagrados constitucionalmente.
Outras questões de (in)constitucionalidade podem ser vistas em Rui Patrício, Norma
penal em branco, em comentário ao Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de
17.4.2001, RMP 2001, nº 88. Ainda, Figueiredo Dias, RPCC 1991, p. 47, e O problema da
consciência da ilicitude em direito penal, p. 76 es s.; e Cavaleiro de Ferreira, Lições de Direito
Penal PG, 1, 1988, p. 35.
Se a conduta preenche todos (2) os elementos, objectivos e subjectivos,
correspondentes à descrição normativa, será em princípio ilícita. Quem, por ex.,
mata outra pessoa dolosamente realiza o ilícito descrito no artigo 131º,
preenchendo o seu comportamento todos os elementos típicos deste crime. Este
juízo de ilicitude não é porém definitivo, mesmo só no que toca à
antijuridicidade (=ilicitude; =injusto) do comportamento que,
excepcionalmente, poderá estar coberto por uma causa de justificação, por uma
eximente da conduta, a qual pode, por ex., ter ocorrido em situação de legítima
defesa (artigo 32º). As causas de justificação procedem do ordenamento jurídico
na sua globalidade, daí a desnecessidade de se encontrarem previamente
estabelecidas no Código Penal, falandose inclusivamente em causas de
justificação supralegais. O facto não é punível quando a sua ilicitude for excluída
pela ordem jurídica — nomeadamente, não é ilícito o facto praticado em
legítima defesa (artigo 31º, nºs 1 e 2, alínea a).
“Justificar é explicar as razões por que aconteceu um determinado facto ou por que se teve
certa conduta”. Faria Costa, O Perigo, p. 437, nota 147.
Por último, seja o comportamento doloso ou negligente, há lugar a uma
revaloração em sede de culpa, perscrutandose a posição assumida pelo agente
perante a ordem jurídica, e não se excluindo, ainda aqui, que a ausência de
2
Faltando um desses elementos (basta a falta de um), a conduta será atípica. Se a coisa não é alheia
ou o agente não actua com intenção de apropriação não poderá haver furto; se a mulher adulta consente na
cópula, não se poderá falar de crime sexual; se alguém entra a convite do dono da casa, o consentimento
exclui a tipicidade da conduta. Na falta de dolo, o crime, eventualmente, poderá ser castigado como
negligente (veja-se em especial o artigo 16º, nºs 1 e 3). Nem sequer haverá acção, como já vimos, nos actos
reflexos ou em caso de força irresistível, entre outros.
M. Miguez Garcia. 2001
29
culpa possa conduzir à irresponsabilização do agente pelo seu facto. O direito
penal, ao impor proibições, pretende evitar factos especialmente indesejáveis,
atenta a sua grave danosidade social, isto é, pretende evitar os factos
penalmente antijurídicos. Mas o direito penal não pode castigar quem realiza
algum destes factos sem culpa. A questão de saber se concorre ou não culpa só se
põe se anteriormente tivermos concluído pela ilicitude do comportamento.
Como adverte Bustos Ramírez, com isto, o que se pretende é oferecer ao jurista uma proposta
metodológica para a análise jurídica de factos concretos e poder determinar se estes
podem ser fonte de responsabilidade para as pessoas implicadas na sua realização.
Tratase de conceitos que se põem ao serviço do jurista que quer analisar e resolver casos
concretos, reais ou fictícios. Por conseguinte, têm uma finalidade essencialmente prática
e um importante valor instrumental.
Como se viu, uma conduta humana só poderá punirse se estiver prevista
numa norma penal que descreva claramente a conduta proibida ou ordenada,
acompanhada da cominação de uma pena. Está aqui implicado o princípio da
legalidade. Chamamos tipo a essas descrições de crimes contidas nas leis penais,
como por ex., o homicídio. Na Parte Especial (PE) do Código Penal, iniciada
com o artigo 131º, contémse um número grande de tipos, organizados e
sistematizados de acordo com os critérios escolhidos pelo legislador penal.
Se a lei penal quisesse descrever apenas o comportamento voluntário violador do bem jurídico,
enquanto tal, diria simplesmente: “Quem, através de uma conduta voluntária, lesar o
bem jurídico propriedade (ou: vida; ou: integridade física, ou: pureza da administração
pública, etc.), será punido desta maneira ou daquela”. Uma norma destas, porém, seria
portadora duma punibilidade desmedida. A técnica legislativa é muito mais exigente:
“Quem matar…” – aqui é necessária a morte de outra pessoa para que o crime de
homicídio resulte consumado. O direito penal só protege a subtracção de coisa móvel
alheia actuando o ladrão com “ilegítima intenção de apropriação”. Como agente do
M. Miguez Garcia. 2001
30
crime de dano, punese quem “destruir, no todo ou em parte, danificar, desfigurar ou
tornar não utilizável coisa alheia”. Nestes dois últimos casos, exigese não só a lesão da
propriedade mas também uma determinada forma de actuar. Na burla, na extorsão e,
especialmente, na usura, o facto punível é descrito ainda com uma maior gama de
pormenores.
II. Referência à Parte Especial do Código. Classificações.
Ao tipo confiase uma função de selecção dos comportamentos humanos
penalmente relevantes, separando as condutas típicas daqueles outros
acontecimentos que nesse sentido serão irrelevantes. O tipo de crime abarca
todas as características da disposição penal que fundamentam, aumentam ou
diminuem o injusto penalmente relevante (Wessels, AT, p. 33). Pertencelhe a
acção ("matar": artigo 131º), o objecto da acção ("outra pessoa": artigo 131º) e o
resultado criminoso ("a morte de outra pessoa": artigo 131º). Há ainda outras
circunstâncias que fazem parte de determinados tipos de crime, como certas
qualidades do agente ("funcionário": artigos 378º a 385º, com a correspondente
definição no artigo 386º), ou da vítima ("abuso sexual de crianças ou de menores
dependentes": artigos 172º e 173º). No artigo 254º remetese para o local do
crime: o "lugar onde repousa pessoa falecida". Outros tipos descrevem a
modalidade da acção ("violência, ameaça ou astúcia" no rapto: artigo 160º, nº 1;
"violência ou ameaça com mal importante na coacção”: artigo 154º, nº 1).
A Parte Especial do Código oferece a descrição dos tipos penais que
procuram desenhar taxativamente os factos incriminados pelo ordenamento
jurídicopenal. O legislador ordenouos, distribuindo sistematicamente as
diversas figuras delitivas por uma vasta região que vai do homicídio, que é
crime contra a vida, ao abandono de funções, que é crime de funcionário,
cometido no exercício de funções públicas. Existem aí, entre outros, crimes de
comissão e de omissão, crimes dolosos e simplesmente negligentes, crimes de
mera actividade e crimes qualificados pelo resultado.
A revisão de 1995 optou por uma sistemática, ao que se diz, (ainda) mais
coerente do que a da versão original, operandose nessa altura uma
considerável simplificação. Apontamse os crimes contra a integridade física e o
M. Miguez Garcia. 2001
31
crime de furto —e, por via reflexa, a generalidade dos preceitos relativos à
criminalidade patrimonial— como objecto de significativas modificações,
abandonandose o anterior modelo de recurso a conceitos indeterminados ou
de cláusulas gerais de valor enquanto critérios de agravamento ou privilégio. A
Revisão optou ainda por deixar de fora do Código Penal a punição de muitas
condutas cuja dignidade penal é hoje já pacífica e consensual, mas que razões
técnicas legislativas aconselham que constituam objecto de legislação
extravagante. Mas logo se impôs e trouxe à discussão a novidade de um direito
à privacidade como bem jurídico autónomo "a reivindicar a incriminação de
delitos de indiscrição" (Costa Andrade).
É, efectivamente, em torno do bem jurídico (bem merecedor de protecção)
que se distribui a lógica do ordenamento, erigindo o legislador os tipos penais
com referência a essa noção nuclear, que lhe serve de critério orientador e
ordenador. E numa perspectiva útil à praxis jurídica, pois a consequência mais
importante do critério interpretativo do bem jurídico —digase agora de
passagem— é a de que será atípica qualquer conduta que, ainda que
preenchendo os elementos de um crime, não viola (ou põe em perigo) o bem
jurídico protegido no caso concreto. (Cf. Bettiol, Diritto penale, PG, 5ª ed., 1962,
p. 114; e E. Gimbernat Ordeig, Concepto y método de la ciencia del derecho penal,
1999, p. 87). (3) As Actas da Comissão Revisora (1979, p. 11) acentuam,
justamente, que o sistema de distribuição dos tipos legais de crime segundo os
bens jurídicos protegidos reúne notórias vantagens em relação a todos os outros
sistemas, por ex., sobre o sistema da gravidade das penas, o do meio utilizado
pelo criminoso ou ainda o dos motivos do agente. A distribuição dos tipos
segundo os bens jurídicos protegidos é muito menos artificial, o que significa
que a violência às coisas é aqui muito menos evidente. Além disso, permite
facilitar a interpretação teleológica. Modernamente, a parte especial começa
pela descrição dos crimes contra as pessoas, seguindose depois a dos crimes
contra o património, contra a comunidade e, por último, contra o Estado. As
razões que levam os legisladores modernos —dizse ainda nas Actas— a
colocar o ponto de partida da protecção penal na pessoa são de vária ordem e
vão desde as razões filosóficas e culturais até às pragmáticas e pedagógicas.
Nem o Estado, nem a comunidade são pensáveis sem o homem. Daí que o
homem seja o ponto de partida. Daí que a Parte Especial comece pela descrição
3
Ao bem jurídico são atribuídas diversas funções: a função político-criminal de limite ao poder de
definição do Estado, que só poderá ditar normas penais de protecção de bens jurídicos; uma função crítica
do sistema penal, amparando os movimentos de neo-criminalização e descriminalização. Na interpretação
da norma penal, diz Bustos Ramírez, os bens jurídicos têm uma função básica: o processo de interpretação
de uma norma deverá fazer-se a partir do bem jurídico protegido por tal norma.
M. Miguez Garcia. 2001
32
dos crimes contra as pessoas. E neste sector os bens pessoais devem ter a
precedência sobre os bens patrimoniais.
Neste contexto, escreve o penalista brasileiro Paulo José da Costa Jr. que "o Código Penal é um
todo orgânico, que possui alma e razão. Não é constituído por um desordenado e aleatório
agrupamento de figuras delitivas, mas por sistemático conteúdo que exprime os valores
políticos, morais e culturais da colectividade. Como salienta Pannain, um Código não é "algo
que se encontra em um sector limitado e apartado da vida de um povo, mas se insere na vida
deste, aprofundando suas raízes para trazerlhe vida, em todos os sectores de sua constituição
jurídica, social, política, moral e cultural". E o critério da objectividade jurídica, a nosso ver,
está a evidenciar essa constatação".
Talvez por isso, não deixa de se acentuar (Costa Andrade) "que o
legislador é hoje chamado à vigília permanente e à contínua criação do direito,
maxime do direito penal: jus criminale semper reformandum. Em definitivo, para o
direito penal contemporâneo vale em cheio a advertência do filósofo pré
socrático segundo o qual não nos lavamos duas vezes no mesmo rio. E é assim
mesmo quando a persistência de leis aparentemente imutáveis na rigidez fixista
do seu teor verbal deixa sugerir o contrário".
Neste momento, do muito que a propósito haveria a dizer, fica apenas um
breve apontamento auxiliar sobre a classificação dos crimes, dandose especial
ênfase aos crimes de resultado e aos crimes de perigo que, uns e outros,
abundam no Código.
Designamos por crimes de resultado aqueles em que o resultado (de lesão
ou de perigo) aparece separado da acção do agente tanto espacial como
temporalmente. Considerese o homicídio: entre a acção, por ex. o apertar do
gatilho, e o resultado — a morte de outra pessoa —, é possível divisar um
afastamento que se projecta tanto no tempo como no espaço. O resultado
consiste, antes de mais, na lesão de um determinado objecto, a que chamamos
objecto da acção — e que não deve ser confundido com o objecto de protecção, a que
chamamos bem jurídico. Crime de resultado é, igualmente, a burla (artigo 217º,
nº 1), que exige uma disposição patrimonial donde decorre um prejuízo. Nos
crimes contra a honra há até quem os qualifique como crimes de resultado,
enquanto crimes de lesão da honra, ainda que se trate de lesão de um objecto
ideal, por não haver qualquer modificação de um estado de coisas. Nos crimes
M. Miguez Garcia. 2001
33
de mera actividade predomina a actividade. O tipo esgotase na realização de
uma acção, não sendo necessário que se produza um resultado material ou de
perigo. Ainda assim, casos há, como na violação do domicílio, em que a simples
actividade vai fazer surgir um resultado de lesão da intimidade na esfera
jurídica do dono da casa — este, todavia, não é descrito na norma
incriminadora. Mas não se colocam, nos crimes de mera actividade, problemas
de imputação objectiva, já que se não conexiona a acção com um determinado
evento, seja de lesão, seja de perigo. De uma maneira geral, poderemos
sustentar que os crimes de perigo abstracto são crimes de mera actividade.
A propósito dos crimes de resultado. Escreve o Prof. Jescheck, tendo unicamente em vista o
direito alemão: “Os delitos imperfeitos de dois actos e os delitos de resultado cortado
formam grupos especiais dentro dos delitos de vários actos e dos delitos de resultado. O
legislador transfere frequentemente o segundo acto do facto punível para o tipo
subjectivo, para assim adiantar a linha defensiva.” Falase nestes casos em delitos “com
tendência interna transcendente” (Schmidhäuser: “delitos de objectivo”, “Zieldelikten”).
“Nos delitos imperfeitos de dois actos basta que no momento da primeira acção concorra
a intenção (Absicht) do autor na posterior realização dessa segunda acção, ainda em
falta; assim, na falsificação documental (§ 267) basta que, por ocasião da falsificação,
concorra a intenção de enganar. Diferente é o que se passa com os delitos de resultado
cortado. Nos delitos de resultado cortado, a produção do resultado não está incluída no
tipo, que se basta com a intenção do autor dirigida ao resultado. É o caso da intenção
lucrativa (Vorteilabsicht) na burla (§ 236). Enquanto que no primeiro grupo a intenção se
orienta para uma posterior actuação do agente, no segundo, a produção do resultado é
independente da própria actuação. Deste modo, o furto (§ 242) é o exemplo de um delito
imperfeito de dois actos, pois requer a intenção de apropriação mediante aquela acção
do agente” (H.H. Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts, AT, 4ª ed., 1988, p. 239; ainda,
M. Miguez Garcia. 2001
34
Claus Roxin, Strafrecht, AT, 2ª. ed., p. 256, com expressa referência à apropriação no
furto (§ 242).
Se o tipo penal supõe que o autor é portador de determinadas qualidades
ou relações especiais chamamoslhes crimes específicos. Se para o autor apenas se
requer a normal capacidade de acção chamamoslhes crimes comuns. Crimes
comuns são o homicídio e o dano, o furto e a burla, que podem ser cometidos
por qualquer pessoa. Crimes específicos próprios são, por ex., os crimes de
funcionário, como o abuso de poder. Crimes específicos impróprios são aqueles
em que a qualificação específica do autor tem o sentido de determinar a
agravação.
Nos crimes permanentes a conduta incide sobre um bem jurídico susceptível
de "compressão", como serão todos os atentados à honra e à liberdade — não de
"destruição", como será o caso da lesão da vida. Por ex., no sequestro (artigo
158º) o ilícito é de duração, uma vez que o facto se prolonga no tempo,
perdurando do mesmo modo a conduta ofensiva (privação da liberdade). Com
o seu comportamento, o sequestrador não só cria a situação típica antijurídica
como a deixa voluntariamente subsistir. Deste modo, os crimes permanentes
consumamse com a realização típica, mas só ficam exauridos quando o agente,
por sua vontade ou por intervenção de terceiro (pensese na violação de
domicílio), põe termo à situação antijurídica. Numa perspectiva bifásica, existe
neles uma acção e a subsequente omissão do dever de fazer cessar o estado
antijurídico provocado, que faz protrair a consumação do delito. Segundo
Pagliaro, a fattispecie penal incrimina não só a conduta que instaura a situação
antijurídica (fase de instaurazione), mas também a conduta subsequente que a
mantém (fase de mantenimento). Além do sequestro e da violação de domicílio
podem também alinharse nos crimes permanentes a condução de veículo em
estado de embriaguez (artigo 292º) e a associação criminosa (artigo 299º). Há
outros casos porém em que o agente cria uma situação antijurídica, mas a sua
manutenção já não tem qualquer significado típico. Nestes crimes de efeitos
permanentes, por vezes mencionados como crime de situação (délit de situation,
Zustandsdelikt) como a bigamia (artigo 247º) ou a ofensa à integridade física
grave (artigo 144º), o agente, uma vez criada a situação, que a seguir lhe foge
das mãos, fica sem qualquer capacidade para lhe pôr termo. Há outros crimes
chamados instantâneos. Para alguns estudiosos, o furto constituirá, como
oportunamente veremos, um destes crimes instantâneos. A distinção é
M. Miguez Garcia. 2001
35
importante para determinar o momento a partir do qual começam a correr
certos prazos, como os da prescrição ou o do exercício do direito de queixa.
Nos crimes de perigo não se requer o sacrifício ou a efectiva lesão do bem
jurídico, mas como o perigo se identifica com a probabilidade de dano, o
legislador previne o dano com a incriminação de situações de perigo. De perigo
concreto, desde logo, como na violação da obrigação de alimentos (artigo 250º);
ou de perigo abstracto, como na importação, fabrico, guarda, compra, venda,
transporte (...) de armas proibidas (artigo 275º, nºs 1 e 3). Os crimes de perigo
concreto são crimes de resultado, não de resultado de dano, mas de resultado de
perigo: o resultado causado pela acção é a situação de perigo para um concreto
bem jurídico. Exigese que no caso concreto se produza um perigo real para o
objecto protegido pelo correspondente tipo, por exemplo, se a norma (como no
artigo 291º, nº 1), para além da maneira perigosa de conduzir, nela descrita,
exige ainda que se ponha em perigo a vida ou a integridade física de outrem ou
bens patrimoniais alheios de valor elevado. Se simplesmente ficarem expostos
ao perigo bens patrimoniais alheios que não sejam de valor elevado, a
incriminação não se aplica. Existe, por outro lado, um certo número de ilícitos
em que o legislador, partindo do princípio de que certos factos constituem
normalmente um perigo de lesão, puniuos como crime consumado,
independentemente da averiguação de um perigo efectivo em cada caso
concreto: "para fazer nascer a pretensão punitiva, basta a prática de uma
conduta considerada tipicamente perigosa, segundo a avaliação do legislador"
(W. Hassemer, A segurança pública no estado de direito, p. 67). São os crimes de
perigo abstracto. Por ex., punese a condução de veículo em estado de
embriaguez (artigo 292º) pelos perigos que advêm para os participantes no
trânsito de alguém conduzir excedendo os limites toleráveis de álcool no
sangue; ou a detenção de arma proibida (artigo 275º, nº 1) porque o legislador
quis evitar os perigos que para as pessoas podem derivar de alguém se passear
com uma arma de guerra. Mas o preceito fica preenchido mesmo que no caso
concreto se não verifique uma ameaça para a vida ou para a integridade física
de outrem. O artigo 275º, nºs 1 e 3, limitase a descrever, pormenorizadamente
(quem importar, fabricar, guardar, comprar, vender, ceder ou adquirir a
qualquer título, transportar, etc., armas proibidas), as características típicas de
que resulta a perigosidade típica da acção. Se, por ex., um contabilista —que
anda de candeias às avessas com um seu cunhado, por quem até já foi
ameaçado de morte—, conscientemente, se desloca de casa para o emprego com
uma pistola de 9 milímetros (arma proibida), a correspondência da acção com o
tipo legal do artigo 275º, nº 1, fica logo estabelecida. Neste caso, o perigo
M. Miguez Garcia. 2001
36
abstracto é um perigo presumido pelo legislador: ao juiz fica vedada qualquer
averiguação sobre a falta de perigosidade do facto. "Se o tipo [do artigo 275º, nº
1] está redigido de forma a inviabilizar a apreciação negativa do perigo, se ele
se funda numa presunção inilidível de perigo, o seu desvalor da acção assenta
na mera desobediência e a sua insconstitucionalidade pode ser arguida por
violação dos princípios da ofensividade e da culpa" (Augusto Silva Dias).
Os crimes de mão própria (délits personalissimes, eigenhändige Delikte)
requerem uma intervenção pessoal do autor. São aqueles que exigem uma
execução pessoal imediata do facto descrito na norma e portanto não se podem
cometer através de outra pessoa. Tratase de tipos legais que não admitem a
autoria mediata, como o do artigo 171º (actos exibicionistas), em que se pune
quem importunar outra pessoa, praticando perante ela actos de carácter
exibicionista, ou o do artigo 292º (condução de veículo em estado de
embriaguez). A pessoa que consegue que outra conduza em estado de
embriaguez pode ser instigadora (ou eventualmente cúmplice) mas não co
autora ou autora mediata.
III. Estrutura e elementos do ilícito
1. Desvalor da acção / desvalor do resultado. A aplicação de penas e de
medidas de segurança visa a protecção de bens jurídicos, dizse no artigo 40º, nº
1, do Código Penal. A classificação de um comportamento como típico, como
integrando a tipicidade que fundamenta a ilicitude, consiste desde logo, dum
ponto de vista material, na lesão do bem jurídico de outrem. Neste sentido, a
ilicitude é violação de um bem jurídico. O conceito de bem jurídico —Rechtsgut,
termo cunhado em 1834 por Birnbaum— é a base reitora do tipo, de modo que
o tipo provém da norma e da norma do bem jurídico (Jescheck). A conduta
(conduta humana) descrita é considerada antijurídica porque pode lesar algum
bem jurídico. Os bens jurídicos são relações sociais concretas: a vida ou a
liberdade são relações entre pessoas que adquirem significado de bem jurídico
na medida em que são confirmadas pela norma. Por isso, não lesa um bem
jurídico a agressão de um animal ou um facto da natureza (Bustos Ramírez) (4).
4
“O direito penal, por exemplo, não pode proteger uma moral ou uma religião determinada.
Quando se protege a moral ou a religião está-se a impor crenças que podem ser muito respeitáveis, mas que
não podem ser impostas aos restantes cidadãos pois significaria uma intromissão intolerável no âmbito da
sua liberdade, constituindo-se o direito penal em factor de discriminação” (cf. Bustos Ramírez, p. 59). Com
a Revolução francesa, o direito penal foi reduzido às infracções atentatórias de interesses alheios ou de
interesses públicos. Trata-se de uma fórmula saída da Declaração dos direitos do homem e do cidadão (de
1789, artigo 5º), que deixava uma boa margem de apreciação ao legislador, mas que, enquanto programa
legislativo, marcou a política criminal até aos nossos dias (cf. Martin Killias, Précis de droit pénal, 2ª ed.,
M. Miguez Garcia. 2001
37
Schmidhäuser recorda que bem significa algo valioso para o indivíduo ou para a
comunidade. Para o indivíduo são bens por ex., a vida, a liberdade, os teres e
haveres, enquanto a eles se não renuncia validamente. Bens da comunidade, de
titularidade supraindividual, os que, por ex., se identificam com a tutela da
realização da justiça, ou o exercício de funções públicas. Registamse
igualmente situações concretas a que o legislador oferece uma protecção
simultânea de bens jurídicos de orientação individual e colectiva, tipificando
condutas que protegem ao mesmo tempo interesses com essa dupla natureza.
Cf., entre outros casos, o que acontece com a infracção de regras de construção
(artigo 277º), a poluição (artigo 279º) ou a corrupção de substâncias alimentares
ou medicinais (artigo 282º).
A noção liberal do bem jurídico anda geralmente associada à questão dos chamados crimes
sem vítima, por ex., as relações homossexuais, com consentimento, entre adultos, a
pornografia ou a prostituição. Na maior parte dos países ocidentais, deuse nesta área
uma larga descriminalização. Paralelamente, há quem faça assentar no princípio volenti
non fit iniuria a descriminalização do consumo de drogas, chamandose a atenção para a
não punibilidade da tentativa de suicídio. O tema da descriminalização convoca, ainda, a
ideia de que o direito penal representa uma espécie de último recurso ou ultima ratio,
intervindo nos casos em que os outros meios à disposição da colectividade não sejam
suficientes para prevenir a lesão de bens jurídicos. Ao mesmo tempo que
descriminalizavam os legisladores foramse mostrando cada vez mais sensíveis às
infracções que põem em causa a liberdade de acção de pessoas particularmente
indefesas, em razão de idade, deficiência, doença ou gravidez. Cf. a Lei nº 65/98, que
alterou a alínea b) do nº 2 do artigo 132º, e introduziu a actual redacção da alínea b) do nº
1 do artigo 155º, entre outras disposições. “Nos países ocidentais, o denominador
comum parece ser agora uma sensibilidade acrescida aos sofrimentos individuais,
sensibilidade que se substitui progressivamente aos valores morais comuns de outrora”
2001, p. 23).
M. Miguez Garcia. 2001
38
(cf. Martin Killias, p. 24). Há quem veja na vitimização ou, mais exactamente, na
solidariedade para com a vítima, o único denominador comum com que as sociedades
ocidentais passaram a contar após o desaparecimento de convicções morais geralmente
partilhadas e aceites (Hans Boutellier, Crime and Morality: The Significance of Criminal
Justice in Postmodern Culture, Boston: Kluwer, 2000, citado por M. Killias).
O homicida, no sentido do artigo 131º, ao causar a morte de outra pessoa,
viola o bem jurídico “vida”. A lesão do bem jurídico compreende assim a
intervenção de alguém na esfera, protegida pelo direito, da liberdade de
outrem. Com a violação deste bem jurídico realiza o agente desde logo um
ilícito de resultado, e nessa medida um desvalor do resultado.
Quando na produção do facto criminoso o sacrifício do bem jurídico aparece acompanhado da
ofensa de outros interesses com projecção económica teremos — ao lado do sujeito
passivo, i. é, do titular dos interesses que a lei visa especialmente proteger com a
incriminação, ou seja, o ofendido — a figura do lesado pelo crime: o pedido de
indemnização é deduzido pelo lesado, entendendose como tal a pessoa que sofreu
danos ocasionados pelo crime, dizse no artigo 74º, nº 1, do Código de Processo Penal.
Este artigo 74º, nº 1, abarca na sua noção de lesado mesmo aquele que não possa
constituirse assistente. Recordese também o artigo 129º: a indemnização de perdas e
danos por crime é regulada, quantitativamente e nos seus pressupostos, pela lei civil; e
os artigos 71º e ss. do Código de Processo Penal, sobre as partes civis e o pedido de
indemnização civil fundado na prática de um crime. “A apreciação num mesmo
processo — no processo penal — da questão criminal e da questão civil fundase
essencialmente na existência de uma conexão entre os dois ilícitos, resultante da unidade
do facto simultaneamente gerador de responsabilidade civil e de responsabilidade penal.
A razão de ser deste sistema de adesão está na "natureza tradicionalmente absorvente
M. Miguez Garcia. 2001
39
do facto que dá causa às duas acções". É essa unidade que justifica um julgamento global
do caso, fundamental para a coerência e racionalidade da decisão final”. Cf. o acórdão
do Trib. Constitucional nº 183/2001, de 18 de Abril de 2001, publicado no DRIA, de 8
de Junho de 2001. (5)
O ilícito não se esgota, porém, na realização do desvalor do resultado
através da lesão do bem jurídico. Essa realização representa, além disso, e de
modo necessário, aquilo a que chamamos o desvalor da acção. Com o desvalor da
acção queremos referirnos ao modo externo de realização do resultado (lesão
do bem jurídico). Por ex., o direito penal só protege o património de terceiro na
medida em que o criminoso actua com astúcia (enganando ou induzindo
outrem em erro), por meio de violência ou de ameaça com mal importante, com
grave violação dos deveres, ou explorando situação de necessidade (artigos
217º, 223º, 224º e 226º).
É corrente, hoje em dia, distinguir no tipo de ilícito entre desvalor da acção e desvalor do
resultado. Olhando ao dolo do tipo e a outros elementos subjectivos como fazendo parte do
tipo de ilícito, não se esgota este no desvalor do resultado, isto é, na produção de uma
situação juridicamente desaprovada. Para a ilicitude da acção do agente envolvida na sua
finalidade contribuem ainda as restantes características e tendências subjectivas, bem como
outras intenções exigidas pela norma penal. Está aí compreendida, por ex., a intenção de
apropriação no furto. Em geral, não se dando o resultado típico, o crime não passa da
tentativa, se ocorrerem os elementos próprios do desvalor da acção. Mas não haverá ilicitude
se o resultado se verificar sem que se verifique o correspondente desvalor da acção — o
causador do resultado não será então punido.
Para compreensão do desvalor da acção concorrem portanto elementos
subjectivos, especialmente o dolo do agente, que aparece como o cerne do
desvalor pessoal da acção — ou seja, do desvalor da intenção.
5
1. Processualmente, ao tratar o ofendido como mero participante e ao vincular à sua constituição
como assistente para assumir a veste de sujeito do processo, "é ainda da formalização necessária a uma
realização mais consistente e efectiva dos direitos da vítima que se trata — e assim, a seu modo, de algo
paralelo ao que sucede com a substituição formal do suspeito como arguido". Figueiredo Dias, Sobre os
sujeitos processuais, p. 10.
M. Miguez Garcia. 2001
40
2. Qual o sentido da norma penal? Quem são os destinatários das
normas penais: apenas aqueles que têm capacidade para lhes desobedecer, ou
a generalidade dos cidadãos? O carácter “impessoal” do ordenamento
jurídico objectivo em contraposição com a culpabilidade.
Com a bibliografia relativa ao tema do correcto destinatário da norma pode formarse uma
pequena biblioteca. A. Kaufmann, Teoría de las normas, Buenos Aires, 1977, p. 162.
À primeira vista, a norma penal nada mais representa do que um
comando — é uma norma de determinação. O artigo 131º determina: “não
deves matar”; o artigo 200º exprime uma ordem com o seguinte sentido: “deves
prestar auxílio”. Compreendese por isso que uma doutrina muito difundida
encare as regras jurídicopenais como imperativos. ”A fórmula quer dizer que
as regras jurídicas exprimem uma vontade da comunidade jurídica, do Estado
ou do legislador. Esta vontade dirigese a uma determinada conduta dos
cidadãos e exige esta conduta com vista a determinar a sua realização.
Enquanto vigorarem, os imperativos jurídicos têm força obrigatória. (…). A
partir daqui, a teoria imperativa proclama que, de acordo com a sua substância,
o direito consiste em imperativos e só em imperativos”. Cf. Engisch, Einführung,
p. 22. Para uma teoria destas, a ameaça da pena pretende determinar, motivar
os cidadãos para que se abstenham de cometer crimes. Todavia, deste modo
não se explica o carácter ilícito das condutas de inimputáveis e em geral dos
que actuam sem culpa, tornando impossível a distinção entre ilicitude e culpa,
já que numa tal perspectiva o imperativo dirigese apenas e vincula unicamente
a vontade daqueles que “são capazes de o conhecer, de o compreender e de o
seguir” (Luzón Peña, p. 340; cf., também, Bockelmann / Volk, p. 34).
Numa outra concepção, os imperativos e as proibições cominadas
penalmente vão dirigidos à generalidade dos cidadãos, sem distinguir se estes
são susceptíveis de culpa ou não, “não só para deixar claro qual é a conduta de
modo geral proibida, como também entre outras coisas porque por vezes e em
certa medida também os inimputáveis se deixam determinar ou motivar pela
norma penal. Mas em qualquer caso, embora os não culpáveis só anormalmente
sejam acessíveis ou praticamente inacessíveis à norma penal (problema de
culpa), isso não significa que não actuem de modo contrário à mesma, já que os
respectivos comportamentos estão proibidos para todos. Portanto, a norma a
que o acto antijurídico se opõe é também norma — objectiva, geral — de
M. Miguez Garcia. 2001
41
determinação” (Luzón Peña). Esta perspectiva tem a vantagem de possibilitar a
distinção entre ilicitude e culpa, essencial para a moderna teoria do crime.
Na realidade, as normas penais são normas de determinação (tu não deves
matar), mas são igualmente normas de valoração (não se deve matar): são
modelos de comportamento, na medida em que contêm uma ordem objectiva
para a vida em sociedade. Ao exprimirem aquilo que a ordem jurídica tem
como juridicamente correcto e, simultaneamente, aquilo que é desaprovado,
dão aos seus destinatários indicações a respeito da forma como se devem
comportar. E porque assim exprimem também um juízo sobre a conduta
humana, as normas de direito penal contêm juízos de desvalor: a desaprovação
que comportam exprimese por sua vez através da cominação de uma pena.
Naturalmente que, como se começou por acentuar, a norma —que não
desaprova factos, mas condutas— tem igualmente um elemento imperativo, e a
conjugação destas duas ideias merece ser um pouco mais desenvolvida.
Seguindo a exposição de Bockelmann / Volk: a norma não diz, por ex.: “as
pessoas não devem morrer antes da sua hora”, pois se assim fosse entendida, a
vida de uma pessoa aniquilada por um raio, por ocasião dum desabamento de
terras ou numa avalanche, seria também objecto desse desvalor. Mas não é
assim que compreendemos a norma, os acontecimentos naturais não
comportam este tipo de valoração penal. Só assim valoramos os
comportamentos humanos, mas nem todos, como já se viu. Por isso mesmo, a
norma também não pode ser entendida com o seguinte sentido: “As pessoas
não devem dar causa a resultados lesivos”, pois nela ficaria incurso todo aquele
que num simples movimento reflexo, por ex., num ataque de epilepsia, partisse
um vaso de flores alheio. A norma deverá antes comportar um sentido como
este: “As pessoas devem fazer isto e não aquilo, devem actuar assim ou não
devem actuar assim”. Uma tal norma será portadora não só de uma valoração
como também de um imperativo, será uma norma de proibição ou um
comando. Ora, “os comandos e as proibições do Direito têm as suas raízes nas
chamadas normas de valoração”, de modo que a força de imperativo da norma
penal, ao não reflectir uma pura arbitrariedade, obedece a um prius lógico,
“obedece normalmente a prévias reflexões ou valorações” (Luzón Peña;
Mezger) — “um prius lógico do Direito como norma de determinação é sempre
o Direito como norma de valoração, como “ordenação objectiva da vida”
(Engisch, p. 28), ou, como escreve Jorge de Figueiredo Dias, O problema da
consciência da ilicitude em direito penal, 3ª ed., 1987, p. 129, “a norma imperativa
ou de determinação supõe sempre logicamente uma norma de valoração que a
antecede ou, quando menos, coexiste com aquela, sendo a determinação proposta,
M. Miguez Garcia. 2001
42
uno acto, com a valoração”. Assim entendida, a norma é “um imperativo
generalizador” (Bokelmann / Volk, p. 35), o seu destinatário é, por conseguinte,
e em primeira linha, o conjunto dos que integram uma comunidade jurídica,
estabelecendose uma máxima de carácter geral donde resulta, por assim dizer,
a dedução das linhas directoras da conduta dos indivíduos (“Tu não deves fazer
aquilo que se não deve fazer”). Nas palavras do Prof. Faria Costa, O perigo, p.
409, sendo a função de valoração um prius lógico e temporal relativamente à
função de determinação, isso faz com que “o juízo sobre o ilícito esteja ligado à
função de valoração de um modo objectivo, na medida em que subjaz a todas as
acções humanas, a todos os factos da vida independentemente da sua
capacidade”. Ora, se num determinado caso não for possível dirigir um juízo de
censura ao agente, se não for possível censurar aquele que violou a norma
penal, por ter actuado sem culpa, fica excluída a pena, mas continua a existir
um juízo de desvalor sobre o facto —a conduta é uma conduta ilícita. Estas
diferenças fazem com que tenhamos que separar os elementos que pertencem à
ilicitude dos que pertencem à culpa. (6) Fazem parte da antijuridicidade todos
aqueles factores (e só eles) de cuja presença resulta ser a conduta concreta do
agente alvo da desaprovação prevista na norma. Na categoria da culpa
integramse todos aqueles outros momentos que justificam dirigirse um juízo
de reprovação ao agente (cf. Bokelmann / Volk, p. 36). O deslindar conceptual
entre as normas jurídicas como normas de valoração que se dirigem a “todos” e
a norma de dever como norma de determinação que se dirige “só” a quem está
obrigado, torna possível o contraste entre os pressupostos básicos do delito,
entre a antijuricidade objectiva e a censura pessoal (cf. A. Serrano Maíllo, p.
325).
3. Realização pessoal do desvalor da acção. As normas penais são
normas de dever, mas são também normas de protecção que garantem a esfera
de liberdade do portador do bem jurídico. Realização do desvalor do
resultado. Actualmente, como se viu, a doutrina predominante encara a norma
de proibição como imperativo já no momento de apreciar o ilícito, ou seja, como
norma imperativa ou de determinação (ou norma de conduta), que se dirige ao
6
Quanto a esta matéria, uma das exposições mais conhecidas é a de Mezger, Derecho Penal, p. 133
e ss.), que distingue entre normas objectivas de valoração e normas subjectivas de determinação. As normas
de direito aparecem como juízos a respeito de determinados acontecimentos e estados do ponto de vista do
direito. Objecto desta valoração pode ser tanto a conduta de pessoas capazes ou incapazes de acção,
culpáveis ou não culpáveis, os acontecimentos ou estados do mundo circundante, etc. A esta concepção do
direito corresponde a antijuricidade (primeiro pressuposto da norma jurídico-penal), ou seja: o do ilícito
como uma lesão das normas jurídicas de valoração. Das normas objectivas de valoração deduzem-se as
normas subjectivas de determinação, que se dirigem ao concreto súbdito do direito. A lesão destas normas é
de importância decisiva para determinar a culpa.
M. Miguez Garcia. 2001
43
querer das pessoas, dizendo a cada um de nós o que devemos fazer ou não
fazer. A norma de determinação é uma norma de conduta: através da norma de
proibição e dos dados que ela contém pretendese que o indivíduo se mantenha
à margem do ilícito, que não cometa crimes. A inobservância da norma de
proibição, diz Kühl, agindo o sujeito dolosamente, com conhecimento e
vontade, significa a realização pessoal do desvalor da acção. Esse desvalor é
certamente mais intenso no caso do autor doloso do que quando alguém o faz
negligentemente, ainda que com negligência grosseira. Mas como o ilícito se
desdobra igualmente em desvalor de resultado, deve entenderse, prossegue o
mesmo autor, “que as normas de proibição penais cunhadas nos tipos de ilícito
devem ser entendidas não só como normas de dever, mas também como
normas de protecção que garantem a esfera de liberdade do portador do bem
jurídico que elas protegem contra ataques do sujeito do crime. Normas penais
que proíbem determinados comportamentos, em primeira linha, porque estes
comportamentos podem conduzir à lesão de bens jurídicos alheios. Estas
normas contêm em si uma limitação valorativa de espaços de liberdade, são
normas de valoração, que postulam espaços de liberdade entre indivíduos.
Quem viola a esfera de liberdade assim protegida viola do mesmo passo a
norma de protecção e realiza consequentemente o desvalor do resultado”.
É na categoria do ilícito que se reflecte de modo directo a tarefa do Direito Penal: impedir as
condutas socialmente danosas não evitáveis de outro modo. Já se observou que nem
toda a conduta é uma conduta punível. Ainda que realizada, a proibição geral de
matar (na manifesta simplicidade da expressão literal do artigo 131º: "Quem matar
outra pessoa...") pode estar justificada por legítima defesa, por uma causa de justificação,
que em nada afecta a tipicidade da conduta, ainda que excluindo a sua ilicitude, ou
seja, a sua antijuridicidade ou contradição com o direito. Quem se defende realiza o
tipo do homicídio mas não será punido porque não actuou de forma ilícita. Por
conseguinte, ao analisarmos a punibilidade de uma conduta devemos examinar
sempre, após a comprovação da tipicidade, se concorre no caso uma eximente da
ilicitude. "O injusto implica a desaprovação do facto como socialmente danoso em
M. Miguez Garcia. 2001
44
sentido penal, enquanto que a afirmação da tipicidade comporta um mero indício —
um indício provisório do juízo de antijuridicidade, que se pode refutar em cada caso
concreto. Consequentemente, é na categoria do ilícito que se exprime de modo directo
a tarefa do Direito Penal: impedir as condutas socialmente danosas não evitáveis de
outro modo" (Roxin, in Introducción, p. 38).
4. O tipo objectivo. Consideremos o artigo 212º, nº 1: “Quem destruir, no
todo ou em parte, danificar, desfigurar ou tornar não utilizável coisa alheia é
punido…”. A palavra “quem” aponta o sujeito do crime, o seu autor. Para a
acção e o resultado apontam os termos “destruir, danificar, desfigurar, tornar não
utilizável”. O objecto da acção é uma coisa alheia. Tratase aqui de um crime
comum, que poderá ser cometido por qualquer pessoa, em contraste com os
crimes específicos ou especiais (delicta propria), em que a lei menciona
expressamente as pessoas qualificadas para serem autores, só elas podendo ser
autores. Por ex., sujeito de um crime de atestado falso do artigo 260º, nº 1, só
poderá ser uma das pessoas nele mencionadas: médico, dentista, enfermeiro,
parteira, etc. —é um crime específico. Já o crime do respectivo nº 4 (“quem fizer
uso dos referidos certificados ou atestados…”) é crime comum. Nos casos em que
a norma exige um certo resultado estaremos perante um crime de resultado, que
se deverá distinguir dos crimes de mera actividade, como é o crime de violação
de domicílio (artigo 190º). Os crimes de resultado tanto podem ser de resultado
de dano como de resultado de perigo. Mais adiante afinaremos estes conceitos.
Mas não se esqueça que a tarefa de imputar um determinado resultado à
actuação de um sujeito, como “obra” deste, tem a ver com a parte geral do
Código. Ao lado do autor do crime, do resultado e do correspondente nexo de
imputação, pertencem ainda ao tipo outras circunstâncias típicas, “que
caracterizam mais pormenorizadamente a acção do agente” (Roxin, AT, p. 244).
Vejase o caso da usura (artigo 226º) e a quantidade de características típicas
exigidas para o crime se consumar. Uma particular atenção merece a distinção
entre elementos típicos descritivos e normativos. Diz Mezger, p. 147, quanto aos
elementos típicos normativos, que “o juiz deve realizar um juízo ulterior
relacionado com a situação de facto”, são portanto aquelas características cuja
presença supõe uma valoração. “Edifício” ou “construção” (artigo 272º, nº 1),
“subtracção” (artigo 203º, nº 1) são elementos descritivos —“designam
“descritivamente” objectos reais ou objectos que de certa forma participam da
M. Miguez Garcia. 2001
45
realidade, isto é, objectos que são fundamentalmente perceptíveis pelos
sentidos ou por qualquer outra forma percepcionáveis” (Engish, Introdução ao
pensamento jurídico, p. 210). Palavras como “alheio” (artigo 203º, nº 1), “acto
sexual de relevo” (artigo 163º, nº 1), “doença contagiosa” (artigo 283º, nº 1), ”ou
“honra” (artigo 180º, nº 1) exigem ulteriores diferenciações, são características
normativas. Em situações como a do artigo 386º ou do artigo 255º é a própria lei
que adianta a definição, por ex., a de “funcionário”, no primeiro caso, ou de
“documento”, no segundo.
5. O tipo subjectivo. Como se viu, acabou por se impor a perspectiva de
um tipo com elementos subjectivos, o dolo e outras características subjectivas,
que o sistema clássico, sujeito à ideia de um tipo de ilícito reduzido ao seu lado
objectivo, encarava como forma de culpa. Foi a teoria finalista que primeiro
remeteu o dolo para o âmbito do tipo, permitindonos agora enquadrálo,
enquanto elemento subjectivo geral, nesse lugar sistemático. O dolo tem que se
estender a todas as características objectivas do tipo, garantindo a congruência
entre o lado objectivo e o lado subjectivo. Sem a comprovação do dolo, não é
possível, portanto, afirmar a realização de um crime dessa natureza.
Ocasionalmente, ao lado do dolo como elemento subjectivo geral, detectamse
no tipo outros elementos subjectivos, específicos de certos crimes, que não têm
correspondência do lado objectivo, caracterizando o que por vezes se designa
por tendências internas transcendentes, como o ânimo de lucro na burla ou a
intenção de apropriação no furto. Enquanto elementos subjectivos do ilícito
estes factores são na prática de difícil comprovação, embora externamente não
faltem elementos a funcionar como indicadores da sua existência
6. O ilícito é quantificável — o artigo 71º, nº 2, alínea a), manda que na
determinação concreta da pena, o tribunal atenda, entre outras circunstâncias,
ao grau de ilicitude do facto. O desvalor dum crime doloso é mais intenso do
que o desvalor do crime simplesmente negligente. Actuando o arguido com
intenção de realizar o crime (artigo 14º, nº 1), o desvalor da acção é mais elevado
do que havendo dolo eventual, é mais intenso na negligência grosseira do que
na negligência leve. O desvalor é ainda mais elevado quando ao desvalor da
acção se vem juntar um desvalor do resultado —é assim quando a conduta
antijurídica é acompanhada de certas consequências, como por ex., a criação de
um perigo concreto (o perigo concreto caracterizase por uma situação crítica
aguda que tende para a produção do resultado danoso, o qual só não ocorre por
acaso) ou de um resultado de dano (=resultado de lesão), que representa a
ofensa do bem jurídico em consequência do desenvolvimento do perigo).
M. Miguez Garcia. 2001
46
CASO nº 2: Desvalor da acção / desvalor do resultado. A segue conduzindo o
seu automóvel por uma estrada de montanha. Numa curva apertada aventurase a meter pela
faixa à sua esquerda, por ter conseguido ver com antecipação que nenhum carro transitava em
sentido contrário. Na ausência de um perigo concreto, que na verdade não chegou a ocorrer, A
é responsável por uma situação (acção) de perigo abstracto e só pode ser punido por uma
contraordenação ao Código da Estrada. O desvalor da acção não está acompanhado (do
desvalor) de qualquer resultado.
Suponhase agora que na mesma curva um condutor surgia às tantas em sentido
contrário, mas na sua mão. O embate só foi evitado por este, no último instante, mediante uma
manobra arrojada. Poderá aqui detectarse, a acompanhar o desvalor da acção de A, o
desencadear de um perigo concreto para a vida do condutor respeitador das normas (desvalor
do resultado de perigo).
Por último, considerese que na mesma situação o choque não pôde ser evitado e o
condutor que seguia na sua mão sofre lesões de alguma gravidade. Ao desvalor da acção
perigosa de A juntase o desvalor do resultado de dano (ou de lesão).
Já atrás se observou que, nos crimes dolosos, não se dando o resultado típico, o crime não
passa da tentativa, mas mesmo assim é necessária a presença dos elementos próprios do
desvalor da acção. Mas não haverá ilicitude se o resultado se verificar sem que se verifique o
correspondente desvalor da acção —o causador do resultado não será então punido. Nos
crimes negligentes não existe a correspondente tentativa. Cf., no entanto, um tipo de ilícito
como o do artigo 292º (condução de veículo em estado de embriaguez), onde, mesmo na forma
negligente, para a consumação se não exige qualquer resultado: é crime de perigo abstracto, de
mera actividade. Mas na maior parte das vezes a conduta negligente só é susceptível de
integrar um crime, sendo portanto punida, se ocorrer um desvalor de resultado imputável ao
agente.
IV. A culpa. A diferença entre ilicitude e culpa residirá na distinção entre
desvalor da conduta e desvalor da atitude. A ilicitude é caracterizada pelo
desvalor da acção e pelo desvalor do resultado —à culpa ligase um desvalor
da atitude (por ex., se o agente mata pelo prazer de matar).
“A distinção entre ilicitude e culpa é o legado mais importante da ciência alemã do Direito
Penal na primeira metade do nosso século. Actua ilicitamente quem, sem justificação, realiza
M. Miguez Garcia. 2001
47
um tipo jurídicopenal e, desse modo, uma acção socialmente danosa. Mas esse
comportamento só é culposo quando for possível censurálo ao seu autor por ter podido
actuar de maneira diferente, isto é, de acordo o com o direito. É igualmente doutrina
absolutamente dominante na ciência alemã do Direito Penal — e considerase isso como uma
quase evidência — que, a par da distinção entre ilicitude e culpa, se devem também
distinguir as causas de justificação das causas de exclusão da culpabilidade”. Claus Roxin,
Concepción bilateral y unilateral del princípio de culpabilidad, in Culpabilidad y
prevencción en derecho penal; cf., ainda, Sentido e limites da pena estatal, in Problemas
fundamentais de Direito Penal, 1986, p. 15 e ss.).
O derradeiro nível de valoração, passada a prova de fogo da tipicidade e
da ilicitude, situase na culpa. Sem culpa não se poderá aplicar uma pena —e o
ilícito penal, isto é, uma conduta típica e ilícita, não é, sem mais, punível: "a
qualificação do comportamento como ilícito significa apenas que o facto
realizado pelo autor é desaprovado pelo Direito, mas não nos autoriza a
conclusão que aquele deva responder pessoalmente por ele" (Roxin). Desde
logo, são inimputáveis os menores de 16 anos: são absolutamente inimputáveis
em razão da idade (artigo 19º) —a prática, por menor com idade compreendida
entre os 12 e os 16 anos, de facto qualificado pela lei como crime dá lugar à
aplicação de medida tutelar educativa em conformidade com a Lei nº 166/99, de
14 de Setembro. Exigese, por outro lado, que concorram no autor da infracção
de uma norma determinadas condições de receptividade dessa mesma norma:
no momento da sua actuação, o agente deverá encontrarse em condições que lhe
permitam receber a mensagem normativa e de poder ser influenciado por ela.
Se o agente actuou sem culpa, se porventura procedeu em situação de anomalia
psíquica, encontrandose preenchidos os pressupostos do artigo 20º, nº 1, por
forma a tornálo incapaz de avaliar a correspondente ilicitude, não poderá
aplicarselhe uma pena. Incluemse aqui, entre outras, as patologias mentais no
sentido clínico, como a esquizofrenia, e a intoxicação por drogas ou pelo álcool.
A inimputabilidade que assim se desenha não é, contudo, a única causa de
exclusão da culpa. A censurabilidade pessoal que fundamenta o juízo por culpa
pode ser excluída em caso de falta de consciência da ilicitude (artigo 17º, nº 1).
Actuando o agente em estado de necessidade desculpante (artigo 35º) fica
igualmente excluída a culpa. Recordese a tábua de Carneâdes: após o naufrágio
de um navio, os dois marinheiros sobreviventes, A e B, agarraramse a um tábua
que só chegava para um (tabula unius capax). Para salvar a vida, A afastou B da
M. Miguez Garcia. 2001
48
tábua e este morreu afogado. Põese o problema de saber se A pode ser
condenado por homicídio. Uma vez que age sem culpa quem praticar um facto
ilícito adequado a afastar um perigo actual e não removível de outro modo, que
ameace a vida — não há dúvida de que a actuação de A, ainda que ilícita, não
poderá ser punida. Neste contexto, assumem particular importância os casos de
actiones liberae in causa (artigo 20º, nº 4), em que préordenadamente o sujeito
utiliza o seu estado para praticar o crime. À semelhança do código alemão,
também no artigo 295º se adoptou um regime que prevê a punição daquele que,
pelo menos por negligência, se colocar em estado de inimputabilidade e nesse
estado praticar um facto ilícito típico.
CASO nº 2A. Os artigos 34º e 35º apontam, respectivamente, para a
ilicitude e para a culpa. Conduta justificada; conduta simplesmente
desculpada. O caso Mignonnete. No ano de 1884, após o naufrágio do navio com este
nome, dois dos sobreviventes, em situação de extrema necessidade, mataram um terceiro, mais
jovem, e para não morrerem alimentaramse do corpo —de outro modo, não teriam
sobrevivido. Na Inglaterra, o tribunal que julgou o caso recusouse a absolver os dois infelizes
argumentando que a vida é um bem absoluto, não sendo tolerada a morte de um inocente,
mesmo nos casos mais extremos. Por isso condenou os dois náufragos à morte, mas logo a
seguir uma medida de clemência substituiu a pena pela de 6 meses de trabalhos forçados. Na
altura, o direito penal não tinha ainda chegado à fase que lhe permitiu distinguir as causas de
justificação das causas de desculpação —por isso mesmo era impensável pronunciar uma
sentença absolutória. Hoje em dia, com base no artigo 35º, os dois sobreviventes seriam
absolvidos por terem agido em estado de necessidade desculpante: o comportamento de ambos
continua a ser antijurídico, por acordo deram a morte ao companheiro de infortúnio (“outra
pessoa”) e actuaram dolosamente, como conhecimento e vontade, realizando o tipo de ilícito do
artigo 131º. Mas a conduta não está justificada, só assim seria se, por ex., o rapaz tivesse sido
morto em legítima defesa. Não foi isso que aconteceu, mas num caso como este, o direito de
hoje tem instrumentos que configuram a renúncia a castigar quem não merece censura pelo
acto ilícito que comete.
Tanto as causas de exclusão da ilicitude como as que excluem a culpa
conduzem à impunidade, levam ao mesmo resultado. Ainda assim, háde
repararse que a conduta justificada, estando autorizada pelo direito, obriga
quem por ela se encontra afectado a suportála. Pelo contrário, a vítima de uma
conduta simplesmente desculpada pode defenderse da agressão (ilícita)
amparado por legítima defesa. O B da tábua de Carneâdes pode virarse
eficazmente contra o seu agressor, agindo em legítima defesa. As causas de
exclusão da culpa não concedem nenhum direito a actuar, tão só eximem da
pena.
M. Miguez Garcia. 2001
49
Os pressupostos de punição do agente capaz de culpa (artigo 20º, nº 1: “é inimputável quem
(…) for incapaz (…) de avaliar a ilicitude…”) mostram, desde logo, que a culpa se refere
ao facto ilícito. Quando o portador de uma anomalia mental mata outra pessoa sem ser
em situação de necessidade, a doença nada muda quanto a ser o facto desaprovado.
Mesmo aquela criança que num golpe de fúria atira o companheiro de brincadeiras para
a água, onde o deixa morrer afogado, actua ilicitamente no sentido de que se trata da
morte de outra pessoa. Contudo, em nenhum destes exemplos se nos afigura ajustada a
imposição de uma pena. O mesmo deverá acontecer quando um adulto são de espírito
actua sem consciência da ilicitude do facto, “se o erro lhe não for censurável”, conforme
dispõe o artigo 17º. Se, por ex., aquela mãe que nada percebe de medicamentos ministra
ao filho doente o remédio errado, por o médico se ter enganado ao passar a receita,
ficando, por isso, a criança ainda mais doente —tanto a mãe como o médico preenchem
elementos típicos dum crime contra a integridade física. Dum ponto de vista objectivo, é
de reconhecer que a criança ficou afectada na sua saúde ainda mais do que estava antes.
O médico não deveria ter receitado este medicamento a esta criança. Observando,
provisoriamente, as coisas tal como resultam do que se acaba de expor, deveríamos
castigar o médico por ofensas corporais negligentes. Todavia, deixaríamos a mãe em
paz: como pessoa que não estudou medicina não possuía os conhecimentos para
reconhecer os perigos associados à ministração do remédio ao filho. Outro caso: Quando
hoje em dia assistimos à peça de Sófocles sobre o mito tebano do Rei Édipo,
estremecemos com a enormidade do castigo sofrido. Édipo matou o próprio pai e tomou
a própria mãe como sua esposa, mas sem saber, tanto num caso como no outro, que se
tratava dos seus próprios progenitores. Podemos igualmente concluir que os gregos
M. Miguez Garcia. 2001
50
partiam de um outro conceito de culpa, diferente do nosso. Finalmente, ficamos aptos a
melhor compreender que a imputabilidade não está só associada às anomalias mentais,
mas tem a ver com a consciência do ilícito. É nestes momentos que intervêm situações
desvaliosas respeitantes à culpa, que acrescem à ilicitude da conduta. Cf. Eb.
Schmidhäuser, AT, p. 117; e Verbrechen und Strafe, p. 99 e ss.
A este propósito, anotese que o Código alude ao “facto” (por ex., no artigo
1º) e ao “facto não ilícito” (por ex., no artigo 34º, nº 1). Alude à “ilicitude do
facto” (por ex., no artigo 28º, nº 1) e ao “facto punível” (por ex., no artigo 13º).
Alude à “culpa” (por ex., no artigo 35º, nº 1). A referida circunstância suscita,
entre outros problemas, a separação do ilícito e da culpa. Os artigos 34º e 35º
apontam, respectivamente, para a ilicitude e para a culpa.
V. Interesse prático da distinção entre ilicitude e culpa
i) A participação num facto justificado fica sempre impune. Mas o Código
não permite que a punição do partícipe, por ex., o cúmplice, fique dependente
da culpa de outrem, como se retira do artigo 29º, onde se dispõe que cada
participante é punido segundo a sua culpa, independentemente da punição ou
do grau de culpa dos outros participantes. É altura de recordar os pressupostos
da acessoriedade limitada.
ii) Em matéria de erro, dispõe o artigo 16º, nº 2, que exclui o dolo o erro
sobre um estado de coisas que, a existir, excluiria a ilicitude do facto ou a culpa
do agente. Tratase da suposição errónea de uma causa de justificação ou de
uma causa de exclusão da culpa, que no direito português têm o mesmo regime
legal, mas cujo tratamento noutros espaços (por ex., pela generalidade da
doutrina alemã) é diferenciado.
iii) No que respeita à legítima defesa, é seu requisito uma agressão actual e
ilícita (artigo 32º).
iv) Como elemento típico do crime de auxílio material previsto no artigo
232º, nº 1, bem como do de receptação do artigo anterior, a lei descreve o facto
precedente como “facto ilícito típico” contra o património.
M. Miguez Garcia. 2001
51
VI. Indicações de leitura
Artigo 368º, nº 2, do Código de Processo Penal: questão de saber, a) Se se verificaram os
elementos constitutivos do tipo de crime; b) Se o arguido praticou o crime ou nele participou;
c) Se o arguido actuou com culpa; d) Se se verificou alguma causa que exclua a ilicitude ou a
culpa; Se se verificaram quaisquer outros pressupostos de que a lei faça depender a
punibilidade do agente ou a aplicação a este de uma medida de segurança.
Actas das sessões da Comissão revisora do Código Penal, Parte Especial, ed. da AAFDL,
Lisboa, 1979.
Acórdão do Trib. Const. nº 93/2001, de 13 de Março de 2001, publicado no DR II série de 5
de Junho de 2001: Tipicidade. Exploração ilícita de jogo. Tipo excessivamente aberto. Falta de
precisão da norma. Grau admissível de indeterminação ou flexibilidade normativa.
Alfonso Serrano Maíllo, Ensayo sobre el derecho penal como ciencia. Acerca de su
construcción, Madrid, 1999.
Américo A. Taipa de Carvalho, A Legítima Defesa, dissertação de doutoramento, 1995.
Antonio Pagliaro, Principi di Diritto Penale, PG, 1972.
B. Schünemann, La función de delimitación de injusto y culpabilidad, in Fundamentos de
un sistema europeo de Derecho Penal, LibroHomenaje a Claus Roxin, 1995.
Bokelmann / Volk, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 4ª ed., 1987.
Cavaleiro de Ferreira, A tipicidade na técnica do direito penal, Lisboa, 1935.
Claus Roxin, Acerca da problemática do direito penal da culpa, in Textos de apoio de
Direito Penal, tomo II, AAFD, Lisboa, 1983/84.
Claus Roxin, Günther Arzt, Klaus Tiedemann, Introducción al derecho penal y al derecho
procesal, Barcelona, 1989.
M. Miguez Garcia. 2001
52
Claus Roxin, Teoria da infracção, Textos de apoio de Direito Penal, tomo I, AAFD, Lisboa,
1983/84.
Costa Andrade, O princípio constitucional “nullum crimen sine lege” e a analogia no campo
das causas de justificação, RLJ ano 134º, nº 3924.
DiegoManuel Luzón Peña, Curso de Derecho Penal, PG I, 1996.
E. Gimbernat Ordeig, El sistema del derecho penal en la actualidad, in Estudios de derecho
penal, 3ª ed., 1990.
E. Gimbernat Ordeig, Teoria da infracção: culpa, in Textos de apoio de Direito Penal, tomo
II, AAFD, Lisboa, 1983/84.
E. Gimbernat Ordeig, Tiene un futuro la dogmática juridicopenal?, in Estudios de derecho
penal, 3ª ed., 1990.
Edmund Mezger, Derecho Penal. Parte General. Libro de estudio. Tradução da 6ª ed. alemã,
Buenos Aires, 1958.
Emiliano Borja Jiménez, Algunas reflexiones sobre el objecto, el sistema y la función
ideológica del Derecho Penal, ADPCP, vol. LI, 1998.
Eser / Burkhardt, Strafrecht I, 4ª ed., 1992. Há tradução espanhola com o título Derecho
Penal, Ed. Colex, 1995.
Fernando Molina Fernández, Antijuricidad penal y sistema del delito, Bosch, Barcelona,
2001.
G. Bettiol, Direito Penal. Parte Geral, tomo II, Coimbra, 1970.
G. Stratenwerth, As formas fundamentais do facto punível, in Textos de apoio de Direito
Penal, tomo II, AAFD, Lisboa, 1983/84.
M. Miguez Garcia. 2001
53
H. H. Jescheck, As fases de desenvolvimento da nova teoria da infracção, in Textos de apoio
de Direito Penal, tomo II, AAFD, Lisboa, 1983/84.
H. Welzel, Teoria da infracção crimes dolosos, in Textos de apoio de Direito Penal, tomo II,
AAFD, Lisboa, 1983/84.
H. Welzel, Teoria da infracção crimes negligentes, in Textos de apoio de Direito Penal,
tomo II, AAFD, Lisboa, 1983/84.
João Curado Neves, Comportamento lícito alternativo e concurso de riscos, AAFDL, 1989.
Jorge de Figueiredo Dias, Sobre o estado actual da doutrina do crime, 1ª parte, Revista
Portuguesa de Ciência Criminal, ano 1º (1991).
Jorge de Figueiredo Dias, Textos de Direito Penal. Doutrina geral do crime. Lições ao 3º ano
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, elaboradas com a colaboração de Nuno
Brandão. Coimbra 2001.
José Cerezo Mir, Lo injusto de los delitos dolosos en el Derecho penal español, in Problemas
fundamentales del derecho penal, 1982.
José de Faria Costa, Ilícitotípico, resultado e hermenêutica (ou o retorno à limpidez do
essencial), RPCC 12 (2002).
José de Sousa Brito, Sentido e valor da análise do crime, Textos de apoio de Direito Penal,
tomo I, AAFD, Lisboa, 1983/84; Direito e Justiça, volume IV 1989 / 1990.
José Ramón SerranoPiedecasas Fernández, Fundamentación objectiva del injusto de la
tentativa en el Código Penal, ADPCP, vol. LI, 1998.
Juan A. Bustos Ramírez / H. H. Malarée, Lecciones de derecho penal, vol. II, 1999.
K. Kühl, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 1994.
M. Miguez Garcia. 2001
54
Karl Engish, Einführung in das juristische Denken, 8ª ed., de que existe a conhecida
tradução do Prof. J. Baptista Machado em edição da Fundação Calouste Gulbenkian.
Luís Duarte D’Almeida, Sobre leis penais em branco, BFDUL, vol. XLII (2001), nº 1.
Manuel Cortes Rosa, La función de la delimitación de injusto y culpabilidad en el sistema
del derecho penal, in Fundamentos de un sistema europeo de Derecho Penal, LibroHomenaje
a Claus Roxin, 1995.
Manuel da Costa Andrade, Sobre a reforma do Código Penal Português, RPCC 3 (1993), p.
427.
Paulo José da Costa Jr., Comentários ao Código Penal, 6ª edição actualizada, São Paulo,
Saraiva, 2000.
Rui Patrício, Norma penal em branco. Em comentário ao Acórdão do Tribunal da Relação
de Évora de 17.4.2001, RMP 2001, nº 88.
Santiago Mir Puig, La antijuridicidad en el Derecho penal de un Estado social y democrático
de Derecho, in El Derecho penal en el Estado social y democrático de derecho, 1994.
Silvio Ranieri, Manuale di Diritto Penale, 1º vol., PG, 4ª ed., 1968.
Winfried Hassemer, História das ideias penais na Alemanha do pósguerra, AAFDL, 1995.
M. Miguez Garcia. 2001
55
§ 3º Nexo de causalidade; imputação do resultado à acção.
I. Conexão entre acção e resultado. Causa, condições. Causalidade. Imputação
objectiva. Causalidade naturalística e causalidade valorativa.
• CASO nº 3: A e B trabalham no mesmo matadouro, mas são como o cão e o gato, andam
continuamente em discussão um com o outro e até já foram chamados à gerência, que os pôs
de sobreaviso: ou acabam com as disputas, ou vão ambos para a rua. Mas nem isso chegou
para os acalmar. Uma tarde, A, porque não gostou dos modos do companheiro, atiroulhe ao
peito, com grande violência, o cutelo com que costumava trabalhar, enquanto lhe gritava:
“desta vez, matote mesmo!”. A força do golpe foi atenuada pelo blusão de couro que B usava
por debaixo do avental de serviço e A só não prosseguiu a agressão porque disso foi impedido
por outros trabalhadores, que entretanto se deram conta da disputa. A ferida produzida pelo
cutelo não era de molde a provocar a morte da vítima, mas B foi conduzido ao hospital onde,
por cautela, ficou internado, em observação. Numa altura em que estava sob o efeito de
sedativos, B recebeu a visita de C, sua mulher, a qual tinha “um caso” com A, motivo de todas
as discórdias. Logo aí C, que ambicionava vir a casarse com A, aproveitou para se ver livre do
marido, que se recusava a darlhe o divórcio: aproveitando um momento de sono, aplicoulhe
uma almofada na cara, impedindoo de respirar, até que o doente se finou. O posterior
relatório da autópsia descreveu a causa da morte, mas os peritos adiantaram que B sofria de
uma doença do coração que não lhe permitiria sobreviver senão uns dias.
Punibilidade de A e C.
A agiu dolosamente, com intenção de matar B, ao atirarlhe com violência
o cutelo de que estava munido, visando uma zona nobre do corpo, que foi
atingida. A morte de B não ocorreu, porém, em resultado da conduta de A, pois
foi causada pela aplicação da almofada, que o asfixiou. Neste sentido, a morte
de B não pode ser atribuída (imputada) a A, não é "obra" de A. Todavia, uma
vez que A praticou actos de execução do crime que decidiu cometer, fica desde
M. Miguez Garcia. 2001
56
logo comprometido com o tipo de ilícito de homicídio tentado dos artigos 22º,
nºs 1 e 2, 23º, nºs 1 e 2, e 131º.
Ao penalista interessa a causa de um determinado fenómeno, de um
evento particular, que pode ser, por ex., a morte de uma pessoa, um
atropelamento com lesões corporais no peão, ou o desencadear de um incêndio
com perigo para a vida de outrem, como acontece com muitos tipos da parte
especial do Código: ao lado da acção, o tipo descreve o correspondente
resultado —de lesão, como por ex., no homicídio (artigo 131º), ou de perigo
concreto, como, por ex., no crime de exposição ou abandono (artigo 138º). A
estes crimes chamamos crimes de resultado (de resultado de lesão ou de dano;
ou de resultado de perigo), por oposição aos crimes de mera actividade, em que
a lei se limita a descrever a actividade do sujeito, como são todos os crimes de
perigo abstracto.
Numa certa perspectiva, todos os factores de que depende o acontecer
desse efeito —a morte de uma pessoa no homicídio, certos perigos derivados de
um incêndio, etc.— são considerados, em conjunto, como a sua causa. Noutra
perspectiva, causa será apenas um desses factores e só um deles: os outros serão
meras condições. Numa boa parte das hipóteses nem sequer surgem dúvidas a
esse respeito: se A dispara dois tiros a três metros de distância de B, atingindoo
na cabeça e no fígado, e B morre logo em seguida, não se coloca nenhum
problema especial —os disparos são a causa da morte da vítima; esta "é obra"
de A e pode serlhe imputada objectivamente.
Outra é a questão da imputação subjectiva, a questão de saber se A actuou com dolo ou
negligentemente.
Noutras hipóteses, os problemas ganham contornos por vezes difíceis de
destrinçar. No caso nº 3, B foi agredido por A, que agiu com intenção de matar.
A lesão provocada pela agressão não era de molde a provocar a morte de B,
mas esta veio a darse por acção da mulher, na sequência da hospitalização para
tratamento da ofensa recebida. Aliás, B podia ter morrido quando era
transportado ao hospital se a ambulância em que seguia se tivesse despistado
por excesso de velocidade ou fosse colhida por um comboio numa passagem de
nível sem guarda. Podia até ter morrido por ser hemofílico, ou por erro médico.
Ou mesmo por ter sido alcançado por um incêndio que alguém ateou no
M. Miguez Garcia. 2001
57
edifício da clínica onde fora internado. De qualquer forma, A sempre teria
morrido uns dias depois, devido a irremediáveis problemas de coração.
Outro exemplo (Eser) de dificuldades no âmbito da causalidade: A esbofeteou B, dandolhe
com a mão aberta na parte esquerda da cara. B sofreu por isso comoção cerebral e em
consequência dela a lesão dos vasos cerebrais que lhe ocasionou a morte imediata. Existe
aqui uma dupla relação de causalidade: em primeiro lugar, o nexo entre a acção da lesão
(a bofetada de mão estendida) e o resultado da lesão (a comoção cerebral); em segundo
lugar, a relação entre a lesão corporal e a morte de B.
Nestes casos, há fundamentalmente dois caminhos diferentes para
responder à questão da conexão entre acção e resultado: causalidade e imputação.
Ao falarmos de causalidade estamos a pensar na acção (causa) que provoca um
determinado evento ou resultado (efeito). Quando falamos de imputação
partimos do resultado para a acção. O primeiro caminho é conforme às leis
naturais e corresponde à doutrina clássica. O segundo caminho tem
características normativas e busca resolver insuficiências dos pontos de vista
tradicionais. Como veremos em breve, causalidade e imputação objectiva não
podem ser confundidas.
II. Trilhando os caminhos da causalidade. A doutrina da csqn: todas as
condições são equivalentes —"o que é causa da causa é causa do mal
causado"; o processo de eliminação —"se não tivesses feito o que fizeste não
teria acontecido o que aconteceu".
• CASO nº 3A: C seguia conduzindo o seu automóvel por uma das ruas da cidade
quando lhe surgiu uma criança a curta distância, vinda, em correria, de uma rua
perpendicular. C conseguiu evitar o embate à custa de repentina travagem, mas, no momento
seguinte, V, homem dos seus 30 anos, que seguia a pé pelo passeio, começou a invectiválo em
alta grita pelo que tinha acontecido. Perante o avolumar da exaltação e do descontrolo de V, C,
indivíduo alto e fisicamente bem constituído, saiu do carro e pediulhe contenção, obtendo
como resposta alguns insultos que, indirectamente, envolviam a mãe de C. Este reagiu dando
M. Miguez Garcia. 2001
58
dois murros em V, que o atingiram na cara e no pescoço. V começou então a desfalecer e,
apesar de C lhe ter deitado a mão, caiu, sem dar acordo de si. Transportado a um hospital,
acabou por morrer, cerca de meia hora depois. A autópsia revelou que a morte foi devida a
lesões traumáticas meningoencefálicas, as quais resultaram de violenta situação de "stress", e
que a mesma ocorreu como efeito ocasional da ofensa. Esta teria demandado oito dias de
doença sem afectação grave da capacidade de trabalho.
No plano da causalidade, a doutrina da equivalência das condições
(doutrina da "condicio sine qua non") continua, ainda hoje, a ter larga aplicação
prática, nomeadamente, para a jurisprudência alemã. A teoria, cujos
fundamentos vêm dos tempos de Stuart Mill ("cause"—"the sum total of the
conditions") e que terá sido divulgada nos países de língua alemã por v. Buri,
assenta em que causa de um fenómeno é todo e qualquer factor ou
circunstância que tiver concorrido para a sua produção, de modo que, se tal
factor (condição) tivesse faltado, esse fenómeno (por ex., a morte de uma
pessoa) não se teria produzido.
Partindo deste quadro naturalístico da equivalência das condições, causa
é, no sentido do direito penal, toda a condição de um resultado que não possa
suprimirse mentalmente sem que desapareça o resultado na sua forma
concreta, ou, na formulação de Mezger, causa do resultado é qualquer condição,
positiva ou negativa, que, suprimida in mente, faria desaparecer o resultado na
sua forma concreta. Exemplo (de v. HeintschelHeinegg, p. 147):
• A mergulhou numa situação financeira muito grave após ter perdido um processo judicial
movido por um credor. Para se vingar do juiz, telefonou para casa deste e disse à mulher,
fingindo ser da polícia, que o marido tinha tido um gravíssimo acidente pouco antes e que não
resistira aos ferimentos. A mulher, perante a inopinada notícia, perdeu os sentidos e não
resistiu: pouco depois falecia. (Cf., a propósito de actos desencadeadores de perturbações
psíquicas, Prof. Faria Costa, O Perigo, p. 531). Nos parâmetros da teoria da equivalência, a
causalidade da notícia para a morte da mulher estabelecese do seguinte modo: “O que é que
teria acontecido se A não tivesse feito o telefonema para casa do juiz? Nesse caso, não tendo
sido informada do infausto acontecimento, a mulher nem teria desmaiado, nem teria morrido
pouco depois. Se se eliminar o telefonema, suprimese o resultado, de forma que a conduta de
A causou a morte da mulher.”
M. Miguez Garcia. 2001
59
Para a fórmula habitual da condicio, qualquer condição do resultado,
mesmo que seja secundária, longínqua ou indirecta, é causa do mesmo: para
efeitos causais todas as condições são equivalentes. Condição é assim qualquer
circunstância sem a qual o resultado se não produziria. Para decidir se uma
situação, conduta ou facto natural é condição, utilizase a "fórmula hipotética".
A crítica mais acertada, e ao mesmo tempo a menos justa, que se dirige à
teoria das condições é a do "regresso ao infinito", por se considerarem causais,
por ex., circunstâncias muito remotas ou longínquas. A morte da vítima foi
causada pelo assassino, mas também se poderia dizer o mesmo dos ascendentes
deste, os pais, avós, bisavós. Um acidente de viação com vítimas terá sido
causado não só pelo condutor mas também pelo fabricante e pelo vendedor do
carro. Poderia até ser causa do adultério o carpinteiro que fez a cama onde os
amantes o consumaram. Outra objecção é a de que assim se responsabilizam
pessoas mesmo quando entre o facto e o evento danoso as coisas se passaram
de forma totalmente imprevisível, anómala ou atípica, como no exemplo do
ferido, que não morre da agressão, mas no acidente da ambulância que o
transporta ao hospital: sendo as condições equivalentes, o agressor seria
responsável pelo efeito letal, mesmo que a ferida por si produzida fosse de
molde a curarse em oito dias. Ainda assim, certas insuficiências da doutrina
foram sendo corrigidas, por ex., recorrendo à imputação subjectiva: quem causa
a morte de outra pessoa, ou actua dolosamente ou o faz por negligência, e só
nessa medida é que o facto será punível. A doutrina da adequação (causalidade
adequada) foi chamada a preencher algumas das insuficiências da fórmula da
condicio.
No caso nº 3, A, ao atirar com o cutelo contra o peito do colega de trabalho,
ferindoo, pôs uma condição que, lançando mão da teoria da equivalência, não
poderá eliminarse mentalmente sem que desapareça o resultado. Deste modo,
não tem significado, face à equivalência das condições, a circunstância de se
tratar de um processo completamente atípico, e de à acção de A se vir juntar a
conduta de C. Para esta teoria, mesmo a intervenção de um terceiro, seja ela
dolosa ou simplesmente negligente, não quebra a cadeia causal. Nesta
perspectiva, a actuação de A é causal da morte de B. O exemplo nº 3 adianta a
hipótese de A morrer devido a problemas cardíacos. Os processos causais
hipotéticos são aqueles em que o autor provoca o resultado, mas este sempre
teria acontecido por forma independente daquela acção. Ora, o que aconteceu
foi que uma outra condição, adiantandose, apressou a morte — acelerouse o
resultado, como em geral acontece quando se dispara sobre um moribundo, ou
M. Miguez Garcia. 2001
60
quando vem um indivíduo, diferente do carrasco, e antes da hora oficialmente
marcada para a execução, accionando a guilhotina, mata o condenado. O
comportamento da mulher, ao aplicar a almofada na cara de quem, prostrado
na cama do hospital, não se podia defender, é causal do resultado (artigo 131º),
de acordo com a fórmula habitual da condicio, mesmo que, sem essa actuação, a
morte fosse inevitável e se daria num momento posterior devido à doença
(processo causal hipotético). A morte (notese: o mesmo resultado) sempre
ocorreria, embora de outra maneira. Se se atender ao decurso causal efectivo, a
causalidade não se exclui nos casos em que intervêm processos causais
hipotéticos. Isto significa que não se pode contar com tais processos. Não é
legítimo perguntarmos, por ex., o que se teria passado se o ofendido não tivesse
sido transportado ao hospital: são as circunstâncias efectivamente realizadas que
deverão ser suprimidas in mente, e não as hipotéticas (cf. Bustos Ramírez, p.
170). Decisivo é o resultado concreto na sua especial conformação, não uma
morte qualquer, como resulta do artigo 131º, mas a morte ocorrida em Salzburg,
no dia 7 de Novembro de 1983, pelas 23h12m, junto à casa do compositor
Amadeus Mozart, depois de uma refeição a que alguém adicionou uma porção
de veneno para os ratos (Triffterer; Öst. StrafR, p. 123).
Havendo várias condições em alternativa (não cumulativas) qualquer
delas poderá eliminarse mentalmente sem que desapareça o resultado na sua
forma concreta. Portanto, cada uma delas é causal do resultado — o que
contraria a fórmula da condicio. Se A e B disparam simultaneamente sobre C,
atingindoo, um na cabeça outro no coração, a hipótese é de causalidade
alternativa (dupla causalidade). Aplicandolhe a fórmula da condicio, i. é, se por
forma independente suprimirmos mentalmente cada uma das condições (o
disparo) o resultado não deixa de se verificar. Consequentemente, na lógica da
condicio, nenhum dos disparos seria causa da morte —o que levaria à absolvição
de ambos. O resultado só se eliminaria se afastássemos cumulativamente os
dois disparos, o que certamente demonstra os limites desta teoria, como
observa Bustos Ramírez, exigindo que se lhe introduzam certas correcções, com
os olhos postos nos objectivos do direito penal. Dizendo por outras palavras, a
fórmula já não serve— nem mesmo colocando o resultado na sua conformação
concreta —quando se trata de causas idênticas e contemporâneas, capazes de
produzir o mesmo efeito independentemente uma da outra (gleichzeitiger,
gleichförmiger und unabhängig voneinander wirksamer Ursachen). Noutro exemplo,
citado por Eser, do filho e da filha que odeiam o pai, cada um deles, sem o outro
saber, preparalhe uma bebida, adicionandolhe uma dose mortal de veneno; o
M. Miguez Garcia. 2001
61
pai bebe o copo preparado pela filha e morre, mas teria acontecido o mesmo se
tivesse bebido do outro copo. Cf. também Kühl, JR 1983, p. 33.
No caso nº 3A, está fora de dúvida que C agrediu V corporalmente, em
termos de lhe produzir, como consequência da sua actuação dolosa, oito dias de
doença. A mais disso, o resultado mortal — que na sua expressão naturalística,
enquanto acontecimento infausto e infelizmente definitivo, também não deixa
espaço para discussão —, fica vinculado à apreciação da relação causal, como
qualquer outro pressuposto geral da punibilidade. Está em causa, portanto, um
comportamento humano e todas as suas consequências.
• No caso nº 3A, e utilizando a fórmula da condicio, não é possível excluir a causalidade
mortal do murro dado por C — ainda que V já estivesse em risco de morrer por se encontrar
extremamente depauperado. Todavia, mesmo para um não jurista, parece claro que a morte de
V não deverá ser atribuída a C.
O caso nº 3 representa um processo causal atípico, como são todos aqueles
em que A, com intenção de matar B, o fere tão ao de leve que este só tem que
receber ligeiros curativos no hospital, para onde é transportado, mas no
caminho, por hipótese, a ambulância onde B seguia intervém num acidente,
batendo fragorosamente num automóvel que se lhe atravessa à frente num
cruzamento, e B morre, por ter saído gravemente ferido do acidente. Para a
fórmula da condicio— e recapitulando —a atipicidade do processo causal não
exclui a causalidade. Como veremos a seguir com mais pormenor, a resposta
será diferente para quem opere com a teoria da adequação. Esta teoria não
identifica causa com qualquer condição do resultado, mas apenas com aquela
condição que, em abstracto, de acordo com a experiência geral, é idónea para
produzir o resultado típico. Deste modo, não haverá realização causal
(adequada) se a produção do resultado depender de um curso causal anormal e
atípico, ou seja, se depender de uma série completamente inusitada e
improvável de circunstâncias com as quais, segundo a experiência da vida
diária, não se poderia contar. A teoria da adequação, não sendo uma teoria da
equivalência, procura limitar os inconvenientes que dela resultam, restringindo
o âmbito da responsabilidade penal no plano da causalidade: é por isso, mais
exactamente, uma teoria da responsabilidade, e não, propriamente, uma teoria da
causalidade.
M. Miguez Garcia. 2001
62
O caso do homem do matadouro mostra igualmente que, na perspectiva
da teoria da adequação, a morte não pode ser atribuída à agressão com o cutelo,
pois foi directa e imediatamente provocada pela mulher —com a
particularidade de a acção desta se seguir à acção do primeiro agressor. De
resto, o homem sempre teria morrido uns dias depois, de irremediáveis
problemas de coração, ou poderia ter morrido num acidente quando era
transportado ao hospital.
Até agora, o nosso objectivo tem consistido em averiguar se a morte das
vítimas foi causada, num caso, pela agressão inicial com o cutelo, ou pelo
murro, no outro — enfim, se a morte "é obra" do agressor, ou se é atribuível à
acção de outra pessoa, ou se "é obra" do acaso. A primeira indagação fazse no
plano da causalidade da acção relativamente ao resultado. O ponto de partida é
o da teoria das condições (condicio sine qua non: csqn), donde arranca a teoria
da causalidade adequada. A qual tem desde logo a vantagem de excluir os
processos causais atípicos. Ou, mais modernamente, a teoria da imputação
objectiva, que nalguns casos supera e elimina algumas das desvantagens
daquelas outras teorias.
III. A importância do nexo causal e da previsibilidade do resultado. À teoria
da adequação (teoria da causalidade adequada) já não basta a existência de
um nexo causal, é ainda necessário que o resultado seja objectivamente
previsível.
• O caso da embolia pulmonar. Quando, em 19 de Agosto de 1993, A seguia
conduzindo uma carrinha começou a descrever uma curva para a direita e encostou demasiado
a viatura às guardas da ponte que se propunha atravessar de tal modo que apertou entre a
carroçaria e as referidas guardas o peão B, de 70 anos, que não teve qualquer hipótese de evitar
ser entalado. B sofreu diversas fracturas, incluindo uma do colo do fémur, vindo a falecer em 5
de Setembro de 1993, durante o período de tratamento hospitalar, de embolia pulmonar.
O único problema a resolver é o de saber se a morte por embolia pulmonar resultou, directa e
necessariamente, das lesões sofridas por B, em consequência adequada do acidente.
Sustentouse (cf. o acórdão da Relação de Coimbra de 2 de Abril de 1998, CJ, 1998, tomo
M. Miguez Garcia. 2001
63
II, p. 56) que "este tipo de lesões e a imobilização prolongada são apenas dois dos
quarenta factores de risco dos quais pode resultar uma embolia pulmonar". O relatório
da autópsia concluíra que a morte de B foi devida a embolia pulmonar. Posteriormente o
médico que o elaborou esclareceu que não foi possível estabelecer uma relação directa
entre o acidente ocorrido em 19 de Agosto de 1993 e a embolia pulmonar que causou a
morte de B em 5 de Setembro seguinte; pode contudo haver uma relação indirecta já que
as fracturas sofridas em consequência do acidente obrigam a imobilidade prolongada o
que, numa pessoa de 70 anos, é um factor de risco. Solicitado parecer ao Conselho
MédicoLegal de Coimbra (artigo 9º, nº 2 do DecretoLei nº 387C/97, de 29 de
Dezembro), concluise: "as fracturas sofridas pela vítima do acidente de viação ocorrido
em 19/8/93 obrigaram a uma situação de imobilização no leito. Em tais situações, a
ocorrência de uma tromboembolia pulmonar, favorecida pelo processo de imobilização,
é uma eventualidade sempre possível, surgindo mais frequentemente nas primeiras 2 a 3
semanas após o traumatismo." O tribunal acabou assim por concluir que as lesões
traumáticas decorrentes do acidente de viação, devem ser consideradas causa adequada
da morte. Invocouse na sentença o artigo 127º do Código de Processo Penal, de acordo
com o qual a prova é apreciada segundo as regras da experiência e a livre convicção do
Tribunal, salvo quando a lei dispuser de modo diferente. Portanto, não se tratou de uma
circunstância extraordinária, a embolia é efeito das fracturas provocadas pelo acidente, e
por conseguinte as consequências estão ligadas a estas lesões e são da responsabilidade
de quem as fez. Não se provou, aliás, ao contrário do que se insinuava, que a vítima não
tenha recebido o tratamento adequado.
M. Miguez Garcia. 2001
64
A teoria da causalidade adequada parte da teoria da equivalência das
condições, na medida em que pressupõe uma condição do resultado que não se
possa eliminar mentalmente, mas só a considera causal se for adequada para
produzir o resultado segundo a experiência geral. Só é adequada —portanto,
juridicamente significativa— uma causa que de acordo com o curso normal das
coisas e a experiência da vida, tenda a produzir um resultado idêntico ao
efectivamente produzido. Deste modo, deverão excluirse todos os processos
causais atípicos que —como se viu anteriormente— só produzem o resultado
devido a um encadeamento extraordinário e improvável de circunstâncias. O
modelo de determinação da adequação assenta numa prognose póstuma: trata
se de um juízo de idoneidade referido ao momento em que a acção se realiza,
como se a produção do resultado se não tivesse ainda verificado — é um juízo
exante. (Cf. Eduardo Correia, p. 258). Em seu juízo sensato, o julgador opera
com as circunstâncias concretas em geral conhecidas e as regras da experiência
normais (saber nomológico), sem abstrair daquelas circunstâncias que o agente
efectivamente conhecia (saber ontológico). Se só o agente sabia que a vítima era
hemofílico, isso deve tomarse em conta para determinar a idoneidade.
O juízo de adequação é levado a cabo mediante uma prognose posterior objectiva. Posterior,
porque é o julgador que se coloca no momento da acção, i. é, ex ante e não no momento
da produção do resultado (ex post, pois então deixaria de ser uma prognose e deveria
atenderse a condições que o sujeito não teve em mente no momento da actuação). O
aplicador do direito, situado no momento em que a acção se realiza, como se a produção
do resultado se não tivesse ainda verificado (ex ante), deverá ajuizar de acordo com as
regras da experiência comum aplicadas às circunstâncias concretas do caso (juízo
objectivo, enquanto juízo de experiência ou de probabilidade), levando ainda em conta
as circunstâncias que o agente efectivamente conhecia, a sua "perspectiva".
O juízo valorativo posterior ex ante tem por objecto estabelecer de forma objectiva, já depois de
produzido o facto, o que teria prognosticado um observador objectivo no momento da
realização do facto. Tratase, sem dúvida, de uma ficção, por se ajuizar a posteriori, i. e.,
M. Miguez Garcia. 2001
65
com o conhecimento certo do que efectivamente se passou, o que teria podido
prognosticar uma pessoa inteligente e com conhecimentos especiais da ciência ou arte
em questão, se tivesse estado nesse lugar ou nesse momento. Por ex., se uma pessoa
convida outra para sua casa numa noite de tempestade e esta morre na queda dum raio,
a ficção de pôr alguém sensato e com conhecimentos de meteorologia no momento do
convite levará à conclusão que estatisticamente não era previsível que essa pessoa
morresse, e portanto que não se havia produzido uma situação de risco certo. O juízo
valorativo ex ante concluirá que apesar de ter havido uma morte não se verificou perigo
com o convite. A prognose posterior objectiva não passa de uma ficção, como se disse;
apesar disso, constitui uma boa fórmula de trabalho e como tal tem de ser admitida. O
juízo ex ante tem por objecto predizer o que háde suceder quando já se sabe o que
sucedeu e se simula como se não se soubesse. O juízo ex post, pelo contrário, é uma
constatação valorativa feita a posteriori e com todos os dados do que realmente se passou.
Bustos Ramírez, p. 32.
Ex ante. Ex post. A causa a B uma forte comoção ao comunicarlhe a morte do filho. B, perante
a notícia e o seu estado de saúde, devido a problemas cardíacos, acaba por morrer.
Comentário de Mir Puig, La perspectiva ex ante en derecho penal, in El Derecho penal en
el estado social y democrático, p. 93: “A morte de B foi causada por A. Todavia, ex ante,
no momento em que A deu a notícia, a conduta não se apresentava como perigosa par a
saúde de B. Terá A infringido a proibição de matar? Se se adoptar a perspectiva ex post,
teremos que concluir que sim, mas se a proibição se refere ao momento da acção (ex
ante), e se nos perguntamos se naquele instante o Direito proibia o A de comunicar a B a
morte do filho, a resposta deverá ser negativa”.
M. Miguez Garcia. 2001
66
Como se viu, a teoria da csqn levava nalguns casos a consequências
inadmissíveis (por ex., nos processos causais atípicos) e, geralmente, só através
da imputação subjectiva se podiam estabelecer limites. A teoria da adequação,
não sendo uma teoria da equivalência, procura limitar os inconvenientes que
dela resultam, restringindo o âmbito da responsabilidade penal no plano da
causalidade: é por isso, mais exactamente, uma teoria da responsabilidade, e
não, propriamente, uma teoria da causalidade. Não identifica causa com
qualquer condição do resultado, mas apenas com aquela condição que, em
abstracto, de acordo com a experiência geral, é idónea para produzir o
resultado típico. Deste modo, não haverá realização causal (adequada) se a
produção do resultado depender de um curso causal anormal e atípico, ou seja,
se depender de uma série completamente inusitada e improvável de
circunstâncias com as quais, segundo a experiência da vida diária, não se
poderia contar.
A teoria da causalidade adequada parte da teoria da equivalência das condições, na medida em
que pressupõe uma condição do resultado que não se possa eliminar mentalmente, mas
só a considera causal se for adequada para produzir o resultado segundo a experiência
geral. Não está em causa unicamente a conexão naturalística entre acção e resultado, mas
também uma valoração jurídica. Excluemse consequentemente os processos causais
atípicos que só produzem o resultado típico devido a um encadeamento extraordinário e
improvável de circunstâncias.
"À base destes juízos podem darse várias hipóteses. A primeira é a de que
o resultado verificado era imprevisível. Nesta hipótese, a causalidade fica logo
excluída. A segunda hipótese é a de que o resultado era previsível, mas de
verificação muito rara. Assim, v. g., A entra num comboio que vem, daí a
pouco, a descarrilar. É claro que um comboio pode descarrilar, mas
normalmente não descarrila. Eis aqui um efeito que, embora previsível, é
anormal na sua verificação. Ora, também neste caso a causalidade deve
considerarse excluída. A terceira hipótese é a de que o resultado era previsível e
de verificação normal. Neste caso existe justamente a idoneidade abstracta, e,
por consequência, quando verificado o evento, deve considerarse adequado à
acção que foi sua condição". (Cf. Eduardo Correia, p. 258).
M. Miguez Garcia. 2001
67
• Mas — agora vêm as críticas! —, como observava Roxin: "abstractamente, podemos prever
quase tudo...". Por isso, se se parte da visão de um "observador óptimo", alargase de tal forma
o círculo das circunstâncias a ter em conta que a teoria da causalidade adequada se torna
ineficaz para delimitar os casos atípicos, salvo nas situações extremas, preferindose por isso a
figura do "observador médio", como observador objectivo que tem os conhecimentos especiais
do sujeito (Eser, p. 57; Schünemann, GA 1999, p. 216). A esta luz, faltará a adequação no caso
da paralisia facial julgado pelos tribunais alemães: certo indivíduo teve uma discussão com
outro e começou a sentirse indisposto. Devido à excitação, sofreu uma lesão dos vasos
sanguíneos do cérebro com paralisia temporária grave da fala e dos movimentos —
acontecimento ocorrido em circunstâncias especialmente extraordinárias e improváveis, com
que se não podia contar na perspectiva de um observador objectivo, considerando tanto as
circunstâncias conhecidas como as desconhecidas pelo sujeito. Também entre nós se pode ler,
já em Pereira e Sousa, Páginas de Processos, que mesmo demonstrandose que uma
hemorragia cerebral resultou de emoção e de excitação provocadas por determinado conflito
não pode o autor dele ser responsabilizado por essa consequência, desde que ele a não previu
nem podia prever. O acórdão de 20 de Novembro de 1963, BMJ131272, concluiu que não
sendo o ferimento mortal, nem produzindo enfermidade mortal, e encontrandose a causa da
morte em infecção superveniente, circunstância estranha, desconhecida do réu e que não era
consequência normal do acto que praticou, não existe nexo de causalidade entre a conduta e o
evento. Por sua vez, o acórdão do STJ de 25 de Junho de 1965, BMJ148184, entendeu que
sendo a perfuração intestinal que está na origem de uma peritonite de que a vítima veio a
morrer da autoria do réu, mas provandose que a vítima não foi convenientemente tratada e
que, se o houvesse sido, normalmente não resultaria a morte, não existe nexo de causalidade
adequada entre o comportamento do réu e a morte. No caso da embolia pulmonar, os
tribunais, como se viu acima, pronunciaramse pela adequação da causalidade.
Quem habitualmente consulta o Boletim do Ministério da Justiça ou a Colectânea de
Jurisprudência encontra a teoria da causalidade adequada aplicada sistematicamente
pelos tribunais portugueses, que remetem para o artigo 10º do Código Penal, quando
refere a acção adequada a produzilo. "No entanto, não deve entenderse esta referência
M. Miguez Garcia. 2001
68
como vinculativa, no sentido de excludente, ficando em aberto a possibilidade de
complementar a abordagem do problema com a teoria do risco, corrigida pela esfera
de protecção da norma — desde que não conduza a soluções conflituantes com o
artigo 10º" (Carlota Pizarro de Almeida, in Casos e materias, p. 302).
No caso nº 3A, provandose apenas que o agente reagiu dando dois
murros na vítima que o atingiram na cara e no pescoço e que esta começou
então a desfalecer e caiu, sem dar acordo de si, acabando por morrer, cerca de
meia hora depois, no hospital — o crime é unicamente o do artigo 143º, nº 1, por
também se ter apurado que a ofensa teria demandado apenas oito dias de
doença sem afectação grave da capacidade de trabalho. O acerto da decisão é
acompanhado pelas conclusões da autópsia, reveladoras de que a morte foi
devida a lesões traumáticas meningoencefálicas, as quais resultaram de
violenta situação de "stress", e que a mesma ocorreu como efeito ocasional da
ofensa.
Vamos transitar a seguir para a problemática da imputação objectiva.
Anotemos, a propósito, que nos casos em que o tipo penal exige um certo
resultado, a causalidade é uma condição necessária, mas não suficiente para a
afirmação da imputação objectiva. De forma que se insiste numa coisa:
causalidade e imputação objectiva não devem ser confundidas. As teorias
normativas da imputação servem especialmente para suprir as insuficiências da
fórmula da condicio, como veremos a seguir. É um papel que já antes coubera à
teoria da adequação, mas que agora permite obter soluções mais adequadas,
nomeadamente, nos seguintes pontos (cf. Ebert, AT, p. 44; e Jura 1979, p. 561; cf.
também Eser, p. 58):
a) nas condições muito remotas, negandose a imputação, por ex., aos avós do
réu, ou ao Adão e à Eva da Bíblia, ainda que essa imputação se pudesse
fazer de acordo com os critérios mais alargados da csqn;
b) nos processos causais atípicos, aqueles casos que fogem inteiramente às
regras da experiência, com os quais se não pode razoavelmente contar
empregando um juízo de adequação: processos naturais incontroláveis,
acontecimentos imprevisíveis; faltará o nexo de risco se A causa um leve
arranhão em B, que acaba por morrer por ser hemofílico, circunstância que
aquele desconhecia no momento da acção;
M. Miguez Garcia. 2001
69
c) nas condições que não aumentaram de modo essencial o desvalor do
resultado ou que o fizeram diminuir: A desvia o golpe que B dirigia à cabeça
de C para um dos ombros, onde acaba por produzir menor dano;
d) nas acções cuja antijuridicidade não se manifestou no resultado, como é
ainda o caso dos processos causais acidentais, de todo alheios à vontade do
agente, que não são por ele domináveis;
e) nos resultados que, ainda que baseados numa acção ilícita, estão excluídos
do âmbito de protecção da norma de cuidado violada;
f) na ocorrência de uma acção (dolosa ou culposa) de terceiro.
Partese da ideia de que só é objectivamente imputável um resultado
ilícito, causado por um comportamento humano, se esse comportamento tiver
criado um perigo de produção do resultado juridicamente desaprovado e se
esse perigo se tiver efectivamente realizado na concreta materialização do
acontecimento. Mas, como acentua o Prof. Faria Costa, p. 511, "a imputação
objectiva não vem postergar ou remeter para o sótão das noções jurídico
penalmente inúteis, por ex., a noção de causalidade. A adequação causal
continua a perfilarse como o primeiro cânone interpretativo de que nos
devemos socorrer para sabermos se aquele facto deve ser ou não imputado ao
agente". Mas diz ainda, a p. 506: "por mais maleabilidade ou elasticidade que se
empreste à causalidade adequada, dificilmente esta permite que se consiga
estabelecer um juízo de causação entre a acção e, por ex., um resultado de
perigo".
IV. Trilhando os caminhos da imputação objectiva. A doutrina do aumento
do risco: o resultado como "obra do agente"; o resultado como "obra do acaso".
Causalidade e imputação objectiva não podem ser confundidas.
• O risco de comer uma sopa (OLG Stuttgart, NWJ 1982, 295; I. Puppe Jura 1997, p.
625): O arguido atropelou um reformado quando seguia com velocidade superior à legal. O
peão, devido à gravidade dos ferimentos, teve que ser operado, ficando nos cuidados
intensivos, e passou a ser alimentado artificialmente. Quando o doente recuperou a consciência
e começou a comer normalmente, "engoliu" um prato de sopa de tal forma que o líquido lhe
invadiu os pulmões. Ainda que imediatamente socorrido, o doente não sobreviveu à
consequente pneumonia.
M. Miguez Garcia. 2001
70
• Variante: a sopa entrou nos pulmões porque o doente estava tão fraco, depois do que lhe
aconteceu, que os seus reflexos se encontravam particularmente diminuídos.
A ideia fundamental da imputação objectiva é, pois, a de que o agente só
deve ser penalmente responsabilizado pela realização do perigo juridicamente
relevante. Qualquer outro resultado não é “obra sua”. Se alguém aponta e
dispara um tiro noutra pessoa, matandoa, pode ser acusado de homicídio
voluntário, pois o risco criado pelo agressor realizouse na morte da vítima.
Mas se o tiro, ainda que disparado com dolo homicida, apenas provoca um
ferimento ligeiro e a vítima morre num acidente em que interveio a ambulância
que o transportava ao hospital, esta morte não é “obra do agressor”. A conduta
deverá conter um risco implícito (um perigo para o bem jurídico) que deverá
posteriormente realizarse no resultado a imputar.
Os autores advertem (por ex., Fuchs, p. 93) que o conceito de imputação é por vezes manejado
com outros significados, de forma que se deverá ter isso em atenção. Alguns autores,
como Frisch e Jakobs, distinguem entre a imputação objectiva do resultado e a
imputação (objectiva) da conduta. Em sentido muito alargado, pode falarse de imputar
(atribuir) um acontecimento a alguém, por ex., quando se atribui o desvalor do resultado
a um determinado sujeito ou até o resultado das suas boas acções. Pode, aliás, imputar
se um determinado resultado (pelo menos) a título de negligência, como o código dispõe
no artigo 18º. No artigo 22º, nº 1, há tentativa quando não existe um resultado atribuível
ao agente que pratica actos de execução de um crime que decidiu cometer. O resultado
decorrente da actuação em legítima defesa (artigo 32º) pode ser imputado à conduta do
defendente, não obstante actuar justificadamente. Diz Melo Freire, Instituições de Direito
Criminal Português, BMJ155180, que “a ninguém deve imputarse o que sucede por
acaso”. E o Código de Processo Penal, no nº 1 do artigo 345º, dispõe quanto a perguntas
sobre os factos imputados ao arguido.
M. Miguez Garcia. 2001
71
Em sede de imputação objectiva partese do princípio de que a
causalidade e a imputação objectiva são categorias distintas dentro do tipo de
ilícito. Para as modernas teorias, a causalidade é necessária, mas não é condição
suficiente para imputar o resultado à acção do agente como "obra sua". O juízo
naturalístico de causalidade é corrigido por um juízo normativo de imputação.
Os critérios utilizados são porém discutíveis e não parece que tenha sido
apresentado até hoje um sistema acabado que rivalize com a solidez dos
critérios tradicionais. Como quer que seja, no plano da imputação objectiva:
a) o juízo de causalidade é deixado para a teoria das condições (única
correcta no plano causal): em primeiro lugar, deverá verificarse se existe
relação de causalidade entre a acção e o resultado, no sentido da csqn;
b) só será objectivamente imputável um resultado causado por uma acção
humana quando a mesma acção tenha criado um perigo juridicamente
desaprovado (=risco proibido, violador da norma) que se realizou num
resultado típico, com base num processo causal tipicamente adequado — em
suma, a conduta deverá conter um risco implícito (um perigo para o bem
jurídico) que deverá posteriormente realizarse no resultado a imputar.
Em resumo: ao aplicarmos a teoria do risco, deveremos averiguar, em
primeiro lugar, a questão da causalidade, aferindoa pelos critérios da csqn;
depois, indagar se ocorre um perigo (=risco) juridicamente relevante como
requisito relacionado com a conduta do autor, i. é, se o autor criou em geral um
novo risco para a produção do resultado, ou se aumentou um risco já existente;
finalmente, se se realizou, i. é, se materializou ou se se concretizou o perigo
(nexo de risco). (Cf. Haft, p. 63; Eser, p. 120).
O perigo típico (perigo juridicamente relevante) poderá afirmarse, por ex.
(ainda Haft, p. 63), se A, sabendo que B sofre de graves problemas cardíacos,
dolosamente, lhe dá a falsa notícia de que uma pessoa muito querida tinha
morrido, e com isso B sofre um ataque cardíaco.
O perigo não será tipicamente relevante se a acção não criar um risco
adequado e juridicamente reconhecível para a produção do resultado, como
acontece na generalidade dos processos causais atípicos. A oferece uma viagem
de avião ao tio rico esperando que o avião venha a cair, o que na realidade
acontece. A acção não produziu qualquer perigo efectivo para o bem jurídico.
Acontece o mesmo quando o perigo se contém no quadro do risco geralmente
permitido. O condutor T causa a morte do peão O, porque este vai de encontro
M. Miguez Garcia. 2001
72
ao automóvel que T conduzia de acordo com todas as regras de trânsito. A
morte não é de imputar objectivamente ao condutor, porque a participação no
tráfego rodoviário de acordo com as correspondentes prescrições se contém no
âmbito do risco permitido; aliás não há violação do dever de cuidado.
Inclusivamente, o perigo típico está fora de questão quando a acção não
incrementa o risco, podendo darse uma diminuição do risco. Ex., quando T ia
para bater com uma matraca em B, A faz com que este seja atingido apenas a
murro, vibrado com o outro braço do agressor, mas esta actuação de A, que não
participa da agressão e se limita a desviar o golpe inicial, não cria qualquer
perigo juridicamente relevante e não é punível.
A imputação objectiva do resultado supõe que o perigo criado pela acção
se materializou no resultado concreto final. No caso em que A provoca ofensas
corporais em B e este vem a morrer a caminho do hospital por despiste da
ambulância, não é o perigo resultante da acção de A que se realizou na morte de
B, mas o perigo ligado à referida acção por "obra do acaso" e que levou à morte
por acidente. Como mostra o exemplo, o critério do nexo de risco entronca na
noção de domínio: para imputar o processo causal a alguém é necessário que
este o pudesse dominar, que não seja, pura e simplesmente, um acidente da sua
actuação. Num acidente involuntariamente provocado por T, B sai ligeiramente
ferido. Durante uma operação imposta pelo acidente, mas em princípio sem
quaisquer riscos, B morre devido a complicações com a aplicação da anestesia.
Há aqui a realização dum risco geral da vida: na morte de B não se realizou o
risco especificamente ligado à produção de um acidente de trânsito.
Consequentemente, não se dá a concretização do risco nos processos causais
acidentais, que não são dominados pela vontade do agente, negandose a
imputação.
Também não serão imputáveis resultados que não caiam na esfera de
protecção da norma de cuidado violada pelo agente: o ladrão que ao praticar o
furto dá lugar à perseguição pelo guarda, que vem a morrer atropelado, não
infringe um dever de cuidado e não é responsável por essa morte.
Efeitos tardios. Não se podem imputar efeitos tardios por um tempo indefinido. A conclusão
do processo de cura deverá ser o momento decisivo. R. Dutschke, um dirigente da
revolta estudantil alemã de 1968, foi vítima de um atentado político e passou a sofrer
M. Miguez Garcia. 2001
73
de deficiência, que permanentemente o afectava. Uns anos mais tarde, por causa disso,
perdeu a consciência, quando se encontrava no banho, e morreu afogado. Cf. Roxin,
AT, p. 904; I. Puppe, p. 626.
Outro exemplo: O condutor T segue a alta velocidade e atropela o menor
M que atravessa de modo imprevisto. T causa a morte de M no exercício da
condução, todavia, mesmo à velocidade regulamentar, o acidente não teria sido
evitado: pode invocarse aqui um comportamento lícito alternativo.
No caso do matadouro, salta à vista que o B não morreu por causa da
pancada do cutelo, mas pela aplicação da almofada no quarto do hospital. Ora,
só será objectivamente imputável um resultado causado por uma acção humana
quando a mesma acção tenha criado um risco proibido para o bem jurídico, que
deverá posteriormente realizarse no resultado a imputar. Esta última exigência
para a atribuição do resultado a uma acção humana não se encontra satisfeita
no caso nº 3, onde falta o nexo de risco. Na verdade, o B veio a morrer no quarto
do hospital por acção da mulher.
• Hipóteses como as que aqui se apresentam, que arrastam questões de resolução mais
difícil ou duvidosa, costumam aparecer nos textos práticos dos exames e têm que ser
identificadas e convenientemente depuradas e resolvidas. Se não se levantam problemas, se a
relação de causa e efeito é evidente, como quando A dispara sobre B a 3 metros de distância e
B morre logo ali por ter sido atingido no coração, só temos que lhe fazer uma ligeira
referência e concluir que, em sede de causalidade (causalidade adequada: artigo 10º, nº 1, do
Código Penal), a agressão a tiro, conduzida por A, é a causa da morte — ou que, em sede de
imputação objectiva, o evento letal é "obra de A". Se tivermos um caso em que A, à paulada,
reduziu a cacos o vaso de flores da vizinha, só teremos que apurar que o vaso é uma coisa
que não pertence a A e concluir: "A partiu o vaso de flores de B — os danos por ele
produzidos foram em coisa alheia". Será perfeitamente desajustado insistir noutro tipo de
considerações.
M. Miguez Garcia. 2001
74
V. Processos causais atípicos, processos causais hipotéticos, interrupção do
nexo causal.
• CASO nº 3B: A e B são inimigos de C. Certo dia, A, com dolo homicida, ministra a C
um veneno que lhe produzirá inevitavelmente a morte, mas lentamente. Antes de surgir a
morte, C é morto a tiro por B.
Há no caso nº 3B uma quebra do nexo causal. O processo causal iniciado
com a ministração do veneno não chegou ao fim, foi "ultrapassado" por um
outro processo que apressou a morte.
Nos casos de interrupção do nexo causal, em que inicialmente se põe em
marcha uma cadeia causal com capacidade para produzir o resultado, um
sucesso posterior abre — de forma totalmente independente da condição posta
anteriormente — uma nova série causal que, por si só, produz o resultado.
Consequentemente, dáse a quebra da primeira série causal por outra que se lhe
antecipa, o que pressupõe que a condição posta anteriormente continuaria a
surtir efeito até à produção do resultado. Aplicando a teoria da adequação ou a
teoria do risco, a conclusão só poderá ser esta: a acção de A não é eficaz para a
morte de C, pois a série causal que iniciou foi ultrapassada pela acção de B. A só
poderá ser sancionado por homicídio tentado. A conduta de A criou um perigo
juridicamente desaprovado, que, porém, se não realizou no resultado típico
através de um processo causal tipicamente adequado.
• Há porém divergências acentuadas quanto à determinação do elemento capaz de
interromper um processo causal já iniciado, exigindose umas vezes a actuação dolosa,
bastando para outros a negligente. De qualquer forma, a "participação negligente" não chega a
ser punida (artigos 26º e 27º). Se um processo causal baseado em acção não dolosa (deixar uma
arma carregada ao alcance de alguém) for aproveitado por outrem que actua dolosamente para
directamente provocar o resultado, o que está em causa é apenas a responsabilidade por dolo.
A intervenção de um terceiro que comete dolosamente um crime exonera do risco o primeiro
causador negligente. O risco realizado no resultado é unicamente o do crime doloso. São
realidades que têm a ver com a antiga teoria da proibição de regresso e com a actual ideia da
autoresponsabilidade. Cf. Weber, in Baumann / Weber / Mitsch, AT, p. 225; Roxin, p. 159.
M. Miguez Garcia. 2001
75
Como já antes se anotou, o caso nº 3 representa um processo causal
atípico, como são todos aqueles em que A, com intenção de matar B, o fere tão
ao de leve que este só tem que receber ligeiros curativos no hospital, para onde
é transportado, mas no caminho, por hipótese, a ambulância onde B seguia
intervém num acidente, batendo fragorosamente num automóvel que se lhe
atravessa à frente num cruzamento e B morre, por ter saído gravemente ferido
do acidente. É pertinente inquirir em que medida se pode ou deve considerar a
primeira causa (o acto de ferir ligeiramente) como causal para a produção do
resultado mortal, já que à primeira causa se vem juntar esta segunda. De
qualquer forma, todos estarão de acordo em que A só poderá ser punido por
homicídio tentado: quis matar a vítima e praticou actos de execução do crime
que planeou, mas a morte tem outra causa, diferente da agressão com o cutelo,
não ocorreu como efeito da conduta de A, e portanto não é "obra" deste, já que o
perigo criado também aqui não cristalizou no resultado típico.
Casos como estes acompanham frequentemente agressões voluntárias e
mesmo homicídios. O comportamento que vem a produzir o resultado tanto
pode ser de terceiro como da própria vítima, se por ex. o agredido recusa
qualquer assistência médica de que necessita, acabando por morrer (Eser, p. 65;
E. Correia, Crime de ofensas corporais voluntárias); ou quando, terminada a
agressão, a vítima morre na fuga, por não ter prestado atenção ao caminho. A
questão está em averiguar se a primeira acção continua ou não a produzir
efeitos até ao advento do resultado.
Entre outros casos semelhantes, frequentes na praxis e retomados pela
doutrina, destacamos, desde logo, o da vítima de uma tentativa de homicídio,
que sai ligeiramente ferida e acaba por morrer num acidente provocado pelo
motorista da ambulância, ou por um outro interveniente no tráfico, ou porque o
operador ou o anestesista comete um erro que viola gravemente as leges artis da
profissão (Kienapfel, p. 10). Ou aquele em que A foge ao golpe mortal de B, mas
na fuga é atingido por um tijolo que se desprende de uma obra em construção,
ou é picado por um insecto e morre, por ser alérgico ao "veneno". Nenhum
destes dois processos era previsível, por estarem completamente fora da
experiência comum. Faltará nestes casos um nexo de adequação, de forma que
B só poderá vir a ser castigado por tentativa.
Ainda outra hipótese, considerada entre os autores alemães como um
processo causal anómalo: A, que não sabe nadar, afastouse da praia e está em
perigo de morrer afogado. O banheiro B preparase para intervir, mas no
M. Miguez Garcia. 2001
76
momento de se lançar ao mar é impedido de o fazer por C, que, ao aperceberse
de que quem estava em dificuldades era A, seu inimigo e credor, logo jurou que
seria aquela a oportunidade para se ver livre dele. A morre afogado e C, que
interrompeu um processo causal dirigido à salvação de uma pessoa em perigo,
foi quem causou essa morte.
Num caso de broncopneumonia (acórdão do STJ de 1 de Abril de 1993, BMJ426154), o
Colectivo deu como provado que, logo que a vítima caiu na calçada granítica o arguido
sujeitouo enganchandose nele; e agarrandolhe a cabeça, embateua repetidamente
contra o solo, ocasionandolhe lesões craniomeningoencefálicas, necessariamente
causais da sua morte. O tribunal de recurso confirmou que a conduta agressiva do
arguido constitui, objectivamente, causa adequada à ocorrência daquela morte. Ora, a
defesa alegara que, para a morte da vítima, tinha também contribuído uma
broncopneumonia bilateral de que era portador, e que se não tinha verificado o
tratamento médico devido, por inexistência atempada da terapêutica adequada. De
forma que, perante aqueles factos, é irrecusável a conclusão que nem a falta de
assistência clínica em pronto internamento hospitalar nem a eclosão da
broncopneumonia interromperam o nexo de causalidade adequada que liga a morte da
vítima às lesões que o réu lhe infligiu. Tendo querido molestar fisicamente a vítima, o
arguido praticou a agressão prevendo a possibilidade da ocorrência letal. E aceitoua:
pois tal previsão não foi inibitória do comportamento agressivo. Movida com dolo
eventual (artigo 14º, nº 3), a sua conduta vai, portanto, preencher a autoria de um crime
de homicídio voluntário simples.
O caso nº 3 adianta ainda a hipótese de A morrer devido a problemas
cardíacos. Já anteriormente aludimos a estes processos causais hipotéticos, em
que uma ou mais condições ficam como que "à espreita", de reserva
(Reserveursachen). A, que recentemente entrou a fazer parte de um bando de
M. Miguez Garcia. 2001
77
criminosos, é incumbido de matar B, o que consegue, não obstante ser novato e
se tratar da sua primeira "actuação"; B, porém, sempre teria sido morto por C,
outro membro do bando e velho profissional do crime, bem preparado para
estas andanças, que estava pronto para disparar, se A tivesse falhado o tiro.
Aqui interessa a conformação concreta dos fenómenos. O tiro de A foi a causa
da morte da vítima. Esta, enquanto resultado, é "obra" de A, não obstante a
hipótese considerada.
Se os intervenientes actuam independentemente um do outro —não será
então caso de coautoria nem de participação—, se naquele exemplo em que A
quer matar o seu marido, dandolhe sucessivamente, em dias seguidos,
pequenas quantidades dum certo veneno, mas ao amante, C, também ocorre a
ideia de misturar um poucochinho do veneno na mesma sopa, de forma que,
em certo dia, as duas doses juntas chegam para provocar a morte do odiado
marido — A e C só poderão sofrer castigo por tentativa de homicídio (crime
impossível, reconhecendose um erro relevante sobre o decurso causal?). É a
hipótese corrente de causalidade cumulativa — autoria aditiva. No exemplo, é
manifesto que nenhum dos processos desencadeados é suficiente, por si só,
para a produção do resultado e que se tem como assente que os intervenientes
actuam independentemente um do outro. O evento típico resultará de mais do
que uma causa, sendo cada uma, por si só, insuficiente para produzir o
resultado. Há quem enquadre a hipótese na autoria acessória, tratandoa como
causalidade simultânea ou de efeito simultâneo, já que os respectivos efeitos se
unem ou potenciam (cf. Luzón Peña, p. 363). As causas, aliás, podem ser
múltiplas, dificultando ainda mais a imputação (poluição de um rio). E se o
excesso de velocidade do condutor levou à morte de uma criança que,
inadvertidamente, atravessa a estrada por manifesta falta de cuidado da mãe —
como deve responder o Direito? pergunta a Prof. F. Palma, RPCC 9 (1999), p.
549. Detectamos aqui duas causas que convergem no evento, mas "o
atropelamento explica apenas parcialmente a morte da criança, tal como o
próprio comportamento negligente da mãe". Só mais um exemplo, vindo de
Espanha: num encontro no campo, José deixa ficar a espingarda carregada, sem
accionar a patilha de segurança. Uma amiga perguntalhe se está carregada e
José, despreocupadamente, respondelhe que não. A jovem aponta a arma a um
terceiro, dizendolhe, em tom de brincadeira: "Tony, voute matar!", apertando
o gatilho e produzindo a morte instantânea deste. Neste exemplo, diz A.
Cuerda Riezu, o resultado produzse pela soma das intervenções do dono da
arma e da jovem que a manejou. A solução, na ausência de dolo, pode ser a de
fazer responder cada um deles por crime negligente, portanto consumado. A
M. Miguez Garcia. 2001
78
questão está relacionada com a da autoria nos crimes negligentes, onde todo
aquele que infringe o cuidado devido em relação a um resultado lesivo deve
responder como autor.
Se A e B disparam simultaneamente sobre C, atingindoo, um na cabeça
outro no coração, já vimos que a hipótese se enquadra na causalidade
alternativa (ou dupla causalidade, embora certos autores prefiram empregar
aqui o termo "cumulativa", com que qualificamos hipótese diferente). Como nos
pelotões de fuzilamento, em que as balas dos soldados atingem o condenado na
cabeça ao mesmo tempo, as duas condições levam, simultaneamente, ao
resultado. Se os irmãos A e B querem verse livres de C, o tio rico, e cada um
deles, independentemente um do outro, lhe ministra no mesmo prato de sopa
uma dose letal de veneno, C, com a dose dupla, inevitavelmente, acaba por
morrer. Se a autópsia revela que qualquer das doses podia provocar a morte,
ainda assim, os irmãos só poderão ser sancionados por homicídio tentado,
atenta a inarredável dificuldade probatória. O problema será então de prova e
não de causalidade (Triffterer, p. 133). Contudo, só haverá dupla causalidade
quando as duas acções concausam o resultado — se o segundo tiro for
disparado quando o primeiro já produziu o resultado o que se atinge é,
obviamente, um cadáver, e não será causal da morte.
Igualmente se levanta a problemática dos processos causais não
verificáveis, casos em que reiteradamente o resultado se faz sentir, afectando
um número elevado de pessoas que anteriormente estiveram em contacto com
um determinado factor, por ex., ingeriram o mesmo produto ou medicamento,
havendo uma fundada suspeita ou uma grande probabilidade de que esse seja
o agente causal do resultado, embora se desconheça qual o exacto mecanismo
ou o processo, químico ou físico, produtor do dano. São casos em que as
correspondentes ciências empíricas não foram capazes de o reconstruir a
posteriori, como no chamado caso Contergan (talidomida). O Prof. Luzón Peña,
cuja descrição estamos agora a seguir, alude ao muito falado caso do óleo "de
colza", que em Espanha provocou há anos (a sentença do caso da colza é de 23
de Abril de 1992) graves lesões e enfermidades, com sintomatologia bastante
anómala, e até mortes. O óleo tinha sido adulterado com substâncias que não
foi possível determinar, com a particularidade de nem todos os consumidores
terem manifestado o síndroma tóxico. Aqui, explica o nosso informador, a
questão está em determinar se basta ou não uma grande probabilidade, por
vezes raiando a certeza, para afirmar a existência da relação causal —embora se
não conheça exactamente a totalidade do processo causal. Claro que a
M. Miguez Garcia. 2001
79
acompanhar este entendimento estará uma concepção do dolo de tendência
objectivadora, a qual prescinde, como iremos ver no lugar próprio, do
elemento volitivo, ou em que, se se preferir, o elemento cognitivo é suficiente
para induzir a existência de uma vontade de realizar o tipo penal. Sobre o caso
da colza cf., ainda, alguns dos estudos publicados na obra colectiva, org. por
Santiago Mir Puig e DiegoManuel Luzón Peña, Responsabilidad penal de las
empresas y sus órganos y responsabilidad por el produto, Bosch, 1996; e as
considerações de Maíllo, p. 268.
Em ANEXO: estrutura dos casos especiais de causalidade. Adapt. de F.
Haft, Strafrecht, AT, p. 59.
VI. Exercícios
1º exercício: A partir do caso nº 3, suponha que i) A, devido a hemorragia,
desmaia na ambulância que o transporta ao hospital, vomita e morre; ii)
durante o trajecto para o hospital, a ambulância choca com um camião que
vinha fora de mão e A sofre ferimentos mortais; iii) após uma operação levada a
efeito com êxito, A morre por infecção dos ferimentos; iv) momentos antes de
deixar o hospital, A morre devido a um incêndio que se declara no quarto em
que se encontra.
• Tenhase em atenção que o facto de uma pessoa ferida perder a consciência como
consequência da perda de sangue e vomitar, seguindoselhe a asfixia, não é improvável, é
antes previsível. Isto vale também para a infecção da ferida. A morte de B, provocada por estas
circunstâncias, deve imputarse objectivamente a A. Nos outros casos, o resultado mortal fica a
deverse a um processo completamente inusitado e atípico, e nele não chega a concretizarse o
risco criado por A ao atirar o cutelo, mas um risco de outra natureza, que não tem nenhuma
relação com a acção de A. O perigo, correspondente ao risco geral da vida, de ser vítima de um
acidente de trânsito ou de ficar intoxicado pelo fogo não se cria nem aumenta sensivelmente
por ter havido a agressão com o cutelo. Conforme à experiência geral, é improvável, sem mais,
que uma lesão como essa tenha como consequência um resultado dessa espécie. Por
conseguinte, a morte por acidente de B não deverá imputarse a A como obra sua, mas ao
condutor do camião. A só responde por homicídio tentado. O mesmo critério vale para a
intoxicação mortal, a qual deverá imputarse ao autor do incêndio como obra sua.
M. Miguez Garcia. 2001
80
2º exercício: Durante uma festa que meteu bebidas em abundância, A, um
dos convidados, deitou fogo ao andar superior da moradia. Em elevado estado
de embriaguez, o filho do dono da casa subiu ao andar em chamas, para salvar
alguém que por ali estivesse sem dar acordo de si, ou para retirar umas coisas
valiosas, mas veio a morrer asfixiado, devido aos fumos. O primeiro problema
que aqui intervém é o da livre e responsável autoexposição ao perigo em
relação com a imputação objectiva. Uma autoexposição ao perigo plenamente
responsável quebra a imputação aos outros intervenientes? Será que neste caso
a intervenção do filho do dono da casa foi inteiramente livre? Cf. I. Puppe, p. 30.
Outros casos de participação da vítima: o parceiro sexual que conscientemente
tem relações com um infectado pelo HIV sem as cautelas próprias do safe sex; o
caso de quem vende a porção de heroína que causa a morte do viciado que com
ela se injecta. Cf. Schünemann GA 1999, p. 222.
3º exercício: Ainda a propósito dos processos causais hipotéticos. Até que
ponto a causalidade hipotética se sobrepõe à consequencialidade? pergunta a
Prof. F. Palma. Vejase o exemplo da derrocada na RPCC 9 (1999), p. 544, e as
suas implicações. E leiase Curado Neves, p. 394: "A verificação do curso
hipotético dos eventos em caso de comportamento lícito alternativo do agente
não desempenha qualquer papel na determinação da responsabilidade do autor
do facto. Não influi sobre a caracterização da conduta típica ou sobre a
existência de um desvalor de perigo; não é, também, relevante para a
imputação do resultado."
4º exercício: Ainda os processos causais não verificáveis e certos casos de
causalidade cumulativa. Pergunta, de novo, a Prof. F. Palma, loc. cit., p. 549:
"Como se delimita a imputação objectiva nas situações em que uma pluralidade
de causas concorre num evento? As causas cumulativas não anularão a
possibilidade da própria imputação objectiva, paralisando o juízo de imputação
em situações típicas das sociedades complexas (responsabilidade dos
produtores e das empresas relativamente a danos ambientais, por exemplo)?".
Como tratar a poluição dum rio, desde que haja muitos a contribuir para o
efeito, como normalmente acontecerá? O legislador "foge" a estas questões
criando crimes de dever e crimes de perigo que prescindem da imputação do
resultado. Cf. Fernanda Palma, loc. cit., e Direito Penal do Ambiente — uma
primeira abordagem, in Direito do Ambiente, 1994, p. 431.
M. Miguez Garcia. 2001
81
VII. Indicações de leitura
Acórdão do STJ de 29 de Julho de 1932, Col. Of., vol. 31: dandose como demonstrado que a
impossibilidade de trabalhar por toda a vida do ofendido era efeito de doença de que estava
atacado — sífilis — e não efeito necessário do traumatismo, que simplesmente podia intervir
como causa adjuvante, não deverá o ofensor ser incriminado pela infracção mais grave.
Acórdão do STJ de 15 de Janeiro de 2002, CJ 2002, tomo I, p. 37: processo atípico; menor que
quando brincava com outros dois num edifício em adiantado estado de construção, no 2º andar
tocou num tijolo que, caindo, atingiu um deles, que se encontrava no résdochão. A falta de
sinalização do estaleiro não pode considerarse causa adequada das lesões sofridas pelo menor.
Acórdão da Relação de Lisboa de 2 de Dezembro de 1999, BMJ492480: não havendo na lei
nada que faça presumir que a morte ocorrida após um acidente de viação é consequência deste,
não tem cabimento a pretensão de que se considere verificado o referido nexo de causalidade
por força das disposições legais relativas à prova por presunção, nomeadamente o artigo 349º
do Código Civil. Numa área de grande melindre, em que são requeridos particulares
conhecimentos científicos, a conclusão de que a morte do ofendido foi causada pelos
ferimentos por ele sofridos no acidente háde resultar da prova que constar dos autos e não do
recurso a meros juízos de normalidade. Se da prova resultarem incertezas quanto às causas da
morte não poderá estabelecerse o nexo de causalidade por obediência ao princípio in dubio pro
reo. Se o julgador divergir do estado de dúvida do perito (que no fundo afirmou que face aos
elementos técnicos e científicos disponíveis não é possível estabelecer o nexo de causalidade),
optando pela existência do nexo de causalidade, deverá fundamentar a divergência nos termos
impostos pelo artigo 163º, nº 2, do CPP.
M. Miguez Garcia. 2001
82
Acórdão da Relação de Coimbra de 2 de Abril de 1998, CJ, 1998, tomo II, p. 56: crime de
homicídio por negligência, prova pericial, falecimento por embolia pulmonar durante o
tratamento de fracturas ósseas sofridas em acidente de viação.
Acórdão do STJ de 7 de Dezembro de 1988, BMJ382276: homicídio qualificado; interrupção
do nexo causal. A adequação a exigir não se deve estabelecer só entre a acção e o resultado,
mas em relação a todo o processo causal.
Acórdão da Relação do Porto de 10 de Fevereiro de 2000, CJ ano XXV (2000), tomo I, p. 215:
artigo 563º do Código Civil; causalidade indirecta; concurso real de causas.
Acórdão do STJ de 2 de Junho de 1999, BMJ488168: causalidade adequada e perda de
instrumentos do crime de tráfico de estupefacientes.
Alfonso Serrano Maíllo, Ensayo sobre el derecho penal como ciencia, Madrid, 1999.
Bernardo Feijóo Sánchez, Teoria da imputação objectiva, trad. brasileira, 2003.
Bernd Schünemann, Über die objektive Zurechnung, GA 1999, p. 203.
Bockelmann/Volk, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 4ª ed., 1987.
Carlota Pizarro de Almeida, Imputação objectiva. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
de 7 de Dezembro de 1988, in Casos e materiais de direito penal, p. 299.
Carmen Gómez Rivero, Zeitliche Dimension und objektive Zurechnung, GA 2001, p. 283.
Claus Roxin, Reflexões sobre a problemática da imputação em direito penal, in Problemas
fundamentais de direito penal, p 145 e ss.
Cuello Calón, Derecho Penal, t. I (Parte general), vol. 1º, 16ª ed.
E. Gimbernat Ordeig, Causalidad, omisión e imprudencia, in Ensayos penales, Tecnos, 1999.
E. Gimbernat Ordeig, Delitos cualificados por el resultado y causalidad, 1990.
M. Miguez Garcia. 2001
83
E. Gimbernat Ordeig, Qué es la imputación objetiva?, in Estudios de derecho penal, 3ª ed.,
1990.
Eduardo Correia, Crime de ofensas corporais voluntárias, CJ, ano VII (1982), tomo 1.
Eduardo Correia, Direito Criminal, I, reimp., 1993.
Eser/Burkhardt, Derecho Penal, Cuestiones fundamentales de la Teoría de Delito sobre la
base de casos de sentencias, Ed. Colex, 1995.
F. Haft, Strafrecht, AT, 6ª ed., 1994.
Faria Costa, O Perigo em Direito Penal, especialmente, p. 471 e ss. e p. 542 e ss.
Gomes da Silva, Direito Penal, 2º vol. Teoria da infracção criminal. Segundo os
apontamentos das Lições, coligidos pelo aluno Vítor Hugo Fortes Rocha, AAFD, Lisboa, 1952.
H.H. Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts: Allg. Teil, 4ª ed., 1988, de que há tradução
espanhola.
Hans Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11ª ed., 1969, de que há tradução para o espanhol.
Ingeborg Puppe, Die Lehre von der objektiven Zurechnung, Jura 1997, p. 408 e ss.
Ingeborg Puppe, La imputación objectiva. Presentada mediante casos ilustrativos de la
jurisprudencia de los altos tribunales. Granada, 2001.
Ingeborg Puppe, Strafrecht Allgemeiner Teil im Spiegel der Rechtsprechung, Band I, 2002.
J. Seabra Magalhães e F. Correia das Neves, Lições de Direito Criminal, segundo as
prelecções do Prof. Doutor Beleza dos Santos, Coimbra, 1955, p. 71 e ss.
Joachim Hruschka, Regreßverbot, Anstiftungsbegriff und die Konsequenzen, ZStW 110
(1998), p. 581.
João Curado Neves, Comportamento lícito alternativo e concurso de riscos, AAFDL, 1989.
M. Miguez Garcia. 2001
84
Johannes Wessels, Strafrecht, AT1, 17ª ed., 1993: há tradução para português de uma edição
anterior.
Jorge de Figueiredo Dias, Textos de Direito Penal. Doutrina geral do crime. Lições ao 3º ano
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, elaboradas com a colaboração de Nuno
Brandão. Coimbra 2001.
Jorge Ferreira Sinde Monteiro, Responsabilidade por conselhos, recomendações ou
informações, dissertação de doutoramento, 1989, esp. p. 267 e ss.
José Carlos Brandão Proença, A conduta do lesado como pressuposto e critério de
imputação do dano extracontratual, dissertação de doutoramento, 1997, esp. p. 425 e ss.
José Cerezo Mir, Curso de Derecho Penal Español, parte general, II, 5ª ed., 1997.
José Manuel Paredes Castañon, El riesgo permitido en Derecho Penal, 1995.
Juan Bustos Ramírez, Manual de derecho penal español. Parte general, 1984, p. 170.
Kienapfel, Grundriß des österreichischen Strafrechts, BT, I, 3ª ed.
Kristian Kühl, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 1994.
Luzón Peña, Curso de Derecho Penal, PG I, 1996.
Miguel Díaz y García Conlledo, "Coautoria" alternativa y "coautoría" aditiva, in Política
criminal y nuevo Derecho Penal. Libro Homenaje a Claus Roxin, 1997.
Mir Puig, Derecho Penal, parte especial, Barcelona, 1990.
Rui Carlos Pereira, Crimes de mera actividade, Revista Jurídica, nº 1 (1982).
Stefan Amsterdamski, Causa/Efeito, na Enciclopédia Einaudi, volume 33. Explicação.
Udo Ebert, Strafrecht, AT, 2ª ed., 1992.
v. HeintschelHeinegg, Prüfungstraining Strafrecht, Band 1, 1992.
v. HeintschelHeinegg, Prüfungstraining Strafrecht, Band 2, 1992.
M. Miguez Garcia. 2001
85
M. Miguez Garcia. 2001
86
§ 4º O tipo subjectivo. O dolo e outras características subjectivas.
I. Generalidades.
Ao dolo, entendido como elemento subjectivo geral, chamamos dolo de
tipo. Tomemos de novo o exemplo do artigo 131º: “Quem matar outra
pessoa…”, pondoo em confronto com o artigo 137º: “Quem matar outra pessoa
por negligência…”. Tanto num caso como no outro, o legislador descreve o
resultado típico, a morte de outra pessoa, contentandose com acentuar no
artigo 137º que a correspondente reacção criminal (pena de prisão até 3 anos ou
pena de multa) cabe ao crime cometido por negligência. Se agora repararmos no
teor do artigo 13º
• “só é punível o facto praticado com dolo ou, nos casos especialmente previstos na lei, com
negligência”,
ficamos a saber que o que revela, desde logo, o carácter de numerus clausus
(princípio da excepcionalidade da punição das condutas negligentes) reservado aos
crimes cometidos por negligência. Por outro lado, o dolo forma a característica
geral do tipo subjectivo do injusto e a base para a imputação subjectiva do
resultado típico. Ora, o legislador, tratandose de crime doloso, qualquer que
ele seja, limitase a descrever os correspondentes elementos objectivos —o lado
subjectivo fica implicitamente reservado ao dolo como elemento subjectivo
geral, i. é, como característica geral do tipo subjectivo do ilícito. Por isso mesmo,
o artigo 131º deverá ser lido como se rezasse: “Quem [dolosamente] matar outra
pessoa…”, mas dá no mesmo dizer: “Quem matar outra pessoa…”.
Certos tipos de crime descrevem determinadas características
subjectivas específicas, que não se confundem com o dolo. Ainda assim, por
vezes, no tipo descrevemse certas circunstâncias subjectivas, como a intenção de
apropriação no furto (artigo 203º, nº 1), que se não identificam com o dolo,
entendido como elemento subjectivo geral, quer dizer: como dolo de tipo. A
opinião geral é que elementos subjectivos como estes formam parte integrante
do tipo de ilícito como características que aí têm o seu carácter próprio e se
situam de forma autónoma ao lado do dolo de tipo (Wessels, AT, p. 61). O
legislador servese desses elementos subjectivos que contribuem para
caracterizar a vontade do agente contrária ao direito e que se repercutem nos
modos de cometimento do crime, no objecto da acção e no próprio bem jurídico
(cf. Jescheck, p. 284; Wessels, AT, p. 61; e Teresa Serra, Homicídio qualificado, p.
32). São elementos subjectivos específicos de certas classes de crimes dolosos.
M. Miguez Garcia. 2001
87
Vejase igualmente a intenção de obter enriquecimento ilegítimo, que é própria da
burla (artigo 217º, nº 1) ou da extorsão (artigo 223º, nº 1), e a intenção de obter
benefício ilegítimo, que caracteriza o crime de falsificação documental (artigo
256º, nº 1). No furto, a ilegítima intenção de apropriação é a circunstância de
ordem subjectiva que, uma vez presente, faz com que tanto a subtracção de
uma viatura como a dum livro possam envolverse no ilícito consumado do
artigo 203º, nº 1, mas que, faltando —e concorrendo os restantes factores do
crime de furto de uso—, atira a situação para o artigo 208º (furto de uso de
veículo) no caso da subtracção da viatura, deixando impune a do livro.
II. A estrutura do dolo.
Ao prescrever, no artigo 14º, que
• “1 Age com dolo quem, representando um facto que preenche um tipo de crime, actuar
com intenção de o realizar. 2 Age ainda com dolo quem representar a realização de um facto
que preenche um tipo de crime como consequência necessária da sua conduta. 3 Quando a
realização de um facto que preenche um tipo de crime for representada como consequência
possível da conduta, há dolo se o agente actuar conformandose com aquela realização”,
o legislador português —“de modo diverso do que se passa noutras
legislações, nomeadamente a alemã e mesmo em confronto com o antigo código
penal português, mas em consonância, por exemplo, com os códigos penais
austríaco e italiano— quis tomar posição sobre as grandes linhas doutrinais que
tocam esta matéria”, representando, com a definição de negligência, “sem
dúvida alguma, o repositório de uma larga e profunda elaboração doutrinal
mas, obviamente, não podem espelhar a diversificada pluralidade de correntes
que dentro desta matéria se expressam” (assim, Faria Costa, As definições
legais, in BFD, vol. LXIX, p. 371).
O dolo é essencialmente representação e vontade, é a vontade de realizar
um tipo penal conhecendo o sujeito todas as suas circunstâncias fácticas
objectivas. De modo que a partir de certa altura começou a imporse uma
fórmula simplificada, referindo o dolo como conhecimento e vontade da
realização do tipo.
O duplo lugar do dolo. Dolo em sede de tipo de ilícito; dolo como forma de culpa.
Desvalor da conduta e desvalor da atitude. Portanto, dolo é saber e querer — e é algo mais:
"em sede de tipo de ilícito, enquanto determinante da direcção do comportamento, o dolo
entendese como conhecimento e vontade da realização do tipo objectivo; como forma de
M. Miguez Garcia. 2001
88
culpa, enquanto modo de formação da vontade que conduz ao facto, o dolo é portador da
atitude pessoal contrária ao direito, especificamente ligado à realização dolosa do tipo". "A
diferença entre ilicitude e culpa residiria na distinção entre desvalor da conduta e desvalor
da atitude. E sendo, em regra, o dolo o portador destes dois juízos de desvalor,
desempenharia necessariamente uma dupla função: na ilicitude, ele exprime a finalidade, o
sentido subjectivo da acção; na culpa, será a expressão da atitude contrária ou indiferente ao
direito característica da realização dolosa do tipo". Cf. Teresa Serra, p. 32, com mais dados; e
Figueiredo Dias, RPCC 1991, p. 48 e ss.
Dolo significa portanto "conhecer e querer os elementos [objectivos] do
tipo". (7) "Realização do tipo" significa, nem mais nem menos, que "realização de
todas as características objectivas do tipo". Mas nem o conhecimento (elemento
do lado intelectual, cognitivo, o lado da representação) nem a vontade
(elemento do lado volitivo, do querer) são características perfeitamente
definidas. A extensão do elemento intelectual do dolo corresponde não só ao
conhecimento seguro, mas também à simples possibilidade da realização típica
—vai do absolutamente certo à região do muito pouco provável, formando um
campo tão vasto e abrangente de situações que incluem a probabilidade altíssima,
a probabilidade baixíssima e a maior ou menor possibilidade. Do lado da vontade,
entre o querer e o não querer existe abertura para uma progressão do mesmo
tipo. No seu íntimo, o agente tanto pode aprovar o resultado criminoso que
previu como possível, como encarálo com a mais absoluta indiferença ou
mesmo nem sequer o desejar. Consciência e vontade não são, assim, separáveis
senão por necessidade de análise (Cavaleiro de Ferreira), são elementos que não
podem ser vistos isoladamente. O dolo, mesmo o dolo eventual, não prescinde
de qualquer deles, inclusivamente, porque —de acordo com a perspectiva
corrente— nihil volitum nisi praecognitum: só se pode querer aquilo que se
conhece.
Ao objecto do dolo chegase através do artigo 16º, nº 1: são "os elementos
de facto ou de direito de um tipo de crime". Por exemplo, o receptador (artigo
7 Ainda assim, não se deverá exigir que o agente queira realizar todas as características típicas
objectivas, mas só a acção e o resultado dela decorrentes. No tocante a outros elementos, como por
ex. a situação de embriaguez do condutor, a idade da vítima nos abusos sexuais, ou a possibilidade
de infectar o parceiro com o vírus da sida, unicamente se exige que o agente conheça essas
circunstâncias (cf. Kühl, AT, p. 67).
M. Miguez Garcia. 2001
89
231º, nº 1) deverá saber (representar) que a coisa que adquire foi obtida por
outrem mediante facto ilícito típico contra o património. O ladrão deverá saber
(representar) que a coisa subtraída é alheia.
Como se disse, o dolo referese ainda às circunstâncias que privilegiam ou
qualificam o crime (artigo 133º; artigo 204º, nº 2, alínea e). Para actuar
dolosamente, o autor deve ter previsto o processo causal (elemento futuro,
portanto, de previsão) nos seus traços essenciais, porque a relação de
causalidade é um elemento do tipo, como o são a acção e o resultado.
Consequentemente, o dolo do agente deve estenderse também ao nexo causal
entre a acção do agente e o resultado —de outro modo, não haverá actuação
dolosa. Deve contudo repararse que normalmente só um especialista poderá
dominar inteiramente o processo causal —na maior parte dos casos, o devir
causal só será previsível de forma imperfeita. De modo que o jurista também
nestes casos aceita a ideia de que o dolo tem que coincidir com o conhecimento
da relação causal por parte do agente, mas em traços largos, nas suas linhas
gerais. Se assim não fosse, bem difícil seria sustentar que uma pessoa agiu
dolosamente. Basta portanto que o agente preveja o decurso causal entre a sua
acção e o resultado produzido nos seus elementos essenciais. Um caso especial
de erro sobre o processo causal dáse quando o crime se executa em dois actos,
julgando o agente que o resultado se deu com o primeiro, quando, na verdade,
foi com o segundo que se produziu. A opinião geralmente seguida encara a
hipótese como um processo unitário: o dolo do primeiro acto vale também para
o segundo. Tratase assim dum dolo "geral" (doutrina do dolus generalis) que
cobre todo o processo e que não merece nenhuma valoração jurídica
privilegiada (Jescheck). Nesta perspectiva, se A, julgando que a sua vítima
morreu quando lhe deitou as mãos ao pescoço, deita à água o suposto cadáver,
vindo a morte a ocorrer por afogamento, deve ser castigado como autor
material de um homicídio doloso consumado. Outros pontos de interesse
residem, por ex., no erro sobre a factualidade típica (1ª parte do artigo 16º, nº 1):
o dolo fica excluído quando o erro versa sobre um elemento constitutivo do tipo
de ilícito objectivo; ou, na tentativa, a chamada do artigo 22º, nº 1, à decisão do
agente.
Fora do objecto do dolo ficam, entre outras, as condições objectivas de
punibilidade. O dolo é o elemento subjectivo geral do tipo de ilícito. Os
elementos de natureza objectiva (tipo objectivo) caracterizam a acção típica (o
autor, as formas, modalidades e objecto da acção, o resultado, etc.). A actuação
dolosa pressupõe que o autor conheça os elementos tipicamente relevantes.
Alguns desses elementos típicos são meramente descritivos e não levantam
M. Miguez Garcia. 2001
90
dificuldades. Outros são elementos normativos —por ex., o carácter alheio da
coisa subtraída no furto, o documento nos crimes de falsificação documental, o
funcionário nos crimes de funcionário, etc.— que, esses sim, levantam
particulares problemas em matéria de culpa e erro (cf. Figueiredo Dias, Direito
Penal, sumários das Lições, p. 151). Estes e outros elementos normativos exigem
do agente, para que se imputem ao seu dolo, que conheça o sentido
correspondente, no essencial e ao nível do mundo das suas representações, à
valoração jurídica que contêm. Em geral bastará um sentido práticosocial, não
se exigindo o conhecimento dos pressupostos materiais nem o dos critérios
jurídicos determinantes da qualificação normativa. Fora do objecto do dolo,
ficam, em princípio, as condições objectivas de punibilidade —e os
pressupostos da culpa (como, por exemplo, a idade do agente ou, de forma
mais geral, a convicção sobre a sua própria inimputabilidade), a pena e as
circunstâncias que a permitem graduar em concreto e os pressupostos
processuais (T. Beleza, O regime do erro, p. 14). As chamadas condições objectivas
de punibilidade são elementos do crime que se situam fora tanto da ilicitude
como da culpa, “não se exigindo, para a sua relevância, que entre elas e o
agente exista uma qualquer conexão psicológicointelectual, podendo ainda
serem fruto do mero acaso” (Taipa de Carvalho, p. 143). Por ex.: o participante
em rixa (artigo 151º, nº 1) só é punido se ocorrer morte ou ofensa corporal
grave, funcionando esta condição como limitadora da punibilidade —e é
punido independentemente de ter previsto ou querido que uma pessoa pudesse
morrer ou ser gravemente atingida na sua integridade física. A explicação de
alguns autores assenta em que o comportamento básico incluído na exigência
de culpa oferece já um certo grau de merecimento de pena, porque através dele
se desencadeia um perigo. Vejase ainda a insolvência negligente (artigo 228º),
que só é punida se ocorrer a situação de insolvência e esta vier a ser
reconhecida judicialmente. As condições objectivas de punibilidade
caracterizam assim um especial desvalor de resultado que tem de acrescer a um
desvalor de acção já existente para que a conduta surja como punível. Cf. H.
Otto, AT, 5ª ed., p. 90; Jescheck, AT, 4ª ed., p. 504.
O momento decisivo para a existência do dolo é o da prática do facto. Em
direito penal, o dolo abrange o período que vai do começo ao fim da acção que
realiza o correspondente tipo objectivo. Os autores aludem a este propósito à
possibilidade tanto de um dolo antecedente como de um dolo subsequente, que
tratamos noutro local.
M. Miguez Garcia. 2001
91
III. As formas de manifestação do dolo de tipo. Dolo directo; dolo necessário;
dolo eventual. Elemento intelectual do dolo; elemento volitivo do dolo. Dolo
eventual e negligência consciente.
CASO nº 4: A, possuído de um ódio implacável, quer matar B custe o que custar. Pega
na pistola que sabe estar carregada e a 2 metros de B apontalhe ao coração e dispara.
CASO nº 4A: A quer matar B, seu inimigo político. Quando este se desloca num
carro aberto, acompanhado do motorista e de dois guardacostas, A atira uma granada para
dentro do carro. A morte dos acompanhantes, tida como consequência certa da explosão, élhe
indiferente.
CASO nº 4B: Caso Lacmann. Num terreiro de diversões A promete uma
determinada quantia em dinheiro a B se este estilhaçar com um disparo de arma de fogo a bola
de cristal que uma das raparigas da barraca de tiro segura na mão, sem que esta fique ferida. B
sabe que não é um bom atirador e tem como bastante provável que o tiro não atinja o copo
mas a mão da rapariga. Apesar disso dispara e atinge a rapariga na mão.
CASO nº 4C: A quer matar T, seu tio, de quem é herdeiro. Trata de montar um
engenho explosivo num pequeno avião, que é invariavelmente pilotado por P, o qual deverá
explodir quando se atingir a altura de mil metros, por forma a causar danos graves na cabina
do aparelho. A não tem a certeza absoluta de que T seguirá na próxima viagem do avião.
Ainda assim, o plano acaba por ter êxito: a bomba rebenta, o aparelho despenhase, T e P
morrem. Além disso, um camponês que se encontrava nas proximidades é atingido pelos
destroços e fica gravemente ferido. A tinha previsto isso como possível (cf. Samson, caso nº 6).
Punibilidade de A no caso nº 4C?
A causou quatro eventos: a destruição do avião, a morte do tio, a morte do
piloto e lesões corporais no camponês. A partir deste exemplo, vamos ter a
oportunidade de contactar com as diversas formas de atitude cognitiva: pode
entenderse algo como improvável, como provável, como possível ou como
certo; utilizando a linguagem corrente, pode saberse de certeza certa, pode
suporse, duvidar, acreditar, estar convencido, etc.; o sujeito pode ter um
conhecimento certo ou incerto, seguro ou inseguro. E vamos ver que também se
pode ordenar a intensidade da outra componente do dolo, a volitiva.
No plano da vontade, o dolo de tipo manifestase na intenção, no dolo
necessário e no dolo eventual. (8) O dolo directo (dolo de intenção ou de
primeiro grau) está identificado, grosso modo, com a intenção criminosa no nº 1
8
As diversas formas de dolo não gozam de designação rígida na doutrina. Na Itália, Pagliaro
(Principi di diritto penale. Parte generale, 7ª ed., Milão, 2000, p. 274) fala de dolo intenzionale ou diretto,
de dolo indiretto e de dolo eventuale. Na Alemanha, correntemente, aponta-se para o trio intenção
(Absicht), dolo directo (direkter Vorsatz; dolus directus) e dolo condicionado / eventual (bedingte Vorsatz;
dolus eventualis). Também se usa chamar à intenção — dolo imediato (unmittelbarer Vorsatz) ou dolo
directo de primeiro grau (dolus directus ersten Grades); ao dolo directo — dolo mediato (mittelbarer
Vorsatz) ou dolo directo de segundo grau (dolus directus zweiten Grades).
M. Miguez Garcia. 2001
92
do artigo 14º. O agente prevê a realização do facto criminoso e tem como fim
essa mesma realização: a realização do tipo objectivo de ilícito surge como o
verdadeiro fim da conduta (Figueiredo Dias, Textos, p. 115). Intenção significa que
o elemento dominante, a vontade do agente, está conotado com a acção típica
ou com o resultado previsto no tipo, ou com ambos: o resultado é o fim, a meta
que o agente se propunha. (9) A vontade é, por assim dizer, plena, completa
(Cadoppi/Veneziani, p. 271), como no caso nº 4. A intenção como forma de
dolo caracterizase portanto por um especial e intenso querer. Em termos
cognitivos, o resultado aparece então como "altamente provável ou como certo"
(cf. Faria Costa, Tentativa e dolo eventual, p. 26). É a forma de dolo que menos
problemas levanta.
O dolo necessário (dolo de consequências necessárias) está previsto no nº
2 — o facto criminoso não constitui o fim que o agente se propõe realizar, é,
antes, consequência necessária da realização pelo agente do fim que se propõe.
“Produzse um facto típico indissoluvelmente ligado ao almejado pelo autor e
que, por isso mesmo, é conhecido e querido por ele” (Bustos Ramírez). No caso
do dolo necessário, o resultado típico é representado pelo agente como
consequência certa da sua conduta, enquanto que no dolo de intenção “a tensão
do agente é forte e marcante, pois o resultado típico corresponde ao objectivo
primeiro e final da conduta do agente”. “O agente que actua com dolo
necessário movese ao nível éticojurídico no plano da certeza”. No caso nº 4B a
morte dos acompanhantes do odiado político é tida pelo autor como
9
Nos códigos usa-se o termo intenção com diversos significados. Já vimos alguns, como a intenção
de apropriação ou a intenção de enriquecimento, chamadas “intenções especiais”. Intenção é ainda a
forma mais intensa do dolo e existe quando o agente tem a vontade de produzir, de forma directa e
imediata, o resultado típico ou de realizar as circunstâncias típicas que a lei exige serem intencionalmente
produzidas; quando, por outras palavras, existe uma vontade finalisticamente dirigida àquele resultado ou
àquelas circunstâncias. Veja-se, a ilustrar, o artigo 227º-A (Frustração de créditos), recentemente aditado ao
Código Penal pelo Decreto-Lei nº 38/2003, de 8 de Março, onde se faz depender a punição da circunstância
de o devedor actuar para intencionalmente frustar, total ou parcialmente, a satisfação de um crédito de
outrem. O Código conhece alguns crimes de tendência interna transcendente, em que as intenções
normativas não se limitam simplesmente a acompanhar as acções típicas, na medida em que remetem para
resultado posterior. É suficiente que o sujeito realize apenas uma parte da acção lesiva, sempre que esta vá
acompanhada da intenção ulterior de completar o processo interrompido, o que pode ser ilustrado com os
chamados crimes mutilados de dois actos, como a falsificação documental —o legislador, para prevenir o
uso do documento falso, antecipa a punição de quem falsifique com intenção de causar prejuízo a outra
pessoa ou ao Estado ou de obter para si ou para outra pessoa benefício ilegítimo (artigo 256º). Tenha-se
também em conta a burla do artigo 217º, nº 1, onde a expressão "quem, com intenção de obter..." aponta
para o que alguns autores (por ex., Jescheck, AT, p. 286) chamam crime de resultado cortado, em que à
acção típica acresce a prossecução de um resultado ulterior que vai para além do tipo objectivo e que poderá
ocorrer por si mesmo após o facto, i. é, sem outra intervenção do agente. O conteúdo da intenção não terá
que ser realizado para haver consumação. Se o ladrão, com intenção de fazer seu o relógio alheio, o furta ao
dono e o mete no bolso, sendo apanhado pouco depois e obrigado a restituir a coisa, o crime estará
consumado, ainda que a intenção não tenha sido realizada, porque o golpe falhou. Merece igualmente
atenção o disposto no nº 4 do artigo 20º: “A imputabilidade não é excluída quando a anomalia psíquica tiver
sido provocada pelo agente com intenção de praticar o facto”.
M. Miguez Garcia. 2001
93
consequência certa da explosão, e é necessária para que também aquele morra. A
morte do político —o fim da actuação do bombista— foi causada com intenção,
as mortes dos acompanhantes, que para o autor eram indiferentes, foram
causadas com dolo directo (de segundo grau), no fundo, um dolo necessário ou
de consequências necessárias.
Tanto o dolo necessário como o dolo eventual compreendem duas ou mais
finalidades. Contudo, o agente que actua motivado pelo dolo necessário, ao
almejar a finalidade primeira sabe de certeza certa, ou pelo menos tem como
seguro que lateralmente, mas de modo necessário, a sua conduta irá realizar um
facto que preenche um tipo legal de crime (cf. Faria Costa, Dolo eventual, p. 15).
No nº 3 do artigo 14º consagrase legislativamente o dolo eventual. A sua
exacta compreensão movese no espaço da mera representação como possível
do resultado proibido, "a que se não pode juntar um querer directo e
inequívoco" —tratase de um espaço "onde o elemento da vontade não se
perfila frontalmente, antes se insinua na conformação da realização de um facto
que preenche um tipo legal de crime". De resto, e como já se notou, "é
perfeitamente patente, na estrutura funcional do dolo eventual e
independentemente da posição doutrinal que se adoptar, a possibilidade de
verificação de dois ou mais resultados”. (Cf. Faria Costa, p. 28).
No caso nº 4C, A quer a herança do tio, portanto, o fim da sua actuação é o
de alcançar a riqueza do tio e para isso é necessária a morte deste e a destruição
do avião. A morte do piloto e os ferimentos no camponês são simples
consequência da realização daquele objectivo. Num caso como no outro, trata
se de relações volitivas de A com os apontados resultados. Para além disso, é
possível estabelecer outro tipo de relações, de natureza intelectual, ao nível da
representação, com os resultados produzidos. Pode por ex. sustentarse que A
estava certo de que a bomba iria explodir e que o avião seria destruído. A morte
do piloto dum avião que estava destinado a explodir a mil metros de altitude
era também um evento certo para A. Mas já em relação à morte de T, que tanto
poderia embarcar como ficar em terra, já não havia o mesmo grau de certeza.
Vale o mesmo para os ferimentos no camponês. A representou estes dois últimos
eventos como possíveis, mas não estava certo de que um e outro se viriam a
produzir.
A destruição do avião e a morte do tio eram as principais consequências
queridas por A, já que, para aspirar à herança (fim da actuação de A), ambas
essas consequências são pressuposto necessário; consequências secundárias ou
acessórias são a morte do piloto e os ferimentos na pessoa do camponês.
M. Miguez Garcia. 2001
94
Delicado é apurar o conteúdo verdadeiro da vontade no chamado dolo
eventual. A estrutura fundamental do dolo como combinação de elementos
cognitivos e volitivos énos de algum modo familiar, resulta inclusivamente do
artigo 14º do Código: mesmo no dolo eventual não se prescinde de uma
qualquer relação volitiva ou emocional. Na doutrina, contudo, sobram as
divergências —o único ponto de acordo consiste em que, nesta forma de dolo, o
agente tem que representar o facto, pelo menos, como consequência possível da
conduta (momento intelectual). Delicado é —como escreve Paulo José da Costa
Jr.—, apurar o conteúdo verdadeiro da vontade no chamado dolo eventual,
“onde se age não a fim de produzir a morte, mas a custo de causála”. De
"peculiar configuração do elemento volitivo no dolo eventual" fala Cerezo Mir.
São numerosas as divergências doutrinárias quanto a saber se poderá
prescindirse de uma relação emocional do agente com o resultado; ou se o dolo
eventual supõe pelo menos um rudimento do antigo dolus malus, i. é, uma
atitude hostil ou no mínimo indiferente em face do bem jurídico ameaçado. Cf.
Th. Weigend, p. 661.
A discussão faz sentido —e ajuda a compreender as clivagens entre o dolo
eventual e a negligência consciente, apontando para onde se separam as águas.
Na prática, não será indiferente assentar em que determinada conduta foi
realizada dolosamente, ainda que com dolo eventual, ou foi simplesmente
negligente. O crime involuntário tem molduras penais consideravelmente
aligeiradas. Pode até nem haver punição, por se encontrar unicamente prevista
a dos comportamentos dolosos —numerus clausus da negligência: artigo 13º. (10)
Além disso, a tentativa e a participação são compatíveis apenas com a prática
da infracção dolosa (artigos 22º e 26º e 27º). Um olhar breve pelos livros mostra,
aliás, os cuidados que os penalistas têm posto no dimensionamento correcto
destas fronteiras. A ponto de se ter chegado a um autêntico beco sem saída (R.
Herzberg).
10
"É bem possível que a abordagem diferenciada que se faz entre crimes dolosos e culposos seja
consequência da diferente atitude fundamental do autor: quem age com dolo, decide-se pela lesão do bem
jurídico, quem involuntariamente pratica um crime, não". G. Stratenwerth, Derecho Penal, I, p. 94. O
agente decide-se contra o bem jurídico tipicamente protegido e é porque assim se decide que o autor dum
crime doloso se distingue do responsável por um crime involuntário. É uma ideia que nos parece poder ser
encontrada no ensinamento do Prof. Claus Roxin e noutros autores que afirmam: “o crime doloso supõe
uma rebelião consciente contra o bem jurídico protegido”. Segundo Mir Puig (El Derecho penal en el
Estado social y democrático de derecho, 1994), qualquer forma de dolo outorga à conduta um significado
de negação ou de claro desprezo pelo bem jurídico atacado, que se não encontram na conduta imprudente.
O interesse prático destas perspectivas será para outros bem pequeno: o que se aproveita (cf., por ex., a
exposição de Ragués I Vallès, p. 39) é a ideia de que quem se decide contra os bens jurídicos mostra uma
maior maldade ou insensibilidade e por esse motivo deve ser mais gravemente castigado do que o autor
negligente.
M. Miguez Garcia. 2001
95
A teoria do consentimento, de uma maneira ou de outra, enfrenta o autor
com o resultado: se aquele consente neste, se o aprova, o aceita, se conforma ou se
resigna com o resultado, então há dolo eventual, caso contrário, não há. As
teorias da representação, pelo contrário, caracterizamse pela renúncia a
enlaçar volitivamente o autor com o resultado: para afirmar a existência de dolo
(eventual) basta que ao agente pareça sumamente provável, considere séria a
possibilidade de produção do resultado, conte com este (assim, Gimbernat). No
primeiro caso, o acento tónico põese ou na vontade, ou em atitudes emocionais
ou de aceitação. O dolo eventual, sustentam os partidários destas teorias
(teorias do consentimento ou da aceitação), apela efectivamente a um elemento
cognitivo que lhe é imanente e que tem a ver com a possibilidade da realização
das circunstâncias típicas. A diferença, porém, entre esta forma do dolo e a
negligência consciente, reside na atitude emocional que leva o agente a aceitar,
a aprovar ou a conformarse com o resultado proibido. Se o agente, no
confronto com o evento que representou como possível, o aceitou, o aprovou no
seu íntimo, se conformou com ele, então podemos afirmar o seu dolo. Não pode
ser assim!, dizem, por seu turno, os partidários das teorias da representação,
para quem sempre foi difícil demonstrar a existência de qualquer relação
volitiva: a distinção deve fazerse a partir da representação do agente —e é
quanto basta. No dolo eventual há um elemento específico do conhecimento
que não existe na negligência consciente: o agente sabe que o resultado se pode
verificar com a sua actuação, mas só haverá dolo se o sujeito souber que esta se
reveste de um elevado grau de perigosidade. Noutras situações paradigmáticas,
haverá dolo eventual a partir de uma certa probabilidade de realização típica,
por ex., se o agente “toma a sério” a possibilidade de violação dos bens
jurídicos respectivos. Abaixo deste patamar de certeza, se porventura o agente
só remotamente encara essa possibilidade, é de negligência consciente que se
pode falar, e só desta.
Jakobs, AT, p. 271, afastase da dogmática tradicional do dolo, ao pretender que há dolo
eventual quando o autor julga, no momento da acção, que a realização do tipo penal como
consequência da acção não será improvável. Frisch (Vorsatz und Risiko, p. 118, 160 e 210), por
sua vez, considera suficiente para o dolo que o autor tenha tido conhecimento
(Eser/Burkhardt: “um conhecimento qualificado”) que a sua acção realiza um risco
juridicamente desaprovado. Não actua dolosamente, na medida em que deixa de representar
correctamente a dimensão do risco da sua conduta, quem conhece a perigosidade em abstracto
do seu comportamento, mas confia em que o resultado se não vai produzir, ou não toma o
risco a sério. Eb. Schmidhäuser, outro dos mais conhecidos representantes destas teorias, não
exige para o dolo mais do que “a consciência de que a produção das circunstâncias típicas
estaria iminente”. O condutor que segue em velocidade elevada para chegar a tempo e não
perder o melhor da festa pode bem representar abstractamente o perigo de não poder controlar
M. Miguez Garcia. 2001
96
adequadamente o veículo numa curva perigosa. Poderá faltarlhe a representação da
perigosidade concreta e actual da própria conduta por estar convencido de que as suas
excelentes qualidades como condutor associadas à magnífica prestação do carro são suficientes
para afrontar com êxito qualquer risco de colisão com terceiros. Só haverá portanto dolo
eventual se no decisivo momento da acção o agente tiver a consciência, ainda que insegura, da
"concreta possibilidade" de se desencadear o resultado típico.
Para aqueles outros autores (e em face da nossa lei penal), estas opiniões
são de rejeitar, desde logo por se apoiarem unicamente no elemento intelectual.
Um condutor (o exemplo é de Wessels/Beulke, p. 75) que quer entrar a horas ao
serviço e numa estrada estreita, em horas de grande movimento e por alturas de
um nevoeiro intenso, ultrapassa um camião e vai matar o condutor de uma
motorizada que circulava em sentido contrário e pela sua mão de trânsito, tem
sem dúvida a concreta possibilidade de representar uma colisão deste tipo.
Qualquer outra opinião será certamente contrária às regras da experiência
comum. O único aspecto decisivo é se o condutor, ao ultrapassar, apesar de o
fazer com a consciência do perigo, confia em que tudo vai correr bem, agindo
na esperança de que um desastre se não verifique.
Sem esquecer o caso nº 4B (caso Lacmann), vamos insistir, agora com o
caso da roleta russa.
CASO nº 4D: O caso da roleta russa. Os dois amigos, já algo bebidos, fazem rodar o
tambor do revólver, carregado com uma bala, e só uma. Um deles encostao à cabeça e prime o
gatilho — tac!, ouviuse o percutor a bater em seco. Trocam de papéis, como mandam as regras
— tac! e a bala não sai... Até ver, ambos continuam vivos. O tambor do revólver pode ser
carregado com seis balas, mas, como se viu, por imperativo da "roleta russa", só leva uma — os
dois amigos sabem que o risco de resultado é de 1 : 5.
No caso da roleta russa deverá este conhecimento bastar, morrendo um
dos rapazes, para nisso implicar o outro a título de dolo? Poderemos, em geral,
reduzir o dolo à consciência do risco normal da conduta? E se o risco da
conduta for muito elevado? O dolo deverá reconduzirse ao conhecimento de
riscos graves para o respectivo bem jurídico? O dolo esgotarseá num
conhecimento qualificado do agente acerca do risco tipicamente relevante para
o bem jurídico? E, na inversa, se a probabilidade de realização típica for
manifestamente remota ou insignificante? A prática mostra outros casos de
alta probabilidade do resultado, como o dos "condutores suicidas" que para
ganhar uma aposta conduzem em velocidade elevada, durante quilómetros,
pelo lado contrário da autoestrada. Ou como o do torturador que para arrancar
uma declaração do acusado o interroga "habilmente". "Nestas condutas”,
escreve o Prof. Muñoz Conde, “a morte de outros condutores ou do interrogado
não é exactamente querida, já que assim se perde a aposta ou se fica sem
conhecer a verdade dos factos, nem são queridas outras consequências, como a
M. Miguez Garcia. 2001
97
lesão do próprio condutor, ou o escândalo e a responsabilidade criminal, no
caso do torturador".
IV. O dolo no Código Penal português — os artigos 14º e 15º. O dolo é mesmo
"conhecimento e vontade", é mesmo "saber e querer"; a fórmula da
"conformação" é o elemento diferenciador entre o dolo eventual e a
negligência consciente.
Entre nós, a definição tanto do dolo eventual como da negligência
consciente encontrase normativamente condicionada.
• Num caso como no outro, o agente representa como possível a realização de um facto que
preenche um tipo de crime: comparese a formulação dos artigos 14º, nº 3, e 15º, a ):
"...representada como consequência possível...", "representar como possível...".
A diferença está em que, neste último caso, o agente actua sem se
conformar com a realização fáctica.
Aceitação; resignação. Conformação. O Supremo, invocando Mezger, Eduardo Correia e
Cuello Calón, já entendeu (acórdão do STJ de 25 de Novembro de 1992, BMJ421323) que "o
resultado (morte) da actuação do arguido, pensado como possível, considerase dolosamente
querido enquanto o sujeito consente nesse mesmo resultado"; "no dolo eventual", escrevese, "o
sujeito aceita o resultado cuja produção se lhe configurou como provável" (itálicos nossos). Foi
com o caso Lacmann (cf. supra) que os tribunais alemães começaram “a referirse a uma
aceitação em sentido jurídico sempre que o agente —em vista da finalidade prosseguida,
nomeadamente por não poder alcançála de outro modo— se resigna com a possibilidade de
que a sua acção venha a ter o efeito indesejado.” (Cf. Figueiredo Dias, Textos, p. 122; Ragués I
Vallès, p. 103 e ss.).
O agente toma a sério o risco de possível produção do resultado —
apesar disso, não omite a conduta. Haverá certamente dolo eventual quando o
agente aceita —ou aprova— o resultado que previu como possível, mas estas
são fronteiras demasiado apertadas, ainda assim, próximas da teoria da
conformação, adoptada no artigo 14º, nº 3. Seguindo a opinião entre nós mais
elaborada (Figueiredo Dias; cf. também Stratenwerth e Roxin), age com dolo
eventual quem, tendo previsto um certo resultado como consequência possível da
conduta (elemento intelectual), toma a sério a possibilidade de violação dos bens
jurídicos respectivos e, não obstante isso, decidese pela execução do facto. Exige
se, como se vê, que a representação do facto seja "levada a cabo de modo sério".
"Precisamente porque não se pode determinar matematicamente a percentagem
de probabilidade com que o agente representa o resultado, é que a inescapável
normatividade se introduz com apelo à seriedade, referida ao elemento da
M. Miguez Garcia. 2001
98
possibilidade e não a qualquer outro" (Faria Costa). (11) O intérprete abre mão,
em suma, de qualquer quantificação da ideia de probabilidade ou de identificá
la simplesmente com a possibilidade da realização fáctica. E também não adere,
sem mais, ao entendimento de que a ligação psicológica entre o agente e o
resultado subsidiariamente visado se tem de estruturar na atitude de aceitação.
Com efeito, para alcançar o elemento diferenciador entre o dolo eventual e a
negligência consciente, o legislador optou (artigo 14º, nº 3) pela fórmula da
conformação do agente com a realização do tipo de ilícito objectivo.
CASO nº 4E: O caso dos mendigos russos. São, como se vê, inúmeros os casos
difíceis e de fronteira, que se encontram na zona cinzenta. A literatura da especialidade tem
exemplos continuamente retomados e discutidos, como o dos mendigos russos, que mutilavam
meninos para melhor conseguirem a esmola dos passantes. Algumas das crianças morreram,
mas mesmo assim continuaram a mutilar outras e uma destas também morreu. Como os
mendigos queriam o menino mutilado, mas vivo, não haverá dolo directo nem dolo necessário.
Haverá dolo eventual? E qual será então o seu conteúdo?
CASO nº 4F: O caso do cinturão: BGHSt, 363, a partir dos resumos de Roxin, p. 356;
Eser / Burkhardt, p. 83; e Th. Weigend. A e B são visitas frequentes da casa de C, seu
conhecido, que certo dia decidem roubar. Estão convencidos de que este os não denunciará por
não querer que as suas tendências homossexuais sejam conhecidas. De qualquer modo, a morte
de C seria para ambos altamente indesejada. O plano consiste em pôlo inconsciente, dandolhe
com um saco de areia na cabeça. Ambos recusam uma outra possibilidade: a de o porem
inconsciente aplicandolhe um cinturão de couro em redor do pescoço para que não respire.
Certo dia, combinam com C passarem a noite na casa deste. Por volta das 4 da manhã A
aplicou um golpe na cabeça de C com o saco de areia, que imediatamente se desfez. A e B
pegaram então no cinturão que, pelo sim pelo não, tinham levado. Envolveramlho no pescoço
e começaram a puxar, cada um pela sua ponta, até que o C deixou de estrebuchar. Deitaram
depois a mão às coisas do C, para se retirarem, convencidos de que este continuava vivo. Ainda
intentaram reanimálo, mas foi em vão.
Se um condutor ultrapassa outro carro de forma arriscada, apesar das
cautelas que o pendura lhe recomenda, e provoca um acidente, não se trata, por
via de regra, de um acidente doloso, mas causado por negligência, ainda que
consciente. E isso, não obstante o condutor —tal como no caso do cinturão—
saber das consequências possíveis e ter sido para elas advertido. O que separa
as duas situações é que o condutor normalmente confia, não obstante a
consciência do perigo, em que o resultado pode ser evitado devido à sua
habilidade como condutor —não fora isso, e procederia doutro modo, já que
então poderia ser a primeira vítima do seu próprio comportamento. Como aqui
não houve qualquer decisão contra os valores jurídicos tipicamente protegidos
(por ex.: vida, integridade física, património alheio) é menor a censura e só se
11
Cf. também, quanto à impossibilidade de identificar o termo probabilidade com uma quantidade
matemática, por ex., M-C. Nagouas-Guérin, Le doute en matière pénale, Dalloz, 2002, p. 246
M. Miguez Garcia. 2001
99
lhe adequa a sanção por negligência. Cf. Roxin, p. 357. No caso do cinturão, os
dois amigos, conscientemente, estrangularam o dono da casa, não obstante
terem previsto a morte como consequência possível da sua actuação. Ambos
tinham consciência de que o uso do cinturão punha em perigo a vida do C,
como o demonstra o facto de inicialmente terem descartado esse método para
evitar tal resultado. Com o que fica comprovado o elemento intelectual. Os
delinquentes porém não queriam causar a morte. Prova disso é que
inicialmente, para deixar a vítima inconsciente, intentaram agir com um meio o
menos lesivo possível. Depois, procuraram até evitála, tentando reanimar a
vítima. Vale a pena confrontar ainda o caso do cinturão com o do professor que
leva uma turma de alunos numa viagem às margens dum rio caudaloso. Alguns
alunos insistem que ele os deixe tomar banho. O professor sabe que isso é
perigoso e que algum dos alunos pode ser arrastado pela corrente e morrer
afogado. Confia no entanto na sorte e nas capacidades natatórias dos seus
alunos, acabando por autorizar umas braçadas na água. Um dos alunos afoga
se e morre.
E se o agente não pensou no risco nem muito menos o tomou a sério ou
sequer entrou com ele em linha de conta por lhe ser completamente
indiferente o bem jurídico ameaçado? Que significa a "conformação" referida
no nº 3 do artigo 14º e quando deve ela considerarse existente? Nas palavras
do Prof. Figueiredo Dias, ao menos nos casos mais difíceis e duvidosos, não é
possível lograr uma afirmação do dolo teleologicamente fundada sem apelar,
em último termo, para a indiferença do agente perante a realização do tipo. "O
agente que revela uma absoluta indiferença pela violação do bem jurídico,
apesar da representação da consequência como possível, sobrepõe de forma clara a
satisfação do seu interesse ao desvalor do ilícito e por isso decidese (se bem que
não sob a forma de uma "resolução ponderada", ainda que só implicitamente,
mas nem por isso de forma menos segura) pelo sério risco contido na conduta e,
nesta acepção, conformase com a realização do tipo objectivo. Tanto basta para
que o tipo subjectivo de ilícito deva ser qualificado como doloso" (cf. Textos, p.
130).
Com este critério poderemos talvez dar resposta a alguns dos casos
indicados, convocandoos para o lado do dolo eventual. Vejase agora um caso
actual, em que o agente infectado com sida, no momento dos contactos sexuais
não protegidos, conhecendo a probabilidade de transmissão do vírus, encaraa
como um risco meramente abstracto —não podendo concluirse que se decidiu
contra o respectivo bem jurídico.
M. Miguez Garcia. 2001
100
V. Dolo eventual; negligência consciente.
CASO nº 4G: O primeiro caso da SIDA. A, numa viagem de negócios a
Barcelona, esquecese da sua condição de homem casado —há já alguns anos com B —, e
envolvese com uma mulher que conheceu numa visita ocasional a um bar. Pouco depois do
regresso a casa, A começa a sentirse febril e consulta um médico seu amigo que o informa de
que os sintomas são típicos da infecção pelo vírus da sida e o aconselha a fazer um teste. Do
teste resulta que A foi contaminado com o vírus da sida e isso terá certamente acontecido nessa
sua deslocação a Barcelona. A sabe que a infecção pode resultar de uma relação sexual, ainda
que a probabilidade de transmissão seja muito baixa, da ordem de 0,1% a 1% de possibilidade
por cada contacto, e que ainda não há cura para a doença. A fica a saber pelo médico que da
infecção pode não resultar qualquer incómodo especial e que a doença só aparece
normalmente ao fim de seis anos ou mais, mas que uma vez declarada a doença a morte lhe
sobrevem inevitavelmente e de forma muito dolorosa. O médico preocupase especialmente
em fazer ver a A que não pode ter relações sexuais sem tomar as precauções adequadas, tendo
em conta a possibilidade de contágio. Numa das idas posteriores ao médico, A disselhe que
nada comunicara à família acerca do contágio pelo vírus, pois tinha um medo terrível de que o
seu casamento se desfizesse. Confidencioulhe também que tivera entretanto relações com a
mulher, de quem tanto gostava, sem ter tomado quaisquer precauções especiais, pois receava
suscitar nela quaisquer suspeitas. Aconteceu que B estava a concorrer a um emprego onde lhe
exigiam certos comprovativos do seu estado de saúde e submeteuse por isso a um teste que
deu resultado positivo quanto ao HIV. B que comprovadamente só tinha tido relações íntimas
com A, pediu o divórcio e apresentou queixa contra este por homicídio tentado. Cf. Schramm,
Die Reise nach Bangkok, JuS 1994, p. 405.
Numa simples leitura, ocorre dizer que A tinha o exacto conhecimento do
risco da sua conduta para a vida da mulher. Mas como já resulta da nossa
exposição anterior, o dolo não prescinde da sua dimensão volitiva. Não haverá
lugar, mesmo num casos destes, para acolher uma noção de dolo diferente da
que resulta do artigo 14º.
A afirmação ou a negação do elemento subjectivo geral, nos casos de
infecção de outrem com o vírus da sida, por ocasião de relações sexuais de
risco, parte também da análise do caso concreto, ainda que a atitude mental dos
parceiros sexuais perante a realização típica possa ser a mais diversa. Há
ocasiões em que indivíduos mantêm relações sexuais com um número elevado
de parceiros, aceitando o agente o perigo da transmissão do vírus como uma
possibilidade real. Noutras, actua com dolo directo, no sentido de querer
mesmo infectar o parceiro, sendo esse o fim da conduta sexual do agente. Mas
também são de ponderar as hipóteses em que é o parceiro do infectado a aceitar
livremente o risco de ser contaminado, participando conscientemente duma
conduta perigosa sem as cautelas próprias do safe sex. Na prática, para a
afirmação do dolo, o indispensável elemento volitivo é para observar à lupa,
M. Miguez Garcia. 2001
101
considerando o modo, a intensidade e a frequência dos contactos, tendose em
conta, se comprovadas, certas práticas sexuais especialmente perigosas ou antes
as que intentam diminuir o risco (por ex., o coitus interruptus), o grau de
esclarecimento ou o nível de inteligência do agente. Cf. Lackner, StGB, 20ª ed.,
p. 1068. "Não basta, com efeito, em qualquer situação, um risco objectivamente
intenso de um resultado" —e não é isso o que acontece no caso da sida, em que
a probabilidade de transmissão é baixíssima— "para se poder afirmar a
aceitação do mesmo, sendo sempre necessário que haja um contexto
motivacional, objectivamente perceptível, que permita ao agente representar a
sua conduta, em concreto, como associada à produção daquele resultado" (Prof.
F. Palma, Casos e materiais, p. 313).
A pode estar comprometido com o crime do artigo 144º, alínea d). A teve
relações sexuais com B e daí resultou ficar esta infectada com o vírus da sida. A
ofendeu a saúde de B, provocandolhe perigo para a vida. Podem decorrer anos
até que a sida se manifeste (6 anos, e mesmo mais, lêse em Dreher / Tröndle,
Strafgesetzbuch, 47ª ed., p. 1107, com outros dados) sem que entretanto haja
dores ou outros incómodos relevantes para o bem estar da pessoa infectada.
Ainda assim há uma diferença entre o estado de saúde da pessoa infectada e o
de outra pessoa não atingida pelo vírus e isso tem certamente um significado
patológico. Por outro lado, o desencadear da imunodeficiência fica como que
préprogramado, em termos de se poder afirmar uma ofensa à saúde e a
concretização de um perigo para a vida. (Cf. Schramm, JuS 1994, p. 405; outras
indicações em Eser, S/S, Strafgesetzbuch, 25ª ed., p. 1603 e s.). Não se colocam
problemas especiais de imputação objectiva, mesmo atendendo ao grau de
possibilidade de transmissão do vírus. B não aceitou o risco —e não é de modo
nenhum responsável pela transmissão do vírus, já que desconhecia por
completo que A estivesse infectado e nessas condições não lhe eram exigíveis as
cautelas próprias do sexo seguro. O crime é de natureza dolosa, mas a questão
do elemento subjectivo, como já se deixou entendido, colocase aqui com
particular acuidade, sendo manifesto que A não quis infectar B. A afirmação do
dolo eventual também se reveste da complexidade inerente a casos como este.
O recurso aos elementos agora mesmo analisados —mas também os motivos, o
animus, e a pergunta inevitável: decidiuse A pelo ilícito ou simplesmente foi
imprevidente?— resulta também determinante na negação do dolo homicida,
mesmo na forma “enfraquecida”. A foi claro: procedeu sem as necessárias
cautelas porque se a mulher soubesse ou desconfiasse o casamento estaria
perdido. A matéria de facto não deixa margem para a afirmação do dolo de
matar, pelo contrário, tudo indica que não houve a decisão de tirar a vida de B
M. Miguez Garcia. 2001
102
(artigo 22º), o que exclui qualquer forma de tentativa homicida (B continua
viva). Solução esta que não deverá repugnar, não obstante as fortíssimas
necessidades, de ordem políticosocial, de luta contra a expansão da sida. Pois,
como nota o Prof. Figueiredo Dias, “o legislador é naturalmente livre e está
legitimado para, se assim o entender, criar um crime de perigo abstracto de prática
de acto sexual desprotegido por portadores de HIV”.
A cometeu pelo menos um crime do artigo 148º (ofensa à integridade física
por negligência). Produziuse o resultado, a ofensa à saúde de B, e A violou o
dever de cuidado, pois toda a gente sabe que nas descritas condições os
contactos sexuais exigem cautelas muito precisas para evitar que o parceiro
fique infectado. A não tomou esses cuidados nas ocasiões em que teve contactos
sexuais com B, pelo que violou o seu dever de cuidado. Não se descortinam
dificuldades no respeitante à imputação objectiva. Tanto o resultado como o
processo causal correspondente eram objectivamente previsíveis. O tipo
objectivo negligente mostrase por isso preenchido. Não se pode validamente
sustentar que houve acordo de B, por falta de vontade desta em ter relações de
sexo com uma pessoa infectada pelo HIV. B não tinha conhecimento do estado
do parceiro. É de excluir portanto qualquer causa de justificação. A actuação de
A é censurável e punível nos termos já referidos.
CASO nº 4H: O segundo caso da SIDA. A conhecia perfeitamente o seu estado
de seropositivo e as modalidades de contágio da sida. Mesmo assim, e sem que alguma vez
tivesse usado qualquer protecção, durante cerca de 10 anos manteve um número elevado de
relações sexuais de cópula com B, sua mulher. B, que nunca suspeitou do estado de
seropositivo do marido, acabou por morrer, vítima da sida. No julgamento, provouse que o A
aceitou o alto risco, que efectivamente se concretizou, tanto de um possível contágio como do
provável evento letal derivado da infecção eventualmente produzida. Cf. a sentença de 14 de
Outubro de 1999 do Tribunale di Cremona, in Il Foro Italiano, 2000, Parte seconda, p. 347.
CASO nº 4I: O terceiro caso da SIDA. A, que era seropositivo, manteve
repetidas vezes relações sexuais com B, com quem vivia, sem adoptar as cautelas aconselháveis
nesses casos. A explicou à companheira, com todos os pormenores, a doença de que sofria, os
riscos de infecção e a ausência de qualquer esperança de cura, mas esta insistiu em manter com
ele relações sem preservativo, com o que ele, por fim, acabou por concordar. A veio a ser
acusado de tentativa de ofensa à integridade física, mas o tribunal alemão absolveuo,
considerando que aquele que se limita a promover, torna possível ou favorece a autocolocação
em perigo decidida e levada a cabo de maneira autoresponsável, não pode, do ponto de vista
jurídico, ser sancionado por crime de ofensa à integridade física ou de homicídio, mesmo
naqueles casos em que se realiza o risco aceite conscientemente. Quem toma parte numa
autocolocação em perigo, decidida de maneira autoresponsável, participa em algo que não
representa um crime no sentido dos §§ 25, 26 e 27 I do StGB. Para estas posições, tais casos
ficam assim fora do âmbito de protecção típica. Mas a vida não é um bem jurídico disponível e
entre nós punese tanto o incitamento como a ajuda ao suicídio (artigo 135º do Código Penal).
M. Miguez Garcia. 2001
103
VI. Dolo eventual; negligência (continuação).
CASO nº 4J: O caso do verylight. A foi assistir ao BenficaSporting, integrando
a claque dos No Name Boys. Do outro lado, no topo norte, ficavam as bancadas da Juve Leo.
Antes do início do jogo, A lançou um verylight, igual aos foguetes que são usados para
sinalização luminosa das embarcações, por cima da bancada da Juve Leo. Quando nas
bancadas se festejava o 1º golo do Benfica, A disparou outro verylight. O foguete atingiu a
bancada do outro lado, matando aí um adepto do Sporting. A distância entre as duas bancadas
é de cerca de 200 metros, em linha recta. A lançou o 1º foguete com a mão esquerda, inclinouo
em posição oblíqua, para cima e ligeiramente para a frente, retirou a protecção de borracha que
faz aparecer a patilha e empurrou esta de modo a activar o sistema de propulsão. Assim
accionado, o foguete descreveu uma trajectória em arco, indo cair para além das bancadas do
topo norte, em cima de umas árvores, junto aos balneários. A previra que o foguete assim
disparado sobrevoasse a bancada do topo norte do Estádio, reservada aos adeptos
sportinguistas, e que já na altura se encontrava repleta de pessoas. Fêlo de modo a que o
mesmo fosse projectado de baixo para cima, em arco, sobrevoando a bancada que avistava à
sua frente. Dez minutos depois do início do jogo, imediatamente a seguir ao primeiro golo do
Benfica, o A, aquando dos festejos por este golo, lançou um segundo foguete. Verificavase,
nessa mesma altura, uma grande agitação no grupo de espectadores, e particularmente nos
elementos afectos aos No Name Boys, que rodeavam o A, havendo abraços, empurrões, saltos,
gritos e outras exaltações de grande regozijo. Também desta vez, o A segurou o foguete very
light com a mão esquerda, colocouo obliquamente para cima e inclinado para a frente, no
sentido norte, e, com a mão direita, retirou a protecção de borracha que faz aparecer a patilha.
Em virtude do seu próprio estado de euforia e da permanente agitação das pessoas que se
encontravam junto a si, envolvendoo, o A, no momento em que empurrou a patilha que
acciona a respectiva propulsão, inclinou mais o foguete do que havia feito aquando do
primeiro lançamento. Assim disparado, o foguete seguiu uma trajectória tensa e quase em
linha recta, sobrevoou os jogadores, percorreu toda a distância entre as duas bancadas e foi
chocar com o corpo da vítima, que assistia ao jogo no sector 17, do topo norte do estádio,
penetrando na região do peito, de frente para trás, da esquerda para a direita e, ligeiramente,
de baixo para cima. Este embate provocou na vítima (...), lesões que, por si só ou associadas,
foram causa da morte da vítima. O A apercebeuse, poucos momentos após, do impacto deste
foguete na bancada de adeptos sportinguistas onde se abriu uma clareira. Ao efectuar este
segundo lançamento do foguete, A previu que tal instrumento se dirigisse na direcção norte,
sendo sua intenção que o mesmo sobrevoasse a bancada de espectadores, confiando que
seguisse uma trajectória idêntica ao primeiro. Conhecia o modo de activação, potência e
alcance do foguete, bem sabendo que se o mesmo, na sua trajectória, viesse a embater em
alguém lhe poderia causar a morte. Sabia que o modo correcto de lançar tal foguete é na
vertical. Tinha ainda conhecimento que o foguete percorre em linha recta uma distância
superior a 200 metros em poucos segundos. No instante do disparo, não previu o A que logo
que accionado o mecanismo de propulsão naquelas circunstâncias o artefacto saísse, como
efectivamente saiu, quase em linha recta, na direcção da bancada em frente de si e que fosse
atingir qualquer espectador, ferindoo ou matandoo. Próximo do intervalo, ouviu dizer que
morreu uma pessoa atingida pelo foguete, tendo concluído que essa pessoa fora mortalmente
atingida pelo verylight por si lançado. Nessa noite, ao ver as imagens na televisão em
M. Miguez Garcia. 2001
104
companhia de um seu amigo, o A ficou emocionado e chocado, não contendo o incómodo que
as mesmas lhe causavam. Cf. o acórdão de 13 de Fevereiro de 1998 do Tribunal de Círculo de
Oeiras, publicado em Sub judice / causas 2, 1998, p. 49 e ss.; e, a propósito, Maria Fernanda
Palma, Casos e Materiais de Direito Penal, Coimbra, 2000, p. 307, e O caso do Verylight. Um
problema de dolo eventual, in Themis, ano I, nº 1, 2000, p. 173.
A tinha sido acusado de ter lançado o foguete, propositadamente, na
direcção da bancada dos adeptos contrários, para os assustar e intimidar,
representando a possibilidade de o foguete, na sua trajectória, vir a embater
nalgum espectador. Ainda segundo a acusação, A sabia que se tal sucedesse o
impacto do foguete era susceptível de produzir a morte do espectador atingido,
pelo que se conclui que A admitiu essa mesma possibilidade, conformandose
com a sua eventual verificação (fórmula do dolo eventual).
A fórmula positiva de Frank: "em qualquer caso, eu actuo". O acórdão
sublinha que o Código Penal português acabou por perfilhar, em matéria de
dolo eventual, a fórmula positiva de Frank segundo a qual se o agente no
momento da realização do facto, e não obstante a sua previsão como possível,
quer actuar, e aconteça o que acontecer, seja qual for o resultado da sua
actuação, não renuncia à sua actuação, será responsável a título de dolo pelo
facto previsto. Haverá dolo se A diz: tanto se me dá que o livro seja meu ou
alheio — em qualquer caso, levoo; ou, o que dá no mesmo: aconteça o que
acontecer, em qualquer caso, eu actuo. Não haverá dolo se A separar as águas: se
tivesse tido a certeza de que o livro era alheio, não o teria subtraído. Com outra
formulação aparecenos a chamada fórmula hipotética de Frank: haverá dolo
eventual quando pudermos concluir que o agente, que previu o facto como
possível efeito da sua conduta, não a teria alterado, para o evitar, mesmo que
previsse aquele efeito como necessário (cf. Beleza dos Santos, Crimes de Moeda Falsa;
e Eduardo Correia, Direito Criminal, I, p. 381). O Prof. E. Correia, autor do
Projecto, criticou as duas fórmulas, e acabou por propor que a Comissão
adoptasse a seguinte redacção, que amplia a da fórmula negativa de Frank: Se a
realização do facto for prevista como mera consequência possível ou eventual da
conduta, haverá dolo se o agente, actuando, não confiou em que ele se não produziria —
ou seja: desde que o agente actuou, não confiando que o facto previsto como
possível se não produziria, haverá dolo. No decorrer da discussão, um dos
membros da Comissão revisora assinalou a sua preferência por uma fórmula
que consagrasse a ideia alemã do "in Kauf nehmen" ou do "sich mit ihr
abfinden"; outro preferia que se fizesse apelo à ideia da "indiferença do agente
pela realização do facto", um terceiro foi mais longe na ideia da restrição ao
âmbito do dolo, preconizando que este só deveria considerarse existente
quando o agente "aceitou a realização do facto previsto como possível". A
M. Miguez Garcia. 2001
105
Comissão acabou, como se sabe, por adoptar a fórmula da conformação, de
sentido positivo: "actuou conformandose com a sua produção". (Sobre tudo
isto, cf. Actas, acta da 7ª sessão, p. 116 e ss.). O Projecto alemão de 1962 continha
idêntica proposta: "actua dolosamente (...) quem considera possível a realização
típica e se conforma com ela" (§ 16).
Opção entre alternativas. O agente pretende realizar um facto mas, em via subsidiária,
conformase com a realização de outro que àquele se encontra ligado. A expressão in Kauf
nehmen é difícil de traduzir, diz Gimbernat. Originariamente, tinha a ver com a argúcia de
alguns comerciantes que, para dar saída a produtos menos apetecíveis, vinculavam a venda
das mercadorias desejadas à obrigação de o cliente adquirir também aqueles produtos pouco
procurados. Se o interessado não compra o produto de baixa qualidade, também não
conseguirá levar o que lhe interessa: dizse assim que o cliente nimmt ihn in Kauf: levao,
comprado, por acréscimo. O resultado produzido com dolo eventual não era perseguido
directamente; o que o autor queria directamente era outro resultado, e para alcançar este
"comprou o outro", i. e, resignouse a ficar com ele. Cf. Gimbernat, Estudios de Derecho Penal,
p. 247.
No caso do cinturão, os dois ladrões não tinham a certeza de que a vítima
morreria estrangulada. Conheciam, no entanto, o perigo concreto, e sabiam que
não poderiam dominálo, face à maneira como actuavam. Por outro lado,
nenhum deles queria, directamente, a morte do dono da casa; o que eles
queriam era pôlo inconsciente para poderem roubálo à vontade. Só que, para
conseguirem este resultado, "compraram" o outro, resignaramse com a
produção duma morte que não desejavam —e ainda por cima, acabaram por
levar as coisas, apoderandose delas. No caso do professor que vai com os
alunos para a beira do rio também podemos afirmar que o agente conhecia o
perigo concreto para a vida dos alunos que se metessem na água, ainda que
confiando em que tudo iria correr bem. É claro que o professor tem a nossa
simpatia —o que não acontece com os dois ladrões: limitouse a deixar ir os
alunos para a água, fêlo por ser "um tipo porreiro", houve o contributo
"culposo" do próprio aluno que morreu... E não houve qualquer decisão contra
a vida do aluno, pelo que ao professor só poderá imputarse a infracção
negligente.
O adepto benfiquista representou o risco de acertar nos espectadores do
outro lado do estádio? E conformouse com esse risco de resultado? Num caso
como o do very light, que comporta acção de grande risco, em que —como
acentua a Prof. Fernanda Palma— a possibilidade de erro e do desvio do
processo causal é grande, "o objecto do elemento intelectual do dolo é a própria
possibilidade de desvio do processo causal" (recorde também o que
oportunamente escrevemos sobre o objecto do dolo). Se for possível concluir
que, in casu, este risco de resultado foi objecto da representação do agente,
M. Miguez Garcia. 2001
106
ainda assim temos que abordar a questão do enlace volitivo, analisando as
motivações do adepto benfiquista e, nomeadamente, interpretando a "sequência
lógica entre as motivações do agir e o desfecho da acção, numa perspectiva de
raciocínio prático". Essencial será —e aqui continuamos a seguir a lição da Prof.
F. Palma— a consideração de que o fim lúdico associado ao disparo festivo do
"very light" não engloba, nos casos de uma personalidade determinada por
motivações normais, a aceitação da morte de um espectador". Por outro lado,
"para revelar que a acção realizada é uma acção tipicamente deficiente na sua
consistência racional, e, portanto, não dolosa", "é essencialíssima a descrição da
reacção do arguido, em sua casa": nessa noite, ao ver as imagens na televisão, o
arguido ficou emocionado e chocado, não contendo o incómodo que as mesmas
lhe causavam. Não estaremos assim perante uma personalidade indiferente ao
resultado, pelo que ao autor do disparo não será de endereçar uma censura
própria da culpa dolosa.
O Tribunal de Círculo de Oeiras considerou A autor dum crime de
homicídio negligente do artigo 137º, nº 2 (negligência grosseira).
VII. A recklessness.
A partir do estudo, já por várias vezes citado, de Th. Weigend (cf. também,
por ex., Markus Dubber, Reforming American Penal Law, in The Journal of
Criminal Law & Criminology, vol. 90, p. 49), podemos apreender algumas
realidades do direito penal americano, que nem sempre se encontram
disponíveis, mas que de algum modo se projectam na boa compreensão do
chamado dolo eventual. Interessanos sublinhar o sentido da recklessness,
termo que faz parte do espectro dos elementos subjectivos (mens rea), que vai da
"improperly" àquela expressão terrível que dá pelo nome de "willful, deliberate,
malicious and premeditated". A edição de um modelo de código penal
moderno (Model Penal Code), no ano de 1962, contribuiu para reduzir
significativamente a complexidade existente, de forma que impera agora a
tendência para empregar apenas quatro diferentes formas de culpa: "intention,
purpose", "knowledge", "recklessness" e "negligence". Se lermos as definições
que estas quatro formas de mens rea têm, por ex., no Model Penal Code,
encontraremos a equivalência de "intention" na intenção (dolo directo), de
"knowledge" no dolo necessário, e de "negligence" na nossa negligência
inconsciente, mas neste caso só se houver uma violação grosseira das regras de
cuidado. A recklessness ficará situada entre o dolo e a negligência consciente
(grave) e definese assim:
M. Miguez Garcia. 2001
107
• "A person acts recklessly with respect to a material element of an offense when he consciously
disregards a substantial and unjustifiable risk that the material element exists or will result from his
conduct. The risk must be of such a nature and degree that, considering the nature and purpose of the
actor's conduct and the circumstances known to him, its disregard involves a gross deviation from the
standard of conduct that a lawabiding person would observe in the actor's situation. "Actua recklessly
relativamente a uma circunstância típica quem, conscientemente, se comporta de forma
descuidada perante um risco injustificado e de certa monta, cujo elemento material se verifica
ou se realiza com essa conduta. A natureza e a medida do risco deverão ser de tal ordem que a
falta de atenção ao mesmo, considerando a espécie e os fins da conduta do agente, bem como
as circunstâncias por este conhecidas, representará um grosseiro desvio do padrão
comportamental que uma pessoa fiel ao direito observaria na situação do agente.
A uma leitura atenta —comenta o nosso informador—, esta descrição
complicada revela o que há de específico na recklessness e que consiste no agir
face à realização típica do risco. A literatura angloamericana desenvolve este
ponto de maneira mais clara que o próprio texto legal. Dizse, simplesmente,
por ex., no comentário ao Model Penal Code "... recklessness involves conscious
risk creation"; e Galligan fala de recklessness quando o agente sabe que a
produção do resultado é provável (mas não certa) e, não obstante, age. Se além
disso a recklessness exige um elemento de atitude interior, nomeadamente a
indiferença em relação ao bem jurídico ameaçado —é coisa que se discute entre
os juristas do commonlaw tanto quanto acontece na Alemanha.
VIII. Dolo de dano e dolo de perigo; violação do dever de cuidado
CASO nº 4k: A quer dar uma lição a B e não se importa mesmo de o mandar para o
hospital a golpes de matraca, mas como o quer bem castigado afasta completamente a hipótese
da morte da vítima, a qual, inclusivamente, lhe repugna. A morte de B, todavia, vem a darse
na sequência da sova aplicada por A.
Repare em que há aqui 3 resultados: as ofensas são provocadas com dolo
de dano; o perigo para a vida fica coberto com o chamado dolo de perigo; a morte,
subjectivamente, pode vir a ser imputada a título de negligência, por violação do
dever de cuidado. A representou as ofensas à integridade física de B e quis
provocarlhas. Além disso, representou o perigo para a vida deste, embora
tivesse afastado por completo a hipótese de lhe provocar a morte. Apesar da
morte de B, fica afastado o homicídio doloso, por falta de dolo homicida,
mesmo só na forma eventual.
M. Miguez Garcia. 2001
108
A, no entanto, provocou ofensas à integridade física de B e quis isso
mesmo; além disso, representou o perigo para a vida deste: a hipótese cai desde
logo na previsão do artigo 144º, alínea d). Um dos elementos típicos deste crime
é a provocação de perigo para a vida: o crime é de perigo concreto e o agente
deve representar o perigo que o seu comportamento desencadeia, tem de agir
com dolo de perigo. Existirá dolo de perigo concreto quando o sujeito actua,
não obstante estar consciente de que a sua conduta é apta, na situação
específica, para produzir um determinado resultado de pôr em perigo concreto,
ainda que, simultaneamente, lhe negue a aptidão para produzir um resultado
de lesão. (Cf. Raguès I Vallés, p. 173).
Mas se para além do resultado de ofensas à integridade física querido pelo
agente e do resultado de perigo para a vida que o mesmo representa se der o
resultado morte, que excede a intenção do agente, podendo este, no entanto,
serlhe imputado a título de negligência (artigo 18º), o crime é punido com a
pena de prisão de 3 a 12 anos — artigos 18º, 144º, d), e 145º, nº 1, b). Como o
faria a generalidade das pessoas, A devia ter previsto, ao agredir B com
sucessivos golpes de matraca, a possibilidade de vir a ocorrer o resultado letal,
pelo que a morte lhe pode ser subjectivamente atribuída com base na violação
do dever de cuidado.
A hipótese será diferente —e de resolução mais difícil— se ao agente for
possível imputar o resultado de perigo a título de simples dolo eventual,
discutindose se é configurável um dolo de perigo como um momento de dolo
eventual (em que o elemento volitivo do dolo resulta da conformação do agente
com o perigo). Dizse que, se o agente se conforma com a possibilidade de se
verificar o perigo, está a conformarse com a possibilidade de uma
possibilidade e, desse modo, com a lesão... e então no nosso caso haveria
homicídio voluntário. Quando alguém aceita o risco está a conformarse com o
dano... Os autores, sensíveis à dificuldade da questão, dizem que se o agente,
podendo prever o resultado, actuou com inconsideração, confiando em que ele
se não verificava, ou se não se conformou com a sua verificação, terá praticado
um crime contra a integridade física. Se pelo contrário ele actuou conformando
se com o resultado, que previra, haverá dolo eventual e, consequentemente, não
se verificará este crime, mas o de homicídio voluntário. Mas uma parte da
doutrina aceita que é possível representar o perigo, pretendêlo como tal, para
conseguir um objectivo, mas não aceitar o dano, e até nem o representar (cf. Rui
Carlos Pereira; Silva Dias).
M. Miguez Garcia. 2001
109
IX. Dolo; tentativa. A dúvida e a certeza. Tentativa e dolo eventual: um
casamento possível? Homicídio qualificado com dolo eventual; tentativa de
homicídio qualificado; crime de homicídio qualificado, na forma tentada,
com dolo eventual.
CASO nº 4L: A dáse muito mal com B, seu inimigo de longa data, e quer vingarse
dele, custe o que custar. Como B tem um prédio, quase todo arrendado a uma firma de
exportações, com excepção do último andar —onde vive, sozinho, um indivíduo de idade—,
A, para tramar a vida a B, resolve deitar fogo ao prédio. Nada disso lhe parece difícil, até
porque já em ocasião anterior se tinha ocupado de tarefa semelhante e tudo correra bem. A
hora ideal será por volta das dez da noite, quando todos os empregados da firma, incluindo as
mulheres da limpeza, já estão nas suas casas. Problema é o inquilino do último andar. Para
evitar a morte deste, A remetelhe um telegrama, pouco antes de dar início aos seus planos,
fingindo que um filho do idoso está a morrer e o quer à sua cabeceira. A espera firmemente que
o telegrama chegue a tempo. Entretanto, prepara na cave do edifício uma mecha e rodeiaa de
materiais facilmente inflamáveis. Rega tudo com gasolina a que põe fogo, o qual se propaga
imediatamente e em grande velocidade. Quando as chamas já lambiam o último andar, os
bombeiros conseguem extinguilo, depois de chamados pelo morador, que a tempo sentiu o
intenso cheiro dos materiais a arder.
Punibilidade de A ?
Ninguém morreu, mas A pode ter cometido homicídio tentado, com dolo
eventual, talvez qualificado pela utilização de meio que se traduz na prática de
crime de perigo comum: artigos 22º, 23º, 73º, 131º, 132º, nºs 1 e 2, f ), e 272º, nº 1,
alínea a). A indagação deve começar pelo tipo subjectivo do homicídio,
procurando saber se este se mostra preenchido, portanto, se A actuou com dolo
de matar outra pessoa. Só poderá tratarse de dolo eventual relativamente à
pessoa do ocupante do último andar. Reparese que A não estava certo de que o
seu telegrama chegasse a tempo.
Quanto ao pessoal da firma, seguramente que não se poderá afirmar
qualquer dolo, mesmo eventual, sendo de excluir desde logo o correspondente
momento intelectual: A não chegou sequer a representar como possível a morte
de qualquer dessas pessoas, e essa representação é o primeiro pressuposto do
dolo (artigo 14º, nºs 1, 2 e 3), pelo que fica arredada a punição a esse título. Por
outro lado, o crime de homicídio negligente é de resultado material (artigo 137º)
e neste âmbito não se verificou qualquer resultado, ninguém morreu. Deve
recordarse, aliás, que a tentativa não é normativamente compaginável com a
negligência (artigo 22º), quer dizer, existe a impossibilidade legal de castigar a
"tentativa" de homicídio fora das hipóteses dolosas.
M. Miguez Garcia. 2001
110
Quem actua dolosamente conhece a situação típica e prevê o resultado ao
menos como consequência possível do seu comportamento. Esta forma passiva
de encarar o dolo, limitada à sua dimensão cognitiva, é no entanto insuficiente.
Há nele ainda um momento activo que mesmo na linguagem corrente podemos
identificar como a decisão para a acção —e do mesmo passo para as suas
consequências.
No caso nº 4k, "representar o preenchimento do ilícito típico como
consequência possível da conduta" de A é elemento comum ao dolo eventual e
à negligência consciente. A representação da morte do indivíduo idoso não é,
pois, o elemento decisivo que permita imputar o crime a título de dolo eventual:
o traço comum às duas categorias dogmáticas —dolo e negligência— é
justamente o referente cognitivo. É necessário algo mais. Se pudermos sustentar
que A agiu com indiferença perante a vida dessa pessoa, poderemos certamente
enlaçar a vontade de A com os elementos objectivos do homicídio, dando como
preenchido o correspondente elemento subjectivo do ilícito. Deste modo: A
previu a possibilidade de as chamas por si ateadas atingirem o último andar do
prédio e de o idoso aí se encontrar nesse momento, apanhandoo as chamas
desprevenido e provocandolhe a morte. A conformouse com este resultado,
sendolhe indiferente que o mesmo derivasse da execução do seu plano,
primordialmente destinado a cumprir um desejo de vingança. Por outro lado,
houve actos de execução: A preparou na cave do edifício uma mecha e rodeoua
de materiais facilmente inflamáveis. Regou tudo com gasolina a que pôs fogo
que se propagou imediatamente e em grande velocidade. Como o resultado, a
morte do idoso, não chegou a verificarse (A continua vivo), o caso não passa da
tentativa (artigos 22º e 23º). Mas, como conciliar a tentativa com o dolo
eventual?
Crime tentado cometido com dolo eventual —uma impossibilidade?
Tradicionalmente, a jurisprudência vemse manifestando no sentido da
admissibilidade de um crime tentado cometido com dolo eventual. Cf., entre
muitos outros, o acórdão do STJ de 20 de Novembro de 1996, BMJ461194). A
tentativa é compaginável com qualquer das modalidades do dolo no artigo 14º
do CP, escrevese no acórdão STJ de 2 de Março de 1994, CJ do STJ, ano II, tomo
1, p. 243, assim, se o arguido, ao disparar 3 tiros de pistola sobre a ofendida, a
cerca de 2 metros, livre e conscientemente, admitiu que lhe podia causar a
morte, a qual só não se verificou por haver sido operada de urgência, a sua
conduta preenche todos os elementos típicos do crime de homicídio na forma
tentada. A solução não é aceite por todos, desde logo pelo voto de vencido neste
último aresto. Também para o Prof. Faria Costa se afigura indispensável que na
M. Miguez Garcia. 2001
111
tentativa se verifique a intenção directa e dolosa por parte do agente, “em que
parece de excluir o dolo eventual, já que o agente, apesar da representação
intelectual do resultado como possível, ainda não se decidiu." Cf. Jornadas, p.
160; e STJ, Acórdão de 3 de Julho de 1991 (Tentativa e dolo eventual
revisitados), RLJ, ano 132º, nº 3903, p. 167 e ss. A tese jurisprudencial aparece
creditada com as palavras de Jescheck, para quem a tentativa exige o tipo
subjectivo completo. Em primeiro lugar, o dolo, tal como no delito consumado,
também na tentativa se deve referir aos elementos subjectivos do tipo. Do
mesmo modo, nos tipos qualificados os elementos qualificadores devem ser
abrangidos pelo dolo. O dolo pode igualmente revestir a forma de dolo
eventual, sempre que o mesmo seja suficiente para o tipo respectivo. (Cf. o ac.
do STJ de 3 de Fevereiro de 1995, cit.). Muñoz Conde (Derecho Penal, PG, 1993,
p. 372), para efeitos de imputação subjectiva, aceita a compatibilidade entre a
comissão dolosa eventual e a tentativa: o terrorista que põe uma bomba,
admitindo a possibilidade de ferir mortalmente alguém, comete um homicídio
na forma tentada se a bomba não chega a explodir, ou se, explodindo, não fere
ninguém ou fere ligeiramente alguém que por ali passava no momento. Na
Itália prevalece a orientação da jurisprudência a favor da solução positiva: o
dolo da tentativa é dolo de consumação, vontade de cometer o delito perfeito, e
neste compreendese também o dolo eventual. Em sentido contrário, todavia,
pode verse a Cass., de 20 de Outubro de 1986, in Foro Italiano, 1987, II, 509,
com apontamento de Fiandaca; e parte da doutrina, ao afirmar que não é
possível punir a tentativa com dolo eventual sem violar a proibição de analogia
in malam partem. Com efeito, no dolo eventual não seria admissível a
representação dos actos "come univocamente diretti", como univocamente
dirigidos à prática do crime. Desde Carrara vemse entendendo na Itália que o
momento executivo do delito exige não só a idoneidade da conduta como
também a sua inequivocidade: acto executivo é o acto dotado de idoneidade
(capacidade potencial de produção do evento) e de inequivocidade. Na situação
concreta, o acto deve denotar in modo non dubbio o propósito criminoso do seu
autor. Se o acto, além de inidóneo, se apresentar como equívoco, isto é,
ambíguo, não passa de acto preparatório. No exemplo de Paulo José da Costa
Jr., aquele que for surpreendido no topo de uma escada, apoiada numa janela,
se estiver praticando um acto idóneo, não estará por certo realizando um acto
inequívoco. A escalada poderá visar o furto, o rapto de mulher, que poderá ser
violento ou consensual; o sequestro de pessoa, com fins de resgate ou políticos.
Poderá também tratarse de conduta inócua, se o sujeito pretender proceder a
reparos de pedreiro, ou à pintura do prédio. (Cf. Mantovani, Diritto penale, p.
M. Miguez Garcia. 2001
112
438; e Giovannangelo de Francesco, Dolo eventuale e colpa cosciente, Rivista
Italiana di Diritto e Procedura Penale, Jan. Março, 1988, p. 151).
Homicídio qualificado com dolo eventual? Ultrapassada a questão da compatibilidade
da tentativa com o dolo eventual, com resposta positiva, de acordo com a posição maioritária,
cabe ainda perguntar se existirá uma tentativa de homicídio qualificado no nosso Código. Será que
a especial censurabilidade ou perversidade indiciadas pelas circunstâncias do nº 2 do artigo
132º se circunscrevem "ao último grau de lesão da vida —a consumação— ou compreendem
também as outras formas de crime?" Cf. Teresa Serra, Homicídio qualificado, p. 79 e ss. Uma
outra questão, que o Supremo já resolveu dandolhe resposta positiva, é a da conformidade do
homicídio qualificado com o dolo eventual: "em princípio, o facto de o agente actuar com dolo
eventual, não impede que a sua conduta possa corresponder à comissão de um crime de
homicídio qualificado. Assim, cometem o crime de homicídio qualificado, ainda que com dolo
eventual, aqueles que agridem a vítima, actuando e conformandose com a sua morte, que
ocorre, apenas com o propósito de obstar a que a vítima impedisse os seus intentos de se
apropriarem dos seus bens, pelo que a actuação dos arguidos foi motivada por avidez" (ac. do
STJ de 2 de Dezembro de 1992, BMJ42279). Cf., ainda, o acórdão do STJ de 7 de Maio de 1997,
BMJ467419: “o dolo eventual é perfeitamente compatível com a punição pelo crime do artigo
132º”.
Crime de homicídio qualificado na forma tentada com dolo eventual? O ac. do STJ de 6
de Maio de 1993, CJ, ano I (1993), p. 227, considerou que o arguido —cuja conduta não pode
deixar de revelar especial censurabilidade, por ser grande a sua torpeza— que actuou livre,
voluntária e conscientemente, admitindo, ao efectuar o disparo contra o J —seu companheiro
de café, apenas porque este pretendia dissuadilo de ir à procura da mulher e do amante para
os matar—, que lhe podia causar a morte e conformandose com tal resultado, o que só não veio
a acontecer por o J ter sido prontamente socorrido, cometeu um crime de homicídio qualificado na
forma tentada (com dolo eventual): artigos 131º, 132º, nºs 1 e 2, c), 14º, nº 3, 22º, nºs 1 e 2, c), 23º, nº
2, e 74º, nº 1, a).
Outros problemas de congruência dolo eventual / tentativa. Os problemas de
"congruência" envolvendo o dolo eventual estendemse a outras áreas, como no caso tratado
pelo acórdão do Tribunal Constitucional de 5 de Fevereiro de 1997, DR, II série, nº 88, de 15 de
Abril de 1997, e BMJ464113, que se ocupou de um crime de difamação cometido através de
meios de comunicação social com dolo eventual. Sustentavase tratarse de uma restrição
desproporcionada ao exercício da liberdade de expressão e de opinião. Diziase mais
exactamente que o considerarse que a mera hipótese de uma eventual lesão ao bom nome e
reputação implica a criminalização de uma conduta praticada no exercício da liberdade de
expressão e de opinião, no âmbito da participação na vida política, configura uma restrição
desproporcionada, desmedida, excessiva, violando o princípio da proibição de excesso
consagrado no artigo 18º, nº 3, da Constituição da República Portuguesa. Cf., ainda, a
propósito, o Acórdão de 28 de Setembro de 2000 do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem
(Caso Gomes da Silva contra Portugal: liberdade de imprensa; restrições para protecção do
bom nome e da reputação), com um comentário de Eduardo Maia Costa, Revista do Ministério
Público, ano 21 (2000), nº 84.
M. Miguez Garcia. 2001
113
X. A questão da comprovação do dolo. Os motivos do agente representam o
fio lógico que pode coordenar as restantes vertentes da sua responsabilidade,
atribuindolhes a necessária univocidade.
• Não existem presunções de dolo. Sobre a velha e ultrapassada ideia de um "dolus in re
ipsa" que sem mais resultaria da comprovação da simples materialidade de uma infracção, cf.
Jorge de Figueiredo Dias, Ónus de alegar e de provar em processo penal?, Revista de Legislação e de
Jurisprudência, ano 105º, nº 3474, p. 125. É sempre necessário comprovar a existência dos
diversos elementos do dolo e relacionálos com as pertinentes circunstâncias típicas da parte
especial — não existem presunções de dolo. "Outra coisa completamente diferente — seria a
necessidade de o juiz comprovar a existência do dolo através de presunções naturais (não
jurídicas) ligadas ao princípio da normalidade ou da regra geral ou às chamadas máximas da
vida e regras da experiência" (F. Dias; Rui Patrício, O dolo, p. 196).
Não há dúvida: a alta probabilidade da verificação do resultado
desempenha um relevante papel indiciário. Recordese, a propósito, que por ex. a
intenção homicida do agente, sendo o resultado de um processo que ocorre no
íntimo, fica subtraída à possibilidade de verificação directa e objectiva por parte
do juiz. Processualmente, o dolo só é apreciado de forma indirecta, através de
actos de natureza externa. Numa agressão com resultado mortal, o dolo
homicida é revelado, por exemplo, pelo número e a extensão dos ferimentos,
mas também pela violência da agressão e a reiteração dos golpes, pela natureza
do instrumento utilizado e pela zona do corpo procurada e atingida. Do mesmo
modo, podem tirarse ilações da circunstância de o agente confessar que confiou
na sorte ou da escolha assumida de meios ou processos reconhecidamente
perigosos, por exemplo, o infectado com sida que conscientemente prescinde de
qualquer protecção quando tem relações sexuais. Estes elementos devem ser
analisados como um todo e conferidos com os motivos do agente, os quais
representam o fio lógico que pode coordenar as restantes vertentes da sua
responsabilidade, atribuindolhes a necessária univocidade, sendo difícil que
um único desses elementos baste para assegurar a existência, por exemplo, do
dolo homicida. Do catálogo desses indicadores fazem parte os que giram em
torno da situação objectivamente perigosa para o bem jurídico tipicamente
protegido: a maior ou menor força explosiva duma bomba e a distância do alvo
a que é colocada; a possibilidade de orientar o tiro duma arma de fogo para o
alvo pretendido; a utilização dum silenciador; o período de tempo, mais ou
M. Miguez Garcia. 2001
114
menos prolongado, de que o criminoso dispôs. Podem obterse dados sobre a
representação do perigo, por ex., com a comprovação da presença do agente no
local; a proximidade espacial do objecto; a maior ou menor capacidade de
observação. No que respeita à decisão em favor da acção perigosa: a
participação do agente em condutas destinadas a evitar o resultado, não
esquecendo que a vontade de evitação por vezes é reveladora de um cálculo
criminoso estratégico e não indício de uma atitude conforme ao direito; as
condutas anteriores do sujeito em situações semelhantes que se encontram com
a situação actual num nexo doloso relevante (como seja o comportamento
anterior para com as crianças dum indivíduo que agora é acusado de matar
uma menina); os sinais emocionais que aproximam o criminoso da vítima,
como no caso do cinturão, quando os dois ladrões tentam reanimar o dono da
casa. Mais dados em W. Hassemer, Kennzeichen des Vorsatz, p. 307 e s.; e em
Joerg Brammsen, p. 77. Uma vez que o conteúdo do que se passa na cabeça dos
outros não se pode apreender directamente há quem, na comprovação do dolo,
faça entrar, com um papel importante, tanto o começo do facto (“Tatausgang”)
como a carga prévia (“Vorbelastung”). Nos Estados Unidos certas dificuldades
relacionadas com a comprovação do dolo foram, em parte, ultrapassadas
qualificando uma série de delitos como “strict liability offences”: não interessa,
por ex., se o agente sabia ou não a idade da vítima nos crimes sexuais. Cf. Eser /
Burkhardt, caso nº 6.
“Compreendemos o lenhador ou o apontar de uma arma não só de um modo actual, mas
também segundo a sua motivação, ao sabermos que o lenhador executa essa acção por um
salário ou para cobrir as suas necessidades, ou para sua recreação (racional) ou, porventura,
“porque reagiu a uma excitação” (irracional), ou quando aquele que dispara o faz por uma
ordem com o fim de executar alguém ou de combater os inimigos (racional) ou por vingança
(afectiva e, nesse sentido, irracional). Compreendemos, finalmente, a cólera quanto à sua
motivação ao sabermos que lhe está subjacente o ciúme, a vaidade doentia ou a honra lesada
(afectivamente condicionada, por conseguinte, compreensão irracional da motivação)”. Max
Weber, p. 26.
No que respeita a noções como intenção, dolo, voluntariedade (cf. o artigo
24º, nº 1), as dificuldades derivam da circunstância de o seu objecto se encontrar
escondido atrás dum muro —em regra, por detrás do cérebro duma pessoa. Só
se pode "saber" o que está por detrás do muro com o auxílio dum conjunto de
dados e não à simples vista desarmada. À intenção, dolo, ânimo de lucro, etc.,
dáselhes o nome de "conceitos de disposição" por reflectirem uma disposição
subjectiva ou tendência anímica do sujeito. Não se trata portanto de objectos
apreensíveis do mundo exterior como relógios ou árvores. E como não é
possível observálos empiricamente, tornase necessário deduzilos de outros
elementos — estes sim, empiricamente observáveis e que funcionam como
M. Miguez Garcia. 2001
115
indicadores da sua existência. Cf. W. Hassemer, Einführung, p. 183; e
Kennzeichen des Vorsatz, p. 304.
XI. Saber. Querer, desejar. Os fins. Os motivos. Dolo específico, dolo
genérico.
A vontade é o elemento dinâmico do dolo, mas só se pode querer aquilo
que ainda não aconteceu —a componente intelectual é estática, observa
Triffterer. "Saber" significa apreender intelectualmente, ter conhecimento ou
estar consciente relativamente a elementos da realidade fáctica ou de direito
dum tipo de crime. O Código exprimeo de diferentes modos: no artigo 14º diz
se que o agente "representa"; no artigo 16º usase o termo "conhecimento"; no
artigo 17º aludese à "consciência". "O querer só tem sentido enquanto plena
manifestação da vontade, quando se estriba no conhecimento, nisso se
distinguindo do mero desejo" (Faria Costa, Tentativa e dolo eventual, p. 41; Fabien
Lamouche, Le Désir, Hatier). Portanto: o "querer" não se confunde com o
"desejar" nem se confunde com os motivos do sujeito. O caso paradigmático é o
do sobrinho que convence o tio rico a dar um passeio pela floresta em dia de
tempestade na esperança que um raio lhe caia em cima, ou que o convence a
tomar um avião, esperando que num acidente o tio acabe por morrer. Num caso
destes, há quem observe que o sobrinho actua claramente com o objectivo de
conseguir determinado resultado, não se duvidando que o faz
intencionalmente, portanto com dolo, mas outros afastam o querer, explicando
que o sobrinho não quis a morte do tio, simplesmente a desejou. Se o assaltante
mata o empregado do Banco para se apoderar do dinheiro, provavelmente não
lhe deseja a morte, talvez preferisse não lha provocar; apesar disso quer
produzir a morte na medida em que não lhe resta outro caminho para deitar a
mão ao dinheiro. O assalto é doloso independentemente dos motivos:
lucrativos, de vingança, políticos, etc. (Muñoz Conde). Os motivos do Zé do
Telhado, de tirar aos ricos para dar aos pobres, não descaracterizam os ilícitos,
embora façam dele um assaltante (historicamente) simpático. O motivo é a causa
desencadeante da conduta e está quase sempre imbuído de natureza emocional
—é o que nos leva a agir ou a adoptar uma atitude; "é a unidade indissolúvel do
pensar e do agir" (Cesare Segre, Introdução à análise do texto literário, p. 387).
“Motivo” quer dizer uma conexão de sentido que surge ao próprio agente ou ao
observador como “fundamento” significativo de um comportamento” (Max
Weber, p. 29). As motivações associamse, mesmo na linguagem vulgar, ao
ânimo e à intencionalidade —é neste plano que actuam a vontade e o desejo, o
M. Miguez Garcia. 2001
116
querer e o impulso, as forças conscientes e as pulsionais (12). Mas a motivação
da avidez do homicida agrava a sua culpa, nos termos do artigo 132º, nº 2, alínea
d). O motivo pode aliás ser torpe ou fútil (artigo 132º, nº 2, alínea d), mas então
deve indagarse o que é que determinou o crime, o motivo concreto da atitude
do agente, sem o que não é possível afirmar que o motivo foi fútil (acórdão do
STJ de 7 de Dezembro de 1999, BMJ492168). O fim é consciente e volitivo, diz
Paulo José da Costa Jr. Ainda que os fins determinados pelo agente e os motivos
que o tenham impelido a agir não sejam normalmente considerados como
elementos integrantes do dolo, por vezes o tipo legal inclui como elemento do
crime um certo fim ou motivo: chamaselhe dolo específico, por oposição a
dolo genérico. Considerando que "nem sempre o móbil do crime tem de ficar
provado para que o crime se consume" e com considerações a propósito da
motivação do crime e do dolo como categorias distintas, podem verse os
acórdãos do STJ de 9 de Novembro de 1994, BMJ44149, e de 14 de Abril de
1999, BMJ486110.
XII. Dolus antecedens
CASO nº 4M: T anda desde há semanas a congeminar um plano para matar O,
simulando um acidente mortal. Durante uma caçada em que ambos intervêm com outros, T
dispara inadvertidamente sobre O, em cuja presença não reparara. T estava até convencido de
que tinha apontado e que disparava sobre uma peça de caça escondida no mato. O foi atingido
e morreu em consequência do disparo.
O primeiro passo é o de saber se estão preenchidos os elementos
objectivos do crime de homicídio doloso do artigo 131º do Código Penal. Se a
resposta for afirmativa, deverá apurarse se também o lado subjectivo se
encontra preenchido. Só há homicídio doloso quando o agente actua
dolosamente (artigos 13º e 14º do Código Penal).
Mostrase preenchida a vertente objectiva do tipo do homicídio doloso. A
morte de O produziuse por acção de T —ao disparar a arma— e pode serlhe
objectivamente imputada enquanto resultado mortal. Como se sabe, uma acção
será adequada para produzir um resultado (causalidade adequada) quando
12
A Prof. Fernanda Palma (Direito Penal. Parte Especial. Crimes contra as pessoas, Lisboa,
1983, p. 63) recorda que o comportamento intencional é definido, na leitura de Anscombe ("Intention", de
1963), como aquele que é possível utilizar no discurso linguístico como resposta à pergunta "porquê". "Na
base desta perspectivação do acto intencional está toda uma orientação filosófica sobre o conceito de
vontade que nega a equiparação da vontade a qualquer estado íntimo do agente, como um estado emocional
(por ex., desejo). Essa orientação "extrovertida" sobre a vontade já vem de Aristóteles, para quem o acto
voluntário se caracteriza pelo estado cognitivo do agente que consistiria no desenvolvimento de um
raciocínio prático dirigido à acção de que a própria acção surgisse como conclusão lógica". O livro de
Anscombe pode ser lido na tradução espanhola, com o título “Intención”, valorizada com uma interessante
“introdução” de Jesús Mosterín.
M. Miguez Garcia. 2001
117
uma pessoa normal, colocada na mesma situação do agente, tivesse podido
prever que, em circunstâncias correntes, tal resultado se produziria
inevitavelmente (“prognóstico posterior objectivo”). Isso significa também que
só será objectivamente imputável um resultado causado por uma acção humana
quando a mesma acção tenha criado um perigo juridicamente desaprovado que
se realizou num resultado típico (imputação objectiva do resultado da acção).
No caso concreto, a conduta continha um risco implícito (um perigo para o bem
jurídico), que posteriormente se realizou no resultado, o qual assim pode ser
imputado ao agente.
O tipo subjectivo do homicídio não se mostra porém preenchido. T não
produziu a morte de O dolosamente. Dolo é conhecimento e vontade de
realização dos elementos típicos, mas T não sabia (elemento intelectual) que
disparava sobre uma pessoa. Quando T apertou o gatilho da espingarda não
previu que ia atingir O. T desconhecia uma circunstância actual e relevante, no
sentido do artigo 16º, nº 1, do Código Penal.
Nada se altera pelo facto de T, anteriormente, ter gizado um plano para
matar O, simulando um acidente. Este plano não substitui a indispensável
previsibilidade do resultado como consequência da acção, é um simples "dolus
antecedens". No fundo, não se trata de um dolo em sentido técnicojurídico: o
dolo, em direito penal, abrange o período que vai do começo até ao fim da
acção que realiza o correspondente tipo objectivo.
Uma vez que o tipo objectivo do homicídio está preenchido, mas não o
subjectivo, tratase agora de saber se T cometeu um homicídio negligente do
artigo 137º do Código Penal. Vejase também o disposto no artigo 16º, nºs 1 e 3,
do Código Penal: o erro exclui o dolo, ficando ressalvada a punibilidade da negligência
nos termos gerais. No caso do nº 1 do artigo 16º, o erro versa sobre um elemento
constitutivo do tipodeilícito objectivo e não permite, em consequência, que se
verifique a congruência indispensável entre este e o tipodeilícito subjectivo
doloso. Pode haver, nestes casos, punição a título de negligência, mas aqui a
existência de negligência depende da censurabilidade do erro. Essa
censurabilidade assenta no exame descuidado da situação, o que explicará a
punibilidade a título de negligência, se esta for possível.
A comprovação da negligência tem que se fazer tanto no tipo de ilícito
como no tipo de culpa: é um exame de dois graus: cf. o artigo 15º do Código
Penal que, ao referir o cuidado a que o agente "está obrigado" e de que é
"capaz", num caso e noutro "segundo as circunstâncias", aponta para a
consideração de um dever de cuidado objectivo, situado ao nível da ilicitude, a
par de um dever subjectivo, situado ao nível da culpa. O artigo 137º, nº 1, pune
M. Miguez Garcia. 2001
118
quem matar outra pessoa por negligência. São momentos típicos a causação do
resultado e a violação do dever de cuidado que todavia, só por si, não
preenchem o correspondente ilícito típico. Acresce a necessidade da imputação
objectiva do evento mortal. Este critério normativo pressupõe uma determinada
conexão de ilicitude: não basta para a imputação de um evento a alguém que o
resultado tenha surgido em consequência da conduta descuidada do agente,
sendo ainda necessário que tenha sido precisamente em virtude do carácter
ilícito dessa conduta que o resultado se verificou; por outro lado, a produção do
resultado assenta precisamente na realização dos perigos que deve ser
salvaguardada de acordo com o fim ou esfera de protecção da norma. O risco
desaprovado pela ordem jurídica, criado ou potenciado pela conduta
descuidada do agente, e cuja ocorrência se pretendia evitar de acordo com o fim
de protecção da norma, deve concretizarse no resultado mortal,
acompanhando um processo causal tipicamente adequado.
No âmbito da culpa deve comprovarse se o autor, de acordo com a sua
capacidade individual, estava em condições de satisfazer as exigências
objectivas de cuidado.
T terá violado o dever objectivo de diligência? A valoração jurídicopenal
realizase comparando a conduta do agente com a conduta exigida pela ordem
jurídica na situação concreta. Ora, o homem "sensato e cauteloso" do "círculo de
actividade do agente" (i. é, um caçador sensato e prudente...) teria previsto os
perigos que rodeavam a actividade desenvolvida e terseia abstido de a levar a
efeito sem que antes se tivesse informado de que disparava contra uma peça de
caça e não contra uma pessoa. O caçador está autorizado a realizar a acção
perigosa somente com as suficientes precauções de segurança, doutro modo,
impõeselhe que a omita completamente.
T estava aliás em condições tanto de se abster de disparar como de se
informar (exame da capacidade individual em sede de tipo de culpa). T devia e
podia ter procedido como fica indicado.
Em suma: o risco criado pela conduta descuidada de T concretizouse no
resultado mortal: T cometeu um crime de homicídio negligente do artigo 137º,
nº 1, do Código Penal.
CASO nº 4N: Dolus subsequens. A compra a B uma câmara de vídeo, que B
tinha furtado. A não suspeita de que se trata de coisa furtada, nem tem motivos para isso. Mais
tarde A lê num jornal que a câmara tinha sido furtada, mas nada faz. Poderá falarse de
receptação (artigo 231º, nº 1)?
M. Miguez Garcia. 2001
119
XIII. Desvio do processo causal; dolo; essencialidade do erro.
CASO nº 4O: T aponta contra O com dolo homicida, aperta o gatilho da espingarda,
mas falha o alvo. Todavia, o tiro assustou uns cavalos que, em tropel, lançados em correria e
desnorteados, foram colher O mortalmente.
Mostrase preenchido o tipo objectivo do homicídio doloso. Não se poderá
razoavelmente questionar um nexo de causalidade entre o tiro disparado por T
e a morte de O. Vistas as coisas de um ponto de vista objectivo, a circunstância
de o agente ter espantado uns cavalos que vão provocar a morte da vítima é
seguramente um meio apto para atingir o fim, a morte de uma pessoa.
Os problemas surgem quando se pergunta se o lado subjectivo do ilícito se
encontra do mesmo modo preenchido. Com efeito, o dolo do agente não
abarcou, nem sequer eventualmente, o curso efectivo dos factos. Há aqui um
desvio do curso dos acontecimentos relativamente à representação que deles
fazia T. Ora, como se sabe, a relação causal entre a acção e o resultado também
pertence, como ponto de referência do dolo, ao tipo de ilícito objectivo (Wessels,
p. 77).
O dolo homicida referese ao conjunto dos elementos típicos do caso
concreto. Se assim não acontecer, faltará um elemento essencial do agir doloso e
o agente não poderá ser sancionado por conduta dolosa (artigo 16º, nº 1). Um
desses elementos típicos, cuja presença deve ser apurada, é, nos crimes de
resultado, a relação de causalidade entre a acção e o resultado produzido. Para
actuar dolosamente, o autor tem que conhecer tanto a acção como o resultado;
além disso, deve ter previsto o processo causal nos seus traços essenciais,
porque a relação de causalidade é um elemento do tipo, como o são a acção e o
resultado. Consequentemente, o dolo do agente deve estenderse também ao
nexo causal entre a acção do agente e o resultado — de outro modo, não haverá
actuação dolosa. Deve contudo repararse que normalmente só um especialista
poderá dominar inteiramente o processo causal na maior parte dos casos, o
devir causal só será previsível de forma imperfeita. De modo que o jurista aceita
a ideia de que o dolo tem que coincidir com o conhecimento da relação causal
por parte do agente, mas em traços largos, nas suas linhas gerais. Se assim não
fosse, bem difícil seria sustentar que uma pessoa agiu dolosamente. Basta
portanto que o agente preveja o decurso causal entre a sua acção e o resultado
produzido nos seus elementos essenciais.
Qualquer desvio do processo causal que se enquadre na experiência geral
ou seja adequadamente causado é um desvio não essencial (Hans Welzel, Das
Deutsche Strafrecht, 11ª ed., p. 73). Dito de outro modo: as divergências entre o
processo causal representado e o real não são essenciais e carecem de
M. Miguez Garcia. 2001
120
significado para o dolo de tipo se se mantiverem ainda dentro dos limites
previsíveis de acordo com a experiência geral e não justifiquem outra valoração
do facto (Wessels, p. 77). Mas se o desvio do processo causal efectivamente
representado pelo agente for essencial o dolo fica excluído (artigo 16º, nº 1), por
ser o erro relevante.
1. Deste modo.
a) Não é relevante o desvio, e consequentemente o agente pratica um
homicídio doloso consumado, quando A atira B duma ponte para que este se
afogue, se porventura B cai desamparado nos rochedos junto à ponte e vem a
morrer por via disso e não por afogamento (exemplo de Welzel).
T dispara contra O com dolo homicida supondo que O morreria
imediatamente. Porém, O morreu uns dias depois no hospital, por não ter
sobrevivido aos ferimentos provocados pelo tiro. O tipo objectivo do crime do
artigo 131º mostrase preenchido, bem como o subjectivo. O desvio do processo
causal relativamente à representação de T não é essencial e não é apropriado
para excluir o dolo homicida.
b) Se o desvio for relevante (essencial), o enquadramento fazse no crime
tentado.
No ex. anterior, O não morre imediatamente e é socorrido, mas quando
era transportado para o hospital a ambulância foi esmagada por um comboio
quando atravessava uma passagem de nível sem guarda e O morreu. A morte
de O não pode ser imputada a T. Há um desvio essencial entre o processo
causal representado por T (a morte imediata de O) e o efectivamente
acontecido, não sendo este previsível no momento em que T disparou contra a
vítima. Ainda assim, há homicídio tentado. T decidiu matar O (outra pessoa) e
disparou contra O artigos 22º e 131º.
2. Merece especial atenção o desvio do processo causal sempre que neste
se possam destacar diversos momentos.
Se o resultado se dá num estádio anterior ao que foi previsto pelo agente,
então adoptase o critério já referido antes.
A atira B duma ponte para que este se afogue; B cai desamparado nos rochedos junto à
ponte e vem a morrer por via disso e não por afogamento (exemplo de Welzel, já mencionado).
Não é relevante (essencial) o desvio, e consequentemente o agente pratica um homicídio doloso
consumado.
CASO nº 4P: Desvio do processo causal; dolo; essencialidade do erro. A
esconde uma bomba, pronta a detonar a certa hora, nas instalações duma casa editorial. E, a
empregada da limpeza, bate na bomba com a vassoura e morre na explosão que imediatamente
se seguiu. A concordava com a morte de qualquer pessoa. (Cf. Eric Samson, Strafrecht I, 4ª ed.,
1980, p. 105 e ss.).
M. Miguez Garcia. 2001
121
A encontrase comprometido com um crime de homicídio. O lado
objectivo supõe a morte de uma pessoa. A provocou a morte de E ao colocar a
bomba no edifício da editora. Para a causalidade é irrelevante que tenha sido E
a detonar a bomba. Deuse uma situação de perigo comum em que o agente não
pode em geral determinar nem limitar os efeitos das forças que ele próprio
desencadeia. A não podia avaliar antecipadamente o número de pessoas que
iriam morrer: a bomba era portanto um instrumento dessa natureza. O tipo
subjectivo supõe o dolo. A contava que com a explosão iriam morrer pessoas,
mas não sabia quem iria ser atingido. Para o dolo do tipo não é contudo
necessário que o agente represente uma concreta pessoa como vítima. Basta,
pelo contrário, que a vítima seja individualizada segundo outros critérios. Foi o
que aconteceu: A queria a morte de quem ali se encontrasse no momento da
explosão. Uma dessas pessoas era E. A quis portanto a morte de E, quis causar a
morte de E.
A representou diferentemente o processo causal: tratavase de uma bomba
relógio e a explosão tinha hora marcada, mas a detonação deuse quando a
vassoura da limpeza lhe bateu. Não há aqui realmente nenhum desvio do
processo causal representado. Tradicionalmente, falase do desvio do processo
causal como um problema de dolo e numa coisa todos estão de acordo: se o
desvio for insignificante, haverá crime doloso na forma consumada. Se, pelo
contrário, o desvio for relevante, o enquadramento fazse no crime tentado. O
desvio será não essencial se o decurso causal se contiver ainda nos limites da
previsibilidade ditada pela experiência geral e não se justifique qualquer outra
valoração do facto. Para a determinação daquela previsibilidade operase com a
doutrina da causalidade adequada. No caso concreto, o desvio contémse nos
limites previsíveis, consequentemente os factos representados e os realizados
não entram em grave contradição. Por outro lado, A agiu com dolo homicida,
sabendo que não podia dominar os efeitos da explosão. A agiu também com
dolo no que respeita ao perigo comum que representava o meio letal por si
escolhido. Cf. o artigo 132º, nº 2, f).
XIV. Dolus generalis.
CASO nº 4Q: A, enquanto estrangula uma sua vizinha — B —, enchelhe a boca com
duas mãos cheias de areia, para evitar que os gritos dela se ouçam. Ao proceder assim, A
actuou com dolo eventual, como o Tribunal, mais tarde, veio a apurar. B fica prostrada, sem
dar acordo de si, mas continua viva. A, julgandoa morta, atira o que supunha ser o cadáver de
B à água e B morre afogada.
M. Miguez Garcia. 2001
122
Como fizemos em casos anteriores, também aqui devemos distinguir um
primeiro arco de tempo durante o qual A actuou com dolo homicida, ainda que
eventual. Com efeito, enquanto estrangulava B e lhe enchia a boca com areia,
representou a morte desta como consequência necessária da sua conduta. Isso
significa que durante a primeira parte dos factos — enquanto a estrangulava,
etc. —, A actuou com dolo homicida, mas já não se poderá sustentar o mesmo
para a segunda parte do acontecido — quando o suposto cadáver foi atirado à
água e B morreu afogada —, pois aí A não actuou, seguramente, com dolo
homicida.
A primeira questão é a de saber se A cometeu um crime de homicídio do
artigo 131º do Código Penal, ao atirar B para a água, onde morreu.
O tipo objectivo do homicídio mostrase preenchido. A vítima morreu.
Existe um nexo de causalidade entre esta actuação de A e a morte da vítima. Na
verdade, B morreu afogada. O facto de se atirar alguém à água, ainda por cima
inconsciente, é meio adequado para dar a morte por afogamento.
Todavia, a vertente subjectiva não se mostra preenchida. A não sabia que
atirava à água uma pessoa viva e que assim lhe dava a morte. A supunhaa
morta. Ora, para se afirmar o dolo, seria necessário que o agente soubesse que
estava perante uma pessoa ainda com vida. Esta parte do comportamento de A
não se pode envolver com o homicídio doloso. Intervém o artigo 16º.
Como já se observou, o crime executase em dois actos, julgando o agente
que o resultado se deu com o primeiro, quando, na verdade, foi com o segundo
que se produziu. A opinião geralmente seguida encara estas hipóteses como um
processo unitário: o dolo do primeiro acto vale também para o segundo. Trata
se assim de um dolo "geral" (doutrina do dolus generalis) que cobre todo o
processo e que não merece nenhuma valoração jurídica privilegiada (Jescheck,
AT, 4ª ed., 1988, p. 282). Nesta perspectiva, A deve ser punido como autor
material de um homicídio doloso consumado.
Esta doutrina do dolus generalis, para a qual o desvio do processo causal é
puramente acidental, esquece, contudo, que só se pode falar de dolo homicida
enquanto o agente encara seriamente como possível a realização dos elementos
objectivos do crime e se conforma com o resultado. Mas, no nosso caso, o dolo
homicida de A termina naquele ponto em que A supõe que B está morta. Os
restantes momentos típicos já não estão cobertos pelo dolo do agente com este
significado e alcance. Relativamente a esta segunda parte do acontecido, o dolo
que cobre a primeira parte funciona como um simples "dolus antecedens", já
não é, para este efeito, um dolo verdadeiro e próprio. O que significa ainda que
M. Miguez Garcia. 2001
123
a doutrina do dolus generalis aceita um mero dolo antecedente como se de
verdadeiro e próprio dolo se tratasse (J. Hruschka, Strafrecht, 2ª ed., p. 27).
Face à conclusão a que se chegou, cabe perguntar então se A, na medida
em que atirou uma pessoa em estado de insconsciência para a água, praticou
um crime de homicídio involuntário do artigo 137º. As respectivas condições
objectivas (infracção do dever objectivo de cuidado, previsibilidade do
resultado...) estão certamente preenchidas. Além disso, A, ao agir nas
circunstâncias apuradas, deveria ter previsto a morte da vítima, tanto mais que
no momento anterior tinha agido com dolo eventual. Parece igualmente que A
poderia ter previsto a morte de B através da sua descrita actividade. (Esta
última possibilidade ficará excluída para quem pense que os dados de facto são
escassos. Com efeito, pode pôrse em dúvida que B podia saber que a segunda
parte do acontecido atirar B à água... era uma actuação homicida).
No que respeita à primeira parte do acontecido estrangulamento da
vítima, deitarlhe areia na boca , tratase de saber se ela constitui um homicídio
doloso do artigo 131º.
A primeira pergunta: estarão reunidos os respectivos elementos típicos
objectivos? B morreu, o que significa que se produziu um resultado que, em
princípio, será o resultado de uma acção homicida. Ponto é que se estabeleça
um nexo de causalidade entre esta parte do comportamento de A e a morte de
B. A conclusão não será de modo nenhum óbvia. Há quem negue essa conexão
entre a acção de estrangular, por um lado, e, por outro, a morte da vítima, tal
como ela ocorreu no caso concreto: supondo que a morte da vítima por
afogamento é o objectivo pretendido pelo agente, então o estrangulamento não
será o meio adequado para atingir essa finalidade. Dito de outro modo: com o
estrangulamento (etc.) não se materializa objectivamente o perigo da morte por
afogamento. (13) (14)
13) A solução será diferente para quem afirme a conexão entre a acção e o resultado: o eventual erro
por parte de A quanto à causação da morte funcionaria como elemento de ligação entre a actuação de A -
estrangulamento, etc. - e a morte da vítima.
14 ) Repare-se na solução dada por Stratenwerth (Derecho Penal, Parte especial, I, 1982, p. 103): "Se
partirmos do critério da adequação, a solução está em saber se o curso realmente seguido era ou não
previsível no momento da primeira acção, ainda coberta pelo dolo. A resposta terá que ser afirmativa
quando o autor, desde o princípio, tinha a intenção de cometer o segundo acto que mais tarde se verifica ser
o que directamente causou o resultado. O crime doloso deverá entender-se assim como consumado. Se o
segundo acto não estava planeado desde o princípio, mas o autor só se decide a executá-lo no momento em
que se acha concluído o primeiro, então a adequação do desenrolar do processo que levou à produção da
morte é mais que duvidosa e provavelmente deveria ser negada: a resolução posterior apenas se pode prever
em geral durante a execução da primeira acção, ainda dominada pelo dolo homicida. Aqui estaríamos
M. Miguez Garcia. 2001
124
Nessa medida, A só poderá ser responsabilizado por tentativa de
homicídio, se esta for compatível com o dolo eventual.
A este propósito, a corrente dominante na jurisprudência é a de que * a
tentativa é punível, ainda que o agente tenha actuado com dolo eventual (ac. do STJ de 14 de
Junho de 1995, BMJ448136). * O facto de o crime ser imputado ao arguido a título de dolo
eventual não é obstáculo à punição da tentativa (ac. da Relação de Coimbra, de 26 de Abril de
1989, BMJ386518). * A tentativa é compaginável com qualquer das modalidades do dolo no
artº 14º do CP (ac. STJ de 2 de Março de 1994, CJ do STJ, ano II, tomo 1, p. 243).
Aderindo à corrente dominante, diremos, a concluir, que A é autor
material de um crime de homicídio doloso, na forma tentada (artigos 22º e 131º),
podendo os factos, eventualmente, preencher também o ilícito típico ao artigo
137º, gerandose então uma situação de concurso aparente.
Cerezo Mir refere o seguinte episódio julgado em Teruel (recorde, a
propósito, os amantes de Teruel, personagens do século 13, que inspiraram
poetas e dramaturgos como Tirso de Molina): A surpreendeu sua mulher, B,
com C, amante desta, na própria casa do casal. Iniciouse luta corporal entre os
dois homens e B começou, às tantas, a dar o seu contributo contra o marido,
ajudando o amante, até que A caiu inanimado, pensando os dois que lhe tinham
tirado a vida. C levou então o corpo para debaixo de uma viga onde havia uma
argola, fez um nó corrediço com uma corda, passando uma ponta desta pela
argola e o laço da outra ponta foi passado pelo pescoço do dono da casa. Foi ao
içarem o corpo que os dois amantes provocaram a morte do infeliz, por asfixia.
CASO nº 4R: Strangers on a train. Dolus generalis; autoria e
participação; dolo homicida.
Numa viagem de comboio, A conhece B, que toma por atrasado mental. A, que desde há
muito vem acalentando a ideia de deitar a mão à fortuna considerável de sua mulher, M,
decide aproveitarse da “inimputabilidade” de B para alcançar os seus fins. Conta a B que a
mulher é uma enviada do demónio e que deve ser morta, mas a morte tem que ficar a cargo de
alguém de fora. A promete a B a vida eterna e, além disso, uma recompensa de mil contos. B,
que está desempregado, mas não é nenhum atrasado mental, embora tenha bebido uma boa
quantidade de cervejas no “bar” do comboio, agarra a oferta de A, pois precisa do dinheiro. A e
B combinam a morte de M para a segundafeira da semana seguinte, pois nessa ocasião, como
A supõe, M estará sozinha em casa. A, como todas as segundasfeiras, vai estar ausente de casa
e não quer saber do que vai acontecer: deixa a B a planificação e a execução, embora contribua
com algumas ideias. Dois dias depois, B faz o exame do local. Decidese a aproveitar o começo
da noite para actuar para, depois de matar M, atirar o cadáver para a piscina da casa,
“deixandoo desaparecer”. Na data combinada, B entra no interior da casa pela porta da
varanda que M deixara aberta e esgueirase para a sala, onde M via televisão com o som bem
alto. B chegouse perto de M, que de nada se apercebeu, por detrás, e deulhe uma pancada na
cabeça com um martelo que levava consigo. B convenceuse de que a pancada tinha sido
perante uma tentativa e a eventual causação negligente de um resultado".
M. Miguez Garcia. 2001
125
mortal. M caiu sem sentidos no chão, onde ficou como se estivesse morta. B desligou a
televisão mas logo a seguir ouviu ruídos e tratou de se esconder atrás de uns cortinados. R, o
amante de M, entrou na sala. Debruçouse sobre M, que realmente estava apenas sem sentidos,
e deuse conta de que os ferimentos desta não eram de molde a causarlhe necessariamente a
morte. Pela natureza dos ferimentos, R convenceuse de que M tinha caído pelas escadas e,
como tencionava pôr termo á relação que mantinha com ela, decidiu aproveitar a situação para
se livrar de discussões intermináveis. Agarrou numa almofada do sofá e pressionoua contra a
cara de M. Quando R se convenceu de que M já não respirava, colocou de novo a almofada no
sofá e retirouse da casa. B, que se mantivera quieto atrás das cortinas, e que de nenhum modo
colaborou na actuação de R, aguardou 10 minutos e então arrastou M para a piscina e atiroua
para a água. M morreu por afogamento na água da piscina. Buttel/Rotsch, Der Fremde im
Zug, JuS 1995, p. 1096. A ideia foi baseada no filme de Alfred Hitchcock, Strangers on a train.
I. Punibilidade de B. Homicídio.
B pode ter cometido um crime do artigo 131º. M morreu. B deulhe com
um martelo na cabeça. Põese porém a questão de saber se a pancada na cabeça
é causal relativamente ao resultado apontado e se a morte de M pode ser
objectivamente imputada a B, já que M morreu por afogamento. Sem a acção de
B, M não teria desmaiado e não teria morrido depois por afogamento na
piscina, o que significa que a pancada dada por B é condiciosinequanon da
morte de M. Os problemas põemse no plano da imputação objectiva. Aqui tem
que se averiguar se entre a pancada do martelo que cria o perigo juridicamente
desaprovado e a morte por afogamento existe o necessário nexo de risco, i. é, se
o perigo criado por B — produção da morte em razão da lesão com uma
pancada — se manifesta no resultado (a morte por afogamento) por forma
tipicamente relevante. Do que não há dúvida é que a primeira acção de B está
coberta pelo seu dolo homicida, não assim a segunda, pois quando B atira o que
julga ser o cadáver para a piscina não actua seguramente com dolo homicida.
Como se viu antes, há autores que afirmam um nexo de risco entre a primeira
acção e o resultado final se o curso realmente seguido era previsível no
momento da primeira acção, coberta pelo dolo. No caso em análise, B tinha,
desde o princípio, a intenção de cometer o segundo acto, tinha a intenção atirar
M para a água da piscina, e esta segunda actuação é a que directamente vem a
causar o resultado. Quem optar por este caminho conclui que B cometeu um
crime de homicídio consumado. Resta averiguar a existência de um exemplo
padrão, já que as circunstâncias podem apontar para uma especial
censurabilidade ou perversidade de B (artigo 132º, nº s 1 e 2). Convém desde
logo indagar se o agente foi determinado por avidez (alínea c), em vista da
recompensa prometida.
II. Punibilidade de R. Homicídio.
M. Miguez Garcia. 2001
126
R pode ter cometido um crime do artigo 131º (eventualmente 132º se se
verificarem circunstâncias reveladoras da especial censurabilidade ou
perversidade do agente). Com efeito, R aplicou a almofada na cara de M. Esta
morreu, i. é, produziuse o resultado típico. Todavia, não é possível afirmar a
causalidade. Na falta de um resultado imputável a R, este só pode ser castigado
por tentativa, sendo certo que o agente decidiu cometer o homicídio na pessoa
de M e que houve começo de execução (artigos 22º e 23º).
III. Punibilidade de A.
A, que prometeu uma quantia em dinheiro a B para que este praticasse o
homicídio, não é seguramente seu coautor. Conforme a definição legal (artigo
26º), várias pessoas podem ser coautores, tomando parte directa na execução,
por acordo ou juntamente com outro ou outros, mas não foi isso que aconteceu.
Nada indica, por outro lado, que o papel de A seja o de autor mediato. É certo
que A estava convencido de que utilizava B na execução do homicídio, que este
era cometido através de B, mas o que realmente se verificou foi o completo
domínio do facto por parte deste. O papel que cabe a A é o de instigador (artigo
26º, última variante) de B na morte de M. A determinou B através da paga em
dinheiro, não se colocando especiais problemas quanto à natureza do seu dolo
já que A queria que o crime fosse cometido por B e foi isso que aconteceu. Resta
saber se A deve ser punido como instigador de um homicídio simples ou
qualificado (artigos 131 e 132º, nºs 1 e 2, c), recordandose aqui que B terá sido
determinado por avidez. Cf. o disposto no artigo 29º, mas A terá sido
determinado igualmente por avidez, na medida em que aspirava à herança da
mulher.
XV. Aberratio ictus e error in persona vel objecto. Dolus alternativus.
CASO nº 4S: A quer matar B, seu marido, que nesse dia se encontra de turno ao
serviço de bombeiros da região. Lembrandose do gosto que ele tem por uma certa marca de
vinhos, levalhe uma garrafa, mas tem o cuidado de lhe adicionar uma dose de um certo
veneno que sem dúvida será suficiente para lhe dar a morte. B, todavia, é chamado para ir
combater um incêndio e oferece a garrafa a C, um dos companheiros que ficam no
aquartelamento, e qual é também um conhecido apreciador. C bebe o vinho e morre
envenenado.
A situação de desvio de golpe corresponde àqueles casos em que na
execução do crime ocorre um desvio causal do resultado sobre um outro
objecto da acção, diferente daquele que o agente queria atingir: A quer matar B,
mas em vez de B o tiro atinge mortalmente C, que se encontrava ali ao lado.
Distinguese do típico “error in persona” na medida em que o agente não está
enganado sobre a qualidade (ou identidade) da pessoa ou da coisa, pois no
M. Miguez Garcia. 2001
127
“error in persona” há uma confusão. Assim, no exemplo de Stratenwerth, o
“assassino” profissional mata um terceiro completamente alheio ao caso, por
supor que é a vítima que lhe fora indicada e que só conhece por fotografia. Pelo
contrário, na “aberratio ictus” atingese quem (ou o que) está ao lado. A
discussão sobre o tratamento a dar a este grupo de casos movimentase,
tradicionalmente, na Alemanha, entre os pólos da teoria da individualização e
da teoria da equivalência. A doutrina e a jurisprudência manifestam a sua
preferência pela teoria da individualização. O dolo individualizado num
objecto determinado conduz unicamente à punibilidade por uma tentativa de
homicídio (de B, no exemplo), uma vez que ele se realizou não no concreto
objecto, mas num objecto que lhe estava ao lado (C, no exemplo). A lesão
(mortal) querida não se verificou; a lesão (mortal) efectivamente produzida fica
de fora do dolo individualizado e quando muito pode integrar um crime
negligente. Mas se o agente quis matar uma pessoa (B) e também matou uma
pessoa (C), então estamos perante um homicídio doloso consumado, pois todos
os homens têm o mesmo valor perante a lei. É o que sustentam os partidários
da teoria da equivalência, para quem o dolo tem que abranger unicamente os
elementos genéricos do resultado típico: o desvio causal não tem aqui nenhuma
influência sobre o dolo. Ainda assim, apontamse três casos (Roxin, AT, p. 420)
que são especiais por terem um tratamento unitário. O primeiro envolve as
ocorrências em que o objecto visado e o atingido não são tipicamente idênticos
(A aponta para uma jarra valiosa e atinge mortalmente B, que estava ao lado:
tentativa de dano e homicídio negligente; a actuação com dolo homicida sobre
uma pessoa falhou o alvo desejado e atingiu apenas o animal que a pessoa
visada levava pela coleira) ou, sendo tipicamente equivalentes, existe uma
causa de justificação contra o visado, a qual, todavia, não ocorre relativamente
ao atingido (o defendente, querendo atingir o atacante, vem a ofender
corporalmente a mulher deste, que estava ao lado e não tivera qualquer
intervenção: haverá uma tentativa, justificada por legítima defesa, de ofensas
corporais e, eventualmente, um crime negligente na pessoa da mulher). O
segundo tem a ver com processos causais que se desenvolvem fora do contexto
adequado. No exemplo, ainda de Roxin, em que A dispara sobre B, mas o tiro
falha o alvo e vai sucessivamente fazer ricochete na parede de uma casa e
noutro qualquer objecto, até que atinge um transeunte na esquina da rua, de
forma completamente imprevisível, só pode sustentarse a tentativa de
homicídio de B, não obstante tratarse de bens jurídicos eminentemente
pessoais, que a teoria da equivalência colocaria, nas hipóteses normais, ao
mesmo nível. Finalmente, haverá homicídio consumado se o agente aceitou
M. Miguez Garcia. 2001
128
como possível (dolo eventual) a morte da pessoa que não tendo sido visada
com a sua acção acabou no entanto por ser atingida (caso, por ex., do guarda
costas do visado: A quer atirar sobre B, apercebese, contudo, que pode atingir
C, que o protege, e apesar disso dispara, vindo a matar o último). Num caso
destes, em que mesmo os partidários da teoria da individualização têm que
admitir um homicídio consumado, põese a questão de saber se acresce um
homicídio tentado (na pessoa do visado que não chegou a ser atingido),
respondendose geralmente pela negativa, pois o dolo homicida já foi “gasto”: o
agente quis e conseguiu matar uma pessoa (contra, Roxin, ob. cit., p. 421, para
quem se verifica também uma tentativa de homicídio; a questão está
relacionada com o chamado dolo alternativo, em que o agente se propõe ou de
conforma com a realização de um ou de outro tipo de ilícito). Para os casos em
que a discussão se mantém, há propostas de solução que se situam entre a
teoria da individualização e a da equivalência. Alguns autores sustentam que
não faz sentido falar de “aberratio ictus” quando se trata exclusivamente de
bens jurídicos patrimoniais (teoria da equivalência material), pois carece de
significado a individualização do objecto da acção para a correspondente
realização típica e para a correspondente ilicitude: só os motivos que levaram à
actuação é que, na representação do agente, têm a ver com a individualização
do objecto, o que é irrelevante. Roxin entende que a teoria da individualização
merece ser acolhida na medida em que a realização do plano criminoso
(“Tatplan” Theorie) supõe um objecto individualizado, caso contrário, aplicam
se os critérios da teoria da equivalência. Assim, se A, durante uma altercação
num bar, quer matar o seu inimigo B e em vez dele atinge o seu próprio filho, o
plano do agente soçobra, tanto do seu ponto de vista subjectivo, como por
critérios objectivos. Não seria exactamente o mesmo se o tiro tivesse atingido
um terceiro, completamente desconhecido. Saber se o agente, que tivesse
contado com o desvio de golpe, ainda assim teria actuado, é um caminho que
pode indiciar uma solução correcta nestes casos. Entre nós, o tratamento a dar
aos casos de “aberratio ictus” tem sido objecto de larga querela (M. Maia
Gonçalves, Código Penal Português, 5ª ed, Coimbra, 1990, p. 100), mas o Prof. F.
Dias entende que a única solução correcta estará em punir o agente por
tentativa, em concurso eventual com um crime negligente consumado
(Figueiredo Dias, Direito Penal, sumários das Lições, p. 193).
M. Miguez Garcia. 2001
129
XVI. Excesso na execução.
CASO nº 4T: Dolo directo / dolo eventual. A e B haviam decidido cometer diversos
crimes de roubo, actuando sempre em conjunto. Na execução de um desses roubos, o B, indo
além do acordado, começou a disparar, atingindo três pessoas, das quais duas morreram,
com intenção de as matar. B agiu com dolo directo de homicídio. A, por sua vez, não planeou
tal resultado. Provouse porém em julgamento que A previu que tal resultado pudesse
acontecer, conformandose com o mesmo. Na verdade, o A forneceu as armas e respectivas
munições ao B para efeito do cometimento dos crimes de roubo, prevendo que do seu uso
pudesse resultar a morte dos visados e deslocandose ambos para o local com a intenção de
roubarem. Chegados ao local, o A aguardou na viatura a consumação dos ilícitos por parte
do B, proporcionando de imediato a fuga.
Conclusão do acórdão do STJ de 6 de Dezembro de 2001, CJ 2001, ano IX,
tomo III, p. 227: no que respeita aos crimes perpetrados —excluídos os
homicídios— ambos os arguidos são coautores; no que respeita aos crimes de
homicídio, o B, executor material, responde a título de dolo directo, enquanto
que o A, para quem tais homicídios configuram um excesso ao plano traçado
quanto à execução do roubo, responde apenas a título de dolo eventual.
XVII. Outras indicações de leitura
Acórdão do STJ de 12 de Dezembro de 1984, BMJ342227: não se provou que o arguido, ao
desfechar a espingarda a cerca de 1,35 metros de distância sobre a vítima, tivesse tido a
intenção de causar a morte desta, e consequentemente que tivesse agido com o chamado dolo
directo. Porém, como essa morte se lhe representou como uma consequência possível da
conduta, e não obstante o arguido actuou, conformandose com tal resultado —agiu com o
chamado dolo eventual.
Acórdão do STJ de 18 de Setembro de 1991, BMJ409433: o arguido desfechou contra o
ofendido um golpe com um canivete, dirigido de baixo para cima, atingindoo na zona do
pescoço, de modo voluntário e livre, na intenção de ferir: tais factos apontam inequivocamente,
M. Miguez Garcia. 2001
130
ainda que de forma oblíqua e indirecta, que o golpe foi intencionalmente dirigido ao pescoço e
não, às cegas, contra outra zona corpórea.
Acórdão do STJ de 1 de Abril de 1993, BMJ426154: dolo eventual: comprovação dos actos
psíquicos. A e B envolveramse em discussão, tendo o B caído no solo. Uma vez este no solo, o
A encavalitouse nele, e agarrandoo pela cabeça por várias vezes lhe deu com ela no
pavimento de paralelepípedos de granito. Apesar de não ter havido um pronto internamento
hospitalar, o Supremo deu como assente a conexão, em termos de adequação causal, entre as
lesões produzidas e a morte. Como o A praticou a agressão prevendo a possibilidade da
ocorrência letal, aceitandoa, é autor de homicídio voluntário simples com dolo eventual.
Acórdão do STJ de 16 de Janeiro de 1990, CJ, 1990, tomo I, p. 6: sobre o apuramento da
intenção a partir da avaliação da conduta do réu.
Acórdão do STJ de 11 de Dezembro de 1996, BMJ462207: sendo o dolo um acto psíquico,
porque ocorre no interior do sujeito, só é revelado indirectamente através de actos exteriores.
Se a natureza do instrumento utilizado, a zona atingida e as características da lesão
consentirem a ilação de que o arguido, agredindo a vítima, representou a morte desta como
consequência possível da sua acção e agiu conformandose com tal evento, estará
fundamentada a existência de dolo eventual.
Acórdão do STJ de 14 de Junho de 1995, CJ do STJ, ano III (1995), tomo II, p. 226: o dolo
eventual é integrado pela vontade de realização concernente à acção típica (elemento volitivo
do injusto da acção), pela consideração séria do risco de produção do resultado (factor
intelectual do injusto da acção) e, por último, pela conformação com a produção do resultado
típico como factor da culpabilidade.
M. Miguez Garcia. 2001
131
Acórdão do STJ de 18 de Junho de 1986, BMJ358248: provandose que o réu representou a
morte da vítima como consequência possível dos disparos que fez, e mesmo assim disparou,
conformandose com o resultado representado e a que se mostrou indiferente, não pode
duvidarse que agiu com dolo eventual e não apenas com negligência.
Acórdão do STJ de 7 de Maio de 1997, BMJ467419: os arguidos muniramse da caçadeira,
que todos sabiam estar carregada com a respectiva munição, prevendo a possibilidade de ser
efectuado um disparo que atingisse mortalmente o acompanhante da mulher e conformando
se com esse resultado, sendolhes indiferente que da execução do seu plano, primordialmente
destinado à satisfação do instinto sexual, pudesse resultar a morte de um dos membros do
casal.
Albin Eser/B. Burkhardt, Strafrecht I. Schwerpunkt, 4ª ed., 1992, p. 86 e ss. (há tradução
espanhola: Derecho Penal, Colex, 1995).
Armin Kaufmann, Der dolus eventualis im Deliktsaufbau, in Strafrechtsdogmatik zwischen
Sein und Wert, 1982.
Beleza dos Santos, Crimes de Moeda Falsa, RLJ, anos 66/67 (19341935), nºs 2484 e ss.
Cornelius Prittwitz, Dolus eventualis und Affekt, GA 1994, esp. p. 465.
Dirk von Selle, Absicht und intentionaler Gehalt der Handlung, JR 1999, p. 309 e ss.
E. Gimbernat Ordeig, Acerca del dolo eventual, Estudios de Derecho Penal, 3ª ed., 1990, p.
[240].
E. Gimbernat Ordeig, Algunos aspectos de la reciente doctrina jurisprudencial sobre los
delitos contra la vida (dolo eventual, relación parricidioasesinato), in Ensayos Penales, Tecnos,
1999.
M. Miguez Garcia. 2001
132
Eberhard Schmidhäuser, Die Grenze zwischen vorsätzlicher und fahrlässiger Strafrecht
(“dolus eventualis” und “bewußte Fahrlässigkeit”), JuS 1980, 4, p. 241 e ss.
Eberhard Schmidhäuser, Vorsatzbegriff und Begriffsjurisprudenz im Strafrecht, Tübingen,
1968.
Eduardo Correia, Direito Criminal, I, p. 378 e ss.
Erich Samson, Absicht und direkter Vorsatz im Strafrecht, JA 1989, p. 449.
Erich Samson, Strafrecht I, 4ª ed., 1980.
F. Haft, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 6ª ed., 1994.
Faria Costa, As Definições Legais de Dolo e de Negligência, BFD, vol. LXIX, Coimbra, 1993.
Faria Costa, Dolo eventual, negligência consciente (parecer), CJ, acórdãos do STJ, ano V
(1997).
Faria Costa, STJ, Acórdão de 3 de Julho de 1991 (Tentativa e dolo eventual revisitados), RLJ,
ano 132º, nº 3903, p. 167 e ss.; e nº 3907, p. 305 e ss.
Faria Costa, Tentativa e dolo eventual, separata do nº especial do BFD, Coimbra, 1987.
G. E. M. Anscombe, Intención, Ed. Paidós, 1991.
Giovannangelo de Francesco, Dolo eventuale e colpa cosciente, Rivista Italiana di Diritto e
Procedura Penale, Jan. Março, 1988, p. 113 e ss.
Gomes da Silva, Direito Penal, 2º vol. Teoria da infracção criminal. Segundo os
apontamentos das Lições, coligidos pelo aluno Vítor Hugo Fortes Rocha, AAFD, Lisboa, 1952.
Günter Stratenwerth, Derecho Penal, Parte general, I, El hecho punible, 1982, p. 107 e ss.
H.H. Jescheck, Grundfragen der Dogmatik und Kriminalpolitik im Spiegel der Zeitschrift
für die gesamte Strafrechtswissenschaft, in ZStW 93 (1981), p. 1.
H.H. Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, 4ª ed., 1988.
M. Miguez Garcia. 2001
133
Harro Otto, Der Vorsatz, Jura 1996, p. 468 e ss.
Heiko Lesch, Dolus directus, indirectus und eventualis, JA 1997, p. 802.
Herzberg, Aids: Herausforderung und Prüfstein des Strafrechts, JZ 10/1989.
Ingeborg Puppe, Strafrecht Allgemeiner Teil im Spiegel der Rechtsprechung, Band I, 2002.
J. Pinto da Costa, Vontade de matar, in Ao sabor do tempo – crónicas médicolegais, volume
I, edição IMLP, [2000].
J. Seabra Magalhães e F. Correia das Neves, Lições de Direito Criminal, segundo as
prelecções do Prof. Doutor Beleza dos Santos, Coimbra, 1955, p. 106 e ss.
Joerg Brammsen, Inhalt und Elemente des Eventualvorsatzes — Neue Wege in der
Vorsatzdogmatik?, JZ (1989), p. 71.
Johannes Wessels, Derecho penal, parte general, 1980, p. 69 e s.
Johannes Wessels, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 17ª ed., 1987.
Jorge de Figueiredo Dias, Ónus de alegar e de provar em processo penal?, Revista de
Legislação e de Jurisprudência, ano 105º, nº 3474, p. 125.
Jorge de Figueiredo Dias, Pressupostos da punição, in Jornadas de Direito Criminal, CEJ,
1983, p. 69.
Jorge de Figueiredo Dias, Sobre o estado actual da doutrina do crime, 2ª parte, Revista
Portuguesa de Ciência Criminal, ano 2º (1992), p. 18.
Jorge de Figueiredo Dias, Textos de Direito Penal. Doutrina geral do crime. Lições ao 3º ano
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, elaboradas com a colaboração de Nuno
Brandão. Coimbra 2001.
José Cerezo Mir, Curso de derecho penal español, parte general, II. Teoría jurídica del
delito/I, 5ª ed., 1997.
M. Miguez Garcia. 2001
134
Joseph Maria Tamarit Sumalla, La tentativa con dolo eventual, Anuario de Derecho Penal y
Ciencias Penales, tomo XLV, fasc. II, MayoAgosto, 1992.
Júlio Gomes, A desistência da tentativa, 1993, p. 122.
Maia Gonçalves, Código Penal Português, 3ª ed., 1977, p. 22.
Manuel Cavaleiro de Ferreira, Direito Penal Português, Parte geral, II, Ed. Verbo, 1982.
Manuel Cavaleiro de Ferreira, Lições de Direito Penal, I, Ed. Verbo, 1985.
Manuel Cavaleiro de Ferreira, Lições de Direito Penal, Parte geral, I, Ed. Verbo, 1992.
Maria Fernanda Palma, A teoria do crime como teoria da decisão penal (Reflexão sobre o
método e o ensino do Direito Penal), in RPCC 9 (1999), p. 523 e ss.
Maria Fernanda Palma, Dolo eventual e culpa em direito penal, in Problemas fundamentais
de Direito Penal. Homenagem a Claus Roxin, Lisboa, 2002.
Maria Fernanda Palma, Questões centrais da teoria da imputação e critérios de distinção
com que opera a decisão judicial sobre os fundamentos e limites da responsabilidade penal, in
Casos e Materiais de Direito Penal, Coimbra, 2000, p. 53.
Maria Luisa Couto Soares, A dinâmica intencional da subjectividade, in Análise, 21/2000, p.
47.
Maria Luisa Couto Soares, A intencionalidade do sentir, in A Dor e o Sofrimento
Abordagens, Campo das Letras 2001.
Max Weber, Conceitos sociológicos fundamentais, tradução por Artur Morão do 1º capítulo
de Wirtschaft und Gesellschaft, Edições 70, 1997.
Muñoz Conde, Teoría general del delito, 1991, p. 60 e ss.
Muñoz Conde/García Arán, Derecho Penal, PG, 1993.
M. Miguez Garcia. 2001
135
Paula Ribeiro de Faria, Comentário ao Artigo 144º (Ofensa à integridade física grave),
Conimbricense, p. 223 e ss.
Ramon Ragués i Vallès, El dolo y su prueba en el proceso penal, Barcelona, 1999.
Rolf D. Herzberg, Die Abgrenzung von Vorsatz und bewuster Fahrlässigkeit ein Problem
des objektiven Tatbestandes, JuS 1986, 4, p. 249 e ss.
Rudolphi, Fälle zum Strafrecht, 1977, p. 82.
Rui Carlos Pereira, O Dolo de Perigo, 1995.
Teresa Pizarro Beleza, Direito Penal, 2º vol, p. 205 e ss.
Teresa Rodríguez Montañes, Responsabilidad penal de las empresas, in Santiago Mir Puig e
DiegoManuel Luzón Peña (org.), Responsabilidad penal de las empresas y sus órganos y
responsabilidad por el produto, Bosch, 1996.
Teresa Serra, Homicídio qualificado. Tipo de culpa e medida da pena. Coimbra, 1992.
Thomas Weigend, Zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit, ZStW, VIIC, p. 657.
Ulrich Schroth, Die Differenz von dolus eventualis und bewußter Fahrlässigkeit, JuS 1992, 1,
p. 1.
Ulrich Ziegert, Vorsatz, Schuld und Vorverschulden, 1987.
W. Hassemer, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, 2ª ed., 1990.
W. Hassemer, Kennzeichen des Vorsatz, Gedächtnisschrift für A. Kaufmann, p. 289 e ss.
Werner Janzarik, Vorrechtliche Aspekte des Vorsatzes, ZStW 104 (1992), p. 65.
M. Miguez Garcia. 2001
136
§ 5º Crimes contra a vida. Homicídio.
I. Homicídio simples. Homicídio com atenuação especial da pena. Homicídio tentado.
Coautoria. Legítima defesa. Excesso de legítima defesa. Provocação. Homicídio por
omissão. Homicídio negligente.
CASO nº 5. Homicídio. Criação propositada da aparência de uma
situação de legítima defesa. Conduta determinada por provocação injusta
da vítima. Homicídio com atenuação especial da pena (artigos 72º, nºs 1 e
2, b), 73º, nº 1, a) e b), e 131º).
• Num café duma vila beirã, houve uma escaramuça inicial entre A e B, provocada por este:
logo após a entrada do A no café, o B insistiu em humilhar e agredir o seu
antagonista, dizendolhe, inclusivamente, “Ah, ladrão, que te heide matar”, ao que o
outro respondeu: “Se queres matarme, matame”. Pouco depois, o A voltou ao café,
pediu água quente para descongelar o párabrisas do carro, regressou ali para
devolver a garrafa vazia e pediu uma cerveja, tendo permanecido no interior do café
até que este fechou e todos saíram. O A foi à frente, o B atrás e, saindo quase ao
mesmo tempo, dirigiramse cada um para os respectivos carros, estacionados do
outro lado da rua. O B, que se encontrava manifestamente embriagado, foi ao seu
carro donde retirou uma bengala. O A retirou, por sua vez, um revólver do seu carro.
O B então desferiu uma bengalada na cabeça do outro e o A, cambaleante, em
resposta, efectuou um disparou com o revólver, atingindo o B numa parte não
apurada do corpo. Por causa da bengalada, o A veio a cair do outro lado da estrada,
tendo sido seguido pelo B, que o pretendia agredir pela segunda vez com a bengala.
Receando ser de novo atingido, o A efectuou mais quatro disparos. Os cinco tiros
atingiram o B, designadamente no tórax e no abdómen, tendo um deles atingido
órgãos vitais, provocando a morte do B como causa directa e necessária. O A agiu
voluntária, livre e conscientemente, com o propósito de matar o B.
1. Uma vez que A deu vários tiros na pessoa de B fica desde logo
comprometido com a tipicidade do artigo 131ª: A sabia que matava B (outra
pessoa) com os tiros e quis isso mesmo. A disparou e B morreu. Não se coloca
M. Miguez Garcia. 2001
137
qualquer problema relevante de causalidade: a morte foi produzida pelos tiros
disparados por A. Este agiu dolosamente, com conhecimento e vontade de
realização do tipo de ilícito indicado.
2. Tratase agora de saber se se encontra presente qualquer causa de
justificação ou de desculpação.
• O Tribunal de Trancoso puniu A como autor material de um crime de homicídio com
atenuação especial da pena (artigos 72º, nºs 1 e 2, alínea b), 73º, nº 1, alíneas a) e b), e
131º) com 5 anos de prisão. O A recorreu, desde logo por entender que agiu em
legítima defesa. Argumenta ter praticado o facto como meio necessário para evitar a
sua morte, intentando repelir a agressão que se iniciara e era actual e ilícita. Além
disso, quis defenderse e a existência de vários tiros — disse — não retira o animus
defendendi, pois um homem médio não tem tempo para pensar, após levar uma
arrochada na cabeça que o atira à distância. O Supremo (acórdão de 7 de Dezembro
de 1999, BMJ492159, relator: Conselheiro Martins Ramires) entendeu que se não
configura “situação de legítima defesa”, pois o que existe é a propositada criação,
pelo A, da “aparência de uma situação de legítima defesa”. O A andou a entrar e a
sair do café; entretanto, o B, que se encontrava com uma elevada taxa de alcoolémia
no sangue, permanecera sempre ali e não há referência a que se tivesse intrometido
de novo com o A, apesar daquelas idas e voltas deste, e só saiu quando saiu toda a
gente, incluindo o A. Porque não foi o A embora enquanto o B estava no café,
sabendose (porque também ficou provado) que este era pessoa conflituosa? Cá fora,
o A podia terse metido na viatura e partido, ma optou por aguardar que o B estivesse
armado com a bengala para, munido do revólver e empunhandoo em direcção
àquele, se dirigir para a vítima, encurtando assim a distância entre os dois de modo a
instigar o B a desferirlhe a bengalada e a poder ser por ela atingido, em vez de o
intimidar com o revólver, mantendose fora do alcance da bengala manejada pelo B.
Não pode por isso deixar de concluirse, como se fez no acórdão do
Supremo, que o A, conhecedor do temperamento conflituoso e agressivo do B,
quis tirar desforço da humilhação que este lhe infligira — e provocou
deliberadamente uma situação objectiva de legítima defesa, para deste modo
alcançar, por meio ínvio, a impunidade de um ataque que fez desencadear
M. Miguez Garcia. 2001
138
propositadamente. Não há assim legítima defesa. E porque não há legítima
defesa, também se não configura excesso de legítima defesa, porque este
pressupõe a existência de uma situação autêntica de legítima defesa a que se
responde com excessos dos meios empregados.
3. Mas também não era caso de homicídio privilegiado do artigo 133º. O
Supremo foi de opinião que o A não agiu impulsionado por motivo de
relevante valor social ou moral, nem por compaixão ou desespero; e quanto a
ter actuado sob o domínio de compreensível emoção violenta, tal não consta
nem decorre da factualidade provada. O que se prova é que o A “aguentou” as
provocações e ameaças do B, dominando o estado emotivo (de ira, cólera,
humilhação…) que as mesmas naturalmente lhe causaram, e “guardou” para
momento que considerou oportuno a ocasião para se desafrontar. Admitindose
que agiu exaltado e que a sua conduta foi determinada por provocação injusta da
vítima, o enquadramento dado pela 1ª instância, onde se condenou o A como
autor de um homicídio com atenuação especial da pena (artigos 72º, nºs 1 e 2,
alínea b), 73º, nº 1, alíneas a) e b), e 131º), é o adequado ao caso concreto.
CASO nº 5A. Crime de homicídio simples na forma tentada.
• Quando o A se encontrava num café a jogar matraquilhos, veio o B e apalpoulhe as
nádegas. Só decorridos dez minutos é que o A, já fora do café, veio pedir satisfações
ao B pelo que tinha feito e logo este lhe deu um soco na cara, agredindoo a seguir
com um cinto. De imediato, o A abriu uma navalha que trazia no bolso e desferiu com
força um golpe no abdómen do outro, causandolhe uma ferida perfurante e
atingindo o fígado e a vesícula biliar, só não tendo sobrevindo a morte porque o
agredido foi imediatamente hospitalizado e operado. Ao dar a navalhada, o A previu
que pudesse atingir órgãos vitais e causar lesões e a morte; não obstante isso, não se
absteve de espetar a faca no B, por lhe ser indiferente o resultado previsto e com este
se ter conformado.
1. Uma vez que A espetou uma navalha no abdómen de B (outra pessoa)
com dolo homicida (ainda que eventual), fica desde logo comprometido com a
tipicidade do artigo 131º. Todavia, o B não morreu (B continua vivo), pelo que o
crime não passa da tentativa (artigos 22º e 23º, nº 2).
Mas não há qualquer causa de justificação, nomeadamente, não se verifica
uma situação de legítima defesa: como se decidiu no acórdão do STJ de 19 de
Janeiro de 1999, BMJ48357, o A, ao agredir com a navalha o B, não estava já
M. Miguez Garcia. 2001
139
perante uma agressão ilícita e actual (artigo 32º). Também não agiu com
intenção de se defender, mas, como igualmente se provou, com o único intuito
de afastar de si o B. Não ocorrendo os pressupostos da legítima defesa, não se
verifica excesso de legítima defesa.
2. Qual a moldura penal aplicável a um caso destes? É a de 1 ano, 7 meses
e 6 dias no limite mínimo e de 12 anos e 8 meses no limite máximo (artigos 131ª,
22º, 23º, nº 2, e 73º, nº 1, alíneas a) e b).
• É a moldura aplicável ao crime consumado (artigo 131ª: pena de prisão de 8 a 16 anos)
especialmente atenuada (artigo 23º, nº 2), ou seja [artigo 73º, nº 1, alíneas a) e b)], 1/5
de 8 anos (=1 ano 7 meses e 6 dias) a16 anos1/3 (=12 anos e 8 meses).
• O tribunal condenou A na pena de 3 anos de prisão. E porque ficou provado que o A é
pessoa trabalhadora e por todos respeitado e estimado, gozando de boa reputação;
nada consta do seu certificado de registo criminal; é tractorista e tem uma filha menor
a seu cargo; confessou a materialidade dos factos; o seu comportamento ficou a
deverse a uma atitude menos correcta do B, parecendo estar o A integrado na
sociedade, e representando a sua atitude, na maneira de ser do mesmo, um acto
meramente ocasional — julgouse que a simples censura e a ameaça da prisão eram
suficientes para atingir as finalidades da punição, suspendendose a execução da
pena aplicada pelo período de 3 anos, com a condição de o A pagar a indemnização
em que igualmente foi condenado (artigo 50º).
CASO nº 5B. Homicídio. Coautoria material. Acordo tácito. Suficiência
(ou insuficiência) da consciência de colaboração?
• O I é pai do C. Chegados ambos à praça da localidade ali encontraram A e a sua
companheira M. I fez estacar o carro e do interior do mesmo saiu o C, munido de uma
espingarda municiada com 3 cartuchos. De imediato, o C efectuou um disparo na
direcção do A, que o atingiu na parte lateral esquerda do abdómen. Surpreendidos e
assustados com este comportamento do C, o A e a M dirigiramse para a porta oposta
à do condutor da carrinha em que se deslocavam para nela se protegerem e
abandonarem o local. Estando essa porta aberta, com o A e a M no interior da
carrinha, o C posicionouse em frente da carrinha e a escassos metros efectuou novo
M. Miguez Garcia. 2001
140
disparo na direcção do A, que acertou no canto superior direito do párabrisas,
perfurandoo. A cabeça do A encontravase muito próximo deste local. O A e a M
começaram então a correr em direcção do café das imediações para se protegerem. O
A apercebeuse de que o C e o I o queriam matar. Nesta ocasião, o I tirou a arma das
mãos do C, seu filho e, a uma distância de cerca de 4 ou 5 m do A, efectuou um
disparo na direcção deste. Este disparo atingiu o A na cabeça e provocou que o
mesmo caísse no chão. Em consequência deste disparo do I, sofreu o A destruição da
abóbada craniana na metade posterior e outras fracturas que foram causa directa e
necessária da morte. Ao agirem da forma descrita, quiseram o C e o I tirar a vida ao
A.
1. Segundo o acórdão do STJ de 9 de Fevereiro de 2000, BMJ494106, C e I
praticaram em coautoria um crime de homicídio simples do artigo 131º, na
medida em que mataram A a tiro, actuando com dolo homicida.
Ainda assim, suscitaramse algumas questões no que respeita à coautoria.
Contra o A foram disparados 3 tiros, os dois primeiros pelo C. O último, devido
ao disparo do I, foi o que tirou a vida à vítima, esfacelandolhe a cabeça. Tanto
C como I actuaram com intenção homicida.
Segundo o artigo 26.° do Código Penal, é punível como autor quem executar o facto, por si
mesmo ou por intermédio de outrem, ou tomar parte directa na sua execução por acordo
ou juntamente com outro ou outros, e ainda quem, dolosamente, determinar outra
pessoa à prática do facto, desde que haja execução ou começo de execução.
2. A decisão conjunta, visando a obtenção do resultado típico, pressupõe
um acordo que pode ser tácito, mas que para alguns deverá ser necessariamente
prévio [opinião discutível para quem admita o acordo sucessivo]. Pode aliás bastarse
com a existência da consciência e vontade de colaboração dos vários agentes na
realização de determinado tipo legal de crime. As circunstâncias em que os
arguidos actuaram, inclusivamente nos momentos que antecederam o crime,
podem ser indício suficiente, segundo as regras da experiência comum, desse
acordo tácito. Já no que toca à execução, não é indispensável que cada um deles
intervenha em todos os actos ou tarefas tendentes ao resultado final, basta que a
actuação de cada um, embora parcial, se integre no todo e conduza à produção
do resultado. (Cf., por ex., o acórdão do STJ de 22 de Fevereiro de 1995, BMJ
M. Miguez Garcia. 2001
141
444209; CJ, ano III (1995), p. 221; e o acórdão do STJ de 18 de Março de 1993, CJ,
ano I (1993), p. 195).
O acórdão cita Jescheck, Tratado de Derecho Penal, vol. II, pág. 942, edição Bosch, que esclarece:
“El acuerdo puede producirse también [...] tacitamente o mediante actos
concludentes”— e conclui que as condutas de C e I foram postas em conjunto para
alcançarem o resultado típico, a morte do A, o que efectivamente foi conseguido.
CASO nº 5C. Homicídio. Excesso de legítima defesa não punível;
excesso asténico e não censurável — e por isso não punível.
A matou B, seu irmão. Com uma faca de cozinha, A desferiu um golpe no
tórax da vítima, causandolhe, como consequência directa e necessária, ferida
cortoperfurante transfixiva do lobo superior do pulmão esquerdo, e lesão
determinante da morte. A agiu em legítima defesa, com excesso asténico do
meio utilizado, não censurável e, por isso, não punível, de acordo com o artigo
33º, nº 2, com referência ao artigo 32º. Cf. o acórdão do STJ de 5 de Junho de
1991, BMJ408180.
• Houve por parte da vítima uma agressão actual, ou seja, um desenvolvimento iminente aos
interesses pessoais (integridade física) de A e ilícita, por o seu autor não ter o direito
de a fazer, já que a primeira se aproximou do segundo e seguiuo, mesmo quando
este recuou para o interior da cozinha, com o propósito de o agredir a murro e a
pontapé, tal como já o fizera a uma irmã, a um irmão e ao pai de ambos. Houve por
parte de A agressão à vida da vítima em defesa do bem acima referido, como meio
necessário, na impossibilidade manifesta de recorrer à força pública. para repelir ou
paralisar a actuação do agressor, actual e ilícita. A actuou com o propósito de defesa,
com animus defendendi, mas com uso de meio excessivo, injustificável, irracional,
para se defender, através de meio letal. O excesso do meio usado pelo A ficou a
deverse ao medo que o A tinha da vítima, pessoa que, embora mais baixa de
estatura, era mais encorpada e mais forte do que ele e tinha praticado luta grego
romana, de tal modo que já por diversas vezes o havia agredido e obrigado a
tratamento hospitalar.
M. Miguez Garcia. 2001
142
Há que considerar aquele excesso como asténico e não censurável, por
falta de culpa, com a consequente não punição do A, uma vez que sem culpa
não há punição criminal.
CASO nº 5D. Homicídio. Provocação injusta. Excesso de legítima defesa
punível.
• A parou o carro que conduzia na Rua do Progresso para conversar com X, sua
companheira. B aproximouse do veículo e bateu na janela fechada. A abriu a janela e
B pediulhe 50 escudos, que A lhe negou, após o que arrancou. Mais tarde, no Bairro
do Aleixo, quando A com a companheira e os filhos saía do carro, B dirigiuselhe
dizendo: "Agora, filho da puta, passa para cá o dinheiro; voute roubar, filho da puta,
passa para cá o dinheiro". A e B ficaram frente a frente. A avançou então para B
munido de um instrumento cortoperfurante, espetouo no tórax, atingindo o
coração. A representou a morte de B como consequência possível do seu acto de
espetar, no corpo dele, o instrumento cortoperfurante, mas espetouo, conformando
se com a morte, que veio a ocorrer. Cf. o acórdão do STJ de 11 de Dezembro de 1996,
BMJ462207.
O homicídio privilegiado difere do homicídio com atenuação especial da
provocação pela diferença de grau de intensidade da emoção causada pela
ofensa e ambos diferem da legítima defesa, "grosso modo", porque nos
primeiros o agente, ao contrário do último, não actua com animus defendendi.
O excesso de legítima defesa não se enquadra em algum daqueles porque o
agente actua com a intenção de se defender mas exorbitando nos meios
empregados. No caso, verificavase a circunstância da provocação injusta
prevista na al. b) do nº 2 do artigo 72º, mas a reacção não foi proporcional à
ofensa, pelo que não é enquadrável na previsão do artigo 133º.
A cometeu, como autor material, um crime de homicídio do artigo 131º,
mas em excesso de legítima defesa, nos termos do artigo 33º, nº 1, por excesso
dos meios empregados. A, quando desferiu o golpe, encontravase enervado e
exaltado pelo comportamento de B: as circunstâncias recomendam a atenuação
especial da pena, facultada no artigo 33º, nº 1 (artigo 73º). Pena concreta: 3 anos
e 2 meses de prisão. Escrevese no acórdão: "a aplicação deste regime exclui a
aplicação de qualquer outro".
M. Miguez Garcia. 2001
143
CASO nº 5E. O excesso de legítima defesa pressupõe a legítima defesa.
• A, que andava incompatibilizado com B, agrediuo a certa altura a socos e a pontapés, sem
dar qualquer explicação. Por causa dessas agressões, B não sofreu lesões graves, cuja
natureza o obrigasse designadamente a receber tratamento hospitalar. A determinada
altura, estando A e B a uma distância não superior a um metro um do outro e A se
preparava para continuar a agredir B a soco, este, já em estado de exaltação,
empunhou uma pistola que trazia consigo e apontandoa ao tórax de A disparou pelo
menos 3 tiros, atingindoo com duas balas nessa região do corpo e com uma bala na
região abdominal, que foram causa necessária e adequada da sua morte. B disparou
"com intenção de matar a vítima, querendo dessa forma obstar a que esta continuasse
a agredilo".
A situação corresponde à que foi tratada no acórdão do Supremo de 12 de
Junho de 1997, CJ, ano V (1997), p. 238, assim parcialmente sumariado: sem
legítima defesa, nos seus pressupostos, não pode ter lugar o excesso de legítima
defesa. E assim, quando o agente, para pôr termo a uma agressão a soco e a
pontapé, dispara três vezes uma pistola para uma zona vital do corpo do
agressor, a uma distância não superior a um metro, não pratica o acto em
legítima defesa nem com excesso de legítima defesa, mas sim um crime de
homicídio voluntário simples do artigo 131º.
Cf., ainda, o acórdão do STJ de 19 de Abril de 1989, BMJ386222: O excesso de legítima
defesa a que alude o artigo 33º do Código Penal diz respeito apenas aos meios necessários para
sustar ou prevenir a agressão, exigindose a verificação dos pressupostos objectivos da legítima
defesa inicial. O acórdão do STJ de 26 de Abril de 1984, BMJ336331, excluiu a legítima defesa
e seu excesso, na falta de animus defendendi, para além da falta da actualidade da agressão, o
que implica a necessidade de ter que darse como provado um propósito de defesa, como
condição de procedência da causa justificativa e da relevância do excesso em questão (cf. a
anotação, BMJ429528).
CASO nº 5F. Homicídio negligente. Homicídio tendo em vista encobrir
um outro crime. Comissão por omissão. Tentativa e dolo eventual
• A entra num táxi que lhe não pertence, sentase ao volante e, sem autorização, começa a
conduzir a viatura pelas ruas do Porto. Pretende dar com ela umas voltas e depois
deixála perto da estação de Campanhã. Quando porém passava pela Avenida de
Fernão de Magalhães A atropelou B, no momento em que este, pelo seu pé,
M. Miguez Garcia. 2001
144
atravessava a via na passagem destinada aos peões. A não parou, quando se
aproximava da passadeira, devidamente marcada no chão, nem abrandou a
velocidade de mais de 90 quilómetros por hora, portanto excessiva para o local,
situado em plena cidade. B foi projectado e bateu com a cabeça violentamente no
chão. A parou, saiu do carro, e verificou que B acabaria por morrer se não fosse
imediatamente transportado ao hospital. Todavia, deixouo ficar, pois sabia que se o
levasse ao hospital lhe fariam aí perguntas embaraçosas. Alguém, porém, viu o que
se passou, mas B foi socorrido demasiado tarde e morreu. A polícia diligenciou por
identificar o veículo atropelante e montou uma barreira na estrada, à aproximação
deste. Logo que A viu os agentes G e N a fazeremlhe sinal para parar aumentou a
velocidade, carregando a fundo no acelerador. G só não foi apanhado pela trajectória
do carro que A conduzia por ter dado um salto repentino para o lado. Os dois
guardas perseguiram B e acabaram por apanhálo. (cf. Samson, caso nº 8).
Punibilidade de A? Vamos, por agora, deixar de lado os crimes
patrimoniais (Furto (artigo 203º, nº 1)? Furto de uso de veículo (artigo 208º)?
1. Homicídio negligente (artigo 137º)
A causou a morte de B, atropelandoo em plena passadeira, não lhe dando
a oportunidade de atravessar a rua, como cumpria. A não parou nem abrandou
a velocidade, que era excessiva para o local. A cometeu contraordenações
causais do acidente e violou o dever geral de cuidado. Não há nenhuma causa
de justificação, sendo manifesto, a todas as luzes, que A devia, mas também
podia, ter previsto o resultado, o atropelamento de B, com as fatais
consequências que se deram. A praticou um crime do artigo 137º, nº 1.
2. Homicídio por omissão (artigos 10º e 131º)
A pode ter cometido um crime de homicídio por omissão, porquanto
deixou ficar B e não o levou a um hospital.
O desenho objectivo supõe em primeiro lugar a morte de uma pessoa, e B
morreu. Depois, é necessário que o agente pudesse ter impedido a morte. De
acordo com a matéria de facto, B podia ter sido salvo se A o tivesse conduzido
imediatamente a um hospital. O táxi ficou utilizável, com se viu, e A tinha a
capacidade de executar a correspondente acção salvadora e levar B ao hospital.
Contudo A não fez isso. Acontece que há elementos que apontam para a
posição de garante de A relativamente à vida de B.
M. Miguez Garcia. 2001
145
Tradicionalmente, indicamse as seguintes fontes do dever de garante: A lei, que define deveres
jurídicos primários. O contrato (por ex., uma educadora assume o dever de vigiar a
criança que foi confiada aos seus cuidados). Uma actuação precedente geradora de
perigos (ingerência): por ex., o dono de um bar que insta o cliente a beber até estar
completamente embriagado fica obrigado a remover os perigos que ameacem o cliente
ou que nele tenham origem. Exemplo de escola (Figueiredo Dias): dando um tiro na
vítima que a deixou a sangrar, o agente — ainda que sem intenção de matar, e por isso
mesmo — criou, com esta sua conduta anterior (anterior à omissão, entendese) um
perigo para bens jurídicos que ficava juridicamente obrigado a remover. Não o fazendo,
antes omitindo a acção necessária à remoção do perigo — e considerando ainda que este
perigo não só era adequado à realização do evento, como até foi criado com violação de um
dever jurídico e mesmo culposamente —, resulta daí que o evento letal era juridicamente
imputável à omissão do agente, a título de negligência ou mesmo de dolo, consoante as
circunstâncias do caso.
Hoje em dia continua a entenderse que nos casos indicados existem deveres de garante. Mas o
critério é demasiado estreito. Assim, por ex., a educadora é garante, mesmo que o seu
contrato seja nulo face à lei civil. A indicada tripartição é formal, não nos indica o
conteúdo dos correspondentes deveres de garantia. Por isso se emprega actualmente um
outro modelo, que tem em conta também aspectos materiais (cf. Jescheck, p. 565). Este
autor distingue entre os deveres de garante que consistem: Numa função protectora para
um bem jurídico concreto (deveres de assistência provenientes da solidariedade natural
com o titular do bem jurídico, de estreitas relações de comunidade ou de assunção
voluntária); e aqueles em que incumbe ao garante responsabilidade por determinadas
M. Miguez Garcia. 2001
146
fontes de perigo (deveres de segurança em que o agente pode ser responsável a três
títulos: ele próprio deu causa ao perigo (por ingerência); deve remover os perigos que
provêm de coisas pelas quais ele é responsável (vigilância de fontes de perigo); deve
remover perigos que resultam de pessoas por quem ele é responsável (vigilância de
outrem).
O que está aqui em causa é um dever de garante por anterior intervenção
geradora de perigos para bens jurídicos alheios (por "ingerência"). A pôs em
perigo a vida de B: atropelouo, não parando quando este atravessava pela
passagem para peões, nem reduziu a velocidade que era manifestamente
exagerada para as condições do local. A criou, de forma ilícita, um perigo
adequado para a vida de B, daí lhe advindo a posição de garante.
Como já se viu, não falta hoje quem defenda que, na “ingerência”, não basta que o perigo seja
adequado, mas é ainda necessário que ele tenha sido ilícita ou inadmissivelmente criado.
Rejeitase assim a doutrina que se contenta com qualquer actuação causal do resultado.
Por ex., quem conduz inteiramente de acordo com as regras de trânsito não tem o dever
de garante perante a vítima de um acidente que foi a única a violar as normas de
trânsito. Pensese ainda no seguinte exemplo de Maiwald. A dá uma palmada amigável
no ombro de B. Inesperadamente, e sem que alguém pudesse prever, B é logo acometido
por uma tontura e cai desamparado no chão, sofrendo um golpe na cabeça que exige
cuidados médicos. Terá neste caso A um dever de garante? Há aliás situações em que
cabe um direito de intervenção (Eingriffsrecht) na esfera pessoal da vítima. Quem fere
outrem em legítima defesa não fica investido na posição de garante: quando alguém se
defende tem que violar bens jurídicos do atacante de forma “necessária” (cf. o artigo
32º). Mas nem por isso deixará de entrar em questão uma eventual omissão de auxílio
(artigo 200º), como se verá.
M. Miguez Garcia. 2001
147
O tipo objectivo do crime está portanto preenchido. O tipo subjectivo
supõe em primeiro lugar o conhecimento da situação típica. A sabia que B iria
morrer se o auxílio fosse omitido. Além disso, A sabia a maneira como poderia
salvar B. Em suma, A conhecia a situação típica, a ameaça da produção do
resultado, e sabia quais os passos a dar para salvar a vida de B. Além disso
conhecia as circunstâncias donde derivava o seu dever de garante. Está do
mesmo modo preenchido o lado subjectivo, não existindo qualquer causa de
justificação. Como A omitiu culposamente, conhecendo o dever de agir, sem
que se mostrem presentes quaisquer causas de desculpação, A cometeu por
omissão um crime de homicídio.
4. Homicídio por omissão na forma qualificada (artigos 10º e 132º)
Atento o comportamento de A, pode, no entanto, perguntarse se não
estarão preenchidos os elementos do artigo 132º (homicídio qualificado). Os
correspondentes elementos do tipo, sendo idênticos aos do artigo 131º,
mostramse presentes. Falta averiguar os índices reveladores da culpa.
No artigo 132º prevêse o homicídio qualificado, punível com a moldura
agravada de prisão de 12 a 25 anos. Utilizase aí a técnica dos exemplospadrão,
tendose abandonado a orientação do código do século 19, em que o homicídio
qualificado se encontrava na descrição múltipla do artigo 351º e ainda em
outros tipos autónomos, como o envenenamento, o parricídio e o infanticídio.
Fazendo jus à técnica dos exemplos padrão, o Supremo vem decidindo que os
factos apontados no nº 2 do artigo 132º não são elementos constitutivos de um
homicídio especial, mas apenas o indício, confirmável ou não, de uma intensa
culpa, ou seja, as circunstâncias enumeradas são apenas susceptíveis de revelar
culpa especial, não sendo “presunções fatais dela” (acórdão de 8 de Fevereiro
de 1984, no BMJ334258). As circunstâncias enumeradas, a título
exemplificativo, no nº 2 do artigo 132º do Código Penal não são de
funcionamento automático: pode verificarse qualquer delas sem que deva
necessariamente concluirse pela “especial censurabilidade ou perversidade” do
agente” (acórdão de 20 de Março de 1985, BMJ345248).
No caso, pode perguntarse se A teve em vista "(...) encobrir outro crime,
facilitar a fuga ou assegurar a impunidade". Como se sabe, neste exemplo
padrão os problemas estão especialmente ligados ao "outro crime", aquele que
se tem em vista preparar, facilitar, etc. Mas a designação legal "ter em vista"
levanta também dificuldades, especialmente relacionadas com o dolo eventual
e, justamento, com os casos de omissão.
É duvidoso que A tenha omitido a condução ao hospital com a apontada
finalidade. Nos casos de conduta activa, do que se trata é de assegurar a
M. Miguez Garcia. 2001
148
impunidade ou de encobrir o próprio agente ou um terceiro, de forma que o
encobrimento é o fim último da actuação ou um fim intermédio: no exemplo
padrão tem que se atender à energia ou à persistência criminosa do agente, mas
tudo isto parece incompatível com a omissão.
No caso que nos ocupa, o que sabemos é que A deixou ficar B por temer
que lhe fizessem perguntas embaraçosas no hospital, o que não corresponde ao
exemplopadrão apontado, nem a qualquer outro que seja sinal perfeitamente
demonstrativo de uma especial censurabilidade. A não cometeu um crime
qualificado de homicídio com a sua omissão.
5. Omissão de auxílio (artigo 200º)
Como se sabe, a omissão constitui aqui um crime de omissão pura ou
próprio. O ilícito é de natureza dolosa. São seus elementos típicos objectivos: uma
situação de grave necessidade (...) provocada por (...) acidente que ponha em perigo a vida,
saúde, integridade física ou liberdade de outrem; que o agente deixe de prestar o auxílio que se
revele necessário ao afastamento do perigo, por acção pessoal ou promovendo o seu socorro.
Ora, no caso, a situação configuravase como de grave necessidade e era
decorrente de acidente que o próprio A tinha provocado, estando a vida de B
em perigo. Existia a situação típica e as outras características objectivas
fundamentadoras do dever de actuar. Não obstante a exigência da prestação de
auxílio, A nada fez para socorrer B ou para promover o seu socorro, tendo a real
possibilidade física, sem risco para si, de realizar a acção ordenada (nº 3 do
artigo 200º). Subjectivamente, podemos afirmar o dolo de A. Basta o dolo
eventual. Não havendo qualquer causa de justificação, A cometeu, como autor
material, um crime do artigo 200º, nºs 1 e 2.
6. Homicídio tentado (artigos 22º e 131º)
G só não foi apanhado pela trajectória do carro que A conduzia por ter
dado um salto repentino para o lado. Isto pode integrar um crime tentado de
homicídio.
De qualquer modo, não se tendo verificado o resultado desaprovado, a
morte de G, só poderá falarse em tentativa. A prova não é expressa, mas A
actuou com dolo homicida, ainda que eventual. Quem avança com um carro a
grande velocidade para o lugar onde se encontra uma pessoa conta em regra
com a possibilidade de a atropelar e até de a matar: A conformouse com esse
resultado, que representou de modo sério. A tentativa exige sempre o dolo de
consumação, só podendo ser compreendida, portanto, a partir da vontade de
realização, do dolo, sendo este elemento constitutivo da sua ilicitude. Embora
haja quem entenda não ser possível, no nosso direito, e com a redacção actual
da lei, a configuração de uma conduta como tentativa de um crime a título de
M. Miguez Garcia. 2001
149
dolo eventual, a jurisprudência e boa parte da doutrina inclinamse para essa
compatibilidade.
Por outro lado, A praticou actos de execução (artigo 22º, nºs 1 e 2): logo
que A viu os dois agentes a fazeremlhe sinal para parar, aumentou a
velocidade, carregando a fundo no acelerador, e G só não foi apanhado pela
trajectória do carro por ter dado um salto repentino para o lado, tudo a
constituir, dirseá, actos idóneos para a produção de um resultado típico.
Como não existe qualquer causa de justificação, A cometeu uma tentativa de
homicídio. Cf. ainda o artigo 132º, nº 2, e ): “ter em vista (...) facilitar a fuga ou
assegurar a impunidade do agente de um crime.”
CASO nº 5G. Homicídio; erro de valoração; atenuação facultativa.
• A vem, desde há mais de um ano, atormentando a família de B, seu vizinho, com ameaças
diversas aos filhos, repetidos insultos à mulher e ao próprio B, a quem já por mais de
uma vez extorquiu dinheiro com o pretexto de não revelar certas facetas da sua vida,
que bem conhece, e cuja divulgação seria ruinosa para B. Até que um dia B soube que
A, cerca de uma hora antes, se metera mais uma vez com a sua mulher, acabando até
por agredila e violála, acolhendose em seguida a uma roda de amigos, aí se
gabando, sem despudor, do seu feito. B só teve tempo de procurar uma pistola e
munições com que a carregou, após o que se encaminhou para a casa de A, cuja
mulher lhe abriu a porta e o deixou entrar. B dirigiuse à cozinha, onde encontrou A
com os amigos, entretidos em animado jogo de cartas. B limitouse a rosnar umas
"boas tardes" e fez menção de se servir de uma cerveja. Foi então que tirou a pistola
do bolso e a descarregou sobre A que, sem de nada suspeitar, continuara a jogar as
cartas, acertandolhe mortalmente, por detrás, com vários tiros. B fugiu em seguida.
C, que estava presente e tinha consigo uma pistola, perseguiu B. C estava convencido
de que podia disparar sobre B para o prender e entregar à polícia. Por isso, apontou
às pernas e disparou vários tiros, para impedir que B desaparecesse. Uma das balas
passou por B de raspão e rasgoulhe as calças numa extensão pouco habitual em tais
casos; outra apanhou B nas costas, mas este conseguiu mesmo assim pôrse fora da
vista de C. Pouco depois, B caiu, desamparado e sem sentidos, tendo sido
transportado a uma clínica. Ainda que — tudo o indicava — não fosse necessária
M. Miguez Garcia. 2001
150
uma operação imediata, M, cirurgião de serviço, operou B logo ali, extraindolhe a
bala, ainda antes de B retomar a consciência.
Bem difícil é matar! (Alfred Hitchcock).
Quais os crimes cometidos pelos intervenientes B, C e M? Não se põe
qualquer questão em relação às armas. Foi exercido, sempre que necessário, o
direito de queixa pelos respectivos titulares (artigo 113º).
CASO nº 5H. Homicídio (infanticídio) privilegiado? Desespero?
• A, mulher casada e residente na ilha de Porto Santo, encetou uma relação amorosa com
outro homem, na sequência da qual ficou grávida. Nessa altura pretendeu abortar,
mas o amante opôsse, declarando, nomeadamente, que iria viver com ela. A mulher,
acreditando nessa promessa, nada fez para interromper a gravidez; ele, porém,
alguns meses depois, deixou a ilha, e não voltou a dar notícias. Tendo conseguido
ocultar a gravidez até ao momento do parto, a agente matou a criança logo após o
nascimento. Resumo de Curado Neves, RPCC 11 (2001), p. 209.
Comentário de Curado Neves: “Se o facto tivesse sido praticado antes do
termo de Setembro de 1995, a autora podia certamente beneficiar do
privilegiamento previsto para o infanticídio destinado a “evitar a desonra”. Mas
em 1 de Outubro daquele ano entrou em vigor a Reforma de 1995 que suprimiu
aquela referência, só indicando agora o art. 136.° como fundamento do
privilegiamento do infanticídio a influência perturbadora do parto. Pensouse,
ao alterar a lei, que a referência à desonra já se não justificava nos nossos dias.
Já na altura da entrada em vigor da reforma do Código Teresa Serra expressava
sérias reservas quanto aos efeitos que poderia ter a alteração do art. 136.°. Este
processo judicial é a prova de que os seus receios eram plenamente
fundamentados. O tribunal colectivo aplicou a esta mulher, cujo estado de
perturbação bem se pode depreender das circunstâncias relatadas, a pena brutal
de catorze anos de prisão, que o STJ reduziu apenas ligeiramente para 12 anos
(acórdão de 12 de Março de 1997). Para este efeito o facto foi considerado como
homicídio qualificado, por via das als. a) e b) do art. 132.°, n.° 2. (…) Mesmo que
o art. 136.° não seja aplicável por se não verificar a influência perturbadora do
parto, o facto deve ser subsumido no art. 131.° e não no art. 132.°. O que não
significa que se não deva aplicar antes o art. 133.° O tribunal ignorou pura e
simplesmente esta possibilidade, o que se deve concerteza à influência
M. Miguez Garcia. 2001
151
perturbadora da ideia de que o art. 133.° pressupõe emoção violenta decorrente
de provocação injusta. Mais uma vez, o STJ ignorou a possível verificação de
uma situação de desespero. Contudo, as circunstâncias do caso relatadas no
acórdão fazem supor que este se verificava: não desespero como uma emoção
que toldasse a capacidade de motivação da autora, mas como impressão,
baseada num quadro fáctico objectivamente perceptível para um observador
externo, de se encontrar perante um obstáculo dificilmente contornável à
manutenção de um modo de vida tolerável.”
II. O resultado letal: percurso normativo.
Considere sucessivamente:
1. O resultado letal como elemento típico de uma norma incriminadora: o
artigo 131º (homicídio); o artigo 137º (homicídio por negligência).
2. O resultado letal como condição objectiva de punibilidade: o artigo 151º
(participação em rixa).
3. O resultado letal nos crimes agravados pelo resultado: o artigo 145º
(agravação pelo resultado); a morte da vítima em resultado da privação da
liberdade no sequestro (artigo 158º, nº 3); a morte que resultar da exposição ou
abandono (artigo 138º, nºs 1 e 3, b); o suicídio como resultado da privação da
liberdade no sequestro (artigo 158º, nº 2, e); o suicídio ou a morte da vítima
como resultado dos comportamentos enumerados no artigo 177º, nº 3.
4. A morte de “outra pessoa”, prevista no nº 3 do artigo 210º (roubo).
5. No artigo 144º, alínea d), o resultado não é a morte, mas um perigo
(concreto) para a vida: prevêse a punição de quem ofender o corpo ou a saúde
de outra pessoa, de forma a provocarlhe perigo para a vida. No artigo 138º
(exposição ou abandono) punese a colocação da vida em perigo (concreto), por
exposição ou abandono. Veja ainda os artigos 272º, nºs 1, 2 e 3, e 291º, nºs 1, 2 e
3, entre outros, dos mesmos capítulos.
6. A morte como resultado suicida.
7. A morte como acidente: o toureiro colhido na arena. O touro não é (!) o
"quem" com que se inicia a norma incriminadora.
8. Outros casos em que o resultado pode ser a morte: artigos 10º, nº 1; 18º;
22º, nº 2, b); 24º, nºs 1 e 2; 25º.
• Crimes de sangue. São assim designados, em técnica policial (técnica de investigação
criminal) o homicídio voluntário, a morte premeditada (o assassínio), o parricídio, o
infanticídio, o envenenamento. Crimes de sangue, neste sentido, serão ainda a
amputação dum membro e a castração com efeitos mortais. O investigador procura
M. Miguez Garcia. 2001
152
logo fixar (com o concurso da medicina legal e da polícia científica) o modus
operandi do criminoso: estrangulamento, morte por afogamento, por asfixia, pelo
emprego de explosivos ou duma arma (de fogo, contundente, perfurante, cortante),
por envenenamento, etc. O envenenamento, outrora chamado o crime dos fracos,
constitui em certos casos uma arma sabiamente manejada por peritos (Le Clère). Pode
empregarse o arsénio, o fósforo, o mercúrio, a estricnina, ou outras substâncias,
igualmente terríveis, como o vidro moído, misturado na sopa, ou o bacilo da febre
tifóide, ministrado pacientemente por via oral justamente por um perito (caso Monin,
dos anais dos envenenadores franceses). Outro caso de envenenamento provocado
por germes de pneumonia, difteria e gripe e igualmente por aplicação de germes da
febre tifóide pode verse no Jornal de Medicina Legal, nº 2, Julho de 1986, p. 23. Ao
investigador, perante o cadáver, põese geralmente o problema: crime, suicídio ou
acidente?
III. Sistematização dos crimes contra a vida. Tipos legais autónomos ou
dependentes?
O bem jurídico aqui em causa é a vida humana. É em vista do seu
significado que o bem jurídico vida toma o primeiro lugar na parte especial dos
códigos penais modernos Cf. os artigos 111 e ss. do Código Penal suíço de 1937;
os §§ 75 e ss. do Código Penal austríaco de 1974; e os artigos 131º e ss. do
Código Penal português de 1982.
O objecto do bem jurídico é qualquer pessoa viva. A vida começa com o
início do nascimento e termina com a lesão irreversível da actividade cerebral.
O homicídio simples do artigo 131º, como crime de homicídio doloso,
punido com a moldura de 8 a 16 anos, é o tipo fundamental da tutela penal da
vida. A ofensa corporal dolosa aparece, de modo necessário, como o estádio
intermédio no cometimento do homicídio. Cf., todavia, e a propósito de actos
desencadeadores de perturbações psíquicas, Prof. Faria Costa, O Perigo, p. 531.
A norma que pune a ofensa à integridade física é afastada pelo
desenvolvimento posterior da lesão da vida.
“Todos os outros crimes dolosos tipificados sob a epígrafe de “crimes
contra a vida” não são mais do que casos especiais de homicídio (exceptuando
se do que se diz o crime do art. 138º, que é um crime de perigo [bem como o
artigo 139ª, sobre a propaganda do suicídio]), que o legislador entende punir
com uma moldura penal mais pesada ou mais leve, atendendo a circunstâncias
M. Miguez Garcia. 2001
153
relativas ao ilícito ou à culpa, e que se conexionam com o tipo fundamental do
art. 131º através de uma relação de especialidade” (Figueiredo Dias, Parecer).
• Os autores repudiam, em geral, uma construção dualista dos crimes contra a vida, a qual
"não se afigura hoje políticocriminalmente conveniente" (Figueiredo Dias). Ainda
que se possam descortinar diferenças no crime de incitamento ou ajuda ao suicídio
(artigo 135º) e no crime de perigo de exposição ou abandono (artigo 138º), de um
modo geral pode sustentarse, com Teresa Serra (p. 49), que a tutela jurídicopenal da
vida se funda, em primeira linha, no tipo de homicídio simples, previsto e punido no
artigo 131º, e que os restantes crimes dolosos contra a vida se configuram como casos
especiais de homicídio que o legislador decide punir com uma moldura penal
diferente, mais pesada, ou mais leve. E isto, no entender da mesma autora, "em
consequência da adição ao tipo fundamental de circunstâncias relativas à ilicitude
e/ou à culpa". Deste modo, o homicídio privilegiado, nas suas várias forma típicas,
não é senão um homicídio atenuado; o homicídio qualificado do artigo 132º constitui
o caso especial de homicídio doloso punido com moldura agravada.
• O homicídio privilegiado do artigo 133º punese com pena de prisão de 1 a 5 anos; por
outro lado, é de 25 anos de prisão o máximo da pena do homicídio qualificado — o
que significa que o homicídio doloso se pune numa moldura (fictícia, mas relevante
para os pretendidos fins didácticos) de 1 ano de prisão a 25 anos de prisão. Não
obstante, rejeitase a ideia de que os artigos 132º e o artigo 133º são apenas regras de
variação da pena em função da culpa do agente, como pretendem alguns autores.
• A doutrina tem entendido que o art. 133º, pondo o acento no estado emocional do agente,
veio representar um corte com a solução tradicional do direito português,
consagrada nos arts. 370º e segs. do CP de 1886, de associar o tratamento
privilegiado do homicídio a um comportamento prévio da vítima que em grande
medida chamasse a si a responsabilidade pelo facto; a jurisprudência, em
contrapartida, procurou desde o início da vigência do CP de 1982 interpretar a
nova lei à luz do disposto no direito anterior, entendendo que o privilegiamento do
homicídio continua a ter como pressuposto essencial a provocação da vítima. Por
M. Miguez Garcia. 2001
154
outro lado, e este aspecto não tem sido objecto de suficiente atenção, os tribunais
têmse geralmente debruçado apenas sobre a primeira alternativa do art. 133º
(compreensível emoção violenta), ignorando as segundas, terceira e quarta
alternativas (compaixão, desespero e motivo de relevante valor social ou moral),
chegando a encontrarse decisões que negam autonomia a estas. João Curado
Neves, O homicídio privilegiado na doutrina e na jurisprudência do Supremo
Tribunal de Justiça, RPCC 11 (2001).
O desvalor da conduta assenta em qualquer acção dirigida à morte de outra
pessoa. O homicídio é um crime de forma livre, pode ser cometido pela
aplicação de uma descarga eléctrica, com um tiro disparado por uma arma de
fogo, por afogamento, por envenenamento, etc. O desvalor do resultado assenta
na morte objectivamente imputável de outra pessoa.
Entre as causas de exclusão da ilicitude deverá darse especial atenção à
legítima defesa (artigo 32º). O estado de necessidade desculpante (artigo 35º)
não reclama normalmente qualquer especialidade como causa de exclusão da
culpa.
Na prática, recomendase que a análise comece pelo artigo 131º, que, como tipo fundamental,
contém os elementos do homicídio doloso. Podem verificarse casos difíceis de
causalidade ou de imputação objectiva ou que envolvam situações de legítima defesa ou
de excesso de legítima defesa. Podem também aparecer casos de omissão e hipóteses de
concurso. O homicídio qualificado e os casos de privilegiamento devem merecer um
cuidado especial. A acentuar as dificuldades de integração da matéria fáctica, conhecem
se hipóteses em que o tribunal de 1ª instância condenou por homicídio qualificado
(artigo 132º, nºs 1 e 2, g), a Relação optou pelo homicídio simples (artigo 131º) e o
Supremo acabou no homicídio do artigo 131º, mas praticado num quadro circunstancial
atenuativo essencialmente integrado pela provocação injusta ou ofensa imerecida que
diminuiu em medida acentuada a culpa. O incitamento ou ajuda ao suicídio (artigo 135º)
e a exposição ou abandono (artigo 138º) constituem delicta sui generis. Mas não se
M. Miguez Garcia. 2001
155
agrupam aqui os chamados crimes agravados pelo resultado, por não ser a agressão
dirigida em primeira linha à vida.
No caso nº 5G, A morreu e o procedimento criminal pelos seus crimes
está extinto (artigos 127º e 128º, nº 1). Estes são aqui incidentalmente referidos,
por se relacionarem com os actos dos demais intervenientes.
Actuação de B. Na medida em que B deu vários tiros na pessoa de A fica
desde logo comprometido com a tipicidade do artigo 131º. B disparou e A
morreu. A morte foi produzida pelos tiros disparados por B. Este agiu
dolosamente. Dolo é conhecimento e vontade de realização do tipo. B sabia que
matava A com os tiros e quis isso mesmo. Não se mostram presentes quaisquer
causas de justificação ou de desculpação. B cometeu como autor material um
crime do artigo 131º.
Atento o comportamento de B, pode, no entanto, perguntarse se não
estarão preenchidos os elementos do artigo 132º (homicídio qualificado). Os
correspondentes elementos do tipo, sendo idênticos aos do artigo 131º,
mostramse presentes. Falta averiguar os índices reveladores da culpa.
IV. O homicídio qualificado do artigo 132º assenta num tipo de culpa: as
circunstâncias do nº 2 são apenas índices reveladores da culpa. As formas
privilegiadas do crime de homicídio e a atenuação especial da pena.
1. No artigo 132º utilizase a técnica dos exemplospadrão. A norma
contém no nº 1 uma cláusula geral: "se a morte for produzida em circunstâncias
que revelem especial censurabilidade ou perversidade...". No nº 2 enunciamse
as circunstâncias indiciadoras dessa especial censurabilidade ou perversidade.
Esta enumeração não é taxativa mas meramente exemplificativa, sendo as
circunstâncias elementos da culpa e não do tipo. Por outro lado, a verificação de
qualquer dessas circunstâncias não implica necessariamente especial
censurabilidade ou perversidade, podendo esta, por seu turno, ser também
indiciada por circunstâncias não descritas no preceito.
Como exemplo da aplicação de uma circunstância não descrita no nº 2, cf.
o acórdão do Supremo de 3 de Abril de 1991, BMJ406314, que se ocupou de
um caso de uxoricídio, reconhecendo que é merecedor de intensa reprovação o
facto de a vítima ser mulher do agente que, ao matála, violou gravemente o
dever de respeito e cooperação que a lei lhe impõe, não se descortinando por
parte daquela qualquer gesto que, mínima e humanamente, permita
compreender a sua brutal atitude; não se coibindo de cometer o crime na
presença dos próprios filhos ou, pelo menos, de o praticar em termos de que
M. Miguez Garcia. 2001
156
eles tiveram clara e próxima percepção, agindo sempre sem qualquer hesitação,
e não revelando uma personalidade estranha ao seu comportamento, já que não
mostrou arrependimento por ter causado a morte à sua companheira e mãe dos
filhos. De qualquer forma, os cônjuges não estão entre si, pelo menos em
princípio, naquela situação que eticamente caracteriza as estreitas relações entre
pais e filhos ou em geral entre parentes muito chegados. É uma solução que não
gozará de unanimidade a deste acórdão. Adiante veremos indicações a
propósito..
As circunstâncias enumeradas são, pois, índices reveladores da culpa, não
são elementos do tipo: estes constam do artigo 131º.
• Fica assim ultrapassada a questão da inconstitucionalidade: arredouse o termo
"perigosidade" de que outras legislações lançam mão, como na Suíça, e falase antes
em "censurabilidade" ou "perversidade", fazendo transparecer que "não é da
valoração objectiva do comportamento que se trata, mas do posicionamento do
agente face à lei" (Maria Margarida Silva Pereira, Rever o Código Penal, Sub Judice /
ideias, 11, 1996, p. 23). Mas tal entendimento é discutível e há quem se pergunte se o
artigo 132º será mesmo estranho a uma ideia de ilicitude. Do que parece não haver
dúvidas é que no furto, mas também noutros tipos de ilícito da parte especial, a
qualificação assenta, sem grave contestação, numa maior ilicitude, exprimindo a
conduta do ladrão uma maior gravidade objectiva quando se trata de a integrar em
qualquer das hipóteses agravativas do artigo 204º. Cf., a propósito, o entendimento
da Profª. Fernanda Palma.
• O Supremo vem decidindo que os factos apontados no nº 2 do artigo 132º do Código Penal
não são elementos constitutivos de um homicídio especial, mas apenas o indício,
confirmável ou não, de uma intensa culpa, ou seja, as circunstâncias enumeradas são
apenas susceptíveis de revelar culpa especial, não sendo “presunções fatais dela”
(acórdão de 8 de Fevereiro de 1984, BMJ334258). As circunstâncias enumeradas, a
título exemplificativo, no nº 2 do artigo 132º do Código Penal não são de
funcionamento automático: pode verificarse qualquer delas sem que deva
necessariamente concluirse pela “especial censurabilidade ou perversidade” do
agente” (acórdão de 20 de Março de 1985, BMJ345248). Tudo o que se disse tem
M. Miguez Garcia. 2001
157
reflexos nos casos, muito frequentes, de comparticipação criminosa: se A,
conscientemente e de forma voluntária mata o seu próprio pai com a colaboração,
igualmente voluntária e consciente, de B, não é indiferente optar pela aplicação do
regime do artigo 28º ou do regime do artigo 29º.
2. No caso nº 5G, relativamente a B podem detectarse sintomas ou sinais
de que o mesmo revelou especial censurabilidade: porque utilizou uma
actuação insidiosa, ou seja, um meio traiçoeiro, na medida em que entrou na
casa do vizinho, disparando sobre ele vários tiros a curta distância, sem,
contudo, dar qualquer oportunidade de defesa à vítima (eventualmente
lançando mão, para concretizar o seu criminoso objectivo, de um meio que se
traduz na prática de um crime comum). Dirseá que se mostram certificados,
pois, no caso — e, em princípio, repitase — os índices do exemplo padrão da
alínea f) do nº 2 do artigo 132º do Código Penal.
3. Mas não basta, como já se assinalou, a prova de tais sintomas, pois estes
não actuam automaticamente, para de imediato se deduzir pela
censurabilidade. Tornase ainda necessário proceder a uma nova operação,
indagando se, mau grado a prova dos índices estabelecidos pelo legislador
como exemplospadrão, não ocorrem circunstâncias com a capacidade bastante
para contraprovarem o efeito dos índices apurados. Tais circunstâncias têm de
desfrutar de um significado com viabilidade bastante para corromper a
imagem global do facto perpetrado por B. Ora, haverá certamente quem
sustente que no caso de B se dá a concorrência de factores que, em vez de
agravarem a culpa, pelo contrário a diminuem, devido à inversão do papel
"verdugovítima". B, dirseá, agiu em estado de desespero, após largo tempo de
sofrimento, com agressões as mais diversas a si e à sua família, à sua honra e
integridade moral, ao seu sossego e bem estar e aos seus bens. Importa
inclusivamente ponderar a gravíssima agressão praticada pouco antes na
mulher de B, violada e humilhada na forma que se viu. Nesta medida, ficará
afastado o valor indiciário do apontado exemplo padrão, como afastada fica a
especial censurabilidade ou perversidade de B, não se podendo imputarlhe o
crime de homicídio na sua forma agravada (artigo 132º). (Haverá porém bons
argumentos para sustentar o contrário).
4. Põese, por isso, a questão de saber se, no caso nº 5G, B não terá
cometido antes o crime do artigo 133º (homicídio privilegiado).
Como se compreenderá, são sobretudo preocupações didácticas que justificam a exposição
aqui adoptada. Não deixa de ser razoável entender que o homicídio "nasce logo
M. Miguez Garcia. 2001
158
classificado": será, em função da culpa concreta, fundamental, agravado ou até
privilegiado. "Não podendo o juízo de culpa deixar de ser eminentemente concreto e
uno, a sua conclusão levará de imediato a que se subsuma a conduta de quem tirou a
vida a outra pessoa ou ao artigo 131º, ou ao artigo 132º, ou, ainda, ao artigo 133º" (Cristina
Líbano Monteiro, RPCC 6 (1996), p. 126). Cf., ainda, Conimbricense, p. 54.
O artigo 133º corresponde, quanto aos seus elementos objectivos e
subjectivos, à norma base do artigo 131º, de que formalmente se destaca,
beneficiando a moldura penal de circunstâncias privilegiantes que apontam
para uma sensível diminuição da culpa do agente. Ao matar outra pessoa, este é
dominado por compreensível emoção violenta, compaixão, desespero ou motivo
de relevante valor social ou moral. Os fundamentos privilegiantes integram um
tipo de culpa que diminui de forma autónoma a culpa do agente.
Mas a atenuação da culpa nunca se presume pela simples verificação dos
elementos privilegiantes, devendo sempre provarse a sua influência efectiva
sobre o agente (Amadeu Ferreira, p. 80). Reparese ainda que a ilicitude do
homicídio fica intocada, não obstante o privilégio, pois o bem jurídico afectado
não perde a sua valia: por ex., a vida da vítima que provocou o agressor não fica
por isso desvalorizada, o que se atende é à sensível diminuição da culpa deste
(cf. Moos, § 76, nº de margem 4). Não há aqui nenhum fundamento de
justificação do comportamento do agressor, mas atendese à menor
censurabilidade dos correspondentes motivos.
Como se sabe, o tipo de culpa integra os elementos "que contribuem para
caracterizar de forma mais precisa a atitude interna do autor perante o Direito,
actualizada no facto" (Jescheck). Mas há uma forte concepção restritiva do
privilegiamento no artigo 133º. "Na 1ª parte da norma a menor culpa do agente
deriva dos reflexos da emoção violenta sobre a sua inteligência e a sua vontade.
Na 2ª parte é a pressão intolerável que determinados motivos, positivamente
valorados pela ordem jurídica, a razão da diminuição sensível da culpa" (cf.
Amadeu Ferreira, p. 143).
• Comentando o privilegiamento do homicídio por emoção violenta, a doutrina analisao em
três requisitos: Que o agente se encontre dominado por emoção violenta; que seja tal
emoção a causadora do acto criminoso; que tal emoção seja compreensível. Para a
doutrina (vd. Figueiredo Dias, parecer cit.) o juízo de compreensibilidade não assenta
M. Miguez Garcia. 2001
159
numa exigência de adequada relação de proporcionalidade entre o facto injusto
provocador e o facto ilícito provocado. O facto que origina a emoção não tem agora
que radicar em qualquer provocação. “Na visão do artigo 133º — assente, não em
juízos de ponderação éticojurídicos dos valores conflituantes, mas sim na valoração
da situação psíquica que leva o agente ao crime — o que interessa é “compreender”
esse mesmo estado psíquico, no contexto em que se verificou, a fim de se poder
simultaneamente compreender a personalidade do agente manifestada no facto
criminoso e, assim, efectuar sobre o mesmo o juízo de (des)valor que afinal constitui o
juízo de culpa”. Adiante teremos oportunidade de apreciar a posição dos tribunais
que tem sido divergente das concepções doutrinais.
O conceito de emoção [violenta] é matéria de facto que se prova de acordo
com as ciências psicológicas e psiquiátricas. A compreensibilidade dessa mesma
emoção é um juízo normativo que se refere à emoção e não ao facto criminoso.
As emoções não compreendem só momentâneas situações conflitivas e de crise.
Tecemse igualmente em trama de tempo e afecto. Há estados de afecto
duradouro, com uma préhistória em que o conflito interior "vai ardendo sem
chama" até que se agudiza. O agente descarrega então numa relação íntima ou
acaba com uma situação sentida há muito como sem saída. Em termos muito
gerais pode dizerse que perante uma ofensa ao agente ou a terceiro que
desencadeia esse estado de perturbação psicológica — há uma "excitação de
molde a obscurecerlhe a inteligência e a arrebatarlhe a vontade" (acórdão da
Relação de Coimbra de 22 de Julho de 1987, CJ, 1987, t. 2, p. 101) —, esta
cristaliza no homicídio. A emoção violenta deve então ser a causa determinante
do crime e deve ser compreensível, o que só se apreende nos limites duma
apreciação casuística. É o reconhecimento, por parte da lei, de que há momentos
em que o ser humano é sujeito a tão fortes tensões que não consegue, por
virtude delas, dominarse como normalmente lhe é exigível; são circunstâncias
que, não chegando para legitimar o seu comportamento, o tornam, em todo o
caso, alvo de uma crítica bem inferior à que de outro modo lhe seria dirigida
(acórdão do STJ de 27 de Novembro de 1996, BMJ461226).
5. Os indicados elementos normativos, cuja função é a de diminuírem a
culpa, devem ser igualmente vistos como privilegiando a reacção penal, o que
tem consequências em matéria de comparticipação. Correspondendo a estados
de afecto, de perturbação e exaltação, colocam o agente em situação próxima da
incapacidade acidental (artigo 20º, nºs 1 e 2). São situações que relevam
especialmente nos casos de desespero e compreensível emoção violenta; a
M. Miguez Garcia. 2001
160
menor censurabilidade está preferencialmente ligada a motivos de relevante
valor social ou moral e à compaixão.
• A propósito do artigo 20º, nºs 1 e 2, recordese que entre a anomalia mental, cujos efeitos
conduzem à inimputabilidade, e a saúde mental, existe toda uma gama de estados
intermédios que, embora sem o anular, enfraquecem todavia mais ou menos o poder
de inibição dos homens ou a sua capacidade para compreender a ilicitude da própria
conduta. O artigo 20º tem como pressupostos cumulativos da inimputabilidade em
razão de anomalia psíquica, por um lado, a existência de uma anomalia psíquica
(factor biológico), por outro, a incapacidade de o arguido, em consequência dessa
anomalia, avaliar a ilicitude do facto ou de se determinar de acordo com essa
avaliação (factor de ordem psicológica). Nos julgamentos de crimes de sangue
aparece com alguma frequência a necessidade de averiguar se, no momento da
prática do facto, o agente não estaria num estado de perturbação mental que lhe
retirasse as capacidades de avaliação da ilicitude e de se determinar de acordo com
ela, ou seja, “em certos e determinados estado psicológicos, de curta ou longa
duração, nos quais as relações normais entre a consciência de si mesmo e a do mundo
exterior estão mais ou menos perturbadas”. Pensese, como exemplos desses estados,
o sono, o estado agudo alcoólico, delírios de febre e estados afectivos intensos (Prof.
Eduardo Correia, cit. no parecer do Prof. F. Dias, na CJ, (1987).)
6. O artigo 133º não é, porém um tipo de desculpa — como acentua
Amadeu Ferreira, no seu já várias vezes citado estudo, que dada a sua valia,
temos a preocupação de continuar a acompanhar. Ainda assim, as
correspondentes situações, para melhor serem apreendidas, devem aproximar
se de outros aspectos normativos — por ex., as situações de efectiva
desculpação que o Código trata no artigo 35º —, subsidiários do pensamento
da inexigibilidade, a que se não reconheceu valor de uma cláusula geral
desculpante.
• No tratamento do estado de necessidade, o Código adoptou uma via que distingue o
estado de necessidade desculpante (artigo 35º) e o estado de necessidade justificante
(artigo 34º). Na Alemanha, isso acabou por acontecer sob a influência de
Goldschmidt, que falava de um microcosmos jurídico em que coincidiam os pontos
M. Miguez Garcia. 2001
161
de vista da ilicitude e da culpa (solução diferenciada: o estado de necessidade
constitui obstáculo à ilicitude quando o interesse protegido é sensivelmente superior
ao sacrificado e obstáculo à culpa nas restantes hipóteses).
7. Ponderar a natureza asténica e esténica (assente em qualidades
desvaliosas) do afecto é outro exercício que tem a ver com a ressalva posta no
artigo 33º, nº 2, como consequência do excesso de defesa, e que passa pela
comprovação da existência ou não de qualidades jurídicopenalmente
desvaliosas da personalidade, pelas quais o agente deva responder (cf.,
especialmente, F. Dias, Liberdade, culpa, direito penal, 2ª ed., p. 176).
• Os casos mais frequentes de excesso têm a ver com a utilização de um meio de defesa que,
"sendo adequado para neutralizar a agressão, é, porém, claramente mais danoso
(para o agressor) do que um outro de que o agredido ou terceiro dispunha e que
também era, previsivelmente, adequado" (Prof. Taipa de Carvalho). Por ex., durante
uma discussão por razões de trânsito, os dois condutores saem dos respectivos carros
e entram a discutir; a dado passo, A começa a esmurrar o seu antagonista e B saca do
revólver que sempre o acompanha, disparao na cabeça de A e provocalhe a morte, a
qual poderia ter sido evitada se B se tivesse limitado a defenderse a soco ou a visar
as pernas do agressor. A decisão sobre a existência ou não de excesso "não pode
deixar de atender á globalidade das circunstâncias concretas em que o agredido se
encontra, nomeadamente, a situação de surpresa ou de perturbação que a agressão
normalmente constitui, a espécie de agressor e os meios agressivos, de que dispõe,
bem como as capacidades e os meios de defesa de que o agredido se pode socorrer".
(Cf. Taipa de Carvalho, p. 346).
No artigo 33º, havendo excesso de legítima defesa, e independentemente
de se tratar de um excesso asténico (perturbação, medo, susto) ou esténico
(cólera, ira), prevêse a possibilidade de atenuação especial da pena. Deve no
entanto notarse que, em caso de excesso de legítima defesa, o facto é sempre
ilícito (nº 1). O agente só não será punido (nº 2) se o excesso resultar de
perturbação, medo ou susto não censuráveis.
8. Em sentidos divergentes vão os factos praticados em estado de afecto
grave, quando o agente os criou de forma intencional ou só culposamente: "se o
agente provocou preordenadamente a emoção em vista da prática do
homicídio (artigo 20º, nº 4), então a emoção não é compreensível e deve ser
M. Miguez Garcia. 2001
162
punido pelos artigos 131º ou 132º; se o agente apenas foi negligente quanto ao
surgimento da emoção, a sua culpa deve ser excluída; mas, se o agente previu
ou podia prever a prática do homicídio naquela situação de emoção
negligentemente criada, então será ainda possível fundamentar um juízo de
culpa diminuída, isto é, a emoção será compreeensível" (Amadeu Ferreira, p.
145).
• O artigo 20º, nº 4 (alic). São constelações de casos com a seguinte estrutura: o autor,
encontrandose em estado que exclui a capacidade de culpa (artigo 20º) comete um
facto antijurídico (actio), após ter produzido na sua pessoa, de forma censurável,
aquele estado, sabendo, ou pelo menos podendo saber (causa libera) que em posterior
situação de inimputabilidade cometeria precisamente esse facto. Tratase de
processos que se desenrolam em vários actos. O primeiro acto, anterior no tempo
(produção da anomalia, actio praecedens, causa) tem uma relação relevante, no que
toca à culpa, com o segundo acto, posterior no tempo (facto cometido com anomalia
psíquica, actio subsequens).
9. Finalmente, a questão da "substituição" do regime do artigo 133º pela
aplicação conjugada dos artigos 131º e 72º (atenuação especial da pena).
Dominante no pensamento jurisprudencial, não deixa de ser denunciada pela
doutrina, para quem "a procura de critérios concretos de compreensibilidade,
na resolução dos casos, é o único caminho para a correcta interpretação e
aplicação" do artigo 133º, o qual "representa um elemento importante do
carácter humanista e eticista do Código Penal" (Amadeu Ferreira, p. 146).
Recordese que em boa parte das decisões dos tribunais, para que a emoção
violenta seja fundamento de crime de homicídio privilegiado, é necessário que
se verifique uma relação de proporcionalidade entre o facto injusto (até no
plano moral) causador da emoção violenta e o facto ilícito provocado, ou seja, a
emoção violenta só será compreensível quando tiver na sua base uma
provocação proporcionada ao próprio crime de homicídio. Notese também que
o homicídio privilegiado difere do homicídio com atenuação especial da
provocação pela diferença de grau de intensidade da emoção causada pela
ofensa e ambos diferem da legítima defesa, "grosso modo", porque nos
primeiros o agente, ao contrário do último, não actua com animus defendendi.
E o excesso de legítima defesa não se enquadra em alguns daqueles porque o
agente actua com a intenção de se defender mas exorbitando nos meios
empregados (acórdão do STJ de 11 de Dezembro de 1996, BMJ462207).
M. Miguez Garcia. 2001
163
10. No artigo 133º não se prevê nem regula especificamente a "provocação"
como circunstância com influência bastante para a qualificação da conduta do
agente como integradora do crime aí definido, mas o estado emocional tanto
pode resultar ou ser causado por provocação como por qualquer outro facto (cf.
o acórdão do STJ de 3 de Outubro de 1984, BMJ340219).
11. A provocação aparece também como circunstância de atenuação geral
da pena na alínea b) do nº 2 do artigo 72º [provocação injusta ou ofensa imerecida].
• No direito anterior à entrada em vigor do Código Penal de 1982, exigiase que o facto
provocador fosse injusto e imoral, adequado a provocar o estado de emoção que teria
levado ao crime, medindose o valor da atenuação pela "maior ou menor capacidade
provocadora do facto injusto e a maior ou menor gravidade do facto provocado"
(Jorge de Figueiredo Dias, parecer, CJ, 1987; Liberdade, culpa, direito penal, 1976, p.
92. E. Correia, Direito Criminal, II, p. 283; ainda Gomes da Silva, Direito Penal, 2º
volume, 1952, p. 261; Vitor Faveiro, Código Penal Português, 2ª ed., 1952, p. 151 e ss.).
Perante a letra do artigo 133º, a doutrina entende que a compreensibilidade ali posta
em destaque não significa proporcionalidade entre o facto causador da emoção e o
homicídio.
12. No caso nº 5G, não há dúvida que B, voluntária e conscientemente,
quis tirar a vida ao A, como tirou. Mas não deixa de ser evidente que a situação
aponta para uma emoção violenta de que B estava possuído. Ainda assim,
poderá entenderse, para negar o privilegiamento do artigo 133º, que a emoção
violenta não era compreensível, face ao tempo que decorreu após os últimos
factos ou que, por não terem sido alteradas as normais condições de
determinação de B, não se gerou por parte deste uma reacção proporcional ao
comportamento da vítima (como exige a jurisprudência).
Restaria então sustentar a aplicação dos artigos 131º, em conjugação com o
artigo 72º (atenuação especial da pena), nºs 1 e 2, b): provocação injusta ou
ofensa imerecida.
• Com os tiros, B inutilizou, tudo o indica, as roupas que A trazia vestidas. Tratase de coisa
alheia, cuja substância foi atingida. Foi apresentada queixa, como já se disse. Cf. o
artigo 212º. Parece ser caso de concurso de normas: a relação é de consunção. A pena
do homicídio já engloba o desvalor da utilização dos meios escolhidos para dar a
morte.
M. Miguez Garcia. 2001
164
B entrou na casa de morada de família de A, mas fêlo com consentimento
relevante (foi autorizado pela mulher de A), pelo que não de aplica o disposto
no artigo 190º, que tem a ausência de consentimento como elemento da
incriminação. B nem sequer foi intimado a retirarse depois que disparou sobre
A. A prova chega ao pormenor de indicar que B imediatamente encetou a fuga.
Não se verifica pois — repetese — a tipicidade do artigo 190º.
Questões de concurso. Foi com uma única acção que de produziu a morte
de A e os danos que ficaram referidos. (Cf. o artigo 30º, nº 1).
Quanto à actuação de C . Pode pôrse a questão de ter C cometido um
crime de homicídio tentado, na medida em que atingiu B a tiro: artigos 22º e
131º. B não morreu: o crime não se consumou. Terá C decidido cometer um
crime de homicídio? A decisão de cometer um crime exige dolo relativamente a
todas as características típicas objectivas (dolo de consumação). Todavia, é claro
que C, ao actuar, não queria a morte de B, o que ele queria era prendêlo e
entregálo à polícia. Fica excluída a possibilidade do homicídio tentado. Terá
havido provocação de perigo para a vida? Cf. o artigo 144º, d). C atingiu B
corporalmente a tiro. O crime do artigo 144º, d) é de perigo concreto. Ainda que
se possa afirmar que houve ofensa contra a integridade física, não há elementos
que traduzam a concretização de um perigo para a vida, não obstante a
natureza do meio empregado (arma de fogo). Fica a hipótese da aplicação da
norma base do artigo 143º (ofensa à integridade física simples), uma vez que C
actuou dolosamente.
Não é caso de invocar legítima defesa, porquanto a agressão de B a A já
não era actual quando B disparou sobre C. Cf. artigo 32º.
Haverá uma outra causa de justificação? O artigo 255º, nº 1, b), do CPP,
permite que, em caso de flagrante delito, por crime punível com pena de prisão,
qualquer pessoa possa proceder à detenção, se não estiver presente qualquer
autoridade judiciária ou entidade policial (veja o artigo 1º, nº 1, b) e d), do CPP),
nem puder ser chamada em tempo útil. Não havia possibilidade de recorrer à
força pública, no caso concreto. Verificavase flagrante delito (artigo 256º, nºs 1 e
2), pois B fora perseguido logo após o crime. Este era punido com prisão (artigo
131º, pelo menos). Cf. o artigo 31º, nºs 1 e 2, b). Nesta situação, poderá
certamente invocarse "o cumprimento de deveres cívicos de exercício dos
direitosdeveres de perseguir e prender em flagrante delito", na ausência da
possibilidade de recurso à força pública, um agente de um crime punível com
pena de prisão (cf. o acórdão do STJ de 10 de Outubro de 1996, BMJ460359).
Cabe porém perguntar se não será desproporcionada e excessiva a
inviabilização da fuga nas concretas condições que nos são apontadas,
M. Miguez Garcia. 2001
165
podendo, inclusivamente, pôrse em perigo a vida do fugitivo. Concluindose
que o uso da arma foi desproporcionado, a conduta de C não se enquadra no
exercício de um direito. Mas a matéria de facto não permite, por escassa, chegar
a uma conclusão precisa. Deve considerarse muito especialmente que o uso da
força está confiada aos órgãos da administração pública e que a liberdade das
pessoas só pode ser limitada nas estritas condições do artigo 191º do CPP. Cf.,
ainda, o artigo 193º do CPP. Por isso, temos por correcta a conclusão de que se
não verifica a referida eximente e que C actuou ilicitamente. (A posição
contrária a esta pode ser aceite quando devidamente justificada).
C, no entanto, estava convencido de que podia disparar sobre B para o
prender e entregar à polícia, o que corresponde à crença errónea de estar a agir
licitamente. Tratase de um erro sobre a licitude do facto, i. é, de um erro de
valoração, e não de um erro sobre um estado de coisas que, a existir, excluiria a
ilicitude do facto (artigo 16º, nº 2). Com efeito, no caso, o que se verifica é uma
desconformidade entre as ideias de C — sobre o lícito e o ilícito — e a ordem
jurídica. Se o erro for censurável, como parece, o dolo subsiste, mas deverá ser
atenuada a culpa: o agente será punível por um crime doloso, beneficiando da
atenuação especial facultativa (artigo 17º, nº 2).
Não se descortinam outras causas de exclusão da culpa. C cometeu, como
autor material, um crime do artigo 143º, podendo a pena ser especialmente
atenuada (artigo 17º, nº 2).
• A bala de raspão rasgou as calças de B, mas nada indica que nesse contexto C tivesse agido
dolosamente. O crime do artigo 212º é de extracção exclusivamente dolosa, pelo que a
conduta não integra a respectiva tipicidade (artigo 13º).
Quanto à actuação de M. O médico operou sem consentimento expresso,
pois B só recuperou a consciência quando a operação já tinha terminado. A
intervenção não se considera ofensa à integridade física, atentos os
pressupostos do artigo 150º (intervenções e tratamentos médicocirúrgicos), que
aqui — tudo o indica — concorrem. Saber se a intervenção foi arbitrária (artigo
156º: crime contra a liberdade pessoal), passa pela ponderação do disposto no
artigo 156º, nº 2. A conclusão parece ser a de que o facto não é punível. M não
cometeu qualquer crime.
M. Miguez Garcia. 2001
166
V. A intenção de matar: Não se provando que o arguido agiu com dolo
homicida, não pode ele ser condenado por homicídio voluntário tentado
ou consumado.
• Uma vez que a intenção de matar, seja na forma de dolo directo, seja de dolo eventual,
importa a prova de um elemento do foro íntimo do agente, essa descoberta só é
alcançável através de dados exteriores, designadamente, a violência da agressão, a
arma utilizada, a parte do corpo da vítima atingida, a personalidade do agressor, a
motivação do crime, assim se chegando à verdade práticojurídica que sirva de
suporte à decisão (acórdão do STJ de 12 de Novembro de 1986, BMJ361244). O juízo
técnico, científico ou artístico inerente à prova pericial impõese, em princípio, ao
julgador, que o tem que aceitar. Se dele divergir terá de fundamentar a sua
discordância e, não o fazendo, viola o artigo 163º do CPP, que leva à anulação do
julgamento (acórdão do STJ de 5 de Maio de 1993). O juízo sobre a intenção de matar
não é um juízo técnico, científico ou artístico, nem tão pouco um juízo de técnica
médica. A presunção de intenção de matar é apenas um juízo de probabilidade sobre
aquela intenção, pelo que não se lhe aplica o disposto no artigo 163 do CPP (acórdão
do STJ de 3 de Julho de 1996, processo nº 8/96 3ª Secção Internet). Cf. também
Fernando Oliveira Sá, As ofensas corporais no Código Penal: uma perspectiva médico
legal, RPCC 3 (1991), p. 409. J. Pinto da Costa, Intenção de matar, Revista de
Investigação Criminal, nº 2 (1981).
• A questão do dolo: O dolo directo (nº 1 do art. 14º do C. Penal de 1982) não é indispensável
à condenação pela autoria do crime definido no art. 131º do C. Penal de 1982;
bastando até o eventual previsto no nº 3 do mesmo art. 14º. E a verificação do dolo
necessário resulta bem evidenciado se se mostra provado que o arguido agiu livre e
conscientemente, admitindo que da sua conduta resultava a finação da vida do
ofendido e bem sabendo que o seu comportamento era contrário à lei (acórdão do STJ
de 26 de Março de 1992, Simas Santos Leal Henriques, Jurisp. Penal, p. 326). Ao
desfechar uma espingarda, a cerca de 1,35 metros de distância, sobre a vítima,
embora sem intenção de lhe causar a morte, o réu comete o crime do art. 131.° do C.
M. Miguez Garcia. 2001
167
Penal de 1982, com dolo eventual, por, ao fazer o disparo, ter previsto a possibilidade
de atingir aquela e de a matar e, não obstante isso, não ter deixado de praticar a
acção, por lhe ser indiferente o resultado previsto e com este se ter conformado
(acórdão do STJ, de 12 de Dezembro de 1984, BMJ342227). Configura uma situação
de dolo eventual, susceptível de conduzir à condenação do agente como cúmplice de
homicídio, a conduta de quem, conhecedor de que um terceiro já cometeu crimes
graves de homicídio e de que o mesmo se encontra em cumprimento da respectiva
pena de prisão, lhe fornece uma arma de fogo para lhe possibilitar a fuga da cadeia,
se o recluso, na fuga, usar tal arma e matar pessoa encarregada da sua vigilância, por,
em tal caso, o referido agente ter de prever como possível o resultado morte de
outrem e não se abster da sua referida conduta (acórdão da Relação de Évora de 20 de
Janeiro de 1987, CJ, XII. t. 1, p. 321). O Código Penal de 1982 encerra uma terminante
opção normativa, ao erigir em padrão decisivo da distinção, nos artigos 14º, nº 3 e 15º,
b) o critério da conformação ou não conformação do agente com o resultado típico
por aquele previsto como possível. Para se considerar existente essa conformação,
tornase necessário que, para além da previsão do resultado como possível, o agente
tome a sério a possibilidade de violação dos bens jurídicos respectivos e, não obstante
isso, se decida pela execução do facto. Provandose que o réu representou a morte da
vítima como consequência possível dos disparos que fez, e mesmo assim disparou,
conformandose com o resultado representado e a que se mostrou indiferente, não
pode duvidarse de que o réu agiu com dolo eventual e não apenas com negligência
(acórdão do STJ de 18 de Junho de 1986, BMJ358248).
• CASO nº 5I: Dolo directo / dolo eventual. Excesso na execução. A e B haviam decidido
cometer diversos crimes de roubo, actuando sempre em conjunto. Na execução de um
desses roubos, o B, indo além do acordado, começou a disparar, atingindo três
pessoas, das quais duas morreram, com intenção de as matar. B agiu com dolo directo
de homicídio. A, por sua vez, não planeou tal resultado. Provouse porém em
julgamento que A previu que tal resultado pudesse acontecer, conformandose com o
mesmo. Na verdade, o A forneceu as armas e respectivas munições ao B para efeito
do cometimento dos crimes de roubo, prevendo que do seu uso pudesse resultar a
M. Miguez Garcia. 2001
168
morte dos visados e deslocandose ambos para o local com a intenção de roubarem.
Chegados ao local, o A aguardou na viatura a consumação dos ilícitos por parte do B,
proporcionando de imediato a fuga. Conclusão do acórdão do STJ de 6 de Dezembro
de 2001, CJ 2001, ano IX, tomo III, p. 227: no que respeita aos crimes perpetrados —
excluídos os homicídios — ambos os arguidos são coautores; no que respeita aos
crimes de homicídio, o B, executor material, responde a título de dolo directo,
enquanto que o A, para quem tais homicídios configuram um excesso ao plano
traçado quanto à execução do roubo, responde apenas a título de dolo eventual.
VI. Outras questões a desenvolver. O princípio da protecção absoluta da
vida.
1. Princípio constitucional geral: todos têm o direito à vida artigos 1º, 20º
e 24º, nº 2, da Constituição da República. O início do nascimento é o ponto
crítico onde acaba a situação fetal e começa o ser humano. Esta é em geral a
visão do direito penal. A execução do crime de infanticídio (artigo 136º), que é
um homicídio privilegiado, pode ser anterior ao nascimento, uma vez que a
norma prevê a comissão "durante o parto": "a mãe que matar o filho durante ou
logo após o parto e estando ainda sob a sua influência perturbadora, é punida
(...).
Esse momento é anterior ao momento que determina a atribuição da
personalidade jurídica, ou seja, o do nascimento completo e com vida (artigo
66º, nº 1, do Código Civil). Não há coincidência entre os dois ramos do direito,
considerando os penalistas que o nascimento se inicia a partir do início dos
trabalhos de parto, havendo que distinguir entre o parto normal e o parto por
cesariana. Um qualquer homicídio pode assim ser cometido a partir do início
dos trabalhos de parto, portanto antes do nascimento: "o legislador penal
perfilhou este critério atendendo à essencial identidade de valor entre a vida do
"nascituro terminal" e a vida do recémnascido” (Rui Carlos Pereira, O crime de
aborto e a reforma penal, 1995, p. 77).
2. A protecção jurídicopenal da vida termina com a morte da pessoa. A
morte dáse com a lesão irreversível do tronco cerebral. Sobre o tema, ver o
artigo 12º, nº 1, da Lei nº 12/93, de 22 de Abril. A questão prendese
especialmente com a colheita de órgãos ou tecidos e com o Estatuto do não
dador (DecretoLei nº 244/94, de 26 de Setembro), uma vez que em termos
médicos será decisivo escolher, para a recolha, o momento que medeia entre a
morte cardíaca e a morte cerebral.
M. Miguez Garcia. 2001
169
A merecerem considerações algo diferentes são os casos de anencefalias (monstruosidade que
consiste na falta de cérebro) de recémnascidos. Quanto ao cadáver e às consequentes
referências penais — cf. Carvalho Fernandes, “Cadáver”, Polisenciclopédia, tomo I. O
artigo 254º prevê a profanação de cadáver ou de lugar fúnebre. O "descanso" e a
lembrança dos mortos são praticamente as últimas coisas com algum significado
religioso que o Direito Penal ainda protege.
3. O problema do suicídio. Hoje em dia, o direito já não faz distinção entre
os mortos. Mas nem sempre foi assim. Proibiase o enterramento dos suicidas
nos lugares de culto, impunhamse penas aos parentes mais chegados,
confiscavamselhes os bens e levavase o "criminoso" ao tribunal. Em França,
acabaramse os delitos dos suicidas em 1791, secularizaramse os cemitérios em
1881. Actualmente, o suicídio não é um acto ilícito. “Ainda ninguém
demonstrou que o dever constitucional de protecção da vida se imponha ao
próprio titular; constatase uma “tolerância” pela ordem jurídica relativamente
a tal acto desde que efectuado sem intervenções alheias que contribuam para a
sua promoção” (M. M. Valadão e Silveira). O suicídio consumado não é
punível, "desde logo porque as penas são intransmissíveis — artigo 30º, nº 3, da
Constituição", recorda Rui Carlos Pereira. "Apenas se pode discutir se há, na
nossa ordem jurídica, um verdadeiro direito subjectivo ao suicídio, a que
corresponderia, no plano passivo, um dever de respeitar a vontade do suicida,
ou se, diferentemente, o suicídio se insere num espaço jurídico livre de direito,
onde a ordem jurídica não entra." O suicida e o autoofendente não se podem
prevalecer da legítima defesa, em geral, contra quem tenta evitar o suicídio ou
uma automutilação grave. Apenas se podem defender, se, naturalmente, a
tentativa de evitar o suicídio ou uma automutilação grave igualar ou superar,
na sua eficácia, a intensidade de uma ofensa corporal perigosa ou com dolo de
perigo. Seria dificilmente sustentável, do ponto de vista ético, que o suicida
pudesse lesar a vida de quem tenta evitar a sua morte (cf., Rui Carlos Pereira, O
consumo e o tráfico de droga na lei portuguesa; e Fernanda Palma, A
justificação por legítima defesa como problema de delimitação de direitos, I vol.
1990, p. 557). Cf. ainda o artigo 154º, nº 3, alínea b).
4. O problema da eutanásia e do auxílio médico à morte. Eutanásia é o
auxílio ao doente incurável, com o objectivo de o poupar a uma agonia cruel.
Não levanta problemas para o direito o verdadeiro auxílio, aquele que não
M. Miguez Garcia. 2001
170
conduz ao encurtamento da vida (por ex., a ministração de medicamentos para
alívio das dores). Mas já levanta problemas a eutanásia que envolve o
encurtamento do período natural da vida. O auxílio médico à morte é lícito
sempre que não determine o encurtamento do período natural da vida, mas o
contrário é duvidoso (cf., sobre tudo isto, Figueiredo Dias e Sinde Monteiro,
Responsabilidade médica em Portugal; e Teresa Quintela de Brito, RPCC 12 (2002),
p. 399). Em certos sectores insistese em que um tal auxílio não constituirá
homicídio se se traduzir na utilização de meios indispensáveis para poupar o
paciente ao decurso consciente de uma agonia cruel — salvo, naturalmente, se
houver razões para crer que outra é a vontade do moribundo. Mas em geral,
sustentase que a eutanásia activa (por acção) é proibida. A eutanásia homicida
activa, que abrange aqueles casos em que o autor é determinado pelo exclusivo
propósito de poupar o paciente ao sofrimento físico cai no nosso País na
previsão do artigo 133º, em que se atende ao estado do agente perante o
relevante valor dos motivos que o determinam.
Tratandose de eutanásia passiva (por omissão): aceitase que o paciente se
pode opor a um tratamento mais prolongado. O desejo do paciente morrer em
paz deverá ser, em princípio, respeitado.
• Dever de preservação da vida versus vontade do paciente. Até há pouco, o BGB
pronunciavase claramente pelo primado do dever de preservação da vida sobre a
vontade do paciente: “o médico tem de levar a cabo as intervenções indispensáveis a
preservar a vida, se necessário contra a vontade do paciente, incorrendo em
responsabilidade criminal se o não fizer” (Costa Andrade, Consentimento, p. 446). O
BGB partia do dogma “de um dever de salvação do médico, que se sobrepõe a
qualquer manifestação de vontade do paciente”. Nos últimos tempos, porém, e após
décadas de controvérsia, o BGB tem vindo, em alguns casos, a admitir a relevância da
vontade, expressa ou simplesmente presumida, do doente em fase terminal. (Cf. BGH
NJW 1995, 204; notícia em Der Spiegel 49/1996, p. 41). Os índices da vontade
presumida são, a título de exemplo, certas conversas ou afirmações anteriores ou
determinadas referências escritas. Mas não só: deve atenderse às convicções
religiosas, aos valores pessoais e à capacidade de sofrimento de cada um. O tribunal
parte do direito à autodeterminação e da dignidade humana do paciente. Fica, no
entanto, um espaço de solução diferente na área problemática do suicídio, onde se
justificarão as considerações de Beling, segundo o qual a vontade de morrer terá de se
M. Miguez Garcia. 2001
171
considerar irrelevante para terceiros. Em decisão recente, o Tribunal Federal absolveu
o médico que se limitou a ficar sentado à beira da cama da desesperada viúva, de 76
anos, vítima de uma sobredose, mas cujo coração ainda batia. Isso em nome do
respeito pela vontade suicida da doente, expresso em escrito dirigido ao médico, e da
preferência pela possibilidade de uma morte digna e livre de dores perante a
eventualidade de um período de vida curto, na perspectiva do pior sofrimento.
Ainda a propósito de situações marginais, associadas a estados terminais e
irreversíveis de doentes incuráveis, falase de eutanásia indirecta nos casos, cada
vez mais frequentes, em que o necessário recurso a doses cada vez maiores de
analgésicos pode redundar num encurtamento da fase terminal da vida do
paciente, dando origem a um círculo vicioso entre a acostumação e a
intensificação das doses, em termos de não poder excluirse a provocação, como
efeito secundário, de lesões tóxicas. São práticas reconhecidas em geral como
lícitas (cf. Costa Andrade, Consentimento e Acordo, p. 411; ainda, Kühl, StrafR, AT,
p. 278; Triffterer, Öst. StrafR, AT, p. 146).
VII. Indicações de leitura
A Lei nº 141/99, de 28 de Agosto, estabelece os princípios em que se baseia a verificação da
morte.
O DecretoLei nº 457/99, de 5 de Novembro de 1999, aprova o regime de utilização de
armas de fogo e explosivos pelas forças e serviços de segurança.
Acórdão do STJ de 13 de Janeiro de 1993, BMJ423222: apreciase o modo de execução do
homicídio: cometido por um filho na pessoa de seu pai; com superioridade em razão da arma e
da idade; de noite; com espera, surpresa e traição; através de meio insidioso e com
premeditação; e o abandono da vítima. Tudo isso a pôr em evidência os índices dos
correspondentes exemplospadrão. Apreciase depois o quadro em que o arguido deu morte ao
pai: conflitualidade das relações familiares da responsabilidade da própria vítima, que
hostilizava o réu e demais família, de forma prepotente e agressiva, a par da existência de
traços paranóides na personalidade do arguido, que foi concebendo a ideia do aniquilamento
M. Miguez Garcia. 2001
172
físico do pai "como missão a cumprir". Conclusão: contraprovada a especial censurabilidade, o
crime é o de homicídio simples do artigo 131º.
Acórdão do STJ de 20 de Dezembro de 1989, BMJ392257: circunstâncias, funcionamento
automático.
Acórdão do STJ de 7 de Dezembro de 1998: interrupção do nexo causal; comparticipação;
causa adequada; imputação objectiva. Os arguidos agiram em conjunto com vista à captura de
P, tendo formado uma "linha de caça" para o apanharem. As lesões provocadas por A eram de
natureza letal e os sete réus que haviam apanhado o P, previram a morte deste como
consequência necessária das suas condutas. Quando transportaram o P para o largo da
povoação e aí o abandonaram, ainda com sinais de vida e enquanto se ouviam frases como
"matemno!" e "queimemno!", previram necessariamente que alguma ou algumas pessoas lhe
pudessem dar a morte, como veio a fazer o B. Vd. o resumo dos factos e um comentário breve
de Carlota Pizarro de Almeida à solução dada ao caso in Fernanda Palma (coord.), Casos e
Materiais de Direito Penal.
Acórdão do STJ de 4 de Maio de 1994, CJ, ano II (1994), tomo II, p. 204: homicídio praticado
por agente da PSP, fora de funções, com a arma distribuída: homicídio simples.
Acórdão do STJ de 12 de Fevereiro de 1998, Processo n.º 1120/97 3.ª Secção: A presunção
médicolegal de intenção de matar não constitui juízo técnico ou cientifico que se imponha ao
julgador face à regra do valor pericial consagrado no art.º 163, n.º 1, do CPP. A intenção de
matar constitui matéria de facto a apurar pelo tribunal face à diversa prova ao seu alcance e
esta, salvo quando a lei dispõe diversamente, é apreciada segundo as regras da experiência e a
livre convicção do julgador. 12021998.
M. Miguez Garcia. 2001
173
Acórdão do STJ de 19 de Março de 1998: o juízo sobre a intenção de matar não constitui
sequer, ou eventualmente, um juízo técnico e também não é um juízo da técnica médica. A
menção ou a conclusão num relatório de autópsia sobre a intenção ou não intenção de matar,
revestese assim tão somente de natureza e força sintomatológicas e é nessa medida que hãode
ser consideradas, sopesadas e valoradas, no conjunto das provas a apreciar livremente.
Acórdão do STJ de 12 de Novembro de 1998, BMJ481326: homicídio e profanação de
cadáver; crime do posto da GNR de Sacavém.
Acórdão do STJ de 12 de Abril de 2000, CJ ano VIII (2000), tomo 2, p. 172: medidas de
segurança; pressupostos da duração mínima do internamento; crime de homicídio voluntário
qualificado, com uma anotação na RPCC 10 (2000). Considerouse incorrecta a decisão do
tribunal a quo em integrar os factos na previsão do artigo 132º do Código Penal, para o qual
relevam somente questões atinentes à culpa — o ilícito típico em questão para efeitos de
aplicação da medida de segurança era o do artigo 131º.
Acórdão do STJ de7 de Dezembro de 1999, BMJ492159: não se pode considerar agindo em
legítima defesa aquele que provoca deliberadamente uma situação objectiva de legítima defesa
para alcançar, por esse meio ínvio, a impunidade de um ataque desencadeado
propositadamente já com intenção de matar o agressor.
Acórdão do STJ de 1 de Abril de 1993, BMJ426154: dolo eventual: comprovação dos actos
psíquicos. A e B envolveramse em discussão, tendo o B caído no solo. Uma vez este no solo, o
A encavalitouse nele, e agarrandoo pela cabeça por várias vezes lhe deu com ela no
pavimento de paralelepípedos de granito. Apesar de não ter havido um pronto internamento
hospitalar, o Supremo deu como assente a conexão, em termos de adequação causal, entre as
M. Miguez Garcia. 2001
174
lesões produzidas e a morte. Como o A praticou a agressão prevendo a possibilidade da
ocorrência letal, aceitandoa, é autor de homicídio voluntário simples com dolo eventual.
Anotação ao acórdão do STJ de 10 de Dezembro de 1997, BMJ472142.
Aldo Franchini, Medicina legale in materia penale, Cedam, Padova.
Amadeu Ferreira, Homicídio Privilegiado, 1991.
Bruno Py, La mort et le droit, “Que saisje”, PUF, 1997.
Comentário Conimbricense do Código Penal, parte especial, tomo I, artigos 131º a 201º,
Coimbra, 1999.
Detlev SternbergLieben, Tod und Strafrecht, JA (1997), p. 80.
E. Gimbernat Ordeig, El ocasionamiento de muerte, Estudios de Derecho Penal, 3ª ed., 1990,
p. [266].
E. Gimbernat Ordeig, Eutanasia y Derecho Penal, Estudios de Derecho Penal, 3ª ed., 1990, p.
[51].
Eberhard Schmidhäuser, Strafrecht, BesondererTeil. Grundriß. 2ª ed., 1983.
Eduardo Vasquez Límon da Silva Cavaco, Homicídio qualificado: motivo fútil:
encobrimento de outro crime, Rev. do Ministério Público, ano 14 (1993), nº 55. São as alegações
do MP junto do STJ no caso do Pª Frederico, condenado por acórdão do Tribunal do júri da
comarca de Santa Cruz.
Fermín Morales Prats, in Quintero Olivares (dir.), Comentarios a la Parte Especial del
Derecho Penal, Aranzadi, 1996.
François Jacob, La logique du vivant, Gallimard, 1970.
Frederico Isasca, Comentário, Revista Jurídica, nº 6 (nova série).
M. Miguez Garcia. 2001
175
Giovanni Cimbalo, Eutanasia, cure palliative e diritto ad una vita dignitosa nella recente
legislazione de Danimarca, Olanda e Belgio, in Il Foro Italiano 2003, p. 33.
Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 4ª ed., 1993.
Hans Joachim Rudolphi, A consciência da ilicitude potencial como pressuposto da
punibilidade no antagonismo entre “culpa” e “prevenção”, Direito e Justiça, vol. III, 1987/1988,
p. 98.
Harro Otto, Grundkurs Strafrecht. Die einzelnen delikte, 3ª ed., 1991.
J. A. da Silva Soares, Eutanásia, Polis, 2º vol.
J. J. Dumarez, Manuel de medicine legale a l’usage des juristes, PUF.
J. Pinto da Costa, Intoxicação pelo monóxido de carbono, Revista de Investigação Criminal,
nº 11 (1983).
J. Pinto da Costa, Introdução ao estudo da morte súbita, Revista de Investigação Criminal,
nº 14 (1984).
J. Pinto da Costa, Responsabilidade médica, Porto, 1996.
J. Pinto da Costa, Toxicologia forense, in Ao sabor do tempo – crónicas médicolegais,
volume I, edição IMLP, [2000].
J. Pinto da Costa, Verificação da morte, in Ao sabor do tempo – crónicas médicolegais,
volume I, edição IMLP, [2000].
J. Pinto da Costa, Vontade de matar, in Ao sabor do tempo – crónicas médicolegais, volume
I, edição IMLP, [2000].
Jähnke, Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Großkommentar, 10ª ed., §§ 211217, 1980.
João Curado Neves, O homicídio privilegiado na doutrina e na jurisprudência do Supremo
Tribunal de Justiça, RPCC 11 (2001), p. 175.
M. Miguez Garcia. 2001
176
Johannes Wessels, Strafrecht, BT 1, 17ª ed., 1993.
Jorge de Figueiredo Dias, Apontamentos sobre o crime de homicídio. Apontamentos de
aulas [s/d] exemplar dactilografado.
Jorge de Figueiredo Dias, Crime preterintencional, causalidade adequada e questãode
facto, Separata da Revista de Direito e de Estudos Sociais, Ano XVII, nºs 2, 3 e 4, Coimbra, 1971.
Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal 2 Parte Geral. As consequências jurídicas do crime
(Lições ao 5º ano).
Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal Português, as consequências jurídicas do crime.
Jorge de Figueiredo Dias, Homicídio qualificado. Premeditação, imputabilidade, emoção
violenta. Parecer, CJ, (1987).
Luis Carvalho Fernandes, A definição de morte — transplantes e outras utilizações do
cadáver. Direito e Justiça, 2002, tomo 2.
M. Cobo del RosalJ. C. Carbonell Mateu, Delitos contra las personas, auxilio e induccion al
suicidio, in M. Cobo del Rosal et al., Derecho Penal, Parte especial, 3ª ed., 1990.
M. M. Valadão e Silveira, Sobre o crime de incitamento ou ajuda ao suicídio, AAFDL, 2ª
reimp., 1995
Manuel da Costa Andrade, Consentimento e acordo em Direito Penal, dissertação de
doutoramento, 1991.
Manuel da Costa Andrade, Direito Penal e modernas técnicas biomédicas, Revista de
Direito e Economia, 12 (1986), p. 99 e ss.
Manuel da Costa Andrade, Sobre a reforma do Código Penal Português — Dos crimes
contra as pessoas, em geral, e das gravações e fotografias ilícitas, em particular, RPCC 3 (1993),
p. 427 e ss.
M. Miguez Garcia. 2001
177
Maria Fernanda Palma, Direito Penal. Parte Especial. Crimes contra as pessoas, Lisboa,
1983.
Maria Fernanda Palma, O homicídio qualificado no novo Código Penal, Revista do
Ministério Público, vol. 15 (1983), p. 59.
Maria Fernanda Palma, Problema do concurso de circunstâncias qualificativas do furto,
RPCC 2 (1991), p. 259.
Maria Margarida Silva Pereira, Direito Penal II, os homicídios, AAFDL, 1998.
Maria Paula Gouveia Andrade, Algumas considerações sobre o regime jurídico do art. 134º
do Código Penal, Usus editora, Lisboa, s/d.
Nuno Gonçalves da Costa, Infanticídio privilegiado (Contributo para o estudo dos crimes
contra a vida no Código Penal), RFDUL, vol. XXX.
Qualificação e privilegiamento do tipo legal do homicídio, acórdão do Supremo Tribunal de
Justiça de 5 de Fevereiro de 1992, RPCC 6 (1996), p. 113, com Anotação de Cristina Líbano
Monteiro.
Raúl Soares da Veiga, Sobre o homicídio no novo Código Penal — Do concurso aparente
entre homicídio qualificado e homicídio privilegiado, Rev. Jurídica, nº 4 (1985), p. 15 e ss.
Reinhard Moos, Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch, §§ 7579 StGB, Viena, 1984.
Rui Carlos Pereira, Direito Penal 2 (199495), lições coligidas e organizadas por Maria Paula
Figueiredo, exemplar dactilografado.
Rui Carlos Pereira, Justificação do facto e erro em direito penal.
Rui Carlos Pereira, O consentimento do ofendido e as intervenções e tratamentos médico
cirúrgicos arbitrários, in Textos de apoio ao curso de medicina legal, t. I, Lisboa, Instituto de
Medicina Legal, 1990.
M. Miguez Garcia. 2001
178
Teresa Pizarro Beleza, Ilicitamente comparticipando. O âmbito de aplicação do art. 28º do
Código Penal, Bol. da Fac. de Direito de Coimbra, "Estudos em Homenagem ao Prof. Eduardo
Correia", 3º vol. (1990), p. 589.
Teresa Quintela de Brito, Responsabilidade penal dos médicos, RPCC 12 (2002).
Teresa Serra, Homicídio qualificado, tipo de culpa e medida da pena, 1992.
Teresa Serra, Homicídios em Série, Jornadas de Direito Criminal. Revisão do Código Penal,
II, CEJ, 1998, p. 137; publicado igualmente em Jornadas sobre a revisão do Código Penal,
FDUL, 1998, p. 119.
Volker Krey, Strafrecht BT, Band 1, 9ª ed., 1994.
M. Miguez Garcia. 2001
179
§ 6º Crimes contra a vida. Homicídio (continuação). Homicídio
qualificado
I. Homicídio; homicídio qualificado; homicídio privilegiado. Provocação
injusta; autoria e participação; error in persona; aberratio ictus.
CASO nº 6. Motivo fútil e frieza de ânimo:
• A, aproveitandose da circunstância de B se encontrar diminuído fisicamente, em resultado
de um acidente que sofrera, atacouo pela retaguarda, de surpresa, arremessandolhe
às costas uma pedra com 5 quilos e após haver derrubado o infeliz B, desferiulhe
múltiplas pancadas na cabeça, no pescoço e na face, só parando depois de se certificar
da sua morte. A actuou com o propósito de tirar a vida ao B.
1. Com as pancadas, A matou B, como era seu propósito. A agiu
dolosamente, com conhecimento e vontade de realização do tipo de ilícito do
artigo 131º. A sabia que matava B (outra pessoa) ao desferirlhe múltiplas
pancadas na cabeça, no pescoço e na face, e quis isso mesmo. Fica assim
comprometido com o crime previsto e punido no indicado artigo 131º. Não se
descortina qualquer causa de justificação ou de desculpação.
2. Aliás, a conduta de A revela uma especial perversidade: agiu com frieza
de ânimo e movido por motivo fútil (exemplosregra das alíneas g) e c) do nº 2
do artigo 132º: acórdão do STJ de 15 de Dezembro de 1999, BMJ492221).
Aproveitandose da circunstância de a vítima se encontrar diminuída
fisicamente, em resultado de um acidente que sofrera, atacoua pelas costas, de
surpresa, só parando depois de se ter certificado que o B morrera.
Exemplosregra ou exemplospadrão: são elementos da culpa. A sua
enumeração (artigo 132º, nº 2) não funciona de modo automático; e não é
esgotante. "Para a qualificação do crime de homicídio, o legislador português combinou um
critério generalizador, determinante de um especial tipo de culpa, com a técnica dos chamados
exemplospadrão. Assim, "a qualificação deriva da verificação de um tipo de culpa agravado,
assente numa cláusula geral extensiva e descrito com recurso a conceitos indeterminados: a
'especial censurabilidade ou perversidade' do agente referida no n.° 1; verificação indiciada por
circunstâncias ou elementos uns relativos ao facto, outros ao autor, exemplarmente elencados
no n.° 2. Elementos estes assim, por um lado, cuja verificação não implica sem mais a
realização do tipo de culpa e a consequente qualificação; e cuja não verificação, por outro lado,
não impede que se verifiquem outros elementos substancialmente análogos aos descritos e que
integrem o tipo de culpa qualificador. Deste modo devendo afirmarse que o tipo de culpa
M. Miguez Garcia. 2001
180
supõe a realização dos elementos constitutivos do tipo orientador — que resulta de uma
imagem global do facto agravada correspondente ao especial conteúdo de culpa tido em conta
no artigo 132.°, n.° 2" — Figueiredo Dias, Comentário Conimbricense, tomo I, p. 26. Acrescentase,
mais adiante (ob. cit., p. 27) "que muitos dos elementos constantes das diversas alíneas do artigo
132.°, n.° 2, em si mesmos tomados, não contendem directamente com uma atitude mais
desvaliosa do agente, mas sim com um mais acentuado desvalor da acção e da conduta, com a
forma de cometimento do crime. Ainda nestes casos, porém, não é esse maior desvalor da
conduta o determinante da agravação, antes ele é mediado sempre por um mais acentuado
desvalor da atitude: a especial censurabilidade ou perversidade do agente é dizer o especial
tipo de culpa do homicídio agravado. Só assim se podendo compreender e aceitar que haja
hipóteses em que aqueles elementos estão presentes e, todavia, a qualificação vem em
definitivo a ser negada" e, a fls. 29, "o pensamento da lei é, na verdade, o de pretender imputar
à 'especial censurabilidade' aquelas condutas em que o especial juízo de culpa se fundamenta
na refracção, ao nível da atitude do agente, de formas de realização do facto especialmente
desvaliosas, e à 'perversidade' aquelas em que o especial juízo de culpa se fundamenta
directamente na documentação no facto de qualidades da personalidade do agente
especialmente desvaliosas". Cf. o acórdão do STJ de 11 de Maio de 2000. BMJ497283.
• A enumeração do nº 2 do artigo 132º não funciona automaticamente, a exemplificação que
aí se faz “constitui exemplo indiciador das situações que devem conduzir à
agravação”. Todavia, mesmo que em determinada hipótese se mostre preenchido um
(ou mais) dos exemplosregra previstos na norma, o juiz poderá chegar à conclusão
— através da valoração global do caso — que o conteúdo de culpa não é o qualificado
por uma especial censurabilidade ou perversidade do agente, negando esse efeito
indiciador, por a razão de ser da agravação se não verificar em concreto (Figueiredo
Dias, Direito Penal Português, as consequências jurídicas do crime, § 265; cf. também
Baumann / Weber / Mitsch, Strafrecht, AT, 10ª ed., 1995, p. 117). Por outro lado, a
admissão de outras circunstâncias — a enumeração legal não é taxativa —
reveladoras da especial censurabilidade ou perversidade do agente “tem de limitarse
aos casos em que tais circunstâncias exprimam um grau de gravidade e possuam
uma estrutura valorativa à imagem de cada um dos exemplospadrão enunciados no
nº 2” (Teresa Serra, Homicídios em Série, Jornadas de Direito Criminal. CEJ, 1998, p.
157).
No caso nº 6, o homicídio é o qualificado dos artigos 131º, e 132º, nºs 1 e 2,
alíneas c) e g), na medida em que A agiu de forma notoriamente
desproporcionada e com elevada insensibilidade moral, “com grande
brutalidade e sem qualquer justificação ou perturbação de ânimo“. O A agiu
M. Miguez Garcia. 2001
181
sem dúvida com frieza de ânimo: “A frieza de ânimo significa uma calma ou
imperturbada reflexão no assumir o agente a intenção de matar”, dizse no
acórdão do STJ de 18 de Junho de 1986, BMJ357211.
CASO nº 6A. Ainda o motivo fútil e a frieza de ânimo.
• A, jovem imputável de 17 anos de idade, não estando habilitado a conduzir veículos
automóveis, após ocasionar um acidente de viação, ressentido e desagradado com o
facto de não lhe ter sido permitido retirar a sua viatura do local sem que alguém se
responsabilizasse pelos danos por si causados, já depois dos seus padrinhos terem
resolvido pacífica e serenamente o problema, no espaço de uma hora, após
abandonar o local do acidente, dirigese a casa, munese de uma espingarda de caça,
deslocase a casa de B, o outro condutor acidentado, sai da viatura, e mesmo tendo
lhe sido recomendada calma pela sua madrinha, que com o seu marido aí se
encontravam por outros motivos e que o avistara, apoia a arma no tejadilho da
viatura em que se deslocara, e sem nunca pronunciar uma palavra, ao divisar o outro
condutor, dispara em sua direcção a uma distância de sete metros, visandolhe a
região do tórax, assim lhe causando a morte.
Ao disparar com dolo homicida a espingarda na direcção do B (outra
pessoa) e a uma distância de 7 metros, provocandolhe a morte, A
comprometeuse desde logo com o ilícito do artigo 131º. Não se verificam
quaisquer causas de justificação ou de desculpação. No plano da culpa, os
elementos recolhidos revelam que o A, tanto na preparação como na execução
do crime, agiu de modo a revelar especial censurabilidade ou perversidade,
movido por motivo fútil e frieza de ânimo, como considerou o acórdão do STJ
de 2 de Março de 2000, BMJ495100, acrescentando que motivo fútil é o motivo
de importância mínima e que, do ponto de vista do homem médio, se mostra
manifestamente desproporcionado relativamente ao crime cometido. Deste
modo, A é autor material de um crime de homicídio qualificado dos artigos 131º
e 132º, nºs 1 e 2, c) e g). O Tribunal entendeu ser justa e adequada à culpa do A,
às exigências de prevenção e à idade do mesmo, a pena de 13 anos e 6 meses de
prisão.
CASO nº 6B. De novo o motivo fútil e a frieza de ânimo.
• A e B andavam, já há muito, de relações tensas, porque o primeiro considerava a
companhia do segundo como a causa do desvario em que um seu filho andava, dado
M. Miguez Garcia. 2001
182
à droga e ao álcool. Por várias vezes o A disse ao B que não queria que acompanhasse
o filho, retorquindolhe este que o A nada tinha com isso e que continuaria a andar
com o rapaz. Certo dia, A viu o filho na companhia do B, e dirigiuse ao filho,
censurandoo, ao que se seguiu troca de palavras entre ambos. O A foi então à sua
residência donde trouxe uma espingarda de 2 canos e dois cartuchos. Vendo o B a
fugir à sua aproximação, o A, a cerca de 7 metros de distância, levou a arma ao ombro
e fez um primeiro disparo na direcção do B, atingindoo na região nadegueira e
causandolhe várias perfurações. A uns 3 metros do B, que continuava a pé, fez novo
disparo a visar a cabeça do B, onde o atingiu, causandolhe esfacelamento na região
temporoparietal direita, com destruição óssea total dessa região, que foi causa
necessária da morte. A agiu com intenção de pôr termo à vida do B.
Uma vez que o A, sem qualquer justificação, matou B e o fez dolosamente,
com intenção homicida, fica logo comprometido com o disposto no artigo 131º
(homicídio simples). A questão que se levantou no recurso (cf. o acórdão do STJ
de 12 de Julho de 1989, BMJ389310) era a de saber se o crime não deveria ser o
qualificado (artigo 132º), atendendo à sua execução com motivo fútil e frieza de
ânimo (perspectiva do Ministério Público).
O Supremo entendeu que os factos não permitem considerar na espécie o
crime de homicídio qualificado do artigo 132º, por não se encontrar
comprovado quer o exemplopadrão indicado [motivo fútil e frieza de ânimo:
actuais alíneas d) e i)] quer qualquer dos outros exemplos padrão
expressamente previstos nas diversas alíneas do nº 2 do artigo 132º, quer outras
circunstâncias com idêntico significado revelador de especial censurabilidade, ou
seja, um especial juízo de culpa fundamentado na atitude especialmente
desvaliosa do A, ou de especial perversidade, quer dizer, um especial juízo de
culpa, tendo por base a expressão no facto de qualidades especialmente
desvaliosas da sua personalidade. Como se sabe, o crime de homicídio
qualificado é punido mais severamente do que acontece com o homicídio
simples, exactamente porque a sua prática revela, por banda do seu autor, uma
especial censurabilidade ou perversidade. O legislador criminal para definir, a
título meramente exemplificativo, essa censurabilidade ou perversidade,
indicou determinados índices, que são os englobados nas diversas alíneas do nº
2 do artigo 132º. Tais padrões dessa censurabilidade ou perversidade não
constituem elementos do tipo legal de crime — esses encontramse no artigo
131º — mas tão só elementos da culpa. Sendo assim, tais circunstâncias não são
M. Miguez Garcia. 2001
183
de funcionamento automático, querendose com isto significar que, uma vez
verificadas, logo se possa concluir pela censurabilidade ou perversidade do
agente (cf., com interesse, as Actas das sessões da Comissão Revisora. Parte especial,
ed. de 1979, p. 21 e ss., e, entre muitos outros, o acórdão do STJ de 20 de Março
de 1991, BMJ405220).
CASO nº 6C. Meio insidioso. Um caso de “tirania doméstica”.
• A encontravase no interior da garagem da residência de seus pais, com quem vivia.
Pretendia matar o pai, mas após alguns momentos de espera, recuou na sua decisão
de o matar e saiu da garagem. Voltou cerca de meia hora depois, novamente
determinado a matar o pai, mas algum tempo depois recuou de novo na sua decisão e
voltou a abandonar a garagem. Regressou, mais uma vez, passados alguns
momentos, e aguardou a chegada do pai, munido de um revólver. Cerca da meia
noite apercebeuse da chegada do pai e no momento em que este saía do automóvel
disparou três vezes a arma contra ele, a cerca de três metros de distância, tendoo
atingido no pescoço e na região esquerda do tórax, vindo por isso o pai a morrer. O
A, que na altura era o comandante da esquadra da PSP local, já há cerca de dois anos
vinha alimentando o propósito de matar o pai. Com efeito, este não contribuía para as
despesas domésticas, tratava a mulher e os filhos de forma prepotente e agressiva,
proporcionava aos seus mais directos familiares um clima de intensa conflitualidade
e um tenso e pesado ambiente familiar — e tudo isso, que perdurou por largos anos,
criou um sentimento de aversão e repulsa do A relativamente à vítima. Por seu turno,
o A, é pessoa sensível, de esmerada educação e bom comportamento, habitualmente
pacífica e cordata. Foi uns dois anos atrás que a ideia da morte do pai começou a
surgir no pensamento do A e este tornou a tomar consciência de que não havia outra
solução, tomando tal como uma missão a cumprir, no sentido de “fazer justiça” e
libertar a mãe do medo e do sofrimento.
Não há dúvida de que a morte do pai de A foi devida aos disparos feitos
por este com intenção de matar e com conhecimento dos restantes elementos
típicos, com o que fica preenchido o ilícito do artigo 131º, pois não se mostra
presente qualquer causa de justificação.
Em princípio, tudo parece apontar para a qualificação. O A era, à data dos
factos, comandante da esquadra da polícia local, estando indiciados no seu
M. Miguez Garcia. 2001
184
procedimento sinais demonstrativos de uma especial censurabilidade, a
enquadrar nalgumas das circunstâncias qualificantes do nº 2 do artigo 132º.
Desde logo, vencendo factores naturalmente inibidores da conduta, matou
o seu próprio pai, com desprezo pelos estreitos laços que a ambos ligavam,
tanto mais que viviam juntos na mesma casa: exemplopadrão da alínea a) do nº
2. Além disso, usou um meio traiçoeiro, insidioso, na medida em que esperou o
pai, de noite, dentro de uma garagem, disparando sobre ele três tiros de
revólver a cerca de três metros, sem lhe dar qualquer oportunidade de defesa
(alínea h). Agiu, aliás, com premeditação, materializada no modo frio como
operou — frigido pacatoque animo — na firmeza, tenacidade e irrevogabilidade
da decisão de tirar a vida ao pai, na permanente reflexão dos meios
empregados, bem como no protelamento da intenção de matar por cerca de
dois anos antes da eclosão dos acontecimentos (alínea i). Cf., nesta parte, os
considerandos do acórdão do STJ de 13 de Janeiro de 1993, no BMJ 423222.
Feita a prova dos índices estabelecidos como exemplospadrão, tratase
agora de averiguar se não ocorrem circunstâncias com a capacidade bastante
para corromper a imagem global do facto perpetrado pelo A.
• Lembra a propósito Teresa Serra (Homicídio qualificado — Tipo de culpa e medida da pena, p.
68) que na Alemanha o BGH exige, para considerar revogado o efeito de indício do
exemplopadrão, “a existência na pessoa do autor ou na sua acção de circunstâncias
extraordinárias que destaquem a sua ilicitude ou a sua culpa claramente do caso
padrão. Assim, considerase que as circunstâncias atenuantes gerais (como o bom
comportamento anterior, mérito pessoal ou cívico, a confissão espontânea, o
arrependimento ou a disposição de ressarcir os danos reparáveis) não são
susceptíveis, por si só, de contraprovarem o eleito de indício dos exemplospadrão...“.
“Daí que se possa dizer que só circunstâncias extraordinárias ou, então, um conjunto
raro de circunstâncias especiais possa anular o efeito de indício”. Exemplo disso é o
filho que mata o pai dominado pelo desespero de o ver sofrer de forma atroz no
estádio terminal de uma doença incurável e dolorosa. Ou o de o agente ter sido
levado a matar por compreensível emoção violenta.
• Os fundamentos dessa valoração global assentam nas circunstâncias do facto e nas
condições pessoais do agente, incluindo os traços da sua própria personalidade. Se o
exemplopadrão fornece determinados indícios, impõese que se avance, num
M. Miguez Garcia. 2001
185
segundo momento, no sentido de esclarecer se o efeito correspondente poderá em
concreto ser negado. Cf., a título de exemplo, o BGHSt 35, 116; e os comentários de
Laber, MDR 1989, p. 891; e Wohler, JuS 1990, p. 20. Descrevendo a técnica dos
Regelbeispiele esclarece o texto de Maiwald (Bestimmtheitsgebot, tatbestandliche
Typisierung) que estes representam simplesmente “uma suposição legal de que o caso,
globalmente considerado, é encarado como mais grave; todavia, essa suposição pode
ser desmentida. Por outro lado, mesmo que um caso se não ajuste a um dos
exemplospadrão pode ainda assim vir a ser qualificado”.
In casu, se a inimputabilidade do A foi afastada, os peritos não deixaram
também de sublinhar determinadas circunstâncias atenuantes, dados os traços
paranóides da sua personalidade. Por outro lado, o A deu a morte a seu pai no
quadro conflitual que caracterizava as relações familiares — o pai não
contribuía para as despesas domésticas, tratava a mulher e os filhos de forma
prepotente e agressiva, proporcionava aos seus mais directos familiares um
clima de intensa conflitualidade e um tenso e pesado ambiente familiar — e
tudo isso perdurou por largos anos. Acontece até que o A tomou a morte do pai
como uma missão a cumprir, no sentido de “fazer justiça” e libertar a mãe do
medo e do sofrimento.
Por isso mesmo, o tribunal considerou apagada a especial censurabilidade
para que os elementos iniciais apontavam, reputando o A como autor de um
crime de homicídio simples do artigo 131º — já que também se não comprovou
que o A, ao matar o pai, o fizesse dominado ou por compreensível emoção
violenta, desespero ou outro motivo de relevante valor social ou moral, e que
diminuísse sensivelmente a sua culpa, rejeitandose assim o enquadramento no
artigo 133º. Sobre este caso, cf. a posição crítica de Curado Neves, RPCC 11
(2001), p. 198.
CASO nº 6I. Autoria e participação; homicídio: encobrimento de outro
crime como exemplopadrão; error in persona; aberratio ictus e instigação.
• Nos últimos anos, X tem sido vítima da extorsão continuada de A. Como já não vê outra
saída, ameaça A de revelar publicamente tudo o que vem acontecendo. A teme que se
descubram as suas malfeitorias e acaba por contar tudo ao seu marido, B, pondoo ao
corrente, inclusivamente, das ameaças entretanto feitas por X. Logo porém pede ao
marido que faça uma espera a X e o mate. Mas B manifesta escrúpulos em aderir à
ideia, por motivos morais. Depois de muito hesitar decidese por fazer a vontade à
M. Miguez Garcia. 2001
186
mulher que de outro modo o abandonará. Como planeado, B esperou X sem se fazer
notado e matouo com um tiro de revólver.
Punibilidade de A e B?
• Variante: suponhase que B atira sobre o primeiro vulto que lhe aparece, julgando que se
trata de X. Para seu grande espanto, B concluiu que afinal não matou X, mas um
terceiro, T, completamente desconhecido. Ainda assim, para cumprimento do plano
traçado por A, acaba por, logo a seguir, matar X com outro tiro, quando o vê
aproximarse. (Cf. Roxin/Schünemann/Haffke, Strafrechtliche Klausurenlehre, 2ª ed.,
1975, p. 117, adaptado).
1ª situação. Punibilidade de B. Homicídio: simples ou qualificado (artigos
131º; 132º)?
B matou X voluntária e conscientemente. É autor material de um crime de
homicídio e não simples cúmplice de A. B tinha o domínio do facto e, de acordo
com a teoria materialobjectiva, que é a dominante, não se pode duvidar da
autoria de A.
Não se descortinam causas de justificação ou de desculpação.
Pode é discutirse se não se trata antes de homicídio qualificado (artigo
132º). Estará presente qualquer exemplopadrão do nº 2 do artigo 132º,
susceptível de revelar a especial censurabilidade ou perversidade de B? Poderá
dizerse que B teve em vista encobrir um outro crime ou assegurar a
impunidade de A (alínea e)? Como crime que B queria encobrir pode falarse da
extorsão praticada pela mulher: o "outro crime" pode bem ser facto de terceiro,
já que a lei não distingue, nem há razão para distinguir. Resta saber se B quis
isso mesmo. Na verdade, sabemos que o motivo que o levou a matar foi o amor
pela mulher.
Favorecimento pessoal (artigo 367º)? Quando o facto não atinge o
julgamento não será de fazer funcionar o comando do artigo 367º. Como A não
chegou a ser julgada, B não cometeu este crime. Vejase o respectivo nº 3. De
qualquer forma, nunca o favorecimento de A por B, seu marido, seria punível,
já que no nº 5 se incorporam as isenções das correspondentes alíneas, com
expressa referência ao cônjuge.
• No início da década de 1980, quando apareceu um novo código penal, já o "encobrimento"
("favorecimento pessoal") deixara de ser entendido como uma forma de participação
no crime. E a razão era simples: não se podia tomar parte em algo que já estava
M. Miguez Garcia. 2001
187
consumado. As formas de encobrimento têm sem dúvida o seu próprio conteúdo de
ilícito, na medida em que, ajudar o autor ou o partícipe de um crime a alcançar o
esgotamento material dos seus propósitos ou a conseguir defraudar a acção da
justiça, faz com o que o ilícito cristalize e até se amplie materialmente, ao mesmo
tempo que se frustra a reacção punitiva (Quintero Olivares). Só que, notese, o
encobrimento não contribui para o ilícito anteriormente realizado. Qualquer forma de
encobrimento fica assim submetida ao princípio da acessoriedade. E isso reflectese
na sanção própria do encobrimento que nada terá a ver com a do delito precedente
(acto prévio). Reparese que no artigo 232º se incrimina o auxílio ao criminoso, para
que este tire benefício da coisa ilicitamente obtida. O favorecimento pessoal como
crime contra a realização da justiça foi autonomizado nos artigos 367º e 368º.
Punibilidade de A. Extorsão (artigo 222º)?
A matéria de facto é no sentido de que A cometeu este crime (em
continuação criminosa?).
Instigação ao homicídio simples ou qualificado (artigos 26º e 131º ou 132º)?
B, dolosamente, determinou A à prática do homicídio (artigo 26º). A questão
está em saber se este é simples ou qualificado. Releva aqui o princípio da
acessoriedade e o disposto no artigo 29º. Como antes se acentuou, no artigo
132º, dada a existência de um tipo de culpa fundamental no seu nº 1, bem como
a natureza jurídica de regra de determinação de uma moldura penal agravada,
a contribuição de cada comparticipante para o facto deve ser valorada
autonomamente, enquanto reveladora ou não de uma especial censurabilidade
ou perversidade.
Coacção (artigo 154º)? B ameaçou o marido com um mal importante,
dizendo que o deixava se ele não acedesse aos seus rogos. A actuou (morte de
X), por isso, coagido. O constrangimento ao crime é sempre censurável, e A
coagiu B a matar X, pelo que se não verifica a excepção do nº 3, alínea a), do
artigo 154º. B é autora material deste crime.
2ª situação (variante). Punibilidade de B
B matou T e logo a seguir matou X. B julgava que a primeira vítima era X.
Tratase de um error in persona, irrelevante: o Direito proíbe a morte de qualquer
pessoa, seja ela qual for (perspectiva abstracta). O erro sobre a pessoa da vítima
deixa intocado o dolo homicida. Por isso, B cometeu um segundo homicídio
doloso (131º), em concurso real.
Punibilidade de A. Instigação nos homicídios de B.
M. Miguez Garcia. 2001
188
Tratase de averiguar se A instigou o homicídio de T e o de X, ou se foi
instigadora apenas de um deles e, nesse caso, qual.
• Segundo uma opinião, só haveria instigação no homicídio de T, pois o error in persona é
irrelevante tanto para o homicida como para quem colabora. O argumento não
resiste, porém, a uma simples observação: se como no caso concreto, o instigado,
depois de descobrir o erro, mata a "verdadeira" vítima, não pode o "homem por
detrás" ser punido por uma segunda instigação, pois só teve um único dolo homicida.
Dirseá contudo que o "homem por detrás" já determinou quem seria a vítima: A já
"resolveu" que a vítima seria X, é a morte deste que ela quer alcançar. É certo que,
devido ao erro do instigado, foi morto T e não X. Do ponto de vista de A, há aqui um
desvio do processo causal relativamente ao dolo na forma de uma aberratio ictus (não
foi atingida a vítima que se esperava mas um outro). O error in persona é, na
perspectiva de A, uma aberratio ictus, e a única solução correcta estará em punir o
agente por tentativa, em concurso eventual com um crime negligente consumado. E
então, a responsabilidade de A seria como segue: se B, depois de matar T, nada mais
empreendesse, A seria instigadora da tentativa de homicídio de X. Mas se B
prosseguisse e viesse a matar X, A seria punida como instigadora deste homicídio
consumado. Tudo isto significa, ao fim e ao cabo, partir de uma perspectiva concreta; o
instigador determina a morte de uma pessoa concreta e não a de uma qualquer
pessoa. E é por isso que pode ser punido pela participação na morte da vítima que
escolheu. A seria instigadora unicamente da morte de X.
Fica para ponderar se A deve ser punida como instigadora de homicídio
qualificado na pessoa de X em razão do pretendido encobrimento da extorsão
cometida por A (alínea e) do nº 2 do artigo 132º).
• CASO nº 6J. A viola M, que em seguida mata para encobrir a violação. C, que estava
presente desde o início e batia palmas, incitando A, foi quem inclusivamente forneceu
a pistola com que A disparou mortalmente sobre a vítima.
• CASO nº 6K. A mata F tendo em vista encobrir um crime. A, porém, ignorava que esse
crime estava justificado por legítima defesa.
M. Miguez Garcia. 2001
189
• CASO nº 6L. O automobilista J está a ser perseguido pela polícia após ter causado um
acidente, quando conduzia em estado de embriaguez. Para poder fugir sem ser
identificado, abalroa o carro da polícia, que se despenha por uma ribanceira lateral à
estrada, morrendo um dos ocupantes. J sabia bem que isso podia acontecer, mas quis
unicamente sair impune da situação.
• CASO nº 6M. A apercebese que deu à luz uma criança de raça não europeia, fruto de
relações sexuais que mantivera fora do convívio marital com o seu companheiro. A
logo empreendeu sobre o modo de ocultar tal facto, o que veio a concretizar através
da ministração de pesticida, que misturou no biberão e deu ao filho, F, então já no
oitavo dia de vida, determinandolhe como consequência necessária a morte. Cf., de
algum modo a propósito, o acórdão do STJ de 21 de Maio de 1992, BMJ417420.
• CASO nº 6N. A, madrasta de B, com dois anos de idade, numa altura em que o pai da
criança andava em viagem pelo estrangeiro, querendo eliminar a criança,
conscientemente deixa de lhe dar água ou qualquer alimento, assistindo impávida,
durante dias, à agonia do enteado, que acaba por morrer.
• CASO nº 6O. A comete uma tentativa de homicídio (artigos 22º e 131º) na pessoa de B.
Para encobrir este crime, mata C.
Punibilidade dos intervenientes?
• Em 1998 introduziramse no artigo 132º circunstâncias novas, contemplando as hipóteses
de o crime ser cometido contra vítima especialmente indefesa, por funcionário com
grave abuso de autoridade ou através de meio particularmente perigoso. O
acrescentamento de novas circunstâncias referentes a pessoas especialmente
indefesas e a graves abusos de autoridade visa reforçar a tutela da vítima perante
formas de exercício ilegítimo de poder. A agravação da responsabilidade penal,
nestas hipóteses, estendese a crimes contra a integridade física, contra a liberdade e
contra a honra. Esta orientação já estava consagrada nos crimes de maus tratos e
rapto (artigos 152º, nº 1, e 160º, nº 3), embora se não contemplasse ainda a situação de
gravidez. Por outro lado, a inclusão de uma circunstância relativa à utilização de
M. Miguez Garcia. 2001
190
meios particularmente perigosos procura fornecer uma base de qualificação comum
ao homicídio e às ofensas à integridade física, às quais se aplica, remissivamente, a
técnica de qualificação do homicídio (artigo 146º, nº 2). Ainda no artigo 132º elimina
se a referência a docente ou examinador público, tendo em conta a equiparação
vigente entre os ensino público, particular e cooperativo.
II. A estrutura valorativa de cada um dos índices do nº 2 do artigo 132º —
nuns casos, o juízo de culpa fundamentase em formas de realização do crime
especialmente desvaliosas, noutros casos, em qualidades especialmente
desvaliosas do agente.
Algumas das circunstâncias susceptíveis de integrarem um exemplo
padrão do artigo 132º merecem uma particular atenção.
Por ex., a utilização de veneno, que é exemplopadrão da alínea h). No
Código de 1886, o envenenamento era crime autónomo, de simples actividade
(era, por assim dizer, o paradigma do que então se chamava "crime formal"); a
pena do crime consumado era aplicável, mesmo que a vítima não morresse,
bastando que o veneno tivesse sido ministrado com intenção de matar.
“Recordemonos da sanha com que o Código anterior [de 1886] tratava o
envenenador, aplicandolhe a pena máxima de 20 a 24 anos,
independentemente da quantidade de veneno e da morte do visado”: acórdão
do STJ de 18 de Fevereiro de 1986, BMJ354329. Actualmente, a necessidade de
o autonomizar perdeu muito da sua razão de ser, face aos modernos meios de
detecção dos venenos. Na alínea h) está em causa toda e qualquer substância
que possa dar a morte à vítima, "mesmo que essa circunstância só lhe possa
provocar a morte por causa de certas características especiais da vítima" (Rui
Carlos Pereira). O critério de aferição é o da causalidade adequada. Recordese
o caso do vidro moído, objecto de decisão judicial de 1979 (BMJ290474), e o do
açúcar dado a um diabético que o não pode tomar em grandes quantidades. O
agente, de propósito, dálhe açúcar sem que a vítima se aperceba, sobrevindo
em consequência a morte. O veneno é o paradigma do meio insidioso; com o
emprego de veneno, a vítima, por regra, nem sequer se apercebe que está a ser
objecto de um atentado, o que torna quase impossível que se defenda (Costa
Pinto, Direito Penal, II).
M. Miguez Garcia. 2001
191
• Em 1956, foi julgado o pai de um menino de 23 meses, que mandou acender dois fogareiros
atulhados de carvão vegetal num pequeno quarto, com intenção de tirar a vida à
criança. Exposta às emanações provenientes da combustão do produto, a morte
ocorreu por intoxicação pelo óxido de carbono que se encontrava no aposento, de
diminutas dimensões e sem ventilação apreciável. Tendose colocado a criança em
termos de respirar o ar viciado, com as portas e as janelas do aposento fechadas,
provocavaselhe a morte, já que a ténue e insignificante corrente de ar produzida
pelas frinchas dessas portas e janelas não poderia evitar o seu envenenamento
(acórdão do STJ de 8 de Fevereiro de 1956, BMJ54182).
O conceito de meio insidioso abrange, como logo se vê, várias situações
envolventes de meios ou expedientes com relevante carga de perfídia bem
como os particularmente perigosos que tornam difícil ou impossível a defesa da
vítima. Abrange a espera, a emboscada, o disfarce, a surpresa, a traição, a
aleivosia, o excesso de poder, o abuso de confiança ou qualquer fraude (acórdão
do STJ de 11 de Junho de 1987, BMJ368312; acórdão do STJ de 11 de Dezembro
de 1991, BMJ412183). Entre os meios insidiosos contase a traição, entendida
como ataque súbito e sorrateiro, atingindo a vítima descuidada ou confiante
que, assim, fica praticamente impossibilitada de esboçar qualquer gesto de
defesa, pois não se apercebe de que está a ser objecto de um atentado (acórdão
do STJ de 31 de Outubro de 1996, BMJ460444). Quando a lei fala em meio
insidioso não quer necessariamente abarcar os instrumentos habituais de
agressão (o pau, o ferro, a faca, a pistola, etc.), ainda que manejados de
surpresa, mas sim aludir tanto às hipóteses de utilização de meios ou
expedientes com uma relevante carga de perfídia, como aos que são
particularmente perigosos e que, não pondo em risco o agente, do mesmo passo
tornam difícil ou impossível a defesa da vítima (acórdão do STJ de13 de
Outubro de 1993, BMJ430248; acórdão do STJ de 11 de Janeiro de 1995, BMJ
44355). Para os costumes e tradição do nosso povo e da nossa história, matar
um homem só porque ele é negro, é particularmente censurável e chocante.
Constitui meio insidioso de provocar a morte, revelando uma especial
censurabilidade e perversidade, o seguinte quadro de circunstâncias: onze
homens, cinco dos quais calçando botas com biqueira em aço, pontapeiam e dão
murros a um único homem; ainda por cima, um dos onze homens pega na base
de cimento de um sinal de trânsito e dá com ela duas vezes na cabeça da vítima;
para além disso, três dos onze homens voltam depois atrás para darem ainda
mais pontapés na vítima já agonizante, tudo numa rua que parece deserta e
M. Miguez Garcia. 2001
192
cerca da 1H 30. Acórdão do STJ de 12111997 Processo n.1203/97. Os tribunais
alemães em certa altura julgaram um mecânico que, para matar o cliente,
deliberadamente lhe desafinou os travões do carro. Esta circunstância radica no
facto de os meios utilizados tornarem “difícil a defesa da vítima ou arrastarem
consigo o perigo de lesão de uma série indeterminada de bens jurídicos”
(Fernanda Palma, Direito Penal Especial — Crimes contra as Pessoas, 1983, p. 65).
Meio insidioso é "o dissimulado em sua eficiência maléfica" (Paulo José da
Costa Jr., p. 120).
• No caso do acórdão do STJ de 7 de Dezembro de 1999, BMJ492168, o A, ao procurar a
vítima com a qual altercara por duas vezes, munido de uma espingarda de pressão
de ar transformada, não saindo de dentro da sua viatura, com a arma ocultada
deitada sobre os joelhos e com o cano virado para a direita, tendo chamado a vítima
para logo a seguir disparar à “queima roupa”, de tal forma inesperada que o tiro já
estava consumado quando o B esboçava o gesto de afastar de si o cano da arma:
tratouse de agir traiçoeiro, desleal, em termos de revelar a especial censurabilidade
do agente.
Por sua vez, o conceito de meio de perigo comum é fácil de alcançar quando
o agente, por ex., emprega uma bomba ou uma granada de mão dirigida a uma
pessoa ou a um número limitado de vítimas. Mas se utiliza uma faca com uma
lâmina de 13 cm, como no caso do acórdão do STJ de 13 de Maio de 1992, BMJ
417348, é duvidoso que se trate de meio de perigo comum, "antes parecendo
apenas a arma adequada a, quando manejada com força, causar a morte". Trata
se daqueles casos em que a conduta é realizada com o emprego de meios que
revelam uma enorme potencialidade expansiva, tornando difícil o controlo dos
seus efeitos (cf. Augusto Silva Dias, Entre "Comes e bebes", RPCC 8 (1998), p.
544). Com o emprego de uma bomba, o agente não pode em geral determinar
nem limitar os efeitos das forças que ele próprio desencadeia, não pode avaliar
antecipadamente o número de pessoas que irão morrer: a bomba é portanto um
instrumento dessa natureza. Cf. o acórdão do STJ de 11 de Janeiro de 1995, BMJ
44344 quanto ao uso de navalha de ponta e mola.
• A dificuldade de controlar os efeitos do emprego de certos meios é que caracteriza o
desvalor da acção dos crimes de perigo comum a que faz apelo a alínea f) do nº 2 do
artigo 132º como indício de especial perversidade ou censurabilidade do agente,
recorda Augusto Silva Dias, Entre "comes e bebes", p. 545, que acrescenta: "Não se
M. Miguez Garcia. 2001
193
trata de um regra especial de punição do concurso entre o homicídio e os crimes de
perigo comum, pois a al. f) apenas alude aos meios que se traduzem na prática de
crime de perigo comum, independentemente do modo como o crime de perigo
comum se estrutura em cada um dos preceitos incriminadores do art. 272 e ss. Meio
de perigo comum significa na al. f) um meio tipificado no art. 272 e ss. (não basta um
meio em geral perigoso, como, por exemplo, um automóvel descontrolado) cuja força
expansiva é utilizada de modo a ameaçar, incontrolavelmente, uma variedade de
bens jurídicos de uma série indeterminada de pessoas". (...) "Na perigosidade do
meio, assim caracterizada, reside o "plus" que agrava especialmente o desvalor da
acção do homicídio e constitui, por essa via, indício de uma atitude acentuadamente
censurável ou perversa. As concretas incriminações de perigo ou ficam aquém do
conteúdo desse indício, como sucede no crime de perigo presumido do art. 275, que
não requer a comprovação da perigosidade do meio, nem admite a averiguação da
sua total falta de nocividade, ou situamse além dele, como é o caso dos crimes de
perigo comum concreto que exigem, além da prova da perigosidade do meio, a
confirmação de que pelo menos um representante da comunidade tipicamente
relevante foi posto em perigo. “
• “Este diferente posicionamento perante a circunstância qualificadora da al. f)”, escreve
ainda o mesmo Autor, “tem repercussões práticas ao nível do concurso. Entre a
detenção ou uso de armas proibidas "fora das condições legais ou em contrário das
prescrições da autoridade competente" (art. 275, nº 2) e o homicídio qualificado (art.
132, nº 2, al, f), não nos parece adequado falar em concurso efectivo, pois a
perigosidade geral do meio já é tida em conta na contabilidade punitiva da última
incriminação". Em idêntico sentido, apontase Pinto de Albuquerque, Crimes de perigo
comum, p. 280.
A utilização de meio particularmente perigoso é circunstância introduzida em
1998. Neste caso, o agente não ignora o carácter genericamente perigoso do
meio que utiliza. Na versão inicial do Código, a jurisprudência preocupouse
com a definição do que fosse um meio particularmente perigoso, para aplicação
ao crime de perigo do artigo 144º (ofensas corporais com dolo de perigo),
entretanto desaparecido com essa conformação, entendendose que o conceito
M. Miguez Garcia. 2001
194
de “meios particularmente perigosos” tem de apurarse casuisticamente
(acórdão da Relação do Porto de 17 de Fevereiro de 1988). Essa noção foi sendo
dilucidada em razão de três coordenadas: perspectiva em concreto, aferição
segundo critérios de normalidade e regras de experiência comum, idoneidade
para pôr em grave risco a vida dos atingidos, ou causarlhes lesões graves.
Cometia o crime de ofensas corporais com dolo de perigo (144º2, do Código
Penal de 1982), por ex., o agente que, segurando um ancinho pelo cabo, vibrou
voluntariamente com a parte metálica uma pancada no antebraço esquerdo da
ofendida, provocandolhe fractura (acórdão do STJ de 11 de Julho de 1990).
• Noutros casos, considerouse meio particularmente perigoso: uma navalha ou um punhal,
acórdão do STJ de 30 de Novembro de 1983, BMJ331356; uma tesoura de podar,
cães, balde de água quente e automóvel, acórdão do STJ de 12 de Abril de 1989, CJ,
XIV, tomo 3, p. 6; uma arma de fogo, acórdão do STJ de 13 de Dezembro de 1989,
BMJ392224; uma panela de sopa a ferver, acórdão da Relação do Porto de 16 de
Dezembro de 1987, CJ, Xll, tomo 5, pág. 242; uma barra de ferro, um fueiro e uma
enxada, acórdão da Relação do Porto de 17 de Fevereiro de 1988, CJ, XIII, tomo 1,
pág. 237; o arremesso de peso de dois quilogramas, acórdão da Relação de Coimbra
de 28 de Maio de 1986. CJ, Xl, tomo 3, pág. 85.
O exemplopadrão continuará a ter a sua área de aplicação justificada,
sobretudo, no domínio dos crimes contra a integridade física (artigo 146º). Para
o seu funcionamento no plano agravativo do homicídio, bom é que se busque
um critério como o proposto pelo Prof. Figueiredo Dias (Conimbricense, PE I, p.
37). Exigindo a lei que o meio seja particularmente perigoso, há que concluir ser
desde logo necessário que o meio revele uma perigosidade muito superior à
normal dos meios usados para matar. Doutro modo, passará efectivamente o
homicídio agravado a constituir a formaregra do homicídio doloso, já que
todas as facas, navalhas, punhais, etc. são perigosos ou muito perigosos.
Eis o ponto extremo a que a crueldade pode chegar, segundo Montaigne,
Essais, Liv. II, Chap. II: “que um homem mate um homem, não por cólera, ou
por medo, mas somente para o ver morrer”, “ut homo hominem non iraturus,
non timens, tantum spectaturus, occidat” (Séneca). Ser determinado pelo prazer de
matar é um dos exemplos da alínea c). Houve tempo em que se relacionava o
prazer de matar (Mordlust) com a pura satisfação, o prazer desnaturado que o
agente patenteava no facto de aniquilar uma vida humana, mas esta
caracterização foi entendida como equívoca, por parecer relacionada com um
M. Miguez Garcia. 2001
195
qualquer distúrbio mental do agressor (cf. Jähnke, p. 43). Aliás, sempre se
poderia perguntar se realmente há um prazer “natural” no acto de matar. Para
o BGH alemão, o ponto de vista decisivo passou a residir no facto de a morte da
vítima, enquanto tal, ser o único objectivo do criminoso. Deste modo, é
determinado pelo prazer de matar o indivíduo a quem só interessa ver uma
pessoa morrer, aquele que mata por malvadez, por jactância, o que encara a
morte do outro como um estímulo ou um prazer desportivo, enfim, o que mata
por passatempo (cf. Küpper, p. 11).
Para excitação ou para satisfação do instinto sexual, acrescentase na alínea c).
É ainda uma forma de ser determinado pelo prazer de matar, buscando o
criminoso a satisfação sexual no próprio acto de dar a morte, mas também
quando mata para se satisfazer sexualmente no cadáver. De modo que é
irrelevante apurar se o criminoso procede de antemão com esse objectivo, ou se
planeia apenas violar a vítima e na execução do crime decide matála. A vítima
do prazer de matar e a do comportamento homicida deverão ser uma e a
mesma pessoa. Se o criminoso mata o acompanhante de uma mulher para com
esta conseguir consumar o acto sexual, será caso a enquadrar na alínea e): ter
em vista executar outro crime. Faltará no entanto o necessário nexo entre a
satisfação do impulso e o homicídio, quanto se mata para conseguir levar a cabo
ou prosseguir uma relação com um outro parceiro. Poderá então tratarse
simplesmente de motivo fútil. Cf. Jähnke, p. 44. A hipótese do dolo eventual
poderá compaginarse com alguns destes casos. Assim, também mata para
satisfazer impulsos sexuais quem durante uma violação se conforma com a
morte da sua vítima.
A avidez com que abre a alínea c) significa um desejo de ganho “a qualquer
preço”, ainda que seja ao preço de uma vida humana. O criminoso actua por
avidez quando, para ter o que quer, viola as mais elementares exigências de
autodomínio. Estará em causa igualmente a mais grosseira ausência de valores
reflectida na atitude de imoderação desse quererter, que só com uma avaliação
de conjunto, envolvendo a vivência subjectiva da situação e os objectivos do
comportamento do criminoso, poderá ser afinal confirmada. O homicida
esforçase então por alcançar bens materiais ou vantagens de um modo tão
desenfreado e sem peias que ultrapassa largamente tudo o que é admissível. Ou
o criminoso tem em vista ficar com os bens do cônjuge ou do tio rico, de quem é
herdeiro, ou beneficiar dum seguro de vida, sem que aliás se torne necessário
alcançar a vantagem patrimonial. A afirmação do dolo eventual seria porém
contraditória com qualquer destas hipóteses. Ou naqueles casos em que o
ladrão mata a vítima para a roubar, sendo então possível que o faça com dolo
M. Miguez Garcia. 2001
196
eventual. Há quem aqui inclua os casos em que o homicida mata para não ter
que pagar uma dívida ou para se ver livre do pagamento de uma pensão,
quando, em suma, pretende simplesmente evitar uma diminuição patrimonial
ou poupar nas despesas. Mas é uma opinião duvidosa, talvez seja preferível
invocar “motivo fútil” se alguém mata uma criança para lhe não pagar a pensão
decretada pelo tribunal; ou se, para alcançar o que “é seu” de direito, mata um
devedor que se recusa a pagarlhe, já que só assim se lhe adequa o específico
carácter de uma especial censurabilidade.
Outro exemplo a ter em conta está na alínea f): "ter em vista preparar,
facilitar, executar ou encobrir um outro crime, facilitar a fuga ou assegurar a
impunidade". Escreve Jähnke que o indivíduo que no caminho para a comissão
dum crime se quer ver livre de uma pessoa, matandoa, actua com elevada
censurabilidade. Se o agente mata tendo em vista, por ex., executar um outro
crime, é patente o presente exemplopadrão, mas se apenas tem em vista uma
contraordenação o que poderá detectarse é um motivo fútil. É por outro lado
irrelevante saber quem deverá ser agente ou vítima do outro crime; dá no
mesmo se o criminoso com o homicídio tem em vista preparar ou facilitar um
crime alheio. O homicídio será qualificado se o agente mata o acompanhante
duma rapariga para ter relações de sexo com esta usando de violência. Olhando
aos objectivos do criminoso, não é necessário que o homicídio anterior seja
condicio sine qua non do crime posterior. Basta que este seja facilitado com o crime
de morte. O ladrão que podia operar sem se fazer notar pelo vigilante mas que
prefere matálo, actua com especial perversidade, porquanto sacrifica uma vida
para se apropriar do que lhe interessa. Assentemos porém em que o homicídio
deverá constituir sempre o crime meio para a realização do outro crime, não
podendo ser simplesmente um facto acompanhante ou uma sua consequência
— o outro crime não terá contudo de ser realizado. Entre o homicídio e o "outro
crime", aquele que se tem em vista preparar, facilitar, executar ou encobrir,
poderão interceder problemas de concurso. Se este outro crime for praticado
quando o ladrão mata tendo em vista a subtracção de dinheiro na posse da
vítima (avidez), deverá ser punido com a pena do homicídio qualificado, que
engloba o desvalor do roubo igualmente consumado. Se o agente que praticou
um roubo espontaneamente mata a vítima do roubo para o encobrir, o caso
limitase ao homicídio qualificado, que consome aquele. Se o homicídio for
duma testemunha incómoda (outra pessoa), haverá roubo e homicídio, em
concurso. Um dos casos mais discutidos situase no âmbito dos crimes
permanentes, como o sequestro. Se um dos sequestradores, que tem em vista
M. Miguez Garcia. 2001
197
impedir a libertação dos reféns, mata o polícia que se esforça por libertar os
detidos, o crime é também o qualificado.
Há autores alemães para quem a “intenção de encobrir um outro crime” é,
a vários títulos, uma característica problemática, já que este objectivo da
conduta não envolve, de modo necessário, uma culpa particularmente elevada,
ou seja, a especial censurabilidade da atitude do agente (Schmidhäuser). Tal
culpa é certamente de afirmar quando o agente planeia o homicídio já antes ou
na fase inicial do crime que com ele pretende encobrir. Ou quando dispõe de
uma fase de acalmia depois de cometer o crime que tem em vista encobrir com
o homicídio. Já não será assim nos casos de identidade da direcção de ataque, se por
exemplo, o crime anterior era, também ele, dirigido contra a vida, ou contra a
integridade física, e os dois crimes surgiam de uma situação conflitiva
imprevista (dupla espontaneidade). Havendo uma estreita coincidência temporal,
para além da coincidência dos bens jurídicos sacrificados, a qualificação não
estaria indiciada, por não existir uma relevante intenção de encobrir um outro
crime. Vejase o seguinte exemplo de Küpper, p. 15.
• O empregado comercial com cadastro criminal E envolvese em discussão com a cliente C,
no decorrer da qual ele a agride com um murro que a projecta contra uma esquina do
balcão, ficando C prostrada, sem sentidos. Para esconder o crime e livrarse de
responsabilidades, E mata a C.
Nomeadamente, não haverá homicídio para encobrir se o criminoso actua
em situação de pânico imediatamente depois de cometer o crime que tem em
vista encobrir, por temer ser surpreendido.
• No caso do acórdão do STJ de 20 de Março de 1991, BMJ405220, o homicídio é o do artigo
131º — e não o qualificado pela alínea f) do nº 2 do artigo 132º — seguido de um
crime de furto. A, após matar a vítima, furtou 10 maços de cigarros, no valor de
1.300$00, que se encontravam numa prateleira de um bar de uma estação de caminho
de ferro, de que a vítima era guarda, sendo certo que a actuação homicida do arguido
se ficou a dever à circunstância de a vítima — perante a insistência do A em que lhe
desse um cigarro ou lhe vendesse um maço e da violência com que o A batera à porta
do bar — haver telefonado para a GNR a fim de a a alertar, sem o conseguir, porém,
por o A, de imediato e por não ter levado a bem a atitude do guarda da estação, ter
M. Miguez Garcia. 2001
198
pegado num banco e com tal objecto lhe ter desferido duas violentas pancadas na
cabeça.
O exemplopadrão do nosso artigo 132º inclui ainda aquelas situações em
que o agente tem em vista facilitar a fuga ou assegurar a impunidade, ficando
nele envolvido o responsável por um acidente de viação que apenas quis
"encobrir a sua identidade" — sem que se possa dizer que tinha em vista
"encobrir o seu crime" —, e que ao fugir atropela mortalmente um polícia. Para
a jurisprudência suíça, entre as circunstâncias que podem indiciar o carácter
particularmente perverso ou perigoso do agente (assim, no artigo 112 do
respectivo Código Penal) contamse a eliminação de uma vida para impedir que
se descubra outro crime ou para o agente se poupar a aborrecimentos, ou ainda
para "castigar" quem se encontrava no local errado na hora do crime.
• O acórdão do STJ de 11 de Novembro de 1993, BMJ431233, ocupouse de um caso de
homicídio qualificado em que o arguido matou a vítima para encobrir um crime que
praticara e outro que estava praticando ao verse descoberto.
Quase seria desnecessário dizer que situações como as descritas por
último não devem ser confundidas com o homicídio seguido da destruição do
cadáver para ocultar crime próprio. O acórdão do STJ de 13 de Maio de 1992,
BMJ417348, ocupouse da morte de uma pessoa que ganhou foros de
crueldade pela conduta posterior do agente, que depois de seccionar os
membros inferiores do cadáver os colocou num saco e o tronco numa mala e os
atirou ao rio. Aqui foi ofendido o sentimento de veneração e piedade que os
mortos suscitam (artigo 254º), mas o homicídio já estava consumado como
homicídio simples.
A expressão “ter em vista” identificase de algum modo com a intenção
posta no agir dirigido a um certo fim. Mas não se afasta a coexistência com o
dolo eventual. Se o agente tem em vista preparar um outro crime, o facto não
terá que ser necessariamente meio para cometer o outro crime; pode muito bem
acontecer que o agente se decida pelo comportamento criminoso porque
simplesmente acredita que assim pode cometer o outro crime mais facilmente
ou de forma mais rápida. Cf. Schroeder, JuS 1994, p. 294.
O acórdão do STJ de 17 de Maio de 1995, CJ1995, II, p. 201, ocupouse do
ciúme: este não é incompatível com a frieza de ânimo, salvo no caso de flagrante
delito de infidelidade. Cf. Couto Soares Pacheco, O ciúme, Edições
Afrontamento, 1998. Mas uma actuação eivada de sanguefrio, insensibilidade e
M. Miguez Garcia. 2001
199
desrespeito pela vida alheia preenche o requisito da "frieza de ânimo" (acórdão
do STJ de 22 de Março de 1995, BMJ445123).
Quem mata, tendo em vista encobrir um crime putativo (crime
imaginário), é determinado por motivo fútil (alínea d)? Reparese a propósito que
é no subjectivismo do agente que deverá ser encontrada a natureza da
motivação do crime para efeitos da futilidade do motivo. Acórdão do STJ de 24
de Novembro de 1998, BMJ481149. “Face às concepções éticas e morais da
sociedade deve considerarse motivo torpe ou fútil o que é “pesadamente
repugnante, baixo ou gratuito”, em que o “facto surge produto de um profundo
desprezo pelo valor da vida humana”. Motivo fútil é aquele que é
“notoriamente desproporcionado ou inadequado do ponto de vista do homem
médio em relação ao crime praticado”; para além da desproporcionalidade,
deve acrescer a insensibilidade moral, que tem a sua manifestação mais alta na
brutal malvadez ou se traduz em motivos subjectivos ou antecedentes
psicológicos que, pela sua insignificância ou frivolidade, sejam
desproporcionados com a reacção homicida” (cf. os acórdãos do STJ de 7 de
Dezembro de 1999, BMJ492168; e de 11 de Dezembro de 1997, BMJ472163).
• Para comentar. “Adiantarei que o artigo 132º do Código Penal é, a meu ver,
inconstitucional. Em primeiro lugar, entendo que o princípio da necessidade das
penas e das medidas de segurança (artigo 18º, nº 2, da Constituição) é incompatível
com agravações especiais exclusivamente fundamentadas na culpa e estranhas à
gravidade do ilícito. Aliás, este argumento é agora reforçado pela consagração da
defesa de bens jurídicos como fim das penas e pela atribuição à culpa de uma função
meramente restritiva da responsabilidade (artigo 40º, nºs 1 e 2). Ao prever uma
agravação que, pretensamente, se fundamenta apenas na culpa, o legislador não
respeita o seu próprio programa políticocriminal. Em segundo lugar, penso que é
nítido o substracto de ilicitude das circunstâncias expressamente previstas no nº 2 do
artigo 132º, sobretudo quando elas se referem ao modo de ser objectivo da acção, mas
também quando documentam o modo de implicação pessoal do agente na acção.
Deste modo, uma enunciação exemplificativa violaria o princípio da legalidade
criminal (artigo 29º, nº 1, da Constituição). Aliás, as circunstâncias previstas no nº 2
do artigo 132º têm uma notória pretensão de exaustividade. E, por outro lado, será
difícil explicar convenientemente a parcial coincidência das penalidades dos
M. Miguez Garcia. 2001
200
homicídios simples e qualificado, quando se conceba o segundo, exclusivamente,
como um tipo de culpa, referido aos tipos de garantia e de ilícito do primeiro”. Rui
Carlos Pereira, Os crimes contra a integridade física, p. 194).
III. Fundamentação da existência de homicídio qualificado na pessoa da
vítima tão somente na cláusula geral contida no nº 1 do artigo 132º?
O acórdão do STJ de 11 de Novembro de 1993, BMJ431214, ocupouse de
um caso de "uxoricídio". Considerou que, sendo o casamento uma fonte tão
forte de laços jurídicos, morais e sentimentais da união conjugal, bem se
compreende que o uxoricídio possa ser punido, em abstracto, não pelo artigo
131º, mas pelo artigo 132º, nºs 1 e 2, alínea a). O acórdão encontrou motivos de
intensa reprovação no facto de a vítima do homicídio ser mulher do agente que,
ao matála, violou gravemente o dever de respeito e de cooperação que a lei lhe
impõe, não se descortinando por parte daquele qualquer atitude que, mínima e
humanamente, permita compreender a sua brutal atitude; não se coibindo de
cometer o crime na presença dos próprios filhos ou, pelo menos, de o praticar
em termos de que eles tiveram clara e próxima percepção, agindo sempre sem
qualquer hesitação, e não revelando uma personalidade estranha ao seu
comportamento, já que não mostrou arrependimento por ter causado a morte à
sua companheira e mãe dos filhos. Mas na alínea a) cit. não se contempla a
pessoa do cônjuge e esta forma de proceder dos tribunais tem sido criticada (cf.,
nomeadamente, Teresa Serra, Jornadas, cit., p. 133, aludindo a tomadas de
posição da Escola de Coimbra “mal compreendidas”), vindo agora o Prof.
Figueiredo Dias (Conimbricense, PE, I, p. 28) desvincularse duma tal
jurisprudência “obviamente errada”, garantindo que a seu favor se não poderá
invocar uma qualquer “escola” de direito penal. Neste caso, o acórdão lançou
mão de critérios que temos por menos seguros e passíveis de arbitrariedade, hoc
sensu ofensivos do princípio da legalidade, como é a fundamentação da
existência de homicídio qualificado na pessoa da vítima tão somente na
cláusula geral contida no nº 1 do artigo 132º. Com efeito, a admissão de outras
circunstâncias, para além das referidas no nº 2 do artigo 132º, em que a
enumeração legal não é taxativa, reveladoras da especial censurabilidade ou
perversidade do agente “tem de limitarse aos casos em que tais circunstâncias
exprimam um grau de gravidade e possuam uma estrutura valorativa à
imagem de cada um dos exemplospadrão enunciados no nº 2” (Teresa Serra,
Homicídios em Série). O acórdão não tratou de seguir este caminho.
M. Miguez Garcia. 2001
201
IV. Comparticipação em homicídio qualificado
A questão da comparticipação no homicídio qualificado: artigo 28º
(ilicitude na comparticipação), artigo 29º (culpa na comparticipação: situação
em que 2 ou mais agentes contribuem para o homicídio qualificado). É
necessário ter presente a distinção entre crimes comuns e crimes específicos,
próprios e impróprios, para se compreender o regime da comparticipação e da
eventual aplicabilidade do artigo 28º em relação a cada tipo de crime.
Como se recordará, o artigo 28º vem permitir que a punibilidade de
qualquer comparticipante portador de qualidades ou relações especiais se
comunique aos restantes agentes da comparticipação. Mesmo que seja o
partícipe (instigador ou cúmplice) a exibir a circunstância especial, a punição
pode transmitirse ao autor “leigo”. Ou seja, a ligação centrípeta entre a
gravidade do facto central (de autoria imediata, mediata ou de coautoria
material) e a do facto periférico de participação (instigação ou cumplicidade) é
aqui eliminada (cf. Maria Margarida Silva Pereira, Da autonomia do facto de
participação, O Direito, 126º (1994), p. 575).
No entanto, para quem entende que o artigo 132º contém apenas um tipo
de culpa este problema não se põe. Sendo a culpa intransmissível, nos termos
do artigo 29º, a punição de cada comparticipante depende apenas do seu grau
de culpa. Tratase, portanto, de saber como valorar a contribuição de cada um
dos comparticipantes. Se se verificam circunstâncias do nº 2 do artigo 132º num
dos agentes do crime podem elas ser imputadas num comparticipante?
Responde Teresa Serra: No artigo 132º, dada a existência de um tipo de culpa
fundamental no seu nº 1, bem como a natureza jurídica de regra de
determinação de uma moldura penal agravada, a contribuição de cada
comparticipante para o facto deve ser valorada autonomamente, enquanto
reveladora ou não de uma especial censurabilidade ou perversidade. A
distinção de circunstâncias relativas à ilicitude importa na medida em que, no
âmbito da referida valoração autónoma, permita, em certos casos, uma
delimitação da punibilidade.
• Acórdão do STJ de 8 de Junho de 1960, BMJ98352: A morte dum “tirano familiar”, julgada
há 40 anos. Parricídio, comunicabilidade de circunstâncias: No dia 10 de Dezembro
de 1958, a vítima chegava a casa, em Serpa, algo embriagada e, pegando na
espingarda, sentouse à lareira, vociferando as costumadas ameaças de matar a
mulher e filhos e de suicidarse, em seguida. Seriam 23 horas quando isto acontecia e,
passada uma hora, perto da meia noite, já quando o Serrano começava a dormitar,
M. Miguez Garcia. 2001
202
cansado de clamar impropérios e toldado pelo álcool, sua mulher, mais uma vez,
incitou o filho de ambos a matar o pai, indicandolhe a machada que devia ser
utilizada e, acenandolhe com as mãos, a maneira como ele devia actuar. Então, o
Manuel (de 16 anos de idade), obedecendo a sua mãe, pois doutro modo não teria
agido, vibrou sobre a cabeça de seu pai, com manifesta intenção de matar, nem mais
nem menos do que nove violentas machadadas, das quais, apenas uma não seria
mortal. “Produzindo na vítima duas graves feridas incisas na cervical, uma na
abóbada craniana (...), o monstruoso filho da Maria da Encarnação determinava,
como consequências necessária de oito dessas lesões, a morte daquele que o
procriara” (sic).
V. Indicações de leitura
• Acórdão do STJ de 9 de Julho de 2003, CJ 2003, tomo II, p. 240: compatibilização da
qualificação do homicídio e da produção do evento com base na mesma relação de
parentesco; prevalência da regra in dubio pro reo.
• Acórdão do STJ de 12 de Abril de 2000, CJ ano VIII (2000), tomo 2, p. 172: medidas de
segurança; pressupostos da duração mínima do internamento; crime de homicídio voluntário
qualificado, com uma anotação na RPCC 10 (2000). Considerouse incorrecta a decisão do
tribunal a quo em integrar os factos na previsão do artigo 132º do Código Penal, para o qual
relevam somente questões atinentes à culpa — o ilícito típico em questão para efeitos de
aplicação da medida de segurança era o do artigo 131º.
• Acórdão do STJ de 1 de Outubro de 1998, CJ VI (1998), tomo III, p. 180: o recurso a uma
navalha ou canivete, como arma branca que é, tem sido considerado como utilização cobarde e
insidiosa duma arma de corte; é indicador da existência de perigo para a vida tornarse
necessário proceder a uma operação cirúrgica de urgência em consequência duma agressão
física; comete pois o crime de ofensas corporais qualificadas pelas aludidas circunstâncias
aquele que desfere, com uma navalha que transportava, um violento golpe no pescoço e
posteriormente atinge o mesmo ofendido, por mais duas vezes no abdómen.
M. Miguez Garcia. 2001
203
• Acórdão de 1 de Junho de 1995, CJ, ano III (1995), tomo III, p. 178: crime passional; não é
crime passional o homicídio do amante da arguida, que ela e o seu marido planearam
previamente.
• Acórdão do STJ de 4 de Julho de 1996, CJ, ano IV (1996), tomo II, p. 222: tratase de
tentativa de um crime de homicídio qualificado, praticado com meio insidioso, em que a pena
de 3 anos de prisão foi declarada suspensa por 4 anos; arguido de 65 anos, sem antecedentes,
cujo crime, praticado sob o efeito do álcool — cujo consumo logo abandonou — aparece como
um acto isolado, sendo desconforme à sua personalidade, tanto mais que continuou a viver em
harmonia na companhia da ofendida, que de imediato lhe perdoou.
• Acórdão do STJ de 4 de Maio de 1994, CJ, ano II (1994), tomo II, p. 201: crime de homicídio
qualificado por a conduta do arguido se mostrar dominada por um motivo torpe: o homicídio
foi realizado com a finalidade de regularização forçada de contas de um negócio imoral e
penalmente proibido como é o tráfico de estupefacientes.
• Acórdão do STJ de 7 de Maio de 1997, BMJ467419: o dolo eventual é perfeitamente
compatível com a punição pelo crime do artigo 132º.
• Acórdão do STJ de 17 de Abril de 1991, CJ 1991, tomo II, p. 23: a circunstância de o agente
ter actuado com dolo eventual não é suficiente para afastar a qualificação do homicídio quando
o motivo é fútil.
• Acórdão do STJ de 19 de Novembro de 1997, BMJ471134: o arguido agiu em estado de
irritação por a vítima estar a urinar contra a parede da discoteca, quando nesta existia casa de
banho e porque acontecimentos anteriores, distúrbios e desacatos, o haviam excitado e
enervado: não se verifica o condicionalismo da al. g ) do nº 2 do artigo 132º. Provado o estado
de excitação ou irritação, é lógico deduzir que o arguido estivesse de algum modo perturbado
nas suas faculdades de autodomínio e ponderação, situação adversa a uma reflexão calma, fria
e ponderada, conatural à categoria da “frieza de ânimo”. Mas a reacção foi desproporcionada
em face do eminente valor da vida humana que foi violado. A futilidade do acto é assim
inquestionável.
• Acórdão do STJ de 25 de Junho de 1997, BMJ468159: homicídio de advogado no exercício
de funções.
M. Miguez Garcia. 2001
204
• Acórdão do STJ de 10 de Dezembro de 1997, BMJ472142: o arguido continuou a desferir
golpes na vítima depois de esta ter caído ao chão e, indiferente aos seus gritos e gemidos de
dor, colocouse em cima dela, sentandose sobre as pernas e continuando a anavalhála pelas
costas, o que tudo traduz só por si um acentuadíssimo desvalor da personalidade do agente
concretizado no facto, suficientemente caracterizador de especial perversidade e significante de
um grau de gravidade equivalente à estrutura valorativa do Leitbild dos exemplos padrão do
nº 2 do artigo 132º do Código Penal.
• Acórdão do STJ de 10 de Dezembro de 1997, BMJ472142.
• Acórdão do STJ de 14 de Abril de 1999, CJ, acórdãos do STJ, ano VII, tomo 2, p. 174:
verificase concurso real de um crime de homicídio e de dois de roubo quando os arguidos,
para se apoderarem do dinheiro que levava, matam o motorista do taxi e depois o conduzem
para local ermo, onde lhe retiram o dinheiro.
• Acórdão do STJ de 20 de Maio de 1999, BMJ487221: premeditação, meio insidioso, uso de
pistola sacada de repente do portaluvas do carro e apontada na direcção da cabeça da pessoa
que vai ao lado do condutor, que é atingida e morre imediatamente.
• Acórdão do STJ de 13 de Dezembro de 2000, CJSTJ, ano VII (2000), tomo III, p. 247: com
voto de vencido, a entender que a perigosidade da arma usada não se afere apenas pelo
instrumento em si mas também pelas circunstâncias e contexto em que dela se faz uso.
• Detlev SternbergLieben, Tod und Strafrecht, JA (1997), p. 80.
• Eberhard Schmidhäuser, Strafrecht, BesondererTeil. Grundriß. 2ª ed., 1983.
• Eduardo Vasquez Límon da Silva Cavaco, Homicídio qualificado: motivo fútil:
encobrimento de outro crime, Rev. do Ministério Público, ano 14 (1993), nº 55. São as alegações
do MP junto do STJ no caso do Padre Frederico, condenado por acórdão do Tribunal do júri da
comarca de Santa Cruz.
• F.Ch. Schroeder, Bedingter Tötungsvorsatz bei zweckbestimmter Tötung, JuS 1994, p.
294.
• Fermín Morales Prats, in Quintero Olivares (dir.), Comentarios a la Parte Especial del
Derecho Penal, Aranzadi, 1996.
M. Miguez Garcia. 2001
205
• Hans Joachim Rudolphi, A consciência da ilicitude potencial como pressuposto da
punibilidade no antagonismo entre “culpa” e “prevenção”, Direito e Justiça, vol. III, 1987/1988,
p. 98.
• Jähnke, Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Großkommentar, 10ª ed., §§ 211217, 1980.
• Jorge de Figueiredo Dias, Apontamentos sobre o crime de homicídio. Apontamentos de
aulas [s/d] exemplar dactilografado.
• Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal Português, as consequências jurídicas do crime.
• Jorge de Figueiredo Dias, Homicídio qualificado. Premeditação, imputabilidade, emoção
violenta. Parecer, CJ, (1987).
• Manuel da Costa Andrade, Consentimento e acordo em Direito Penal, dissertação de
doutoramento, 1991.
• Manuel da Costa Andrade, Direito Penal e modernas técnicas biomédicas, Revista de
Direito e Economia, 12 (1986), p. 99 e ss.
• Manuel da Costa Andrade, Sobre a reforma do Código Penal Português Dos crimes
contra as pessoas, em geral, e das gravações e fotografias ilícitas, em particular, RPCC 3 (1993),
p. 427 e ss.
• Maria Fernanda Palma, Direito Penal. Parte Especial. Crimes contra as pessoas, Lisboa,
1983.
• Maria Fernanda Palma, O homicídio qualificado no novo Código Penal, Revista do
Ministério Público, vol. 15 (1983), p. 59.
• Maria Margarida Silva Pereira, Direito Penal II, os homicídios, AAFDL, 1998.
• Maria Paula Gouveia Andrade, Algumas considerações sobre o regime jurídico do art. 134º
do Código Penal, Usus editora, Lisboa, s/d.
• Nuno Gonçalves da Costa, Infanticídio privilegiado (Contributo para o estudo dos crimes
contra a vida no Código Penal), RFDUL, vol. XXX.
• Qualificação e privilegiamento do tipo legal do homicídio, acórdão do Supremo Tribunal
de Justiça de 5 de Fevereiro de 1992, RPCC 6 (1996), p. 113, com Anotação de Cristina Líbano
Monteiro.
• Raul Soares da Veiga, Sobre o homicídio no novo Código Penal Do concurso aparente
entre homicídio qualificado e homicídio privilegiado, Rev. Jurídica, nº 4 (1985), p. 15 e ss.
M. Miguez Garcia. 2001
206
• Reinhard Moos, Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch, §§ 7579 StGB, Viena, 1984.
• Rui Carlos Pereira, Justificação do facto e erro em direito penal.
• Rui Carlos Pereira, O consentimento do ofendido e as intervenções e tratamentos médico
cirúrgicos arbitrários, in Textos de apoio ao curso de medicina legal, t. I, Lisboa, IML, 1990.
• Teresa Serra, Homicídio qualificado, tipo de culpa e medida da pena, 1992.
• Teresa Serra, Homicídios em Série, Jornadas de Direito Criminal. Revisão do Código Penal,
II, CEJ, 1998, p. 137; publicado igualmente em Jornadas sobre a revisão do Código Penal,
FDUL, 1998, p. 119.
M. Miguez Garcia. 2001
207
§ 7º Crimes contra a vida. Homicídio (continuação). Homicídio
privilegiado
CASO nº 7: Homicídio privilegiado.
• A, pessoa casada, bem reputada no seu meio social e considerada séria e honesta no seu
meio profissional, envolveuse com uma mulher, em condições que se
caracterizariam, normalmente, pelo segredo e clandestinidade, mantendose ao
abrigo dessa relação a sua família e a sua profissão. Caiu porém numa cilada, com o
fito de lhe ser extorquido dinheiro sob a ameaça de divulgação daquela sua relação e
de pormenores que, naturalmente, lhe criariam vergonha. Foi levado a entregar, por
duas vezes, valores vultosos, em condições de autêntica extorsão. Os últimos factos
ocorreram em Março, tendo A recebido fotografias e negativos que poderiam ser
instrumento de chantagem. Mas mais de cinco meses depois, A volta um dia a ser
procurado, com insistência pertinaz, por B, a pessoa que dele extorquira aqueles
valores, a qual de novo lhe exigia muito dinheiro. A insistência agora feita deuse
através de súbita entrada no carro do A, de ameaça com exibição de pistola que lhe
foi apontada e de telefonemas diversos, culminando numa ida a casa do A. Aí, B
renova as insistências por dinheiro e vai ao ponto de até sobre a mulher de A exercer
violência física. Em situação de pânico e desespero, A munese da pistola para com
ela dominar B e entregálo à polícia, com quem já havia contactado. Mas B reage
fisicamente, procurando dominálo. E o A matao então, disparando primeiro um tiro
que o atingiu numa perna e depois, enquanto a vítima continuava a reacção que já
iniciara, disparando os tiros fatais. (Ac. do STJ de 27 de Novembro de 1996, BMJ461
226).
• Palavraschave: abalo; carácter humanista e eticista do Código Penal; causa do acto
criminoso; chantagem; choque profundo e descontrolador; comoção; compaixão;
comportamento alheio injusto; compreensível emoção violenta; compreensível;
M. Miguez Garcia. 2001
208
concepções éticosociais vigentes; consequência emocional ininterrupta, adequada,
de um facto injusto; contemporaneidade entre as circunstâncias e o acto praticado;
culpa sensivelmente diminuída; desespero ou outro motivo de relevante valor
social ou moral; desproporção entre o facto injusto e a reacção de agressão; emoção
violenta; emoções; estado de afecto grave; estado de afecto; estado de espírito;
estado de grande exaltação; estado de profundo desalento e angústia; estado
emotivo de excitação, cólera, dor, que altere as condições normais de determinação;
estados afectivos intensos; estímulos exteriores; extorsão; facto provocador; filho
toxicodependente; gravidade do facto injusto; homicídio privilegiado; intenção de
matar; juízo de compreensibilidade; liberdade de avaliação e determinação do
provocado; manifesta superioridade física; nexo de causalidade entre as causas e a
prática do crime; nexo de causalidade entre o motivo e a prática do crime; normais
condições de determinação do agente; perturbação moral; proporcionalidade;
provocação determinante do obscurecimento ou enfraquecimento da inteligência,
da vontade e da livre determinação; provocação por adultério; provocação; reacção
proporcional; reacções; vindicta privada.
No artigo 133º tratase da verificação no agente de um estado de afecto,
que pode, naturalmente, ligarse a uma diminuição da imputabilidade ou da
consciência do ilícito, mas que, independentemente de uma tal ligação, opera
sobre a culpa ao nível da exigibilidade (Figueiredo Dias). O artigo 133º consagra
uma cláusula de exigibilidade diminuída: a diminuição "sensível" da culpa do
agente não pode ficar a deverse nem a uma imputabilidade diminuída, nem a
uma diminuída consciência do ilícito, mas unicamente a uma exigibilidade
diminuída de comportamento diferente. Reparese, ainda assim, no paralelismo
das expressões "por força de uma anomalia psíquica" (20º, nº 1), "cujos efeitos
não domina" (20º, nº 2), "dominado por" (133º).
• O tipo de culpa integra os elementos que contribuem para caracterizar de forma mais precisa
a atitude interna do autor perante o direito, actualizada no facto (Jescheck).
Será o preceito dispensável face ao que se dispõe no artigo 72º em matéria
de atenuação especial da pena (cláusula geral que conduz à atenuação especial
sempre que existam circunstâncias que "diminuam por forma acentuada a
M. Miguez Garcia. 2001
209
ilicitude do facto ou a culpa do agente")? Ponderese que aqui se pretende
prestar ênfase especial aos factores relevantes de privilegiamento. Quanto à
proibição de dupla valoração: o disposto no proémio do artigo 71º2 constitui
apenas uma manifestação, proibindo que o mesmo substracto considerado pela
integração do artigo 133º seja de novo valorado para efeito de atenuação
especial.
• A doutrina tem entendido que o art. 133º, pondo o acento no estado emocional do agente,
veio representar um corte com a solução tradicional do direito português,
consagrada nos arts. 370º e segs. do CP de 1886, de associar o tratamento
privilegiado do homicídio a um comportamento prévio da vítima que em grande
medida chamasse a si a responsabilidade pelo facto; a jurisprudência, em
contrapartida, procurou desde o início da vigência do CP de 1982 interpretar a
nova lei à luz do disposto no direito anterior, entendendo que o privilegiamento do
homicídio continua a ter como pressuposto essencial a provocação da vítima. Por
outro lado, e este aspecto não tem sido objecto de suficiente atenção, os tribunais
têmse geralmente debruçado apenas sobre a primeira alternativa do art. 133º
(compreensível emoção violenta), ignorando as segundas, terceira e quarta
alternativas (compaixão, desespero e motivo de relevante valor social ou moral),
chegando a encontrarse decisões que negam autonomia a estas. João Curado
Neves, O homicídio privilegiado na doutrina e na jurisprudência do Supremo
Tribunal de Justiça, RPCC 11 (2001).
Os elementos privilegiadores. As características da emoção exigida pelo
artigo 133º e as correspondentes limitações normativas. Em termos gerais,
tratase de qualquer alteração psicológica em relação ao estado normal do
indivíduo que seja causada por elementos não essencialmente biológicos.
Compreensível emoção violenta: é um forte estado de afecto emocional
provocado por uma situação pela qual o agente não pode ser censurado e à qual
também o homem normalmente "fiel ao direito" não deixaria de ser sensível
(Figueiredo Dias). Há emoções violentas compreensíveis e emoções violentas
não compreensíveis. Não se trata de uma valoração moral ou social.
• Dinâmica dos estados de afecto. Como importante categoria de emoções costuma falarse
desde logo dos estados de afecto, que têm como característica fundamental a pré
M. Miguez Garcia. 2001
210
existência de uma situação de conflito interior, inalterável, e que em regra dura há
bastante tempo. É este conflito interior que o agente não consegue resolver e que
pode dar origem à emoção. Depois, aqueles casos, como os de provocação (ofensa ao
agente ou a terceiro), em que as emoções resultam directamente do facto exterior e
que são relativamente rápidas — o desencadear da emoção é imprevisto e
repentino. Comum a todas as situações é a fase da emoção propriamente dita que
precede a descarga, o chamado túnel da emoção, de que só se sai pela descarga: o
agente é como que empurrado para a saída do túnel, para o crime, sem se poder
desviar (A. Ferreira, Moos, Eser).
Tal como na provocação suficiente, também. na emoção violenta
compreensível o que está em questão não é uma eventual inimputabilidade,
mas "um conjunto de disposições normais que, em face do estímulo levam à
prática do facto criminoso. A compreensibilidade, neste sentido, tanto abrange
a falta de censurabilidade dos motivos, como dos pressupostos de uma livre
determinação, traduzida na perturbação provocada por um acto que exclui a
apreciação ou o controlo dos instintos ou afirmações normais da
personalidade." A "compreensibilidade" da emoção representa por isso uma
exigência adicional relativamente ao puro critério da menor exigibilidade
subjacente a todo o preceito. Deve considerarse que a compreensibilidade
assume ainda um qualquer cunho objectivo de "participação" do julgador nas
conexões objectivas de sentido que moveram o agente.
Aceitase que se exija da emoção violenta que seja compreensível, mas já
não da compaixão ou desespero — aquela exigência adicional vale para estado
de afecto esténico, mas não para os de efeito asténico.
A compreensibilidade respeita apenas à emoção e não ao homicídio.
A jurisprudência portuguesa dominante interpreta a exigência de que a
emoção seja compreensível no sentido da necessária existência de uma
adequada relação de proporcionalidade entre o facto que a desencadeia (a
"provocação") e o facto "provocado". Mas do que se trata é de um mínimo de
gravidade ou peso da emoção que estorva o cumprimento das intenções
normais do agente e determinada por facto que lhe não é imputável (acórdão
do STJ de 16 de Janeiro de 1985, BMJ343189).
M. Miguez Garcia. 2001
211
A compaixão é um estado de afecto ligado à solidariedade ou à
comparticipação no sofrimento de outra pessoa. Com a sua introdução no
Código pretendeuse impedir que os tribunais deixem de punir a eutanásia
activa com recurso ao princípio da não exigibilidade (Actas). Com efeito, cabem
aqui certos casos de eutanásia, sempre que eles preencham o tipo de ilícito.
No desespero estão estados de afecto ligados à angústia, à depressão ou à
revolta. Podem referirse certos estados de humilhação prolongada (cf. o
acórdão do STJ de 16 de Janeiro de 1990, BMJ393212) e de suicídios da mãe
que tenta matarse com os filhos, para lhes poupar sofrimentos, mas que acaba
por sobreviverlhes. Importará tb. distinguir estes casos dos que preenchem o
tipo do artigo 134º ("homicídio a pedido da vítima").
No caso nº 7, a morte de B foi causada pelos disparos de A, pelo que este
fica desde logo comprometido com a morte de outra pessoa. A disparou e B
morreu. A agiu dolosamente. Dolo é decidirse o agente pelo ilícito, é
conhecimento e vontade de realização do tipo. A sabia que matava B, com a sua
descrita actuação, e quis isso mesmo.
O tribunal condenou A, como autor de um crime de homicídio
privilegiado do artigo 133º, na pena de 2 anos de prisão, perdoada nos termos
de dois diplomas sucessivos de clemência. O Supremo entendeu que o acórdão
do Colectivo graduou a pena de uma forma equilibrada e justa e manteve a
decisão.
Dizse no acórdão do Supremo: o homicídio privilegiado assenta na forte
diminuição de culpabilidade que se verifica quando o agente é dominado por
emoção violenta, compaixão, desespero ou outro motivo de relevante valor
social ou moral, desde que esse estado de espírito seja compreensível. É o
reconhecimento, por parte da lei, de que há momentos em que o ser humano é
sujeito a tão fortes tensões que não consegue, por virtude delas, dominarse
como normalmente lhe é exigível; são circunstâncias que, não chegando para
legitimar o seu comportamento, o tornam, em todo o caso, alvo de uma crítica
bem inferior à que de outro modo lhe seria dirigida. Ao matar alguém nesse
condicionalismo, o agente comportase de forma ainda errada e que o torna
passível de sanção, mas em medida acentuadamente reduzida; é a constatação
de que se não espera que a condição humana normal seja a de um anjo ou um
santo, nem a de uma pessoa que domina as suas emoções e controla as suas
reacções quaisquer que sejam os estímulos exteriores a que é sujeita. Este estado
de espírito por parte do agente é compreensível se o comportamento alheio
M. Miguez Garcia. 2001
212
injusto que o pressiona é especialmente grave, alterando as normais condições
de determinação do agente, e desde que gere por parte deste uma reacção
proporcional àquele comportamento.
O Supremo entende que, por ex., não se verifica a proporcionalidade
quando os valores em confronto são a violação dos deveres conjugais por parte
da vítima e a vida desta, que o agente suprimiu, sendo que este último valor é o
de mais elevado grau.
Em boa parte das decisões dos tribunais, para que a emoção violenta seja
fundamento de crime de homicídio privilegiado, é assim necessário que se
verifique uma relação de proporcionalidade entre o facto injusto (até no plano
moral) causador da emoção violenta e o facto ilícito provocado. Ou seja, a
emoção violenta só será compreensível quando tiver na sua base uma
provocação proporcionada ao próprio crime de homicídio. Para a doutrina,
porém "a procura de critérios concretos de compreensibilidade, na resolução
dos casos, é o único caminho para a correcta interpretação e aplicação" do artigo
133º, o qual "representa um elemento importante do carácter humanista e
eticista do Código Penal" (Amadeu Ferreira, p. 146).
• The major emotions include joy, grief, fear, anger, hatred, pity or compassion, envy,
jealousy, hope, guilt, gratitude, disgust, and love. Philosophers, psychologists, and
anthropologists generally agree that these are distinct, in important respects, from
bodily appetites such as hunger and thirst, and also from objectless moods, such as
irritation or endogenous depression. There are many distinctions among members
of the family; the classification of same cases remains a matter of dispute; but there
is still great consensus about the central members in the family and their
distinctness from other human experiences. Dan M. Kahan and Martha C.
Nussbaum.
A emoção é a torrente que rompe o charco da continência, é uma
perturbação afectiva intensa, de breve duração, que via de regra se
desencadeia de modo imprevisto, provocada como reacção a certos
acontecimentos, acabando por predominar sobre as demais actividades
psíquicas. Exs.: o medo, a ira, a alegria, a aflição, o espanto, a surpresa, a
vergonha, o prazer erótico, etc. (Paulo José da Costa Jr.). Bitti/Zani, em A
M. Miguez Garcia. 2001
213
comunicação social como processo social, p. 171, mostram o diagrama das
emoções elaborado por Schloßberg: determinação, medo, sofrimento,
surpresa, felicidade, alegria, amor, desprezo, desgosto, ira. As polaridades
são dadas por agrado/desagrado e rejeição/atenção: qualquer expressão
facial pode ser representada por uma combinação destes factores polares.
CASO nº 7A. Homicídio privilegiado?
• A foi informada por uma tal M que F, morador na mesma localidade, se andava a gabar de
se pôr nela. Exaltada, A foi buscar a espingarda de caça do marido e dirigiuse a casa
da mulher do F. No caminho, A encontrou Ana, a quem perguntou onde morava a
mulher do F. Ana respondeu que esta não estava em casa e colocouse à frente de A.
A carregou a arma e disparou um tiro contra Ana que veio a falecer dois dias depois
no hospital. Na altura dos acontecimentos, A encontravase extremamente exaltada e
indignada, devido ao facto de se ter sentido atingida na sua honra e dignidade pelos
factos que lhe haviam sido contados pela M.
A Relação de Évora (acórdão de 4 de Fevereiro de 1997, RPCC 8 (1998), p.
279), respondeu negativamente à questão da existência de uma compreensível
emoção violenta e de um motivo de relevante valor social e moral. Entendeu
que se a vítima do homicídio não tiver causado o estado emotivo em que o
agente se encontra quando pratica o facto não terá lugar a aplicação do artigo
133º — deste resultaria a exigência de um nexo de causalidade entre o estado
emotivo e a prática do crime ("quem for levado a matar outrem"). A diminuição
sensível da culpa só se verifica quando o agente mata a pessoa causadora da
emoção violenta, e não qualquer outra pessoa. A foi condenada pelo crime do
artigo 131º, conjugado com o artigo 74º, nº 1, a) e b), do Código Penal revisto
(atenuação especial: 4 anos e 10 meses de prisão). Cf., criticamente, na mesma
revista, o comentário de Costa Pinto: o tribunal devia ter atendido apenas ao
grau de emoção em que a autora se encontrava no momento do facto,
abstraindo da origem dessa emoção. Sobre este caso, vd. também João Curado
Neves, RPCC 11 (2001) (estou em total desacordo com o entendimento [de
Costa Pinto]: tal leitura não é compatível com o texto do artigo 133º, não decorre
do fundamento da atenuação consagrado naquela norma e conduziria a
resultados indefensáveis).
M. Miguez Garcia. 2001
214
Do que se trata é de diminuição da culpa do agente. Não assume relevo a
questão de saber se na origem do estado emocional esteve um qualquer
comportamento ilícito ou injusto do próprio agente, surgindo a "provocação"
como resposta ou retorsão. Na verdade, exigese que além de compreensível, a
emoção diminua sensivelmente a culpa. Tudo dependerá de uma avaliação
conjunta e global da situação (Figueiredo Dias, Comentário).
Comentário ao artigo 133º de Curado Neves: “A exigência de que se esteja
perante uma “provocação injusta” obnubila o facto de não estar em causa uma
valoração do acto de provocação, mas sim do facto homicida. Tal leva, por um
lado, a que a jurisprudência ignore quase totalmente as três últimas alternativas
do art. 133.° Por outro, leva a que sejam colocadas exigências à verificação da
compreensibilidade da emoção violenta que conduzem ao julgamento
diferenciado de situações que apresentam um quadro de motivação idêntico, à
revelia do fundamento da atenuação. A exigência de “proporcionalidade” entre
a provocação e o facto é virtualmente impossível de cumprir, e conduz a
decisões arbitrárias. Não é possível falar de proporcionalidade entre um
homicídio e uma provocação, qualquer que esta seja, como a doutrina não se
tem cansado de repetir. De qualquer modo, o que está em causa não é a
gravidade da provocação, mas a da situação que cria e que leva à diminuição da
exigibilidade. A exigência de causalidade entre provocação e homicídio
desvirtua as finalidades do privilegiamento.”
CASO nº 7B. Homicído privilegiado?
• A suspeitava de que B, sua mulher, de quem estava separado de facto havia alguns meses,
mantinha relações de sexo com um seu cunhado, C. Certo dia, A verificou que B e C
se encontravam juntos na mesma casa e foi procurar uma sua irmã, D, casada com C.
Cerca de duas horas depois, A e a irmã acercaramse daquela casa e levantando uma
persiana, viram B e C na cama, mas sem estarem, concretamente, a ter relações de
sexo. A partiu então o vidro da janela, e empunhando a pistola de que se munira
previamente, e que carregara e mantinha pronta a disparar, disparou, pelo menos
duas vezes, quando B e C se preparavam para fugir do quarto. Um desses disparos
atingiu C na região frontoparietal esquerda, o outro atingiu B na mama esquerda,
introduzindose na parede abdominal. A decidiuse a matar B e C quando verificou
que ambos se encontravam deitados na cama do quarto onde os foi procurar. Actuou
M. Miguez Garcia. 2001
215
de modo livre, deliberado e consciente, pretendendo tirar a vida a B e a C. Estes,
todavia, foram socorridos e sobreviveram.
O Supremo (acórdão de 18 de Setembro de 1996, BMJ459282) ponderou,
também neste caso, o seguinte:
A verificação do estado de compreensível emoção violenta implica a
existência de uma adequada relação de proporcionalidade entre o facto injusto
do provocador e o facto ilícito do provocado; o estado de grande exaltação nada
tem a ver, em princípio, com a emoção violenta que a ordem jurídica corrente
qualifique de compreensível; a invocação da emoção violenta e proporcionada
para o enquadramento dos factos no tipo do artigo 133º deve fazerse na
perspectiva do homem médio suposto pela ordem jurídica, sem haver que
atender a reacções particulares ou ao temperamento do agente; é necessário que
ocorra nexo de causalidade entre as causas e a prática do crime e uma
proporcionalidade entre umas e outro. Verificada a desproporção entre o facto
injusto e a reacção de agressão, nunca a emoção pode ser compreensível. A
emoção violenta referenciada ao citado artigo 133º pressupõe uma provocação
determinante do obscurecimento ou enfraquecimento da inteligência, da
vontade e da livre determinação e que se verifique uma relação de
proporcionalidade entre o facto injusto e o facto ilícito. Enfim, que para que se
verifique a diminuição da culpa é necessário exista uma estrita
contemporaneidade entre as circunstâncias e o acto praticado, pelo que o
decurso de um grande lapso de tempo destrói o efeito atenuativo.
Qualificar a actuação de A no caso 7B.
• O elemento dominante do crime de homicídio privilegiado é a diminuição sensível da
culpa, devendo ainda haver nexo de causalidade entre a emoção violenta e a prática
do crime (Maia Gonçalves). A ira, a grande dor produzida pela agressão injusta
podem diminuir a liberdade de avaliação e determinação do provocado e conduzilo
a vingar e castigar pelas suas próprias mãos, substituindose ao Estado. A provocação
supõe um estado emotivo de excitação, cólera, dor, que altere as condições normais
de determinação; este estado de excitação tem que ser consequência emocional
ininterrupta, adequada, de um facto injusto. O facto provocador háde ser injusto ou
imoral e o estado emocional háde ter determinado a prática do crime (Prof. Eduardo
Correia, Direito Criminal, vol. II, p. 278 e ss.). Não basta que se verifique um estado
M. Miguez Garcia. 2001
216
de emoção violenta, é preciso que esta seja compreensível e só é compreensível desde
que exista uma adequada relação de proporcionalidade entre o facto injusto e o facto
ilícito do provocado. A emoção é um estado de perturbação maior que o de excitado,
pois contém a ideia de choque profundo e descontrolador. Excitado significa
simplesmente exaltado, irritado (em alto grau); emoção significa comoção,
perturbação moral, abalo. (Acórdão do STJ de 10 de Novembro de 1989, BMJ391
224).
O homicídio privilegiado difere do homicídio com atenuação especial da
provocação pela diferença de grau de intensidade da emoção causada pela
ofensa e ambos diferem da legítima defesa, "grosso modo", porque nos
primeiros o agente, ao contrário do último, não actua com animus defendendi.
E o excesso de legítima defesa não se enquadra em alguns daqueles porque o
agente actua com a intenção de se defender mas exorbitando nos meios
empregados (ac. do STJ de 11 de Dezembro de 1996, BMJ462207).
IV. Outras indicações de leitura
Acórdão da Rel. de Évora de 4 de Fevereiro de 1997, CJ, XXII (1997), t. 1, p. 304: se a vítima
não tiver sido quem praticou o facto determinante do estado de exaltação do agente, mas sim
outra pessoa alheia ao desencadeamento desse estado, aquele não pode ser considerado autor
do crime de homicídio privilegiado do artigo 133º visto que para isso era necessário que
existisse nexo de causalidade entre o motivo e a prática do crime.
Acórdão do STJ de 8 de Maio de 1997, BMJ467287: arguida que dispara por 2 vezes com
uma caçadeira contra o ofendido, após ter sido violada por este, passando a partir daí a viver
desgostosa, tendo crises de desespero e sentido grande revolta contra o ofendido; não é
exigível que a reacção do agente se desenvolva imediatamente.
Acórdão do STJ de 13 de Março de 1996, BMJ455269: A, em estado de profundo desalento
e angústia pela insuportável situação económica e familiar criada pelo seu filho
M. Miguez Garcia. 2001
217
toxicodependente, dispara contra este, com intenção de o matar, o que conseguiu, quando a
vítima avançava em sua direcção, empunhando uma faca de mato.
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 2 de Maio de 1990, BMJ397305143.
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 4 de Outubro de 1989, BMJ390113.
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 9 de Maio de 1990, BMJ397156: parricídio
punido nos termos do artigo 133º do Código Penal.
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 16 de Janeiro de 1990, CJ, 1990, tomo I, p. 11:
mulher que mata o marido que viola os deveres conjugais, mas sem que tenha agido com
emoção violenta: artigo 131º, sendo a pena especialmente atenuada.
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 22 de Fevereiro de 1995, BMJ444221:
injustificada agressão praticada na altura pela vítima, à bofetada, a pontapé e com manifesta
superioridade física, na sequência de outras gravíssimas provocações anteriores.
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 27 de Abril de 1993, BMJ366305.
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 3 de Junho de 1987, BMJ368295: afirmações
relativas à vida íntima de uma mulher que a deixaram irada e a levaram a praticar o crime; a
autora procurou a vítima na manhã seguinte, esperandoa num local onde passaria a caminho
de casa, e disparou sobre ela, provocandolhe a morte.
Acórdão do STJ de 11 de Novembro de 1999, BMJ49179: motivos que impelem à
perpetração do crime; emoção violenta; indemnização em caso de contribuição causal do
comportamento da vítima para o resultado danoso.
Amadeu Ferreira, Homicídio Privilegiado, 1991.
António R. Damásio, O Erro de Descartes. Emoção, razão e cérebro humano. PEA, Lisboa,
1995.
M. Miguez Garcia. 2001
218
Cornelius Prittwitz, Dolus eventualis und Affekt, GA 1994, p. 454.
Dan M. Kahan and Martha C. Nussbaum, Two Conceptions of Emotion in Criminal Law,
Columbia Law Review, vol. 96, March 1996, nº 2.
Eduardo Correia, Direito Criminal, II, p. 287 e ss.
João Curado Neves, O homicídio privilegiado na doutrina e na jurisprudência do Supremo
Tribunal de Justiça, RPCC 11 (2001), p. 175.
Jorge de Figueiredo Dias, Homicídio qualificado. Premeditação, imputabilidade, emoção
violenta. Parecer, CJ, (1987).
Maria Fernanda Palma, Direito Penal. Parte Especial. Crimes contra as pessoas, Lisboa,
1983.
Maria Luísa Couto Soares, A intencionalidade do sentir, in A Dor e o Sofrimento
Abordagens, Campo das Letras 2001.
Maria Margarida Silva Pereira, Direito Penal II, os homicídios, AAFDL, 1998.
Reinhard Moos, Die Tötung in Affekt in neuen österreichischen Strafrecht, ZStWiss.
LXXXIX.
Reinhard Moos, Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch, §§ 7579 StGB, Viena, 1984.
Tanja Hartmann, Patientenverfügung und Psychiatrische Verfügung — Verbindlichkeit für
den Arzt?, NZtS 2000, p. 113 e ss.
M. Miguez Garcia. 2001
219
§ 8º Crimes contra a vida. Homicídio (continuação). Homicídio a
pedido da vítima
CASO nº 8. Homicídio a pedido da vítima.
• B, doente incurável e em fase terminal, convencera A a ministrarlhe determinada droga
capaz de lhe dar uma morte suave, sendo assim que pretendia morrer. Oito horas
depois, porém, B ainda respirava. A, de cabeça perdida e incapaz de por si só se
desembaraçar do terrível dilema em que se envolvera, pediu a C que acabasse com a
vida de B, o que C fez calmamente, dandolhe repetidas pancadas na cabeça com uma
barra de ferro, que produziram o efeito letal.
• A razão da pena privilegiada com que se sanciona o homicídio a pedido da vítima ancora
numa diminuição da ilicitude, mas também num menor grau de culpa do agente
(Doppelstellung). O tipo é caracterizado pelo "pedido" — e a vítima exprimeo de duas
maneiras: "Quero morrer !" e "Matame !". A primeira expressão tem a ver com o bem
jurídico protegido e diminui o ilícito, a segunda dirigese à motivação do agente e
diminuilhe a culpa. Moos, § 77, nº de margem 7. Mas para alguns autores, por ex.,
Schmidhäuser, a razão da pena mais leve está somente na diminuição da culpa: só é
decisiva a representação do agente face ao pedido sério, instante e expresso que lhe é
feito pela vítima.
No artigo 134º, ao contrário do anterior, é a própria vítima que renuncia à
protecção penal, convertendose no objecto da conduta criminosa com o
consentimento qualificado que prestou. A lesão consentida castigase com uma
pena privilegiada que coincide com a pressuposta redução do ilícito: o agente
não segue os seus próprios impulsos mas é motivado por um pedido sério e
instante que está para além de qualquer inibição natural em relação à morte. As
afinidades com a norma que proíbe o incitamento ou ajuda ao suicídio, que lhe
vem a seguir, suscitam também problemas de difícil demarcação, a ponto de
um autor austríaco — Moos, § 77, nº de margem 5 — nela encontrar
M. Miguez Garcia. 2001
220
semelhanças com a cabeça de Janus, um deus romano com duas faces: para a
vítima, o homicídio a pedido é uma espécie de "suicídio" por mão alheia; para o
agente, só se pode falar da morte de outra pessoa. O tipo de homicídio a pedido
da vítima tem, como elemento negativo, a não existência de suicídio em sentido
literal (Gimbernat Ordeig). Ainda assim, é a vítima quem decide o "se" e o
"como" do facto, servindose para a execução de um outro, que passa a ser seu
“instrumento” (hoc sensu) — por não poder, ou por não querer, executar o facto
por si mesmo. O autor do crime é quem tem o domínio do facto.
A cominação de uma pena é uma contramotivação relativamente ao
provocar da morte, não obstante o consentimento qualificado em que se gera e
desenvolve a acção. Ao consentimento concedese pelo menos o papel de filtro
no contexto dos crimes contra a vida. O "homicídio a pedido da vítima" é um
homicídiosuicídio, mas nele estão contempladas unicamente situações de
homicídio propriamente dito, embora sob um consentimento particularmente
qualificado — ainda aqui, o agente mata outra pessoa dolosamente em situação
de imputabilidade.
Neste tipo de crime, o agente deve ter sido determinado por um pedido
sério, instante e expresso, transmitido por palavras, por atitudes ou por gestos
inequívocos. A lei quer que a actividade que se vai exercer sobre a vítima
resulte do pedido desta, exigindose algo mais do que a sua simples
concordância. Há até quem imponha que o pedido daquele que está farto da
vida vá para além do "se", abrangendo o "como", o "quando" e o "quem" da
pessoa do autor, assim se pondo ao mesmo nível as condições de tempo e do
modo da acção homicida (cf. Kienapfel, p. 25).
Pedido instante é um pedido convincente, mas não necessariamente
insistente, de quem quer morrer, para que o matem. É uma exigência que tem a
ver com a ilicitude e que acentua e complementa a seriedade do pedido,
conferindolhe uma determinada intensidade e capacidade persuasiva. Pedido
sério é o pedido consciente e livre, aquele que assenta numa decisão de vontade
responsável e isenta de qualquer coacção, engano ou erro — é o que
corresponde à verdadeira vontade da vítima, aquela que não sofreu influências.
Deve exigirse que o autor do pedido compreenda o alcance da sua decisão e se
determine em conformidade, tanto no que respeita às razões que a ele
presidem, como às consequências, que têm a ver com a irremediável lesão da
vida. Uma tal capacidade de valoração e de determinação pode faltar em
M. Miguez Garcia. 2001
221
pessoas jovens ou em pessoas afectadas por determinadas anomalias psíquicas
ou em situação de profunda depressão (Wessels; Kienapfel).
• Deixa de se aplicar o artigo 134º se o agente sabe que as motivações do outro não
correspondem às exigência legais.
Perante a nossa lei, devem valer as regras gerais sobre o consentimento: a
imputabilidade e a maioridade são restrições injustificáveis, pois as exigências
essenciais já se encontram na qualificação do pedido (Actas, 21, 198). O pedido
deve subsistir no momento da acção e poderá a todo o tempo ser eficazmente
retirado (revogado). Geralmente entendese que tanto pode ser dirigido a uma
pessoa determinada como a um conjunto determinado de pessoas (médicos de
uma clínica, pessoal de enfermagem de uma casa de saúde) para que uma
dentre elas o execute. O que especialmente releva é que o agente tenha sido
determinado pelo pedido, e não que a motivação se alcance por forma mais ou
menos directa. A questão pode relacionarse com o pedido por “testamento de
vida”, que é uma disposição de vontade, feita por escrito, solicitando a morte,
por ex., na previsão de determinado acontecimento.
Por sua vez, o “testamento de paciente” consiste em declarações escritas
em que o paciente declara, para a hipótese de vir a ser encontrado inconsciente,
que se opõe a qualquer tratamento indicado para salvar a vida.
Portanto, só goza do regime privilegiado do artigo 134º quem conhecia o
pedido e foi por ele determinado. Mas se o fundamento jurídico do
privilegiamento passa pela situação conflitiva, pela pressão psicológica que
diminui a culpa, ainda haverá razão para o conceder se o agente tem como bem
vinda uma recompensa, não assim se o faz por simples avidez, por ex., na
expectativa do recebimento de uma herança. O que então move o agente é
exclusivamente o egoísmo. Neste caso a norma a aplicar poderá ser a do artigo
132º, "podendo caber —eventualmente— a atenuação especial do art° 72º, b), na
parte em que se refere à forte tentação ou solicitação da vítima" (cf. M. P.
Gouveia Andrade; Kienapfel).
M. Miguez Garcia. 2001
222
CASO nº 8A. Erro no âmbito do artigo 134º
• A está junto ao leito de B, doente terminal, e supõe erradamente que este lhe pede que lhe
acabe com a vida, por estar farto dela. Por isso, ministralhe uma droga em dose letal
que produz o seu efeito. Todavia, B limitarase a lamentarse da sua triste sorte.
Existe aqui um erro sobre a própria existência do pedido. Mas o erro no
artigo 134° também pode incidir sobre as características do pedido, que tem de
ser "instante", "sério" e expresso".
Aquele que, de algum modo ainda no âmbito do artigo 134º, mata em
situação de erro, pode supor erroneamente que foi A, maior e imputável, quem
formulou o pedido, quando na realidade fora outra pessoa que meia hora antes
ainda ocupava o mesmo quarto da clínica. Ou mata B, porque pensa que o
pedido deste é livre, quando na realidade não é. Ou porque pensa que a
solicitação foi feita conscientemente: B formulou o pedido porque pensava
sofrer de doença incurável mas está de perfeita saúde (o que ambos
desconhecem: exemplo colhido em M. P. Gouveia Andrade). Recordese que a
pena do artigo 134º é privilegiada em função tanto duma menor ilicitude como
duma menor culpa. Daí a pergunta: havendo erro sobre o pedido,
continuaremos a aplicar o artigo 134º? Ou aplicaremos a pena do artigo 131º,
como crime fundamental? Ou a pena do crime negligente do artigo 137º,
reconhecendo a relevância do erro e conjugandoa com o regime do artigo 16º,
nºs 1 e 3 (erro sobre as circunstâncias de facto)?
Parecenos correcta a opinião do Prof. Costa Andrade quando entende que
o erro releva — de modo que se deverá aplicar o tipo privilegiado que o agente
supõe realizar (artigo 134º). Cf. Comentário Conimbricense, tomo I, anotação ao
artigo 134º, p. 69. Aliás, ao que nos parece, em caso de erro sobre elementos
privilegiantes do homicídio, a doutrina alemã pronunciase pela aplicação no
caso concreto da norma do crime privilegiado. No caso nº 8A, A seria punido
como autor de um crime do artigo 134º com pena de prisão até 3 anos, ainda
que lhe nenhum pedido lhe tivesse sido dirigido. Mas a solução não logra
unanimidade. Outra é a opinião da Prof. Teresa Beleza: o erro deverá projectar a
sua influência dirimente apenas no desvalor da acção e não no desvalor do
resultado do facto — quem mata outrem em erro sobre o pedido, e é o que
acontece no caso 8A, tem intenção de matar uma pessoa, i. é, tem dolo de
homicídio, mas erra sobre uma circunstância desse facto, sobre a existência do
M. Miguez Garcia. 2001
223
pedido. O agente deverá ser punido por tentativa de um homicídio privilegiado
(artigos 134º, 22º e 23º) em concurso efectivo com um crime de homicídio
negligente (artigo 137º), desde que concorram os correspondentes pressupostos.
Se não houver negligência, o resultado não poderá ser imputado ao agente.
Afastase igualmente a aplicação do artigo 16º. Cf. Teresa P. Beleza e Frederico
de Lacerda da Costa Pinto, O Regime Legal do Erro, p. 15 e ss.
• "É a propósito da representação do pedido e da orientação da vontade do agente que deve
ser colocado o problema do erro no artigo 134°. "Assim quando A mata B, maior e
imputável porque pensa que o seu pedido é livre quando não é porque se trata de um
pedido que B fez quando se encontrava sob hipnose (o que A ignora), ou porque
pensa que o pedido é consciente: B formulou o pedido porque pensava sofrer de
doença incurável mas está de perfeita saúde (o que tanto A como B desconhecem).
Embora as circunstâncias relativas à vítima sejam circunstâncias típicas, como típicas
são as características do pedido, não se pode dizer que este "erro sobre o tipo" releve
nos termos preconizados pelo artigo 16°, 1 — o dolo de homicídio existe sempre e não
é excluído por este erro, já que o autor não está em erro quanto à sua própria
conduta, quanto à sua acção homicida. No entanto, deve entenderse que este erro
releva, e a sua relevância será sempre favorável ao agente" (M. P. Gouveia Andrade).
CASO nº 8B: Homicídio a pedido na forma tentada; tentativa inidónea,
desistência.
• A, uma estudante de medicina, e B, pintor de arte, são íntimos amigos. B encontrase
irremediavelmente doente e a sofrer dores insuportáveis. Pede a A que lhe ministre
um veneno qualquer, capaz de lhe dar a morte, livrandoo das dores. Após longa
hesitação, perante os permanentes rogos e as insistências manifestamente
responsáveis de B, A injectao, em desespero, com um veneno que lhe parece
adequado. O veneno, porém, não produz a morte, mas unicamente, e tanto quanto é
possível prever, uma definitiva imobilização de B.
Como qualificar os comportamentos de A e B?
M. Miguez Garcia. 2001
224
Considere agora a seguinte variante:
• Logo que injectou B, A começou a ter problemas de consciência. Dirigiuse com B ao
hospital e tratou de lhe ministrar um antídoto. Apesar da assistência médica e
medicamentosa imediata, B, segundo todas as previsões, ficará definitivamente
impossibilitado de andar. A averiguação que se seguiu revelou que o veneno, de
acordo com os conhecimentos da medicina, nunca poderia ter provocado a morte.
(Cf. Roxin/Schünemann/Haffke, Strafrechtliche Klausurenlehre, 2ª ed., 1975, p. 117).
Nos delitos de encontro, como a usura (artigo 226º), os participantes
necessários (autor e vítima) desempenham papéis diferentes: na usura só é
punível quem explora a necessidade do devedor, cuja actividade (obrigandose
a conceder ou a prometer vantagem pecuniária) vai de encontro à intenção do
usurário de alcançar um benefício patrimonial. No mesmo sentido, apontase
também na doutrina o exemplo do homicídio a pedido da vítima (artigo 134º),
cujo nº 2 prevê a punibilidade da tentativa..
Outras indicações de leitura:
Jähnke, Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Großkommentar, 10ª ed., §§ 211217, 1980.
N. Hoerster, Neugeborene und das Recht auf Leben (1995).
R. Dworking, Die Grenzen des Lebens (1994).
Reinhard Moos, Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch, §§ 7579 StGB, Viena, 1984.
Tanja Hartmann, Patientenverfügung und Psychiatrische Verfügung — Verbindlichkeit für
den Arzt?, NZtS 2000, p. 113 e ss.
W. Jens/H. Küng, Menschenwürdigsterben (1995).
M. Miguez Garcia. 2001
225
Crimes contra a vida. Homicídio (continuação). Infanticídio.
• A mãe que matar o filho durante ou logo após o parto e estando ainda sob a sua influência
perturbadora, é punida com prisão de 1 a 5 anos.
As normas que nos diversos códigos penais punem a mãe que matar o
filho durante ou logo após o parto (crime de infanticídio; Kindestötung) têm
atrás de si uma préhistória de séculos, desde logo, porque o homicídio do
próprio filho pode constituir uma circunstância especialmente censurável. Mas
as pessoas não deixaram de se impressionar, já no decorrer do século 19, com a
grande perturbação com que a mãe se deparava em certos casos. Com o
nascimento do filho, ficava patente perante a sociedade a vergonha da gravidez
da mãe solteira. Mas a atitude da sociedade modificouse em tempos mais
recentes. No Código de 1886, que vigorou até 1982, no § único do artigo 356º
ainda se previa uma situação privilegiada para o infanticídio cometido pela
mãe para ocultar a sua desonra, ou pelos avós maternos para ocultar a desonra
da mãe. Foi só em 1995 que se eliminou o infanticídio privilegiado da mãe que
mata o filho acabado de nascer ou durante o parto para ocultar a desonra, as
chamadas "razões de honra" foram então desvalorizadas, deixando o legislador
de atribuir relevo penal a esse facto. Ter um filho não pode ser nunca uma
desonra para ninguém: o sentido tradicional da referência perdese hoje em dia.
A execução do crime de infanticídio (artigo 136º), que é um homicídio
privilegiado, pode ser anterior ao nascimento, uma vez que a norma prevê a
comissão "durante o parto": "a mãe que matar o filho durante ou logo após o
parto e estando ainda sob a sua influência perturbadora, é punida (...). Esse
momento é anterior ao momento que determina a atribuição da personalidade
jurídica, ou seja, o do nascimento completo e com vida (artigo 66º, nº 1, do
Código Civil). Não há coincidência entre os dois ramos do direito, considerando
os penalistas que o nascimento se inicia a partir do início dos trabalhos de
parto, havendo que distinguir entre o parto normal e o parto por cesariana. Um
qualquer homicídio pode assim ser cometido a partir do início dos trabalhos de
parto, portanto antes do nascimento: "o legislador penal perfilhou este critério
atendendo à essencial identidade de valor entre a vida do "nascituro terminal" e
a vida do recémnascido (Rui Carlos Pereira, O crime de aborto e a reforma penal,
1995, p. 77).
Não se põe de parte que situações honoris causa determinem, ainda hoje, a
mãe a matar o filho infante. Se não estiverem presentes os pressupostos do
M. Miguez Garcia. 2001
226
artigo 136º, o homicídio só poderá ser o do artigo 131º — eventualmente
qualificado pelo artigo 132º ou privilegiado segundo o artigo 133º, conforme as
situações determinantes de uma maior culpa ou de uma diminuição sensível da
culpa. A actuação para ocultar a desonra será atendível na fixação concreta da
pena. É de crime doloso que então se trata, em todos estes casos, não ficando
prejudicada a hipótese do homicídio negligente (artigo 137º) se a mãe causar a
morte do filho por descuido.
Com a expressão "influência perturbadora do parto", o legislador referese
a um estado de semiimputabilidade ou de imputabilidade diminuída. "Aqui o
legislador tem em mente situações patológicas que acompanham por vezes o
parto e que levam a mãe da criança a ter menos discernimento e liberdade de
acção, matando o seu próprio filho." Mas o artigo 136º exige ainda que se
atenda à limitação temporal decorrente da morte durante ou logo após o parto,
perguntandose se se tratará de um limite temporal rígido para este crime. A
resposta está no fundamento da atenuação. O Supremo (acórdão de 27 de Maio
de1992) considerou que não integra o crime de infanticídio privilegiado do
artigo 137º do Código Penal de 1982 a conduta da mulher que, passados 7 dias
após o parto que decorreu normalmente e depois de ter tido alta do hospital,
por ser considerada em estado físico normal, mata o filho com insecticida, por
verificar que ele é de raça negra, quando ela e o homem com quem vivia eram
de raça branca. As considerações do Supremo encontraram um ser
verdadeiramente autonomizado, pelo que já não poderia haver infanticídio.
O legislador não foi rígido nessa delimitação temporal. O que é decisivo é
saber até onde (num período de continuidade temporal) se pode estender uma
situação de perturbação após o parto e a partir de que momento se pode
reconhecer o recémnascido como um ser verdadeiramente autónomo. Cf. Rui
Carlos Pereira.
• Comparticipação. Quem comparticipa no crime privilegiado da mãe, agindo
conjuntamente com esta, só poderá ser punido pelo artigo 131º (tendo ainda em
atenção os artigos 132º e 133º), independentemente da sua culpa (artigo 29º). Como
apenas a mãe poderá beneficiar da atenuação típica da "influência perturbadora do
parto", o artigo 136º é, em matéria de autoria, um crime específico, só a mãe o pode
cometer — ao contrário dos restantes crimes contra a vida, o preceito não começa
com o “quem” anónimo da generalidade dos crimes comuns. Sendo sujeito activo do
crime apenas a “mãe” que matar o filho, a situação não chama a si o mecanismo de
M. Miguez Garcia. 2001
227
comunicação das circunstâncias do artigo 28º, mas unicamente o regime do artigo 29º,
por se tratar no artigo 136º de um tipo de culpa— o artigo 28º só se aplicaria se
estivesse em causa a própria graduação da ilicitude. Mesmo que a mãe cometa o
crime através de outra pessoa, a punição fazse pelo artigo 136ª (supondo no caso
todos os correspondentes pressupostos), em vista da diminuição da culpa da mãe que
actua sob a influência perturbadora do parto, mas esta circunstância não é extensível
a outras pessoas que devam ser punidas como autoras.
Crimes contra a vida. Homicídio (continuação). Homicídio por
negligência.
No artigo 137º, nº 1, prevêse, em alternativa, a pena de multa, ao contrário
dos outros crimes contra a vida.
• 1. Quem matar outra pessoa por negligência é punido com pena de prisão até 3 anos ou
com pena de multa. 2. Em caso de negligência grosseira, o agente é punido com pena de prisão
até 5 anos.
Exigese a realização de uma acção sem a diligência devida, violando,
portanto, o dever, tanto objectivo como subjectivo, de cuidado, que é necessário
ter em conta nos comportamentos, delitivos ou não, que previsivelmente
podem ocasionar a morte de outra pessoa. A previsibilidade, objectiva e
subjectiva, da morte constitui, portanto, e do mesmo modo, um elemento
conceptual do homicídio negligente. Ao lado destes dois elementos — violação
do dever de cuidado e previsibilidade — a produção do evento mortal em conexão
causal com a acção imprudentemente realizada é elemento típico
imprescindível para desencadear os efeitos contidos na norma.
• A teoria do risco. Conexão de ilicitude e fim de protecção da norma. O artigo 137º, nº 1,
pune quem matar outra pessoa por negligência (i. e, quem causar a morte de outra pessoa por
negligência). São momentos típicos a causação do resultado e a violação do dever de cuidado
que todavia, só por si, não preenchem o correspondente ilícito típico. Acresce a necessidade da
imputação objectiva do evento mortal. Este critério normativo pressupõe uma determinada
M. Miguez Garcia. 2001
228
conexão de ilicitude: não basta para a imputação de um evento a alguém que o resultado tenha
surgido em consequência da conduta descuidada do agente, sendo ainda necessário que tenha
sido precisamente em virtude do carácter ilícito dessa conduta que o resultado se verificou; por
outro lado, a produção do resultado assenta precisamente na realização dos perigos que deve
ser salvaguardada de acordo com o fim ou esfera de protecção da norma. O risco desaprovado
pela ordem jurídica, criado ou potenciado pela conduta descuidada do agente, e cuja
ocorrência se pretendia evitar de acordo com o fim de protecção da norma, deve concretizarse
no resultado mortal, acompanhando um processo causal tipicamente adequado.
2. Em muitos domínios, a negligência começa quando se ultrapassam os
limites do risco permitido. As condutas realizadas ao abrigo do risco permitido
não são negligentes, não chegam a preencher o tipo de ilícito negligente. Se o
agente não criou ou incrementou qualquer perigo juridicamente relevante não
existe sequer a violação de um dever de cuidado. O exemplo discutido de há
muito é o do jovem que marca um encontro com a namorada e esta vem a
morrer, no local do encontro, na queda de um meteorito (ou na queda dum raio,
ou por outro fenómeno natural, tanto dá): a conduta do rapaz não criou um
risco juridicamente relevante e não existe qualquer violação duma norma de
cuidado, portanto, não se lhe poderá imputar a morte da namorada. Por outro
lado, se alguém conduz uma viatura com observância das regras estradais e
mesmo assim provoca lesões noutra pessoa que se atravessa na frente do carro
— também se não verifica uma violação do dever de cuidado. A negligência
excluise se o agente se contém nos limites do risco permitido, se não criou nem
potenciou um risco para a vida ou para a integridade física da vítima do
atropelamento. Também não existe lesão do dever de cuidado se o agente
dolosamente se limita a colaborar na autocolocação em risco de outra pessoa,
se, por ex., anima o condutor a carregar no acelerador e este vem a morrer no
despiste do carro que acabou por não conseguir dominar.
• Imaginemos que A dá a B, seu amigo, uma porção de heroína e que este se injecta com a
substância, vindo a morrer na sequência disso. Será A responsável pela morte de B ?
Na medida em que A deu a heroína a B, pôsse uma condição para a morte deste. A
morte de B é, do mesmo modo, uma consequência adequada da acção de A. Com a
entrega da heroína, A aumentou, de forma relevante, o risco da morte de B. Dirseá
que a morte de B é assim de imputar a A. O BGH E 32, 262 decidiu, porém, em
M. Miguez Garcia. 2001
229
sentido contrário — uma vez que B ainda era capaz de, por si, tomar decisões, por ex.,
a de conscientemente se injectar com heroína, e como A não tinha deveres especiais
para com B, não era, por ex., médico deste, a morte de B não pode ser imputada a A.
B é o responsável pela sua própria morte — princípio da autoresponsabilização.
No caso do meteorito, ninguém dirá que o resultado era previsível: falta,
desde logo, a criação dum perigo juridicamente relevante. Falta a realização do
perigo criado se A, atingido a tiro, de raspão, num braço, vem a morrer no
despiste da ambulância que o conduz ao hospital. Passase o mesmo com a
evitabilidade. Se numa povoação segue um carro em velocidade excessiva e um
peão se lhe atira para a frente, não haverá negligência do condutor se for claro
que o atropelamento não poderia ter sido evitado mesmo que a velocidade
fosse a prescrita.
• Em risco de perder o comboio, A promete uma boa gorjeta ao taxista se este o puser a
tempo na gare. O passageiro não será responsável por homicídio involuntário se, por
falta de cuidado do motorista, um peão for colhido mortalmente quando o carro
seguia a velocidade superior à permitida. Mas A já será responsável se puser ao
volante do carro, para que o conduza, uma pessoa notoriamente embriagada que vem
a causar a morte do peão. Neste caso, A actua com manifesta falta de cuidado.
3. O princípio da confiança deve valer, inclusivamente, nos casos em que,
por regra, se deve confiar em que outrem não comete um crime doloso. Se se
tivesse que responsabilizar o vendedor e outros intervenientes não seria
possível a venda de facas, fósforos, isqueiros, substâncias inflamáveis,
machados e martelos. Se tivéssemos que adivinhar que estávamos a oferecer a
outrem a oportunidade de cometer um crime doloso então a vida moderna seria
o mesmo que renunciar ao trânsito nas estradas. Tratase também aqui de um
caso de risco permitido: os perigos inevitáveis são aceites por causa das
vantagens individuais e sociais que o princípio da confiança oferece. Reside
aqui o autêntico núcleo da velha teoria da proibição de regresso, segundo a qual
não é punível a colaboração não dolosa em delitos dolosos. (Cf. Roxin, p. 899).
• 4. O "crimen culpae" é um crime geral pela não conveniente preparação da personalidade
ligado à produção de qualquer resultado proibido. A lei não deve consagrar um geral
"crimen culpae", mas vários "crimina culposa", conexionados com particulares
M. Miguez Garcia. 2001
230
resultados que pela sua gravidade ou frequência, a lei quer particularmente evitar,
mesmo quando produzidos apenas por negligência (Eduardo Correia, Direito
Criminal, I, p. 437). Nos casos em que há vários resultados (imprudentes) de morte, a
jurisprudência entende, geralmente, que se verifica um único crime involuntário
(crimen culpae), o qual compreende todos os resultados delitivos, representando o
mais grave o índice sancionador da infracção; mas há quem entenda que se dão
tantos crimes quantos os resultados mortais que se tenham causado (crimina culposa).
M. Miguez Garcia. 2001
231
§ 9º Crimes contra a vida. Homicídio (continuação). Provocação
CASO nº 9 Homicídio. Requisitos da provocação. A provocação prevista, em
termos gerais, no artigo 72º, nºs 1 e 2, b). A provocação mais ampla do artigo
133º. Requisitos da atenuação especial.
• Por questões de trânsito, A travouse de razões com M e N. Após insultos recíprocos de
"filho da puta" e outros, M e N dirigemse na direcção de A, brandindo os capacetes,
tentando agredilo, quando este recuava, o que o levou a ficar exaltado e enervado,
"mas não deixando nunca de se aperceber das consequências dos seus actos" — como
mais tarde o Tribunal veio a averiguar —, e a disparar três tiros na direcção daqueles,
com um dos quais atingiu M, a quem provocou lesões necessariamente determinantes
da sua morte.
A morte de M foi causada pelo disparo de A, pelo que este fica desde logo
comprometido com a tipicidade do artigo 131º. A disparou e M morreu. A
morte foi produzida pelo tiro disparado por A, que agiu dolosamente. Dolo é
conhecimento e vontade de realização do tipo. A sabia que matava M, com a
sua descrita actuação, e quis isso mesmo.
Não se mostram presentes quaisquer causas de justificação ou de
desculpação. A cometeu, como autor material, um crime do artigo 131º.
A moldura penal abstracta aponta prisão de 8 a 16 anos. Tendo, porém, em
atenção o comportamento de M, pode perguntarse se não será caso de aplicar a
atenuação especial do artigo 72º, nºs 1 e 2, alínea b). Como se sabe, o tribunal
atenua especialmente a pena quando existirem circunstâncias anteriores ou
posteriores ao crime, ou contemporâneas dele, que diminuam por forma
acentuada a ilicitude do facto, a culpa do agente ou a necessidade da pena. A
referida alínea b) falanos em provocação injusta, mas não nos oferece o seu
conceito. O Supremo Tribunal defende que são os seguintes os requisitos
exigíveis para a observação do instituto da atenuação especial da pena com
M. Miguez Garcia. 2001
232
alicerce na provocação (cf., por ex., o acórdão do STJ de 13 de Novembro de
1991, BMJ411231):
• — Um facto injusto do provocador, consistente em pancadas ou outras violências graves
contra as pessoas;
• — Um estado emotivo de excitação, cólera, dor que altere as condições normais de
determinação, maxima iracunda, imensus dolo;
• — Que esse estado de dor, excitação ou exaltação seja consequência normal e ininterrupta
do facto provocador injusto;
• — Que o estado de ira, dor ou exaltação provocado pelo facto injusto tenha sido o motor
do facto criminoso perpetrado pelo provocado; e
• — A proporcionalidade entre o acto provocador e a reacção do provocado.
Desde que tal condicionalismo se verifique e que dele se infira que
diminui por forma acentuada a ilicitude do facto, a culpa do agente ou a
necessidade da pena, tem o aplicador do direito o dever de pôr em prática a
medida da atenuação especial.
No caso nº 9 não se mostram identificados os elementos típicos a que atrás
se faz alusão. O acto provocador, no sentido vulgar do termo, não consistiu em
pancadas ou quaisquer outras violências graves. Por outro lado, A não deixou
nunca de se aperceber das consequências do seu acto, não foi possuído por um
estado emotivo de excitação, cólera, dor, que lhe alterasse, como consequência
necessária, as suas condições normais de determinação. Existe, finalmente, uma
manifesta desproporcionalidade entre o acto injusto e a reacção de A.
Não é aplicável a circunstância modificativa apontada.
O estado de exaltação e nervosismo em que A actuou não pode, no
entanto, deixar de ser tomado na devida conta, mas só como atenuante geral da
sua responsabilidade, no quadro do artigo 71º (medida da pena).
CASO nº 9A. Homicídio; provocação; desforço; atenuação especial.
• A dirigiuse a casa de J, seu padrinho de casamento, com intenção de o visitar. Mantinham
boas relações, ainda que J censurasse ultimamente A pelas suas condutas
provocadoras e quezilentas, quando embriagado. Sentaramse à mesa, mas em
M. Miguez Garcia. 2001
233
determinada altura A falou de uma sua irmã em termos que J considerou incorrectos,
pelo que lhe chamou atenção. A, que não terá gostado do reparo feito, disse para J:
"tu és um cabrão" e "a tua mulher anda metida com o João Pinto, fez tudo quanto quis
e não quis". J interpelouo, no sentido de ele ser capaz de repetir o que dissera, ao que
ele de imediato retorquiu: "já te disse, seu cabrão". Então J levantouse da mesa,
dirigiuse a um quarto contíguo onde tinha a caçadeira, pegou nela, carregoua com
dois cartuchos e regressou à sala, empunhando a arma. De novo J disse para o A
repetir o que dissera, tendo este respondido: "já te disse". Acto contínuo, J, que se
encontrava a uma distância aproximada de 2 metros do A, que permanecia sentado à
mesa e de frente para ele, apontoulhe a arma à cabeça e disparou um tiro. O projéctil
disparado atingiu A na cara e causoulhe lesões necessariamente determinantes da
morte. J actuou com dolo homicida: quis causar a morte da vítima, resultado que
previu e quis obter.
A provocação distinguese do desforço, entendendose por este a reacção contra uma ofensa que
não pressupõe o estado emocional da provocação, que não é o resultado desse estado,
podendo realizarse a sanguefrio.
Neste caso não se provou que J tenha agido em qualquer estado emotivo,
de excitação, cólera ou dor, com as suas condições normais de determinação
alteradas. Existiu um comportamento da vítima com virtualidade de criar esse
estado, mas de forma alguma se prova que ele tenha existido. J não agiu com a
sua capacidade de avaliação prejudicada por um estado psicológico anormal,
mas antes de modo frio, calculado, preparado. Agiu apenas para castigar a
vítima pelo que ela estava a dizer, revelando antes uma frieza e um cálculo
notáveis.
O homicídio privilegiado difere do homicídio com atenuação especial da
provocação pela diferença de grau de intensidade da emoção causada pela
ofensa e ambos diferem da legítima defesa, "grosso modo", porque nos
primeiros o agente, ao contrário do último, não actua com animus defendendi.
E o excesso de legítima defesa não se enquadra em alguns daqueles porque o
agente actua com a intenção de se defender mas exorbitando nos meios
empregados (ac. do STJ de 11 de Dezembro de 1996, BMJ462207).
M. Miguez Garcia. 2001
234
A provocação é uma circunstância atenuante inerente à culpa, baseada
num estado de emoção, excitação e enervamento que já os praxistas afirmavam
e repetem os modernos códigos, é causado no agente por facto injusto de
outrem, podendo diminuir mais ou menos fortemente a liberdade de avaliação
e de determinação do provocado e conduzilo a usurpar e não esperar pelo
exercício da função punitiva do Estado, vingando e castigando por suas mãos a
ofensa. (...) seria desconhecer toda a realidade social ignorar a força inibidora de
uma justa apreciação e determinação que a dor ou estado de perturbação,
ccusados por uma ofensa ou por uma provocação injusta envolvem. Daí que, se
a provocação teoricamente não exclui, pelo menos diminui a liberdade e deve
portanto, nessa medida, atenuar a pena. Cf. Eduardo Correia, Crime de ofensas
corporais voluntárias, parecer, CJ, ano VII (1982), tomo 1.
Outras indicações de leitura
• Ac. do STJ de 3 de Abril de 1984, BMJ340207.
• Ac. do STJ de 4 de Junho de 1980, BMJ298295.
• Ac. do STJ de 9 de Dezembro de 1992, BMJ422128: prova do estado de emoção do
provocado. Apreensibilidade desse estado. A provocação é figura distinta da vingança fria e
calculada ou da justiça por próprias mãos. Efectivamente, quando alguém aproveita uma
atitude provocatória de outrem mas, friamente, com toda a calma, resolve tirar desforço, nada
mais está a fazer do que justiça por próprias mãos, a revelar uma forte vontade de delinquir.
Faz logo ressaltar à ideia a figura dos pistoleiros dos westerns americanos.
• Ac. do STJ de 9 de Fevereiro de 1989, BMJ384395 (Taipa de Carvalho: o acórdão acabou
por recusar ao arguido uma indiscutível atenuação especial da pena, atenuação esta que não
pressupõe uma provocação materializada numa grave (à paulada) e actual agressão, mas que,
obviamente, existindo esta, aquela (a atenuação) se torna a fortiori, ou seja, juridicopenalmente
(e mesmo jurídicocivilmente) imposta, judicialmente cogente).
• Ac. do STJ de 9 de Julho de 1992, BMJ419589.
• Ac. do STJ de 11 de Julho de 1990, BMJ399238.
• Ac. do STJ de 16 de Janeiro de 1985, BMJ343189.
M. Miguez Garcia. 2001
235
• Ac. do Supremo Tribunal de Justiça de 16 de Janeiro de 1990, CJ, 1990, tomo I, p. 11:
mulher que mata o marido que viola os deveres conjugais, mas sem que tenha agido com
emoção violenta: artigo 131º, sendo a pena especialmente atenuada.
• Acórdão do STJ de 23 de Setembro de 1992, BMJ419454: Agente — médico — próximo da
inimputabilidade em razão da sua doença mental, mas como o arguido não perdeu a
consciência da ilicitude dos actos que cometeu com a maior barbaridade e crueldade, não se
justifica que a diminuição da imputabilidade conduza à atenuação da culpa e da pena).
• Américo Taipa de Carvalho, A Legítima Defesa, p. 445.
• Beleza dos Santos, Lições ao 5º ano de 1949; e RLJ, ano 90º, p. 97.
• Eduardo Correia, Direito Criminal, II, p. 287 e ss.
• Eduardo Correia, parecer, Crime de ofensas corporais voluntárias, CJ, ano VII (1982), tomo
1.
• Jorge de Figueiredo Dias, Homicídio qualificado, parecer, CJ, (1987).
• Jorge de Figueiredo Dias, Liberdade, culpa, direito penal, 1976, p. 92.
M. Miguez Garcia. 2001
236
§ 10º Suicídio. Homicídio a pedido; incitamento ou ajuda ao
suicídio. “Pacto suicida”
CASO nº 10. Homicídio a pedido; incitamento ou ajuda ao
suicídio.
A, que sofre de doença incurável e está farto da vida, pede a sua mulher, B, que abra a torneira
de gás na cozinha, o que ela faz e onde A se instala por seu próprio pé, aguardando que
a morte chegue, o que acaba por acontecer.
Punibilidade de B?
CASO nº 10A. Um casal decidiu despedirse da vida em conjunto. Ambos estendem
colchões no chão da cozinha e a mulher, S, abre a torneira do gás. Ainda que em estado
de inconsciência, acabam ambos por ser encontrados e salvos. A acção que conduziria
directamente à morte de ambos era a abertura da torneira do gás. Um tribunal condenou
S por homicídio a pedido na forma tentada (artigos 22º e 134º, nºs 1 e 2). O marido, M, foi
condenado por ajuda ao suicídio tentado (artigo 135º).
Comentar a decisão.
A circunstância de não se punir o suicídio faz com que o correspondente
incitamento ou ajuda se ligue de forma por vezes aguda a diversas questões
dogmáticas e de política criminal que as legislações estão longe de uniformizar.
Para o direito alemão, quem entrega a arma ao suicida fica impune, mas quem
dispara a pedido da vítima é punido por homicídio. A solução é a única
compatível com o princípio da irrelevância penal (formal) da participação em
facto não punível, geradora de inúmeros casos sentidos como "lacunas" de
punibilidade que se tenta integrar no § 216, correspondente ao nosso homicídio
a pedido, ou na omissão própria do § 216, ou imprópria dos §§ 13 e 212 do
M. Miguez Garcia. 2001
237
StGB. Uma outra concepção parte da ideia da ilicitude material de qualquer
forma de intervenção num suicídio, já que a protecção da vida se impõe à
generalidade das pessoas. Mas também esta posição é sujeita a críticas. Dum
ponto de vista de política criminal, nem todos os casos de colaboração num
suicídio serão dignos de pena. Por outro lado, a moderna doutrina da
imputação objectiva oferece formas de limitação da punibilidade que
simplesmente não podemos ignorar. Assim, não haverá certamente ajuda ao
suicídio quando o familiar dum doente em estado terminal que está farto de
viver interrompe o tratamento prescrito pelo médico. Aliás, não deixa de ser
duvidosa a interpretação da ajuda psíquica ou física a um grevista da fome que
está disposto a ir até às últimas consequências e que acaba por morrer.
Quem assiste passivamente a um suicídio não comete qualquer crime,
mas, em certas situações, poderá haver ajuda ao suicídio por omissão? No caso
de preso em greve de fome haverá um dever jurídico de impedir a morte? O
artigo 135º exige uma acção positiva. O crime é essencialmente doloso. Não
serão admissíveis processos violentos ou dolosos de alimentação forçada que
ponham em causa a dignidade da pessoa do preso quando haja uma radical
vontade do preso em prosseguir a greve de fome até às suas últimas
consequências (R. Capelo de Sousa, O Direito geral de personalidade, Coimbra,
1995, p. 207).
Os autores apontam até o caso do cônjuge que ameaça matarse se o outro
o deixar, e que passa ao acto quando a ameaça não surte efeito. Faltará aqui a
possibilidade de imputar o resultado ao abandono: a ameaça de suicídio é
ilegítima e não pode conduzir à punição de acordo com o artigo 135º, ainda que,
eventualmente, se possa invocar uma omissão relevante se se inicia o acto
suicida e o garante da evitação do resultado nada faz. Poderá até haver casos de
aparente auxílio ao suicídio que devam ser tratados como de homicídio com
autoria mediata, dependendo se ocorre ou não um domínio do facto por parte
do "suicida". A questão prendese com a comissão por omissão se a vitima
desconhece o significado do suicídio (por ex., devido a inimputabilidade ou
anomalia psíquica) e o agente for, também aqui, garante da evitação do
resultado. Ainda assim, pode discutirse se de um verdadeiro resultado se trata
(cf. o artigo 10º, nº 1), pois não parece desacertado fazer corresponder a
exigência típica do suicídio, tentado ou consumado, a uma mera condição
objectiva de punibilidade. Finalmente, como toda a participação num suicídio é
de seu natural dolosa, ficam excluídos os casos simplesmente negligentes de
"incitamento" a uma acção responsável do suicida (cf. Kienapfel, p. 30 e ss.).
M. Miguez Garcia. 2001
238
Não actua tipicamente o cônjuge que sabendo das inclinações do outro para o
suicídio inadvertidamente deixa ficar ao alcance deste uma caixa de
barbitúricos ou uma pistola carregada.
Na Áustria é muito conhecido o caso Hildegard Höfeld. As sistemáticas e dolosas agressões
dos pais à mente da filha de 14 anos atiraramna para uma tentativa de suicídio. Foram
ambos condenados por tentativa de homicídio, mas a decisão está longe de conseguir a
unanimidade.
Nos termos da actual redacção será a subsistência ou não da capacidade de valoração e
determinação a decidir, em concreto, sobre se a pessoa incitada detém ainda o domínio
do facto ou, pelo contrário, ela deve ser já tratada como um mero “instrumento” nas
mãos do agente do incitamento. E, por vias disso, a dividir as águas, extremando as
situações de ajuda ao suicídio face às hipóteses de verdadeiro homicídio, em autoria
mediata. Uma compreensão das coisas que, aplicada à área problemática do suicídio
provocado mediante erro, fará, a nosso ver, avultar o acerto da tese segundo a qual, só
a provocação de um erro sobre a qualidade letal da acção, ou sobre o próprio facto da
morte, pode fundamentar uma autoria mediata de quem provoca esse tipo de erro e,
com isso, um homicídio (cf. Costa Andrade, Sobre a reforma ..., p. 460). O suicida tem
que querer a sua própria morte.
Exemplo: A faz com que B, que de nada suspeita, toque num condutor de electricidade de
alta tensão. B não quer de forma nenhuma suicidarse, mas acaba por morrer.
Rui Carlos Pereira (O dolo de perigo, p. 27 e passim), reconhecendo que no
âmbito da descrição típica contida no nº 1 do artigo 135º o suicídio tentado ou
consumado deverá qualificarse como condição objectiva de punibilidade,
identifica o crime como de perigo concreto: "crime de perigo concreto com
M. Miguez Garcia. 2001
239
resultado naturalístico e dolo de dano": o perigo é descrito naturalisticamente,
como sendo o suicídio tentado ou consumado. A previsão do suicídio pelo
menos tentado assume, diz o Autor, um carácter necessariamente causal em
relação à conduta típica. O que nele há de peculiar é a própria descrição do
"evento" perigo, através da exigência mínima da tentativa de suicídio.
No homicídio a pedido da vítima, a iniciativa será sempre desta, mas é o
homicida quem pratica a acção para que foi motivado (caso de "instigação" da
vítima): em caso de desistência, esta é sempre de atribuir ao agente. No crime
de auxílio ao suicídio, o facto é dominado pelo próprio suicida: o autor do crime
simplesmente "incita" ou "ajuda"; em caso de desistência, esta é sempre do
candidato ao suicídio.
O incitamento abrange a instigação e o estímulo (Actas). É mais do que
simples instigação, mas não pode ser de molde a aniquilar a vontade da vítima.
Pode configurar intervenções com gradações distintas na potenciação de
condições subjectivas, na vítima, para a prática do acto. Por outro lado, significa
a determinação de outrem ao cometimento do suicídio, o que se traduz numa
atitude dirigida à formação da resolução da vítima (num sentido paralelo ao da
palavra "determina" usada no artº 26º do CP. Quem incita, nesta acepção,
determina outrem a querer, o que pressupõe formar, na respectiva vontade, um
certo propósito, neste caso o de autodestruição (M. M. Silveira, p. 93). Mas
pode já existir na vítima uma voluntas occisiva, que irá ser encorajada,
reforçada ou estimulada. Prestar ajuda é fornecer a arma, o veneno, autêntica
participação material; mas também pode haver ajuda mediante informações ou
conselhos que se prestam ou se dão. Ponto é que se verifique a necessária e
adequada influência, psíquica ou material, entre a acção de incitamento ou
ajuda e o acto suicida, cuja expressão típica se reconduz, no mínimo, à tentativa,
como condição objectiva de punibilidade. O incitamento (que em alguns casos
poderá corresponder a uma "eutanásia por sugestão") e a ajuda típicos são
modalidades de conduta estruturalmente análogas a certas formas de
participação (instigação e cumplicidade). Mas não são formas autónomas de
comparticipação na medida em que o suicídio não é em si punível, o suicídio
não é um crime. Se não se incriminasse o incitamento e a ajuda ao suicídio na
forma autónoma do artigo 135º, no caso de suicídio provocado por erro, o
intérprete ficaria perante o “dilema de ter de optar entre o tudo que representa
a qualificação como homicídio (ex vi autoria mediata) e o nada da mais absoluta
impunidade”. Tudo com reflexos não dispiciendos a nível, v. g., da doutrina da
autoria (C. Andrade, Sobre a reforma ..., p. 459). O legislador não quer que a
M. Miguez Garcia. 2001
240
impunidade do suicídio beneficie outras pessoas para além do suicida. Por isso
tipificou condutas de participação no suicídio que, de outra forma, ficariam
impunes por via do princípio da acessoriedade da participação. Problema
suscitado por alguns autores é se se justifica a equiparação entre a forma
mitigada da ajuda, com que se reforça a decisão do suicida, e qualquer forma de
fornecimento de meios. O próprio incitamento corresponde à instigação, que a
lei geral pune de forma mais grave do que a simples cumplicidade, a que se
pode referir a ajuda. A questão pode ser resolvida na fase da concreta fixação
da pena, face à suficiente elasticidade da moldura penal.
No incitamento existe uma relação de causalidade específica, que se
estrutura de acordo com a fórmula da conditio sine qua non: é preciso que a
contribuição daquele que incita ao suicídio seja decisiva e que, sem ela, o
suicídio não se tivesse dado. Na ajuda existe uma contribuição não decisiva,
estruturalmente análoga às formas de cumplicidade, material e moral, que se
exprimem num auxílio material e moral. (Rui Carlos Pereira). Se não houver
suicídio tentado o agente não pode ser punido por tentativa deste crime (crime
de incitamento ou ajuda ao suicídio). Com efeito, a tentativa de suicídio, como
exigência mínima do desencadear dos efeitos da incriminação, correspondente a
uma condição objectiva de punibilidade.
"Prestar auxílio" será entregar a pistola ou pôr à disposição do candidato
ao suicídio a porção de veneno letal. Mas já não presta auxílio quem dá
dinheiro a outrem, sabendo que este vai comprar drogas, podendo morrer de
uma overdose, o que vem a acontecer. A questão deverá ser analisada de acordo
com os critérios próprios da causalidade.
A nível de fundamentação do privilegiamento, dúvidas não restam que esta assenta, no auxílio
ao suicídio, exclusivamente numa menor ilicitude que decorre do facto de a acção do
agente não ser tão desvaliosa para o Direito, na medida em que só indirectamente é que
a mesma é lesiva de um bem jurídico: o crime de auxílio ao suicídio é um crime de
perigo e não de resultado ou de dano; já o crime de homicídio a pedido da vítima é um
crime de lesão (M. P. Gouveia Andrade).
M. Miguez Garcia. 2001
241
A conduta de oposição ao suicídio de outra pessoa não é punível (artº 154º, nº 3, b). “Talvez
deva igualmente concluirse pela não punibilidade, a título de Intervenção e tratamento
médicocirúrgico arbitrário, do médico que cura o autor de uma tentativa falhada de
suicídio, mesmo contra a vontade expressa do paciente. Seja como for quanto a este
ponto, temos por seguro que as inovações legislativas assinaladas não alteram o quadro
normativo vigente no que respeita à eutanásia passiva. Isto é, que elas não impõem a
responsabilização penal (homicídio por omissão) do médico que, respeitando a vontade
do paciente, o deixa morrer. Mesmo em caso de tentativa de suicídio” (Costa Andrade).
* À luz do nosso direito penal, é irrelevante a existência de um “pacto suicida” porque a
intervenção activa e exclusiva, causadora de morte de outrem, ainda que em resultado
de um pacto dessa natureza, não é enquadrável na figura do incitamento ou ajuda ao
suicídio do artigo 135º do Código Penal, mas sim, segundo as circunstâncias concretas
do caso, em qualquer das situações do homicídio voluntário dos artigos 131º a 134º do
mesmo diploma. E isso porque os conceitos de incitamento ou ajuda só podem
corresponder às figuras da autoria mediata ou da cumplicidade, mas nunca às da autoria
imediata, como s pode ver pela simoles análise dos artigos 26º e 27º do Código Penal.
Comete o crime de homicidio voluntario simples, do artigo 131º do Código Penal, o
arguido que a) Após se ter encontrado em sua casa com a ofendida (com quem mantinha
um namoro contrariado pelos pais dela) e no decurso de relação sexual que haviam
decidido manter, se muniu de uma faca de cozinha com 16 cm de lâmina e com o
comprimento total de 28 cm. que estava sobre uma mesa de cabeceira do quarto onde se
encontravam; b) Acto contínuo, apontou essa faca à zona do peito da ofendida, onde a
espetou em todo o comprimento da lâmina; c) De seguida retirou a faca da zona atingida
M. Miguez Garcia. 2001
242
e de novo espetoua mais quatro vezes sucessivas, assim causando a morte da ofendida;
d) Seguidamente espetou a mesma faca em si próprio, com o que provocou três feridas
pulmonares; e) E veio depois a ser assistido em hospital onde a faca lhe foi encontrada
na cintura pulmonar (ac. do STJ, BMJ413161). (15)
Quanto à tentativa de suicídio, cf. Meneses Cordeiro, Direito das Obrigações,
II, p. 19, que parece considerála ilícita. Não será inteiramente desajustado
estabelecer o confronto com os casos de automutilação. A mutilação para
isenção de serviço militar era punida no artigo 321º do Código Penal, redacção
originária, mas a incriminação desapareceu em 1998. Os ferimentos auto
infligidos constituem um fenómeno produzido pela Primeira Guerra Mundial e
estão relacionados com os avanços recentes da medicina. John Keegan (O rosto
da Batalha, ed. Fragmentos, 1976, p. 208) revela que não encontrou exemplos de
ferimentos autoinfligidos antes do desenvolvimento dos antisépticos. O
suicídio e a automutilação, não sendo atitudes lícitas ou ilícitas, são
manifestações de uma "posse natural", distintas do puro exercício de um direito
(Orlando de Carvalho, Teoria Geral da Relação Jurídica (Bibliografia e Sumário
desenvolvido), polic., 1970, p. 50). Cf. outros elementos em José Carlos Brandão
Proença, A conduta do lesado como pressuposto e critério de imputação do dano
extracontratual, 1997, p. 96; e Guilherme Freire Falcão de Oliveira, Direito
Biomédico e Investigação Clínica, RLJ, ano 130º (1997), p. 226.
• Reinhard Moos, Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch, §§ 7579 StGB, Viena, 1984.
Bruno Py, La mort et le droit, “Que saisje”, PUF, 1997.
15
() “Não há que considerar como verificada a existência de um “pacto de suicidio”. Isso
(
seria sempre irrelevante, à luz do nosso direito (tal como à luz de outros direitos estrangeiros,
nomeadamente o britânico—cfr. Suicide Act, de 1961, segundo o qual o interveniente num pacto
de suicídio que sobreviva é culpado de manslaughter e punível com prisão até 14 anos), porque
a intervenção activa e exclusiva, causadora da morte de outrem, ainda que em resultado de
um pacto dessa natureza, não é enquadrável na figura do incitamento ou ajuda ao suicídio, do
artigo 135º do Código Penal, como parece óbvio, mas, segundo as circunstâncias concretas do
caso, em qualquer das situações do homicídio voluntário dos artigos 131º a 134º do mesmo
diploma, e isso porque os conceitos de incitamento ou ajuda só podem corresponder às figuras
da autoria mediata ou da cumplicidade, mas nunca às da autoria imediata, como se pode ver
pela simples análise dos artigos 26º e 27º do Código Penal” (cf. o desenvolvimento do mesmo
acórdão).
M. Miguez Garcia. 2001
243
Jacques Fierens, Critique de l’idée de propriété du corps humain, Les Cahiers de Droit
(2000) 41.
M. Miguez Garcia. 2001
244
§ 11º Crime de ofensa à integridade física
I. Crime de ofensa à integridade física. Ofensa no corpo. Lesão da saúde.
CASO nº 11. Ofensa no corpo. Lesão da saúde. Crimes semipúblicos.
Queixa. Princípio da indivisibilidade. Consentimento justificante. A faz a
limpeza das janelas da casa de B. Às tantas, este aparece na rua, acompanhado da mulher, C, e
ambos a discutirem vivamente um com o outro. No calor da discussão, B grita para a mulher
das limpezas dizendolhe que atire a água do balde para cima de C e que se não acertar será
despedida. Com medo que ele a despeça, A atira a água suja do balde para cima de C. Cf.
Jürgen Baumann, Strafrechtsfälle und Lösungen, 5ª ed., 1981, p. 9.
À polícia, que entretanto surgiu, C declarou que compreendia o
comportamento de A, nada querendo dela, mas apresentou queixa contra o
marido, por ofensas corporais.
Punibilidade de A e B?
A primeira questão é a de determinar se houve uma ofensa no corpo ou na
saúde de C. Não se detecta, é evidente, um prejuízo para a substância corporal
da vítima. Mas o facto de se atingir outra pessoa com um balde de água suja
representará um prejuízo no bem estar físico de uma forma não insignificante?
Uma vez que a A teve que ficar algum tempo com a roupa no corpo, molhada
com água suja, e que dessa forma se verifica uma perturbação de funções
físicas, parece estar assegurado que o tipo de ilícito do artigo 143º, nº 1, se
encontra preenchido. Já seria diferente, não se podendo falar em maus tratos
corporais, se no verão, em plena praia, alguém atira um jarro de água limpa e à
temperatura normal contra outra pessoa.
O crime do artigo 143º, nº 1, consumase com qualquer ofensa no corpo ou
na saúde. A ofensa no corpo associase a um ataque à integridade corporal, que
tanto pode consistir no prejuízo ou perda da substância corporal, como no
simples corte do cabelo ou da barba. Com frequência, a ofensa corporal
constituirá uma lesão, mas pode não se chegar a infligir dor ou sofrimento.
Haverá dano da integridade corporal, por ex., quando o agressor provoca
equimoses, arranhadelas, ferimentos, fracturas, mutilações ou outras lesões do
mesmo género na vítima. Mas nem o derramamento de sangue (hemorragia)
nem a solução de continuidade dos tecidos são indispensáveis à existência de
uma ofensa no corpo. Uma parte significativa da doutrina não inclui as lesões
psíquicas, como as provocadas por medo ou repugnância, entre as ofensas no
corpo. Ser alvo de uma cuspidela não representará portanto uma ofensa
corporal. Pode porém representar uma injúria. Ainda assim, um choque
M. Miguez Garcia. 2001
245
psíquico pode bastar para provocar um dano físico, dependendo então da
intensidade com que se produz, pelo que, para lograr inclusão no
correspondente elemento típico, não poderá ser insignificante. Deste modo,
integra uma ofensa no corpo da vítima todo o mau trato através do qual o
ofendido é prejudicado no seu bem estar físico de forma não insignificante.
O conceito de saúde: “bemestar físico, psíquico e social”. Para a Organização Mundial da
Saúde, “a saúde é um estado de completo bemestar físico, mental e social, que não
consiste somente numa ausência de doença ou de enfermidade”. Seria dar azo a um
alargamento abusivo acolher uma tal definição nos quadros do direito penal; ela serve,
ainda assim, para descrever o contexto ideal ao desenvolvimento optimizado da
personalidade. A saúde é, na realidade, a capacidade de o organismo humano funcionar,
mas pode preencherse o ilícito de ofensa à integridade física mesmo que a pessoa
atingida não esteja necessariamente de boa saúde. Tratase, portanto, de uma noção
relativa. O critério de base não é um estado de saúde absoluto, mas o estado de saúde
em que se encontrava a vítima antes da ofensa. Protegese, pois, a saúde concreta. (Cf.
Pozo, p. 106).
A lesão da saúde consiste em criar ou intensificar uma situação patológica,
enquanto desvio das funções corporais normais. É a perturbação do equilíbrio
fisiológico ou psicológico da vítima. Tanto pode tratarse de uma infecção,
capaz de criar um estado de doença, como a criação dum estado de embriaguez
ou a ministração de uma droga que provoca no organismo uma alteração
desfavorável das funções biológicas. Nos contágios com o vírus da sida há uma
diferença entre o estado de saúde da pessoa infectada e o de outra pessoa não
atingida pelo vírus e isso tem certamente um significado patológico. Por outro
lado, o desencadear da imunodeficiência fica como que préprogramado, em
termos de se poder afirmar uma ofensa à saúde. De notar que uma ofensa no
corpo provoca frequentemente um prejuízo para a saúde. Mesmo as ofensas ao
bemestar passageiras e benignas constituem igualmente lesões corporais
simples quando puderem assimilarse a uma enfermidade, por ex., se
M. Miguez Garcia. 2001
246
acompanhadas de dores importantes, um choque nervoso, dificuldades
respiratórias ou uma perda do conhecimento (Stratenwerth, p. 60).
O conceito médicolegal de doença. “Entendese por doença uma alteração anatómica ou
funcional do organismo, geral ou local, com carácter evolutivo, seja para a cura, seja para
a consolidação ou para a morte. [Entendese por consolidação a estabilização com
sequelas]. Não importa que esta alteração incida ou não sobre a capacidade de trabalho,
nomeadamente aquela de atender às ocupações ordinárias, que requeira ou não
intervenção terapêutica, que comporte ou não um rebate geral apreciável do organismo.
É por isso que se reconhece doença mesmo nas equimoses, escoriações, epistaxes, no
“abalo” psíquico e em tantas outras condições de escasso relevo médico” (Cf. Fernando
Oliveira Sá, RPCC 3, citando Franchini, Medicina Legal, 9ª ed., Cedam Padova, p. 441 e
s.). O conceito de doença é um conceito puramente médico, podendo existir ofensa
corporal sem haver doença, dizse no indicado estudo.
No que toca aos elementos subjectivos do crime de ofensa à integridade
física simples, é manifesto que A actuou com conhecimento e vontade da
realização típica, isto é, dolosamente.
C, todavia, não apresentou queixa contra A. Como o crime tem natureza
semipública (artigo 143º, nº 2), não tem o Ministério Público legitimidade para o
procedimento criminal.
O Código de Processo Penal edita regras especiais para os crimes particulares lato sensu (crimes
semipúblicos) em que a legitimidade do Ministério Público para acusar necessita de ser
integrada por um requerimento, feito segundo a forma e no prazo prescritos, através do
qual o titular do respectivo direito (em regra, o ofendido) exprime a sua vontade de que
se verifique procedimento criminal por um crime cometido contra ele ou contra pessoa
com ele relacionada (artigo 113º do Código Penal e artigo 49º do Código de Processo
Penal; cf. Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal Português — As Consequências Jurídicas
M. Miguez Garcia. 2001
247
do Crime, Aequitas, 1993, p. 665). O direito de queixa é assim uma declaração inequívoca
de vontade de proceder contra determinada pessoa (José Damião da Cunha, RPCC 8
(1998), p. 601). Ensina também o Professor Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, vol.
1, p. 121, que o fundamento da existência de crimes particulares reside, por um lado, em
que tais infracções não se relacionam com bens jurídicos fundamentais da comunidade
de modo tão directo e imediato que aquela sinta, em todas as circunstâncias da lesão, —
v. g. atenta a sua insignificância— necessidade de reagir automaticamente contra o
infractor. Se o ofendido entende não fazer valer a exigência de retribuição, a comunidade
considera que assunto não merece ser apreciado em processo penal. Em certas
infracções, a promoção processual contra ou sem a vontade do ofendido pode ser
inconveniente ou mesmo prejudicial para interesses seus, dignos de toda a consideração,
porque estritamente relacionados com a sua esfera íntima ou familiar; perante um tal
conflito de interesses juridicamente relevantes o legislador dá prevalência ao interesse
particular.
Acontece que o não exercício do direito de queixa relativamente a um dos
comparticipantes dentro do prazo de seis meses aproveita aos restantes, nos
casos em que estes não puderem ser perseguidos sem queixa (artigo 115º, nº 2),
pretendendose assim retirar da disponibilidade do ofendido o direito de
escolha de um ou mais participantes, com exclusão de outros, visto que o que
essencialmente está em causa é a perseguição do crime praticado e não apenas a
satisfação de interesses de natureza pessoal (cf. Maia Gonçalves, Código Penal
Português anotado, 14ª ed., p. 386; e o acórdão da Relação de Guimarães de 2 de
Dezembro de 2002, CJ 2002, tomo V, p. 291). C, titular dos interesses que a lei
quis proteger com a incriminação (artigo 113º, nº 1), dirigiu a queixa apenas
contra o marido, mas indicou A como sendo comparticipante nos factos que
integravam o crime de ofensa à integridade física, sem que agora tenhamos que
determinar se se trata de autoria ou de cumplicidade. Considerando o princípio
da indivisibilidade consagrado no nº 2 do artigo 115º, é inquestionável que o não
exercício do direito de queixa contra A aproveita ao B.
M. Miguez Garcia. 2001
248
Vamos agora supor que C também apresentara queixa contra A —que,
apesar de compreender o gesto de A, ainda assim queria que esta respondesse
em juízo. Põese então o problema de saber se o facto de ter declarado que até
compreendia a conduta de A representa uma causa de justificação,
concretamente, na forma de consentimento. A resposta só poderá ser negativa,
uma vez que o consentimento justificante precede necessariamente a conduta
típica, como o mostra a circunstância de poder ser livremente revogado até à
execução do facto (nº 2 do artigo 38º). Por conseguinte, o crime não se encontra
justificado pelo consentimento da ofendida. Também não convergem os
pressupostos do artigo 34º. A conservação de um emprego apetecível por parte
de A não representa um interesse sensivelmente superior à integridade física de
C. Como, por último, não havia por parte de B um perigo actual para a vida, a
integridade física, a honra ou a liberdade de A, a culpa também se não mostra
excluída por aplicação dos critérios do artigo 35º (estado de necessidade
desculpante). A praticou um crime consumado do artigo 143º, nº 1, na pessoa
de C. Quanto muito, a pena de A poderá ser especialmente atenuada.
Excepcionalmente, poderá até A ser dispensada de pena, tudo nos termos do nº
2 do artigo 35º.
Mas será A autora ou cúmplice?
Ao atingir as roupas de C com a água do balde podem ter sido provocados
danos ligados à utilidade dessas coisas, de acordo com a sua função (o tornar
não utilizável coisa alheia). No que respeita às acções típicas, no crime de dano
do artigo 212º, nº 1, do Código Penal, o legislador combinou diversas
formulações: ao lado da destruição, que envolve o desaparecimento da coisa
física, irremediavelmente atingida na sua substância e enquanto coisa capaz de
desempenhar uma função; da danificação, que não atingindo o limiar da
destruição exprime a diminuição das utilidades, em virtude da sua alteração
material, que a coisa concedia; e da desfiguração, com a alteração da imagem
exterior da coisa —aparecem também danos ligados à utilidade da coisa de
acordo com a sua função (o tornar não utilizável coisa alheia). Falase, a
propósito, de lesão da substância e de redução das utilidades. O crime em causa tem
igualmente natureza semipública, é necessária queixa prévia para que o
procedimento criminal possa ser exercido (nº 3 do artigo 212º). De qualquer
forma, tratase de um facto copunido, em razão do concurso aparente de normas
—entre o preceito do artigo 143º, nº 1, e o do artigo 212º, nº 1, só se aplicará o
primeiro, recuando o segundo: a pena daquele já engloba o desvalor da
utilização dos meios escolhidos para ofender corporalmente.
M. Miguez Garcia. 2001
249
Tem razão Rodriguez Devesa quando escreve: Nunca vi nenhuma sentença que condenasse
por homicídio e ao mesmo tempo pelos danos causados na roupa pelo disparo que
provocou a morte ou pela facada que provocou feridas mortais na vítima. A pena do
homicídio já engloba o desvalor da utilização dos meios escolhidos para dar a morte.
Estarão igualmente presentes as circunstâncias, objectivas e subjectivas, do
crime de injúria dos artigos 181º, nº 1, e 182º? São inúmeros, como se sabe, os
modos como pode cometerse o crime. Para além da ofensa verbal, onde as
palavras têm um inequívoco significado ofensivo da consideração (“ladrão”,
“gatuno”, etc.), o crime pode cometerse metendo a ridículo o ofendido, de
maneira simbólica, mediante actos, imagens ou objectos que pelo seu
significado, facilmente compreendido pelos outros, ofendem a honra —gesto de
mão com o indicador e o mínimo espetados; colocação de uns chifres à porta do
vizinho; mostrar o “traseiro”, ostensivamente, em postura ofensiva; o expelir de
ventosidades anais, igualmente em postura ofensiva e com desprezo do visado;
atirar um balde de água suja contra uma pessoa com o propósito de a molhar,
como no caso nº 11; e outros exemplos que têm corrido nos tribunais. Fazer
troça de alguém, mesmo em jeito de brincadeira, pode ofender se for expressão
de um desvalor: por ex., tratar por “tu” de forma impertinente. Ofende quem
cospe no outro ou lhe lança imundícies. Ofende o puxão de orelha ou a
bofetada que se dá, não para magoar fisicamente mas para rebaixar o
adversário.
Atentas as circunstâncias, todavia, parece que não será caso de sustentar
uma ofensa da honra.
E qual a posição de B em tudo isto? B também agiu dolosamente, sem
qualquer causa de justificação ou de desculpação. Mas será coautor ou
instigador de A? E será B autor de um crime de ameaça (artigo 153º, nº 1)
relativamente a A?
CASO nº 11A. O coração do caixa do Banco. Durante o assalto a uma agência
bancária, o caixa, B, sofreu um ataque cardíaco na sequência do enorme susto provocado pela
intervenção de A, um dos assaltantes.
A ofensa corporal não estará no susto, mas no ataque cardíaco por ele
provocado.
CASO nº 11B. Dar uma bofetada, apertar o pescoço.. P é professora do
ensino básico. Na sala de aulas, P escreve no quadro, de costas viradas para os alunos, com
idades que andam pelos dez anos. Às tantas, P dáse conta do arremesso de uma bola de papel,
e voltase rapidamente, agarrando A por um braço, e aplicandolhe um tabefe na cara. Na tarde
M. Miguez Garcia. 2001
250
desse mesmo dia, os pais de A fazem queixa contra a professora por crime de ofensa à
integridade física e por injúria, informando da sua intenção de se constituírem assistentes. No
dia seguinte de manhã, a mãe de A apresentase com este na sala de aulas, para ter uma
conversa com a professora, e às tantas agarralhe o pescoço com ambas as mãos, seguindose a
queixa desta na polícia. Nas averiguações que se seguiram, provouse que não fora o aluno A
quem atirou a bola de papel à professora. Cf. Wessels / Beulke, AT, p. 157; Claus
Roxin et al., Strafrechtliche Klausurenlehre mit Fallrepetitorium, 2ª ed., p. 75 e ss.
Ao agarrar A por um braço, aplicandolhe um tabefe na cara, P pode ter
cometido um crime doloso de ofensa à integridade física simples. Como já
vimos, o ilícito do artigo 143º, nº 1, consumase com qualquer ofensa no corpo
ou na saúde. Há dano da integridade corporal, por ex., quando o agressor
provoca equimoses, arranhadelas, ferimentos, fracturas, mutilações ou outras
lesões do mesmo género na vítima. Mas nem o derramamento de sangue
(hemorragia) nem a solução de continuidade dos tecidos são indispensáveis à
existência de uma ofensa no corpo. A dor e o sofrimento também não são
imprescindíveis. Quem dá uma bofetada noutra pessoa agridea fisicamente,
ofendendoa no corpo (eventualmente na saúde), mesmo que não ocorram
lesões, incapacidade para o trabalho ou, mesmo só, dor.
O direito dos pais corrigirem os filhos deverá ser considerado uma causa
de justificação. A legitimação dos pais deduzse do direito de educar. Cf. os
artigos 1877º, 1878º e 1885º do Código Civil. Mas não existe uma norma escrita a
conferir aos professores um direito de castigo na escola. Hoje em dia, aliás,
negase um direito de castigo do professor relativamente aos seus alunos, mesmo
que este pretenda que à sua actuação preside uma finalidade pedagógica e se
guarda uma relação adequada com a falta cometida e a idade do jovem.
Também por isso mesmo se não poderia prevalecer o professor da adequação
social da ofensa.
O critério da adequação social. No que toca à adequação social, escreve o Prof. Figueiredo
Dias, RPCC 1991, p. 48, “a ideia básica é a de que não pode constituir um ilícito jurídico
penal uma conduta que ab initio e em geral se revela como socialmente aceite e
reconhecida”. Segundo Welzel, ficam excluídas do tipo de injusto aquelas condutas que
embora estejam nele formalmente incluídas se mantêm dentro da ordem social histórica
“normal” da comunidade. Welzel menciona como exemplos, entre outras, as ofensas
corporais insignificantes, as privações da liberdade irrelevantes, a entrega de presentes
M. Miguez Garcia. 2001
251
aos funcionários por altura do Natal, as condutas meramente indecorosas ou
impertinentes nos crimes sexuais. O critério da adequação social como causa de exclusão
da tipicidade da conduta é, para alguns autores, sumamente impreciso e afectaria, por
isso, gravemente a segurança jurídica. O mesmo se afirma do chamado princípio da
insignificância, formulado por Roxin. Ver, sobretudo, Cerezo Mir, El delito como acccion
típica, in Estudios Penales. Libro Homenaje al Prof. J. Anton Oneca, Ed. Universidad de
Salamanca, 1982, p. 176. “As acções socialmente adequadas, isto é, as acções que não
contrastam com as exigências, os aspectos, as características, os fins da vida em
sociedade num dado momento histórico, não deveriam considerarse correspondentes a
uma abstracta fatispécie delituosa, ainda que, formalisticamente, lhe possam ser
referidas”. “A fatispécie acolhe um aspecto patológico da vida de relação, não um aspecto
normal, que se adequa às fundamentais exigências éticas da vida em sociedade”. Cf. G.
Bettiol, p. 201. Ainda sobre cláusulas de adequação social: carnaval, praxe — cortes de
cabelo, cf. Maria Paula Ribeiro de Faria, A lesão da integridade física e o direito de
educar, com a observação de que “o direito não deve ser completamente permeável em
relação às valorações sociais, nomeadamente, não deve sofrer reflexões axiológicas em
função das práticas sociais, mas também não pode ter uma relação ostensiva e realista da
distância em relação àquilo que se passa na realidade e na vida social”. No mesmo local,
podem ainda encontrarse elementos sobre o cumprimento das regras do jogo nas
competições desportivas; as condutas de agressão íntima (empurrões, beliscões,
pisadelas, que não têm dignidade lesiva para merecerem ou justificarem a intervenção
penal); e o exercício do direito de correcção. Também sobre o direito de correcção,
Figueiredo Dias, Textos, p. 295: “um direito de correcção do professor sobre os seus
M. Miguez Garcia. 2001
252
alunos que implique a prática, por aquele, de factos criminalmente típicos não parece
poder hoje sufragarse, também entre nós”.
O acto de atirar uma bola de papel não representa, certamente, uma
agressão que justifique a adopção de uma acção de defesa, pelo que estará do
mesmo modo excluída a legítima defesa (artigo 32º). Podese assim assegurar
que o comportamento da professora é ilícito, por não se encontrar coberto por
qualquer causa de justificação (artigo 31º). Vamos contudo ver se a punibilidade
de P poderá eventualmente ser afastada pela circunstância de esta, no momento
de actuar, estar convencida de que tinha um direito ao castigo e que, no caso,
estavam reunidos os pressupostos fácticos dessa presumida causa de
justificação (hipótese de duplo erro). Detectase aqui um erro sobre o tipo
permissivo (admissão errónea de uma situação que, a existir, seria de molde a
justificar o facto concreto), a resolver de acordo com os critérios do artigo 16º,
nºs 1 a 3, excluindose o dolo, mas possibilitando a punibilidade do agente por
ofensa à integridade física negligente (artigo 148º), tanto mais que, sendo o
crime de natureza semipública, houve queixa de quem de direito, os pais do
aluno.
Saber se com um tabefe pode cometerse um crime de injúria (artigo 180º,
nº 1) tem normalmente resposta positiva na jurisprudência. Na redacção
originária do Código (1982) previase, no artigo 173º, o crime de injúrias através
de ofensas corporais, castigandose quem cometia contra outrem uma ofensa
corporal que, pela sua natureza, meio empregado ou outras circunstâncias,
revela intenção de injuriar. No caso, não parece que concorram todos os
elementos deste crime.
O passo seguinte consiste em saber se apertar o pescoço constitui ofensa à
integridade física para efeitos de preenchimento do tipo legal fundamental de
ofensa à integridade física do artigo 143º, nº 1. Um caso destes foi tratado, ainda
que só para efeitos de pronúncia, no acórdão da Relação de Lisboa de 19 de
Junho de 2001, CJ 2001, ano XXVI, tomo III, p. 150. Aí se recorda que o bem
jurídico protegido é a integridade física e que esta pode ser atingida por uma
ofensa no corpo ou na saúde independentemente da dor ou sofrimento
causados, da gravidade dos efeitos ou da sua duração.
“Por ofensa no corpo deve entenderse toda a perturbação ilícita da integridade corporal
morfológica ou do funcionamento normal do organismo ou das suas funções psíquicas,
todo o mau trato através do qual a vítima é prejudicada no seu bem estar físico de forma
M. Miguez Garcia. 2001
253
não insignificante. Com efeito, segundo a doutrina, a ofensa no corpo não poderá ser
insignificante. Sob o ponto de vista do bem jurídico protegido não será de ter como
relevante a agressão e ilícito o comportamento do agente se a lesão é diminuta. (…) O
acto de apertar o pescoço de outra pessoa não constitui uma forma de actuação
susceptível de se enquadrar numa via de facto e, face ao nosso ordenamento penal, deve
ser considerada como ofensa corporal, não sendo de recorrer à figura da adequação
social para o excluir, em princípio, do tipo legal fundamental de ofensa à integridade
física simples. Entendimento que se mantém na linha definida pela jurisprudência.
Começando pelo acórdão de fixação de jurisprudência de 28.11.1991 que considerou
integrar o crime do art. 142° do CP, versão primitiva, a agressão voluntária e consciente,
cometida à bofetada, sobre outra pessoa, ainda que esta não sofra por via disso, de lesão,
dor ou incapacidade para o trabalho, e citandose, a título exemplificativo, os acórdãos
da RC de 6.10.88 (integra a materialidade correspondente ao crime de ofensas corporais
voluntárias a conduta daquele que agarra a ofendida pelas roupas, junto ao pescoço,
dandolhe fortes abanões) e de 5.4.89 (crime previsto e punido no art. 142º, nº 1 do CP,
versão primitiva, pode ser cometido através de uma conduta, nomeadamente um
empurrão, que não deixe marcas ou consequências no corpo do ofendido). Neste
entendimento, consideramos que a indiciada conduta da arguida de apertar o pescoço
da ofendida integra o crime de ofensa à integridade física e que, sendo a assistente
professora e tendo o facto sido cometido no exercício das suas funções, está
desencadeado o exemplo padrão contido na al. j) do nº 2 do art. 132º do CP, indiciando
um especial tipo de culpa agravado, conformado através da verificação da especial
censurabilidade ou perversidade do agente, determinando a aplicação do art. 146° do
M. Miguez Garcia. 2001
254
CP, por referência ao art. 143º do mesmo diploma, na subsunção jurídica dos factos que
suficientemente se indiciam”. Citado acórdão de 19 de Junho de 2001”.
CASO nº 11C. Um corte de cabelo à escovinha. A, enquanto B, seu
companheiro de quarto, dormia, depois de uma noitada que meteu copos em abundância,
conseguiu pacientemente e sem que a vítima de tal se fosse apercebendo, cortarlhe a farta
cabeleira que era o orgulho de B. Quando B acordou e se sentiu “espoliado daquilo que melhor
convivia com os seus pensamentos”, foi fazer queixa à esquadra por ofensa voluntária à sua
integridade física, o que deixou os polícias muito espantados e perplexos . A defendeuse,
dizendo que ambos eram estudantes universitários e se estava no auge da temporada da praxe
académica.
Punibilidade de A?
O direito italiano estabelece a diferença entre “lesões pessoais”, quando se
produz uma alteração, ainda que levíssima, da integridade física pessoal (ex.: as
equimoses, que levam à rotura dos vasos sanguíneos com infiltração do sangue
no tecido celular), e o delito de percosse (artigo 581 do código), para o qual
basta a produção de sensações dolorosas. A diferença depende exclusivamente
das consequências produzidas pela acção do agente: configurase delito de
percosse se do facto deriva para o sujeito passivo apenas uma sensação física de
dor; ocorrendo doença, haverá delito de lesões, ainda que a intenção do agente
seja apenas a de agredir. A “percossa” (percussão), para poder apresentar
carácter de injúria, deverá ser expressão de uma violência puramente formal,
que revele a intenção de evitar o mínimo sofrimento físico no ofendido, antes
evidenciando o exclusivo propósito de ofender moralmente. Cf. Luigi Delpino,
p. 764.
No direito suíço, as vias de facto (artigo 126: voies de fait; Tätlichkeiten)
constituem o limite inferior das lesões corporais simples, mas os critérios que
permitem decidirse o juiz por umas ou outras são pouco precisos, exigindose
a colaboração do perito médico para qualificar o prejuízo sofrido. Para o
Tribunal Federal haverá lesão corporal simples (artigo 123) se o incómodo,
mesmo passageiro, equivaler a um estado mórbido, por se verificar um choque
nervoso ou dores importantes. As vias de facto são definidas como ataques
físicos que, mesmo sem causarem dor, excedem o que é comum suportarse
segundo os usos correntes e os hábitos sociais, e que, por definição legal, não
provocam lesões corporais nem prejuízo para a saúde. São acções que sem lesão
corporal nem prejuízo para a saúde geram, ainda assim, algum mal. Bastará
causar a outra pessoa uma perturbação do bemestar para se poder falar de vias
de facto. São vias de facto o corte parcial do cabelo ou a pintura do corpo da
vítima, com tinta ou com excrementos. São ainda de integrar entre as vias de
M. Miguez Garcia. 2001
255
facto as modificações de ordem patológica no corpo da pessoa, as quais
portanto atingem a saúde, mas de tal modo insignificantes que normalmente as
pessoas as não qualificam como provocando doença, como serão certas
contusões sem gravidade. De modo que se alguém corta um pedaço de cabelo a
outrem estamos perante vias de facto; pelo contrário, se consegue raparlhe o
cabelo todo, o ilícito será o de ofensas corporais simples (Pozo, p. 121).
No nosso Código Penal de 1886 distinguiase entre as ofensas corporais
voluntárias simples (artigo 359º), as de que resultavam doença ou
impossibilidade para o trabalho (artigo 360º), as de que resultava privação da
razão ou impossibilidade para o trabalho permanente (artigo 361º) e as de que
resultava morte por circunstância acidental (artigo 362º). Nas ofensas corporais
voluntárias simples não concorria qualquer das circunstâncias enunciadas nos
artigos seguintes. “E sempre essas ofensas corporais simples foram havidas
como as que não produziam lesões externas ou internas ou qualquer tipo de
doença, isto é, estado mórbido da saúde”. Assim, o acórdão de 18 de Dezembro
de 1991, que firmou jurisprudência com carácter obrigatório, e onde se recorda
que a Constituição da República reconhece, sem quaisquer limitações ou
graduações, o direito à integridade física [artigo 25º, nº 1] e considerao
inviolável, não fazendo sentido que o legislador penal, ao incriminar e fazer
punir os actos violadores de tal direito, com vista a assegurar a sua defesa, o
fizesse por forma limitada.
CASO nº 11D. Castigo com soda cáustica. Aplicação de leis penais no
tempo. Em 20 de Março de 1991, as arguidas A, B e C, convencidas de que D “andava
metida” com o pai da primeira e marido da segunda, atraíramna ao automóvel da C e
conduziramna para local ermo, onde a arrastaram para junto de um pinheiro, ao qual a
amarraram com uma corda, atandolhe um lenço à volta da boca, para a impedirem de gritar.
Agrediramna depois, repetidamente, com uma mangueira e uma corrente de ferro. A seguir, a
A tirou uma garrafa de vidro do carro, a qual continha um líquido em cuja composição existia
soda cáustica, produto com acção corrosiva, e enquanto a B levantava as saias da D, a C
derramou tal líquido sobre o corpo da vítima da cintura para baixo, após o que todas a
abandonaram, desamarrada. Conseguindo chegar à estrada próxima, a D foi socorrida e
submetida a três intervenções cirúrgicas, tendo sofrido mais de 220 dias de doença com
impossibilidade para o trabalho e ainda desfiguração grave e permanente, afectação grave da
capacidade de trabalho e doença particularmente dolorosa.
O acórdão do STJ de 31 de Janeiro de 1996, BMJ 453192, entendeu que as
arguidas praticaram o crime de sequestro qualificado do artigo 160º, nºs 1 e 2,
alíneas f) e g), na primitiva redacção do Código, por terem actuado com artifício
para atraírem a vítima ao carro, dizendolhe que a levavam para trabalhar nas
vindimas, e haver o concurso de 2 ou mais pessoas —além do crime de ofensas
corporais graves do artigo 143º, alíneas a), b) e c), na mesma redacção do código.
M. Miguez Garcia. 2001
256
Ao acórdão colocouse um problema de aplicação de leis penais no tempo. À
luz das alterações introduzidas pelo DecretoLei nº 48/95, de 1 de Outubro de
1995, o crime de sequestro praticado pelas arguidas era o do artigo 158º, nºs 1 e
2, alínea b); o de ofensas corporais graves o do artigo 144º, alíneas a), b) e c).
Tendose concluído ser da mesma gravidade a punição de cada uma das
arguidas, segundo o velho e o novo regime legal, o Tribunal aplicou a lex
temporis, em obediência ao disposto no artigo 2º, nº 2. Atentese em que na data
deste acórdão não se encontrava ainda em vigor a norma do actual artigo 146º
(ofensa à integridade física qualificada).
CASO nº 11E. Crime de ofensa à integridade física de outra pessoa
provocandolhe perigo para a vida. A empunhou um pau de cerca de 3,45 m de
comprimento e de 6 cm de espessura na parte mais grossa. Aproveitandose de B estar a olhar
para outro lado, desferiulhe energicamente uma pancada certeira na cabeça, provocandolhe
uma fractura craniana e um hematoma subdural agudo, com entrada quase imediata em
estado de coma, antevendo e querendo provocar no B uma lesão grave, também no seu
resultado. Das lesões resultou ainda, e em concreto, perigo para a vida.
O Supremo (acórdão de 17 de Maio de 2000, BMJ 497150) confirmou a
condenação de A pela prática de um crime dos artigos 144º, alínea d), e 146º, nºs
1 e 2, com referência ao artigo 132º, nº 2, alínea f). Escrevese que o perigo (para
a vida) deve ser entendido sempre em concreto, fundado no aparecimento de
sinais e sintomas de morte próxima, relacionados directamente com a lesão
resultante da ofensa, e não de um perigo de vida considerado em abstracto,
designadamente medido através da probabilidade estatística.
Observa o Dr. Oliveira e Sá que nesta alínea [artigo 144º, alínea d)], se integram apenas
“aquelas situações críticas e de prognóstico reservado, isto é, situações de perigo de vida
real e concretamente experimentado. Em relação àqueles casos em que o perigo de vida é
apenas uma expectativa, ainda que razoavelmente possível ou mesmo provável
(prognóstico reservado), falta a sua concretização (o estado crítico real) para configurar”
a indicada previsão.
O dolo tem que abranger nestes casos não só o delito fundamental, como
as consequências que o qualificam, mas basta o dolo eventual. Relativamente à
alínea d), citando Paula Ribeiro de Faria, acrescentase que se exige o
conhecimento das circunstâncias que tornam o comportamento perigoso sob o
ponto de vista do bem jurídico protegido (neste caso, a vida), não se tornando
M. Miguez Garcia. 2001
257
necessária a vontade da lesão efectiva do mesmo bem jurídico. Entre tais
comportamentos, estão o empurrão pelo qual uma pessoa cai de uma
motorizada em movimento, ou, como no caso, o desferir de uma pancada
violenta na cabeça da vítima, supondose sempre que dessa forma veio a criar
se um perigo concreto. Na anotação do Boletim, chamase a atenção para o
desenvolvimento teoréticojurídico deste acórdão do STJ sobre as exigências de
prevenção geral e especial e os seus reflexos no instituto da suspensão da
execução da pena de prisão.
Outros comportamentos igualmente perigosos sob o ponto de vista da
protecção da vida são, por ex., a ministração de um veneno ou a aplicação de
outras substâncias, como a água a ferver, no corpo da vítima. Pensese também
na infecção pelo vírus da sida. Mas é sempre necessário, para poder aplicarse a
alínea d) do artigo 144º, tanto um concreto perigo para a vida, como o dolo do
sujeito, nos termos anteriormente referidos, o que igualmente afasta um dolo
homicida, já que então o caso seria de crime contra a vida, ainda que só tentado.
Recordese, de resto, a possibilidade de fazer intervir a qualificação pela
especial perversidade decorrente dos conjugados artigos 132º, nº 2, alínea h),
144º e 146º, nºs 1 e 2, com a agravação de um terço da pena, nos seus limites
máximo e mínimo. Entre os venenos há substâncias orgânicas e inorgânicas que
actuam quimicamente ou têm efeitos físicoquímicos. Ex., o arsénio e o ácido
sulfúrico, mas também entre nós se classificou já como veneno o vidro moído,
que o delinquente misturou na sopa que deu a comer à vítima. Podem actuar
como venenos certas bactérias e vírus, como o da sida.
A propósito do perigo concreto: convém destrinçálo do chamado perigo
abstracto. Comecemos por notar que existem diferentes graus de perigo a que
correspondem diversos graus de probabilidade de se lhes seguirem
consequências danosas. É por isso que para certas posições constituirá um
perigo concreto a situação em que se verifica, de acordo com o curso normal das
coisas, a probabilidade, ou um certo grau de possibilidade, de lesão de um bem
jurídico protegido, sem que seja exigido um grau de probabilidade matemática
superior a 50%. Nesta orientação, que é, por ex., a do Supremo Tribunal suíço,
não se poderá falar de perigo concreto nos casos em que a conduta, de acordo
com o curso normal das coisas, é de natureza a desencadear uma lesão, mas o
grau de probabilidade de afectação do respectivo bem jurídico não chega a ser
significativo. Fica afastado um perigo concreto, nomeadamente, nas hipóteses
em que a possibilidade de o perigo se realizar são tão escassas que não seria
razoável falar da probabilidade de uma lesão. Os correspondentes factos não
poderiam constituir um crime, a não ser que a própria lei declarasse como tal a
M. Miguez Garcia. 2001
258
actividade em questão, criando assim um crime de perigo abstracto,
presumindo o perigo. Com razão, escreve Pozo, p. 137, que este critério da
probabilidade é equivoco e impreciso, tendo sido abandonado pela doutrina,
que prefere levar em conta a estrutura das infracções de pôr em perigo,
conforme este integre ou não um dos seus elementos constitutivos.
Nalguns casos, para fazer nascer a pretensão punitiva, basta a prática de
uma conduta considerada tipicamente perigosa, segundo a avaliação do
legislador (W. Hassemer), tornandose inútil o estabelecimento de uma ameaça
efectiva a bens jurídicos para cominar uma pena ao infractor, uma vez que o
perigo é inerente à sua conduta. Um preceito desta natureza, de mera
actividade, contentase com a descrição do desvalor da acção, acrescentandolhe
a consequência (sanção). A desvantagem desta técnica legislativa associase às
presunções da existência do perigo, o que priva esta noção de perigo de
qualquer função no recorte fáctico duma norma como, por ex., a do artigo 275º,
nº 1, onde o legislador se limita a descrever, ainda que ao pormenor (quem
importar, fabricar, guardar, comprar, vender, ceder ou adquirir a qualquer título,
transportar, etc., armas proibidas), as características típicas de que resulta a
perigosidade típica da acção, pretendendose evitar os perigos que para as
pessoas podem derivar de alguém se passear na rua com uma arma de guerra.
O preceito respectivo fica preenchido mesmo que no caso concreto se não
verifique uma ameaça para a vida ou para a integridade física de outrem, caso
em que a actividade desenvolvida se revela perfeitamente inócua. Noutro crime
de perigo presumido, como é o do artigo 292º, punese a condução de veículo
em estado de embriaguez pelos perigos que advêm para os participantes no
trânsito de alguém conduzir excedendo os limites toleráveis de álcool no
sangue. Os crimes de perigo abstracto são hoje uma realidade indesmentível —
as normas que os prevêem são constitucionalmente legítimas, não obstante as
observações que por vezes igualmente se adiantam de se punirem factos
inofensivos e de se não respeitar a presunção de inocência.
Mas se o legislador prevê a criação de um perigo para determinados bens
jurídicos como elemento típico da incriminação, não bastará fazer a prova de
que o comportamento do agente é em si mesmo perigoso. No artigo 291º, nº 1,
exigese que se produza um perigo real para o objecto protegido pelo
correspondente tipo; a norma, para além da maneira perigosa de conduzir, nela
descrita, exige ainda que se ponha em perigo a vida ou a integridade física de
outrem ou bens patrimoniais alheios de valor elevado. Se simplesmente ficarem
expostos a perigo bens patrimoniais alheios que não sejam de valor elevado, a
incriminação não se aplica. O juiz deverá comprovar in concreto que a conduta
M. Miguez Garcia. 2001
259
pôs efectivamente em perigo os bens jurídicos em questão, que se verificou
realmente um desvalor de resultado. Vejase, ademais, o crime de violação da
obrigação de alimentos (artigo 250º), a exposição ou abandono (artigo 138º) e o
incitamento ou ajuda ao suicídio (artigo 135º). Em todos estes casos desenhase
um crime de perigo singular (por oposição a perigo comum): é desde logo
evidente que só uma pessoa — a pessoa que é exposta — pode ser posta em
perigo, só esta é objecto do perigo. À noção de perigo comum pode ligarse um
critério quantitativo: o facto ameaça não apenas certas pessoas mas uma
comunidade, servindose o agente de meios aptos à criação de um perigo
colectivo, por ex., desencadeando forças naturais, a água, o fogo, etc. (Logoz,
apud Pozo, p. 139). Perigo comum defineo Welzel como sendo o perigo que tem
a ver com a colectividade, consistindo esta na multiplicidade de indivíduos
(objectos), mas também na indeterminação da individualidade; é não só o
perigo para uma multiplicidade de objectos, sendo indiferente que o seu
número seja determinado ou indeterminado, mas também o perigo para um
deles, sendo este um objecto indeterminado enquanto parte da colectividade”. É
este caracter indeterminado que mais geralmente se associa à definição de crime
de perigo comum: objecto do perigo não será um indivíduo preciso, mas uma
qualquer pessoa, bastando que uma só se encontre por acaso no círculo de
perigo e aí fique exposta à situação crítica. Ameaçada “por pura coincidência”
(Stratenwerth), essa pessoa representa a comunidade, sendo o bem jurídico
afectado em medida que não pode ser determinada nem delimitada a priori. No
Código, boa parte dos crimes de perigo comum e dos crimes contra a segurança
das comunicações incluem a criação de um perigo entre os seus elementos
típicos, pressupondo o perigo para uma pessoa, enquanto “representante da
comunidade”, “o que significa que, independentemente do número de vítimas,
existe apenas um crime (que preclude toda a consideração do “real” número de
vítimas). Cf. José Damião da Cunha, O Caso Julgado Parcial, p. 481, onde se nota
que a dimensão “processual” da configuração destes tipos legais que “contêm
elementos “exoneradores” do âmbito de relevância da prova no que toca a
“resultados” — e no que toca à imputação de todo um conjunto de resultados”.
Haverá um só crime do artigo 291º, nº 1, se o desvalor do evento próprio do
crime de condução perigosa como resultado de perigo se mostrar
individualizado numa vítima, ou mesmo num conjunto delas, ou num bem.
Se temporal e espacialmente o bem jurídico esteve numa relação imediata
de perigo, registandose um efectivo evento de perigo, será ainda necessário
comprovar a existência de um nexo causal entre o comportamento típico do
sujeito e esse resultado. À semelhança do que sucede nos crimes materiais de
M. Miguez Garcia. 2001
260
lesão, o destacamento do evento é uma exigência normativa no âmbito destes
crimes, dos crimes materiais de perigo. A imputação objectiva deve obedecer a
regras comuns às que vigoram nos crimes materiais de dano: ao relacionamento
entre a conduta do agente e a situação perigosa são aplicáveis pelo menos os
critérios restritivos da causalidade adequada. (Cf. Rui Carlos Pereira, O Dolo de
Perigo, p. 97). No caso do indivíduo que empunhou um varapau de mais de 3
metros de comprimento e com ele desferiu uma pancada enérgica na cabeça de
B, com as consequências que ficaram assinaladas, é mais que evidente o laço de
causalidade entre o comportamento incriminado, a concreta ofensa à
integridade física, e o resultado de perigo para a vida, mas nem sempre as
coisas revelam uma simplicidade assim imediata para produzir ou favorecer
um resultado. Por outro lado, o A, apesar de saber que o seu comportamento
podia colocar em risco a vida do B, foi buscar o pau e vibroulhe energicamente
uma pancada na cabeça, pelo que necessariamente quis pôr a vida do B em
perigo. Em geral admitese que quem quer uma acção perigosa quer o pôr em
perigo, ou pelo menos conformase com o resultado que lhe anda associado.
II. Direito penal dos médicos. Ofensas corporais. O artigo 150º. Intervenções
e tratamentos médicocirúrgicos arbitrários — artigos 156º e 157º.
• CASO nº 11F. A, portador de características físicas de indivíduo do sexo masculino,
"sentese", porém, de há muito, íntima e profundamente mulher e reage e comporta
se como tal em todos os aspectos da sua vida, aspirando intensamente a ser do sexo
feminino. Este desajustamento ou conflitualidade entre o sexo físico e o psicológico
crialhe distúrbios psíquicos graves, pelos quais se vem sujeitando a tratamento
psiquiátrico, e levao finalmente a recorrer a B, cirurgião, a fim de conseguir, através
de uma reconstrução dos órgãos sexuais externos, uma morfologia semelhante à
feminina. Embora com dúvidas sobre se aquela intervenção cirúrgica lhe é permitida
por lei, B acede à solicitação de A, condoído com a situação psicológica, moral e até
social deste. Quando, com A já anestesiado, se prepara para iniciar a intervenção, C,
que discorda dela não obstante ser amigo de A, irrompe pela sala de operações e
impede a sua realização. Da prova escrita de Direito e Processo Penal — CEJ — de 18
de Abril de 1991.
M. Miguez Garcia. 2001
261
Direito penal dos médicos. Ofensas corporais. O artigo 150º, nº 1, que
não inclui o consentimento do paciente, contém uma cláusula de exclusão da
tipicidade. Tratamentos arbitrários. Anteriormente ao Código Penal de 1982, a
doutrina e a jurisprudência nacionais viam na intervenção médicocirúrgica
uma lesão corporal típica, cuja ilicitude só poderia afastarse invocando o
“exercício de um direito”, ficando este dependente do consentimento do
paciente.
Actualmente, o regime previsto para as intervenções e tratamentos
médicocirúrgicos consta do artigo 150º do Código Penal, no contexto das
infracções contra a integridade física. A norma deve ser lida em conjugação com
a incriminação autónoma das intervenções e tratamentos médico cirúrgicos
arbitrários dos artigos 156º e 157º, inscritos no capítulo dos crimes contra a
liberdade das pessoas (entre a coacção e o sequestro).
O legislador entendeu que a intervenção cirúrgica — medicamente
indicada, realizada por um médico (mas não por um curandeiro ou por um simples
leigo, a menos que haja diminuição do risco) com finalidade terapêutica (pelo que não se
incluem, por ex., as intervenções puramente cosméticas) e segundo as leges artis — não
preenche o tipo de crime contra a integridade física, independentemente do
resultado final: mesmo que agrave o estado de saúde do paciente ou provoque
a sua morte (Costa Andrade, p. 450). A formulação legal, ao dispor que as
intervenções médicocirúrgicas “não se consideram”, nesse contexto, “ofensa à
integridade física”, revela o inequívoco propósito de as colocar fora das ofensas
corporais.
Bem jurídico protegido, quando se fala de intervenções e tratamentos
médicocirúrgicos arbitrários, só pode ser a liberdade de dispor do corpo e da
própria vida. Estará então em causa a livre decisão sobre a realização ou a
permissão de um tratamento, e não a integridade física como tal. No exercício
da sua profissão, o médico está vinculado à autodeterminação do paciente. Este
direito de autodeterminação tem que ser simultaneamente protegido e
respeitado. Protegido contra intervenções levadas a cabo em contrário da
M. Miguez Garcia. 2001
262
vontade do paciente. Por outro lado, as intervenções consentidas ou mesmo
pedidas pelo paciente devem ficar impunes também para o médico; háde
respeitarse a vontade do paciente como causa de exclusão da punibilidade (C.
Andrade, p. 453).
Mas se no artigo 156º se consagra expressamente o primado do princípio
da autodeterminação sobre a saúde e mesmo a vida, também daí sai reforçada a
fragmentaridade da tutela penal. O legislador decidiuse, com efeito, pela
legitimidade de princípio do tratamento, salvo nos casos em que se pode
“concluir com segurança que o consentimento seria recusado”. Para se punir o
médico não será bastante poder suporse razoavelmente (artigo 39º, nº 2) que o
consentimento seria recusado, antes terá de se produzir prova que permita
concluir com segurança que o consentimento seria recusado (C. Andrade, p.
457).
Nesta área problemática, o legislador optou por definir expressamente os
tópicos a que o esclarecimento do médico deve estenderse, enquanto
pressuposto de consentimento válido e eficaz. Além disso, no artigo 157º o
legislador respondeu à questão do chamado privilégio terapêutico, já que o
médico poderá omitir o esclarecimento sempre que ele implique circunstâncias
que a serem conhecidas pelo paciente seriam susceptíveis de lhe provocar
perturbações comprometedoras da finalidade visada.
Há porém intervenções médicas que caem fora do círculo da acção médica
tal como ficou esquematicamente definida. São, por exemplo, as realizadas com
finalidade cosmética, de investigação científica, para doação de tecidos ou
órgãos e esterilização não terapêutica. Essas intervenções médicas são, em
princípio, atentatórias da integridade física. Só que a sua eficácia indiciadora da
ilicitude pode ser neutralizada por concorrência de causa de justificação
bastante. A começar pelo consentimentojustificação, a verificaremse os seus
pressupostos e respeitadas as suas limitações normativas, nomeadamente as
decorrentes da cláusula dos bons costumes. Pois se o regime dos tratamentos
arbitrários se circunscreve à acção terapêutica em sentido estrito, então todas as
demais formas de intervenção médica que não se reconduzem a este figurino
M. Miguez Garcia. 2001
263
terão forçosamente de suscitar o problema da existência ou não da lesão
corporal, susceptível de justificação mediante consentimento (C. Andrade, p.
464).
A equacionação do problema que nos é posto obriga à clarificação prévia
da pertinência ou não do caso no âmbito das intervenções e tratamentos
médicocirúrgicos. Cremos que releva desde logo a indicação pela negativa, por
falta de convicção e vontade terapêutica. O interessado recorreu ao cirurgião B,
a fim de conseguir, através de uma reconstrução dos órgãos sexuais externos, uma morfologia
semelhante à feminina. Embora com dúvidas sobre se aquela intervenção cirúrgica lhe é
permitida por lei, B acede à solicitação de A, condoído com a situação psicológica, moral e até
social deste. Parece clara aquela falta de convicção e vontade curativa. Afinal, B
acedeu por estar condoído com a situação de A... Reparese que não enjeitamos
que num caso como este a instituição médica se confronta com uma situação de
crise ou de necessidade espiritual relacionada com a dimensão física. Quando a
isso, o texto abunda em pormenores. Todavia, no polo oposto, parece faltar até
o esclarecimento bastante que, perante a observância das leges artis a pedido do
paciente, faria porventura pender a questão para um campo semelhante ao da
acção médica curativa.
A situação estará vocacionada para ser tratada no âmbito das ofensas
corporais, excluindose a sua integração no artigo 150º. Houve todavia
consentimento, para cuja relevância a integridade física se considera livremente
disponível (artigo 149º, nº 1). A menos que a ofensa contrarie os bons costumes
(nº 2). Ora, não seria difícil concluirmos pela ofensa dos bons costumes, perante
todo o quadro fáctico da intervenção médica, digamos que aligeirada, carente
de toda a planificação e de colaboração multidisciplinar, e a irreversibilidade e a
gravidade da amputação que o médico se propunha levar a cabo.
Perante a decisão tomada e a clara existência de actos de execução — o
paciente chegou a ser anestesiado —, parece indiciarse o ilícito doloso, embora
na forma de tentativa (artigo 144º: ofensa à integridade física grave). "Também
as operações em caso de transexualismo hãode, em princípio, cair fora do
conceito e do regime das intervenções médicocirúrgicas, devendo antes ser
M. Miguez Garcia. 2001
264
tratadas como ofensas corporais típicas." Manuel da Costa Andrade,
Conimbricense, p. 310.
• "A ausência de finalidade terapêutica exclui todo um espectro de intervenções que,
embora normalmente realizadas por médico, não têm o "paciente" como seu beneficiário
directo (experimentação pura, angiografia, castração, etc.). De igual modo, também a
indicação médica afasta os tratamentos e métodos ainda não cientificamente
convalidados, bem como os métodos de terapia excêntricos em relação à medicina
académica ou institucionalizada (maxime os chamados métodos naturalistas,
homeopáticos), etc." Manuel da Costa Andrade, Conimbricense, p. 307.
• “O Código Penal português” (1982) “estabelece uma distinção entre as (privilegiadas)
Intervenções e Tratamentos MédicoCirúrgicos, por um lado, e as demais intervenções
(cosméticas, experimentais, doações para fins de transplantação, etc.) que contendem
com a integridade física. Para as primeiras, definidas por um complexo conjunto de
elementos de índole objectiva e subjectiva, prevêse um regime (artigo 150º, 158º e
159º) em que avultam três notas: não relevam como indiciadores do ilícito típico do
crime de Ofensas corporais; só podem ser punidas se praticadas de forma arbitrária
(crime contra a liberdade); não estão sujeitas ao limite dos bons costumes. Para as
segundas vale a figura do Consentimento (artigos 38º e 149º) com as exigências e
limites, maxime os resultantes da cláusula dos bons costumes. Cláusula que tem,
segundo o entendimento da doutrina portuguesa dominante, uma compreensão e
sentido dependentes das singulares intervenções em causa. Mas que determina,
invariavelmente, a ilicitude das acções de que resultem lesões graves e irreversíveis
da integridade física. Também a doutrina portuguesa se tem dado conta da
complexidade da subsunção das concretas manifestações da vida a cada um dos dois
regimes arquetipicamente definidos. São, concretamente, consideráveis as
dificuldades resultantes da fluidez das fronteiras que separam a acção terapêutica da
acção médicoexperimental. Já porque todo o acto médicocirúrgico implica um
coeficiente irredutível de experimentação, já porque os limites da medicina académica
se encontram em permanente estado de dinamismo e evolução. Daí que, em geral, se
M. Miguez Garcia. 2001
265
propenda para tratar como acção terapêutica aquela experimentação terapêutica
considerada, em concreto, necessária e sem alternativa para tentar fazer face a um
estado patológico.” Manuel da Costa Andrade, Direito Penal e modernas técnicas
biomédicas, RDE 12 (1986), p. 124.
O crime de violação das leges artis: artigo 150º, nº 2. O nº 2 do artigo 150º
"pôs de pé uma incriminação nova: a criação de um perigo "para a vida" ou de
"grave ofensa para o corpo ou para a saúde", como consequência de violação das
leges artis. Com a sua consagração, o legislador de 1998 quis assumidamente
alargar o arsenal de meios punitivos dos ilícitos imputáveis aos médicos. Para
além de responderem por ofensas corporais negligentes (art. 148º) e por
Intervenções e tratamentos médicocirúrgicos arbitrários (art. 156º), os médicos
passariam a responder também por um novo crime, que terá sido pensado
como um crime de perigo concreto. Não se afigura fácil determinar o âmbito de
aplicação do preceito. Uma intervenção médicocirúrgica levada a cabo com
violação — e sobretudo com violação dolosa — das leges artis configura uma
ofensa corporal típica. Como tal deve ser tratada, tendo, nomeadamente, em conta
as possibilidades de justificação a título, v. g., de consentimento. Na medida em
que provoca um perigo para a vida o facto é já punido pelo artigo 144º al. d)
face ao qual o nº 2 do art. 150º parece emergir como norma subsidiária. Só na
parte em que provoca um perigo para o corpo ou para a saúde terá o preceito
conteúdo normativo próprio e novo. Neste domínio específico o preceito repõe
de algum modo — mas agora exclusivamente para os médicos — o crime de
ofensas corporais como dolo de perigo que o art. 144º do Código Penal de 1982
previa como crime comum." Manuel da Costa Andrade, Conimbricense, p. 312.
O artigo 150º, nº 2, pune as intervenções médicas com violação das leges artis que
não sejam graves ao ponto de excluir a própria finalidade terapêutica e de impossibilitar
a parcial recondução da conduta do agente a uma intervenção médicocirúrgica, nos
termos do artigo 150º, nº 1. Por um lado, o desrespeito das leges artis pode atingir tal
gravidade que, na realidade, exclui toda a finalidade terapêutica ou — o que é o mesmo
—convertea num móbil longínquo e enfraquecido, que, inelutavelmente, coabita com
um dolo necessário ou eventual de dano ou de perigo para a integridade física ou para a
M. Miguez Garcia. 2001
266
vida do paciente. A favor desta conclusão aponta o próprio art. 150º, nº 2, ao estabelecer
que a violação das leges artis deve ser compatível com a finalidade terapêutica. Por outro,
a gravidade da inobservância das regras da medicina pode inviabilizar qualquer
identificação — ainda que só parcial — da actuação do agente com uma intervenção
médicocirúrgica, impondo antes a sua qualificação em bloco como uma lesão típica da
integridade física do doente. Teresa Quintela de Brito, RPCC 12 (2002), p. 379.
CASO nº 11G. Recusa de médico, omissão de auxílio. Homicídio
negligente. A, médico, na urgência do hospital em que habitualmente presta serviço,
alertado a certa altura para o estado dum doente limitouse a responder que por ele lhe dava
alta, na sequência do que o doente foi levado para a sala de espera onde viria a falecer. O
Supremo (acórdão de 6 de Março de 1991) entendeu ter o A cometido o crime do artigo 138º, nº
1, alínea b), agravado pelo resultado morte, a conjugar com o actual art. 284º.
Teresa Quintela de Brito (RPCC 12 (2002), p. 392) entende que neste caso é
impossível responsabilizar o A por um crime de abandono (como fez o
Supremo) por ser necessário um dolo de perigo para a vida da vítima (cf. o
artigo 138º, nº 1), ou de recusa de médico (artigo 284º), “por lhe faltar o dolo
exigido pelos respectivos tipos, já que carece da consciência do perigo em que e
encontrava o paciente”. O A também não realizou o crime de omissão de auxílio
(artigo 200º) por lhe faltar o dolo correspondente. Uma vez que o A afirmou que
por ele dava alta àquele paciente, faltavalhe a consciência do perigo em que
este se encontrava. O A, por força do contrato que o liga ao hospital, “tinha o
dever jurídico de garante da vida e da integridade física dos pacientes que
ocorrem àquele hospital”, cabendolhe impedir a sua morte ou uma lesão da
saúde. O A “não o fez negligentemente”, apesar de alertado, pelo que terá
cometido um crime negligente por omissão (artigo 10º e 137º)..
III. Crime de ofensa à integridade física. Homicídio voluntário. Crimes de
resultado. Crimes de resultado de dano. Crimes de resultado de perigo.
Negligência. Omissão.
• CASO nº 11H. A vivia na mesma casa com uma sua amiga, B, mas tinham discussões
frequentes. Certo dia, por volta das 19 horas, quando A se encontrava já "bem
M. Miguez Garcia. 2001
267
bebido", ambos voltaram a desentenderse e B, com medo do companheiro, acabou
por se refugiar na casa de banho. A, porém, seguiua e obrigoua, à força, a meterse
num cubículo, provido de uma porta metálica, que ali servia para guardar objectos de
limpeza e onde estava instalado o aparelho de calefacção, ligado ao sistema de
aquecimento central do prédio, então em pleno funcionamento, por ser inverno.
Quase se poderia dizer que B ficou emparedada, sem se poder mexer e, pior ainda,
com partes do corpo encostadas ao aquecedor. A fechou a porta do cubículo,
impedindo B de se libertar, e do exterior pôs o termóstato a 80 graus. Logo a seguir,
deitouse e adormeceu. Como A se encontrava alcoolizado e as coisas se
desenrolaram como que num instante, A nem chegou a darse conta que com a sua
descrita conduta punha a vida de B em perigo. Por volta das 7 horas da manhã
seguinte, A levantouse e foi espreitar B, que continuava imobilizada, no sítio onde A
a obrigara a recolherse. B já não gritava, como fizera nos primeiros momentos em
que ficou presa. Por causa do calor libertado pelo aquecedor, B estava já nessa altura
ferida de morte. Sem se importar com B, A saiu de casa, certo de que a companheira
iria morrer. Foi só por volta das 10 e meia que B foi finalmente tirada da terrível
situação em que se encontrava, depois de um vizinho, que de algo se apercebera, ter
pedido insistentemente a A que o acompanhasse a casa e o ajudasse a libertar a
mulher. B acabou por morrer dois dias depois devido às lesões mortais sofridas no
contacto do seu corpo com o aparelho de calefacção.
Punibilidade de A ?
Caminhos para a solução.
Vamos dividir a matéria de facto em duas partes. Na primeira,
apreciaremos o comportamento activo de A na tarde do primeiro dia. O que
especialmente haverá aí a destacar é o facto de, encontrandose A alcoolizado e
tudo ter acontecido num curto lapso de tempo, não ter este representado o
perigo de a sua actuação poder provocar a morte da mulher. Na segunda parte
analisaremos o comportamento omissivo de A na manhã do dia seguinte,
tratando especialmente de saber se da parte deste houve desistência da
tentativa com o relevo que lhe é conferido pelo artigo 24º.
M. Miguez Garcia. 2001
268
O confinamento de B no cubículo.
Crime de homicídio voluntário (artigo 131º)?
A reteve B no cubículo, donde esta não pôde libertarse, em termos de o
contacto do corpo com o sistema de aquecimento a 80 graus centígrados lhe
provocar lesões de tal modo graves que a morte acabou sendo inevitável. A
descrita actuação de A foi a causa directa e necessária da morte de B. Mas se
assim a causalidade pode ser afirmada, já será de excluir o dolo homicida que
ou não pôde ser provado ou não chegou a existir. Certo é que, ao tempo da
acção, A não tinha a consciência do risco para a vida de B e das possíveis
consequências da sua actuação, faltando assim o elemento intelectual do dolo,
pelo que também se não chegará ao seu lado volitivo.
2. Crime de exposição ou abandono (artigo 138º, nºs 1, b), e 3, b) ?
No artigo 138º desenhase um crime de perigo singular (por oposição a
perigo comum): é desde logo evidente que só uma pessoa — a pessoa que é
exposta ou abandonada — pode ser posta em perigo, que só esta é objecto do
perigo.
Tratase, porém, de um crime de perigo concreto: com a sua actuação, o
agente põe em perigo a vida de outra pessoa. Na alínea b ), que aqui nos
interessa, a estrutura típica assenta numa actividade delineada sobre a violação
de deveres específicos e um resultado autónomo que se tem de relacionar com
esses deveres (16): "Quem colocar em perigo a vida de outra pessoa, abandonandoa
sem defesa, sempre que ao agente coubesse o dever de a guardar, vigiar ou assistir...".
No plano subjectivo, tem que haver dolo quanto à situação de exposição
ou abandono. O próprio perigo tem de ser objecto do dolo (ou, pelo menos, tem
de envolverse na referência subjectiva do agente), pois é um elemento do tipo
de ilícito. É aqui que se dão divergências doutrinárias de algum vulto. (17). No
16(
) Na descrição típica da exposição ou abandono (artigo 138º) alargouse em 1998 a
âmbito da incriminação a todos os casos em que o agente deixe a vítima indefesa, desde que
sobre ela recaia o dever de a guardar, vigiar ou assistir. É da violação deste dever — e não da
debilidade da vítima — que resulta o carácter desvalioso e censurável da conduta. Assim,
praticará o crime, por exemplo, o montanhista que, guiando uma expedição, abandonar um
turista, criando um perigo para a sua vida.
17
(() Discutese se é configurável um dolo de perigo como um momento de dolo eventual
(em que o elemento volitivo do dolo resulta da conformação do agente com o perigo). Dizse
que, se o agente se conforma com a possibilidade de se verificar o perigo, está a conformarse
com a possibilidade de uma possiibilidade e, desse modo, com a lesão... e então no nosso caso
M. Miguez Garcia. 2001
269
artigo 138º, enquanto crime de perigo concreto, o perigo desempenha a função
de “evento”. Tratase então de um crime de resultado, em que o resultado
causado pela acção é a situação de perigo para um concreto bem jurídico, de
perigo para a vida de outra pessoa. À semelhança do que sucede nos crimes
materiais de lesão, o destacamento do evento é uma exigência normativa no
âmbito destes crimes, dos crimes materiais de perigo. A imputação objectiva
deve obedecer a regras comuns às que vigoram nos crimes materiais de dano:
ao relacionamento entre a conduta do agente e a situação perigosa são
aplicáveis pelo menos os critérios restritivos da causalidade adequada. (Cf. Rui
Carlos Pereira, O Dolo de Perigo, p. 97) (18).
No caso nº 11, a vítima foi colocada em situação de não se poder defender,
ficando incapaz de, unicamente com as próprias forças, se proteger dos perigos
que ameaçavam a sua vida. Esses perigos resultavam do aquecimento àquela
temperatura de 80 graus, a que a mulher, confinada em espaço sobremaneira
exíguo, não podia escaparse, ficando dependente de uma outra pessoa que a
ajudasse de fora. Consequência desse abandono é que a vítima foi deixada em
perigo de vida. O abandono é de imputar a A, sobre quem impendia um
especial dever de assistir B, posto que foi A quem, com a sua conduta anterior
(ingerência), a colocou em perigo. A norma, como se disse, exige que o perigo
se concretize. O perigo concreto caracterizase por uma situação crítica aguda
que tende para a produção do resultado danoso. É costume dizerse que a
segurança de um determinado bem jurídico tem de ser tão fortemente afectada
que a circunstância de se dar ou não a lesão do bem jurídico depende
haveria homicídio voluntário. Quando alguém aceita o risco está a conformarse com o dano...
Maia Gonçalves, sensível à dificuldade da questão, diz que se o agente, podendo prever o
resultado, actuou com inconsideração, confiando em que ele se não verificava, ou se não se
conformou com a sua verificação, terá praticado este crime. Se pelo contrário ele actuou
conformandose com o resultado, que previra, haverá dolo eventual e, consequentemente, não
se verificará este crime, mas o de homicídio voluntário. Mas boa parte da doutrina aceita que é
possível representar o perigo, pretendêlo como tal, para conseguir um objectivo, mas não
aceitar o dano, e até nem o representar (cf. Rui Carlos Pereira; Silva Dias).
18
(() Cf., porém, Faria Costa, O perigo, p. 511: por mais maleabilidade ou elasticidade que
se empreste à causalidade adequada, dificilmente esta permite que se consiga estabelecer um
juízo de causação entre a acção e, por ex., um resultado de perigo. O perigo deve ou tem de ser
objectivamente imputado ao agente. Todavia, o perigo não é um estádio que pertença ao
mundo do ser causal. O perigo é intencional e estruturalmente um categoria normativa, sem
que com isso perca a qualidade de se poder apreender de maneira objectivável. Nesta
perspectiva, por conseguinte, o perigo não é tanto causado pelo agente, antes o perigo é “obra”
intencionada do agente, não se concretiza, como acontece no dano/violação, em uma alteração
do real verdadeiro, configura antes uma situação com um pequeno, quantas vezes
pequeníssimo arco de tempo.
M. Miguez Garcia. 2001
270
inteiramente do acaso. (Cf. Cramer, in S/S, 25ª ed., p. 2092). A noção de acaso
ficará então envolvida com a impossibilidade de dominar o desenvolvimento
do perigo. Na nossa hipótese, porém, tendose realizado a lesão da vida (B
morreu), também não há dúvida que o perigo para a vida de B se concretizou.
Acontece no entanto que o dolo de A tem que incidir não só sobre a situação de
abandono, mas igualmente sobre a produção de um perigo para a vida — e só
assim é que a sua actuação, para além de ilícita, lhe poderá ser censurada. Não
deixa de ser duvidoso que A tivesse actuado com dolo de perigo. A conhecia
certamente as circunstâncias que envolviam a perigosidade da sua actuação,
uma vez que conscientemente manipulou o termóstato, que por se situar no
exterior do cubículo ficava fora do alcance da vítima. Sabia, por isso mesmo,
que esta ficaria exposta, de forma intensa, aos efeitos do aparelho de calefacção.
Mas A, como se viu, nem sequer se consciencializou de que daí poderia advir
um perigo para a vida de B. Falta assim, ao nível do agente, a representação da
possibilidade próxima da produção dum correspondente dano da vida. Na
ausência deste elemento subjectivo, o crime de exposição ou abandono (artigo
138º) não se verifica. Também por isso não é lícito aludir a qualquer agravação
da pena pelo evento mortal imputável à situação de risco criada por A
(preterintencionalidade).
3. Ofensa à integridade física grave (artigo 144º, d) ?
Com o contacto, impossível de evitar, do corpo de B com o aparelho de
calefacção, produziramse lesões que, como resultado, podem ser
objectivamente imputadas à conduta de A (artigo 143º, nº 1). Não haverá porém
elementos decisivos no sentido de que, a acompanhar uma séria lesão da
capacidade de movimentação de uma parte do corpo (aspecto funcional), B ficou
impossibilitada de utilizar o seu corpo, no sentido do artigo 144º, b), última parte.
Mas a questão que especialmente nos interessa é se no caso convergem os
elementos, objectivos e subjectivos, do crime de perigo concreto (crime de
perigo singular) da correspondente alínea d): "Quem ofender o corpo ou a saúde de
outra pessoa de forma a provocarlhe perigo para a vida...". Como já se observou, as
lesões produzidas podem ser objectivamente imputadas a A. Ignoramos em que
altura se terão produzido perturbações de funções orgânicas vitais para B, mas
uma coisa é certa: "só existe perigo para a vida quando os sintomas
apresentados pelo ofendido, segundo a experiência médica de casos similares,
forem susceptíveis de determinar com elevado grau de probabilidade e
iminência a sua morte". Como escreve Paula Ribeiro de Faria, Conimbricense, I,
p. 232, "não é suficiente a mera possibilidade de um desenlace fatal para se
M. Miguez Garcia. 2001
271
poder falar de perigo para a vida, ainda que seja suficiente que esse perigo só
perdure por um curto espaço de tempo". Palavras que correspondem
justamente à ideia dum penalista austríaco: em comparação com o dano, o
perigo é o resultado menos grave. Ao contrário do dano, o perigo não se olha ao
espelho, porque não há nada para ver — o perigo não se revê no próprio objecto
típico. Ameaçao todavia de lesão pelo menos durante um instante. Nisto
consiste a sua concretização. (Cf. O. Triffterer, Österreichisches Strafrecht, AT, 2ª
ed., 1985, p. 63).
O perigo para a vida referido na alínea d) do art. 144.º deve ser entendido em concreto,
fundado no aparecimento de sinais e sintomas de morte próxima, relacionados
directamente com a lesão resultante da ofensa, e não em abstracto, designadamente
medido através da probabilidade estatística. Para que se verifique o crime do artigo 144º
é necessária a existência de dolo não só quanto à ofensa corporal em si como também
quanto ao resultado. Acórdão do STJ de 17 de Maio de 2000, Proc. n.º 150/2000 3.ª
Secção.
No que toca à vertente subjectiva, a aplicação desta alínea supõe que o
agente conheça as circunstâncias que tornam o comportamento perigoso na
perspectiva da protecção da vida da vítima. E assim sendo, A teve certamente a
possibilidade de saber que a sua conduta era perigosa para a vida de B.
Para acabar, decisivo é que atentemos em que o resultado morte veio a
concretizarse, e isso basta — supondo que convergem os necessários elementos
— para "transferir" o caso para o âmbito do artigo 145º (agravação pelo
resultado). Em princípio, o artigo 144º d) só intervirá se a morte não tiver
ocorrido.
4. Ofensa ao corpo ou à saúde de outra pessoa com agravação pelo resultado
morte (artigo 145º) ?
Vamos ver se no caso estão presentes os elementos do artigo 145º. A
qualificação pelo resultado exige desde logo a causalidade entre a lesão
corporal dolosa e o evento mortal. No plano objectivo, o evento agravante tem
de ser em concreto consequência adequada do crime fundamental de ofensa à
integridade física, devendo averiguarse se neste se continha um perigo típico
M. Miguez Garcia. 2001
272
de concretização do resultado morte (Stree, in S/S, § 223, nota marginal 3).
Poderão não ser lineares as seguintes constelações de casos: a morte de "outra
pessoa" ocorre por acidente; é devida ao comportamento de um terceiro
(princípio da confiança); é devida ao comportamento da própria vítima
(princípio da autoresponsabilização).
A agravação exige a imputação do evento ao agente sob os dois aspectos
da imputação objectiva e da imputação subjectiva: artigo 18º. A par do desvalor
do resultado (no exemplo, a morte), "terá que se afirmar um desvalor da acção
que se traduz na previsibilidade subjectiva e na consequente violação de um
dever objectivo de cuidado (negligência)". Cf. Paula Ribeiro de Faria, p. 245. A
previsibilidade deverá incluir também o específico nexo de risco (Küpper, in
Festschr. für Hirsch, p. 626), mas basta que o agente se encontre em posição de
saber que a lesão corporal que provoca era tipicamente idónea para arrastar
consigo o evento agravante.
No caso de A, que se encontrava embriagado, não é de crer que estivesse
consciente de que as coisas iriam desembocar na morte da vítima — a
negligência, a existir, será inconsciente. Segundo o artigo 15º, age com
negligência quem, por não proceder com o cuidado a que, conforme as
circunstâncias, está obrigado e de que é capaz, não chega sequer a representar a
possibilidade da realização típica (negligência inconsciente). Podemos, no
entanto, perguntarnos, acompanhando ainda o artigo 15º, enquanto se dirige a
um dever subjectivo, situado ao nível da culpa (ao referir o cuidado a que o agente
está obrigado e de que é capaz) se A estava em condições de atentar e reconhecer que
B não podia escaparse, por si só, da situação em que se encontrava, e que B
ficaria exposta tanto tempo aos efeitos do calor. E mais: que B estava em
contacto corporal com a fonte de aquecimento, de forma a poder concluir que a
morte nessas condições era possível. Cremos no entanto que bastará para
afirmar a negligência inconsciente o facto de sabermos que A era habitual
utilizador do aquecimento e que bem podia ter previsto o desenlace mortal,
mesmo sem um contacto intenso do corpo com a fonte de calor, mas só por
efeito da temperatura a 80º graus, estando a vítima confinada, pela sua
actuação, no pequeno cubículo, sem poder libertarse nem accionar o
termóstato. A cometeu, por isso, um crime do artigo 145º, tudo apontando para
a penalidade da alínea b ) do nº 1.
M. Miguez Garcia. 2001
273
5. Sequestro com privação da liberdade de que resulta a morte da vítima
(artigo 158º, nºs 1, 2, b), e 3) ?
No sequestro (artigo 158º), o sujeito passivo é tolhido na sua determinação
de mudar de lugar, por ter sido detido ou preso, a arbítrio do delinquente.
Impedeselhe a liberdade de movimentos (Fortbewegungsfreiheit). Qualquer
meio é possível para impedir essa potencial liberdade de movimentos que o
artigo 158º protege. Pode ser o uso da força, como fez A, ao empurrar a B para
dentro do cubículo, fechandolhe a porta em seguida. Tal como se fez para o
artigo 145º, a agravação pelo resultado requer aqui os mesmos requisitos e o
mesmo cuidado. A previsibilidade deverá incluir igualmente o específico nexo
de risco, sendo certo que não se poderá negar a perigosidade da conduta que
colocou a vítima em situação de não poder valerse a si própria — as
consequências típicas conducentes ao evento mortal envolvemse aqui no
abandono da vítima à sua sorte e nas próprias características do local, onde esta
foi confinada contra a sua vontade, e propositadamente posto à temperatura de
80º (cf. Küpper). No que toca à aplicação do artigo 18º e à questão da
negligência renovase o que se disse a propósito do artigo 145º. A cometeu um
crime do artigo 158º, nºs 1, 2, b), e 3.
O que aconteceu no dia seguinte.
Homicídio por omissão imprópria na forma de tentativa (artigos 10º, 22º, nºs
1 e 2, 23º, nºs 1, 2 e 3, e 131º) ?
Recordemos que no caso de anterior intervenção geradora de perigos (ingerência) o sujeito é
obrigado, como garante, a impedir a produção do correspondente dano. Quem cria o perigo
tem o dever de evitar que este venha a converterse em dano. Isso vale, muito especialmente,
para os casos em que alguém, com a sua conduta, pôs a vida de outrem em perigo. A nossa
atenção irá, por isso, incidir especialmente no que se dispõe nos artigos 10º e 131º. Mas porque
de tentativa se trata, como a seguir melhor se dirá, fica também para averiguar a
compatibilidade da norma do artigo 22º com os comportamentos omissivos. "Com efeito, se o
elenco dos actos de execução, apresentado pelo nº 2 do artigo 22º, apenas for compatível com o
desempenho de uma certa actividade corporal, nem sequer se verificará a primeira condição
necessária à discussão do problema da punibilidade da tentativa comissiva por omissão", como
M. Miguez Garcia. 2001
274
pertinentemente adverte Teresa Quintela de Brito, fazendose eco de uma parte da doutrina, in
A tentativa nos crimes comissivos por omissão (p. 160 e ss.), recentemente publicado.
Nesta área, um dos elementos objectivos a averiguar é o da causalidade
(causalidade hipotética, própria das hipóteses omissivas). Justificase a
imputação do resultado ao omitente e, consequentemente, a causalidade
quando se puder afirmar que a acção (salvadora) devida e omitida teria, com
uma probabilidade rasante da certeza, evitado o resultado.
Segundo a matéria de facto, foi o mais tardar por volta das 7 horas da
manhã seguinte que A se deu conta que o seu comportamento do dia anterior
poderia provocar a morte de B. Nesta altura, porém, ela já não estava em
condições de ser salva, de forma que a omissão de A , que nada fez e
simplesmente se retirou de casa, já não poderá considerarse causal da morte —
a causa do evento mortal só poderá radicar no comportamento activo do
primeiro dia. De qualquer forma, A, na manhã do segundo dia, inteirouse, por
um lado, das consequências do seu comportamento do dia anterior e pôde
concluir, por outro, que B iria morrer. Ainda assim, ausentouse, sem nada
fazer, podendo verse nisso a expressão de um dolo homicida, ao menos
eventual.
Na ausência de causalidade entre a omissão e o evento mortal, a punição
só poderá ocorrer por tentativa — no caso, por tentativa impossível de um
crime de homicídio em comissão por omissão. Na verdade, nunca se poderia vir
a consumar um crime de homicídio por omissão, pois a vítima já estava ferida
de morte, daí que se trate de tentativa impossível, por inidoneidade do objecto.
Mas tentativa impossível punível, nos termos do artigo 23º, nº 3, por não ser
manifesto o estado da B, que nessa altura continuava sem ser observada por um
médico.
Para alguns autores, esta tentativa impossível associada aos crimes de
omissão imprópria não pode ser punida por corresponder simplesmente a uma
atitude interior, no caso à simples intenção criminosa de A e só a isso.
Reparese, no entanto, que de acordo com o critério legal, à tentativa
possível é equiparada a tentativa impossível não manifesta (artigos 23º, nº 3), e
que, por outro lado, o fundamento da punição da tentativa não reside somente
no risco objectivo para a vítima, mas também na confirmação do plano do
agente dirigido contra o direito, i. é, numa atitude hostil ao direito.
Poderemos acaso sustentar que A decidiu cometer (artigo 22º, nº 1) um
crime de homicídio que — como se viu — não chegou a consumarse, nem
poderia consumarse na forma omissiva ?
M. Miguez Garcia. 2001
275
Nas omissões, a decisão de quem omite uma acção é dirigida à não
evitação do resultado. Quem omite espera, por um lado, que o resultado se
produza; por outro, tem a consciência de que a produção do resultado é
evitável com a acção salvadora que está ao seu alcance. Na perspectiva de quem
omite, a execução da acção salvadora deverá também evitar a produção do
resultado com uma probabilidade rasante da certeza. A prova da decisão de
cometer um crime por omissão é assim bem mais complexa do que nos crimes
tentados de comissão por acção, exigindose, a mais do que se assinalou, que o
omitente tenha a posição de garante e conheça as correspondentes
circunstâncias fundamentadoras.
Ainda assim, o omitente que é garante da não produção do resultado e
tem a real possibilidade de o evitar só entra no âmbito da punição (por
tentativa) se "praticar" actos de execução (artigo 22º, nº 2, alíneas a), b) e c), o que
traz para a discussão o problema da compatibilidade da solução legal aplicada
às omissões com o desempenho de uma certa actividade corporal, como
anteriormente se observou. A doutrina pronunciase correntemente por essa
compatibilidade, sustentandose que a tentativa dos delitos omissivos se inicia
no momento em que a ordem jurídica exige de alguém que não viole o seu
dever de garante permanecendo inactivo. Mas quando é que poderemos dizer
que a situação para o bem jurídico em perigo é de tal modo ameaçadora que o
garante tem que actuar, cumprindo o seu dever?
Suponhase o caso da mãe que vê o filho prestes a cair da janela do 5º
andar onde residem. A mãe, que é garante, terá que intervir imediatamente,
deitandolhe a mão, agarrandoo por um braço — não lhe é dada uma segunda
possibilidade de evitar a morte do filho. Mas se o guarda da linha vê um ébrio
sentado nos carris e sabe que o próximo comboio passará só daí a uma hora não
terá que intervir imediatamente. Em caso de perigo distante e faltando a
proximidade do resultado a tentativa começa no momento em que o perigo
entra numa fase aguda e o garante continua inactivo ou no momento em que
este renuncia à possibilidade de intervir e deixa que as coisas sigam o seu rumo
(Wessels, AT, p. 229). Pode, com efeito, o garante partir do princípio de que a
acção salvadora do bem ameaçado ainda poderá impedir mais tarde o resultado
desvalioso sem que entretanto se incremente o risco para o bem jurídico. Tome
se ainda o exemplo da mãe que quer deixar morrer o filho à fome e renuncia a
darlhe a primeira refeição, ou o da enfermeira que não dá a injecção necessária
para que o doente terminal se conserve vivo: uma e outra sabe que, só por isso,
não surge um perigo para a vida do filho ou do paciente. De forma que, para a
mãe que quer deixar morrer o filho, a tentativa só se inicia quando a privação
M. Miguez Garcia. 2001
276
de o alimentar prejudica, de forma relevante, o bem estar corporal da criança,
quando haja um prejuízo para a saúde — consequentemente, um perigo
concreto. Pode é acontecer que a mãe se alheie totalmente do filho e o
abandone, desde logo e completamente, à sua (má) sorte, distanciandose da
situação de perigo, ficando o filho à mercê do seu destino. Num caso destes, a
tentativa iniciase logo que a mãe se afasta, mesmo sabendo que a vida do filho
não fica imediatamente ameaçada. Considerese contudo o caso do empregado
da padaria que aplica uma rasteira ao colega, não se importando de o ver
morto. Este, com a rasteira, cai e fica preso de tal forma que, em dois minutos, o
mais tardar, será alcançado por uma máquina que, inevitavelmente, lhe
esmagará a cabeça. O causador de tudo isto não intervém, podendo fazêlo, e
olha para o outro, consciente de que a cada instante o perigo se incrementa, até
que, no instante decisivo, vem o patrão e liberta o ameaçado.
No caso nº 11, terá havido um perigo concreto para o bem jurídico
garantido, na medida em que da omissão de A surgiu realmente um aumento
do perigo para a vida de B. E uma vez que o A estava perfeitamente consciente
da correspondente situação de perigo e do mesmo passo nada fez para lhe pôr
termo, por estar decidido a não intervir, podendo fazêlo, e porque, por outro
lado, como garante, sabia que lhe competia o dever jurídico de pessoalmente
evitar esse incremento do risco, demonstrou, claramente, com a sua consciente
não intervenção, a materialização do seu plano — e deverá ser punido. Estas
afirmações não serão incompatíveis com a solução que adoptámos, ligada à
tentativa impossível (vulgarmente identificada com o perigo abstracto para o
bem jurídico), já que o fundamento da tentativa reside tanto no perigo objectivo
para a vítima, como numa atitude hostil ao direito, que no caso de A se não
pode negar. Não nos podemos, por fim, alhear de que foi com os olhos de um
leigo que o A se apercebeu do estado crítico da B, e de que esta não poderia
salvarse. Cumprialhe, por isso mesmo — no desenvolvimento do seu dever de
garantia —, não prescindir da opinião médica, conduzindo logo a mulher a um
hospital, o que A não fez. Terá sido nesse momento que se iniciou a tentativa
de homicídio por omissão imputável ao A.
É certo que, umas três horas e meia mais tarde, A colaborou nos esforços
de um vizinho para levar B ao hospital. Este "esforço" de nada valeu e não tem
o "peso" suficiente para produzir os efeitos previstos no artigo 24º, nº 2.
Omissão de auxílio (artigo 200º. nºs 1 e 2) ?
O dever de auxílio obriga qualquer pessoa (o artigo 200º começa com o
"Quem" anónimo dos crimes comuns) e isso o distingue do dever de garante
M. Miguez Garcia. 2001
277
que no artigo 10º, nº 2, recai pessoalmente sobre o omitente. A situação típica que
desencadeia um dever de auxílio é um caso de grave necessidade. A grave
necessidade significa uma situação, por ex., de desastre ou acidente, com risco
iminente de lesão relevante para a vida, a integridade física ou a liberdade de
alguém. Discutese, no entanto, quais são esses perigos para a vida ou para a
integridade física. Uma doença ou uma gravidez só serão de atender quando
justamente se envolvam em caso de grave necessidade, isto é, quando estejam
sob a ameaça de perigo iminente para a vida ou a integridade física.
No caso, não há dúvida que B estava em situação de grave necessidade,
reflectindose esta, inclusivamente, na sua própria liberdade de movimentos.
A conduta que a lei descreve como ilícita é a não prestação (omissão) do
auxílio necessário ao afastamento do perigo. O auxílio é o necessário ou
adequado ao afastamento do perigo e o critério ou juízo da necessidade é o do
observador avisado. Uma boa parte da doutrina entende que a prestação do
auxílio já não é necessária se a vítima entretanto morreu; e que o dever cessa
naqueles casos em que a vítima é socorrida por outros meios. Mas não tem sido
esse o entendimento dos nossos tribunais. Sustentase, por ex., no acórdão do
STJ de 10 de Fevereiro de 1999, CJ, ano VII, tomo 1 (1999), p. 207, que comete o
crime de omissão de auxílio do artigo 200º, nºs 1 e 2, do Código Penal, o
condutor que se afasta do local do acidente sem providenciar socorro à vítima
— apesar de haver aí pessoas, uma delas haver mesmo chamado uma
ambulância —, e ter regressado mais de 10 minutos depois, já que ele, como
causador do acidente, continua obrigado a comportamento positivo no sentido
da prestação de auxílio.
Neste caso, mesmo que B estivesse irremediavelmente às portas da morte,
o auxílio justificavase e era exigido a A, que de tudo se deu conta.
O auxílio deve ser prestado em tempo oportuno, mas a correspondente
actuação não tem que ser pessoal, basta que o obrigado promova o socorro, por
ex., chamando um médico, o 112, etc. Se a prestação de auxílio logra êxito ou
não — é irrelevante, a lei apenas exige que se preste o auxílio. Aliás, tudo
depende das circunstâncias, inclusivamente, das capacidades pessoais de quem
tem o dever de agir.
A nada fez, podendo prestar o auxílio por diversas formas. Sabia não só
que B se encontrava perante uma situação de grave necessidade por si próprio
provocada, como conhecia os restantes factores típicos, nomeadamente que a
prestação do auxílio era necessária e lhe era exigível. Tendo A procedido
dolosamente, cometeu o crime do artigo 200º, nº 2 (agravação por ingerência).
M. Miguez Garcia. 2001
278
Conclusão.
Como punir A ?
Os problemas gerados pelo concurso entre o crime de ofensa ao corpo ou à
saúde de outra pessoa com agravação pelo resultado morte (artigo 145º) e o
crime de sequestro com privação da liberdade de que resulta a morte da vítima
(artigo 158º, nºs 1, 2, b ), e 3), decorrentes de uma mesma actuação de A, deverão
resolverse dando relevância à punição pelo sequestro de que resulta a morte da
vítima e cuja moldura penal (pena de prisão de 3 a 15 anos) melhor tutela a
situação. De resto, foi a privação da liberdade que deu azo às ofensas corporais
e, por fim, à morte de B. Acontece, por outro lado, que a tentativa de homicídio
em comissão por omissão (artigos 10º, 22º, 23º, nº 3, e 131º, que fazem recuar a
norma do artigo 200º, nºs 1 e 2, por via do concurso aparente) se deu ainda na
ocorrência do sequestro, que é crime permanente — a punição pelo sequestro
na forma agravada é, assim, a que melhor se adapta ao desenho do caso e que
melhor tutela a situação do ponto de vista penal.
CASO nº 11I. Considere o caso anterior, com a seguinte variante:
Por volta das 7 horas da manhã seguinte, A levantouse e foi espreitar B, que continuava
imobilizada e completamente prostrada, no sítio onde A a obrigara a recolherse.
Manifestamente, sofrera queimaduras de algum vulto. A toma imediatamente consciência do
estado crítico em que ela se encontra, da possibilidade de não sobreviver se não for
imediatamente socorrida, mas afastase, sai para a rua, sem tomar quaisquer providências. Foi
só por volta do meiodia que B foi finalmente tirada da terrível situação em que se encontrava,
por um vizinho, e conduzida ao hospital que distava seus 500 metros da casa. B acabou por
morrer dois dias depois devido às lesões sofridas no contacto do seu corpo com o aparelho de
calefacção. Se lhe tivesse sido prestada prontamente a assistência médica de que carecia, e o
hospital tinha meios para isso, terseia salvo.
IV. Ofensa à integridade física por negligência.
CASO nº 11J. A, uma jovem dos seus 23 anos de idade, faz de babysitter de B, de 2
anos e meio de idade, em casa dos pais da criança. Por volta das cinco da tarde, A distraise
com um programa de televisão e não impede que a criança caia da cama, para cima da qual
tinha trepado também sem que A tivesse reparado. Na queda, a criança sofreu fractura da
cabeça e por via dela acabou por morrer.
M. Miguez Garcia. 2001
279
A babysitter encarregouse de substituir os pais, que estão vinculados ao
portador do bem jurídico por um vínculo natural. Ainda assim, a A assume
deveres de garante para com a criança. Consequência: crime de homicídio
negligente por omissão dos artigos 10º e 137º.
Segundo o artigo 148º, nº 1, quem, por negligência, ofender o corpo ou a saúde
de outra pessoa é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120
dias. Em comparação com o artigo 143, nº 1, ao recorte típico deste artigo 148º,
nº 1, só acresce a comissão por negligência, o desvalor do resultado é o mesmo,
num caso e noutro. O que separa os dois ilícitos é o desvalor da acção: o agente
actua intencionalmente ou prevê a realização típica como consequência
necessária da sua conduta ou conformase com essa realização (artigo 14º) — a
menos que se trate de um simples erro de conduta (artigo 15º). Pode fazerse o
mesmo tipo de considerações a propósito do artigo 137º.
Numa boa parte dos casos, a negligência encontrase associada a
comportamentos humanos lícitos. Consideremos a condução automóvel, que,
como outras actividades próprias das sociedades modernas —e como tal
imprescindíveis— comportam riscos que, em certas ocasiões, nem mesmo com
o maior cuidado se podem evitar. Põese em relação a tais actividades a questão
da sua necessidade social ou da sua utilidade social e, por isso mesmo, o Direito
aceitaas, não as proíbe, não obstante os perigos que lhes estão associados. Os
elementos decisivos são a violação do dever de cuidado e a previsibilidade do
resultado, tanto no tráfego rodoviário como em muitas outras actividades: na
indústria, no comércio e em actividades similares; na protecção de
trabalhadores; nos tratamentos médicos; na vigilância de crianças; nas
actividades venatórias; nas deslocações por água; na utilização de elevadores;
nas competições desportivas; no manejo de armas; etc. São hoje em número
quase inabarcável as decisões sobre a velocidade em geral prescrita na
circulação automóvel, particularizandose casos de condução com mau tempo,
em situações de invernia, ou com deficiente visibilidade; de acidentes por falta
de segurança do próprio veículo; ou em cruzamentos de pouca visibilidade; de
condução em estado de cansaço ou fadiga ou de condutor com pouca
experiência; de encandeamento por outro veículo que circula em sentido
contrário; de golpe de direcção na sequência da introdução de um insecto na
cabine, etc.
Para a opinião dominante, a negligência é uma forma de conduta que
reúne elementos de ilícito e de culpa.
Atendemos, no plano do ilícito típico, à violação do cuidado objectivo e à
previsibilidade objectiva da realização típica —nos crimes negligentes de resultado
M. Miguez Garcia. 2001
280
não bastará, portanto, a simples causação do evento típico, por ex., a morte de
uma pessoa.
A violação de um dever de cuidado é o eixo em torno do qual gira o
conceito de negligência O dever objectivo de cuidado concretizase, em
numerosos sectores da vida, através de regras de conduta (normas específicas,
como as normas de trânsito —que são as mais frequentemente invocadas, em
vista do desenvolvimento a que chegou a circulação automóvel—,
regulamentos da construção civil, regras de conservação de edifícios, etc.) ou
por regras de experiência, por ex., as leges artis de determinadas profissões ou
grupos profissionais, como o dos médicos, engenheiros, etc. Pode aliás ter
origem nas circunstâncias concretas do caso.
A causa das ofensas à integridade física deve assentar no comportamento
do sujeito activo, sendolhe objectivamente imputável como “obra sua”. A
jurisprudência opera normalmente com os critérios da causalidade adequada.
A teoria da adequação parte da teoria da equivalência das condições, na medida em que
pressupõe uma condição do resultado que não se possa eliminar mentalmente, mas só a
considera causal se for adequada para produzir o resultado segundo a experiência geral.
Não está em causa unicamente a conexão naturalística entre acção e resultado, mas
também uma valoração jurídica. Excluemse, consequentemente, os processos causais
atípicos que só produzem o resultado típico devido a um encadeamento extraordinário e
improvável de circunstâncias. Deste modo, não haverá realização causal (adequada) se a
produção do resultado depender de uma série completamente inusitada e improvável de
circunstâncias com as quais, segundo a experiência da vida diária, não se poderia contar.
Podemos, aliás, recorrer a outros critérios de imputação objectiva, associados à teoria do
risco. Se A ao conduzir o seu automóvel toca ligeiramente em B, produzindolhe pouco
mais do que um arranhão e este vem a morrer por ser hemofílico, não lhe poderá ser
imputada a morte mas só ofensas corporais por negligência — faltará o nexo de risco.
Pressupõese, por outro lado, uma determinada conexão de ilicitude: não basta para a
M. Miguez Garcia. 2001
281
imputação de um evento a alguém que o resultado tenha surgido em consequência da
conduta descuidada do agente, sendo ainda necessário que tenha sido precisamente em
virtude do carácter ilícito dessa conduta que o resultado se verificou.
No plano da culpa, atendemos, como já se disse, ao dever subjectivo de
cuidado e à previsibilidade individual da realização típica. Para que exista culpa
negligente é necessário que o agente possa, de acordo com as suas capacidades
pessoais, cumprir o dever de cuidado a que estava obrigado; deve portanto
comprovarse se o autor, de acordo com as suas qualidades e capacidade
individual, estava em condições de satisfazer as correspondentes exigências
objectivas. Para tanto, deve terse em atenção a sua inteligência, formação,
experiência de vida; deve olharse também às especialidades da situação em
que se actua (medo, perturbação, fadiga). Se o agente, por uma deficiência
mental ou física, ao tempo da sua actuação não estava em condições de
corresponder às exigências de cuidado, não poderá ser censurado pela sua
conduta. Ao tipo de culpa dos crimes negligentes pertence assim a
previsibilidade individual (subjectiva). Quer dizer: a previsibilidade do
resultado típico e do processo causal nos seus elementos essenciais deverá
verificarse não só no plano objectivo, mas igualmente no plano subjectivo, de
acordo com a capacidade individual do agente.
Na negligência inconsciente o agente não chega sequer a representar a
possibilidade de realização do facto, ficando excluída a previsibilidade
individual, especialmente por falhas de inteligência ou de experiência. Na
negligência consciente o agente representa sempre como possível a realização de
um facto que preenche um tipo de crime.
V. Indicação de leituras.
2. Crime de maus tratos: artigo 152º, nºs 1 a 3, 5 e 6.
3. Sobre a prática da circuncisão: G. Bettiol, Direito Penal. Parte Geral. Tomo II, Coimbra,
1970, p. 203.
• Assento de 18 de Dezembro de 1991, publicado no DR IA de 8 de Fevereiro de 1992 (BMJ
41265): integra o crime do artigo 142º do Código Penal a agressão voluntária e consciente,
cometida à bofetada, sobre uma pessoa, ainda que esta não sofra, por via disso, lesão, dor
ou incapacidade para o trabalho.
M. Miguez Garcia. 2001
282
• Acórdão da Relação de Lisboa de 28 de Maio de 1997, BMJ467614: o arguido sabia que o
instrumento de que se munira para praticar a agressão — furador com ponta metálica de
17 cm de comprimento — podia causar a morte ou ferimentos graves e, não obstante não se
coibiu de o usar, vibrando com ele vários golpes na zona torácicoabdominal da ofendida,
com o propósito de produzir, como produziu, lesões graves na vítima, querendo ele não só
o evento como também o resultado, não poderia deixar de representar o perigo efectivo e
concreto em que colocou a vida da ofendida, não tendo as lesões causadas provocado o
iminente evento letal apenas devido à intervenção médica prestada.
• Acórdão da Relação de Coimbra de 29 de Janeiro de 2003, CJ 2003, tomo I, p. 45: perigo
concreto, crimes de perigo e de resultado, dolo e negligência, crime de infracção das regras
de construção.
• Acórdão da Relação de Coimbra de 15 de Janeiro de 2003, CJ 2003, tomo I, p. 38: o uso de
um revólver, independentemente da ocorrência de outras circunstâncias acompanhantes, é
em princípio revelador de especial censurabilidade ou perversidade do agente, para
efeitos de qualificação do crime de ofensa à integridade física nos termos do artigo 146º, nºs
1 e 2, com referência ao artigo 132º, nº 2, alínea g), do Código Penal.
• Acórdão da Relação de Coimbra de 4 de Dezembro de 2002, CJ 2002, tomo V, p. 51: o crime
de ofensa à integridade física agravado do artigo 146º, nº 1, do CP é um crime público.
• Acórdão da Relação de Évora de 16 de Abril de 2002; CJ 2002, tomo III, p. 263: ofensa à
integridade física; danos emocionais e psíquicos.
• Acórdão do STJ de 25 de Setembro de 2002, CJ 2002, tomo III, p. 182: crimes de resistência e
de ofensas corporais qualificadas. Bens jurídicos protegidos, concurso de crimes.
• Acórdão do STJ de 6 de Julho de 1994, BMJ439396: para o preenchimento do tipo legal do
crime de ofensa à integridade física é necessária a existência de dolo, não só quanto à
ofensa corporal, mas também quanto ao resultado.
Aldo Franchini, Medicina legale in materia penale, Cedam, Padova.
1. André Panchaud et al., Code pénal suisse annoté, 1989.
2. Felipe Silva Monteiro, O direito de castigo, Livraria do Minho, Braga, 2002.
3. Fernando Oliveira Sá, As ofensas corporais no Código Penal: uma perspectiva médico
legal, RPCC 3 (1991).
M. Miguez Garcia. 2001
283
4. G. Bettiol, Direito Penal. Parte Geral. Tomo II, Coimbra, 1970.
5. Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 4ª ed., 1993.
6. Jean Planques, La médicine légale judiciaire, “Que saisje?”, PUF, 1967.
7. Jorge Dias Duarte, O crime de exposição ou abandono, Maia Jurídica, Revista de Direito,
ano I, nº 1 (JaneiroJunho 2003), p. 125.
8. José de Faria Costa, O perigo em direito penal, especialmente, p. 389: nomeadamente,
quanto à forma técnica de construir os tipos qualificadores referentes ao homicídio e às
ofensas corporais. Em ambos, a qualificação pode resultar de uma indiciadora descrição
das relações situacionais que têm sempre de ser aferidas pelo crivo da revelação de
“especial censurabilidade ou perversidade do agente” (artigo 132º, nº 1); mas nas ofensas
corporais a qualificação assenta também no grau de afectação danosa produzido ao bem
jurídico da integridade física (artigo 144º).
9. José Hurtado Pozo, Droit pénal. Partie spécial I, 3ª ed., Zurich, 1997.
10. Luigi Delpino, Diritto penale, Parte speciale, 10ª ed., 1998.
11. Manuel da Costa Andrade, Consentimento e Acordo em Direito Penal, p. 514 e passim.
12. Maria Paula Ribeiro de Faria, A lesão da integridade física e o direito de educar — uma
questão “também” jurídica, in JURIS ET DE JURE Nos 20 anos da Faculdade de Direito da
UCP Porto.
13. Rudolf Rengier, Strafrecht BT II, 4ª ed., 2002.
14. Stree, Gefährliche Körperverletzung, Jura 1980, p. 281.
15. Teresa Quintela de Brito, Responsabilidade penal dos médicos, RPCC 12 (2002).
16. W. Küper, Lebensgefährdende Behandlung, Fest. für H. J. Hirsch, p. 596.
17. Wessels / Beulke, Strafrecht. Allgemeiner Teil. 32ª ed., 2002.
M. Miguez Garcia. 2001
284
§ 12º Preterintencionalidade. Agravação pelo resultado.
I. Nexo de preterintencionalidade — artigos 18º e 145º
1. CASO nº 12. Numa esquadra de polícia, A saca da pistola, que em serviço tem sempre
carregada, e com ela golpeia B na cabeça, porque este o insultara na véspera. Ao bater na
cabeça de B, a pistola disparase, provocando a morte deste.
Os factos integram um crime de ofensa à integridade física do artigo 143º,
nº 1. Mas como B morreu com o disparo da pistola e este evento não pode ser
envolvido no dolo do agente, que manifestamente não o quis —ainda que
eventualmente o tivesse representado sem no entanto se conformar com o risco
da sua produção— o crime será o do artigo 145º (agravação pelo resultado), se
pudermos imputarlhe tal resultado a título de negligência (artigo 18º). O que,
por outro lado, significa também que se o disparo mortal tivesse sido doloso,
acompanhado da intenção de matar, o crime seria o do artigo 131º (homicídio).
No artigo 145º consta um dos vários crimes qualificados pelo resultado
previstos no Código. Quem voluntariamente mas sem dolo homicida ofender
outra pessoa corporalmente e por negligência lhe produzir a morte (ou uma
lesão da integridade física grave: nº 2 do artigo 145º) comete um só crime, um
crime qualificado pelo evento, embora o facto seja subsumível a duas normas
incriminadoras (no caso, a do artigo 143º, nº 1, e a do artigo 137º, nº 1).
O artigo 145º é um crime contra a integridade física, ainda que o resultado
agravativo seja a morte de outra pessoa. Para alguns autores porém o crime
consiste, estruturalmente, num homicídio negligente cometido através duma
ofensa corporal dolosa, o que permite incluílo entre os crimes contra a vida (cf.
Schmidhäuser, BT 2/47), significado que face à lei portuguesa se rejeita por
inteiro.
Não funcionando as regras do concurso de crimes, o crime preterintencional revela
então a “íntima fusão” de um facto doloso, que é já um crime, e um resultado
negligente, que determina a agravação da responsabilidade. É esta agravação da pena
M. Miguez Garcia. 2001
285
nos crimes preterintencionais que os autores procuram explicar, a par dos critérios em
face dos quais deve fazerse a imputação ao agente do evento mais grave. Tarefa que
nem sempre se apresenta com a simplicidade das coisas evidentes. Na verdade, um
evento pode ocorrer por obra do acaso ou do fortuito, não sendo justo imputálo então a
alguém como obra sua, nomeadamente depois que se reconheceu que não há
responsabilidade sem culpa.
Da escola clássica ao princípio de que não há responsabilidade sem culpa. No
Código Penal [espanhol] de 1848 consagravase a ideia de que quem realiza um acto
ilícito não se exime à responsabilidade pelos resultados fortuitos que possa causar. O
Código estabelecia que quem actuou voluntariamente também se responsabiliza mesmo
que o dano recaia sobre pessoa diferente da que o sujeito se propôs ofender (concluíase
assim que quem tivesse querido matar um terceiro e, por erro, matasse o próprio pai, era
responsável por parricídio). O Código limitavase a atenuar a pena de quem não teve a
intenção de causar todo o mal que produziu. A origem destes preceitos encontrase na
concepção que do crime tinha a escola clássica — quem actua voluntariamente sabe que
pode produzir consequências indesejadas. O homicídio preterintencional fundamentava
se nestas ideias — quem voluntariamente agride outra pessoa sabe que se expõe a
ocasionarlhe a morte. Neste sentido, afirmavase que a morte tinha sido querida porque
se produziu ao realizarse um acto que a podia produzir: “versari in re illicita respondit
etiam pro casu”. Essa morte, realmente não querida, mas que também não estava
amparada pela eximente do caso fortuito, por ter sido precedida por um acto intencional
ou culposo, deveria assim ser imputada ao sujeito — e como o autor realmente não tinha
querido produzir tanto mal, atenuavaselhe a pena. Cf. Cuello Contreras, El Derecho
Penal Español, vol. I, 1993, p. 251. Perante isto, é mais fácil entender W. Hassemer
(Einführung, p. 190) quando escreve: “até à introdução, em 1953, do § 56 StGB
M. Miguez Garcia. 2001
286
(correspondente ao actual § 18 do StGB e de algum modo ao nosso artigo 18º), certos
delitos eram qualificados pelo resultado e não pelo agente. (...). O § 18 representa agora,
neste tipo de crimes, o lado do agente.”
A agravação (Jakobs: “agravação considerável”) exige a imputação do
evento ao agente sob os dois aspectos da imputação objectiva e da imputação
subjectiva: artigo 18º. A par do desvalor do resultado (no exemplo, a morte),
“terá que se afirmar um desvalor da acção que se traduz na previsibilidade
subjectiva e na consequente violação de um dever objectivo de cuidado
(negligência)”. Cf. Paula Ribeiro de Faria, p. 245.
No artigo 145º prevêse pena de prisão de 1 a 5 anos (alínea a) do nº 1) — em contraste com
a moldura penal dos artigos 143º, nº 1, (ofensa à integridade física simples) e 137º, nº 1
(homicídio por negligência): em ambos os casos prisão até 3 anos ou multa até 360 dias.
A integração do caso nº 12 nos artigos 145º, 18º, exclui, consequentemente,
o concurso efectivo de crimes (artigo 30º, nº 1: na forma de concurso ideal), a
punibilidade de A não se reconduz aos artigos 143º, nº 1, e 137º. Vamos ver se
esta solução será ou não a adequada ao caso nº 12A.
Por conseguinte: no caso nº 12, A praticou — tudo o indica — um crime do
artigo 145º, nº 1, a), do Código Penal. Foi a ofensa à integridade física (ofensa
consumada), na forma da pancada voluntariamente dada na cabeça de B, a
causa da morte deste. Não basta porém que a acção do agressor apareça como
simples condição do resultado, a aplicação do artigo 145º supõe ainda um
específico nexo de perigo entre o comportamento agressivo e o evento mais
grave (morte ou ofensa à integridade física grave). Exige uma boa parte dos
autores (cf. Küpper), por outro lado, que à realização dolosa do crime
fundamental esteja directamente ligado o perigo específico que venha a
cristalizar no evento mortal. Só então existe o especial conteúdo do ilícito que
justificará a pena realmente mais grave, correspondente ao crime agravado pelo
resultado.
Como bem se compreende, uma lesão corporal dolosa pode revelar o perigo que lhe é
característico não só pela natureza do resultado lesivo mas também pela concreta maneira de
M. Miguez Garcia. 2001
287
actuar do agressor. Muito frequentemente, a própria lesão corporal espelha, de forma imediata
e em si mesma, o risco específico que pode conduzir à morte da vítima (“vulnus letale”),
reproduzindo a estreita “relação de afinidade” que intercede entre o crime fundamental doloso
e o evento agravante. Este específico nexo de risco pode detectarse, por ex., nestes outros
casos, que seguramente se incluem no artigo 145º: A espeta B com uma faca pontiaguda — a
ferida conduz imediatamente à morte, por ter sido atingido o coração; ou a morte ocorre logo a
seguir, devido a uma grave hemorragia ou a uma infecção ou através duma infecção
imediatamente a seguir à hospitalização. Em qualquer dos casos tenhase presente que A actua
unicamente com intenção de ofender corporalmente, por conseguinte fora de dolo homicida.
Mas o resultado mais grave também pode ocorrer, repetese, por simples
acidente ou derivar de um processo causal de tal modo anómalo e imprevisto
que nunca poderá ser posto a cargo do agente. Daí que, se por um lado deva
acrescentarse a necessidade de um nexo de adequação entre a acção
fundamental dolosa e o evento agravante, a consequência lesiva — a morte ou a
ofensa à integridade física grave — deverá, por outro, surgir directamente do
crime fundamental, portanto, sem a mediação do comportamento imputável da
vítima ou de terceiro (cf. Jakobs, AT, p. 331).
A desferiu contra B, numa altura em que este se encontrava fortemente
embriagado, dois murros que o atingiram na boca, em termos, todavia, de lhe
causar apenas lesões ligeiras. Aliás, o atingido nem sequer chegou a cair. Não se
poderá afirmar que os dois murros foram a causa da morte de B, por falta do
específico nexo de adequação, já que, de acordo com a experiência geral da
vida, é completamente improvável que a morte aconteça directamente em tais
circunstâncias. A só poderá ser castigado pelo crime do artigo 143º, nº 1.
Se A dá uma bofetada em B e esta, num berreiro injustificado, corre ao
encontro do marido, mas sem adoptar as mais elementares cautelas inicia a
travessia da rua com o sinal vermelho para os peões e vem a ser colhida por um
automóvel, sofrendo lesões causais da morte, A só poderá ser responsabilizado
pela agressão física inicial à bofetada.
M. Miguez Garcia. 2001
288
No caso nº 12, A actuou dolosamente, mas o evento agravante não foi
dolosamente causado nem acidentalmente produzido. Fazendo apelo ao
princípio da normalidade ou da regra geral, ou às chamadas máximas da vida
ou regras da experiência, não é possível excluir a responsabilidade de A na
morte de B por negligência, já que, ao bater na cabeça da vítima com uma
pistola carregada que por efeito da pancada logo se disparou, agindo portanto
com flagrante violação dos mais elementares cuidados, A estava em condições
de prever o infausto acontecimento. A morte de B é obra de A, que por isso
cometeu um crime dos artigos 18º e 145º, nº 1, alínea a), se não houver, como
julgamos que não há, qualquer causa de justificação ou de desculpação.
2. CASO nº 12A: Numa esquadra de polícia, A saca da pistola, que em serviço tem
sempre carregada, e vai para bater com ela na cabeça de B, que o insultara na véspera. Sem
que, porém, tenha chegado a tocar no B, a pistola disparase, provocando a morte deste.
A não chegou a agredir B com uma pancada da pistola, como pretendia,
não se consumou, nesse sentido, a ofensa do corpo ou da saúde. A arma
disparouse antes de atingir a cabeça de B, dandose o evento mortal, que não
estava nos planos de A e só poderá serlhe assacado se comprovados os
pressupostos da negligência. Teoricamente, teremos então preenchidas em
concurso efectivo (concurso ideal) uma “tentativa de ofensa à integridade física
simples” (atenção: não punível no nosso direito) e 15º e 137º, nº 1 (homicídio por
negligência).
A tentativa está excluída nos crimes qualificados pelo resultado? Mas não será caso de
chamarmos a terreiro a tentativa dos crimes qualificados? Para a maioria, a tentativa está
excluída nestes crimes qualificados pelo resultado, por se tratar de combinações de dolo
negligência. Com efeito, a negligência é normativamente incompatível com a tentativa, que
supõe, no agente, a decisão de cometer um crime (artigo 22º, nº 1). Centrando de novo a nossa
atenção no artigo 145º, este só ficará preenchido, ocorrendo o resultado imputável mais grave,
se a lesão do corpo ou da saúde estiver consumada, mas se o evento mortal não ocorrer só
poderá falarse de uma tentativa se o plano do agente incluir a morte de outra pessoa. O crime
M. Miguez Garcia. 2001
289
será então o dos artigos 22º, 23º, nº 2, e 131º (tentativa de homicídio), não passando a ofensa
corporal consumada dum estádio intermédio na realização do homicídio. Há contudo autores
que admitem a possibilidade da tentativa naqueles casos em que o núcleo do crime
preterintencional se manifesta mais incisivamente no seu segmento doloso, aparecendo
consequentemente o delito, no seu todo, estruturado como facto doloso. Suponhase o seguinte
exemplo: A e B fazem montanhismo mas em certo momento desentendemse e, na discussão,
A, sem dolo homicida, atira uma pedra ao companheiro que se desvia mas perde o equilíbrio,
despenhandose no abismo. O perigo específico do resultado mais grave relacionase aqui com
o desvalor da acção praticada por A, logo: artigos 22º e 145º.
Os casos nºs 12 e 12A serão mesmo diferentes, a ponto de exigirem
diferente tratamento?
No artigo 145º é elemento típico uma ofensa corporal dolosa (consumada): “quem
ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa...”, diz o nº 1; “quem praticar as ofensas
previstas no artigo 143º...”, diz o nº 2, e isso só acontece no caso nº 12. No outro, a ofensa
corporal não chegou a concretizarse, daí que só possa aplicarselhe o concurso de
crimes (com a indicada limitação de não ser punível, no nosso direito, a tentativa de
ofensa corporal simples).
Ainda assim, há quem pretenda que o caso nº 12 não cabe no artigo 145º —
dizse que a ofensa corporal dolosa, mesmo consumada, não foi causa da morte,
enquanto tal, não desempenhou nisso qualquer papel. Os autores que assim
pensam só integram no artigo 145º aquelas hipóteses em que a ofensa corporal
dolosa conduziu à morte, como no caso nº 12B, ou naquele outro em que A,
sem dolo homicida, atinge com um objecto perfurante o coração de B, que
morre logo em seguida… Confuso? Vamos ver.
3. CASO nº 12B (Hochsitzfall: BGH St 31, 96 — 30.6.82): A empurrou B dolosamente,
fazendoo despenharse duma altura de 3,5 metros, o que lhe provocou diversas fracturas e um
M. Miguez Garcia. 2001
290
longo internamento hospitalar. B morreu devido a complicações associadas a uma embolia
pulmonar, derivada da permanente imobilização a que esteve sujeito.
O artigo 145º exige, como se viu, um específico nexo de risco entre o
comportamento agressivo e o resultado mais grave (morte ou ofensa à
integridade física grave) — e que à realização dolosa do crime fundamental
esteja directamente ligado o perigo específico que venha a cristalizar no evento
agravante. Neste caso nº 12B, o crime fundamental doloso mostrase
consumado: A, actuando dolosamente, fez com que B se precipitasse duma
altura de 3,5 metros. Mas como não parece existir aqui uma estreita conexão
entre a lesão corporal e a morte de B, que só veio a ocorrer na sequência de um
prolongado internamento, haverá quem recuse em hipóteses como esta a
aplicação do artigo 145º.
O sentido e o alcance dos crimes preterintencionais exigem “uma adequação aferida
nos termos mais estritos e exigentes”: i) por um lado aferida em concreto e relativamente
ao crime fundamental doloso cometido, no âmbito das circunstâncias e condicionalismos
de que se revestiu; ii) por outro lado particularmente rigorosa na valoração normativa
dos resultados ou eventos verificados e cuja imputação ao agente se discute; iii)
finalmente, e sobretudo, impondo não só a comprovação positiva de que o crime
fundamental doloso, tal como foi concretamente cometido, era tipicamente idóneo a
arrastar consigo o evento agravante, mas também a comprovação negativa autónoma da
inexistência de qualquer circunstância atípica que pudesse ter podido ocasionar o
resultado agravante. (Figueiredo Dias; ainda, J. Wessels, Strafrecht, BT 1, 17ª ed., p. 63).
Nos anais dos tribunais portugueses pode fazerse o confronto com o caso
de A, que podendo prever a morte de B, empurrao com violência para trás,
quando ambos se encontravam sobre um patamar em cimento, sem
gradeamento ou qualquer outra protecção, situado a cerca de 2 metros do solo,
fazendo cair a vítima de costas e bater com a cabeça no pavimento alcatroado
da rua, em resultado do que sofreu fracturas necessariamente determinantes da
M. Miguez Garcia. 2001
291
morte. O Supremo (acórdão de 5 de Julho de 1989, BMJ389304) não hesitou em
integrar a situação nos artigos 144º, nº 1, e 145º, nº 1, e condenou A, atentas as
circunstâncias (os dois eram amigos, tinham estado a beber, o arguido andava
dominado por um período de desorientação, por estar sem trabalho — e, em
especial, uma reacção incompreensível da vítima), na pena de 3 anos de prisão.
4. CASO nº 12C (caso Rötzel): A, quando se encontrava no andar superior da casa de
sua mãe, agrediu B, a empregada doméstica, causandolhe uma ferida profunda no braço
direito e fractura do osso do nariz. O Tribunal veio a apurar que a empregada, amedrontada
perante a intenção manifestada por A de continuar a agredila, procurou fugir pela janela do
quarto para um terraço anexo, mas caiu e veio a morrer por causa dos ferimentos sofridos na
queda.
Já vimos, como exemplo de um crime qualificado pelo resultado (artigos
18º e 145º), o caso de quem, sem intenção homicida, golpeia a cabeça de
outrem com uma pistola carregada, a qual, sem a vontade do agente, se
dispara com a pancada e mata a vítima; para alguns autores terá idêntica
estrutura a hipótese jurisprudencial em que a vítima das pancadas é
projectada para a estrada, acabando por morrer atropelada. Mas as coisas
complicamse quando a vítima enceta a fuga perante o agressor e se expõe a
uma situação de perigo para a vida.
Os tribunais alemães [já antes das alterações do Código, em 1998] negamse a
enquadrar nos crimes qualificados pelo resultado alguns destes casos, especialmente
quando o perigo de lesão se esgota num único ataque. Em geral, no plano da
causalidade, a jurisprudência opera com os critérios alargados da teoria da equivalência,
a qual, aplicada aos feitos de moldura penal agravada, torna exigível a adopção de
critérios correctivos e limitadores. Daí que, se a morte ocorreu indirectamente, quando a
vítima tentava a fuga, o risco típico, específico dos crimes qualificados pelo resultado,
M. Miguez Garcia. 2001
292
não se realizou, não foi a ofensa sofrida que causou a morte da vítima. A consequência
deve portanto surgir directamente do crime fundamental, sem a mediação do
comportamento imputável da vítima ou de terceiro (Jakobs, AT, p. 331).
No caso nº 12C poderemos dar o nosso aplauso à seguinte solução: a
reacção de B verificouse na sequência de violenta agressão, de que são prova a
natureza e a gravidade das lesões sofridas, e na iminência de voltar a ser
agredida, B, procurando a fuga, pretendeu afastar um perigo actual e não
removível de outro modo, que ameaçava a sua integridade física — não lhe era
exigível comportamento diferente (cf. o artigo 35º, nº 1). A concreta actuação de
A era tipicamente idónea a arrastar consigo o evento agravante e deste não se
pode dizer que foi obra da própria vítima, que manifestamente actuou em
situação de pânico (daí que se não possa negar que a morte é directamente
decorrente do perigo específico associado ao comportamento do agente). Nem,
aliás, a morte resultou de acidente imprevisto que afectasse a relação de
adequação entre aquela actuação do A e o evento agravante. Em suma: a morte
de B é expressão de um perigo específico contido no comportamento de A e
esse perigo específico encontrase directamente relacionado com a agressão
sofrida.
A solução poderia ser diferente se a agressão já estivesse terminada e a
vítima morresse, por ex., numa queda por não prestar atenção ao caminho por
onde se retirava em pranto desatado. Nesta eventualidade, a morte aparecia
como circunstância atípica de um processo causal em que o agente do crime de
ofensas corporais já não estava envolvido.
Ultrapassada a questão da imputação objectiva, nos termos referidos,
restaria ao intérprete aplicar o artigo 18º. A violação do dever de cuidado era
manifesta face ao agir de A, a quem se impunha que evitasse a lesão dos
interesses de B. Resta por isso averiguar, como já se disse, a previsibilidade
individual (subjectiva) do evento mortal, enquanto elemento da negligência.
Certos crimes, como os “incêndios, explosões, inundações”, etc., são especialmente dotados
para aparecerem qualificados pelo resultado: como crime fundamental, o ilícito do artigo
272º tem todas as condições para dele resultar morte ou ofensa à integridade física grave de
outra pessoa. Outros crimes com idêntica aptidão são os dos artigos 273º, 277º, 280º, 282º,
M. Miguez Garcia. 2001
293
283º, 284º, 287º a 291º — cf. o que, a confirmar isso mesmo, se dispõe nos artigos 285º e 294º.
O roubo é também um desses crimes: cf., no artigo 210º, nº 3, a pena de prisão de 8 a 16 anos,
idêntica à do homicídio do artigo 131º, com que se pune o autor do roubo de que resulta a
morte de outra pessoa. Responda agora: por que motivo há um roubo agravado pelo
resultado morte, ou um crime de violação agravado pelo evento mortal (artigos 164º, nº 1, e
177º, nº 3), e não há um crime de coacção agravado pelo mesmo resultado?
II. Nexo de preterintencionalidade? — artigos 18º e 145º
1. CASO nº 12D: C seguia conduzindo o seu automóvel por uma das ruas da cidade
quando lhe surgiu uma criança a curta distância, vinda, em correria, de uma rua
perpendicular. C conseguiu evitar o embate à custa de repentina travagem, mas, no momento
seguinte, V, homem dos seus 30 anos, que seguia a pé pelo passeio, começou a invectiválo em
alta grita pelo que tinha acontecido. Perante o avolumar da exaltação e do descontrolo de V, C,
indivíduo alto e fisicamente bem constituído, saíu do carro e pediulhe contenção, obtendo
como resposta alguns insultos que, indirectamente, envolviam a mãe de C. Este reagiu dando
dois murros em V, que o atingiram na cara e no pescoço. V começou então a desfalecer e,
apesar de C lhe ter deitado a mão, caiu, sem dar acordo de si. Transportado a um hospital,
acabou por morrer, cerca de meia hora depois. A autópsia revelou que a morte foi devida a
lesões traumáticas meningoencefálicas, as quais resultaram de violenta situação de “stress”, e
que a mesma ocorreu como efeito ocasional da ofensa. Esta teria demandado oito dias de
doença sem afectação grave da capacidade de trabalho.
A questão aponta, prima facie, para o chamado crime preterintencional ou
agravado pelo resultado, o qual, visto no recorte típico do artigo 145º, nº 1, do
Código Penal, se reconduz à existência de um crime fundamental doloso e de
um evento agravante, não abrangido pelo dolo inicial do agente, a par de uma
M. Miguez Garcia. 2001
294
especial agravação da pena cominada para a reunião daquele crime
fundamental doloso com o resultado.
A abordagem do crime preterintencional fazse acompanhar, frequentemente, duma
análise diacrónica com raízes no versari in re illicita (v. i. r. i.), teoria sustentada muito
especialmente pelo direito canónico, segundo a qual, quem se dispõe a realizar algo não
permitido, ou com “animus nocendi”, fica responsável pelo resultado danoso que a
acção vier a ocasionar. A teoria remonta, aliás, à chamada “irregularidade”, que tinha a
ver com a exclusão de pessoas indignas para o desempenho de funções eclesiásticas (cf.
Ed. Mezger, Derecho Penal, PG, Libro de estudio, Buenos Aires, 1957, p. 235; H. Blei,
Strafrecht, I. AT, 18ª ed., 1983, p. 118). Já nas primeiras décadas do século vinte, o “delitto
preterintenzionale” ficara contemplado no Código Rocco (artigos 42º e 43º), verificando
se quando “dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piú grave
de quello voluto dall’agente”. Ainda assim, e durante muito tempo, especialmente por
influência do direito prussiano, continuou a estabelecerse uma agravação da pena
meramente objectiva, com as consabidas consequências, o que levou um penalista, em
certa altura, a falar em “ignominiosa afronta”, permitindo ainda que, ultrapassada a
questão, se recordasse um “despojo quase fóssil de um época passada do direito penal”.
Foi Radbruch, um dos máximos representantes do conceito psicológico da culpa, quem
concretizou a ideia da exclusão da culpa quando o resultado não era imputável a uma
actuação dolosa ou negligente de quem o havia causado: nos crimes qualificados pelo
resultado, o resultado qualificante cuja produção determina uma pena mais grave só
pode ser imputado quando tenha sido causado ao menos por negligência.
De qualquer modo, entre nós, ainda em 1977 o Dr. Maia Gonçalves
escrevia, porventura a esconjurar hesitações ou mal entendidos, que no
M. Miguez Garcia. 2001
295
homicídio preterintencional o resultado (morte) não pode ser imputado
dolosamente ao autor que só teve intenção de ofender corporalmente,
acrescentando, de modo significativo, “que a jurisprudência do Supremo tem,
ultimamente, exigido a negligência do agente quanto à produção do resultado”.
A este entendimento, que se prolonga na rejeição da mera responsabilidade
objectiva no domínio do penal, não terão sido alheios os trabalhos
contemporâneos de Figueiredo Dias, em especial a “Anotação” ao acórdão do
Supremo de 1 de Julho de 1970, que veio a ser publicada na Revista de Direito e
de Estudos Sociais, ano XVII, nºs 2, 3 e 4, em clara sintonia com as teses do
Anteprojecto, onde se fazia a exigência expressa da negligência do agente na
produção do resultado (cf. Actas das sessões da Comissão Revisora, Acta da 4ª
sessão, artigo 157º). Exigência essa que só não estará agora a acompanhar o
correspondente artigo 145º, como se pretendia, por ter sido levada à parte geral
do Código, incluída no artigo 18º, que, seguindo o modelo germânico (§ 18 do
StGB), dispõe que “quando a pena aplicável a um facto for agravada em função
da produção de um resultado, a agravação é sempre condicionada pela
possibilidade de imputação desse resultado ao agente pelo menos a título de
negligência”. De modo que “a culpa continua a ser exigida e,
consequentemente, a ter que ser provada a sua existência” (acórdão do STJ de 7
de Março de 1990, CJ, ano XV (1990), tomo II, p. 9).
Acontece, todavia, que o sistema do facto punível é sequencial. Não pode
procederse ao tratamento sistemático de um determinado problema de forma
arbitrária, por existir uma hierarquia normativa dos graus de imputação (cf. W.
Hassemer, Einführung, p. 203). Ainda que o conhecimento das diversas
vertentes em que se desdobra a negligência, em casos como o que temos em
mãos, seja o seu momento culminante, não se dispensa a análise prévia da
existência dos restantes elementos objectivos do tipo, muito especialmente do
nexo objectivo que porventura ligue a acção ao resultado.
Ora, está fora de dúvida que C agrediu V corporalmente, em termos de lhe
produzir, como consequência da sua actuação dolosa, oito dias de doença. A
mais disso, o resultado mortal — que na sua expressão naturalística, enquanto
acontecimento infausto e infelizmente definitivo, também não deixa espaço
para discussão —, fica vinculado à apreciação da relação causal, como qualquer
outro pressuposto geral da punibilidade. Está em causa, portanto, um
comportamento humano e todas as suas consequências.
M. Miguez Garcia. 2001
296
De acordo com a teoria das condições, de que tantos juristas ainda continuam a fazer
uso, a morte de V foi causada pela agressão. Com efeito, nesse contexto, todas as
condições do resultado são equivalentes... Causa será, no sentido indicado, toda a
condição de um resultado que não possa suprimirse mentalmente sem que desapareça o
resultado na sua forma concreta. É a fórmula da condicio sine qua non: causa do resultado
é qualquer condição, positiva ou negativa, que suprimida in mente faria desaparecer o
resultado na sua forma concreta (Mezger). Se procedermos a essa operação mental, com
apego ao que aconteceu, i. é, suprimindo a agressão, logo se vê que o resultado não teria
ocorrido, pelo menos nas circunstâncias que se encontram relatadas. Cedo se
reconheceu, porém, que uma tal maneira de proceder, especialmente quando associada a
casos destes, era claramente insuficiente, carecendo de ser demonstrada uma estreita
relação entre a conduta do agente e o evento mortal. De modo que hoje em dia se situa a
solução, predominantemente, na área das (modernas) doutrinas da imputação objectiva,
ou se faz apelo à conhecida “teoria da causalidade adequada”, que se diz estar
consagrada no Código Penal (artigo 10º).
Não bastará portanto a simples afirmação da causalidade, é ainda
necessário que à realização dolosa do crime fundamental esteja ligado um
perigo específico que venha a cristalizar no evento mortal. Só então existe o
especial conteúdo do ilícito que justificará a pena realmente mais grave,
correspondente ao crime agravado pelo resultado. O intérprete deve, desde
logo, atender à maneira como o crime fundamental doloso foi cometido. Uma
lesão corporal dolosa pode, aliás, revelar o perigo que lhe é característico não só
pela natureza do resultado lesivo mas também pela concreta maneira de actuar
do agressor.
No caso nº 12D as lesões teriam demandado um período de doença por
oito dias, pelo que não podem ter sido elas, em si mesmas, a causa adequada do
resultado letal. Concretamente consideradas, não são um meio idóneo para
M. Miguez Garcia. 2001
297
provocar a morte, nem esta pode reputarse uma consequência normal e
frequente daquela causa. Aliás, a confirmar isso mesmo, a perícia médicolegal
não deixa de acentuar que a morte “ocorreu como efeito ocasional da ofensa”, o
que põe de manifesto a própria impossibilidade de, transcendida a abstracta
consideração dos fenómenos, se afirmar qualquer nexo de adequação.
Nem outra conclusão seria compatível, em boa verdade, com a global
consideração dos factos que rodearam a agressão: a vítima, exaltada, foi
agredida a soco, começou a desfalecer e acabou por cair ao chão, num quadro
humano perfeitamente compatível com a situação de stress que o relatório da
autópsia também invoca. Não se apurou directamente a violência da agressão,
mas o efeito, limitado a oito dias de doença, deixa margem ao entendimento de
que se não ultrapassou o trivial de tais casos. Por outro lado, mesmo tratando
se de agressor mais forte‚ tudo indica que não terá sido a violência da pancada a
determinar a queda do atingido, mas o desfalecimento de que ficou possuído.
Podemos por isso concluir com a indispensável segurança que a morte do
infeliz V se deu em circunstâncias especialmente extraordinárias e improváveis,
situandose fora do curso normal dos acontecimentos, em termos de, não
podendo ser “obra” de C, também não concorrer para um nexo de
preterintencionalidade.
O artigo 145º não tem aqui aplicação. Resta a norma residual do artigo
143º, nº 1, do Código Penal, que deverá aplicarse enquanto tipo de recolha, e
cujos elementos objectivos e subjectivos se encontram preenchidos.
2. CASO nº 12E: A e B desentendemse um com o outro quando, ao volante dos
respectivos automóveis, seguem por uma das autoestrada mais movimentadas do País, onde é
quase contínuo o tráfego de grandes camiões de mercadorias. Acabam por parar na berma da
autoestrada, abandonam os carros e, por entre ameaças, A desfere um murro na cara de B. A
seguir, saca de uma faca que levava consigo e só não a espeta no abdómen de B, como
pretendia, porque este, num gesto repentino, se desvia. Ao desviarse do golpe é, no entanto,
apanhado pelo rodado traseiro de um dos camiões que por ali transitam. Os ferimentos
sofridos com o atropelamento provocaramlhe a morte. A, como o Tribunal mais tarde
averiguou, não teve em momento algum dolo homicida.
Neste caso, a agressão era actual e estava consumada. B desviouse para
evitar uma lesão mais grave. O impulso corresponde a uma reacção defensiva
perfeitamente elementar, podendo afirmarse o específico nexo de perigo entre
o comportamento agressivo (doloso, consumado) e o resultado mortal. O crime
fundamental doloso, tal como foi concretamente cometido, era tipicamente
idóneo a arrastar consigo o evento agravante. Resta agora saber se, de acordo
M. Miguez Garcia. 2001
298
com os conjugados artigos 18º e 145º, o agente é responsável, a título de
negligência, pelo evento mortal. A análise começa, portanto, com a realização
do crime fundamental e o perigo que dele resulta para a vida da vítima, mas na
afirmação da negligência não se pode prescindir da previsibilidade individual
(subjectiva) do resultado mortal.
Esta solução não encontrará unanimidade. O Tribunal alemão que em 1971
apreciou o caso Rötzel excluiu o crime preterintencional, na falta de uma
relação directa entre o evento mortal e a agressão — acabando por
responsabilizar o agressor por um crime doloso contra a integridade física e um
homicídio negligente. A solução alemã para casos destes, encontrada no plano
da unidade criminosa entre um crime doloso de ofensas corporais e um
homicídio negligente, não tem correspondência entre nós, onde não se faz a
distinção entre as regras do concurso ideal e as do concurso real de crimes.
3. CASO nº 12F: A, para roubar B, agrideo, batendolhe na cabeça com uma barra de
ferro. A não actuou com dolo homicida, mas deulhe com tanta força que B não resistiu à
violência da pancada e morreu.
O roubo é um crime complexo, composto de furto e coacção — o ladrão apoderase
da coisa alheia mas para a conseguir constrange outra pessoa a suportar a subtracção.
A norma dirigese em primeira linha à tutela da propriedade. E embora se proteja ao
mesmo tempo a liberdade individual, o atentado à liberdade representa apenas o meio
para a realização do crime contra a propriedade. Deste modo, sendo o roubo um crime
autónomo —e não, simplesmente, um furto agravado pelo emprego da violência—,
comete tal ilícito aquele que, empregando a força contra outra pessoa, lhe tira a coisa
que esta tem em seu poder, ainda que tal coisa seja de valor diminuto.
O artigo 210º, nº 3, é um crime agravado pelo resultado: “se do facto
resultar a morte de outra pessoa, o agente é punido com pena de prisão de 8 a
16 anos”. O preceito aplicase se qualquer dos ladrões, por negligência, causar a
morte de outra pessoa, se, por ex., ao puxar da arma para amedrontar aquele
M. Miguez Garcia. 2001
299
que transporta o dinheiro, provoca um ataque cardíaco na pessoa do idoso que
o acompanhava, e que acaba por morrer. “Outra pessoa”, no sentido em que se
exprime o preceito, será desde logo o visado pelo roubo, como no caso 12F.
Mas poderá ser alguém alheio ao roubo, por ex., um passante que é atingido
por uma bala perdida disparada por um dos assaltantes como forma de colocar
a vítima do roubo na impossibilidade de resistir. Excluise porém a pessoa de
qualquer destes, já que a norma não protege quem, realizando um perigo de
vida, se torna responsável pela sua criação.
Para haver esta agravação, não basta que o roubo tenha sido condição sine
qua non do evento mortal. A mais disso é necessário que a morte resulte do
comportamento do ladrão e do específico perigo que lhe está associado.
Exemplo: durante um roubo o ladrão envolvese em luta com a pessoa
assaltada. Um dos tiros então disparados vai ferir mortalmente uma pessoa que
ia a passar e não teve tempo de buscar refúgio. Há quem todavia identifique
uma hipótese destas com a aberratio ictus: tentativa de homicídio na pessoa do
visado com o tiro (artigos 22º e 131º) e homicídio negligente do atingido (artigo
137º).
A situação de aberratio ictus (desvio de golpe) é um erro na execução, corresponde
àqueles casos em que na execução do crime ocorre um desvio causal do resultado sobre
um outro objecto da acção, diferente daquele que o agente queria atingir: A quer matar
B, mas em vez de B o tiro atinge mortalmente C, que se encontrava ali ao lado.
Distinguese do típico “error in persona vel objecto”. No “error in persona” há uma
confusão e não um erro na execução. Assim, no exemplo de Stratenwerth (Derecho Penal,
parte general, I, Madrid, 1982), o “assassino” profissional mata um terceiro totalmente
alheio, por supor que é a vítima que lhe fora indicada e que só conhece por fotografia.
Ou então, durante a fuga, o ladrão dispara mortalmente contra a pessoa que
hipoteticamente o persegue, quando na realidade se tratava de um seu cúmplice, que
igualmente fugia.
M. Miguez Garcia. 2001
300
Certo é que tal agravação já não ocorrerá se os ladrões, pondose em fuga
de carro, acabam por atropelar mortalmente um peão que atravessava a rua. E
se os ladrões se tivessem limitado a roubar os medicamentos urgentes que P
transportava com destino a T (“outra pessoa”), o qual, por isso, não foi
socorrido e morreu?
A propósito do conceito de negligência grosseira e dos graus de negligência, recorda
a Prof. Fernanda Palma que nos crimes agravados pelo resultado tentase justificar a
medida da pena, em certos casos superior à que resultaria do concurso ideal entre o
crime dolosobase e o crime negligente, através da exigência de uma negligência
qualificada ou grave. (Direito Penal. Parte Especial. Crimes contra as pessoas, Lisboa,
1983, p. 102). Convém porém observar que na actual redacção do artigo 210º, nº 3, já se
não exige, como no anterior artigo 306º, nº 4, que o agente actue com “negligência
grave”.
Considerese agora o caso nº 12G.
4. CASO nº 12G: A, B e C iniciam, como combinado, um assalto aos escritórios da firma
x. Sob a ameaça de armas, obrigam todos os presentes a recolheremse num dos
compartimentos, que isolam, e começam a reunir valores para levarem consigo. Porém, como o
cofre é demasiado pesado e não conseguem transportálo pelas escadas, atiramno por uma das
janelas, mas ao cair do 5º andar o cofre atinge P, que por ali passava e que vem a morrer devido
às lesões sofridas.
Não será aqui decisivo apreciar a questão do segmento temporal de
aplicação do artigo 210º, nº 3, i. é, saber se na agravação se incluem os casos
letais ocorridos depois de conseguida a subtracção — se a morte, ocorrendo já
em momento seguinte ao da disponibilidade do cofre pelos ladrões, ainda se dá
no desenvolvimento deste crime, sem que isso se confunda com a violência
“depois da subtracção”, típica do artigo 211º, a qual vai obrigatoriamente
M. Miguez Garcia. 2001
301
acompanhada da intenção de conservar ou não restituir as coisas subtraídas.
Ainda assim, é pertinente perguntar se, in casu, o cofre estaria mesmo na
disponibilidade dos assaltantes, que até tiveram necessidade de o atirar pela
janela para acederem aos valores lá guardados. Quando é que afinal se
consumou o crime? ou, o que dá no mesmo, como é que se “rouba” um cofre?
No plano objectivo, o evento agravante tem de ser em concreto
consequência adequada do crimebase de roubo (simples), devendo averiguar
se se neste se continha um perigo típico, nos termos antes definidos. Como
também já se acentuou, podem não ser lineares as seguintes constelações de
casos: a morte de “outra pessoa” ocorre por acidente; é devida ao
comportamento de um terceiro (princípio da confiança); é devida ao
comportamento da própria vítima (princípio da autoresponsabilização). Mas
não pode ser imputada aos assaltantes a morte de quem os persegue após o
roubo sem qualquer reacção destes; ou de quem morre com os disparos do
polícia que vai em perseguição do ladrão. Também se não dá a agravação deste
crime, no sentido indicado, se um passante é atingido por uma rajada
descontrolada do ladrão que procura a fuga, depois de irremediavelmente
frustrada a acção; nem no caso daquele que é atropelado pela carrinha que
transporta o produto do assalto e se despista por excesso de velocidade.
No caso nº 12G haverá quem afirme que o crime só poderá ser o do artigo
137º (homicídio por negligência) em concurso efectivo com um crime de roubo
(este eventualmente agravado em razão do emprego de arma). E com razão, a
nosso ver. Com efeito, a vítima morreu por lhe ter caído o cofre em cima, mas o
perigo de isso acontecer não era específico do roubo, podia surgir dum crime de
furto, executado sem violência contra as pessoas, bastando que os ladrões
tivessem entrado na casa ou no escritório desertos, numa altura em que
ninguém mais ali se encontrasse, e procedessem de modo idêntico com o cofre.
Não deixa de ser verdade, por outro lado, que a morte do transeunte
ocorreu já depois de empregados os meios coercivos (ameaça com arma de
fogo) tendentes a colocar a pessoa visada pelo roubo na impossibilidade de lhes
resistir.
Vejamos, ainda a propósito, o seguinte caso.
CASO nº 12H: A e B fazem um cerco ameaçador a C, quando o encontram sozinho
numa zona montanhosa, onde o frio é intenso e o tempo mostra muito má cara. Pretendem, e
M. Miguez Garcia. 2001
302
conseguem por esse processo, que este lhes entregue toda a roupa que levava vestida,
incluindo um excelente casacão que lhe custara mais de mil euros na semana anterior. C morre
de frio ao fim de algum tempo de exposição às intempéries.
Num caso destes, relativamente à morte de C, bem difícil seria afastar o
dolo (ao menos eventual). O castigo dos dois ladrões seria então por roubo
(simples) e homicídio doloso, em concurso efectivo: antigo crime de latrocínio
— a menos que se possa sustentar diferente solução com base no exemplo
padrão da alínea c) do nº 2 do artigo 132º, invocandose a avidez do ladrão
(punição por homicídio qualificado, cujo desvalor consumirá o do roubo), ou
afirmandose a relevância de qualquer outra circunstância do nº 2 do artigo
132º.
Roubo e homicídio: latrocínio. O Código Penal de 1886 continha no artigo 433º
(latrocínio) uma figura em que concorriam os elementos típicos dos crimes de homicídio
e roubo. Actualmente, o Código não conhece a figura criminal complexa do latrocínio.
As situações em que o roubo é acompanhado de homicídio voluntário da vítima, sendo
distintos os bens jurídicos tutelados, passaram a constituir a comissão, em concurso real,
de dois crimes autónomos, o de roubo e o de homicídio. Cf., entre outros, os acórdãos do
STJ de 22 de Fevereiro de 1995, BMJ444217; de 29 de Abril de 1987, BMJ366332; de 16
de Março de 1994, CJ do STJ, ano II, 1º tomo, p. 247; e de 29 de Maio de 1991, BMJ407
205. Pensese, contudo, na solução apontada para a especial censurabilidade do
criminoso, se for caso de detectar a avidez como exemploregra: o crime de homicídio
será então o qualificado, absorvendo o desvalor do de roubo. Poderá até ser caso em que
o homicida teve “em vista encobrir” o outro crime ou assegurar a sua impunidade, o que
igualmente remete para exemplopadrão do nº 2 do artigo 132º, desta vez o da alínea e).
Vamos supor, no entanto, que não houve dolo homicida, ou que este se
não provou — e recordemos que o homicídio negligente só pode resultar do
M. Miguez Garcia. 2001
303
facto, que não poderá ter lugar como motivo sob pena de configurar um absurdo.
Consideremos que a vítima do roubo da roupa morreu de frio, mas que o
mesmo poderia ocorrer com a simples subtracção, como naquele caso em que
alguém toma banho, deixando a roupa descuidadamente à distância, e o ladrão
aproveita para lha levar, vindo o infeliz banhista a morrer num resfriado, por
entretanto se terem alterado profundamente as condições atmosféricas. No caso
nº 12H, o perigo do resfriamento da vítima do roubo não é típico deste, o
mesmo poderia ter ocorrido por ocasião dum simples furto da roupa. Ainda
que se possa estabelecer uma relação causal entre a violência empregada contra
C e a subtracção da roupa, cuja falta provocou a morte deste pelo frio, não
existe qualquer relação específica de risco entre os meios coactivos empregados
e o evento mortal. Consequentemente, não aplicaremos o tipo preterintencional
do artigo 210º, nº 3. Chegaríamos a idêntica solução, se o C, ao procurar um
caminho de fuga, ou ao pretender chegar à povoação seguinte o mais depressa
possível para fugir duma ameaçadora tempestade, tivesse caído no abismo por
não prestar atenção ao trilho por onde caminhava.
III. Crime agravado pelo resultado; dolo de dano e dolo de perigo; violação
do dever de cuidado.
1. CASO nº 12I: A quer dar uma lição a B e não se importa mesmo de o mandar para o
hospital a golpes de matraca, mas como o quer bem castigado afasta completamente a hipótese
da morte da vítima, a qual, inclusivamente, lhe repugna. A morte de B, todavia, vem a darse
na sequência da sova aplicada por A.
Repare em que há aqui três resultados: as ofensas são provocadas com dolo de
dano; o perigo para a vida fica coberto com o chamado dolo de perigo; a morte,
subjectivamente, pode vir a ser imputada a título de negligência, por violação do dever
de diligência.
A representou as ofensas à integridade física de B e quis provocarlhas.
Além disso, representou o perigo para a vida deste, embora tivesse afastado por
completo a hipótese de lhe provocar a morte. Apesar da morte de B, fica
afastado o homicídio doloso, por falta de dolo homicida, mesmo só na forma
eventual. A, no entanto, provocou ofensas à integridade física de B e quis isso
M. Miguez Garcia. 2001
304
mesmo; além disso, representou o perigo para a vida deste: a hipótese cai desde
logo na previsão do artigo 144º, d). Um dos elementos típicos deste crime é a
provocação de perigo para a vida: o crime é de perigo concreto e o agente deve
representar o perigo que o seu comportamento desencadeia, tem de agir com
dolo de perigo.
Mas se para além do resultado de ofensas à integridade física querido pelo
agente e do resultado de perigo para a vida que o mesmo representa se der o
resultado morte, que excede a intenção do agente, podendo este, no entanto,
serlhe imputado a título de negligência (artigo 18º), o crime é punido com a
pena de prisão de 3 a 12 anos — artigos 18º, 144º, d), e 145º, nº 1, b). Como o
faria uma pessoa medianamente sensata, A devia ter previsto, ao agredir B com
sucessivos golpes de matraca, a possibilidade de vir a ocorrer o resultado letal,
e como igualmente podia ter previsto, tal evento élhe subjectivamente
atribuído com base na violação do dever de cuidado.
IV. Os crimes contra a liberdade agravados pelo resultado
Reparese agora que qualquer crime pode levar a uma consequência
atípica mais grave. Imaginese o dono da coisa furtada que corre atrás do ladrão
mas escorrega, bate com a cabeça na calçada e morre; ou alguém que ao passar
na rua leva com o cofre atirado do 5º andar, como se ilustrou em exemplo
anterior. Ainda assim, o legislador só introduziu a agravação pelo resultado
para certos crimes, em atenção à tendência geral para os mesmos produzirem
tais consequências. E isso com base no perigo típico contido no crime
fundamental, pois só então se verificará o necessário nexo entre ele e a
consequência agravante (cf. Roxin, AT, p. 271; e I. Puppe, AT, p. 218).
As exigências que, como vimos, se colocam quando tratámos das ofensas à
integridade física dolosas entre o crime fundamental e o evento mortal ou a
ofensa corporal mais grave explicamse —escreve I. Puppe— pela grande
amplitude do crime doloso de ofensas corporais, que se inicia num nível de
ilicitude bastante baixo. Pensese por ex. numa bofetada, a que muito raramente
se seguem resultados mais graves. Bem diferente será o empurrão dado no
condutor apeado na berma de uma autoestrada de grande movimento ou em
alguém que trabalha junto a uma máquina trituradora em movimento. Cf., a
este propósito, os casos anteriores, nºs 12D e 12E. Os crimes contra a
liberdade, por ex., o sequestro (artigo 158º), comportam geralmente, desde que
se iniciam, um elevado nível delitivo. Por isso mesmo, podese prescindir, no
M. Miguez Garcia. 2001
305
que respeita à conexão entre o ilícito básico e a consequência agravante, de
exigências significativas. Se no caso nº 12C o agressor igualmente mantém
presa a empregada doméstica, de modo que a morte desta tanto pode ser
explicada por a vítima procurar libertarse da agressão como da detenção em
que é mantida —a morte, como evento agravante, irá entroncar no sequestro e
não na ofensa que se produziu. Vejamos o
CASO nº 12J (ainda Puppe, p. 219): A e B deitaram a mão a C, filho dum rico
industrial, para conseguirem deste um elevado resgate. Meteram o preso num caixote de
madeira com uma aparelhagem ligada por um cabo a uma corrente eléctrica, informandoo de
que havia um microfone no interior, de modo que se ele gritasse ou procurasse fazer barulho
ou mesmo libertarse, a corrente ficaria ligada com “desagradáveis” consequências para o
detido. A e B meteram o caixote numa viatura e um deles bateu a porta com tal violência que
acabou por ligar a corrente eléctrica. A vítima sofreu com isso lesões na coluna de tal modo
graves que ficou impossibilitada de se movimentar.
Neste caso, verificase, sucessivamente, a lesão da liberdade e a
manutenção dessa situação estando a vítima encerrada no “caixote eléctrico”,
bem como a produção do evento agravante, ou seja, a ofensa à integridade física
grave (artigos 144º, alínea b), 158º, nºs 1 e 2, alínea d), e 160º, nº 1, alínea c), e 2,
alínea a)). Além disso, ocorre um comportamento negligente do agente que bate
com a porta da viatura, o qual afinal não serviu para manter detida a vítima,
como se pretendia, mas que ainda assim representa um acto de execução do
crime contra a liberdade, por ser apto a prolongar no tempo a conduta ofensiva.
Morresse a vítima simplesmente por ter tido um ataque cardíaco no cativeiro do
“caixote eléctrico”, poderia igualmente concluirse pela agravação pelo
resultado (artigos 158º, nº 3, e 160º, nº 2, alínea b): “se da privação da liberdade
resultar a morte da vítima…”), por ser típico de todos os crimes contra a
liberdade que da vítima se apodere uma situação de medo e angústia. O
correspondente perigo realizavase por ter a vítima sofrido um enfarte mortal,
na sequência dessa situação de stress. Os piratas do ar, recorda Puppe, devem
em regra contar que entre os passageiros ou a tripulação do avião haja uma
pessoa com insuficiência cardíaca. Por razões semelhantes, fica a cargo dos
sequestradores a agravação da responsabilidade quando a pessoa mantida sob
sequestro acidentalmente morre ao intentar libertarse, ou é atingida pelos tiros
disparados pela polícia que supunha tratarse de um dos criminosos, ou
quando é transportada de carro para outro esconderijo e vem a morrer no
despiste da viatura, por negligência do condutor, um dos sequestradores..
M. Miguez Garcia. 2001
306
V. Ainda os crimes agravados pelo resultado.
1. CASO nº 12K. O comportamento de 3º como factor causal. Sem dolo
homicida, A agrediu B várias vezes, dandolhe com um martelo na cabeça, de tal modo que B
perdeu a consciência, pensando o agressor que lhe tinha tirado a vida. A foi logo contar a C,
um seu familiar, tudo o que se tinha passado, tendose este dirigido de imediato à casa onde
jazia a vítima, que conseguiu pendurar pelo pescoço, simulando um suicídio. A autópsia
revelou que as pancadas produzidas com o martelo eram absolutamente idóneas a provocar a
morte de B, ainda que esta tivesse ocorrido por efeito do estrangulamento, quando C pendurou
com uma corda o que supunha ser um cadáver.
A especialidade deste caso está na intromissão do terceiro que actua no
interesse do agente e que provoca a morte da vítima, sem intenção de a
apressar, não obstante isso ter acontecido. O A, com as pancadas de martelo,
produziu um perigo de morte para a vítima, a qual sempre viria a ocorrer por
via das ofensas, ainda que algum tempo mais tarde. Se o C não tivesse
intervindo no processo causal, a morte terseia produzido através de um
processo causal que cumpriria tanto a exigência de ela ter ocorrido de forma
imediata, como os requisitos da realização do perigo específico contido na
ofensa corporal, que sem dúvida estava consumada, era letal e fora produzida
dolosamente.
2. CASO nº 12L. O comportamento da vítima como factor causal. A e B,
actuando concertadamente, ainda que sem dolo homicida, agrediram C na cabeça, de forma tão
violenta que esta teve que ser conduzida ao hospital e internada. Aí foilhe observado que
corria perigo de vida se não se mantivesse em repouso e sujeita aos tratamentos prescritos.
Ainda assim, C, que era uma alcoólica inveterada, logo que viu uma oportunidade, abandonou
o hospital para procurar o que beber, mas veio a morrer três dias mais tarde, com uma
comoção cerebral, que nas condições de hospitalização teria sido detectada e convenientemente
tratada.
Punibilidade de A e B?
3. CASO nº 12M: A e B, depois de uma discussão com C, homem dos seus 60 anos,
perseguiramno e, em conjugação de esforços, agrediramno repetida e violentamente, a soco e
pontapés, na cabeça e pelo resto do corpo. Fora a cana do nariz partida, C sofreu apenas
extensas contusões pelo corpo, mas com a excitação e a angústia o coração não aguentou e
pouco depois C teve dois ataques cardíacos sucessivos, tendo morrido por altura do segundo.
Punibilidade de A e B?
M. Miguez Garcia. 2001
307
VI. A propósito do artigo 18º e da expressão pelo menos
“Este preceito, claramente inspirado pelo § 18 do StGB, constitui um afloramento do
princípio da culpa, consagrado mais amplamente no artigo 13º, e constitui uma inequívoca
proclamação da inadmissibilidade de responsabilização penal objectiva. A exigência mínima
de negligência, como título de imputação subjectiva, não admite — apesar da ambiguidade da
expressão “pelo menos”, também utilizada pelo legislador alemão (“wenigstens”) — a
consideração de que se prevê, implicitamente, a agravação pelo resultado doloso. A existir dolo
quanto a um evento típico, não haverá lugar à agravação pelo resultado mas sim à punição
segundo o crime doloso — o que resulta do próprio princípio da culpa. A expressão “pelo
menos” só pode, assim, ser entendida num contexto mais amplo de exclusão da
responsabilidade objectiva, sem implicar a admissibilidade da agravação pelo resultado obtido
a título de dolo, ou pode ser referida, quando se pretenda compreendêla à luz de uma real
alternativa de imputação, à hipótese de negligência grosseira ou grave (para a agravação pelo
resultado basta a existência de negligência simples, podendo haver também negligência
grosseira ou grave). Mas à expressão “pelo menos” parecenos ainda ser atribuível um outro
sentido, quando o evento mais grave não constitua resultado de nenhum tipo de crime
(doloso). É o que sucederá, por exemplo, no crime de sequestro que tiver como resultado o
suicídio da vítima (alínea e), nº 2, do artº 160 do Código Penal de 1982). Neste caso, mesmo que
o agente queira que a vítima se suicide, mas desde que não pratique actos executivos dos
crimes de homicídio ou de incitamento ou ajuda ao suicídio, deverá ser punido nos termos do
nº 2 do artigo 160º, à semelhança do que acontece quando o suicídio da vítima lhe é imputável
a título de negligência. (...).” (Rui Carlos Pereira, O Dolo de Perigo, 105). Cf., ainda, Rui Carlos
M. Miguez Garcia. 2001
308
Pereira, O crime de aborto e a reforma penal, 1995, p. 37; J. Damião da Cunha, Tentativa e
comparticipação nos crimes preterintencionais, RPCC, 2 (1992), p. 561.
VII. Participação em crime agravado pelo resultado
1. CASO nº 12L: A pretende dar uma sova na pessoa de B e para isso utiliza uma
matraca, atingindoo, porém, na cabeça e produzindolhe aí lesões que foram a causa directa da
morte de B. A não tinha sequer previsto o evento mortal como consequência da sua actuação.
Acontece que o A tinha sido induzido por C a dar a sova no B, mas o C, quando convenceu o
outro, nem sequer tinha pensado em que o B podia morrer.
Punibilidade de A e C?
A ofendeu B, voluntária e corporalmente (artigo 14º, nº 1), ficando desde
logo comprometido com o disposto no artigo 143º, nº 1, sem que se verifique
qualquer causa de justificação ou de desculpação. Como A ofendeu o corpo de
B, e este veio a morrer, põese a questão de saber se este resultado, que não
estava abrangido pelo dolo inicial de A, deve ser imputado à actuação deste,
agravando o crime, nos termos do artigo 145º. A agravação exige a imputação
do evento ao agente sob os dois aspectos da imputação objectiva e da
imputação subjectiva: artigo 18º. Ao desvalor do resultado (no exemplo, a
morte) acresce o desvalor da acção que se traduz na previsibilidade subjectiva e
na consequente violação de um dever objectivo de cuidado (negligência).
As dificuldades relacionamse mais exactamente com a instigação nos
crimes agravados pelo resultado e portanto com a responsabilidade de C, que
convenceu o autor principal a dar a sova no B, embora sem ter, também ele,
pensado nas consequências mortais. Como se sabe, a instigação deverá dirigir
se à consumação dum facto doloso: “quem, dolosamente, determinar outra
pessoa à prática do facto” (artigo 26º). No caso concreto, só o ilícito base, de
ofensa à integridade física, é que foi praticado dolosamente, a morte só poderá
ser imputada a título de negligência.
Ponderese a solução do concurso (cf. J. Damião da Cunha, RPCC 2 (1992),
p. 579): C será instigador do crime fundamental doloso e autor do crime
M. Miguez Garcia. 2001
309
negligente, se, relativamente a este, estiverem reunidos os correspondentes
pressupostos (previsibilidade subjectiva e violação do dever de cuidado). E
pensese — 2ª hipótese de trabalho — em que, no artigo 18º, a expressão
“agente” pode entenderse como remetendo para qualquer das formas de
“comparticipação” admissíveis (artigos 26º e 27º). “No fundo, pois, a questão é a
de saber qual a interpretação a dar à palavra “agente” (autor ou
comparticipante) ... em função do papel que desempenha nos quadros do CP...
aceitando a possibilidade de comparticipação no âmbito do artigo 18º” (ainda J.
Damião da Cunha, e JA 1989, p. 166).
VIII. Outras indicações de leitura
Acórdão do Tribunal Constitucional nº 483/2002, de 20 de Novembro de 2002, publicado
no DR II série de 10 de Janeiro de 2003: início do prazo prescricional dos crimes
agravados pelo resultado. Consumação para fins de punição e efeitos para fins de
contagem de prazo prescricional.
Acórdão do STJ de 1 de Junho de 1994, BMJ438197: nexo de causalidade; regras da
experiência comum; empurrão que leva alguém a embater com a cabeça numa parede.
Acórdão do STJ de 5 de Julho de 1989, BMJ389304: A, podendo prever a morte de B,
empurra B voluntária e conscientemente para trás, quando ambos se encontravam sobre
um patamar em cimento, sem gradeamento ou qualquer outra protecção, situado a cerca
de 2 metros do solo, fazendo cair a vítima de costas e bater com a cabeça no pavimento
alcatroado da rua, em resultado do que sofreu fracturas necessariamente determinantes
da morte.
Acórdão do STJ de 6 de Março de 1991, BMJ405185, e CJ 1991II5: ofensas corporais —
duas fortes bofetadas no ofendido — agravadas pelo resultado — morte; homicídio
preterintencional; nexo de causalidade entre o resultado e a acção.
M. Miguez Garcia. 2001
310
Acórdão do STJ de 7 de Março de 1990, BMJ395237: ofensas corporais agravadas pelo
resultado; omissão de auxílio; concurso real.
Acórdão do STJ de 7 de Março de 1990, BMJ395241: ofensas corporais agravadas pelo
resultado (morte); medida da pena.
Acórdão do STJ de 9 de Junho de 1994, CJ, ano II (1994), tomo II, p. 245: empurrão que
leva a ofendida a embater com a cabeça numa parede, procedendo o arguido com
negligência quando a abandonou sem a socorrer.
Acórdão do STJ de 13 de Dezembro de 1989, BMJ392232: arremesso de balde de chapa
esmaltada contra outra pessoa, atingindoa na cabeça e fazendoa cair, desamparada,
para trás.
Acórdão do STJ de 15 de Junho de 2000, CJ ano VIII (2000), tomo 2, p. 221: morte de
menor; castigos corporais como projecto educacional.
Acórdão do STJ de 23 de Maio de 1990, BMJ397239: ofensas corporais graves,
agravação pelo resultado.
Acórdão do STJ de 26 de Outubro de 1994, BMJ440306: homicídio preterintencional.
Acórdão do STJ de 27 de Junho de 1990, BMJ398336: ofensas corporais com dolo de
perigo de que resultou a morte.
Acórdão do STJ de 9 de Maio de 2001, CJ, ano IX (2001), tomo II, p. 187: agravação pelo
resultado; coautoria, cumplicidade.
Anotação ao Ac. do STJ de 1 de Junho de 1994, BMJ438202: com numerosas referências
jurisprudenciais.
Actas das sessões da Comissão Revisora, Acta da 4ª sessão (artigo 157º).
M. Miguez Garcia. 2001
311
Christoph Sowada, Das sog. “Unmittelbarkeits”—Erfordernis als zentrales Problem
erfolgsqualifizierter Delikte, Jura 1994, p. 643 e ss.
Conceição Ferreira da Cunha, Comentário ao artigo 210º (roubo), Conimbricense, PE,
tomo II.
Eduardo Correia, Crime de ofensas corporais voluntárias, parecer, CJ, ano VII (1982),
tomo 1.
Eduardo Correia, Direito Criminal, I, p. 440.
Georg Freund, Entwurf eines 6. Strafrechtsreformgesetzes, ZStW 109 (1997), p. 473.
Gerhard Dornseifer, Unrechtsqualifizierung durch den Erfolg — ein Relikt der
Verdachtsstrafe?, in Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann, 1989, p. 427.
Gimbernat Ordeig, Delitos cualificados por el resultado y causalidad, 1990, p. 165.
H. Hormazabal Malaree, Imputación objectiva y subjectiva en los delitos cualificados por
el resultado, Anuário de Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo XLII, fasc. III, Madrid,
Set./Dez., 1989.
HansUllrich Paeffgen, Die erfolgsqualifizierten Delikte — eine in die allgemeine
Unrechtslehre integrierbare Deliktsgruppe?, JZ 1989, p. 220 e ss.
Harro Otto, Grundkurs Strafrecht, BT, 3ª ed., 1991.
Ingeborg Puppe, Strafrecht Allgemeiner Teil im Spiegel der Rechtsprechung, Band I,
2002.
J. Damião da Cunha, Tentativa e comparticipação nos crimes preterintencionais, RPCC, 2
(1992).
Johannes Wessela, Strafrecht, BT1, 17ª ed., 1993.
M. Miguez Garcia. 2001
312
Jorge de Figueiredo Dias, “Anotação” ao acórdão do Supremo de 1 de Julho de 1970,
Revista de Direito e de Estudos Sociais, ano XVII.
Jorge de Figueiredo Dias, Responsabilidade pelo resultado e crimes preterintencionais,
1961 (não publicado).
Jorge de Figueiredo Dias, Textos de Direito Penal. Doutrina geral do crime. Lições ao 3º
ano da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, elaboradas com a colaboração
de Nuno Brandão. Coimbra 2001.
José Cerezo Mir, El “versari in re illicita” en el codigo penal español, in Problemas
fundamentales del derecho penal, 1982, p. 60.
Jürgen Wolter, Zur Struktur der erfolgsqualifizierten Delikte, JuS 1981, p. 168 e ss.
KaiD. Bussmann, Zur Dogmatik erfolgsqualifizierter Delikte nach dem Sechsten
Strafrechtsreformgesetz, GA 1999, p. 21.
Küpper, Strafrecht BT 1, 1996.
Küpper, Unmittelbarkeit und Letalität. Zum Tatbestand der Körperverletzung mit
Todesfolge, Festschrift für H. J. Hirsch, 1999, p. 615.
Küpper, Zur Entwicklung der erfolgsqualifizierten Delikte, ZStW 111 (1999), p. 785 e ss.
Kurt Seelmann, Grundfälle zu den Eigentums und Vermögensdelikten, 1988.
Miguel A. Boldova Pasamar, La imputación subjectiva de resultados “más graves” en el
Código Penal Español, Anuário de Derecho Penal y Ciencias Penales, XLVII, fasc. II,
1994.
Paula Ribeiro de Faria, Comentário ao artigo 145º, Conimbricense, PE, tomo I.
Rudolf Rengier, Strafrecht BT II, 4ª ed., 2002.
M. Miguez Garcia. 2001
313
Santiago Mir Puig, Preterintencionalidad y limites del articulo 50 del Código Penal,
Libro Homenaje al Prof. J. Anton Oneca, 1982, p. 318 e ss.
Volker Krey, Strafrecht BT, Band 1, 9ª ed., 1994.
M. Miguez Garcia. 2001
314
§ 13º Participação em rixa
CASO nº 13. Participação em rixa — artigo 151.
• Em Abril, numa discoteca, A envolveuse em desordem com Y e Z, gerente e porteiro da
mesma. Num dia de Novembro seguinte, A, acompanhado de um grupo de amigos,
entrou em outra discoteca, que era então gerida pelos mesmos Y e Z. Estava já ali
alguém, que comunicou a entrada de A a Z. Habilmente, A foi então atraído ao bar.
No bar, Z perguntou a A se se lembrava da cena anterior na primeira discoteca, altura
em que X, que estava escondido, agarrou A e com a ajuda de Z arrastouo para a
porta de emergência, empurrandoo para o exterior. Então, Q, empregado do bar,
trancou a porta e impediu que os amigos de A a abrissem, por serem essas as ordens
que havia. Também por isso, o mesmo Q ordenou a P, seu subordinado, que
impedisse qualquer ligação telefónica para o exterior e este assim fez, quando os
amigos de A quiseram servirse do telefone. No exterior da discoteca, X, Y e Z
procuravam sovar o A, desferindolhe murros e pontapés em várias partes do corpo,
e picandoo várias vezes com uma navalha. A, que fora campeão de kickboxing,
defendiase com denodo. V, que entretanto chegara à discoteca, passou também a
agredir A, em conjugação de esforços e de intenções, mas não conseguindo os quatro
agressores dar conta de A, V puxou dum revólver e com ele empunhado procurou
intimidar o A, enquanto os restantes continuavam a agredilo, mas mesmo assim A
não se intimidou e continuou a lutar. Foi então que Z, já exausto, tirou o revólver das
mãos de V e contra a vontade deste e dos restantes agressores, com ele disparou um
tiro na pessoa de A, atingindoo de raspão na barriga. Voltou a disparar novo tiro,
apesar dos esforços dos outros por impedilo. Deste modo, atingiu A no dorso, onde
lhe provocou lesões determinantes de doença por 200 dias. A, que ao volante do seu
automóvel conseguiu fugir em busca de socorro, só não morreu por circunstâncias
alheias à vontade de Z. Q, logo que tudo terminou, queimou uma camisola
ensanguentada, com o intuito de iludir a actividade probatória das autoridades
M. Miguez Garcia. 2001
315
tendente à recolha de indícios da responsabilidade dos agressores de A. Z, ao efectuar
os disparos, admitiu a possibilidade de, com algum deles, causar a morte de A, e
conformouse com esse resultado. V, X e Y agiram com o propósito de maltratar e
molestar fisicamente A.
• Z foi condenado por homicídio voluntário na forma tentada (artigos 22º, 23º, 74º, nº 1, e
131º).
• V, X e Y por coautoria de um crime de ofensas corporais do artigo 144º
• Q pela prática de um crime de favorecimento pessoal (artigo 367º).
Sustentouse em recurso que se verificara (também) a comissão do crime
de participação em rixa e que devia haver condenação de Q e P por
cumplicidade no crime de ofensas corporais.
A posição maioritária: no caso, não houve rixa — houve simples
comparticipação, na forma de coautoria. O Supremo (acórdão do STJ de 3 de
Novembro de 1994, CJ, 1994) entendeu, por maioria, que não houve rixa. O que
houve foi um acordo inicial e conjugação de esforços de X, Y e Z para
agredirem A, o que fizeram, sendo a sua acção complementada pela adesão de
V àqueles acordo e conjugação de esforços. Aqui existe simples comparticipação
criminosa: tratase do vulgar caso de coautoria material de quatro agressores,
perfeitamente identificados, de um crime contra as pessoas, em que o ofendido
se limitou a defenderse da agressão.
• Não existindo rixa, não podem Q e P ser condenados pelo crime do artigo 151º, nem pode
falarse de cumplicidade neste crime. E também não há cumplicidade no crime de
ofensas corporais por não poder excogitarse aqui o dolo, elemento essencial da
cumplicidade: não basta a prestação de auxílio à prática por outrem de um facto
ilícito doloso, é também necessário que o auxílio seja doloso. O comportamento de Q
e P foi o normal nas indicadas circunstâncias. Ao fechar a porta e ao impedir as
M. Miguez Garcia. 2001
316
comunicações telefónicas, no cumprimento de instruções genéricas da gerência, não
foram motivados pelo propósito de permitir a agressão.
O Código Penal, quanto à participação em rixa (art.º 151º), não nos fornece
mais que o "nomen juris”, deixando ao intérprete a tarefa de elaborar o
respectivo conceito. Ora, rixa é "disputa acalorada, acompanhada de ameaças e
pancadas; desordem; briga; contenda" (v. Grande Enciclopédia Portuguesa e
Brasileira, 25º, pág. 795). Na verdadeira rixa não se sabe bem quem ataca e
quem defende; há pancadaria generalizada entre todos os intervenientes, sem
que se possa determinar com precisão quem agride quem. Precisamente por
isso, e para que não ficasse totalmente impune a participação em rixa de que
resultou a morte ou a ofensa corporal grave de alguém, por não ser possível
apurar o autor da acção de que proveio esse resultado, o legislador introduziu
no Código Penal o artigo 151º. Como comenta Maia Gonçalves (Código Penal
Anotado, 3ª ed., p. 270), ficou assim colmatada uma omissão que se fazia sentir,
particularmente pelas dificuldades de provar quem causava as lesões aquando
de uma rixa, pois o simples tomar parte não era incriminado pela lei anterior. E
acrescenta que a rixa pressupõe que não há acordo ou pacto prévio entre os
intervenientes e que, se houver esse acordo, entramos no campo da
comparticipação nos crimes de ofensas corporais ou de homicídio. Deixa de
haver aí o acontecimento mútuo e confuso entre diversas pessoas que são
simultaneamente ofensoras e ofendidas, o que é o sinal característico da rixa.
• É uma posição que coincide, no essencial, com a acolhida no acórdão do STJ de 4 de
Fevereiro de 1993, CJ do S.T.J., ano 1, tomo 1, p. 187: os intervenientes numa rixa são
punidos pelo simples facto de nela intervirem. Provandose a responsabilidade de
algum deles em crime de homicídio ou de ofensas corporais, responderá por estes
crimes, já que a punição pela participação em rixa fica consumida pela punição deles.
A posição minoritária: nada impede o concurso entre o homicídio e a
rixa. O objecto da incriminação não é o pretenderse punir apenas a conduta de
um agente nos casos em que se não consiga determinar quem, no calor de uma
M. Miguez Garcia. 2001
317
luta, cometeu determinadas ofensas corporais ou homicídio, mas o pretenderse
conseguir a punição autónoma da actuação de quem, independentemente de
produzir ou não ofensas corporais ou de praticar um homicídio no decurso da
mencionada refrega, nela intervém, pois que, através dessa sua intervenção,
toma uma atitude potenciadora, coadjuvante, e exacerbadora da prática de tais
ilícitos. Daí que se entenda que a individualização (no sentido de se determinar
a autoria dos crimes de ofensas corporais ou de homicídio que sejam cometidos
durante a luta) da autoria desses crimes não impede que cada um dos
intervenientes na briga cometa, em acumulação real, também o crime do artigo
151º do Cód. Penal, já que o conceito de “intervenção” a que o artigo se refere se
contenta e fica perfeito logo que o agente “intervém" na desordem, isto é, nela
tome parte activa, quer cometa quer não crimes, autónomos dos atrás
indicados.
• Desta forma, darseia como assente que V, X e Y cometeram igualmente o crime do
mencionado artigo 151º. As condutas voluntárias de Q de trancar a porta de
emergência e impedir o acesso da mesma a clientes e de P de negar o estabelecimento
de relações telefónicas com o exterior, foram de manifesto querido auxílio aos
agressores e permitiram que estes mais facilmente pudessem desenvolver e
prosseguir na luta com A, mas não foram indispensáveis para a realização dos actos
por estes praticados, nem foram motivadas pelo propósito específico de permitir a
agressão da parte dos outros, pois se demonstrou que constituíam atitudes “normais”
daqueles, por ordem dos gerentes da discoteca, nos casos em que se tornava
necessário expulsar clientes briguentos do estabelecimento. Tais atitudes, desta
forma, são perfeitamente enquadráveis no conceito de cumplicidade que nos é dado
pelo artigo 27.º do Código Penal (prestação de auxílio material à prática por outrem
de um facto ilícito doloso), cumplicidade esta que se verifica em relação ao crime de
participação em rixa.
Em resumo: Verificase, como se vê, a existência de dois sentidos
antagónicos para o termo rixa — o de corresponder a uma luta grave, com
M. Miguez Garcia. 2001
318
armas, entre pessoas determinadas, e — o de corresponder a uma desordem, da
qual resultam consequências graves, sem se conseguir determinar
adequadamente quem terá sido o respectivo causador. A crítica que se faz à
posição maioritária é a de se traduzir numa imputação objectiva, solidária,
destinada a ficcionar e a presumir um culpado nos casos em que a investigação
não conseguiu apurar a autoria das ofensas graves produzidas, o que pode
parecer insustentável perante o claro princípio da presunção de inocência
constante do nº 2 do artigo 32º da Constituição.
CASO nº 13A. Participação em rixa — artigo 151ª.
• Durante uma festa ao ar livre, grupos de rapazes de aldeias vizinhas envolvemse em acesa
pancadaria. Quando A, um dos participantes, verificou que já havia facas
desembainhadas, afastouse. Com a chegada da polícia, pôsse termo ao conflito e ao
mesmo tempo apurouse que E, uma das pessoas que por ali estavam e que se
chegara para apartar alguns dos contendores, tinha sido apunhalado. Não se
conseguiu apurar quem apunhalou esse indivíduo. Durante o inquérito, A sustentou
que tinha deixado o local antes de E ter sido ferido. Um outro indivíduo, R,
defendeuse dizendo que interviera na contenda já quando E se encontrava ferido e
caído no chão. Não se conseguiu apurar se isso correspondia à verdade.
Punibilidade de A e de R.
Na rixa, qualquer dos contendores pode às tantas ficar “cansado” e retirar
se, desistindo de continuar. Também pode acontecer que um novo interveniente
se entusiasme e adira à pancadaria. A doutrina alemã ocupase de casos como
estes acentuando que é punível como participante aquele que desiste antes de se
dar a morte ou a ofensa à integridade física grave de algum dos contendores. A
razão está na sua contribuição para a perigosidade da rixa que em regra se
estende para além do momento da desistência. Mas se ficam só dois, então já
não haverá rixa. Ao contrário, já não será punido quem entrar depois de ocorrer
a condição de punibilidade, para a qual não contribuiu.
M. Miguez Garcia. 2001
319
No Código Penal, a participação em rixa é crime de perigo abstracto. A
presunção de perigo é deduzida de uma condição objectiva de punibilidade
(morte ou ofensa corporal grave de alguém). A qualificação destes elementos
como condições objectivas de punibilidade (impróprias) constitui uma cedência
à responsabilidade objectiva e é de evitar, embora se compreendam as
dificuldades processuais de prova que a determinam. Cf. Rui Carlos Pereira, O
dolo de perigo, p. 151; Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, 1988/89;
Volker Krey, Strafrecht, BT, Band 1, 9ª ed., 1993, p. 124. Segundo uma opinião, o
artigo 151º pretende punir exactamente as denominadas “vias de facto”, isto é,
incriminando a participação em rixa para além dos casos em que se verifique
lesão corporal grave ou a morte, pois as pessoas não devem participar em rixas.
É uma visão das coisas que acompanha a necessidade de estabelecer uma
protecção antecipada. Argumento da posição contrária: ao que se atende na
punição é a gravidade do resultado, isto é, à existência de ofensas corporais
graves ou a morte. Cf. as Actas, Acta nº 45, p. 499 e 502:
• Código Penal espanhol: (art. 154); “Quienes riñeren entre sí, acometiéndose
tumultuariamente, y utilizando medios o instrumentos que pongan en peligro la vida
o integridad de las personas, serán castigados por su participación en la riña con la
pena de prisión de seis meses a un año o multa superior a dos y hasta doce meses.”
Comentário: configurase a "riña" como um crime de perigo concreto e simplificase a
situação típica, prescindindo da nota da "confusão", que de algum modo mantinha
vivo o intolerável espírito pragmático dos antigos delitos de homicídio ou lesões em
"riña" tumultuária, que tinham como pressuposto típico a impossibilidade de
conhecer o autor do facto (J. M. Tamarit Sumalla, in G. Quintero Olivares e J. M. Valle
Muñiz, Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, Aranzadi, 1996, p. 102 e ss.).
• Entendimento brasileiro. Rixa é o conflito desordenado e generalizado. É a luta
tumultuária e confusa, que surge quase sempre de inopino, onde é difícil estabelecer
a certeza das autorias dos ferimentos. Todos agridem todos e recebem pancadas, sem
saber exactamente de quem. É sururu, sarilho, entrevero, quebrapau, banzé, fuzuê,
rolo. Paulo José da Costa Jr., p. 240.
M. Miguez Garcia. 2001
320
Indicações de leitura
• Artigo 302º do Código Penal: crime de participação em motim.
• Acórdão da Relação de Coimbra de 31 de Outubro de 1996, CJ, XXI (1996), t. 4, p. 72: motim
é uma aglomeração de pessoas com o fim de, com perturbação da ordem e tranquilidade
públicas, ser cometida violência contra pessoas ou contra a propriedade de terceiros. O dolo
dos participantes consiste em tomar parte no "ajuntamento" em que vão ser praticadas as
violências, sabendo ou prevendo que elas vão ocorrer.
• Acórdão da Relação de Coimbra de 8 de Dezembro de 1995, CJ, ano XX (1995), tomo V, p.
74: Motim armado:
• Acórdão da Relação de Coimbra de 8 de Janeiro de 1997, CJ, XXII (1997), t. 1, p. 52: Motim é
o tumulto ou desorganização ocasional da paz pública que leva colectivamente a cometimento
de violência contra as pessoas ou propriedades, com desprezo da autoridade pública
• Acórdão de 16 de Outubro de 1996, BMJ460381 e CJ, ano IV (1996), t. 3, p. 166: a punição
de um interveniente numa rixa por autoria do crime de homicídio então por ele cometido, não
obsta à punição dos restantes pela prática do crime de participação em rixa.
• Acórdão de 3 de Novembro de 1994, BMJ44118: acordo inicial e conjugação de esforços de
A e B para agredirem C, o que fizeram, sendo a sua acção complementada pela adesão de
outros dois.
• Acórdão do STJ de 5 de Julho de 2001, CJ, ano IX (2001), tomo II, p. 248: não existe uma
situação de participação em rixa que possa ser enquadrada no artigo 151º, nº 1, quando seja
possível determinar quem matou ou quem ofendeu a integridade física de modo grave.
• Acórdão do STJ de 12 de Novembro de 1997, processo n.1203/97, BMJ47148: No crime de
participação em rixa a morte e a ofensa corporal grave são meras condições objectivas de
punibilidade. Assim, aquele crime consumase independentemente da ocorrência de algum
dos referidos eventos, mas, não se verificando algum deles, o crime não é punível. Segundo a
Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, rixa é “disputa acalorada, acompanhada de
ameaças e pancadas; desordem; briga; contenda". Na definição legal, a rixa é constituída pelo
mínimo de três pessoas formando duas facções que reciprocamente se agridem fisicamente,
não existindo ela quando só um grupo ataca e o outro se defende. Deste modo, não cometeram
o crime de artigo 151º do Código Penal os arguidos que, agindo em comunhão de esforços, em
M. Miguez Garcia. 2001
321
locais e momentos diferentes, ofenderam corporalmente vários indivíduos sem que estes
tivessem respondido às agressões. O termo “participação” do artigo 151º evidencia a acção
individual de cada agente. Cada participante é autor paralelo de um crime de participação em
rixa, não é coautor do mesmo crime comum. A expressão “quem intervier ou tomar parte em
rixa” constante do artigo 151 significa que é punido tanto aquele que voluntária e
conscientemente deu início à briga, como aquele que interveio nela depois de iniciada e ainda
não terminada. O autor da morte ou das ofensas corporais graves não é punido como
participante em rixa, dada a regra da consumpção.
• Acórdão do STJ de 22 de Junho de 1989: Não ficou provado que tenha sido o arguido a
disparar os tiros por acto voluntário seu; nem tãopouco que ele tenha querido provocar a
morte do Pimenta. O que sucedeu é que a pistola disparou duas vezes seguidas com os
movimentos de todos eles (isto é, dos envolvidos na desordem), tendo ido atingir o X, que se
encontrava sentado num muro. Perante esta factualidade, não resulta que o arguido tenha
previsto a morte de X, como consequência dos seus actos, e muito menos que se tenha
conformado com a realização desse resultado, pelo que fica afastado o dolo quanto ao crime de
homicídio. Quanto ao crime de participação em rixa, ficou provado que o arguido tomou parte
numa violenta desordem com outras pessoas, tendo, além de outros resultados, como
consequência a morte de uma pessoa — artigo 151º do Código Penal.
• Acórdão do STJ de 29 de Janeiro de 1992, BMJ413268: na comparticipação criminosa, sob
a forma de coautoria, é essencial uma decisão conjunta e uma execução igualmente conjunta.
O artigo 151º contém disposições residuais em relação aos crimes de ofensas corporais e de
homicídio, havendo sempre que indagar em vista de saber se não existirá qualquer desses
crimes, caso em que o da participação em rixa fica consumido. A novidade trazida pelo artigo
151º foi poder acudir àqueles casos de desordens em que, resultando morte ou ofensas
corporais, não se conseguia apurar qual o autor desses crimes, caso em que todos os
intervenientes ficavam impunes. O artigo 151º apenas pune os intervenientes em rixa se não se
provar a sua responsabilidade em crime de homicídio ou de ofensas corporais; provandose
qualquer destes, respondem por ele e não por participação em rixa, que então fica consumida.
• Acórdão do STJ de 4 de Fevereiro de 1993, BMJ424360, publicado também em CJ, ano I, p.
186: A razão da previsão do crime de participação em rixa do artigo 151º do Código Penal é a
M. Miguez Garcia. 2001
322
de assim poder acudir àqueles casos de desordem em que, resultando a morte ou ofensas
corporais, não se conseguia apurar o autor desses crimes. Os intervenientes numa rixa são
punidos pelo simples facto de nela intervirem. Todos aqueles que intervierem ou
subsequentemente tomarem parte de uma rixa de que resultou a morte de um ou vários
contendores cometem o crime de participação em rixa, se actuaram livre e conscientemente,
bem sabendo que se envolviam em confrontações físicas, pretendendo atentar contra as
integridades físicas dos seus contendores, bem sabendo da ilicitude das suas condutas,
utilizando e verificando que eram utilizados objectos aptos a produzir lesões dos quais podiam
resultar sérias consequências, tais como a morte.
• Acórdão do STJ de 11 de Abril de 2002, CJ 2002, tomo II, p. 166: crime de participação em
rixa; crime colectivo; crime de homicídio. Devendo definirse rixa como a situação de
conflito ou de desordem em que intervêm obrigatoriamente mais de duas pessoas, e que é
caracterizada pela oposição dos contendores sem que seja possível individualizar ou
distinguir a actividade de cada um — não pode restringirse a duas pessoas, como crime
colectivo que é, ou de concurso necessário, porquanto nesse caso haverá apenas um
conflito recíproco e não rixa. A participação em rixa pressupõe que não há acordo ou pacto
prévio entre os intervenientes, já que, a existir esse acordo, já se estaria em comparticipação
nos crimes de homicídio ou ofensas corporais — o que significa que a individualização do
ou dos autores dos crimes de ofensas corporais ou de homicídio que sejam cometidos
durante a luta impede que cada um dos intervenientes na rixa cometa em acumulação real
o crime do artigo 151º.
• Américo Taipa de Carvalho, A Legítima Defesa, p. 454.
• Angela Salas Holgado, El delito de homicidio y lesiones en riña tumultuaria, Anuário de
Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo XL, fasc. II, Madrid, Set./Dez., 1987.
• Código Penal, Actas e Projectos da Comissão de Revisão (acta nº 24).
• Frederico Isasca, Da participação em rixa, 1985.
• J. Wessels, Strafrecht, BT1, 17ª ed., 1993, p. 71 e ss.
• Küpper, Strafrecht, BT 1, 1996.
• Rui Carlos Pereira, Os crimes contra a integridade física na revisão do Código Penal,
Jornadas sobre a revisão do Código Penal, FDUL, 1998.
M. Miguez Garcia. 2001
323
• S. Mir Puig, Derecho Penal, PG., 3ª ed., 1990, p. 466 e ss.
• Susana Huerta Tocildo, El nuevo delito de participación con medios peligrosos en una riña
confusa y tumultuaria, Anuário de Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo XLIII, fasc. I,
Madrid, Jan./Abril, 1990.
M. Miguez Garcia. 2001
324
§ 14º Crimes contra o património.
I. Generalidades.
No título II da parte especial do código, sob a designação genérica de
crimes contra o património, o legislador incluiu os crimes contra a propriedade,
os crimes contra o património em geral, os crimes contra direitos patrimoniais e
os crimes contra o sector público ou cooperativo agravados pela qualidade do
agente.
Existem outros tipos de ilícito que não foram incluídos no título apontado
mas que reflectem, mais ou menos acentuadamente, a lesão ou o pôr em perigo
de bens jurídicos patrimoniais. Os que mais claramente fazem parte deste
elenco são as falsificações (artigos 255º e ss.) e alguns dos crimes de perigo
comum (artigos 272º e ss.), que se dirigem a uma pluralidade indeterminada de
bens jurídicos, incluindo de índole patrimonial.
Naqueles crimes que como o abuso de confiança, o furto ou o roubo
alguns autores chamam crimes de deslocação patrimonial (“deslocação” da coisa
de que o agente, ao contrário do que acontece no dano, tem intenção de se
apropriar), o objecto da acção é uma coisa determinada: um relógio, um maço
de notas, a mobília duma moradia, dois camiões, vinte toneladas de algodão,
cinco ovelhas dum rebanho, etc. Também no crime de dano em coisas o objecto
da acção é uma coisa determinada. Todos eles são tipos de ilícito que, na óptica
ainda hoje corrente, têm a propriedade como o bem jurídico protegido.
• O dano e o abuso de confiança podem ser entendidos como puros crimes contra a
propriedade, mas no roubo violase ainda a liberdade de determinação da vítima. A
classificação segundo a modalidade da acção mostra que no dano a lesão da
propriedade se esgota num acto unilateral de feição negativa, enquanto noutros a
subtracção tem por fim a deslocação patrimonial da coisa alheia de que o agente, ao
contrário do que acontece no dano, se quer apropriar. No abuso de confiança, o
agente, a quem a coisa alheia foi entregue por título não translativo da propriedade,
passa a dispor dela animo domini, de tal forma que o crime é, estruturalmente, a forma
de apropriação mais simples, chamaselhe mesmo apropriação indevida ou
M. Miguez Garcia. 2001
325
apropriação indébita. Outra distinção passa pela punição do furto qualificado, onde
se desenham dois escalões de diferente gravidade, reflectida nas correspondentes
molduras penais. A mesma construção típica espelhase no abuso de confiança, onde
a forma mais grave goza de um tratamento ainda assim menos severo face à norma
homóloga do furto. As situações de privilégio (artigo 207º), referidas tanto ao furto
simples como ao abuso de confiança simples, não têm expressão própria ao nível da
moldura penal, mas o respectivo procedimento criminal depende de acusação
particular. A restituição da coisa ou a reparação do prejuízo (artigo 206º), se forem
integralmente realizadas, conduzem à especial atenuação da pena, que é apenas
facultativa no caso de restituição ou reparação parcial. O Código prevê ainda, por um
lado, o furto de uso, mas unicamente de veículo (artigo 208º). A diferença entre uso e
apropriação da coisa é importante na prática, porque o furto de uso não é geralmente
punido. A apropriação ilegítima em caso de acessão ou de coisa achada (artigo 209º)
é também sancionada, mas de forma menos severa do que o furto simples. A
receptação (artigo 231º, nºs 1 e 2) é um dos crimes contra direitos patrimoniais. Pode
estar em causa uma coisa determinada, mas o decisivo é a perpetuação de uma
situação patrimonial ilegítima. O artigo 259º (danificação ou subtracção de
documento ou notação técnica), pela sua amplitude, poderia estar incluído no
capítulo dos crimes contra direitos patrimoniais, mas, por uma questão de atracção
material (razões sistemáticas), achouse preferível incluílo nas falsificações (Actas,
acta da 14ª sessão). O preceito tem uma grande amplitude, que porém se pode
resumir pela consideração teleológica da protecção da destinação probatória do
documento. Não está em causa o prejuízo resultante da sua destruição ou inutilização
(Actas, acta da 14ª sessão), isto é, uma perspectiva essencialmente económica, que
faria reverter a actuação para o âmbito dos crimes patrimoniais. É neste domínio que
se fala na função de filtro do conceito de documento. Logo se vê que pode haver
subtracção de documento (coisa) que integre o crime de furto (ou de roubo) e não o
do artigo 259º. O desenho típico do artigo 259º acompanha em parte o do artigo 212º
(dano). O legislador combinou também aí diversas formulações teóricas, do mais
grave ao menos grave, para melhor traduzir o dano/violação (cf. as palavras do Prof.
M. Miguez Garcia. 2001
326
Faria Costa), igualmente implícito no crime patrimonial de dano (“quem destruir,
danificar ou tornar não utilizável coisa alheia”). Em suma, se a coisa for
descaracterizada, isto é, se não prevalecer a sua função de documento (ou de notação
técnica), a conduta do agente recai na previsão dos artigos 203º (furto) ou 212º (dano).
A burla porém não é crime contra a propriedade. Protegese aí o
património em geral. A burla, a extorsão ou a infidelidade são autênticos crimes
patrimoniais, onde está em causa, não tanto um determinado objecto, mas o
património em geral. Nestes não se pode dizer que o agente pretende subtrair
coisa móvel alheia ou que a sua intenção se dirige à apropriação de uma coisa
determinada, pois as relações de proprietário desempenham neles um papel
menor. Nos crimes contra o património em geral, do que sobretudo se trata é da
causação de um prejuízo patrimonial como elemento do crime. Operase então
com um critério de prejuízo referido à situação patrimonial do lesado entendida
como um todo, onde a intenção do agente é dirigida a uma vantagem
patrimonial. O agente actua com ânimo de enriquecimento, embora haja
excepções, como na "infidelidade", onde se prescinde deste elemento.
• O bem jurídico protegido é assim o património, o património como um todo, mas na
extorsão (artigo 222º) encontrase ainda protegida a liberdade de determinação do
sujeito. No auxílio material (artigo 232º) o objecto do auxílio será normalmente uma
vantagem patrimonial, mas na 1ª Comissão revisora reconheceuse que a tutela
estava igualmente associada a valores de ordem moral ou outros. Na infidelidade
(artigo 224º), há quem descortine a protecção de uma especial relação de confiança. Na
burla (artigo 217º), onde ressalta o elemento engano, já se apontou a verdade e a
honestidade no tráfico como igualmente protegidas. E até certa altura com razão, pois a
burla era vista como um crime de perfídia, era estelionato, à imagem da salamandra,
animal que exposto aos raios solares toma cores diferentes. Historicamente, a burla
está associada às falsificações (crimen falsi) e ao furto, de que só começou a distanciar
se nos tempos da Revolução francesa. Na sua conformação actual, a burla é produto
de uma sociedade evoluída, “é filha do século dezanove”. Desprendeuse a certa
altura de uma específica actuação (por ex., a falsificação de um documento) e fixouse
num resultado — o prejuízo patrimonial. Reconheceuse que era essencial agir “con
altrui dano” (cf., por ex., o artigo 640 do Código Penal italiano de 1930). Quando, a
M. Miguez Garcia. 2001
327
seguir, se chegou à conclusão de que “il danno deve avere indole economica”, o
ilícito passou a situarse inequivocamente na órbita dos crimes patrimoniais.
• Silva Ferrão, p. 122, explicava que: “Bulra ou inlicio era o nome com que a Ord. do liv. 5º
tit. 65º qualificava este delicto. Correspondelhe no Cod. Fr. a palavra escroquerie, com
origem italiana; no Cod. Hesp. a palavra estafar; e entre os romanos a palavra
estellionato, conservada no Cod. do Brazil, art. 264º.” A palavra estellionato “vem da
comparação com o lagarto, notavel tanto por sua subtileza, como pela variedade de
suas côres. Os delictos d’esta especie mal se podem prever nem definir, porque são tão
varios que os romanos os consideravam n’uma incriminação generica para
comprehender toda a especie de fraudes, cujos caracteres não estivessem designados
na lei. Tanto a legislação romana, como a antiga jurisprudencia franceza confundiam
este delicto com o furto. A Lei franceza de 22 de Julho de 1791 foi a primeira que o
distinguiu.” E acrescentava ainda Silva Ferrão, p. 123, que “no furto, assim como no
roubo, o delinquente remove o obstaculo da falta de vontade alheia, dispensandoa ou
subjugandoa; na bulra, attrahindo, surprehendendo ou illudindo essa vontade, por
meio de enganos ou artificios, =malae artes.”
II. A discussão em torno do conceito jurídicopenal de património. O que é,
afinal, o prejuízo patrimonial? A concepção personalista e o conceito
funcional de património.
A discussão em torno do conceito jurídicopenal de património foi iniciada
pela doutrina germânica e os termos em que se desenvolveu “foramlhe postos
pela tipificação da causação de um prejuízo patrimonial como elemento do
crime de burla (§ 263 do StGB) já que a verificação do prejuízo implica,
naturalmente, a definição da coisa prejudicada. Em consequência, a disputa
doutrinal centrouse no crime de burla” (Pedro Caeiro, p. 63). Ainda assim, o
conceito é válido também para a extorsão e a infidelidade. Ora, “quando o BGH
caracterizou o património como “a soma de todos os bens avaliáveis em
dinheiro depois de subtraídas as dívidas” não fez mais do que comprimir numa
fórmula um dos possíveis significados da noção de património” (Eser, p. 100). É
M. Miguez Garcia. 2001
328
a concepção económica, em certa altura dominante. As outras são a concepção
jurídica e a jurídicoeconómica.
A noção jurídica de património de um sujeito de direito exprimese na
“soma de todos os seus direitos e obrigações patrimoniais”, sem se ter em
atenção o correspondente valor económico. Prejuízo patrimonial identificase
pois com a perda de direitos, conforme a noção corrente no direito civil.
Existem, todavia, situações em que a coisa, ainda que desprovida de valor
económico objectivo, tem um valor de ordem subjectiva para quem a possui. A
perda de um direito, por exemplo, o direito de propriedade sobre uma coisa
que não é susceptível de apreciação pecuniária, justifica a intervenção do direito
penal desde que o objecto seja dotado de um sério valor afectivo, convocando a
incriminação do facto e, por acréscimo, a reparação do dano moral respectivo.
Tal objecto não pode, portanto, considerarse estranho ao património do lesado
(MansoPreto, p. 547). Além disso, como tratar certas “posições” ou certos
valores económicos ainda não consubstanciados em direitos, como as relações
comerciais, o “know how”, ou uma ideia revolucionária do ponto de vista técnico
que não passou ainda da cabeça do seu inventor? (cf. Blei, p. 216). Por isso, no
outro extremo, há quem sustente que a ideia de património é em primeira linha
uma noção da vida económica: património é poder económico, é tudo aquilo
que tem valor do ponto de vista das relações económicas de uma pessoa, o
complexo dos seus bens empiricamente avaliáveis em dinheiro, ou o conjunto
dos bens que estão no seu poder de disposição. Os direitos serão patrimoniais
na medida do seu valor económico, havendo valores económicos de feição
patrimonial independentemente da sua integração jurídica na forma de
propriedade, direitos de autor, etc., isto é, à margem da sua tutela por um
direito subjectivo “(expectativas, chances, titularidades), mas carecidas de tutela
penal” (Pedro Caeiro, p. 65).
O conceito estritamente económico mostrase igualmente pouco
satisfatório. Num exemplo corrente, se alguém se apropria de coisa alheia e no
lugar dela deixa o valor correspondente em dinheiro, não haveria furto, por
falta da correspondente diminuição patrimonial. Por outro lado, qualquer
diminuição de utilidades teria como equivalente necessário um dano
patrimonial. A crítica principal a uma concepção assim moldada é a da
protecção que concede a “posições” patrimoniais ilegítimas, que se encontram
“proibidas ou qualificadas como ilícitas por outros ramos de direito”
(Figueiredo Dias, Crime de emissão de cheque sem provisão). Ninguém dirá que faz
parte do património um plano infalível e cuidadosamente elaborado para
M. Miguez Garcia. 2001
329
assaltar um banco ou a posse de uma quantidade apreciável de dinheiro falso,
já que não há maneira de o converter por processos que não sejam proibidos.
A opinião geralmente acolhida valese da noção mista de património: o
património é o conjunto unitário de posições com valor económico (concepção
económica), mas cobrese com o manto da protecção da ordem jurídica. O
património abrange assim o conjunto das “situações” e “posições” com valor ou
utilidade económica, de que é titular uma pessoa, “protegidas pela ordem
jurídica” (Welzel) ou “pelo menos sem serem por ela desaprovadas” (Gallas). É
a soma dos bens economicamente valiosos que uma pessoa detém com a
aprovação do ordenamento jurídico. Ou, na lição de Blei, “devem incluirse no
património todas aquelas “posições” com valor económico que pelo menos
possam ser realizadas por vias que não sejam proibidas pelo direito.”
Reconhecese assim a inclusão no conceito de património, além dos direitos
subjectivos patrimoniais (v. g., a propriedade ou a posse), a que se restringe a
tese jurídica, dos "lucros cessantes e demais expectativas de obtenção de
vantagens económicas” (Figueiredo Dias, parecer, cit.; Dreher/Tröndle, p.
1298). Como tal, são objecto de protecção no âmbito dos crimes patrimoniais.
Tutela do património centrada na relação pessoacoisa. Todavia, uma
parte da doutrina prefere uma solução mais pessoal, levando em conta as
necessidades e os interesses pecuniários da vítima, evitando os principais
inconvenientes das teses económicas e aderindo assim a um conceito pessoal
de património. O património já não será caracterizado como um conjunto de
bens ou de interesses pecuniários, mas sobretudo pela acentuação das relações
existentes entre o sujeito e os objectos (H. Otto, p. 128 e s.), ligando pois a
protecção patrimonial à pessoa. Tratase da capacidade económica do sujeito,
fundada no poder de domínio que este tem sobre os bens patrimoniais. A lesão
do bem jurídico património supõe sempre numa diminuição da capacidade
económica do titular do património, mas esta diminuição da capacidade
económica não necessita de se exprimir num valor pecuniário: haverá dano
mesmo sem uma concreta diminuição do saldo contabilístico
A ligação do património à realização da pessoa humana é um dado
adquirido para certos autores que, a mais disso, acentuam o seu carácter
instrumental ou funcional. Quando o ladrão passa a dispor da coisa alheia, no
rigor das coisas não se lesa a propriedade, posto que o direito à coisa continua a
existir. O que se sacrifica são aqueles poderes de disposição sobre o objecto que
dão conteúdo ao direito. Como dizia Mezger, o ladrão não pode nunca adquirir
M. Miguez Garcia. 2001
330
a propriedade, no sentido dado pelos códigos civis. Utilizando um conceito
formal de propriedade, não é possível deixar de dar razão a Maurach quando
observa que o ladrão só se torna responsável por uma tentativa impossível (cf.
Mercedes García Arán, p. 20). Protegendose as disponibilidades fácticas sobre
os bens, chegase, inclusivamente, a situações que tiveram a sua origem num
facto ilícito, admitindose como objecto de furto ou roubo jóias roubadas, droga
ou aves protegidas (cf., ainda, Mercedes García Arán, p. 22).
Nada impede que uma coisa sem valor patrimonial seja objecto de
crime. As teses funcionalistas não impedem, por outro lado, a punição do
agente por furto simples quando a coisa não tiver qualquer valor objectivo. A
ideia de valor das coisas é determinante nos crimes patrimoniais, mas há quem
observe (cf. José Joaquim Oliveira Martins, p. 180) que nos tipos penais simples
dos crimes patrimoniais nunca se faz referência a qualquer exigência de
pecuniaridade da coisa, abrangendo coisa com simples valor afectivo. O que
estará em causa é o valor para a pessoa, de que o valor económico faz parte.
Mesmo assim há quem objecte que o valor é elemento do furto simples, já
que o nº 4 do artigo 204º desqualifica o furto qualificado quando a coisa for de
diminuto valor (cf. Faria Costa, Conimbricense, p. 45).
III. Bens jurídicos pessoalíssimos e bens jurídicos patrimoniais. Primeira
abordagem do crime continuado.
Os bens eminentemente pessoais como a liberdade de a pessoa se
movimentar, a honra, ou o direito à vida ou à integridade física não são
equiparáveis a outros interesses, como os patrimoniais. Na verdade, não lhes
são funcionalmente equivalentes. Nos crimes patrimoniais a quantidade do
ilícito vaise dissolvendo à medida que o agente renova o seu ataque e isso
acontece mesmo quando o titular do direito afectado é diferente de qualquer
outro anteriormente atingido, mas a lesão de bens jurídicos pessoalíssimos de
que são titulares várias pessoas não pode ser adicionada a um dano que já é
total, como se fosse um simples alargamento quantitativo da primeira infracção.
Os factos respeitantes a pessoas diferentes contêm um novo e independente
conteúdo de injusto, pelo que essa violação será sempre qualitativamente
autónoma. “Quando A mata B, o que verdadeira e concretamente é violado é
aquele bem jurídico, a vida de A” (Faria Costa). No caso dos crimes de roubo, em
que tanto são violados bens de natureza eminentemente pessoal como de
M. Miguez Garcia. 2001
331
natureza patrimonial, a existência de diversos ofendidos impede, por si só, a
possibilidade de se configurar um crime continuado (artigo 30º, nº 2). Se na
norma os vários tipos violados se dirigem à protecção do mesmo bem jurídico —
a justificação está na continuação de uma simples intensificação quantitativa da
realização típica já levada a efeito (cf. G. Jakobs, Strafrecht AT, 2ª ed., 1993, p.
901);
IV. Receptação. Auxílio material. Encobrimento e favorecimento. Crimes de
consolidação ou de perpetuação.
O crime de receptação do artigo 231º, nº 1, é de natureza dolosa, incluído
no elenco das incriminações que visam proteger o bem jurídico “património”.
Com a incriminação autónoma, retomouse a nossa tradição, interrompida em
1886, quando se chamou para o domínio da comparticipação o encobrimento.
Segundo o Prof. Eduardo Correia (Direito Criminal, II, p. 261), “o chamado
encobrimento, traduzindose em iludir ou subtrair alguém às investigações da
autoridade (favorecimento pessoal), ou em assegurar ou aproveitar as vantagens
ou produto do crime cometido por outrem (favorecimento real, receptação), dá
lugar em todos os sistemas modernos a crimes autónomos. E assim era, entre
nós, no domínio do Código de 52. Posteriormente, porém seguindo o Código
francês e uma certa tradição romanista , o legislador considerou os encobridores, no
artigo 23º, como agentes da infracção”. Na actual estrutura do código, o crime de
receptação, para além de, nos nºs 2 e 3, comportar ainda uma forma qualificada
e outra negligente (negligente segundo a generalidade das opiniões, mas
contestadas por quem vê aí também um tipo doloso), integrase nos chamados
crimes contra direitos patrimoniais. Noutra perspectiva, a receptação é, a par do
auxílio material, que lhe vem a seguir, um dos crimes de consolidação ou de
perpetuação (ou perpetuidade, como se diz no acórdão do STJ de 18 de Junho de
1985, no BMJ348296, seguindo N. Hungria), de uma situação patrimonial
anormal, por oposição a outros que, como o furto, a burla ou o dano se
caracterizam, sem excepção, por uma subtracção, detectável e autêntica, de um
objecto patrimonial que se desloca do seu legítimo dono para outrem
(Vermögensverschiebung) ou que simplesmente é destruído ou danificado (bloße
Vermögensentziehung). Nos crimes em que se dá a perpetuação de uma situação
patrimonial anormal o legislador proíbe aquelas condutas que, sendo dignas de
pena, lesam o património do dono da coisa através da manutenção dessa
situação, assim se impedindo conscientemente a sua correcta reconstituição (H.
Otto). As diversas formas típicas que prejudicam outra pessoa através da
M. Miguez Garcia. 2001
332
manutenção (Aufrechterhaltung) de uma situação patrimonial decorrente de um
crime praticado por terceiro são pois, no nosso direito, as dos artigos 231º e
232º. Dizse que há aí um crime parasitário de outro crime e que se impede a
recomposição do statu quo ou se promove a ajuda que impossibilita o retorno da
coisa para a esfera jurídica do desapossado. Na receptação, todavia, o agente
actua com a intenção de obter, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial,
ao passo que no auxílio material se age apenas no interesse de outrem. Logo se
vê que nos crimes de manutenção de uma situação anormal é essencial que o
agente tenha conhecimento de se ter cometido um crime contra o património,
embora não se exija que o receptador conheça, em concreto, o crime cometido,
nem as respectivas circunstâncias de modo, tempo e lugar (cf., para um caso de
receptação, o acórdão da Relação de Coimbra, de 15 de Fevereiro de 1984, BMJ
334540). Desta forma, o facto ilícito originário (facto prévio; Vortat, Vordelikt), só
pode consistir num crime (rectius: num facto ilícito típico) que lesa o património
de outrem e que, pela actuação sobre um bem patrimonial, proporciona uma
conduta que consolida a situação. Pode tratarse, desde logo, de crimes contra
interesses patrimoniais em sentido estrito, como a burla, a infidelidade, o furto,
o roubo, mas não falta quem afirme que também podem ser aqueles crimes que,
protegendo em primeira linha outros interesses, como certos crimes
económicos, visam ainda a protecção de interesses dessa natureza. Em geral,
aceitase que a própria receptação pode servir de acto prévio conexo com o
crime de receptação. Falase então de receptação em cadeia (Kettenhehlerei). Mas
não constituem acto criminalmente ilícito, para esse efeito, a falsificação de
documentos, a corrupção, e outros em que a conduta, de acordo com as
circunstâncias, só mais ou menos ocasionalmente está ligada a efeitos
patrimoniais. Por outro lado, não pode ser autor da receptação, como logo se vê
do texto legal, “quem tiver obtido coisa para outrem”, o que significa que o co
autor do furto não comete o crime de receptação quando fica com a sua parte no
produto do crime ou quando vem a receber a parte que coube a outro coautor,
já que nesses casos a coisa também foi por ele obtida. O acto precedente, por seu
turno, deve integrar um crime patrimonial, como já se disse, mas não é
necessário que se trate de acto culposo, basta um facto ilícito típico.
V. Notas sobre o crime de dano.
O bem jurídico protegido no crime de dano simples (artigo 212º, nº 1) é a
propriedade, esgotandose a respectiva lesão num acto unilateral de feição
negativa.
M. Miguez Garcia. 2001
333
Por detrás da proibição legal que tutela o interesse do proprietário na
manutenção do estado das suas coisas encontramse as mais das vezes
valores económicos, estéticos, ou mesmo a funcionalidade do objecto.
Mas desvantajosas para o proprietário são também condutas como riscar
a pintura dum carro, que afecta não só o valor como a aparência, embora
não interfira com a utilizabilidade. Quem esvazia um pneu alheio
impede o carro de circular imediatamente, mas não prejudica a estética
nem influencia negativamente o valor do automóvel. Há até
“melhoramentos” introduzidos na coisa contra a vontade do proprietário
que podem representar um dano no sentido do artigo 212º, nº 1. Mas as
insignificâncias não merecem a tutela penal. Daí a pergunta: para haver
crime exigese um prejuízo patrimonial a cargo do sujeito passivo? Cf.
Kindhäuser, p. 322.
A norma incriminadora do dano simples compreende todas as coisas
alheias (coisas que pertencem a outrem e não ao autor do dano), móveis ou
imóveis, mas nos casos das alíneas b), c) e d) do nº 1 do artigo 213º (dano
qualificado) a lei não se refere à natureza “alheia” da coisa, face à especial
destinação e utilidade dessas coisas. No furto, ao contrário do dano, a coisa,
objecto da acção, é sempre móvel. Quanto ao elemento alheio, o entendimento
dominante é que o proprietário da coisa locada não comete nunca um crime de
dano relativamente ao locatário, a quem resta o recurso aos meios civis para se
ressarcir dos correspondentes prejuízos. O locatário, de resto, não é o titular dos
interesses especialmente tutelados pelo crime de dano, pelo que, em caso de
dano em veículo a legitimidade para a queixa pertence ao dono e não também
ao condutor (acórdão da Relação do Porto de 2 de Maio de 1998, CJ 1998, tomo
3, p. 232).
Em Portugal não existe o crime de dano em coisa própria, como acontece,
por ex., no ordenamento penal espanhol: o artigo 289 do CP pune a
conduta de quem, por qualquer meio, destruir, inutilizar ou danificar
M. Miguez Garcia. 2001
334
uma coisa própria de utilidade social ou cultural. Não se trata, porém, de
um típico crime de dano, prevalecendo a sua natureza de delito socio
económico. Entre nós, se o proprietário de uma coisa não pode cometer o
crime de dano (simples) de coisa própria, é de reconhecer que o próprio
proprietário pode causar danos consideráveis, por ex., ao locatário da
coisa.
Os que têm do património um conceito funcional e consideram a
propriedade como a relação de exclusividade entre uma pessoa e uma coisa,
objecto do seu domínio, através da qual satisfaz as suas necessidades, avançam
com um direito à integridade da coisa que abrange as dimensões substância,
utilizabilidade e valor estético, postas em causa pelas condutas previstas no crime
de dano (cf. a exposição de J. Oliveira Martins, p. 190).
No entanto, a definição clássica de “dano” corresponde apenas à lesão da
substância da coisa, de que a “destruição” é o grau mais significativo. Cedo
porém se chegou à conclusão de que tal definição não era satisfatória. Vejamse
os exemplos correntes na doutrina alemã (cf. F. Haft, p. 263): A suja uma estátua
valiosa com tinta; A desarticula um relógio em três partes; A deixa fugir um
canário abrindolhe a porta da gaiola. Nos dois primeiros casos falta uma lesão
da substância (a estátua pode ser limpa, o relógio pode ser arranjado). No
último, falta até uma intervenção sobre a coisa (A limitouse a abrir a porta da
gaiola). A jurisprudência alargou a definição de dano face a situações como as
referidas. Por um lado, afirmou a existência de uma lesão da substância
também naqueles casos em que a reposição do estado da coisa lhe provocaria
danos (por exemplo, se na remoção duns graffiti se danificou o objecto). Por
outro, contentouse com o prejuízo da aparência exterior, como no caso da
estátua, ou da sua utilidade (com a perda ou a diminuição da capacidade de uso
da coisa), como no caso do relógio, pois este ficava inutilizado, depois de
desmontado, mesmo sem prejuízo da sua substância.
A verdade é que, em boa parte das situações, os prejuízos externos, na
aparência das coisas, decorrentes, por ex., de alguém sujar coisa alheia com
tinta, escrever frases na fachada de um edifício, sujar um carro com detritos de
determinada natureza, têm a ver com actuações que não atingem a substância
nem implicam com a utilidade, em sentido técnico, da coisa atingida. Essas
M. Miguez Garcia. 2001
335
consequências serão, às vezes, completamente irrelevantes. Pode até acontecer
que, noutros casos, a aparência dessas coisas não seja digna de protecção
jurídicopenal. Serão merecedores de tutela penal os danos na fachada de uma
casa em ruínas ou de um muro nas mesmas condições? (Não assim,
naturalmente, no caso de estátuas, de quadros, etc.). Pode até acontecer que se
trate de prejuízos facilmente reparáveis, sem custos relevantes de tempo e
dinheiro.
A modificação da aparência e do estado da coisa passaram pois a relevar
na leitura do preceito, ao lado da alteração da substância e da afectação da
função da coisa.
Com efeito, e no que respeita às acções típicas, no crime de dano do artigo
212º, nº 1, o legislador, ao lado da destruição, que envolve o desaparecimento da
coisa física, irremediavelmente atingida na sua substância e enquanto coisa
capaz de desempenhar uma função, (19) refere a danificação, que não atingindo o
limiar da destruição exprime a diminuição das utilidades, em virtude da sua
alteração material, física, que a coisa concedia. Exigese a verificação de uma
alteração corporal da coisa, com simultânea afectação da funcionalidade. O
sujeito estraga, “de forma não absoluta” (Teresa Beleza), uma vez que apesar
das lesões ocasionadas a coisa continua a ser identificável com ela própria.
Quando a descrição típica evoluiu, a par dessas duas condutas (destruir,
danificar) passou a ter que se contar igualmente com os actos de desfiguração,
por alteração da imagem exterior da coisa, porventura por meio de inscrições
murais, graffiti (20), podendo recordarse o vandalismo com que em certa altura
foi atingida com tinta a estátua de Willy Brandt, no Porto; e com os danos
ligados à utilidade da coisa de acordo com a sua função (o tornar não utilizável
19
1 Com a destruição dá-se o desaparecimento da coisa física. A destruição, como forma mais
intensa do dano, exige uma actuação na substância que leva ao completo aniquilamento da normal utilidade
da coisa. Dito de outra maneira: “estamos perante a nadificação da coisa material, enquanto unidade física
com sentido, função e eventual valor económico-social” (Faria Costa, O Perigo em Direito Penal, 1992, p.
395, nota (78).
20
2 Recorde-se a declaração de voto de Vital Moreira (BMJ-382-261) sobre o direito ao graffiti, que
é, "desde há muito, um modo corrente e socialmente adquirido de expressão e comunicação de mensagens e
ideias, sobretudo políticas e artísticas, na nossa como em outras sociedades. A inscrição mural como
elemento integrante do conceito de liberdade de expressão constitucionalmente garantido (o artigo 37º da
Const. fala, a propósito, na liberdade de expressão "pela imagem ou por qualquer outro meio".
Naturalmente que, tal como acontece sempre que o exercício de um direito colide com outro ou outros,
haverá que proceder à compatibilização do direito à inscrição mural com o direito de propriedade e
com o direito ao património e ao ambiente. Mas a compatibilização de dois direitos consiste, não no
sacrifício total de um deles a favor do(s) outro(s), mas sim na sua conciliação, de modo a que, através de
limitações recíprocas, se alcance a maximização do exercício de todos".
M. Miguez Garcia. 2001
336
coisa alheia). Neste último caso, a coisa fica “inidónea, no todo ou em parte,
para desempenhar a sua própria função instrumental durante um tempo
juridicamente considerável” (cf. J. Oliveira Martins, p. 219, citando Mantovani).
Mas o agente háde sempre intervir fisicamente sobre a coisa, modificando a
sua estrutura material, mesmo que não se altere a substância: desmontar uma
coisa composta, levando a um grande gasto de tempo para a montar, ou retirar
um pneu dum automóvel, ou uma peça de uma coisa, impedindo o seu
funcionamento (exemplos referidos por Costa Andrade). Vistas assim as coisas,
atirar ao mar uma taça valiosa não terá expressão do ponto de vista jurídico
penal do dano (H. Otto, p. 184). Dirseia tratarse de uma conduta que não
incide na coisa em si mesma, mas unicamente na sua possibilidade de uso
(Muñoz Conde, apud Bajo Fernàndez / Peréz Manzano, p. 502).
“No danificar e destruir temos a presença da teoria substancialista, no
tornar não utilizável, da teoria da função, e no desfigurar, da teoria do bom
aspecto e da modificação do estado” (J. Oliveira Martins, p. 211).
De qualquer modo, em todas as apontadas formas do ilícito exigese uma
certa relevância do resultado danoso. Ficam de fora os danos da integridade da
coisa que não tenham significado, aqueles a que falte algum relevo. Costa
Andrade, p. 211, alude a um momento não escrito do tipo, que dá expressão aos
princípios da proporcionalidade, dignidade penal e subsidiariedade, segundo os quais
o direito penal só deve intervir contra factos de inequívoca dignidade penal.
CASO nº 14. A, na biblioteca que frequenta, pintalga as páginas dum dos livros que
requisitou pouco antes.
É de crime de dano que se trata, mesmo que ainda se possa ler o texto. O
livro é valorizado inclusivamente pelo seu bom aspecto, pela aparência (Harro
Otto, p. 183). O A sabia que se tratava de coisa alheia e que da sua conduta iria
resultar um dano. A mais disso, o A quis provocar directamente o dano, não se
exigindo no tipo qualquer motivação específica, nem há necessidade de um
animus nocendi ou damnandi. o A tanto pode ter actuado por raiva ou para se
divertir ou ainda para ganhar uma aposta (onde, necessariamente, punha à
prova a sua enorme estupidez).
CASO nº 14A. Violência sobre coisas ou é dano ou é arrombamento. A e
B, na execução dum plano maduramente trabalhado por ambos, rebentam a porta de entrada
da moradia de C, ausente com toda a família no Algarve, e acedem ao interior, mas só levam
consigo pouco mais de mil euros em notas, que encontram na gaveta de um dos quartos.
M. Miguez Garcia. 2001
337
Uma vez que o furto praticado por A e B, em coautoria, é o agravado do
artigo 204º, nº 2, alínea d), o dano produzido na porta não ganha autonomia. O
arrombamento é definido no artigo 202º, alínea d), como sendo o rompimento,
fractura ou destruição, no todo ou em parte, de dispositivo destinado a fechar
ou impedir a entrada, exterior ou interiormente, de casa ou de lugar fechado
dela dependente.
VI. Casos problemáticos, dificuldades de distinção.
CASO nº 14B. Furto, abuso de confiança, burla? Num jornal do Porto
apareceu um anúncio a oferecer uma recompensa em dinheiro a quem encontrasse um
determinado exemplar da raça canina, que o seu proprietário muito estimava e que ali vinha
descrito com abundantes pormenores. A, leitor habitual do jornal, quando regressa do trabalho,
encontra o animal, maltratado e obviamente esfomeado, e levao para o quintal da sua casa,
onde cuida dele e o põe numa pequena jaula, para o entregar no dia seguinte ao dono. B, que
mora ali ao lado e é também leitor do mesmo jornal, apercebese de tudo e decide ser ele quem
vai merecer a recompensa. Sem dificuldade, solta o bicho e vai entregálo ao dono, recebendo
as alvíssaras.
Punibilidade de B? No caso, não se encontram presentes os elementos
típicos do furto. B apenas quis tirar uma vantagem de que, doutro modo, seria o
A quem beneficiaria. Haverá burla? E quem será o enganado? E o prejudicado?
• F. Puig Peña, p. 370 (Furto, burla, abuso de confiança): un autor, con frase gráfica, ha
tratado de pontualizar la diferencia entre los tres delitos: “En el robo y en el hurto, dice,
coge el culpable la cosa; en la estafa, alarga la mano para que le ponga la cosa una
persona engañada; y en el delito de apropiación indebida cierra la mano para quedarse
con lo que en ella puso la confianza.”
O exemplo mais importante dos crimes contra o património em geral é a
burla (artigo 217º). Na burla o objecto da intenção do agente pode bem ser uma
coisa determinada, mas o que marca a diferença é a perda patrimonial sofrida.
Na burla são decisivos critérios de valor, não já a determinação da propriedade.
No plano prático, a jurisprudência em matéria de burla constituiu desde
sempre uma amostra completa e muitas vezes pitoresca da sociedade. Qualquer
sociólogo tenderia a ver nas decisões mais recentes um reflexo das grandes
particularidades da nossa época.
M. Miguez Garcia. 2001
338
18. A, intermediário na venda de uma fracção de imóvel para habitação, celebrou um
contratopromessa com o comprador (B); fez constar nesse documento como
valor de venda o de 2900 contos e que recebera “a título de sinal e princípio de
pagamento”, a quantia de 150 contos. Todavia, i) o preço para a venda fixado
pelo dono (C) fora de 3000 contos e o que A veio a acordar com o adquirente foi o
de 3050 contos; ii) este entregou àquele a quantia de 300 contos como sinal e
princípio de pagamento; iii) o arguido interveio na qualidade de gestor de
negócios do queixoso, bem sabendo que não dispunha de poderes para esse
efeito (acórdão do STJ de 17 de Junho de 1993, BMJ428297).
19. Cometem o crime de burla dois indivíduos (A e B) que determinam terceiro (C) a
entregarlhes dinheiro, mediante persuasão de que um deles tinha o poder
suposto de fabricar notas e lhe ia ensinar a fabricálas (acórdão do STJ de 14 de
Outubro de 1959, BMJ90413).
20. O crime de burla apresentase como a forma evoluída de captação do alheio em
que o agente se serve do erro e do engano para que incauteladamente a vítima se
deixe espoliar. O burlado, nas hipóteses de erro, como de engano, só age contra o
seu património ou de terceiros por que tem um falso conhecimento da realidade.
Simplesmente esse seu falso convencimento nasce, no caso do mero engano, da
mentira que lhe é dada a conhecer pelo burlão. A vítima, ao ser induzida em erro
toma uma coisa pela outra, pertencendo ao agente a iniciativa de causar o erro.
Na manutenção do erro a vítima desconhece a realidade, o agente, perante o erro
já existente, causa a sua persistência, prolongandoo, ao impedir, com a sua
conduta astuciosa ou omissiva do dever de informar, que a vítima se liberte dele.
O segundo momento do crime de burla é a prática de actos que causem prejuízos
patrimoniais. Tem de existir uma relação entre os meios empregues e o erro e o
engano, e entre estes e os actos que vão directamente defraudar o património de
terceiros ou do burlado. Mas se o engano é mantido ou produzido e se lhe segue
o enriquecimento ilegítimo—no sentido civil do termo, aquele que não
corresponde objectiva ou subjectivamente a qualquer direito—em prejuízo da
M. Miguez Garcia. 2001
339
vítima, não há lugar a indagações sobre a idoneidade do meio empregue,
considerado abstractamente. Da mesma forma não importa apurar se esse meio
era suficiente para enganar ou fazer cair em erro o homem médio suposto pela
ordem jurídica, uma vez que uma eventual culpa da vítima não pode constituir
uma desculpa para o agente. O ofendido entregou ao arguido a quantia de
4.000.000$00, sabendo que este, na altura, aceitava depósitos em dinheiro, sobre
os quais pagava o mesmo juro da Organização D. Branca — 10 % ao mês — e este
aceitou esse depósito comprometendose a pagar os juros mensais de 10% sobre
ele. Por sua vez, o réu comprometeuse perante o ofendido a pagarlhe juros
mensais de 10% sobre a quantia depositada. Nesta parte do processo causal
reside o engano em que o réu fez cair o ofendido que lhe entregou a aludida
importância tãosó por estar convencido de que o réu detinha tal quantia e estava
em condições de pagar juros mensais de 10 por cento. O engano utilizado pelo
réu, para se apropriar de bens do ofendido, consistiu precisamente no facto de lhe
prometer pagar juros de 10 por cento ao mês, sabendo de antemão que tal lhe era
impossível, estando numa situação económica difícil e tendo vendido muitos dos
seus bens de raiz. A inverosímil ingenuidade do ofendido não pode constituir
desculpa para o agente. O certo é que o arguido pagou ao ofendido tão só 100
contos respeitante a juros, tendose ausentado para fora do país, sabendo o réu
que estava a provocar uma diminuição patrimonial ao ofendido. Temse assim
verificado: o engano do ofendido, a prática de actos causadores de prejuízo
patrimonial com o consequente enriquecimento ilegítimo (acórdão do STJ de 19
de Dezembro de 1991/12/91, BMJ412234.
21. No crime de burla é necessário que o elemento “agir astuciosamente” se junte
limitativamente ao dolo específico, de tal forma que, mesmo havendo a intenção
de enriquecimento ilegítimo, o modo pelo qual se realiza essa intenção se revele
engenhoso, enganoso, criando a aparência de realidades que não existem, ou
falseando directamente a realidade. O arguido, que obteve um empréstimo com a
alegação de que o mesmo se destinava à compra de um armazém, que, depois,
daria de hipoteca ao credor, livre de quaisquer ónus ou encargos, fazendose a
M. Miguez Garcia. 2001
340
prova de que o credor não lhe concederia tal empréstimo se soubesse que, afinal,
ele já tinha, não apenas comprado o armazém, como até arrendado, comete um
crime de burla. Este crime tem como requisitos que o agente: tenha a intenção
de obter para si, ou para terceiro, um enriquecimento ilegítimo; com tal
objectivo, astuciosamente, induza em erro ou engano o ofendido sobre factos; e
dessa forma determine o mesmo ofendido à prática de actos que causem a este,
ou a outra pessoa, prejuízos patrimoniais. Quanto ao elemento “astuciosamente”,
estão a doutrina e a jurisprudência de acordo em que se trata de uma exigência
que se vem juntar limitativamente ao dolo específico (v. Actas da Comissão
Revisora do Cód. Penal, 1979, pág. 138, e Cód. Penal Anotado, Maia Gonçalves, 3ª
ed., 464), de tal forma que, “mesmo havendo a intenção de enriquecimento
ilegítimo, o modo pelo qual se realiza essa intenção tem de se revelar engenhoso,
enganoso, criando a aparência de realidades que não existem (dizendo ou
fazendo crer que existe o que não existe) ou falseando directamente a realidade
(manifestando expressamente uma mentira)” (acórdão da Relação de Coimbra,
de 1 de Junho de 1983, Col. Jur., Ano VIII, t. 3, pág. 98).
22. São elementos constitutivos do crime de burla: o intuito de obter enriquecimento
ilegítimo, através de erro ou engano sobre factos, que astuciosamente
determinem outrem à prática de actos que lhe causem, ou causem a outra pessoa,
prejuízos patrimoniais. Integra o elemento enganoso, o facto de os arguidos após
prévio acordo se dirigirem ao ofendido, fazendolhe crer que eram pessoas sérias
e de boa capacidade económica, prontificandose a emitir cheques e letras, tendo
com base nisso obtido a entrega do veículo por parte do ofendido (acórdão do STJ
de 31 de Janeiro de 1996, processo nº 48746 3ª Secção, Internet).
23. Comete o crime de burla o arguido que induz o ofendido em erro tendolhe
referido que mediante a entrega de uma quantia monetária podia falar com o
examinando para que este lhe facilitasse a feitura do exame de condução (ac. do
STJ de 14 de Fevereiro de 1996, processo nº 48597 3ª Secção, Internet).
M. Miguez Garcia. 2001
341
24. Comete o crime de burla o arguido que faz publicar um anúncio num jornal para
venda de um terreno, dizendo que este era óptimo para construção, disso
convencendo o ofendido, que lho comprou, quando bem sabia que a construção
era ali proibida (acórdão do STJ de 5 de Junho de 1996, CJ, ano IV (1996, t. 2, p.
191).
25. Toda a actuação demonstra um complexo estratagema destinado a enganar o
sujeito passivo, iludindo a sua boa fé e levandoo a uma falsa representação da
realidade de que resultou (e aqui está a chamada relação causaefeito) agir ela
contra o seu património. Nessa actuação está patente o urdimento com
exteriorização enganatória, significante da astúcia. As manobras foram colimadas
a criar junto do ministério a "aparência" de uma determinada realidade não
existente e se o ministério pagou no convencimento dessa realidade (e, portanto,
devido a esse convencimento em que foi induzido por tais manobras), é inegável
que existe uma relação de adequação de meio para fim. Se (primeiro momento),
com a intenção de enriquecimento ilegítimo (e é ilegítimo aquele que não
corresponde a qualquer direito), o agente convence o sujeito passivo de uma falsa
representação da realidade (e o erro ou engano nisso consistem), mediante
manobras (e estas podem ser as mais variadas, desde a simples mentira que as
circunstâncias envolventes são de molde a tornar credível perante o homem
médio até aos mais elaborados artifícios) adrede realizadas, e com isso consegue
(segundo momento) que esse sujeito pratique actos que lhe causem, ou a terceiro,
prejuízos patrimoniais, está perfeito o crime de burla, sendo que o
enriquecimento ilegítimo é em regra concomitante (como duas faces da mesma
moeda) com o prejuízo patrimonial causado pelo acto e que deve existir uma
relação de causaefeito entre o primeiro e o segundo momentos (acórdão do STJ
de 29 de Fevereiro de 1996, BMJ454531; também publicado e anotado na RPCC
6 (1996).
26. Pratica o crime de burla o causídico que, tendo sido nomeado patrono oficioso do
ofendido para propor uma acção de divórcio e tendo proposto uma acção de
M. Miguez Garcia. 2001
342
divórcio por mútuo consentimento no âmbito do patrocínio, obteve do ofendido
uma procuração em que este lhe concedia "amplos poderes forenses", sem lhe dar
qualquer explicação sobre a finalidade a que a destinava e, depois, veio a
conseguir que ele lhe entregasse a importância de 10 contos (acórdão da Relação
de Coimbra de 28 de Novembro de 1991, CJ, XVI (1991), t. 1, p. 91); * Pratica o
crime de burla, e não de abuso de confiança, o advogado que, após receber da
seguradora um cheque destinado ao seu cliente, o falsifica e obtém o seu
pagamento junto do Banco (apôs no verso do cheque uma assinatura como se
fosse a do ofendido e como se este lhe tivesse transmitido o título), causando
prejuízos ao titular do cheque.
27. Comete um crime de burla agravada dos artigos 313º e 314º, c), do CP de 82, o
arguido que, convence a queixosa, sua tia, a transferir todo o seu dinheiro
(4.509.050$00) que tinha depositado, em duas contas a prazo no banco F..., para o
balcão do Banco Z..., em Mangualde, e a colocálo em nome dela, dele (arguido) e
de sua esposa e dele se apodera depois, através da execução de um plano, contra
a vontade da ofendida (acórdão do STJ de 23011997, processo n.º 171/90,
Internet).
28. Praticam um crime de burla os arguidos que, na sequência de contratopromessa
de compra e venda de fracção de um imóvel realizado com a queixosa,
continuamente lhe asseguram a celebração da escritura do contrato prometido
para o mês seguinte, sabendo, no entanto, que a sociedade não tinha capacidade
financeira para distratar a hipoteca e que, por conta de tal contrato, dela vão
recebendo diversas quantias em dinheiro. Acórdão do STJ de 24 de Abril de 1997,
BMJ466257
29. Cometem um crime de burla um sargento e outros militares do exército, os quais,
mediante promessas enganosas, de livrarem mancebos do serviço militar,
conseguem que estes lhes entreguem quantias em dinheiro, que gastam em seu
proveito. Oscilando entre os 20.000$00 e os 180.000$00 as quantias de que os
arguidos, astuciosamente, se apropriaram, em prejuízo dos ofendidos, a esta
M. Miguez Garcia. 2001
343
última quantia (180.000$00) corresponde a "conduta mais grave" a ter em conta na
punição do crime continuado art.º 30, n.º 2 e 79, ambos do CP, revisto em 1995.
Não sendo a importância de 180.000$00, de valor "consideravelmente elevado",
estamos perante em face de um crime de burla simples.
30. E procedeu à entrega, aos arguidos, da mala contendo o dinheiro, no pressuposto de que
receberia como contrapartida notas falsas de grande qualidade, enquanto muito idênticas
às notas verdadeiras e, por isso, susceptíveis de passar com facilidade como estas. Os
arguidos, tendo recebido o valor em causa, não entregaram, nem se propunham entregar,
qualquer outro valor como contrapartida. Apesar disso, agiram como se se propusessem
fazer com o E o negócio ilícito em causa. Acórdão do STJ de 23 de Maio de 2002, CJ 2002,
tomo II, p. 212.
Sendo o erro e o engano elementos do tipo da burla têm que estar em
relação, dum lado, com os meios empregues pelo burlão, do outro, com os actos
que vão directamente defraudar o património do lesado. A conduta astuciosa
do burlão motiva o erro ou engano; em consequência do erro ou engano, a
vítima passa ao acto de que resulta o prejuízo patrimonial.
CASO nº 14C. Abuso de confiança, burla, infidelidade ou furto? Tratase
de saber se comete algum ilícito penal (e, no caso afirmativo, qual) o cotitular de uma conta
bancária não proprietário das respectivas importâncias, que, sem autorização da cotitular
proprietária, levanta o respectivo montante e o dissipa em proveito próprio, uma vez que essa
conduta poderá ser teoricamente enquadrada nas figuras criminais do abuso de confiança, da
burla, da infidelidade ou do furto.
Do confronto das disposições legais aplicáveis, podese concluir que o furto se traduz
numa apropriação física de bem móvel de outrem, que se não encontre dentro dos poderes de
utilização ou de disposição do agente (apropriação esta que passará a ser havida como roubo
se for feita com violência), e contra a vontade do lesado, e sem que o bem lhe seja entregue
voluntariamente por este último ou por terceiro. Na burla, o agente consegue apoderarse de
um bem alheio através de uma entrega voluntária do ofendido ou de terceiro, a quem
astuciosamente (isto é, por meio de fraude) convence da existência de um seu falso poder ou
direito sobre o aludido bem. No abuso de confiança, o agente, detentor do bem, que recebeu
para o utilizar em determinados moldes ou para lhe dar determinado destino (mas não para o
administrar, ou fiscalizar, ou para dele dispor em determinados moldes), viola a confiança em
si depositada, e dá a tal bem uma utilização ou um destino diferente daqueles para que o
recebeu. Na infidelidade, por último, a conduta do agente, em tudo semelhante à que é
configurada como abuso de confiança, tem de respeitar à disposição, administração, ou
fiscalização de interesses patrimoniais de terceiros, e só é punível se o prejuízo patrimonial
M. Miguez Garcia. 2001
344
causado for importante e se, simultaneamente, para além de a actuação do agente ter de ser
voluntária, a mesma se traduzir numa grave violação dos deveres assumidos, conjunto este de
limitações globais que bem explica que este tipo criminal seja punido com pena mais leve do
que as dos restantes.
A conduta do arguido não pode, no caso concreto, ser qualificada como
furto, em virtude de ter existido uma posse legítima dos bens de que ele se
apropriou. E igualmente se não pode considerar como configurado o crime de
burla, na medida em que o arguido tinha um poder, ainda que incompleto,
sobre o objecto dos depósitos a prazo que haviam sido feitos no Banco em nome
da assistente, sua irmã, e no seu próprio. A sua conduta enganosa terseia
limitado à omissão da comunicação, ao Banco, de que o dinheiro dos depósitos
pertencia exclusivamente à assistente, mas a mesma não poderia ter o menor
relevo perante o mesmo Banco, em virtude de, para este, o arguido e a irmã
funcionarem como titulares dos depósitos em causa, perante os quais o referido
Banco estava obrigado a pagar o montante dos depósitos e seus juros, quando
os mesmos, ou qualquer deles, lho pedisse. Com efeito, a inclusão do nome do
arguido na categoria de cotitular das contas, destinado a garantirlhe a
capacidade plena para as movimentar, consubstancia, nas relações dos titulares
para com a entidade bancária, um determinado negócio jurídico que nada tem a
ver com a efectiva titularidade dos dinheiros depositados, e que,
inclusivamente para fins fiscais, é considerado como presunção de que as
respectivas importâncias são comuns e pertencem a cada um dos titulares na
proporção do seu número. Para além disso, não pode ser olvidado que, com a
sua actuação, o arguido não se atribuiu um poder suposto nem invocou
qualidade que não possuía (ele era um dos titulares da conta, autorizado a
movimentála, tal como a ofendida) para conseguir o prejuízo da irmã. A
actuação daquele, portanto, só poderá ser enquadrável, ou no crime de abuso
de confiança, ou no de infidelidade. Numa primeira análise, poderia parecer
que ela também não poderia ser enquadrada na figura do abuso de confiança
em virtude de, numa conta a prazo, em nome de dois titulares, em que cada
qual a pode movimentar autonomamente, cada um dos cotitulares tem,
teoricamente, a qualidade de administrador dos bens comuns, do que
resultaria, no caso concreto, que o arguido teria, oficialmente, tal qualidade
relativamente ao dinheiro da aludida conta, ainda que não fosse proprietário do
respectivo dinheiro. Mas, provado como ficou, que o arguido, embora cotitular
das contas, não era proprietário das respectivas importâncias e sabia que o não
era, a sua qualidade de cotitular delas traduziase apenas em colocálo na
situação de, na realidade as deter por título que, no caso concreto, não era
M. Miguez Garcia. 2001
345
translativo da propriedade, ainda que parecesse sêlo, e que lhe não conferia
poderes de administração de tais dinheiros. Ora, nas situações em que a
actuação do agente que se apropria de dinheiros comuns, contra a vontade do
ou dos ofendidos, relativamente aos quais ele tenha poderes de administração
(como sucede quanto a bens comuns do casal distraídos por um dos cônjuges
em detrimento do outro), a sua conduta é enquadrável no crime de
infidelidade, do artigo 319º do Código Penal, mas a mesma já lhe não é
subsumível nos casos em que o agente só aparentemente tem a qualidade do
comproprietário do dinheiro ou bem, como ocorre no caso presente, por o
mesmo o receber por título não translativo da propriedade (mesmo quando
exista um pacto de que esta se transferirá para o agente se ocorrer a condição de
se verificar a morte do real proprietário antes da do titular autorizado a
movimentar). Desta forma, a sua conduta não corresponde à figura criminal da
infidelidade, do artigo 319º do Código Penal, mas sim à do abuso de confiança
pela qual foi condenado. Acórdão do STJ de 6 de Janeiro de 1993, BMJ 423146..
CASO nº 14D. A troca das etiquetas. A entra num supermercado. Num dos
expositores com garrafas de uisque de diversos preços, A troca a etiqueta do preço da garrafa
mais cara pela indicativa do preço das mais baratas. À saída, paga o preço mais baixo e leva a
garrafa mais valiosa, como pretendia.
Se alguém muda a etiqueta com o preço de um artigo exposto para venda,
haverá burla. Mas se um cúmplice com qualquer truque desvia a atenção do
vendedor para outro subtrair a coisa, haverá furto, dandose o mesmo se numa
joalharia alguém leva a jóia verdadeira deixando uma falsa no lugar daquela.
CASO nº 14E. Dar o troco. A exibe uma nota de valor elevado e pede a B que lha
troque. Em lugar de lha entregar, A pega em tudo e desaparece. É caso de burla. A levou o
outro, por erro, a entregarlhe as notas e com isso a uma disposição patrimonial danosa.
CASO nº 14F. Subtracção ou apropriação de cartão multibanco. A, com
um cartão de que se apropriara, retirandoo subrepticiamente de dentro da carteira de B, e
conhecedor do respectivo PIN, que igualmente ali encontrou inscrito num pedaço de papel,
levantou diversas quantias numa máquina ATM multibanco. Com o mesmo cartão adquiriu
também bens e serviços, digitando o PIN, sempre sem autorização do titular do cartão.
No presente caso, houve subtracção não consentida do próprio cartão, cujo
valor não foi indicado, acedendo o A, por mero acaso, e simultaneamente, ao
correspondente PIN. Dos factos apurados não consta se o A agiu com intenção
de apropriação do cartão multibanco ou se era sua intenção voltar a colocálo
onde o encontrou, depois de o utilizar para levantar dinheiro e adquirir bens.
M. Miguez Garcia. 2001
346
Este furtum usus não seria, porém, punido, por ausência de norma que o
preveja.
Quando acompanhada da intenção de apropriação, a subtracção do cartão
multibanco (que é um cartão de débito, diferente do cartão de garantia ou de
crédito previsto no artigo 225º) —que vai servir para tirar dinheiro do caixa,
usando o ladrão o código secreto—, pode ser tratada como um acto anterior co
punido, de forma idêntica à subtracção da chave de uma viatura de que alguém
se pretende apropriar ilegitimamente. O que então relevará no caso nº 14F é
que o A, de posse do cartão, limitouse, primeiro, a usálo para levantamento
numa máquina ATM, depois, para pagar aos comerciantes, uma vez que o
cartão multibanco é um autêntico instrumento para pagamento imediato. O
acórdão da Relação de Coimbra de 15 de Maio de 2002 considerou que se não
tratava de burla comum, do artigo 217º, justificando porquê, mas de burla
informática, por ter o agente interferido no resultado de tratamento de dados,
intervindo, sem autorização, nesse processamento (artigo 221º, nº 1).
• Alguns autores são de opinião que não existe subtracção quando ilegitimamente se utiliza
o cartão de débito (multibanco) para aceder ao dinheiro no interior de uma máquina
que se encontra previamente autorizada (programada) a entregálo a qualquer pessoa
que faça uso do cartão e do código de acesso.
Numa boa parte dos casos, para aceder ao cartão multibanco, o agente usa
de violência contra a pessoa ou de qualquer outro meio típico do roubo, pondo
a vítima na impossibilidade de resistir ou exercendo ameaça com perigo
iminente para a vida ou para a integridade física. Do mesmo passo, esforçase
por conseguir o respectivo PIN, actuando igualmente com violência. Realizando
o ladrão os seus propósitos com êxito, acabando, portanto, por retirar o
dinheiro da máquina ATM, pode verse este último acto (o roubo é um crime de
dois actos) como o exaurimento do crime de roubo, que assim se mostrará
materialmente consumado, na medida em que o agente passa a dispor da
quantia levantada em pleno sossego. A menos que em lugar do roubo se
sustente haver antes extorsão (artigo 223º), uma vez que ao ladrão não é
entregue imediatamente o objecto do crime (a principal diferença entre o roubo
e a extorsão está nesse aspecto, de haver ou não entrega imediata de coisa
móvel alheia)..
M. Miguez Garcia. 2001
347
VI. Outras indicações de leitura.
• A criminalidade económica “está representada de modo difuso na parte especial do
Código pelas exigências de acentuada autonomização de que gozam os tipos de ilícito do que
se convencionou chamar o direito penal económico” (Wirtschaftsstrafrecht). Na parte geral do
Código estão abertas vias para a punição da actuação em nome de outrem, em contacto com a
criminalidade ligada às pessoas colectivas (artigos 11º e 12º). O regime legal das infracções
antieconómicas consta especialmente do DecretoLei nº 28/84, de 20 de Janeiro. Na doutrina
nacional revelase do maior interesse, entre outros, a consulta dos seguintes trabalhos: José de
Faria Costa, Direito penal económico, Quarteto, 2003; Jorge de Figueiredo Dias/Manuel da
Costa Andrade, Sobre os crimes de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção e de desvio
de subvenção, subsídio ou crédito bonificado, RPCC 4 (1994), p. 337; Jorge de Figueiredo Dias,
Sobre o crime antieconómico de açambarcamento, Rev. de Direito e Economia (1976), p. 153;
Eduardo Correia, Introdução ao direito penal económico, Rev. de Direito e Economia, (1977), p.
3; Jorge de Figueiredo Dias/Manuel da Costa Andrade, Problemática geral das infracções
contra a economia, BMJ262; Carlos Codeço, Delitos económicos. DecretoLei nº 28/84
(comentado). Legislação complementar, 1986; A. Henriques Gaspar, Relevância criminal de
práticas contrárias aos interesses dos consumidores, BMJ44837; Mário Ferreira Monte, Da
protecção penal do consumidor, dissertação de mestrado, 1966. Numa publicação do CEJ, com
o título “Direito Penal Económico”, 1985, reunemse os textos de algumas conferências sobre o
tema, podendo destacarse as de José Faria Costa, O direito penal económico e as causas
implícitas de exclusão da ilicitude, e de Manuel da Costa Andrade, A nova lei dos crimes
contra a economia (Dec.Lei nº 28/84, de 20 de Janeiro) à luz do conceito de “bem jurídico”;
Germano Marques da Silva, Notas sobre o regime geral das infracções tributárias, Direito e
Justiça, 2001, tomo 2; e Gabriela Páris Fernandes, O crime de distribuição ilícita de bens da
sociedade, Direito e Justiça, 2001, tomo 2; Jorge dos Reis Bravo, Critérios de imputação
jurídicopenal de entes colectivos, RPCC 13 (2003), p. 207. Nos últimos anos têmse
multiplicado os casos de fraude na obtenção de subsídio ou subvenções e de desvio ilícito dos
mesmos, de fraude fiscal, de abuso de confiança fiscal e outros.
M. Miguez Garcia. 2001
348
• “Unidade de conta” (artigo 202º, alíneas a), b), e c)). O respectivo valor é o estabelecido nos
termos dos artigos 5º e 6º, nº 1, do DL nº 212/89, de 30 de Junho (cf. o artigo 3º da Lei nº 65/98,
de 2 de Setembro, que altera o Código Penal). Entendese por “unidade de conta processual”
(UC) “a quantia em dinheiro equivalente a um quarto da remuneração mínima mensal mais
elevada, garantida, no momento da condenação, aos trabalhadores por conta de outrem,
arredondada, quando necessário, para o milhar de escudos mais próximo ou, se a proximidade
for igual, para o milhar de escudos imediatamente inferior. Trienalmente, (…) a UC considera
se automaticamente actualizada (…), devendo, para o efeito, atenderse sempre à remuneração
mínima que, sem arredondamento, tiver vigorado no dia 1 de Outubro anterior”.
• “Salário mínimo”. A remuneração mínima mensal (salário mínimo) a que se referem o nº 1
do artigo 1º e o nº 2 do artigo 3º do Dec.Lei nº 69A/87, de 9 de Fevereiro foi, a partir do início
da década de 90, a seguinte: Dec.Lei nº 41/90, de 7 de Fevereiro (35.000$, 28.000$); Dec.Lei nº
14B/91, de 9 de Janeiro (40.100$, 33.500$); Dec.Lei nº 50/92, de 9 de Abril (44.500$, 38.000$);
Dec.Lei nº 124/93, de 16 de Abril (47.400$, 41.000$); Dec.Lei nº 79/94, de 9 de Março (49.300$,
43 contos); Dec.Lei nº 20/95, de 28 de Janeiro (52 contos, 45.700$); Dec.Lei nº 21/96, de 19 de
Março (54.600$, 49 contos); Dec.Lei nº 38/97, de 4 de Fevereiro (56.700$, 51.450$); Dec.Lei nº
35/98, de 18 de Fevereiro (58.900$, 54.100$); Dec.Lei nº 49/99, de 16 de Fevereiro (ver); Dec.
Lei nº 573/99, de 30 de Dezembro (63.800$, 60.000$). Dec.Lei nº 313/2000, de 2 de Dezembro.
Dec.Lei nº 325/2001, de 17 de Dezembro (rectificado pela Declaração nº 20BC/2001, de 17 de
Dezembro), valores do salário mínimo nacional para vigorarem a partir de Janeiro de 2002: €
348,01 e € 341,23. Dec.Lei nº 320C/2002, de 30 de Dezembro (€ 356,60 e 353,20), produzindo
efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2003.
• Acórdão do TC nº 232/2002 de 28 de Maio de 2002, DR II série de 18 de Julho de 2002:
valor consideravelmente elevado. Unidade de conta processual.
• Acórdão do STJ de 27 de Fevereiro de 2003, CJ 2003, tomo I, p. 223: “valor
consideravelmente elevado” – artigo 202º, alínea b), do CP. Aplicação subsidiária no domínio
do DL nº 28/84, de 20 de Janeiro (crimes de desvio de subvenção, subsídio ou crédito
bonificado).
• Acórdão do STJ de 23 de Janeiro de 2003, CJ 2003, tomo I, p. 168: para a verificação do
crime de dano qualificado em função do valor da coisa danificada, quando esta não é
M. Miguez Garcia. 2001
349
totalmente destruída ou inutilizada, deve atenderse ao elevado valor da coisa e não ao elevado
valor do prejuízo.
• Acórdão da Relação de Évora de 19 de Fevereiro de 2002, CJ 2002, tomo I, p. 280: crime de
dano; bem protegido; legitimidade do arrendatário. A norma que prevê e pune o crime de
dano visa proteger quem é ofendido na fruição das utilidades que das coisas pode ser retirada.
• Acórdão do STJ de 27 de Abril de 2000, BMJ49651: burla, valor consideravelmente
elevado.
• Acórdão do STJ de 6 de Março de 2002, CJ 2002, tomo I, p. 222: burla informática.
• Acórdão do STJ de 23 de Maio de 2002, CJ 2002, tomo II, p. 212: noção de património.
• Acórdão da Relação de Évora de 26 de Fevereiro de 2002, CJ 2002, tomo I, p. 280: a norma
que prevê e pune o dano visa proteger quem é ofendido na fruição das utilidades que das
coisas pode ser retirada, ou seja, o mero possuidor. Cf., porém, o acórdão da Relação de Lisboa
de 7 de Fevereiro de 1998, in Actualidade Jurídica II, nº 15, p. 28: tornase inexplicável que a lei
penal tenha querido especialmente proteger não só o proprietário como ainda o mero
possuidor, detentor ou fruidor, quando é certo que muitas vezes os interesses de uns e outros
são contraditórios e inconciliáveis.
• Actas das sessões da Comissão revisora do Código Penal, PE, ed. da AAFDL, 1979.
• Albin Eser, in Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 25ª ed., 1997.
• Albin Eser, Strafrecht IV, Schwerpunkt, Vermögensdelikte, 4ª ed., 1983.
• Alfredo José de Sousa, Infracções fiscais (não aduaneiras), 3ª ed., Coimbra, 1997.
• Américo Marcelino, Furto por introdução em casa alheia, Rev. do Ministério Público, ano
10 (1989), nº 39.
• António Miguel Caeiro Júnior, Algumas considerações sobre o objecto jurídico no crime de
furto, BMJ185.
• Bajo Fernández et al., Manual de Derecho Penal, Parte especial, delitos patrimoniales y
económicos, 1993.
• Bajo Fernández, A reforma dos delitos patrimoniais e económicos, RPCC 3 (1993), p. 499.
• Candido CondePumpido Ferreiro, Apropiaciones indebidas, 1997.
• Carlos Alegre, Crimes contra o património, Revista do Ministério Público, 3º caderno.
• Carlos Codeço, O Furto no Código Penal e no Projecto, 1981.
M. Miguez Garcia. 2001
350
• Cavaleiro de Ferreira, A violência contra as coisas como agravante do crime de furto, in O
Direito, ano 74º.
• Código Penal, Actas e Projecto da Comissão de Revisão, 1993.
• Cunha Rodrigues, Os crimes patrimoniais e económicos no Código Penal Português,
RPCC, 3 (1993).
• David Borges de Pinho, Dos Crimes contra o Património e contra o Estado no novo Código
Penal.
• Dreher/Tröndle, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 47ª ed., 1995.
• F. Haft, Strafrecht, BT, 5ª ed., 1995.
• F. Puig Peña, Derecho Penal, Parte especial, vol. IV.
• Fernanda Palma e Rui Pereira, O crime de burla no Código Penal de 198295, Revista da
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, volume XXXV, 1996, p. 329.
• Foregger/Serini, StGB, 11ª ed., 1991.
• Frederico Isasca, O projecto do novo Código Penal (Fevereiro de 1991) uma primeira
leitura adjectiva, RPCC 1 (1993), p. 67 e ss.
• Frederico Lacerda Costa Pinto, Direito Penal II (1992/93).
• G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 4ª ed., 1993.
• Gabriela Páris Fernandes, O crime de distribuição ilícita de bens da sociedade, Direito e
Justiça, 2001, tomo 2.
• Germano Marques da Silva, Notas sobre o regime geral das infracções tributárias, Direito e
Justiça, 2001, tomo 2.
• Gonzalo Quintero Olivares (org.), Comentarios a la parte especial del derecho penal,
Aranzadi, 1996.
• H. Blei, Strafrecht II, BT, 12ª ed., 1983.
• Harro Otto, Grundkurs Strafrecht, BT, 3ª ed., 1991.
• J. C. Moitinho de Almeida, Publicidade enganosa, Arcádia, s/d [1974].
• J. Oliveira Martins, O crime de dano simples e o património cultural
• J. Wessels, Strafrecht, BT2, 16ª ed., 1993.
• Joaquim Malafaia, A insolvência, a falência e o crime do artigo 228º do Código Pena, RPCC
11 (2001).
M. Miguez Garcia. 2001
351
• Jorge de Figueiredo Dias, Algumas notas sobre o crime de participação económica de
funcionário em negócio ilícito, previsto pelo artigo 427º, nº 1, do Código Penal, RLJ, ano 121º, nº
3777, p. 379 e ss.
• Jorge de Figueiredo Dias, Crime de emissão de cheque sem provisão, parecer, in CJ, ano XVII
(1992).
• Jorge de Figueiredo Dias/M. Costa Andrade, O crime de fraude fiscal no novo direito
penal tributário português (Considerações sobre a Faculdade Típica e o Concurso de
Infracções), RPCC 6 (1996), p. 71.
• José António Barreiros, Comissão de extorsão mediante extorsão de documento, ROA, ano
49, I, Lisboa, 1989.
• José António Barreiros, Crimes contra o património, 1996.
• José de Faria Costa, Conimbricense II, comentário aos artigos 202º e 203º.
• José de Faria Costa, O Branqueamento de Capitais, BFD 68 (1992), p. 59.
• José Joaquim Fernandes Oliveira Martins, O crime de dano e o património cultural.
• Kienapfel, Grundriß des österreichischen Strafrechts, BT, II, 3ª ed., 1993.
• LealHenriques Simas Santos, O Código Penal de 1982, vol. 4, Lisboa, 1987.
• Lopes de Almeida et al., Crimes contra o património em geral, s/d.
• Luis Osório, Notas ao Código Penal Português, vol. 4º, 1925.
• M. DelmasMarty, Droit Pénal des Affaires, 1973.
• M. Maia Gonçalves, Código Penal Português, 8ª ed., 1995.
• Magalhães Noronha, Crimes contra o património, BMJ13841.
• MansoPreto, Novos aspectos da punição do crime de furto segundo o projecto de revisão
do Código Penal de 1982, RPCC 4 (1991).
• Maria Fernanda Palma, Aspectos penais da insolvência e da falência, Rev. da Fac. Dir. da
Univ. de Lisboa, vol. 36, 1995.
• Mercedes García Arán, El delito de hurto, Valencia, 1998.
• Miguel Nuno Pedrosa Machado, Relevância sistemática do crime de infidelidade
patrimonial, sep. da ROA, 1991.
• Muñoz Conde, Derecho Penal, Parte especial, 11ª ed. revisada e puesta al día conforme al
Código Penal de 1995, 1995.
M. Miguez Garcia. 2001
352
• Muñoz Conde, Derecho Penal, Parte especial, 8ª ed., 1990.
• Panchaud et al., Code Pénal Suisse anoté, 1989.
• Pedro Caeiro, Sobre a natureza dos crimes falenciais (o património, a falência, a sua
incriminação e a reforma dela), 1996.
• Quintero Olivares/Muñoz Conde, La reforma penal de 1983, 1983.
• Rodrigo Santiago, O “branqueamento” de capitais e outros produtos do crime, RPCC, ano
4 (1994), p. 521.
• Silva Ferrão, Theoria do Direito Penal applicada ao Código Penal Portuguez, vol. VIII,
1857.
• T.S.Vives, Delitos contra la propiedad, in Cobo/Vives, Derecho Penal, PE, 3ª ed., 1990.
• Urs Kindhäuser, Strafrecht BT II, Nomos, 1998.
• V. Manzini, Trattato di Diritto Penale Italiano, vol. 9, 1984.
• Volker Krey, Strafrecht, B. T., Band 2, Vermögensdelikte, 10ª ed., 1995.
M. Miguez Garcia. 2001
353
§ 15º O furto. Características gerais
I. Considerações de ordem sistemática
No capítulo dos crimes contra a propriedade distingue o Código, desde
logo, o furto (artigo 203º, nº 1) do abuso de confiança (artigo 205º, nº 1). Objecto
da acção é em ambos os ilícitos uma coisa móvel, mas enquanto o furto supõe a
subtracção, e a consequente quebra, por parte do agente, da posse que sobre a
coisa era exercida pelo seu detentor e a integração da coisa na sua esfera
patrimonial ou de terceiro (ou, numa outra formulação, a eliminação do domínio
de facto que outrem detinha sobre a coisa), no abuso de confiança a coisa,
objecto da apropriação, tinha sido entregue ao agente por título não translativo
da propriedade. O elemento por assim dizer mais significativo do abuso de
confiança é a apropriação ilegítima, para haver furto basta porém a subtracção
da coisa com ilegítima intenção de apropriação. Sendo ambos os ilícitos de
natureza exclusivamente dolosa, o abuso de confiança é, por assim dizer, um
crime de apropriação sem subtracção, ao passo que, no furto, à subtracção
preside sempre uma intenção de apropriação. Podemos agora concluir que o
ilícito em que mais claramente se protege a propriedade é o do artigo 205º, nº 1.
No furto, como vimos, também é protegido com a fattispecie legal aquele que
tem a disponibilidade da fruição das utilidades da coisa com um mínimo de
representação jurídica. De qualquer modo, é o furto a figura matricial e de
referência na construção dos crimes patrimoniais operada pelo legislador
português. Ihering referiase à propriedade como a periferia alargada de uma
pessoa e essa ideia pode ainda surpreenderse na sistemática do Código, que
nas palavras de Cunha Rodrigues adopta “uma concepção nuclear de crimes
contra o património que mantém a propriedade como bem jurídico principal, na
interpretação que a doutrina e a jurisprudência tradicionalmente deram ao
conceito de propriedade para fins criminais”.
No que ao furto respeita, continua a sustentarse que o bem jurídico
protegido é a propriedade, entendida no sentido jurídicoeconómico como
conjunto de faculdades juridicamente protegidas que constituem a completa
relação de senhorio da pessoa sobre uma coisa, bem como o conteúdo
económico que comporta (Mercedes Pérez Manzano, p. 345). O complexo de
direitos que traçam o perfil do direito de propriedade em sentido amplo
corresponde ao poder de fruição, de disposição e de gozo de que fala o artigo
1305º do Código Civil.
M. Miguez Garcia. 2001
354
Para aqueles que do “património” têm uma visão acentuadamente
funcionalista, a questão nem sempre se esgota na simples relação de
propriedade que é ofendida. Com o crime de furto acontece coincidirem na
vítima "as qualidade de proprietária e fruidora do gozo (posse e mera posse)
atinente à utilidades da coisa", mas em muitos casos verificase "uma separação
ou um corte, juridicamente aceite e até tutelado, entre aquelas duas qualidades.
Daí que em termos de lógica material, e não na base de uma pura e estéril
relação jurídica formal, custe a admitirse que, se entre o que tem a coisa e a
própria coisa existe tãosó uma relação de mera posse, se diga que o bem
jurídico violado tenha sido a propriedade. Quem é ofendido na fruição das
utilidades que da coisa podem ser retiradas é, na hipótese anterior, o mero
possuidor. Daí que a relação jurídicopenalmente relevante seja a relação de
gozo". Cf. José de Faria Costa, Conimbricense, II, p. 31. Sendo actualmente o
crime de furto simples de natureza semipública (artigo 203º, nºs 1 e 3, e 113º e
ss.), para efeitos de legitimidade quanto ao exercício do direito de queixa, na
questão da titularidade do interesse o que conta é a disponibilidade da fruição
das utilidades da coisa com um mínimo de representação jurídica (vd.
desenvolvimentos no comentário citado do Prof. Faria Costa).
II. O objecto do furto
CASO nº 15. A, que se encontra a cumprir pena, em ocasião propícia consegue fugir,
levando consigo a roupa que vestia, fornecida pelos Serviços Prisionais e propriedade do
Estado, como A muito bem sabia. Haverá crime de furto? Será abuso de confiança?
O uniforme dos serviços prisionais é coisa móvel, alheia, relativamente a
A. É irrelevante saber se a actuação de A, ao fugir com a roupa que trazia
vestida, integra o elemento "subtracção" (típico do furto) ou se, pelo contrário,
existem os elementos objectivos do abuso de confiança ("entrega", etc.), pois A
não terá actuado com "intenção de apropriação", e esta é comum às duas
incriminações. Este elemento subjectivo, específico do furto, a "intenção de
apropriação", é a "ponte" que projecta a "subtracção" no âmbito do ilícito penal.
Sem ele não há furto, ainda que à actuação sobre a coisa se possa seguir, por ex.,
dano, ou ficarse pelo furto do uso. Suponhamos, ainda assim, que A agiu
dolosamente e com aquela intenção, inclusivamente, também levou consigo
uma muda de roupa que lhe estava distribuída. Perante uma situação tão
peculiar, somos tentados a afirmar que A tirou a coisa da posse do respectivo
dono, contra a vontade deste, e a colocou na sua posse. Em suma, houve a
subtracção, característica do furto.
M. Miguez Garcia. 2001
355
Nestes crimes (furto, abuso de confiança, etc.), o objecto da acção é a coisa
móvel alheia, mas é em vão que se procura uma definição de “coisa” na lei penal.
O direito penal comparado revela a tendência para fazer coincidir a noção de
coisa com o elenco dos objectos corpóreos, quod tangi potest. No sentido
conferido pelas normas que tutelam a propriedade, também os animais
pertencem às coisas. Mas da noção de coisa ficam logo excluídos os direitos e os
bens imateriais, por exemplo, os direitos de crédito ou hipotecários ou os direitos
de autor. Neste sentido, também não são coisas o “estilo” de um pintor, ou o
“som” de uma banda musical, que por isso não podem ser objecto de furto,
embora sejam aptos a ser copiados. A subtracção de electricidade dificilmente
poderá, nesta perspectiva, ser alvo de punição, sem que uma disposição
autónoma a preveja — forças e energias, tanto as energias animais como
humanas, não são coisas, sustentase ainda hoje na Alemanha. Logo se vê,
portanto, que a adopção da noção civilística de coisa, dada pelo artigo 202º, nº 1,
do Código Civil (“tudo aquilo que pode ser objecto de relações jurídicas”),
ainda que pouco rigorosa (Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, 1973, p. 339),
mas mais abrangente, pode ser particularmente útil. Houve sempre a tentação
de, entre nós, a utilizar no ramo do direito penal, embora, por vezes, se acentue
que mais conforme à realidade parece ser um “conceito restrito de coisa”, em
que este, como espécie do género mais lato de objecto das relações jurídicas, se
define como “tudo o que, gozando de autonomia e utilidade, é susceptível de
dominação exclusiva pelo homem” (Carlos Alegre, p. 23). São coisas,
seguramente, os documentos ou objectos que incorporam direitos, como os
cheques, letras, ou outros títulos de crédito ou de legitimação; ou o disco, a
disquete e o livro que contêm o resultado de um trabalho intelectual. É
indiferente a forma como materialmente se moldam. Por isso, são também
coisas os líquidos ou os gases, enquanto contidos em recipiente. A electricidade
pode ser objecto de furto, diz em Portugal a jurisprudência, mas não podem sê
lo as ondas de uma estação de rádio. O crime de furto é inseparável da
materialidade, a coisa é "res extensa", tem características físicas, e só desse
modo se constroem os crimes patrimoniais de forma homogénea. No acórdão
do STJ de 22 de Outubro de 1997, BMJ470245 discutiase se a extinção de
créditos de suprimentos, materializada através da viciação e alteração dos
registos contabilísticos, pode integrar um crime de furto, respondendose pela
negativa, pois é essencial a materialidade.
O empregado bancário programa o computador de forma a que este passe a creditar
uma conta em detrimento de outra (Haft, p. 141) — o dinheiro “contabilístico” é uma coisa?
Os penalistas, invocando a eminente dignidade humana, acentuam que
tanto o corpo como os órgãos de uma pessoa viva estão extra commercium. Vale
M. Miguez Garcia. 2001
356
o mesmo para as próteses, enquanto partes artificial mas firmemente
implantadas. Sobre os órgãos extraídos, que passam a ser destacados e
autónomos, já pode ser exercido um poder fáctico, passando a pertencer à
pessoa em quem foram implantados.
Móveis são todas as coisas que se deslocam ou podem ser deslocadas,
levadas de um lugar para outro, quer sejam móveis em sentido natural quer
passem a ser assim quando são destacadas e retiradas donde estavam mais ou
menos firmemente implantadas. Basta por isso que a coisa se torne móvel por
força do acto de subtracção: ramos de árvores, dentes de ouro retirados dum
cadáver, etc. A própria mobilidade ou imobilidade da coisa existem por si,
devendo o legislador limitarse a reconhecêlas e a fixarlhes os contornos, sem
criar artificialismos ou ficções. Daí que para alguns seja criticável a orientação
do Código Civil (artigo 203º e ss.) no tocante à classificação das coisas (Carlos
Codeço, p. 64). Não se trata de saber se a coisa é móvel de acordo com o direito
privado: o que é decisivo é se a coisa é de facto móvel. No acórdão do STJ de 11
de Junho de 1992, BMJ418478, o comportamento do arguido, empreiteiro da
construção civil, que retirou e levou consigo diversas janelas, aros e portas
exteriores, já aplicadas numa casa em construção e pagas, exprime uma acabada
subtracção apropriativa de coisa alheia.
Perdidos e achados. Coisas escondidas; coisas esquecidas. É alheia a
coisa que está na propriedade de outrem. Decisivo é aqui o direito civil. Não
são alheias as coisas que pertencem exclusivamente ao agente. Também não
constitui objecto de furto a res nullius, a que não tem dono, nem a que foi
voluntariamente abandonada pelo seu dono, a res derelicta (1318º e ss. do
Código Civil). Não são alheias as “res communes omnium”, como o ar que
respiramos. Mas para efeito de furto são alheias as coisas perdidas, as
escondidas, por exemplo no jardim duma residência, e as simplesmente
esquecidas.
• Sem dono é o conteúdo do caixote de lixo, mas não são sem dono as flores que se deixam
num túmulo. Também não são sem dono os animais domésticos nem os do jardim
zoológico. E um enxame de abelhas? E os tesouros?
As coisas achadas têm um regime próprio que vincula o achador (artigo
1323º do Código Civil), equiparandose a apropriação ilegítima de coisa achada
à apropriação ilegítima em caso de acessão (artigo 209º, nºs 1 e 2, do Código
Penal). Existe legislação própria para os achados em estradas e a para os
achados no mar, no fundo do mar ou por este arrojados.
M. Miguez Garcia. 2001
357
Só em casos especiais é que se põem aqui problemas, mas poderá haver
furto se o agente subtrai a sua própria coisa? Há quem chame a atenção para a
circunstância de que coisa alheia significa coisa que pertence a outrem — e não
coisa não própria (cf. Pedro Caeiro, p. 71).
III. Casos especiais.
1. Subtracção de coisa comum por comproprietário. Crime de furto entre
cônjuges? Subtracção de coisa da sociedade por um sócio.
Segundo uma opinião, sendo a coisa comum, a subtracção integrará o
crime de furto desde que preenchidos os restantes elementos do respectivo tipo,
apesar de não existir no direito português uma norma a prever expressamente a
punibilidade para tais casos. Alguns autores falam em falta de norma
orientandose para a não punibilidade. Para aqueles que ainda assim
argumentam que a norma existe, sendo aplicável a que prevê o furto, “a razão
da punibilidade está em que o ladrão não tira apenas a parte que lhe pertence,
mas também se apropria da dos outros contitulares” (Carlos Codeço, p. 154 e
155). Cf., para o direito italiano, Luigi Delpino, Diritto Penale, p. 931, em
comentário ao art. 627, que expressamente pune a sottrazione de cose comuni.
Entre nós, as soluções jurisprudenciais não têm sido uniformes. Assim, para o
acórdão do STJ de 13 de Janeiro de 1993, BMJ423203, "O crime de furto entre
cônjuges, como crime de furto que é, tem de se traduzir na subtracção de coisa
móvel alheia, isto é, não pertencente ao agente (artigo 296º do CP82).
Compreendese perfeitamente a possibilidade da sua existência em relação aos
bens que sejam da propriedade exclusiva do cônjuge lesado (artigos 1722º,
1723º, 1726º a 1729º, 1733º e 1735º do Código Civil), mas já a mesma se
configura, à primeira vista, como muito duvidosa quanto aos bens comuns, por
estes serem propriedade comum dos cônjuges. Pode, porém, defenderse que os
bens comuns correspondem à concretização da existência jurídica de um
património comum (...) e que, nessa medida, tais bens acabam por ter a
natureza de bens alheios, relativamente a cada um dos cônjuges. Para o acórdão
M. Miguez Garcia. 2001
358
do STJ de 3 de Julho de 1996, CJ, ano IV (1996), t. 2, p. 218, e BMJ459170, "cada
um dos cônjuges tem sobre a comunhão um direito de propriedade. Por isso,
não podem os bens móveis respectivos, enquanto a comunhão persistir, ter a
natureza de “coisa alheia” em relação a qualquer dos cônjuges e, assim, serem
objecto de crime de furto por parte do cônjuge que os retira. A questão deve ser
resolvida no inventário para partilha dos bens do casal, com a sua restituição ou
com a entrada do respectivo valor (cf., também, o acórdão da Relação de Lisboa
de 5 de Julho de 1994, CJ 1994IV, p. 135, e o acórdão da Relação do Porto de 26
de Novembro de 1997, CJ 1997V, p. 232). Do mesmo modo, o acórdão da
Relação do Porto de 26 de Novembro de 1997, BMJ471457: os cônjuges são os
titulares do direito de propriedade sobre os bens comuns do casal; por isso,
enquanto a comunhão persistir, os bens não têm a natureza de coisa alheia. A
retirada por um dos cônjuges de bens móveis contra a vontade do outro, não
constitui crime de furto por falta do elemento “coisa alheia”.
• Acórdão do STJ de 18 de Outubro de 2000, CJSTJ, ano VII (2000), tomo III, p. 209: bens
comuns do casal — comete o crime de abuso de confiança o marido que ao separarse
da mulher levanta e leva consigo certificados de aforro do casal, depositados num
banco e que administrava durante o tempo de vida em comum.
Mas não há dúvida que "comete um crime de furto aquele que subtrai
fraudulentamente uma máquina que, embora por si comprada, passara a
integrar o património de uma sociedade de que é sócio" (acórdão da Relação de
Coimbra de 20 de Abril de 1988, BMJ 376668).
2. Furto de coisa furtada. Coisa fora do comércio: subtracção de drogas.
CASO nº 15A. Ladrão que “rouba” a ladrão. A deambula por uma pequena
cidade e às tantas encontra um carro estacionado, com as chaves na ignição. A parte do
princípio de que o dono está por perto. Ainda assim entra sem esforço no carro que põe em
movimento, afastandose. A quer aproveitar a oportunidade para ficar com a viatura. Como
mais tarde se veio a apurar, o carro tinha sido furtado e o anterior ladrão fora dar uma volta
antes de voltar a movimentálo.
M. Miguez Garcia. 2001
359
A questão é a de saber se na actuação de A existe furto, porquanto, em
certa perspectiva, é duvidoso que se possa falar em subtracção. Se “subtracção”
significa a quebra, por parte do agente, da posse que sobre a coisa era exercida
pelo seu detentor e a integração da coisa na sua esfera patrimonial ou de
terceiro, essa quebra não parece que tenha ocorrido com a segunda subtracção
da coisa. Mas se subtracção significa mais precisamente “a eliminação do
domínio de facto que outrem detinha sobre a coisa (cf., por ex., Faria Costa,
Conimbricense, II, p. 203), porque A agiu com dolo de subtrair o carro, sabendo
que o mesmo lhe não pertencia, e com intenção de apropriação, haverá crime de
furto (artigo 203º, nº 1). Aquele que se apropria, sem direito ou autorização, de
coisa alheia, subtraindoa a quem a detém por a ter furtado ao dono ou
possuidor, comete pois um crime de furto. Há ademais uma lesão do bem
jurídico do proprietário originário.
• Para alguma jurisprudência, se a segunda subtracção for executada por um dos autores da
primeira, existe um facto posterior impune (acórdão do STJ de 30 de Junho de 1982,
BMJ318302).
Questão paralela é a do roubo (artigo 210º, subtracção por meio de
violência contra pessoa...) de coisa furtada pela vítima do roubo. Parece que
ninguém negará a tese do roubo (consumado).
A heroína, embora coisa fora do comércio, insusceptível de ser objecto de
relações jurídicas, ainda assim representa uma utilidade para o seu detentor,
podendo deste modo constituir coisa alheia passível do crime de roubo
(acórdão do STJ de 16 de Outubro de 1996, BMJ460370). Este pender
funcionalista da noção de património, ao permitir a protecção da
disponibilidade fáctica sobre os bens, admite como objecto do roubo ou do furto
não só a droga, como no caso deste acórdão, mas também peças de ouro ou
jóias anteriormente furtadas ou roubadas por outro sujeito. O principal
inconveniente das teses funcionalistas ou instrumentais da noção de património
parece estar assim na possibilidade de se conferir protecção penal a relações de
disponibilidade sobre uma coisa que, por sua vez, o próprio Código Penal
considera ilícitas. Aliás, certas sentenças, num afã de “branquear” os objectos
em questão para os incluir na tipicidade do furto ou do roubo, atribuemlhes
uma aparência de licitude: por ex., a droga não se considera bem “extra
commercium” mas algo pertencente ao Estado (Mercedes García Arán, p. 22)
Neste âmbito, não se devem esquecer as situações em que alguém está
autorizado a vender, transportar, ceder, etc., estupefacientes ou substâncias
psicotrópicas, nem os casos de prescrição médica. A heroína nessas condições
M. Miguez Garcia. 2001
360
tem dono e ninguém porá em dúvida que a sua subtracção fraudulenta
integrará um furto, se estiverem presentes os restantes requisitos típicos.
3. Pode o proprietário ser sujeito activo do furto? Subtracção de coisa própria;
subtracção pelo fiel depositário
O furto de coisa própria que se encontra em poder de terceiro por título
legítimo era uma modalidade do furto de posse no direito romano: furtum
possessionis, a que já se fazia referência no Digesto. No Código Penal espanhol
castigase a subtracção de coisa própria (furtum possessionis) que está em poder
de terceiro por título legítimo. O bem jurídico protegido é a posse, pois é o
proprietário, ou um terceiro em seu nome, quem “toma” a coisa móvel (A.
Serrano Gómez, p. 360). Havendo um preceito autónomo (agora o art. 532. 1º),
argumentase que o proprietário não pode ser sujeito activo do furto
propriamente dito. Se o proprietário pudesse ser sujeito activo do furto não
seria necessária a tipificação específica desta conduta; a sensu contrario, se se
tipifica de forma específica é porque o furto comum não dá cobertura legal ao
apoderamento realizado pelo proprietário. (cf. Mercedes Pérez Manzano, p.
344).
Inexistindo incriminação autónoma do furtum possessionis, sempre se
discutiu entre nós a questão de ser o apoderamento pelo proprietário furto
próprio ou se devia situarse na área do abuso de confiança. O artigo 422º do CP
de 1886 previa a imposição das penas de furto ao que fraudulentamente
subtraísse uma coisa que lhe pertencesse, estando ela em penhor ou depósito
em poder de alguém (Maia Gonçalves, p. 718). Com efeito, o depositário pode
ser o dono da própria coisa. José António Barreiros, p. 18, entende que a
apropriação por fiel depositário integra actualmente, de forma necessária, o
crime de abuso de confiança e não o crime de furto.
• O depositário que, devidamente notificado para fazer a entrega dos bens penhorados, não
a faz, pode cometer, segundo os factos provados, o crime de abuso de confiança p. e
p. pelo artº 300º, nºs 1 e 2, b), do CP82, ou o de violação de apreensão ilegítima, p. e
p. pelo artº 397º do mesmo código (acórdão da Relação do Porto de 29 de Março de
1995, CJ, ano XX, t. 2, p. 234).
M. Miguez Garcia. 2001
361
4. Utilização da rede telefónica pública sem pagar
CASO nº 15B. A partir de certa altura, A, B e C começaram a utilizar a rede
telefónica pública, através de linha destinada a outro telefone, sem pagarem as chamadas
efectuadas e a respectiva assinatura mensal, usando um telefone instalado na sua residência
que se encontrava desligado (fora de serviço) e através de ligação clandestina.
Punibilidade de A, B e C ? Cf., agora (depois das alterações de 1998), o
artigo 221º, nº 2. Para a situação anterior, cf. João Palma Ramos, contramotivação do
Ministério Público, Rev. do Ministério Público, ano 18º (1997), nº 69, p. 163.
5. Furto de cadáver? Furto de um órgão de uma instituição hospitalar?
CASO nº 15C: E, estudante de medicina, leva subrepticiamente um cadáver do
Instituto de Anatomia para o dissecar em casa e aprofundar os seus conhecimentos.
O artigo 254º prevê a profanação de cadáver ou de lugar fúnebre,
castigando a subtracção (e a destruição ou ocultação) de cadáver ou parte dele,
ou cinza de pessoa falecida. O "descanso" e a lembrança dos mortos são
praticamente as últimas coisas com algum significado religioso que o Direito
Penal ainda protege. No artigo 204º, nº 1, alínea c), o furto é qualificado por se
encontrar a coisa, afecta ao culto religioso ou à veneração da memória dos
mortos, em lugar destinado ao culto ou em cemitério.
Em geral, entendese que o cadáver, ou a parte de um cadáver, não é uma
coisa, ou que pelo menos não é nunca coisa alheia. O cadáver será ainda a
projecção da pessoa (Rückstand der Persönlichkeit). De qualquer forma, estará
sempre fora do comércio — a não ser que se encontre na posse de um instituto
anatómico, diz uma parte da doutrina. Compare, ainda, o artigo 254º com o
artigo 185º (ofensa à memória de pessoa falecida): o artigo 254º protegerá
postumamente um direito de personalidade do próprio morto?
E como qualificar uma múmia com valor histórico? Pode ser objecto de
furto?
• É “coisa alheia” um dente de ouro tirado dum cadáver? A Cassazione italiana ocupouse
de um caso curioso de furto de uma prótese dentária retirada de um cadáver (Cass. 8
111984, nº 9802).
• Sobre o cadáver e as consequentes referências penais cf. Carvalho Fernandes, “Cadáver”,
Polisenciclopédia, tomo I; Costa Andrade, Conimbricense II, p. 213; R. Capelo de
Sousa, O direito geral de personalidade, Coimbra, 1995, p. 189; Bruno Py, La mort et le
droit, PUF, 1997, p. 73 e ss.; Volker Krey , Strafrecht, BT, Band 2, 10ª ed., p. 3 e ss. A Lei
M. Miguez Garcia. 2001
362
nº 12/99 de 15 de Março: autoriza o Governo a legislar sobre a dissecação lícita de
cadáveres e extracção de peças, tecidos ou órgãos para fins de ensino e de
investigação científica. O DecretoLei nº 411/98, de 30 de Dezembro, estabelece o
regime jurídico da remoção, transporte, inumação, exumação, trasladação e
cremação. Aí se define cadáver como “o corpo humano após a morte, até estarem
terminados os fenómenos de destruição da matéria orgânica”. O acórdão da Relação
de Coimbra de 28 de Janeiro de 2003, CJ 2003, tomo I, p. 13, entendeu que o cadáver
de uma pessoa é qualificável como coisa, embora sujeita a um regime particular,
traduzido, desde logo, na sua extracomercialidade, devendo ser considerada fora do
comércio. Vd. também o "caso resolvido" por Marta Felino Rodrigues, in Casos e
Materiais de Direito Penal, p. 359: "a qualificação, ou não, como analogia proibida da
aplicação do artigo 203º do CP que prevê e pune o crime de furto à hipótese de
subtracção de um órgão de uma instituição hospitalar é precedida, logicamente, pela
verificação, ou não, de um caso omisso".
6. Furto de electricidade.
• O Tribunal do Reich decidiu, num aresto que fez história, que o furto de electricidade não
era punível pelo § 242 (furto) do StGB, por não ser a electricidade uma coisa e não ser possível
a aplicação da norma por analogia. Apareceu, por isso, o § 248c (subtracção de energia
eléctrica) como norma autónoma, destacada da do furto e sucessora da Lei especial de 9.4.1900.
Também a jurisprudência de outros países, incluindo a portuguesa, hoje ao que parece com
entendimento pacífico (cf. acórdão da Relação de Coimbra de 24 de Fevereiro de 1986, BMJ
374545; e acórdão da Relação do Porto de 14 de Julho de 1989, BMJ388595), teve inicialmente
dificuldades em lidar com a questão, pela polissemia do conceito de “coisa” e pela incerteza
quanto à natureza da electricidade fluído ou energia (cf. Cunha Rodrigues, p. 528; acórdãos
do STJ de 18 de Janeiro de 1944, Boletim Oficial456, e de 20 de Abril de 1955, BMJ48444). A
criminalização autónoma do furto de água, gás e electricidade, prevista em alguns outros
códigos estrangeiros (§ 132 (subtracção de energia) do öst. StGB; art. 146 (subtracção de
energia) do Code Pénal Suisse), não se impôs como inevitável à Comissão Revisora do Código
Penal português. A explicação estribase na adopção do critério civilístico de coisa, que é o
M. Miguez Garcia. 2001
363
tradicional, e na compreensão do respectivo conceito a esse nível; depois, pela rigidez que um
regime específico de incriminação e sancionamento poderia representar em termos de comércio
jurídico. Nesta categoria de coisa móvel susceptível de apropriação individual estão incluídas
outras forças ou energias naturais, como o vapor e a energia nuclear. Mas já a captação de uma
onda radiofónica ou televisiva não constitui objecto do crime de furto, porquanto a energia da
respectiva estação emissora não fica diminuída (cf. Cons. MansoPreto, p. 547).
IV. Furto com utilização duma artimanha (Triekdiebstahl). Outros casos de
subtracção.
• CASO nº 15D. O carro acabado de lavar. A deslocase ao Porto e como tem aí que
fazer durante umas horas deixa o carro numa estação de lavagens e recolhas, perto da Baixa.
Depois voltará para pagar e levar o carro, lavadinho e a reluzir como nos primeiros dias em
que andou com ele. A meio da tarde, B, que sempre se entusiasmou com aquela marca de
automóveis, dirigese à estação de recolhas, onde é atendido pelo empregado C. Fingindo ser o
dono do carro, paga e recebe de C as chaves da viatura, ausentandose nela, feliz por ter
conseguido dar um golpe bem urdido e melhor executado.
Responsabilidade de B e C? A pessoa enganada viu o garagista ficar
privado do carro contra sua vontade. Não obstante o engano utilizado para
conseguir convencer que o agente era o proprietário do carro, o que houve foi
uma subtracção. É de furto que se trata.
CASO nº 15E. O golpe dos diamantes. A, B e C dedicavamse ao comércio de
diamantes e nessa actividade adquiriam os diamantes para os remeterem posteriormente para
a Holanda, para aí serem lapidados. Para o transporte utilizavam geralmente os serviços de D,
indivíduo inserido no ramo, a quem pagavam. Em Maio de 2002, por contacto telefónico, ficou
estabelecido entre A e D ir este a casa da mulher do B, de nome Josefa, buscar um embrulho
com diamantes. O D conhecia bem a morada. O mesmo D, que conhecia E, combinou com este
apoderaremse de diamantes. Ficou entendido entre ambos que o D comunicaria com o E logo
que fosse abordado para efectuar algum transporte. O E, que prestara serviço na PSP, tinha
facilidade em arranjar uniformes desta polícia e documentos policiais de identificação, farseia
acompanhar de amigos de confiança, todos envergando fardas, para irem à casa da Josefa,
onde se propunham deitar mão às pedras simulando tratarse de uma denúncia. Cinco dias
depois, na execução desse plano, o D dirigiuse a casa da Josefa, depois de ter recebido um
telefonema do A, levando consigo o E e mais dois indivíduos escolhidos por este. O D tocou à
campainha e entrou na cozinha pela porta de serviço. Já dentro de casa, a Josefa, que conhecia
o D e tinha instruções do marido para entregar um saco com diamantes, fez a entrega do
M. Miguez Garcia. 2001
364
embrulho, que este recebeu e guardou no bolso, fazendo o D menção de ir embora. Nessa
altura, a porta de entrada da casa foi empurrada com violência, surgindo, como combinado, o
E e dois dos amigos deste, envergando todos fardas da PSP. Fazendo todos de conta que não
conheciam o D, dirigiramse a este e à Josefa, dizendolhes que eram da polícia, que sabiam ter
estes na sua posse bens que tinham entrado no País ilicitamente, e que por isso estavam
detidos. Entretanto, revistaram o D, apoderandose do pacote com diamantes, dizendo que iam
proceder a uma busca. Para darem maior credibilidade à sua actuação, pediram a identificação
da Josefa, dizendolhe para não sair donde estava. Um dos arguidos começou a preencher um
impresso e estando a Josefa convencida de que se tratava de um agente da autoridade assinou
o sem sequer o ler, dizendolhe um deles que já não ia detida e que se apresentasse na
alfândega na segundafeira seguinte, após o que todos os intrusos abandonaram o local,
levando os diamantes que nunca chegaram a ser recuperados.
Responsabilidade dos diversos intervenientes? Apesar de a porta ter sido
empurrada com violência para os intrusos entrarem no apartamento, tal
violência não foi utilizada contra uma pessoa nem como meio de os mesmos se
apoderarem dos diamantes. O encontrão na porta, com violência, serviu
unicamente para os sujeitos disfarçarem o conluio com o E, facto que sai
reforçado pela utilização do fardamento da polícia e com a revista e a busca
simuladas. É de furto que se trata e não de roubo, ficando para averiguar se
existe qualquer circunstância qualificativa do crime.
CASO nº 15F. Encher o depósito. A decidese a não pagar a gasolina com que
acaba de encher o depósito do seu carro numa estação de abastecimento a funcionar em
sistema de self service. Numa retirada rápida, A alcança a autoestrada sem se deter no ponto de
pagamento.
A gasolina (coisa móvel) era para A alheia, já que no momento de encher o
depósito era propriedade do dono do posto de abastecimento. Uma das
dificuldades da resolução do caso, tal como se configura, consiste em o A não
ter actuado com intenção de apropriação no momento em que se abasteceu.
Para alguns autores, o caso configura um abuso de confiança. Diferente seria se
o A, desde início, tivesse a intenção de se apropriar da gasolina sem a pagar. De
qualquer modo: qual a semelhança deste caso com o daquele que furta um
pacote de lâminas num supermercado, passando a zona de caixas sem pagar? E
se A, já abastecido, se dirige ao ponto de pagamento, constatando entretanto
que não trazia a carteira e é por isso que resolve “pôrse ao fresco”?
CASO nº 15G. Crime de subtracção de documento do artigo 259º, nº 1;
crime de falsificação de documento do artigo 256º, nº 1, alínea a). A, tendose
apercebido de que na caixa do correio de uma sua vizinha tinha sido depositado um vale
postal dos CTT, consegue dali retirálo, ficando na posse do mesmo. Depois de ter forjado um
falso endosso, apondo no verso do título, pelo seu punho, uma assinatura com o nome do
beneficiário, depositouo numa sua conta bancária, onde lhe foi creditado. Acórdão do STJ de
11 de Outubro de 2001, CJ, 2001, ano IX, tomo III, p. 192.
M. Miguez Garcia. 2001
365
Neste caso, parece que a subtracção é de documento, ficando preenchido o
ilícito do artigo 259º, nº 1, incluído nos crimes de falsificação. Tenhase presente
que se a coisa (no caso, o vale postal) for descaracterizada, isto é, se não
prevalecer a sua função de documento, a conduta do agente recai na previsão
dos artigos 203º (furto) ou 212º (dano), ambas infracções contra o património.
CASO nº 15H. O agente subtraiu a coisa; todavia, teve intenção de a
utilizar e não de se apropriar. O arguido, médico, levara consigo o sangue do hospital
para a Casa de Saúde, onde o utilizou — houve subtracção; sem dar conhecimento disso à
direcção do hospital — a subtracção foi fraudulenta; o sangue pertencia ao Estado, como o
arguido bem sabia — era coisa alheia. Acontece que o arguido, mercê do desempenho de
funções numa e noutra instituição, tinha promovido a prática de cedências de unidades de
sangue, seguidas da sua reposição, e isso foi até, em certa altura, objecto de negociações para a
conclusão de um protocolo.
O médico teve apenas intenção de utilizar e não de se apropriar. “Depois
de muitos anos de discussão, é hoje pacífico que a intenção de apropriação,
como a intenção de matar ou outra que seja elemento de crime, é matéria de
facto. Porém, como elemento subjectivo, a intenção é um facto muito especial,
que se revela por outros factos. Daí muitos admitirem com relutância que possa
ser questionada directamente, pelo que mais gostariam que fosse uma
conclusão do que um facto. No caso concreto o facto que nos parece revelar
mais fortemente a falta de intenção de apropriação é a reposição do sangue,
através de dadores enviados para o efeito, como sempre era feito. Ou seja, com
decisão de reposição anterior ao facto da subtracção. A reposição decidida
depois não interessa, mas a programada antes é reveladora de falta de intenção
de apropriação, antes indica o intuito de uso apenas, como foi o caso” (acórdão
da Relação de Évora de 29 de Novembro de 1994, CJ 1994. tomo V, p. 292).
CASO nº 15I. A proibiu expressamente a sua sublocatária B de entrar no quarto que
reservou para si e onde, na gaveta de um dos móveis, tem diversos valores, incluindo dinheiro.
Um dia, B precisou de trocar dinheiro. Não obstante a proibição, tirou quatro notas de 5 euros
da gaveta e deixou no seu lugar uma nota de 20 euros. Foi porém surpreendida e A apresentou
queixa. (Cf. V. Krey, p. 20).
Haverá furto (artigo 203º, nº 1)? As notas de 5 euros eram coisa móvel que
pertencia a outrem, eram coisa alheia para B. Esta subtraiuas e integrouas no
seu património dolosamente agiu com ilegítima intenção de apropriação, sem
qualquer causa de exclusão da ilicitude. O próprio consentimento presumido
está afastado, até porque A fez queixa. Aparentemente, B cometeu um acto
típico e ilícito. Todavia, tal comportamento, do ponto de vista do “âmbito de
protecção da norma” não cai na previsão da norma incriminadora. De acordo
com as perspectivas do tráfico, o que é decisivo é o valor “incorporado” e por
isso não se pode afirmar que actua com intenção de apropriação quem substitui
M. Miguez Garcia. 2001
366
moedas ou notas por outras de valor idêntico. Para o proprietário o valor é o
mesmo. Mas se o cliente habitual, na ausência momentânea do dono da loja,
pega no jornal e deixa o dinheiro correspondente, haverá que contar com o
consentimento presumido.
• CASO nº 15J. A, pastor, por ordem do dono do gado, levou os animais a pastar no
terreno de um vizinho deste: o dono das ovelhas e das cabras apropriouse, segundo o acórdão
da Relação de Évora de 6 de Novembro de 1990, CJ 1990, tomo V, p. 275, das ervas que os
animais comeram: “subtracção dolosa, aferida pela intenção apropriativa de alimentar o seu
gado em pastagens de outrem”.
Há no entanto quem sustente que no caso se trata de dano. Seja como for,
o nosso Código não tem uma incriminação como o artigo 164º do Código
brasileiro onde se pune autonomamente quem introduzir animais em
propriedade alheia. Mas se alguém, inspirandose nas cabras e nas ovelhas
alentejanas, for a um restaurante sem dispor de recursos, considerase que os
alimentos consumidos não são subtraídos e o que pode haver é burla para
obtenção de alimentos (artigo 220º). Cf. ainda o acórdão da Relação do Porto de
14 de Julho de 1999, BMJ489404: pastor que conduz um rebanho para um
olival, a fim de os animais ali se alimentarem com rebentos de oliveira e em que
é manifesto o propósito de apropriação em proveito do gado das folhas e
rebentos, que (o pastor!) bem sabia serem de outrem.
V. Outras questões problemáticas.
CASO nº 15K. Fará sentido falar de relação de subsidiaridade entre
tentativa de um crime de furto e a sua consumação? Os arguidos ainda estavam a
fazer o carregamento dos materiais quando chegou a polícia.
A situação é seguramente de furto consumado em relação aos objectos já
carregados. No mais, o plano criminoso dos arguidos, que não foi completado,
não passou da tentativa. No final, com todos os objectos que subtraíram, os
arguidos cometeram um crime de furto consumado, independentemente do fim
subjectivo que tinham de levar mais objectos. Portanto, consumado um crime
de furto, com a subtracção de materiais nos termos expostos, não mais se pode
falar de tentativa desse mesmo crime. De tentativa só pode falarse se
justamente a consumação do crime não chegou a ter lugar. Acórdão do STJ de
14 de Abril de 1993, BMJ426180. Cf. também Faria Costa, Conimbricense II, p.
52.
M. Miguez Garcia. 2001
367
VI. Outras indicações de leitura
• Robert Villers, Rome et le Droit Privé, 1977, p. [407]: A palavra furtum começou por
designar a coisa furtada; depois foi “intelectualizada”, como acontece frequentemente em
latim. Os jurisconsultos acabaram por chegar a uma definição, a de contrectatio o agente põe a
mão fraudulentamente na coisa , por oposição à amotio ou subtracção. Mas este manejar
fraudulento da coisa pode incidir não só sobre a coisa em si mas também sobre a posse e
mesmo sobre o uso. O furtum passou então a ter um amplo campo de aplicação: a venda de má
fé de coisa alheia, a aceitação deliberada do pagamento indevido, etc. No furtumusus integrase
o acto do depositário que se serve da coisa em depósito. A definição de Justiniano acrescenta
finalmente dois elementos: é necessário que a contrectatio diga respeito a uma res aliena, o que
exclui o furto doméstico, e que o furto tenha sido lucri faciendi gratia, o que permite distinguir o
furto do dano. No direito germânico distinguiase a figura do Diebstahl (subtracção desonrosa,
às escondidas) da do Raub (subtracção às claras, não necessariamente violenta), a que
correspondiam penas de diferente natureza.
• Insistem os autores: O furto é um delito arquetípico. No seu campo de influência existem
outros delitos, em especial o abuso de confiança. O 7º Mandamento proíbeo. É um delito
“clássico”, que no direito romano compreendia tanto a subtracção da coisa (furtum rei), como a
do uso (furtum usus) e da posse (furtum possessionis) e onde se destacava a intenção de
enriquecimento do agente(lucri faciendi causa), que a noção actual em geral já não comporta:
“Furtum est contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia vel ipsius rei vel etiam usus eius
possessionisve” (Paulus, Dig. 47.2.1. §3).
• Noutros tempos: Estavam muito próximo do furto formigueiro e do furto de valor diminuto os
chamados furtos campestres, previstos no artigo 430º do Código Penal de 1886, consistentes em
pequenos ataques à propriedade (“o que entrar em terreno alheio para colher frutos e comêlos
no mesmo lugar...”; “o que do mesmo modo entrar em terreno alheio para rebuscar ou
respigar, não estando ainda recolhidos os frutos...”). Nas Ordenações havia o furto grande e o
furto pequeno. Também havia os ladrões formigueiros, que eram, naturalmente, pequenos
ladrões (Mello Freire, Inst. de Dir. Crim. Port., BMJ 155).
M. Miguez Garcia. 2001
368
• Marcel le Clère Manuel de Police Technique: “Panurge, no dizer de Rabelais, ensinava as
360 maneiras de enriquecer à custa dos outros pelo furto. Bem mais conciso, o artigo 379 do
Code pénal contém todas as modalidades conhecidas ou imagináveis da subtracção
fraudulenta.” É nestes termos que se inicia o capítulo, dedicado ao furto, do excelente Manuel
de Police Technique, de Marcel le Clère. Em consequência, o furto, delito proteiforme, tem aí o
correspondente desenvolvimento enquanto tema de técnica policial, onde interessa desde logo
o modus operandi, que vai do furto doméstico à actuação do cleptómano e do carteirista
(pickpocket), do furto de electricidade ao praticado com chave falsa, do arrombamento da caixa
de esmolas ao do cofre forte, do furto de automóveis ou de gado à actuação do rato de hotel.
• Acórdão da Relação de Lisboa de 10 de Outubro de 2001, CJ ano XXVI 2001, tomo IV, p.
141: O sinal de televisão, ou mais concretamente o da TV Cabo, é uma coisa móvel incorpórea
susceptível de apropriação e subtracção, para efeitos do disposto no artigo 203º do Código
Penal.
• Acórdão da Relação do Porto de 28 de Fevereiro de 2001, CJ, 2001, ano XXVI, tomo I, p.
239: Direito de queixa. Legitimidade do possuidor da coisa subtraída. Tem legitimidade para
apresentar queixa pelo crime de furto aquele que, não sendo proprietário da coisa furtada, no
entanto, tem sobre ela a disponibilidade de fruição das respectivas utilidades. O legislador,
pelo menos para efeitos de legitimidade quanto ao exercício do direito de queixa, elegeu como
figura central o titular do interesse que a incriminação quis proteger e não o titular do direito
— artigo 113º, nº 1, do Código Penal.
• Acórdão do STJ de 9 de Dezembro de 1998, CJ VI (1998), tomo III, p. 233: pratica um crime
de furto o arguido que, sem conhecimento e contra a vontade do proprietário de um terreno,
abre neste um furo artesiano, dele extraindo a água, que utilizava na rega do mesmo terreno,
em que cultivava melão e tomate com o consentimento do rendeiro mas igualmente sem
conhecimento do proprietário.
• Acórdão do STJ de 11 de Dezembro de 1997, BMJ472171: é o benefício do uso que se pode
considerar essencial para caracterizar o crime de furtum usus, sendo certo que o mesmo
sempre poderá ser imputado ao agente, desde que este, embora não tenha intervindo na
apropriação fraudulenta, tenha dela conhecimento e se aproveite do uso do veículo subtraído;
adesão à situação antijurídica em curso, coautoria.
M. Miguez Garcia. 2001
369
• Acórdão do STJ de 15 de Novembro de 2001, CJ 2001, tomo III, p. 216: a entrega para
penhor de coisa furtada por outrem, com conhecimento da sua proveniência ilícita, com a
intenção de ajudar o autor do furto, integra a autoria do crime de auxílio material do artigo
232º, nº 1, e não o crime de receptação.
• Acórdão do STJ de 25021998 Processo nº 1333/97 3.ª Secção: o art.º 206, do CP, contém
um verdadeiro furto privilegiado, criado no sentido de estimular a restituição da coisa furtada
e a extinção do dano, o que se justifica dada a sua grande eficácia social e o seu alto interesse
de contribuir eficazmente para a defesa da propriedade. Num Código Penal como o vigente,
em que a raiz da censura é a culpa, a atenuação prevista no citado artigo deve justificarse
numa diminuição desta ou na redução da ilicitude. Ora, se tais circunstâncias podem ocorrer
quando tem lugar a restituição voluntária pelo agente, ou a reparação do dano quando tal
restituição não seja possível, já o mesmo não se poderá concluir, sem mais, quando a
recuperação dos objectos foi antes devida à acção da PSP. A lei é clara no sentido de que não
basta a ocorrência das circunstâncias enumeradas no n.º 2, do art.º 72, do CP, para efeito de
atenuação especial. Esta só poderá ocorrer se se verificar diminuição acentuada da ilicitude do
facto, da culpa do agente ou da necessidade da pena.
• Acórdão do STJ de 21 de Novembro de 1956, BMJ62404: a subtracção fraudulenta de
coisa comum por um dos comproprietários integra o crime de furto punível em atenção ao
valor total e global da coisa furtada.
• Acórdão da Relação de Coimbra de 26 de Janeiro de 2000, BMJ493426: Não pertencendo
as coisas comuns a cada um dos comproprietários de forma plena, mas antes à totalidade dos
consortes (artigo 1403º e seguintes do CC), terseão de considerar alheias para efeitos da
eventual incriminação do ou dos comproprietários que se comportem nos termos previstos no
artigo 203º, nº 1, em detrimento de um ou dos demais.
• Acórdão do STJ de 10 de Dezembro de 1998, processo nº 1133/98 (a restituição ou
reparação de que fala o art.º 206, do CP, não podem ser identificadas, jurídicoconceitualmente,
com a apreensão das coisas subtraídas ou ilegitimamente apropriadas, ou com a sua
recuperação, exigindo antes, uma acção espontânea e voluntária do agente no sentido de
restituir ou reparar, espontaneidade e voluntariedade essas que são de exigir a quem quer que
eventualmente providencie por tal restituição ou reparação, já que o art.º 206, na secura da
M. Miguez Garcia. 2001
370
redacção utilizada, parece admitir que possa ser efectivada por outrem, que não pelo próprio
agente do crime).
• Acórdão da Relação do Porto de 22 de Novembro 2000, CJ ano XXV, tomo V, 2000, p. 228:
Não comete o crime de furto aquele que, em virtude de o comprador ter deixado de pagar
parte do preço, se apodera do veículo automóvel que lhe vendera com reserva de propriedade.
• Acórdão do STJ de 14 de Abril de 1999, BMJ486110: noção de coisa alheia para efeitos de
furto e de roubo; a execução do crime pode ter como alvo não apenas o proprietário da coisa
mas outrem que, no momento, seja detentor do seu direito de fruição, de guarda, etc., contidos
no direito de propriedade.
• Beleza dos Santos na Rev. de Leg. e de Jur., ano 68º, p. 252, especialmente sobre a noção de
coisa alheia no furto.
• F. A. Pires de Lima, Das Coisas, BMJ91207.
• Francisco Candil Jiménez, En torno al furtum possessionis, in Libro Homenaje al Prof. J.
Anton Oneca, Ed. Universidad de Salamanca, 1982, p. 617 e ss.
• Mercedes García Arán, El delito de hurto, Valencia, 1998.
• Mercedes Pérez Manzano, Hurto, in Bajo Fernández, Compendio de Derecho Penal (Parte
Especial) II, 1998.
• Serrano Gómez, Derecho Penal, PE II (1) Delitos contra el patrimonio, Dykinson, 1996.
• Volker Krey, Strafrecht, B. T., Band 2, Vermögensdelikte, 10ª ed., 1995.
M. Miguez Garcia. 2001
371
§ 16º O crime de furto (continuação). Consumação.
I. Furto; consumação formal ou jurídica; crime exaurido. Qual o momento
decisivo para a consumação do furto?
CASO nº 16. Furto consumado ou simplesmente tentado? A entrou no
edifício do Instituto X contra a vontade dos responsáveis. Aí rebentou voluntariamente a
fechadura da porta do laboratório, causando estragos de 5 contos, e entrou nesse
compartimento, onde se apoderou de um relógio de laboratório e de 2 lupas, valendo tudo 40
contos. A agiu com intenção de se apropriar dos artigos referidos, sabendo que lhe não
pertenciam e que actuava contra a vontade do dono. Quando caminhava para a saída do
compartimento trazendo consigo as lupas e o relógio, A, por sentir uma pessoa a caminhar na
direcção do local onde se encontrava, deitou os artigos a um recipiente do lixo e encaminhou
se para a saída do edifício. (Cf. o acórdão do STJ de 26 de Setembro de 1990, BMJ399293).
Pode perguntarse se A cometeu um furto consumado ou se houve apenas
tentativa. O relógio e as duas lupas são coisas móveis que não pertencem a A.
Este agiu com intenção de apropriação das coisas que sabia serem alheias. Mas
tem de haver um ingresso da coisa na posse do agente de forma já pacífica, em
sossego ou tranquilidade, para que o delito atinja a consumação? Ou deve a
tónica ser colocada na instantaneidade da amotio (remoção do lugar onde o
objecto se encontra) ou da ablatio (a transferência para fora da esfera de domínio
do sujeito passivo), como se pergunta no acórdão do STJ de 16 de Janeiro de
2002, CJ 2002, tomo I, p. 170?
Diz uma opinião: não se exige que seja conseguida a meta almejada pelo
agente, o furto bastase com a consumação formal ou jurídica. A consumação
material do delito representa apenas uma fase ulterior da consumação.
Diz uma outra opinião: enquanto a coisa não está na mão do ladrão em
pleno sossego ou estado de tranquilidade (embora transitório) de detenção do
produto do furto não parece que possa dizerse que haja consumação. Não há
consumação quando o objecto do furto não entra na esfera patrimonial do
agente ou de terceiro, embora aquele tenha actuado com intenção de
apropriação e chegue a deslocálo do local em que se encontra.
Mas também se afirma: tem de haver um mínimo de tempo que permita
dizer que um efectivo domínio de facto sobre a coisa é levado a cabo pelo
agente, mas sem defender que tal domínio se opere “em pleno sossego ou em
M. Miguez Garcia. 2001
372
estado de tranquilidade”. Assim se exprime o acórdão do STJ de 16 de Janeiro
de 2002, CJ 2002, tomo I, p. 170 (com dois votos de vencido, um deles defendendo
a posição da consumação instantânea).
Como se vê, para o momento consumativo do furto o decisivo é saber se a
coisa saiu da posse do seu dono ou detentor legítimo e entrou na posse ou
esfera patrimonial do agente da infracção. Reparese, por outro lado, que os
defensores da instantaneidade do furto dificilmente abrirão as portas à
desistência relevante, prevista no artigo 24º, quando o ladrão opere como no
caso nº 16, mas se desenhe igualmente uma desistência voluntária. (21) O furto
estará então consumado e o ladrão será sempre punido de acordo com a
moldura penal correspondente ao crime consumado, sem as vantagens da pena
especialmente atenuada que cabe à tentativa (artigo 23º, nº 2).
II. A subtracção não é só a apreensão da coisa, pode haver situações
subtractivas em que o ladrão não chega sequer a tocar na coisa. O ladrão de
coisa achada é “menos” ladrão que o outro!
Diz o artigo 203º (Furto): 1. Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para
outra pessoa, subtrair coisa móvel alheia é punido (...).
A “subtracção”, característica objectiva do furto, é também o seu elemento
eficiente, por ser simultaneamente acção e resultado. A subtracção está, por um
lado, ligada às dificuldades que envolvem a definição da consumação deste tipo
de crime, a qual, segundo a tese mairitária, não depende de uma apropriação
conseguida; por outro lado, releva na distinção com outras incriminações,
especialmente com o abuso de confiança, a cuja realização se não associa a
quebra duma detenção originária, e com o dano, de todo alheio aos propósitos
de integração da coisa no património do agente.
É a actuação do ladrão sobre a coisa que molda o lado material da
subtracção. A maior parte dos furtos exprime, ao menos parcialmente, o modus
operandi do seu autor, o qual acaba por retirar a coisa do lugar onde se encontra,
por si ou por intermédio de outrem, de forma directa, com contacto manual, ou
utilizando uma terceira pessoa em autoria mediata. Ou até servindose o ladrão
dum animal ou dum processo mecânico ou químico. Diz Manzini, apud Luis
Osório: podese furtar o oxigénio aspirandoo, o leite sugandoo, o cão
chamandoo, a vaca tangendoa...
21
O facto do agente abandonar as coisas para facilitar a fuga ou para não ser identificado
com elas não constitui desistência.
M. Miguez Garcia. 2001
373
Há situações em que prevalece a apropriação. Para haver furto, não é
portanto necessário que haja apreensão da coisa, embora este seja o caso mais
corrente. A tendência, hoje, é para adoptar uma noção desmaterializada do
modo de aceder à coisa. Reflexo disso será o artigo 209º, onde o acento tónico se
coloca na apropriação ilegítima de coisa alheia. O agente entra na posse de coisa
alheia por caso fortuito e só depois, quase que por inércia, mas
conscientemente, começa a tirar dela as correspondentes utilidades, omitindo o
dever de a restituir ou entregar. É o que acontece com o caso paralelo da
apropriação de coisa achada, de que se ocupa o nº 2 do mesmo artigo,
igualmente sancionada de forma significativamente mais leve do que o furto
comum. Outro exemplo: se numa estação de caminhos de ferro A se dá conta
que lhe caem aos pés duas moedas valiosas, largadas por descuido da criança
rica que viaja no comboio rápido que ali não pára, o esforço posto na
apropriação (intencionada) das moedas é bem diferente do daquele que rebenta
um cofre para, em exclusivo, desfrutar de idênticas utilidades. Neste caso da
estação, o momento decisivo é o da apropriação — subalternizandose a
subtracção, de tal modo que uma e outra se confundem.
III. A subtracção consiste na quebra, por parte do agente, da posse que sobre
a coisa era exercida pelo seu detentor e na integração da coisa na sua esfera
patrimonial ou de terceiro.
O elemento “subtracção”, que fora acolhido no Código Penal francês de
1810, donde passou para o nosso, foise desprendendo progressivamente desses
seus componentes materiais “para se radicar, sobretudo, na quebra, por parte
do agente, da posse que sobre a coisa era exercida pelo seu detentor e na
integração da coisa na sua esfera patrimonial ou de terceiro” (Eduardo Correia,
parecer, referido no ac. do STJ de 4 de Dezembro de 1968, BMJ182314). Vinha já
do Prof. Beleza dos Santos, que citava von Liszt na Revista de Legislação e de
Jurisprudência, ano 58º, p. 252, esta forma de desdobrar o comportamento do
ladrão.
O segundo momento da subtracção é o decisivo na consumação do crime
de furto. O que verdadeiramente a caracteriza é o propósito que a ela preside de
realizar o agente a integração da coisa no seu património, ou no de terceiro.
M. Miguez Garcia. 2001
374
V. Na maior parte dos casos ocorrerá a apreensão da coisa; para haver furto
consumado não é porém necessário que o ladrão tenha a coisa subtraída em
pleno sossego.
Os casos em que o ladrão não chega a tocar na coisa serão pouquíssimos.
Vamos deixar de parte esses casos, que servem sobretudo para mostrar que as
concepções de hoje são bem diferentes das do século dezanove — entretanto, já
o vimos, avançouse para a desmaterialização da noção de subtracção. Mesmo
assim, ocorre perguntar: quando é que, em geral, se realiza a troca de detenção,
passando o furto da fase da tentativa para a consumação?
O ladrão quer apoderarse do livro de B. Hipóteses:
1ª toca no livro;
2ª agarrao;
3ª agarrao, levao consigo para fora do espaço originário, mas é logo a seguir
surpreendido;
4ª agarrao e levao consigo para sua casa.
O ladrão quer apoderarse do piano de B. Hipóteses:
1ª põe a mão no piano;
2ª carregao, se pode (?), aos ombros, mas não consegue andar meio metro por lhe
faltarem as forças;
3ª carregao (com a colaboração de outros ladrões), mas o piano é tão volumoso e
pesado que não conseguem colocálo a tempo no camião que traziam para o efeito e são
surpreendidos;
4ª carregao (com a colaboração dos outros) e conseguem pôlo em casa do ladrão.
A questão da constituição de uma nova detenção tem historicamente a ver
com diversas teorias, ligadas à “guerra das palavras latinas”.
illatio (esconder, pôr em segurança)
ablatio (levar, retirar)
amotio (agarrar)
contrectatio (tocar)
No início do século dezanove seguiase ainda a teoria da contrectatio, para a qual
bastava o contacto físico do ladrão com a coisa para se poder afirmar o momento
M. Miguez Garcia. 2001
375
consumativo. Para haver apropriação, consideravase suficiente pôr a mão na coisa
com “maus” propósitos. A teoria acabou por ser suplantada pelas outras três.
Com a amotio (apprehensio) ultrapassase o simples contacto material do agente com a
coisa ficando esta sob o controle de facto (exclusivo) do novo detentor, ou pelo menos
este háde ter algum poder sobre ela quando a desloca do seu lugar originário. Foi
especialmente sustentada na Itália por Carrara. Para alguns autores, a teoria é
compatível com a ideia de que o objecto pode ser furtado mesmo quando a pessoa
não o transporta consigo: se para a consumação do furto não basta o simples
contacto, também não é necessário que o agente toque na coisa e a desloque
fisicamente de lugar.
A teoria da ablatio exige uma actividade posterior à deslocação da coisa do seu lugar
originário, ficando o objecto fora da esfera de custódia do seu proprietário ou
detentor.
A teoria da illatio exige igualmente para a consumação um elemento posterior: que o
ladrão leve o objecto para sua casa ou que o detenha em pleno sossego, por exemplo,
escondendoo. É a incorporação da coisa no próprio património do agente.
Na Alemanha e na Áustria impôsse a Apprehensionstheorie (Ergreifungstheorie). As
circunstâncias de cada caso e as representações colectivas no pertinente círculo da
vida social dominam, porém, como critérios rectores, as soluções práticas (J. Wessels,
p. 18 e 19, citando o BGHSt 16, 271; incidentalmente, C. Andrade, Consentimento e
Acordo em Direito Penal, p. 502). Se a coisa (e o agente com ela) ainda se encontra na
esfera espacial do — até então — seu detentor, a nova relação de domínio (que
excluirá a do lesado) ocorre se não surgirem obstáculos à realização dos propósitos de
apropriação do agente, por exemplo, quando já não houver o perigo de um terceiro se
intrometer e impedir que o agente saia, levando a coisa do supermercado, ou a
esconda num bolso enquanto por ali deambula. Mas há coisas que pelas suas
características, de peso ou de tamanho, se não compaginam com a solução apontada.
O furto não se consuma em geral com a apreensão (Ergreifen) desses objectos, mas só
M. Miguez Garcia. 2001
376
quando o ladrão passa com eles o círculo de poder do titular da coisa (a porta da casa,
o muro da moradia). Até aí haverá tentativa. Será assim quando o ladrão salta o muro
do cemitério com o saco ou passa a vedação com a bicicleta desmontada. Se o ladrão
carrega o carro em terreno do lesado, o crime consumase com o fecho da mala do
carro. No caso de furto de viaturas a consumação dáse quando o ladrão consegue
arrancar, mas já não será assim se metros depois o condutor é surpreendido por um
controlo ou não consegue passar um portão ou o motor se engasga e pára depois de
andados uns metros. Na subtracção por etapas haverá tentativa relativamente à 1ª
actuação: a empregada da casa esconde a jóia no seu colchão para a levar depois para
o exterior (2ª actuação), a garrafa de vinho é depositada no peitoril da janela para
depois ser recolhida do exterior. Do mesmo modo, se numa carruagem de comboio o
ladrão atira para a linha um objecto doutro passageiro para mais tarde o recolher (cf.
Eser, S/S, p. 1717; Kienapfel, p. 55).
Em Espanha, onde dominam posições intermédias, requerse a disponibilidade da
coisa pelo agente como requisito mínimo para se poder afirmar que o crime se
consumou (Muñoz Conde, p. 221). O crime consumase logo que o autor tem a
possibilidade de dispor da coisa como dono (Cuello Calón, Bajo Fernandez, p. 67), o
que quer dizer que para se consumar o crime não bastará o contacto com o objecto e a
deslocação física do mesmo. Exigese um certo poder sobre o objecto, identificandose
assim a teoria da disponibilidade com a da aprehensio.
A vitória das doutrinas intermédias. Antes do actual Código Penal, em 1977, o Dr.
Maia Gonçalves explicava que as doutrinas intermédias tinham passado a dominar
“por premência das realidades”. A subtracção não pode ser completamente integrada
com a simples contrectatio ou mesmo com a apprehensio rei, pois, então, seriam
incluídos na previsão do furto casos em que a posse não fora sequer violada. Mas
também a exigência da deslocação da coisa para lugar onde se consolide a posse não
assegura a incriminação de casos flagrantes, em que o ladrão se apodera da coisa sem
a deslocar. E acrescentava: “A subtracção não se esgota, portanto, com a mera
apreensão da coisa, e pode mesmo não haver apreensão; essencial é que o agente a
M. Miguez Garcia. 2001
377
subtraia da posse alheia e a coloque à sua disposição ou à disposição de terceiro. Não
é necessário que a coisa seja mudada de um lugar para outro, nem tampouco que
chegue a ser usada pelo agente ou por terceiro. Tampouco é necessário o lucri faciendi,
exigido pelos romanos. No desenvolvimento desta construção, o crime de furto
consumarseá com a entrada da coisa furtada na esfera patrimonial do agente ou de
terceiro; antes de isto suceder poderá, no entanto, configurarse uma tentativa, se
tiverem sido praticados actos de execução. Verificados os pressupostos enunciados,
são indiferentes os meios de execução do crime. A doutrina, exemplificativamente,
aponta até por vezes meios mecânicos, como o das máquinas de venda e o das
armadilhas destinadas a capturar animais.” (Maia Gonçalves, Código Penal Português,
na Doutrina e na Jurisprudência, 3ª ed., 1977, p. 705).
O Prof. Eduardo Correia (Direito Criminal, II, 1965, p. 44) sustentava que
“enquanto a coisa não está na mão do ladrão em pleno sossego não parece que
possa dizerse que haja consumação”. A tese de que para a consumação se exige
a posse pacífica em relação ao objecto furtado pelo ladrão foi acolhida, por ex.,
no * acórdão do STJ de 23 de Novembro de 1982, BMJ321316: Comete um crime
de furto na forma tentada aquele que, actuando conjuntamente com outro, entra numa
ourivesaria, retira de dentro de um balcão envidraçado um estojo que continha anéis em ouro
e, por não ter segurado bem esse estojo, o deixa cair no chão, fazendo barulho, facto de que se
apercebe o proprietário, que grita e, por isso, determina os agentes à fuga sem nada levarem
consigo. Não há consumação quando o objecto do furto não entra na esfera patrimonial do
agente ou de terceiro, embora aquele tenha actuado com intenção de apropriação e chegue a
deslocálo do local em que se encontra. É assim de afastar a consumação, porquanto o agente
não chegou a ter os anéis na sua mão, em pleno sossego ou estado de tranquilidade, embora
transitório, de detenção dos mesmos.
Mas o Código Penal (1982), segundo a corrente que acabou por se impor
na jurisprudência dos nossos tribunais, “repudia a tese de consumação do furto
que exige que a coisa entre pacificamente na esfera da disponibilidade do
ladrão e esteja em sua mão em pleno sossego, nomeadamente nos casos de fuga,
perseguição e transporte após a apreensão, tese que não protege eficazmente o
direito da vítima” (cf., por ex., o acórdão da Relação de Lisboa de 1 de Junho de
1983, BMJ335331). Assim, o arguido que coloca os objectos subtraídos dentro
de um saco e que é depois interpelado pela polícia comete um crime de furto
consumado. O mesmo acontece com o carteirista que retira a carteira do bolso
de outrem e no mesmo instante é impedido de fugir por um polícia que
observava a sua actuação. A aplicação deste critério tem, com efeito, o seu mais
decisivo alcance nos casos de perseguição imediata do agente da subtracção.
M. Miguez Garcia. 2001
378
Exigese não só o desapossamento como também a integração da coisa no
âmbito patrimonial do ladrão. É porém indiferente que isso aconteça por mais
ou menos tempo.
IV. Consumação formal, consumação material.
Caso nº 16A. O furto da cabrinha de Valinho de Mossodomia. Em
Valinho de Mossodomia, ali para os lados de Vila Nova de Ourém, o Manuel Marques de
Sousa, para subtrair uma cabra dum vizinho, deitoulhe a mão no curral e já a puxava para fora
deste quando foi surpreendido pelo dono. Foi por isso que a largou e deitou a fugir. O
Supremo, por acórdão de 13 de Junho de 1950, BMJ23167, entendeu, por maioria, que se
tratava de furto consumado — o facto de a cabra não ter chegado a ser transferida para fora da
área ocupada pelo denunciante não exprime inexecução da subtracção, pois o que completa
esta é o apoderamento, e este estava perfeito no momento em que a cabra já era conduzida pelo
arguido. Mas houve um voto de vencido.
A consumação não depende pois do bom êxito da apropriação.
Conseguida esta, o furto está não só consumado (vollendet), como também
atingiu o seu término (beendet). No furto está em causa, unicamente, a forma
dolosa de execução, a qual, vista no seu recorte subjectivo, revela um delito de
realização intencionada. A intenção, entendida como um elemento subjectivo
especial, coincide estruturalmente com o dolo directo, mas não se confunde com
o dolo enquanto elemento subjectivo geral — conhecimento e vontade de
realização do tipo. No furto o tipo objectivo esgotase em o agente “subtrair
coisa móvel alheia”. A intenção do agente, dirigida ao resultado apropriativo, é
suficiente para o preenchimento do tipo, não tem que ser realizada, mas o ilícito
não se verifica sem a “ilegítima intenção de apropriação”. Cf. a figura que se
segue.
Elementos objectivos
Elementos subjectivos Dolo Intenção de apropriação
Estrutura do crime de furto: "incongruência" entre o tipo
objectivo e o tipo subjectivo
Isto significa que a consumação se verifica mesmo que o crime se não
mostre exaurido, isto é, mesmo que o plano do agente não resulte integralmente
cumprido, porque, por hipótese, a coisa foi subtraída mas o ladrão não
conseguiu apropriarse dela, como era seu objectivo. A distinção entre a
consumação e o exaurimento (esgotamento) nos crimes de furto releva para a
boa compreensão de que esses dois momentos não têm necessariamente que
coincidir. Em muitos casos ocorrerá a terminação ou consumação material, ou
M. Miguez Garcia. 2001
379
seja, a plena realização do objectivo pretendido pelo agente, mas ela não é
necessária, já que a norma se basta com a consumação formal ou jurídica.
Podemos então concluir que a terminação ou consumação material do
crime (crime exaurido) constitui uma fase do crime posterior à sua consumação.
Assim sendo, repudiase a tese da posse pacífica. A consumação é formal ou
jurídica. O que significa, nomeadamente, que não é necessário à consumação do
furto que o agente tenha o objecto furtado em pleno sossego ou em estado de
tranquilidade, embora transitório. Significa, também, por isso mesmo, que a
circunstância de ser muito curto o tempo de duração da situação de violação do
poder de facto sobre a coisa, ou seja, de decorrerem poucos minutos até as
coisas furtadas serem apreendidas ao ladrão, retiradas da sua posse e
devolvidas ao seu proprietário, é irrelevante (acórdão do STJ de 29 de Janeiro
de 1997, BMJ463319).
CASO nº 16B. O crime de furto é instantâneo? A e B, de harmonia com o
plano que conjuntamente conceberam, entraram no estabelecimento comercial, e enquanto um
distraia a mulher do dono da loja, examinando determinados artigos, o outro levou para a
cabine de provas determinados blusões que meteu dentro de um saco. Quando se dirigiam
para fora do estabelecimento, o que ia à frente alertou o outro, que vinha atrás, da chegada da
polícia, pelo que este retrocedeu para a cabina onde procurou desembaraçarse dos blusões
subtraídos. Acórdão do STJ de 13 de Janeiro de 1988, BMJ373279.
Pôese de novo a questão: furto consumado ou simplesmente tentado?
O Supremo começou por considerar: logo que a coisa subtraída passa da
esfera do poder do agente, o crime temse por consumado, nesse momento se
verificando o evento jurídico ou lesão do interesse tutelado (“o crime de furto é
instantâneo”). A e B conseguiram apropriarse subrepticiamente dos nove
blusões que colocaram e esconderam dentro do saco apreendido, e, quando se
encaminhavam para a saída do estabelecimento, deuse o aparecimento da
polícia, o que fez retroceder aquele que trazia o saco. A actuação dos agentes
preencheu todos os elementos do tipo de furto, e portanto a consumação do
crime teve lugar. (...) Ao lado da consumação jurídica ou formal falam os
autores na terminação ou consumação material do delito (crime exaurido),
como constituindo uma fase do crime ulterior à consumação. A consumação
material consistirá na produção de todos os efeitos ou consequências que, não
sendo embora exigidos como elementos essencciais do tiipo legal do crime,
constituem a plena realização do objectivo pretendido pelo agente. (...) Não é
por conseguinte necessária à consumação do furto que o agente tenha o objecto
furtado em pleno sossego ou em estado de tranquilidade, embora transitório.
Qual vai ser a evolução jurisprudencial? Seguindo a jurisprudência que tem por
dominante, o recente acórdão do STJ de 16 de Janeiro de 2002, CJ 2002, tomo I, p. 170,
M. Miguez Garcia. 2001
380
introduzlhe porém algumas precisões: tem de haver um mínimo de tempo que permita dizer que
um efectivo domínio de facto sobre a coisa é levado a cabo pelo agente, mas sem defender que tal
domínio se opere “em pleno sossego ou em estado de tranquilidade”. O acórdão tem dois votos de
vencido, um deles defendendo a posição da consumação instantânea.
O acórdão do STJ de 27 de Março de 2003, CJ 2003, tomo I, p. 237, entendeu que o
crime de furto de consuma quando o agente se consegue afastar da esfera de actividade
patrimonial, de custódia ou de vigilância do dominus, ainda que, perseguido, venha a ser
despojado. O furto é consumado e qualificado quando o agente, após escalar a varanda de
uma residência, penetrou ne mesma e, ali, retirou dos quartos diversos objectos, que colocou
nos bolsos, e uma faca, que escondeu nas costas presa ao cinto, depois do qiue veio a ser
surpreendido na sala por duas pessoas que ali se deslocaram.
VI. Qual o interesse prático de tudo isto? Considerese o seguinte:
- A pena da tentativa é especialmente atenuada (artigo 23º, nº 2) sem os
constrangimentos do artigo 72º — atenuação especial obrigatória —,
portanto, não é indiferente serse punido por tentativa ou por crime
consumado de furto.
- A tentativa deixa de ser punível, nos termos do artigo 24º, nº 1, quando o
agente desistir de prosseguir na execução do crime, ou impedir a
consumação. Poderá afirmarse que o furto é, estruturalmente, um crime de
“tentativa”? Será o furto um crime “instantâneo”, como se diz num dos
acórdãos acima citados?
- Até quando se poderá verificar a (co)autoria sucessiva? Falase de autoria
sucessiva quando um dos coautores toma parte no facto só depois de este se
encontrar já parcialmente realizado (considerese o furto por etapas: há 40
aparelhos de televisão para furtar, o ladrão traz sozinho os 20 primeiros mas
depois mobiliza a ajuda dum amigo). Discutese se os actos anteriores
podem ser imputados ao autor sucessivo, que assim ficaria também
responsável pela totalidade do ilícito
- Poderá haver cumplicidade (artigo 27º) quando o furto já está juridicamente
consumado (mas ainda não exaurido)? Sabendose que a cumplicidade
consiste num auxílio, confronte agora a hipótese com o “auxílio material” do
artigo 232º. Cf. também o “favorecimento pessoal” do artigo 367º (... com
intenção ou com consciência de evitar que outra pessoa, que praticou um crime...).
Reparese que nem o “auxílio material” nem o “encobrimento” que é
“favorecimento pessoal” contribuem para o ilícito anteriormente realizado
— não constituem uma forma de “participação”, são crimes autónomos.
M. Miguez Garcia. 2001
381
- Até quando se aplica a circunstância qualificativa do furto da alínea f) do nº
2 do artigo 204º (...trazendo, no momento do crime, arma aparente ou oculta).
Qual é este “momento do crime”?
- Sabendose que o proprietário da coisa pode reagir em legítima defesa
(artigo 32º), até quando poderá legitimamente fazêlo? Deve terse em
atenção a permanência da agressão no caso do ladrão que vai a fugir com o
produto do furto. No que toca aos crimes patrimoniais, a doutrina
geralmente entende que a agressão permanece enquanto se não der o
esgotamento, terminação ou consumação material, independentemente da
consumação formal ou jurídica (Kühl, Jura 1993, p. 62). Segundo Iglesias Río,
nos crimes contra a propriedade, como o furto — cuja forma de execução
possibilita a protecção defensiva, mesmo depois de se dar a consumação do
facto delitivo concreto — a agressão será actual enquanto o ladrão não tiver a
coisa subtraída em pleno sossego, enquanto não dispuser pacificamente do
produto do furto, quer dizer: até que a lesão do direito de propriedade para
a vítima não seja irreversível. Por conseguinte, a vítima poderá perseguir, in
actu, o delinquente para recuperar o subtraído — justificandose que para
recuperar os bens ou valores se utilizem os meios da legítima defesa. (22)
- Vejase também o caso da violência depois da subtracção (artigo 211º), que
tem como elemento típico o “flagrante delito de furto”, e confronte esta
situação com a agravação pelo resultado prevista no nº 3 do artigo 210º,
onde a morte de “outra pessoa” resulta do “facto”. Neste último caso, a
formulação típica abrangerá ainda os eventos letais ocorridos após o
momento subtractivo?
- Como se conta o prazo de prescrição? Cf. os artigos 118º e 119º, nº 1.
- Recordese por último a questão do chamado “agente provocador”. O dolo
do instigador (artigo 26º) háde dirigirse à consumação do facto. Há quem
sustente que não é punível o “agente provocador” que determina outra
22
3 No entendimento do Prof. Figueiredo Dias, Textos, p. 177, releva "o momento até ao qual
a defesa é susceptível de deter a agressão, pois só então fica afastado o perigo de que ela possa vir a
revelarse desnecessária para repelir a agressão. Até esse último momento a agressão deve ser
considerada como actual. É à luz deste critério que devem ser resolvidos os casos que mais
dúvidas levantam neste ponto, os dos crimes contra a propriedade, nomeadamente o do crime de
furto. Ex.: A dispara e fere gravemente B, para evitar que este fuja com as coisas que acabou de
subtrair. Poderseá considerar a agressão de B como ainda actual? A solução não deve ser
prejudicada pela discussão e posição que se tome acerca do momento da consumação do crime
de furto. O entendimento mais razoável é o de que está coberta por legítima defesa a resposta
necessária para recuperar a detenção da coisa subtraída se a reacção tiver lugar logo após o
momento da subtracção, enquanto o ladrão não tiver logrado a posse pacífica da coisa".
M. Miguez Garcia. 2001
382
pessoa à prática do facto para a incriminar, com vontade de que o facto não
passe da tentativa. Mas a solução não é de acolher no nosso ordenamento
jurídico. É na Lei nº 101/2001, de 25 de Agosto (Regime jurídico das acções encobertas
para fins de prevenção e investigação criminal), que se estabelece o regime das acções
encobertas para fins de prevenção e investigação criminal, considerandose acções
encobertas aquelas que sejam desenvolvidas por funcionários de investigação criminal ou
por terceiro actuando sob o controlo da Polícia Judiciária para prevenção ou repressão dos
crimes indicados no mesmo diploma, com ocultação da sua qualidade e identidade. Visase
com elas a descoberta de material probatório. A identidade fictícia com que os agentes da
polícia criminal podem actuar é atribuída por despacho do ministro da Justiça, mediante
proposta do director nacional da PJ. O artigo 6º desta Lei trata de isentar de
responsabilidade o agente encoberto que, no âmbito de uma acção encoberta,
consubstancie a prática de actos preparatórios ou de execução de uma infracção em
qualquer forma de comparticipação diversa da instigação e da autoria mediata, sempre que
guarde a devida proporcionalidade com a finalidade da mesma. (23)
VII. A tentativa impossível e a tentativa de furto qualificado.
Consideremos algumas hipóteses jurisprudenciais de tentativa impossível.
Se o crime de furto não se consumar apenas por carência de objecto, mas esta não for
manifesta, a conduta do arguido é punida como tentativa, ainda que impossível (ac. da Relação
de Lisboa de 18 de Junho de 1996, CJ, ano XXI (1996), tomo 3, p. 148). Para que se verifique o
crime impossível, nos termos do artigo 23º, nº 3, do Código Penal, é essencial que a inexistência
do objecto do crime também seja manifesta. Por isso, existe tentativa punível de crime de furto
qualificado quando os agentes se deslocam ao local, entram no edifício forçando a porta de
entrada, com o propósito de se apropriarem de bens e dinheiros que ali encontrassem, o que
seria natural acontecer, e apenas o não fazem por eles ali não existiram (acórdão do STJ de 6 de
Abril de 1995, CJ, ano III (1995), t. I, p. 242). A inidoneidade do meio pode ser absoluta ou
relativa. A primeira existirá quando o meio for, por natureza, inapto para produzir o resultado.
A segunda verificase quando, sendo o meio em si mesmo inidóneo, ou apto, se torna inapto
para produzir o resultado. Ao exigirse no artigo 23º, nº 3, que a inaptidão do meio seja
manifesta, para que a tentativa não seja punível, temse em vista a inidoneiadde absoluta
(acórdão do STJ de 7 de Janeiro e 1998, CJ, 1998, tomo I, p. 151) . Para a punibilidade da
tentativa há que considerar o carácter externo da conduta e a sua apreensibilidade para a
23
4A respeito do agente provocador, cf., designadamente, acórdão do STJ de 20 de Fevereiro
de 2003, CJ 2003, tomo I, p. 210 (agente provocador e agente infiltrado, nulidade da prova); Germano
Marques da Silva, Bufos, infiltrados, provocadores e arrependidos. Os princípios democráticos
e da lealdade em Processo Penal, Direito e Justiça, 1995; Teresa Pizarro Beleza, “Tão amigos
que nós éramos”: o valor probatório do depoimento de coarguido no Processo Penal
português, Rev. Min. Público, 74; e Manuel Augusto Alves Meireis, O regime das provas
obtidas pelo agente provocador em processo penal, 1999. Outras designações não
necessariamente coincidentes: agente infiltrado; agente informador; homem de confiança;
agente policial encoberto, “agent provocateur”; “Lockspitzel; VMann (VLeute, VPersonen),
Verdeckte Ermittler; undercover agent”.
M. Miguez Garcia. 2001
383
generalidade das pessoas e que o juízo sobre a existência ou inexistência do objecto tem que
ser, em primeiro lugar, um juízo objectivo, pelo que não releva aquilo que o agente considera
existente ou inexistente. Todavia, tem de fazerse apelo, neste ponto, a uma ideia de
normalidade, segundo as aparências, que se baseia num juízo de prognose póstuma (Acórdão
do STJ de 28 de Fevereiro de 1996, CJ, ano IV (1996), tomo 1, p. 219).
Consideremos também hipóteses de furto tentado na sua forma
qualificada: Comete o crime de furto qualificado na forma tentada o arguido que se introduz
no interior de um café, tendo para o efeito rebentado a fechadura da porta do mesmo, com
intenção de daí retirar vários objectos e valores, fazendoos coisas sua. Só não concretizou os
seus intentos, por o alarme ter sido accionado (acórdão do STJ de 16 de Maio de 1996, processo
nº 293/96 3ª Secção, Internet). Cf. também o acórdão do STJ de 6 de Janeiro de 1993, BMJ423
166. Estando provado que os dois arguidos aprovaram entre si e decidiram apropriarse das
quantias monetárias que pudessem estar no interior do cofre do estabelecimento e, em
execução desse projecto conjunto e com esse objectivo, enquanto um procurava forçar a
fechadura da porta de entrada o outro vigiava a curta distância, tendo sido entretanto
surpreendidos e detidos por agentes policiais, não obsta à verificação do crime de furto, na
forma tentada, a circunstância de não terem ficado demonstrados, em julgamento, a existência
e o valor das quantias eventualmente guardadas no referido cofre, porquanto: a) é inegável que
os arguidos praticaram actos de execução; b) a inexistência dos valores a apropriar não era
manifesta; c) segundo as regras da experiência comum, era previsível que o cofre conteria
importâncias monetárias; d) os meios empregues pelos arguidos, nas exactas circunstâncias em
que actuaram, foram adequados a alcançar a apropriação, isto é, a preencher o tipo legal do
crime de furto; e) a falta de prova da existência e do valor das quantias monetárias
eventualmente guardadas no cofre apenas acarreta a impossibilidade de qualificação do crime
de furto tentado (acórdão da STJ de 7 de Junho de 1995, BMJ448115).
CASO nº 16C. A entra na casa de morada de B e introduzse no quarto de dormir, de
cujo armário vai tirando peças de roupa que estende no chão. A pretende levar consigo e
apropriarse unicamente das 3 ou 4 peças de roupa que mais lhe agradem, das muitas que tira
do armárioroupeiro, mas é surpreendido quando ainda havia muito para escolher.
Punibilidade de A?
VIII. Palavraschave, dicionário breve.
Subtracção; apropriação; intenção de apropriação; consumação; consumação formal
ou jurídica; terminação, consumação material ou exaurimento. Contrectatio,
apprehensio, ablatio, illatio; movere, tollere, amovere, auferre. Tentativa; tentativa
impossível; crime impossível. Invito domino (contra a vontade do titular do direito).
Res derelictae (coisa abandonada), res deperdita (coisa perdida), res nullius (coisa que
nunca pertenceu a ninguém). Animus rem sibi habendi (intenção de ter a coisa junto de
si), animus domini (intenção que tem o agente em tornar própria a coisa alheia).
M. Miguez Garcia. 2001
384
IX. Outras indicações de leitura.
• Prof. José de Faria Costa, Conimbricense II; do comentário ao artigo 203º: tutelase “a
detenção ou mera posse como disponibilidade material da coisa; como disponibilidade da
fruição das utilidades da coisa com um mínimo de representação jurídica. Desta forma
percebemos o furto como uma agressão ilegítima au estado actual das relações, ainda que
provisórias, dos homens com os bens materiais da vida na sua exteriorização material”
(recordar as concepções jurídicofuncionais do património). “Ilegítima intenção de
apropriação”: “privilegiamos, aqui, o lado em que a intenção é vista como “intenção de
(des)apropriação (S/S Eser, cit. 46); elemento que “deve ser visto e valorado como a vontade
intencional do agente de se comportar, relativamente a coisa móvel, que sabe não ser sua,
como seu proprietário, querendo, assim, integrála na sua esfera patrimonial ou na de outrem,
manifestando, assim, em primeiro lugar, uma intenção de (des)apropriação”. “Subtracção
traduzse em uma conduta que faz com que a coisa saia do domínio de facto do precedente
detentor ou possuidor. Implica, por consequência, a eliminação do domínio de facto que
outrem detinha sobre a coisa”, não sendo de exigir a ablatio “para que se preencha o elemento
típico da infracção”.
• Acórdão da Relação de Évora de 14 de Julho de 1992, CJ, ano XVII (1992), tomo IV, p. 314:
intenção de apropriação; não é autor de crime de furto o pastor que leva 4 ovelhas para sua
casa e se recusa a entregálas ao respectivo proprietário enquanto não for pago pelos serviços
prestados.
• Acórdão do STJ de 21 de Novembro de 1990, CJ 1990, tomo V, p. 8: Não passa de tentativa
de furto a actuação do agente que pretende subtrair porcos de uma pocilga e é surpreendido
com eles no corredor das instalações.
• Acórdão de 1 de Março de 2000, BMJ49558: com indicações sobre o momento
consumativo do crime.
• Acórdão do STJ de 19 de Setembro de 1990, BMJ399254: Há subtracção quando o agente
abriu a porta de um veículo automóvel de outrem, entrou nele, e se apoderou, sabendo que lhe
não pertenciam e que contrariava a vontade dos donos, uma carteira, que lhe foi retirada das
mãos pela dona quando já estava fora do veículo e se afastava.
M. Miguez Garcia. 2001
385
• Acórdão da Relação do Porto de 14 de Dezembro de 1988, BMJ382529: Comete o crime de
furto na forma consumada e não a simples tentativa o agente que, com intenção de o
integrar no seu património, se apodere de um ciclomotor, empurrandoo pelo guiador durante
alguns metros, vindo então a ser impedido por vários populares que observavam a sua
actividade.
• Acórdão do STJ de 14 de Abril de 1993, in Simas Santos e Leal Henriques, Jurisprudência
Penal, p. 553: Quando os agentes retiram materiais das instalações da ofendida e os carregam
no exterior, na viatura que queriam utilizar para os levar, fica consumado o crime de furto.
• Acórdão STJ de 14 de Abril de 1993, BMJ426180: O crime de furto consumase com a
violação do poder de facto de guardar ou de dispor da coisa que sobre ela tem o seu
proprietário ou detentor e com a substituição desse poder pelo do agente, independentemente
de a coisa ficar ou não pacificamente, por mais, ou menos tempo, na posse do agente. Tendo os
agentes firmado o projecto de subtrair determinada quantidade de materiais, e desenvolvendo
de facto tal actuação, consumase o crime de furto relativamente à quantidade dos materiais
efectivamente subtraídos. Consumado um crime de furto com a subtracção dos materiais já
recolhidos pelos arguidos, não se poderá já falar de tentativa do mesmo crime relativamente à
parte dos materiais ainda não recolhidos que os arguidos tenham projectado subtrair.
• Acórdão do STJ de 12 de Fevereiro de 1998, CJ, 1998, tomo 1, p. 208: arguido que entra
numa residência pela janela, pega em anéis e pulseira, colocaos no interior das meias e é
surpreendido pelos proprietários.
• Lopes de Almeida et al., Crimes contra o património em geral, s/d.
• Actas das sessões da Comissão revisora do Código Penal, PE, ed. da AAFDL, 1979.
• António Miguel Caeiro Júnior, Algumas considerações sobre o objecto jurídico no crime de
furto, BMJ185.
• Antonio Quintano Ripollés, Tratado de la Parte Especial del Derecho Penal, tomo II, 2ª ed.,
Madrid, 1977.
• Bajo Fernández et al., Manual de Derecho Penal, Parte especial, delitos patrimoniales y
económicos, 1993.
• Bajo Fernández, A reforma dos delitos patrimoniais e económicos, RPCC 3 (1993), p. 499.
• Candido CondePumpido Ferreiro, Apropiaciones indebidas, 1997.
M. Miguez Garcia. 2001
386
• Carlos Alegre, Crimes contra o património, Revista do Ministério Público, 3º caderno.
• Carlos Codeço, O Furto no Código Penal e no Projecto, 1981.
• Código Penal, Actas e Projecto da Comissão de Revisão, 1993.
• Cunha Rodrigues, Os crimes patrimoniais e económicos no Código Penal Português,
RPCC, 3 (1993).
• David Borges de Pinho, Dos Crimes contra o Património e contra o Estado no novo Código
Penal.
• Jorge de Figueiredo Dias, Algumas notas sobre o crime de participação económica de
funcionário em negócio ilícito, previsto pelo artigo 427º, nº 1, do Código Penal, RLJ, ano 121º, nº
3777, p. 379.
• Jorge de Figueiredo Dias/M. Costa Andrade, O crime de fraude fiscal no novo direito
penal tributário português (Considerações sobre a Faculdade Típica e o Concurso de
Infracções), RPCC 6 (1996), p. 71.
• José António Barreiros, Crimes contra o património, 1996.
• LealHenriques Simas Santos, O Código Penal de 1982, vol. 4, Lisboa, 1987.
• Luis Osório, Notas ao Código Penal Português, vol. 4º, 1925.
• M. Maia Gonçalves, Código Penal Português, 8ª ed., 1995.
• MansoPreto, Novos aspectos da punição do crime de furto segundo o projecto de revisão
do Código Penal de 1982, RPCC 4 (1991).
• Mercedes García Arán, El delito de hurto, Valencia, 1998.
• Muñoz Conde, Derecho Penal, Parte especial, 8ª ed., 1990.
• Muñoz Conde, Derecho Penal, Parte especial, 11ª ed. revisada e puesta al día conforme al
Código Penal de 1995, 1995.
• Pedro Caeiro, Sobre a natureza dos crimes falenciais (o património, a falência, a sua
incriminação e a reforma dela), 1996.
• Silva Ferrão, Theoria do Direito Penal applicada ao Código Penal Portuguez, vol. VIII,
1857.
• T.S.Vives, Delitos contra la propiedad, in Cobo/Vives, Derecho Penal, PE, 3ª ed., 1990.
• V. Manzini, Trattato di Diritto Penale Italiano, vol. 9, 1984.
M. Miguez Garcia. 2001
387
§ 17º O furto (continuação). Questões de valor.
I. Furto qualificado; valor da coisa subtraída; cláusula de desqualificação.
• CASO nº 17: Um caso de furto e de sucessão de leis no tempo. Entre Outubro
de 1988 e Janeiro de 1989, A, que trabalhava como empregada doméstica do casal B e
C, gozando de inteira liberdade de movimentos dentro da residência destes, subtraiu
dali uma cassete vídeo — cujo valor comercial era de 1500$ — com gravações da vida
sexual de B e C, seu marido.
Os factos ocorreram no domínio do Código Penal de 1982. Dandose a
circunstância qualificativa do artigo 297º, nº 1, alínea f), por ser a coisa
"particularmente acessível ao agente", o Supremo, por acórdão de 6 de
Novembro de 1996, CJ, ano IV (1996), t. 3, p. 187, aceitou como válida a
discussão sobre o valor da cassete, no sentido de apurar se o furto cometido por
A deveria, ou não, ser desqualificado, aplicandose o nº 3 do artigo 297º. A
cassete tinha, com efeito, um "valor material" insignificante, mas, para os
lesados, o seu conteúdo era de "valor inestimável", e este equivalia ao específico
valor que A quis subtrair.
Artigo 297º, nº 3, do Código Penal de 1982: "Se a coisa for de insignificante valor, não haverá
lugar à qualificação".
Artigo 204º, nº 4, do Código Penal revisto em 1995: "Não há lugar à qualificação se a coisa
furtada for de diminuto valor".
A primitiva versão do Código não dispunha, com efeito, de qualquer
definição do que fosse o valor insignificante da coisa subtraída, dando azo à
afirmação de que valor insignificante é o que não tem significado, o que é
irrelevante, mas permitindo, em sentido inverso, como no nosso caso, que a
"inestimabilidade" do dano produzido na esfera do lesado servisse, porventura,
como critério amplificador da situação. Depois da revisão de 1995, deixou de se
falar em "valor insignificante", sucedendolhe o "diminuto valor" da coisa, que
M. Miguez Garcia. 2001
388
ficou condicionado pela definição do artigo 202º, alínea c), como sendo aquele
que não exceder uma unidade de conta (UC). Agora —e não obstante
sustentarem alguns autores que o valor não é elemento do furto simples— o
aplicador do direito tem sempre que decidir qual o valor, expresso em unidades
de conta, da coisa objecto do furto. Nessa medida, a circunstância de a cassete
ser de "valor inestimável" para o casal é transcendida pela imposição normativa
do critério de avaliação pecuniária — valor de troca —, por referência à unidade
de conta (embora na fixação deste valor possam intervir considerações relativas
à pessoa do lesado, por exemplo, aspectos afectivos).
Em tema de sucessão de leis no tempo, o regime mais favorável para A
(artigo 2º, nº 4) é o da lei nova, que a protege contra "tentativas de valoração do
furto em função de critérios diferentes do utilizado na lei penal". A seria punida
por furto simples, tanto mais que a circunstância qualificativa derivada da
acessibilidade da coisa desapareceu do elenco das agravantes do furto.
No Código de 1982, o principal defeito que se apontava ao sistema dos
crimes patrimoniais era, com efeito, o da substituição das regras de tarifação,
que vinham do Código de 1886, por conceitos indeterminados como “valor
consideravelmente elevado”, “insignificante valor”, “pequeno valor”, “pequena
quantidade” ou “prejuízo patrimonial importante”. A jurisprudência ensaiou
vários critérios para a definição desses conceitos, como sejam, a actualização
dos valores em função da inflação, a comparação com os valores das alçadas
dos tribunais, a referência aos valores do salário mínimo nacional, etc.
Na revisão de 1995, optouse por uma definição quantificada dos conceitos de
valor "diminuto", "elevado" e "consideravelmente elevado". As referências são
feitas à “unidade de conta”, cujo valor é o estabelecido nos termos dos artigos
5º e 6º, nº 1, do DL nº 212/89, de 30 de Junho (cf. o artigo 3º da Lei nº 65/98, de 2
de Setembro, que altera o Código Penal). Com a inovação, ganhavase certeza e
conseguiase a almejada simplificação, mas logo se advertiu que as vantagens
esperadas de um tal sistema têm como contrapartida a maior complexidade do
sistema em matéria de aferição do dolo e do tratamento do erro.
M. Miguez Garcia. 2001
389
No texto saído da revisão, a norma base do furto, o artigo 203º, nº 1, não
faz depender a punição de um valor maior ou menor da coisa subtraída,
podendo afirmarse que o furto já não se pune agora em função da sua
quantidade, não estando a medida da pena, em regra, subordinada ao valor da
coisa subtraída. O Código quantifica o "valor elevado", o "valor diminuto" no
artigo 202º e utiliza a expressão "importante valor" na alínea d) do nº 2 do artigo
204º (furto qualificado), a par do "significado importante" e da natureza
"altamente perigosa" da coisa, nas correspondentes alíneas b) e c). Mas o critério
de qualificação utilizado na alínea i) do nº 1 ("deixando a vítima em difícil
situação económica") explicase, naturalmente, por diferentes considerações.
Outros casos de "subtracção" dispersos pelo Código fogem a considerações
típicas de "valor", como na "subtracção de documento" do artigo 259º, nº 1, e na
"subtracção de coisa ou documento colocado sob o poder público" do artigo
355º. Prevêse também a "subtracção de cadáver" no artigo 254º e a "subtracção
de menor" no artigo 249º, assim se transcendendo ou deslocando a noção de
coisa, típica dos crimes contra a propriedade.
No Código Penal de 1852, adoptavase o critério da quantidade real do
dano:
Silva Ferrão, p. 8, comentava: o Código Penal (de 1852) “adopta, em regra, para a determinação
da pena, a quantidade real do damno causado em dinheiro, com abstracção das
circunstancias da pessoa offendida pelo crime. Isto é visivelmente um erro, que conduz a
grandes injustiças. A quantidade do damno é sim um elemento para se proporcionar a
pena ao mal do crime; mas uma libra para o pobre, é maior damno, do que 50$000,
100$000 ou 200$000 réis para o rico.”
No Código Penal de 1886 continuou a adoptarse idêntico critério:
O artigo 421º do Código Penal português de 1886, após a Lei nº 2138, de 14 de Março de 1969,
ficou com a seguinte redacção: “Aquele que cometer o crime de furto, subtraindo
fraudulentamente uma coisa que lhe não pertença, será condenado: 1º A prisão até seis
meses e multa até um mês, se o valor da coisa furtada não exceder a 2.000$00; 2º A
M. Miguez Garcia. 2001
390
prisão até um ano e multa até dois meses, se exceder a esta quantia, e não for superior a
10.000$00; 3º A prisão até dois anos e multa até seis meses, se exceder a 10.000$00 e não
for superior a 40.000$00; 4º A prisão maior de dois a oito anos, com multa até um ano,
se exceder a 40.000$00 e não for superior a 1.000.000$00; 5º A prisão maior de oito a
doze anos, se exceder a 1.000.000$00.”
Em Espanha foi muito criticado pela doutrina o “sistema de cuantías” que
regia a matéria antes da reforma de 1983:
"A determinação da pena faziase em função do prejuízo ou do valor do objecto subtraído,
implicando uma atenção desmesurada ao desvalor do resultado e o desprezo pelos
elementos integradores do desvalor da acção. A pena era fundamentalmente
determinada em função do valor da coisa em pesetas. Deste modo, e a exemplo dos
crimes de lesão em que os resultados estão quantificados em função do tempo que a
vítima leva a curarse, a doutrina e a jurisprudência adquiriram a tendência para
objectivar a responsabilidade: a pena a impor seria função da prova do valor e só dele,
sem necessidade de se provar a relação entre o dolo e o resultado produzido. A
invocação do dolo eventual como solução para este pendor objectivo não impedia que na
prática a fundamentação jurídica se apoiasse na observação sumária de que o autor
pretendia obter “cuanto más mejor” (Bajo Fernandez, p. 42).
No Código Penal de 1982 — onde, como se disse, se abandonaram as
regras de tarifação em favor de cláusulas gerais de valor —, o valor da coisa
passou a qualificar o furto quando fosse consideravelmente elevado (artigo
297º, nº 1, a), correspondendolhe a moldura penal ampla de 1 a 10 anos de
prisão.
Com a Revisão — que abandonando conceitos indeterminados de valor
adoptou uma definição quantificada, sem contudo regressar ao modelo de 1886
M. Miguez Garcia. 2001
391
—, o tipo de furto qualificado segundo o valor da coisa passou a referirse a
dois escalões, o primeiro — que estabelece o contacto com o furto simples —, de
valor elevado (artigo 204º, nº 1, a), punido com pena de prisão até 5 anos ou
com pena de multa até 600 dias; o segundo, de valor consideravelmente elevado
(artigo 204º, nº 2, a), punido com pena de prisão de 2 a 8 anos.
Os conceitos de “valor elevado” e de “valor consideravelmente elevado”, referidos à unidade
de conta processual penal, tiveram consagração legislativa já na Lei da Criminalidade
Informática, Lei nº 109/91, de 17 de Agosto (artigo 2º, g) e h).
No Código actual, o tribunal, para a avaliação, deve ter em consideração o
valor económico, pecuniário ou de troca da coisa no caso concreto segundo o
juízo da generalidade das pessoas — ou de peritos, ou seja, o valor real ou
objectivo —, independentemente das situações económicas quer do agente,
quer do ofendido. Ressalvase, contudo, como já se viu, "o caso de o furto deixar
a vítima em difícil situação económica, circunstância essa que, por si só,
qualifica o furto, independentemente do valor da coisa” (Cons. MansoPreto, p.
556).
• No direito austríaco, em cujo código se adoptaram critérios de punição com base em
valores determinados para os casos mais graves, atendese à função da coisa no
património do lesado (C. Bertel/K. Schweighofer, Strafrecht, BT I, 3ª ed., 1993, p. 165;
Kienapfel, p. 78), o que quer dizer, desde logo, que não se aceita um valor
arbitrariamente atribuído por este: o critério de avaliação é objectivo. Também não se
acolhe o prejuízo total sofrido pela vítima. No valor da coisa não são por isso
incluídas as despesas feitas, por ex., com advogado, as perdas de tempo, os custos de
transportes com deslocações à polícia ou a tribunal, etc. Para o cômputo do valor não
importa que o lesado esteja especialmente dependente da coisa, ou que esta lhe seja
praticamente indiferente — porque por exemplo é uma pessoa de posses e a
subtracção representa pouco mais do que um beliscão no seu património. Como logo
se vê, tratase de situações bem diferente daquelas em que a vítima é deixada em
difícil situação económica.
M. Miguez Garcia. 2001
392
No direito português, tratandose de subtracção de coisa de "diminuto
valor" fica excluída a qualificação do furto (artigo 204º, nº 4), conquanto se
verifique qualquer outra circunstância modificativa agravante (introdução
ilegítima em habitação, fazendo da prática de furtos modo de vida, coisa que
por sua natureza seja altamente perigosa, trazendo arma aparente ou oculta no
momento do crime, etc.) Nos casos de não qualificação por força do valor
diminuto da coisa, o furto cai no âmbito do crime de furto simples (cf. Manso
Preto, p. 556). Cf., para o roubo, o artigo 210º, nº 2, alínea b).
O valor patrimonial é necessário para que a conduta possua dignidade
penal? O valor é elemento do furto simples? Como já vimos nas notas sobre o
conceito jurídicopenal de património, para alguns autores nada impede que
uma coisa sem valor patrimonial seja objecto de crime. Dizse que nos tipos
penais simples dos crimes patrimoniais nunca se faz referência a qualquer
exigência de pecuniaridade da coisa, abrangendo coisa com simples valor
afectivo. O que estará em causa é o valor para a pessoa, de que o valor
económico faz parte. Mesmo assim há quem sustente que o valor é elemento do
furto simples, já que o referido nº 4 do artigo 204º desqualifica o furto
qualificado quando a coisa for de diminuto valor (cf. Faria Costa, Conimbricense,
p. 45).
• Não estando minimamente identificados os bens subtraídos pelo arguido, sendo, por isso,
desconhecidos os respectivos valores e insusceptíveis de determinar pela factualidade
provada, e quando as regras da experiência indicam que o produto do furto não é
necessariamente superior a um unidade de conta, há que considerar que ele é de
valor diminuto face ao princípio in dubio pro reo, não havendo lugar à qualificação
do mesmo, nos termos do art.º 204, n.º 4, do CP. Ac. do STJ de 13051998 Processo n.º
171/98 3.ª Secção
A propósito do furto de uso. No furto, o agente, ao apropriarse da coisa,
exprime ou confirma a intenção de passar à posição jurídica do proprietário (se
ut dominum gerere), isto é, exprime a sua intenção de excluir o poder fáctico do
lesado e, do mesmo passo, a sua própria vontade de domínio completo sobre
uma coisa alheia. O sentido dessa apropriação é diferente, por um lado, da
simples possibilidade de uso da coisa, como quando alguém entra no
automóvel alheio e o conduz, sem estar autorizado, em breve passeio, após o
que o restitui (furtum usus). É diferente, por outro, da subtracção da coisa para a
M. Miguez Garcia. 2001
393
destruir (dano?), ou simplesmente para desapossar dela o proprietário, como
quando alguém intencionalmente tira da gaiola o pássaro do vizinho e o deixa
fugir: actuação não punível pelo direito penal, a menos que se possa afirmar o
dano — pensese em que tudo acontece numa noite gelada, sabendo o agente
que o pássaro necessariamente vai morrer.
As ideias de apropriação e da correspondente intencionalidade são a ponte
que o Direito Penal lança para distinguir o furto de outras situações
subtractivas, que inclusivamente podem ficar impunes. Na apropriação, o que
se discute, sobretudo na doutrina e jurisprudência alemãs, é se o
correspondente objecto (objecto da apropriação) é a coisa em si mesma ou o seu
valor. No fundo, quando se tratou do caso da cassete vídeo, deparámos com um
problema cujos contornos se desenham nesta área.
Segundo a "teoria da substância", objecto da apropriação só pode ser a
coisa “em si mesma” não se tem em vista o respectivo valor económico. Os
seus partidários vêem a coisa, digamos assim, com os olhos do "fetichista". Tal
como parece decorrer da letra da lei, a coisa é subtraída na sua substância física
e corpórea, independentemente da utilidade que presta ao agente da infracção
ou do prejuízo que efectivamente acarreta ao ofendido. Alguém apropriase de
uma coisa para a possuir, para a consumir, para a vender, etc.
A "teoria do valor objectivo" representa a confirmação da vontade de obter
o valor económico incorporado na coisa.
A "doutrina da unificação", que colhe o aplauso geral, admite a teoria do
valor como complementar da teoria da substância, em cujos parâmetros se
poderão resolver boa parte dos problemas que se suscitam nesta área. Em geral
podemos concluir que o objecto da apropriação é a própria coisa ou o valor
nela incorporado (conjugação da teoria da substância com a teoria do valor da
coisa).
• A discussão em apreço ganhava um especial relevo quando não havia disposição penal a
castigar certos casos de furto de uso. A definição decorrente da teoria da substância,
explica o Prof. Cavaleiro de Ferreira (parecer, Caso Champalimaud, exemplar
dactilografado, 1961), impedia a punição do “furtum usus”. “Então, parte da doutrina
alemã, mormente durante o período em que a analogia na incriminação era
permitida, tentou quebrar a rigidez das fórmulas legais, definindo o objecto do crime
M. Miguez Garcia. 2001
394
de furto e abuso de confiança em termos idênticos aos que eram apenas aceitáveis
para o crime de dano. E numa orientação radical, tentou como que apagar as
fronteiras entre os vários crimes patrimoniais, escogitando para todos eles um objecto
jurídico comum, precisamente o património. Os crimes patrimoniais lesariam o
património alheio, de modo que o prejuízo causado a esse património constituiria o “valor”
da lesão. Desta forma, praticamente, a responsabilidade penal como que cobriria a
responsabilidade civil dolosa de carácter patrimonial, e os crimes contra o património
dirseia unificaremse num conceito de locupletamento à custa alheia, de natureza
dolosa.” Tal teoria, diz ainda o Prof. Cavaleiro de Ferreira, "tenta por isso a extensão
da punibilidade à apropriação do uso. O êxito da doutrina durante o período nazi
devese à tendência oficial para a extensão das incriminações, à sua aplicação
analógica consoante “o são sentimento do povo alemão”. Mais recentemente, a teoria
tem sido fortemente criticada e dela quedou apenas uma função subsidiária,
complementar da teoria da substância, ora dominante. Na Alemanha, aceitase
frequentemente a possibilidade de correcção da teoria da substância pela do valor.”
Cf. também H. Welzel, p. 340 e s.
Quer dizer: toda e qualquer extensão dos pontos de vista do valor para
além duma certa fronteira elimina as barreiras entre os diversos crimes,
incluindo os realizados com ânimo de enriquecimento, como a burla, ficando o
furto descaracterizado nos seus contornos. A teoria da unificação, mesmo
reduzida à sua aplicação subsidiária, veio atalhar alguns dos inconvenientes
referidos.
• Há cerca de meio século, o Prof. Eduardo Correia, partindo da ideia de que a não punição
do furto de uso constituía uma importante lacuna no panorama penal português,
defendeu a adopção da "teoria do valor": no crime de furto, o objecto da apropriação
não é a substância corpórea, mas sim o valor da coisa, "na sua qualidade como meio
para a satisfação das necessidades humanas". Deste modo, quem subtraísse uma coisa
apenas com intenção de a utilizar, restituindoa depois, cometeria um crime de furto
de uso previsto no artigo 421º do Código Penal de 1886, já que "a apropriação de uma
só utilidade que seja de certa coisa é já apropriação" e a "punição correspondente há
de proporcionarse ao valor, se o tiver, dessa aptidão que se consumiu, ou daquilo de
M. Miguez Garcia. 2001
395
que, em substituição do proprietário, outrem se aproveitou". Cf. E. Correia, A teoria
do concurso em direito criminal, 1963, p. 142; Frederico da CostaPinto, Furto de Uso de
Veículo, 1987, p. 30.
De forma incidental, o acórdão do Supremo que justifica estas notas alude à
"teoria da unificação". Aí se diz, também com referência ao direito alemão, que
"a apropriação constitui o elemento subjectivo da infracção, no sentido de que o
agente deve actuar com intenção de fazer sua a coisa subtraída, intenção essa
que consiste na vontade de incorporar no seu património a coisa em si ou o
valor que a mesma representa."
CASO nº 17A. Há casos em que a subtracção se exerce sobre uma coisa
e a intenção apropriativa está virada para outra. A, sem autorização, apoderase da
bateria eléctrica de B unicamente para a utilizar no seu automóvel enquanto se desloca a
Coimbra. Logo que regressa, repõe a bateria no local donde a retirara.
A questão anteriormente colocada terá hoje, no direito nacional, reduzida
expressão e mesmo pouco interesse, nomeadamente, porque já estão
solucionados os contornos normativos do furto de uso, mas a incursão nestas
teorias ajuda também a compreender melhor algumas das situações
relacionadas com o valor da coisa em si (lucrum ex re) e com o benefício
derivado do seu uso (lucrum ex negotium cum re). Na verdade — recordese —,
pode bem acontecer que a subtracção se exerça sobre uma coisa e a intenção
apropriativa esteja virada para outra: o objecto da subtracção será um, o da
apropriação outro completamente diferente. Mas, se A se apodera da bateria
eléctrica de B unicamente para a utilizar no seu automóvel enquanto se desloca
a Coimbra e, logo que regressa, a repõe no local donde a retirara, ninguém
sustentará a tese do furto da coisa. Como no nosso direito só se pune o furto do
uso de veículos, a situação ficará à margem de qualquer sanção penal. Todavia,
se A subtrai uma disquete de computador com um estudo científico altamente
inovador da autoria de B, fazendo uma cópia de todo o conteúdo da disquete,
que volta a colocar no lugar donde a tirara, a impunidade da situação, na falta
de norma especial (veja, porém, agora, o artigo 221º, nº 1, do Código Penal, e as
normas pertinentes do Código do Direito de Autor) fere certamente o nosso
sentimento jurídico. Por isso mesmo se inclinam alguns para ver no uso
M. Miguez Garcia. 2001
396
prolongado de uma coisa a manifestação da intenção de apropriação por parte
do agente, como quando A subtrai os esquis de B, no fim da época de inverno
— não obstante a intenção de lhos devolver no início da época seguinte —,
obrigando B a comprar novo equipamento.
• CASO nº 17B: A tira o cartão "multibanco" dum amigo e, conhecedor do código
respectivo, sem estar autorizado, consegue sacar algum dinheiro num caixa
automático, após o que volta a colocar o cartão no sítio donde o tirara.
Punibilidade de A?
• CASO nº 17C. A — que perdeu o seu cão de estimação — põe um anúncio no jornal
oferecendo alvíssaras a quem lho entregar. B — que se inteirara da oferta — encontra
o cão esfaimado e recolheo para o alimentar e entregar logo que possa. C — que de
tudo se deu conta — subtrailhe o animal, dirigese com ele a casa de A, a quem o
devolve dizendose seu achador e recebe a recompensa.
O comportamento de C preenche o tipo objectivo do furto, mas C não tem
em vista apropriarse do cão: o que C quer é um “lucrum exnegotio cum re”.
Ora, o furto é um crime contra a propriedade, não é um delito de
enriquecimento. C não se apropriou da coisa (cão) nem do respectivo valor,
pelo contrário, queria simplesmente utilizar o cão [para cometer uma burla?],
retirando um lucro do negócio com a coisa.
II. Um caso de furto privilegiado.
• O art.º 206 do CP, contém um verdadeiro furto privilegiado, criado no sentido de
estimular a restituição da coisa furtada e a extinção do dano, o que se justifica dada
a sua grande eficácia social e o seu alto interesse de contribuir eficazmente para a
defesa da propriedade. Num Código Penal como o vigente, em que a raiz da censura
é a culpa, a atenuação prevista no citado artigo deve justificarse numa diminuição
desta ou na redução da ilicitude. Ora, se tais circunstâncias podem ocorrer quando
tem lugar a restituição voluntária pelo agente, ou a reparação do dano quando tal
restituição não seja possível, já o mesmo não se poderá concluir, sem mais, quando a
recuperação dos objectos foi antes devida à acção da PSP. A lei é clara no sentido de
M. Miguez Garcia. 2001
397
que não basta a ocorrência das circunstâncias enumeradas no n.º 2, do art.º 72, do
CP, para efeito de atenuação especial. Esta só poderá ocorrer se se verificar
diminuição acentuada da ilicitude do facto, da culpa do agente ou da necessidade da
pena. Acórdão do STJ de 25021998 Processo n.º 1333/97 3.ª Secção.
III. Relação de propriedade, relação de gozo.
• No crime de furto, frequentemente acontece coincidirem na vítima "as qualidade de
proprietária e fruidora do gozo (posse e mera posse) atinente à utilidades da coisa",
mas em muitos casos verificase "uma separação ou um corte, juridicamente aceite e
até tutelado, entre aquelas duas qualidades. Daí que em termos de lógica material, e
não na base de uma pura e estéril relação jurídica formal, custe a admitirse que, se
entre o que tem a coisa e a própria coisa existe tãosó uma relação de mera posse, se
diga que o bem jurídico violado tenha sido a propriedade. Quem é ofendido na
fruição das utilidades que da coisa podem ser retiradas é, na hipótese anterior, o
mero possuidor. Daí que a relação jurídicopenalmente relevante seja a relação de
gozo". Cf. José de Faria Costa, Conimbricense, II, p. 31. Sendo actualmente o crime de
furto simples de natureza semipública (artigo 203º, nºs 1 e 3, e 113º e ss.), para efeitos
de legitimidade quanto ao exercício do direito de queixa, na questão da titularidade
do interesse o que conta é a disponibilidade da fruição das utilidades da coisa com
um mínimo de representação jurídica (vd. desenvolvimentos no comentário citado
do Prof. Faria Costa).
IV. Indicações de leitura
• Como tratar o caso da cautela furtada (valor: 5 euros), a que depois cabe o primeiro prémio
da lotaria: Serano Gómez, Derecho Penal, Parte especial, II (1), Delitos contra el patrimonio,
p. 354.
• Acórdão do TC nº 232/2002 de 28 de Maio de 2002, DR II série de 18 de Julho de 2002:
valor consideravelmente elevado. Unidade de conta processual.
M. Miguez Garcia. 2001
398
• Acórdão da Relação de Lisboa de 3 de Novembro de 1999, CJ ano XXIV (1999), tomo V, p.
135: valor consideravelmente elevado; o artigo 202º, b), do CP95 assume o valor de norma
interpretativa e, portanto, não é uma norma apenas válida para futuro.
• Acórdão do STJ de 21 de Abril de 1999, BMJ486132: não constando do elenco dos factos
provados a menor referência ao valor dos bens objecto da tentativa de furto, o princípio
geral do favorecimento do arguido não consente que se lhe atribua outra definição para
além da de valor diminuto. E sendo assim, face à norma do artigo 204º, nº 4, não pode
subsistir a designação do ilícito como furto qualificado, tendo de concluirse pela prática
dum crime de furto simples sob a forma tentada.
• Acórdão do STJ de 27 de Abril de 2000, BMJ49651: burla, valor consideravelmente
elevado.
• Antonio Pagliaro, Principi di Diritto Penale, Parte speciale, 7ª ed., 1995, p. 55
(especialmente sobre as teorias da substância e do valor).
• Manuel Simas Santos, Roubo qualificado, introdução em casa alheia, coisa de valor não
apurado, desqualificação do roubo, anotação ao acórdão do STJ de 17 de Dezembro de
1997, RPCC 8 (1998), p. 501.
• Paolo Veneziani, Furto d'uso e principio di colpevolezza, RIDPP 1990.
M. Miguez Garcia. 2001
399
§ 18º O furto qualificado
I. Furto qualificado. Furto em veículo; furto de coisa móvel fechada em
automóvel; tentativa.
• CASO nº 18: A foi surpreendido pela polícia no interior do automóvel de B. Para entrar,
A rebentou a fechadura da porta do carro, provocandolhe danos. A agiu com
intenção de se apropriar de um autorádio e das respectivas colunas, tudo com o
valor de 60 contos, instalados no carro, sabendo que nada disso lhe pertencia e que
agia contra a vontade do dono. A só não levou a cabo os seus intentos por ter sido
surpreendido.
Punibilidade de A ?
1. Furto simples, tentado (artigos 22º, 23º, 73º e 203º, nºs 1 e 2).
A cometeu, pelo menos, um crime de furto na forma tentada: A quis
apropriarse do rádio e das colunas, sabendo que eram alheios e que não tinha
autorização do dono. Para tanto entrou no automóvel, rebentando a fechadura
da porta e só não conseguiu os seus intentos por ter sido surpreendido pela
polícia.
Resta saber se se trata de furto simples (artigos 22º, 23º, 73º e 203º, nºs 1 e
2), punido com recurso à moldura penal da tentativa, e dependente de queixa
(artigo 203º, nº 3), ou se o furto é qualificado por qualquer das circunstâncias do
artigo 204º: prisão até 5 anos ou multa até 600 dias (1º nível de agravação);
prisão de 2 a 8 anos (2º nível de agravação), mas sempre com recurso à
atenuação especial.
2. Furto qualificado tentado (artigos 22º, 23º, 73º, 203º e 204º, nº 1, alínea b)?
"Quem furtar coisa móvel transportada em veículo...". Nesta alínea — nº 1,
b) — exigese que a coisa móvel alheia seja transportada em veículo, o que
significa a necessidade de uma relação de transporte, que o veículo sirva ao
transporte do objecto subtraído. Não basta o facto de os objectos subtraídos
terem sido simplesmente deixados dentro do veículo. Assim, esta alínea não
abrange a subtracção de peças ou acessórios dos veículos, como por exemplo as
baterias (acórdão da Relação de Coimbra de 12 de Novembro de 1986, BMJ361
M. Miguez Garcia. 2001
400
617). A subtracção de um triângulo de présinalização de dentro do porta
bagagem de um veículo pertencente a outrem não integra o crime de furto
qualificado, por não ser coisa ou mercadoria por ele transportada (acórdão. do
STJ de 25 de Novembro de 1993, CJ, ano I (1993), p. 248). A qualificativa do
artigo 204º, nº 1, alínea b),, apenas abrange as coisas móveis que se encontram
numa relação de transporte com um veículo automóvel, e não noutra conexão
com este, como sucede quando o objecto foi deixado no veículo (acórdão do STJ
de 8 de Maio de 2003, CJ 2003, tomo II, p. 177).
• "Apesar das diferenças de situações pressupostas nos diversos segmentos da norma [204º,
nº 1, alínea b)], toda ela visa a protecção do bem jurídico da livre disponibilidade da
fruição das utilidades das coisas móveis transportadas em veículo, quer sejam
subtraídas directamente deste, quer o sejam de depósito de objectos transportados ou
a transportar em veículo, quer, no caso de os sujeitos passivos serem passageiros
utentes de um transporte colectivo mesmo que a subtracção tenha lugar na estação,
gare ou cais. Elemento comum às diversas situações típicas é pois que a coisa móvel
se encontre numa relação de transporte com um veículo e não numa qualquer outra
relação com este, designadamente a derivada da circunstância de a coisa móvel ter
sido deixada no veículo. A letra da lei logo aponta para ser esse o sentido, pois não
seria a expressão mais adequada se se pretendessem incluir na previsão outras
situações como a de objectos deixados n interior do veículo sem relação directa com a
sua função de transporte de objectos ou de passageiros com objectos. (...) As razões
da agravação parecem residir na acentuada maior fragilidade da possibilidade de
guarda segura das coisas transportadas, resultante do entrecruzar dos vários factores
que diminuem o grau de eficácia das defesas normais desse poder de guarda com os
relativos ao aumento da intensidade e da possibilidade de êxito das acções contra
esse património, por virtude da existência dessa maior fragilidade e seu
conhecimento por parte dos eventuais agentes. E ainda pela ideia tradicional da paz
dos caminhos." Acórdão do STJ de 1 de Março de 2000, CJ 2000, ano VIII, tomo I, p. 216.
• Lechat: no veículo em movimento (por ex., comboio de mercadorias), os ladrões operam
normalmente em grupo, durante a noite. Nos comboios estacionados, o furto pelo
pessoal é raro, mas frequente o cometido por estranhos.
M. Miguez Garcia. 2001
401
No caso de A o rádio e as colunas estavam instalados no veículo, pelo que
falta o pressuposto de que se tratava de coisas nele transportadas no sentido
apontado. A circunstância em análise não tem aqui aplicação.
3. Furto sobrequalificado tentado (artigos 22º, 23º, 73º, 203º e 204º, nº 2,
alínea e)?
Será um automóvel um espaço fechado para efeitos da alínea e) do nº 2?
Como se sabe, o furto é sobrequalificado (ou hiperqualificado: sujeito ao
segundo nível de qualificação) por esta alínea (alínea e) do nº 2) quando o
gatuno penetra em habitação, ainda que móvel, estabelecimento comercial ou
industrial ou outro espaço fechado, por arrombamento, escalamento ou chaves
falsas. Como A entrou depois de rebentar a fechadura da porta do carro deve
terse presente o disposto na alínea d) do artigo 202º: “arrombamento é o
rompimento, fractura ou destruição, no todo ou em parte, de dispositivo
destinado a fechar ou impedir a entrada, exterior ou interiormente, de casa ou
de lugar fechado dela dependente”. Tratase da redacção introduzida na revisão
de 1995, que restringiu o âmbito da anterior definição. Desta forma, o
arrombamento de veículo automóvel deixou de estar contemplado no artigo
204º, nº 2, alínea d), do Código Penal revisto: a expressão espaço fechado acolhida
neste artigo, nas alíneas f) do nº 1 e d) do nº 2, passou a ser compreendida com o
sentido restrito de lugar fechado dependente de casa, ficando arredada a inclusão
da noção de veículo automóvel no referido conceito legal actual de espaço
fechado. (Cf. o acórdão do STJ de 1 de Outubro de 1997, CJ1997III, p. 181; e
agora o Assento nº 7/2000, de 19 de Janeiro de 2000, publicado no DR I sérieA
de 7 de Março de 2000). A não cometeu este crime sobrequalificado.
• Assento nº 7/2000, de 19 de Janeiro de 2000, publicado no DR I sérieA de 7 de Março de
2000: Não é enquadrável na previsão da alínea e) do nº 2 do artigo 204º do Código
Penal a conduta do agente que, em ordem à subtracção de coisa alheia, se introduz
em veículo automóvel através do rompimento, fractura ou destruição, no todo ou em
parte, de dispositivo destinado a fechar ou impedir a entrada no interior daquele
veículo.
• Presentemente, o arrombamento só pode qualificar o crime a que corresponde prisão de 2 a
8 anos se for de casa ou lugar fechado dele dependente (acórdão da Rel. do Porto de
18 de Março de 1998, CJ, 1998, tomo II, p. 237). Cf., no entanto, o acórdão do STJ de 15
M. Miguez Garcia. 2001
402
de Dezembro de 1998, processo nº 1044/98, BMJ48285: o âmbito do conceito de casa
ou de lugar fechado dela dependente, para os efeitos da alínea d) do artigo 202º do
CP, não se restringe às casas de habitação, nele se incluindo, ainda, os
estabelecimentos comerciais ou industriais (como entidades físicas). Uma casa para
arrecadação é, também, "casa" para os efeitos da apontada alínea d). Para além das
"casas" expressamente contidas na alínea e) do nº 2 do artigo 204º do Código Penal,
outras realidades aí se incluem como "casas", a subsumir na categoria de "outro
espaço fechado"; no conceito de "outro espaço fechado" em conexão com a norma
definitória de arrombamento cabem as casas de habitação, estabelecimento comercial
e industrial e ainda as outras casas que não podem incluirse nessas realidades, bem
como os lugares fechados delas dependentes, compreendendo, por exemplo, os
jardins murados e fechados anexos às "casas".
4. Furto qualificado tentado (artigos 22º, 23º, 73º, 203º e 204º, nº 1, alínea f)?
Será o automóvel em questão uma habitação, ainda que móvel, ou um
espaço fechado, para efeitos da alínea f) do nº 1?
Nesta alínea prevêse a subtracção de coisa móvel alheia, introduzindose
o agente ilegitimamente "em habitação, ainda que móvel, estabelecimento
comercial ou industrial ou espaço fechado..."
No caso de A, os factos não são susceptíveis de integrar o conceito de
habitação, ainda que móvel, e já se viu que, também para este efeito, fica
arredada a inclusão da noção de veículo automóvel no conceito legal actual de
espaço fechado.
5. Furto qualificado tentado (artigos 22º, 23º, 73º, 203º e 204º, nº 1, alínea e)?
• A Jurisprudência entende que esta qualificativa (alínea e) do nº 1) opera relativamente à
subtracção do próprio recipiente onde a coisa móvel se encontra fechada. Tanto
comete este crime qualificado quem furta a coisa que se encontra fechada e deixa o
receptáculo, como quem subtrai o receptáculo contendo a coisa e de tudo se apropria;
não se vislumbra razão para distinguir entre coisa furtada fechada em gaveta ou cofre
ou fechada em uma viatura automóvel equipada com fechadura destinada à sua
segurança — à segurança, não apenas do próprio veículo, como também obviamente
M. Miguez Garcia. 2001
403
dos objectos que se encontram no seu interior e nomeadamente os acessórios nele
instalados.
E em certos casos entendeuse que estando um automóvel com as portas
fechadas e trancadas, encontrandose guardados no interior os objectos que
alguém dele quis furtar, o automóvel funcionava como "receptáculo" no sentido
de lugar onde se guarda alguma coisa. Não seria portanto necessário que a
coisa estivesse fechada, por ex., no portaluvas ou no portabagagens do
automóvel. Assim, constituase autor de um crime de furto qualificado na
forma tentada quem, com intenção de se apropriar de um rádio e respectivas
colunas instalados num veículo automóvel rebenta a fechadura da respectiva
porta só não concretizando os seus propósitos por ter sido surpreendido por
agentes policiais (acórdão do STJ de 1 de Outubro de 1997, CJ1997V, p. 181).
A teria cometido, nesta perspectiva, o crime de furto qualificado, na forma
tentada, previsto e punido nos artigos 22º, 23º, 73º, 203º e 204º, nº 1, alínea e), do
Código Penal.
Cf., no entanto, o acórdão do STJ de 1 de Março de 2000, CJ 2000, ano VIII,
tomo I, p. 216: "(revendo anterior posição) entendemos que o veículo
automóvel, quando ao serviço da sua normal utilização, não deve ser
considerado "receptáculo" para os efeitos dessa disposição [204º, nº 1, e)],
principalmente em relação a objectos nele deixados sem ser na gaveta "porta
luvas" ou na "mala" ou "bagageira", se fechados com fechadura ou outro
dispositivo especialmente destinado à sua segurança". Cf. também Faria Costa,
Conimbricense, PE, tomo II, p. 66, considerando que é incompreensível sustentar
que um automóvel com as portas fechadas deva ser considerado como um
receptáculo, no sentido "que aqui se empresta".
• CASO nº 18A. No dia 18 de Junho de 2000, A, com uma chave de fendas, abriu uma
das portas do automóvel de B, que o estacionara, fechado, na Rua 1, e dali tirou
diversos objectos no valor de 45 contos. Pouco depois, entrou no automóvel que C
deixara estacionado na Rua 2 com as portas fechadas, e com o auxílio da mesma
chave de fendas com que arrombou uma delas, dali tirando objectos diversos no
valor de 40 contos. Ainda em 18 de Junho de 2000, mas já durante a noite, A,
aproveitando o facto de D ter deixado o seu automóvel estacionado, fechado à chave,
na Rua 3, entrou no interior do mesmo, forçando uma das portas com um
instrumento cuja natureza se não apurou, e só não tirou dali diversos objectos no
M. Miguez Garcia. 2001
404
valor de 100 contos, como pretendia, por ter sido surpreendido. Logo a seguir, o A,
empunhando uma navalha com uma lâmina de 9 centímetros, acercouse do
automóvel de E e, estando este no interior da viatura, apontoulhe a navalha, que lhe
encostou ao pescoço, intimandoo a entregarlhe 3 contos, o que ele só fez por se
sentir dominado e temer pela sua integridade física. O A, aproveitando o facto de o E
não poder reagir, retirou ainda do interior do carro um telemóvel no valor de 20
contos. No entanto, quando o A já se retirava com as coisas, o E resolveu oferecerlhe
resistência, envolvendose com ele fisicamente. Foi no decurso desse envolvimento
que o A, pretendendo eximirse à acção da justiça e conservar os bens subtraídos,
empunhou a navalha e voluntariamente atirouse ao E, golpeandoo por diversas
vezes em várias partes do corpo, em termos de lhe provocar lesões determinantes de
doença por 8 dias. No decurso da altercação, F tentou separar os contendores,
segurando o braço do A, mas este, empunhando a navalha, ameaçoua, como quem
lha ia espetar, ao mesmo tempo que dizia “conto até três, se não me largas, cortote”.
Já com dois soldados da GNR presentes, o A disselhes “já chamaram estes filhos da
puta, estes cabrões”.
1. A praticou, desde logo, 2 crimes de furto consumado, na medida em
que, com intenção de apropriação e sabendo que se tratava de coisas alheias,
retirou diversos objectos do interior do automóvel de B e do de C. E praticou
um crime de furto tentado, no que respeita ao carro de D.
Embora o A tenha usado uma chave de fendas (ou outro instrumento com
as mesmas características) para abrir as portas dos carros, que tinham ficado
estacionados com elas fechadas e trancadas, a verdade é que se não verifica a
circunstância qualificativa da alínea e) do nº 2 do artigo 204º. Dizse no acórdão
de 1 de Março de 2000, BMJ49558 (relator: Conselheiro Armando Leandro):
• O elemento "outro espaço fechado", referido no artigo 204º, nº 2, alínea e), só pode
considerarse integrado por qualquer espaço fechado semelhante à "habitação" ou
"estabelecimento comercial ou industrial" ou dependente de um destes tipos de
"casa". Considerar que a circunstância "chave falsa" implicaria uma agravação, nos
termos do art.º 204.º, n.º 2, alínea e), que o "arrombamento" e o "escalamento" não
determinam, seria ilógico e injustificado, à luz dos valores e razões de política
criminal subjacentes à relevância das citadas agravantes qualificativas, pois que, do
M. Miguez Garcia. 2001
405
ponto de vista do grau de ofensividade pressuposto da agravação, nada justifica essa
diferença de tratamento. O cerne do problema não está nas diferenças dos referidos
meios de "penetração", mas na natureza do local onde esta se verifica por qualquer
desses meios. Esse local não pode deixar de ser, no critério teleológico que nos deve
orientar na apreensão do conteúdo dessa noção, "casa" ou espaço fechado dela
dependente, entendida aquela como todo o espaço físico, fechado, apto a ser habitado
ou onde se desenvolvam outras actividades humanas para que, histórico
culturalmente foi criado. Não pode pretenderse que um veículo automóvel, não
usado como habitação ou como estabelecimento comercial mas antes na sua
utilização habitual como meio de transporte, possa considerarse abrangido no grupo
valorativo das realidades integráveis naquela noção de "espaço fechado".
2. Também é errado pretenderse que no caso concorre a circunstância
qualificativa da alínea b) do nº 1 do artigo 204º. Diz ainda o mesmo acórdão:
• Elemento comum às diversas situações típicas da alínea b) do n.º 1 do art.º 204.º, é que a
coisa móvel se encontre numa relação de transporte com um veículo e não numa
qualquer outra relação com este, designadamente a derivada da circunstância de a
coisa móvel ter sido deixada no veículo. O veículo automóvel, quando ao serviço da
sua normal utilização, mesmo quando fechado e contendo objectos aí deixados, não
deve ser considerado "receptáculo" para os efeitos da alínea e) do n.º 1 do referido
artigo 204º, pois tal conceito está intimamente conexionado, na economia do preceito,
com as outras previsões dele constantes: "fechada em gaveta, cofre ou outro
receptáculo...". Sob pena de extensão para além dos limites pressupostos pelo
legislador ao usar aquela expressão genérica, o sentido em que é tomada no contexto
específico da respectiva alínea exige naturalmente que a previsão do preceito só
possa ser integrada por "outros receptáculos" que tenham um mínimo de semelhança
material com os especificamente enunciados na norma, como, relativamente ao
veículo automóvel, poderá eventualmente suceder com o "portaluvas" e a "mala" ou
"bagageira", se fechados com fechadura ou outro dispositivo especialmente destinado
à segurança.
M. Miguez Garcia. 2001
406
Assim, a apropriação ilícita de bens, que se encontravam no interior de
dois primeiros carros, e a tentativa de apropriação de bens encontrados no
terceiro, todos de proprietários diferentes, mediante a introdução do A nessas
viaturas após abrir uma das portas com se relatou, integra a prática de três
crimes de furto simples (artigo 203º, nº 1), sendo um deles na forma tentada
(artigos 22º, 23º, nº 2, e 203º, nº 1).
3. O A cometeu também um crime de roubo na pessoa de E. O roubo é o
agravado dos artigos 210º, nºs 1 e 2, alínea b), e 204º, nº 2, alínea f).
• O desenho típico do roubo junta os elementos do furto e da coacção num só crime — crime
complexo, de dois actos, em que o ladrão constrange a sua vítima a ficar sem a coisa
de que se quer apropriar. O atentado contra a liberdade ou a integridade física da
pessoa é posto ao serviço de um fim, como meio de atingir a subtracção e impedir ou
neutralizar a reacção do visado. O roubo é assim (cf. J. Wessels, AT, p. 79) a
subtracção de coisa móvel alheia para o agente dela se apoderar (= ataque à coisa)
mediante a actuação descrita no artigo 154º, nº 1 (= ataque à pessoa). Outro não era o
espírito das Ordenações (liv. 5º, tít. 61º), tratando dos que tomam alguma cousa por
força e contra vontade daquele que a tem em seu poder.
O acórdão já aludido concluiu que o crime é o consumado. Discutese, a
propósito, o momento em que do ponto de vista jurídicopenal se devem
considerar consumados os crimes de furto ou de roubo. Tratarseá de um crime
instantâneo? Será necessário para a consumação que a coisa esteja na mão do
ladrão em pleno sossego? Ou deveremos atender mais coerentemente à
“multiplicidade das realidades fácticas”? Também somos de opinião que as
circunstâncias de cada caso e as representações colectivas no pertinente círculo
da vida social dominam como critérios rectores, as soluções práticas (J. Wessels,
p. 18 e 19, citando o BGHSt 16, 271; incidentalmente, Costa Andrade,
Consentimento e Acordo em Direito Penal, p. 502). Há anos que chamamos a
atenção para o facto de o furto (ou o roubo) de um livro ser substancialmente
diferente do furto (ou do roubo) de um piano.
• Os casos em que o ladrão não chega a tocar na coisa serão pouquíssimos. Vamos deixar de
parte esses casos, que servem sobretudo para mostrar que as concepções de hoje são
bem diferentes das do século dezanove — entretanto, avançouse para a
desmaterialização da noção de subtracção. Mesmo assim, ocorre perguntar: quando é
M. Miguez Garcia. 2001
407
que, em geral, se realiza a troca de detenção, passando o furto da fase da tentativa
para a consumação? No início do século vinte seguiase ainda a teoria da contrectatio,
para a qual bastava o contacto físico do ladrão com a coisa para se poder afirmar o
momento consumativo. Para haver apropriação, consideravase suficiente “pôr a mão
na coisa com "maus" propósitos”. A teoria acabou por ser suplantada. Com a
apprehensio ultrapassase o simples contacto material do agente com a coisa ficando
esta sob o controle de facto (exclusivo) do novo detentor, ou pelo menos este háde
ter algum poder sobre ela quando a desloca do seu lugar originário. Para alguns
autores, a teoria é compatível com a ideia de que o objecto pode ser furtado mesmo
quando a pessoa não o transporta consigo: se para a consumação do furto não basta o
simples contacto, também não é necessário que o agente toque na coisa e a desloque
fisicamente de lugar. A teoria da ablatio exige uma actividade posterior à deslocação
da coisa do seu lugar originário, ficando o objecto fora da esfera de custódia do seu
proprietário ou detentor. A teoria da illatio exige igualmente para a consumação um
elemento posterior: que o ladrão leve o objecto para sua casa ou que o detenha em
pleno sossego, por exemplo, escondendoo.
• Se a coisa (e o agente com ela) ainda se encontra na esfera espacial do proprietário ou do —
até então — seu detentor, a nova relação de domínio (que exclui a do lesado) ocorrerá
se não surgirem obstáculos à realização dos propósitos de apropriação do agente, por
exemplo, quando já não haja o perigo de um terceiro se intrometer e impedir que o
agente saia, levando a coisa do supermercado, ou a esconda num bolso enquanto por
ali deambula. Mas há coisas que pelas suas características, de peso ou de tamanho, se
não compaginam com a solução apontada. O furto não se consuma em geral com a
apreensão (Ergreifen) desses objectos, mas só quando o ladrão passa com eles o círculo
de poder do titular da coisa (a porta da casa, o muro da moradia). Até aí haverá
tentativa. Será assim quando o ladrão salta o muro do cemitério com o saco ou passa
a vedação com a bicicleta desmontada. Se o ladrão carrega o carro em terreno do
lesado, o crime consumase com o fecho da mala do carro. No caso de furto de
viaturas a consumação dáse quando o ladrão consegue arrancar, mas já não será
assim se metros depois o condutor é surpreendido por um controlo ou não consegue
M. Miguez Garcia. 2001
408
passar um portão ou o motor se engasga e pára depois de andados uns metros. Na
subtracção por etapas haverá tentativa relativamente à 1ª actuação: a empregada da
casa esconde a jóia no seu colchão para a levar depois para o exterior (2ª actuação), a
garrafa de vinho é depositada no peitoril da janela para depois ser recolhida do
exterior. Do mesmo modo, se numa carruagem de comboio o ladrão atira para a linha
um objecto doutro passageiro para mais tarde o recolher (Eser, S/S, p. 1717;
Kienapfel, p. 55).
4. A agrediu o E à navalhada: tais factos integram desde logo a norma
básica dos crimes contra a integridade física (artigo 143, nº 1). Invocase
contudo o exemplopadrão da alínea f) do nº 2 do artigo 132º, significativo de
uma especial censurabilidade transmitida pela atitude do A.
O A apontou uma navalha ao pescoço do ofendido e intimouo a entregar
lhe os 3 contos. O A ainda retirou do automóvel um telemóvel com o valor de
20 contos. E fêlo com intenção de se apropriar de tais bens. Quando o A já se
encontrava na posse deles o E, abandonando a viatura, decidiu oferecerlhe
resistência, envolvendose ambos em disputa física, tendo, passado algum
tempo e em consequência de tais factos, comparecido no local os soldados da
GNR. Porque, no decurso do envolvimento físico entre o A e o E, aquele, com o
desígnio de se eximir à acção da justiça e de manter na sua posse os bens de que
acabara de se apoderar, com a mencionada navalha desferiu vários golpes
atingindo o E, provocandolhe várias lesões determinantes de oito dias de
doença cometeu, ainda, um crime de ofensa à integridade física qualificada, do
artigo 146.º, n.ºs 1 e 2, referido aos artigos 143.º e 132.º, n.º 2, alínea f), sendo a
especial censurabilidade da atitude do arguido traduzida na persistência e
escalada da sua actuação agressiva para com o ofendido, como meio de obter a
estabilidade do seu domínio de facto sobre os bens roubados e eximirse à acção
da justiça.
O crime de ofensa à integridade física qualificada, constituído por factos
também integrantes do crime de roubo, está porém numa relação de concurso
aparente com este. Por outro lado, a utilização da navalha não constituiu, por si
só, nas circunstâncias descritas, um "meio insidioso" para os efeitos do exemplo
padrão da alínea f) do n.º 2 do artigo 132º (redacção anterior à Lei nº 65/98, de 2
de Setembro), porque, tendo ela sido usada imediatamente antes para
constranger o ofendido a entregar o dinheiro, não se traduziu para este num
meio de carácter enganador, subreptício, dissimulado ou oculto, caracterizador
M. Miguez Garcia. 2001
409
da insídia que a agravante pressupõe — escrevese ainda no acórdão de 1 de
Março de 2000.
O roubo é um crime complexo, na medida em que o seu autor viola não só
um bem jurídico de carácter patrimonial, mas também um bem jurídico
eminentemente pessoal, na parte em que se põe em causa a liberdade,
integridade física ou até a própria vida da pessoa do ofendido. O roubo, embora
se apresente juridicamente uno, integra na sua estrutura vários factos que
podem constituir, em si mesmos, outros crimes, conjugando a norma,
intimamente, a defesa da propriedade e a liberdade da pessoa. Essa estrutura
complexa faz recuar (é a fórmula do concurso de normas ou concurso aparente)
a aplicação dessas outras normas. O agente será punido pelo crime de roubo —
que decidiu cometer —, e que é mais grave do que os crimes que lhe serviram
de meio. Deste modo, a violência, quando se traduza em ofensa à integridade
física, fica englobada na incriminação do roubo. Incluise, na tese do acórdão
que estamos a considerar, a própria ofensa do artigo 146º, tanto mais que a
correspondente qualificação “não é determinada por considerações de ilicitude
ligadas à gravidade do resultado das ofensas, mas antes por razões de
agravamento da culpa, derivado da especial censurabilidade ou perversidade
do agente.”
O acórdão envereda assim pelo entendimento de que estará englobada
pela incriminação do nº 1 do artigo 210º toda a violência integrante de ofensa à
integridade física da qual não resultem perigo para a vida ou, mesmo por
negligência, ofensa à integridade física grave (alínea a) do nº 2 do artigo 210º).
5. Outra questão suscitada: a da continuação criminosa.
• No crime continuado, um dos elemento aglutinadores estará na identidade das condutas,
exigindose a violação de idêntica proibição e a lesão ou colocação em perigo do
mesmo bem jurídico. Tratandose, porém, de bens jurídicos eminentemente pessoais,
como a vida, a integridade física, a honra, a liberdade, as diversas actividades não
podem unificarse, a menos que se trate da mesma vítima. Ora, o roubo contém
elementos patrimoniais e pessoais, como acabamos de ver — e isso é desde logo
obstáculo à continuação criminosa, que in casu deverá ser afastada.
• “A conduta integradora do crime de roubo não pode considerarse estar numa relação de
continuação criminosa com as que preenchem os crimes de furto, faltando desde logo
um requisito essencial do crime continuado: implicando a natureza complexa do
M. Miguez Garcia. 2001
410
crime de roubo a ofensa não só de bens jurídicos patrimoniais, como acontece no
furto, mas também pessoais, e considerando que o ofendido do roubo não é o mesmo
em qualquer dos crimes de furto, falta a identidade fundamental do bem jurídico
protegido pelo crime ou pelos vários tipos de crime que os factos integram de forma
plúrima.”
6. A cargo de A está ainda um crime de ameaça do artigo 153º, nº 1, e dois
crimes (são dois os guardas ofendidos) de injúria, dos artigos 181º, 184º e 132º,
nº 2, alínea h).
II. Outras hipóteses de furto qualificado
1. Primeiro nível de agravação. Artigo 204º, nº 1, do Código Penal.
Alínea c): Coisa afecta ao culto religioso ou à veneração da memória dos
mortos e que se encontre em lugar destinado ao culto ou em cemitério. No § 243
Abs. 1 Nr. 4 do StGB (Kirchendiebstahl) o objecto da acção deve estar dedicado ao serviço
divino, como o altar, ou servir para veneração religiosa, como as imagens sacras. Um livro de
missa é coisa afecta ao culto religioso, mas o seu furto não integra um exemplopadrão do
direito alemão.O furto em edifício destinado ao culto religioso ou em cemitério
era circunstância qualificativa do artigo 426º do CP1886, onde também se
aludia a coisa sagrada. Não se previa portanto um tipo autónomo de furto e loco
sacro ou de qualquer res sacra.
Na alínea c) não se refere nenhuma religião em especial, face à liberdade
de culto religioso que a Constituição da República declara inviolável. ”O furto
cometido em cemitério só veio a assumir autonomia quando se deu a proibição
da inumação nos templos, uma vez que veio a desaparecer a defesa religiosa e
material que estes sempre asseguravam" (Caeiro da Mata, Do Furto, p. 220)”. A
respeito do furto sacrílego e de coisas destinadas ao culto, cf. Parecer do M.P.,
in BMJ189208. A qualificação operada pelo furto em cemitério também se limita
aos objectos religiosos ou destinados a venerar a memória dos mortos. As
sacristias incluemse nos lugares destinados ao culto. Nos furtos em igrejas, os
objectos de mais fácil apropriação são caldeiras, turíbulos, vasos, galhetas,
cálices, cruzes, coroas, imagens... O furto é qualificado por se encontrar a coisa,
afecta ao culto religioso ou à veneração da memória dos mortos, em lugar
destinado ao culto ou em cemitério. O "descanso" e a lembrança dos mortos são
praticamente as últimas coisas com algum significado religioso que o Direito
Penal ainda protege. Cf. o artigo 254º, que prevê a profanação de cadáver ou de
lugar fúnebre.
M. Miguez Garcia. 2001
411
• O furto da caixa das esmolas não poderá qualificarse por esta alínea, mesmo quando em
lugares de culto. Aquilino Ribeiro (Arcas Encoiradas, 1962, p. 222): “Costeávamos a
ermidinha de S. José, em que os meus Cletos do Jardim das Tormentas contraíram
cadeia celular pelo inqualificável feito que perpetraram de forçar a caixa das almas,
um inverno que tinham fome. Ali acumulavam os devotos o peculiozinho com que os
senhores padres haviam de refrigerar as almas do Purgatório a troco de umas tantas
missas e responsos. Os Cletos partiram do princípio, evidentemente erróneo, de que
os mealheiros sagrados, a socorrer por socorrer, deviam começar por socorrêlos a
eles no purgatório da negra vida, e pagaram caro a tonteira de infringir a lei de Deus
e dos homens. E foilhes bem feito porque não lhes deu o Demo arte para assaltar um
Banco.”
Alínea d): Explorando situação de especial debilidade da vítima, de
desastre, acidente, calamidade pública ou perigo comum. (§ 243 Abs. 1 Nr. 6:
Diebstahl unter Ausnutzung von Hilflosigkeit oder Bedrängnis). O acento
tónico põese aqui no desvalor da acção. A vítima não está em situação de, com
as suas próprias forças, se defender do perigo que ameaça o seu domínio sobre
a coisa. A visita B, seu colega de trabalho, que foi operado aos olhos e não pode
ver. Durante a visita aproveita para retirar uma soma de dinheiro duma gaveta
da casa de B. O que é decisivo é que o agente aproveite uma situação em que a
vítima se encontre necessitada de protecção em elevada medida. Tratase de
uma especial debilidade, como por ex., durante o sono de um doente; mas não
durante o sono de uma pessoa com saúde. Em caso de desastre, acidente, etc., a
vítima está necessitada da solidariedade dos outros; sem isso, o risco para a
integridade física ou a vida é elevado. Importante, porém, é que as situações
descritas não tenham sido provocadas pelo agente (Carlos Alegre, p. 58). Mas
não haverá esta agravação se o ladrão aproveita o internamento em hospital do
proprietário da moradia que assalta.
Alínea e): Furto de coisa móvel alheia "fechada em gaveta, cofre ou outro
receptáculo equipados com fechadura ou outro dispositivo especialmente
destinado à sua segurança".
As gavetas, cofres, armários, arcas frigoríficas, depósitos de combustível
ou outros receptáculos hãode estar tecnicamente adaptados a dificultar de
forma relevante a subtracção da coisa no momento em que o gatuno actua.
Incluemse aqui os “caixas automáticos”, mas não as vitrines dos
estabelecimentos. Não se verifica a agravante se, por ex., o ladrão utiliza a
M. Miguez Garcia. 2001
412
chave que foi deixada na fechadura da gaveta, cofre ou outro receptáculo. Um
envelope ou o bolso das calças não são receptáculos neste sentido, nem os
contentores onde uma pessoa possa entrar.
• “Especialmente destinado à sua segurança”: exigese uma específica finalidade de
protecção do dispositivo contra a subtracção da coisa fechada (§ 243 Abs. 1 Nr. 2 do
StGB: “gegen Wegnahme besonders gesichert”).
Ao contrário do direito austríaco (Kienapfel, p. 92), “esta qualificativa
verificase ainda que a abertura da gaveta, cofre ou outro receptáculo equipados
com fechadura ou outro dispositivo destinado à sua segurança ocorra fora do
local da subtracção” (Maia Gonçalves; ainda C. Codeço, p. 247).
• “É indiferente que o cofre seja aberto no local ou que o agente, para mais facilmente se
apropriar do seu conteúdo, opte pela própria subtracção do receptáculo” (acórdão da
Relação do Porto de 7 de Janeiro de 1987, BMJ363599).
• Lechat: a abertura de cofreforte é tarefa de profissional, exige a utilização de utensílios
aperfeiçoados (trépano, cisalha, lança térmica, explosivos) e trabalho de grupo. Mas a
actuação pode ser facilitada pelo conhecimento do código de números ou da palavra
chave do sistema de segurança.
• Um automóvel com os vidros e as portas fechadas — estas à chave — deve considerarse
abrangido nas expressões “outros receptáculos equipados com fechaduras” e “outros
espaços fechados” (acórdão da Relação de Lisboa de 21 de Novembro de 1984, BMJ
348466. No mesmo sentido, acórdão do STJ de 23 de Julho de 1985, BMJ349301). *
Um veículo automóvel com as portas e os vidros fechados e trancados deve
considerarse abrangido na expressão “outros receptáculos equipados com
fechaduras” (acórdão do STJ de 28 de Novembro de 1991, BMJ 411315). Esta
qualificativa opera relativamente à subtracção do próprio recipiente onde a coisa
móvel se encontra fechada. Tanto comete este crime qualificado quem furta a coisa
que se encontra fechada e deixa o receptáculo, como quem subtrai o receptáculo
contendo a coisa e de tudo se apropria; não se vislumbra razão para distinguir entre
coisa furtada fechada em gaveta ou cofre ou fechada em uma viatura automóvel
equipada com fechadura destinada à sua segurança (à segurança, não apenas do
M. Miguez Garcia. 2001
413
próprio veículo, como também obviamente dos objectos que se encontram no seu
interior e nomeadamente os acessórios nele instalados. Assim, constituise autor de
um crime de furto qualificado, na forma tentada quem, com intenção de se apropriar
de objectos contidos na mala de um automóvel rebenta a fechadura da respectiva
porta e só não concretiza os seus propósitos por ter sido surpreendido por agentes
policiais (acórdão do STJ de 1 de Outubro de 1997, CJ1997V, p. 181).
• Esta doutrina, aplicada aos automóveis, tomandoos sem mais como
receptáculo, foi entretanto posta em crise e deverá ser abandonada. Já
acima se deram indicações nesse sentido.
A última parte do preceito admite o envolvimento de sistemas de alarme,
na medida em que possam ser qualificados como dispositivos especialmente
destinados á segurança.
Alínea f): Introduzindose ilegitimamente em habitação, ainda que móvel,
estabelecimento comercial ou industrial ou espaço fechado, ou aí
permanecendo escondido com intenção de furtar. Adoptase aqui um conceito
lato de habitação, abrangendose, portanto, qualquer espaço independente no
interior de um edifício, as barcaças (Wohnschiffe), os atrelados de viaturas
(Wohnwagen), as tendas de campismo, e outros semelhantes, desde que estejam
a ser utilizados para habitação, ainda que transitória. Na sua essência, a razão
da qualificação está no espaço fechado, que permite a entrada de pessoas, mas
se encontra vedado à penetração de indesejáveis, por meio de equipamentos
colocados com essa finalidade.
A exigência legal não se satisfaz com a simples entrada corpórea parcial
do ladrão, por ex., com o estender o braço para alcançar algo. Requerse que o
agente se introduza no local, portanto uma entrada de corpo inteiro. Só assim se
justificará a qualificação do furto, "já que é o arrojo que o agente revela
entrando para esses lugares que a lei quer resguardar, e a perigosidade que
representa essa entrada que se quer estigmatizar e não a simples utilização
duma "longa manus", quando, por ex., o ladrão utiliza um pau, um arpão ou
equivalente para fisgar as coisas de que se quer apropriar" (acórdão do STJ de 4
de Dezembro de 1991, BMJ412149; cf. também o acórdão do STJ de 13 de
Dezembro de 2001, CJ 2001, ano IX, tomo III, p. 239: a expressão “introduzindo
se ilegitimamente em habitação”, constante da situação descrita na alínea f) do
nº 1 do artigo 203º, deve ser interpretada como introdução do corpo inteiro, ao
M. Miguez Garcia. 2001
414
passo que a verificação da situação prevista na alínea e) do nº 2 do mesmo
preceito não depende daquela introdução).
O prédio destinado a habitação e a garagem colectiva são naturalmente destinados ao
uso e fruição de todas as pessoas que tenham direito a isso. Esses espaços, incluindo a garagem
do prédio, têm portas destinadas à segurança e salvaguarda do uso dos utentes, de modo a
permitir o acesso a estes e a vedálo a quem não o tiver licitamente, por direito à privacidade e
funcionalidade do prédio. A apropriação de uma bicicleta que se encontra num espaço fechado
(garagem), por pessoa que não está autorizada a entrar no prédio, apesar de ambas as portas se
encontrarem abertas, constitui um crime de furto qualificado do artigo 204º, nº 1, alínea f), do
Código Penal. Acórdão do STJ de 10 de Maio de 2000, BMJ49837.
• Cf. o acórdão do STJ de 9 de Março de 2000, BMJ495110, que põe em contraste a esta
situação com a penetração exigida na alínea e) do nº 2. * Para que se verifique a
qualificativa — penetrando o agente em edifício — é essencial a entrada dele, de
corpo inteiro, no local onde cometeu o furto (acórdão do STJ de 4 de Janeiro de 1991,
Simas SantosLeal Henriques, Jurisprudência Penal, p. 548); * O quarto de hóspede,
seja ele de um hotel, de uma pensão, de uma residencial ou de uma simples casa
particular, enquanto ocupado pelo hóspede, sendo nele que dorme, que tem as suas
roupas e outras coisas, que aí se recolhe nas suas horas de lazer, que aí,
eventualmente, executa pequenas tarefas, constitui a sua habitação (acórdão do STJ
de 2 de Junho de 1993, CJ). * A tenda de campismo (espaço delimitado servindo de
habitação) encontrase abrangido pelo artigo 176º do CP82 (acórdão do STJ de 16 de
Maio de 1990, BMJ397226).
Alínea g): Com usurpação de título, uniforme ou insígnia de empregado
público, civil ou militar, ou alegando falsa ordem de autoridade pública. No
artigo 426º do CP1886, o furto com “usurpação de títulos, ou uniforme, ou
insígnia de algum empregado público, civil ou militar ou alegando falsa ordem
de qualquer autoridade pública” constituía a 6ª circunstância agravativa. Luís
Osório: “O fundamento desta agravante está no maior dano proveniente da
comissão de um outro crime. A razão da qualificação consiste na lesão do
interesse da administração pública em que se não usurpe a qualidade de
empregado público e muito menos para o fim de roubar” (p. 93).
• Na prática, pode ser difícil distinguir o crime de furto, por esta forma qualificado, do crime
de burla, uma vez que o uso de título, uniforme ou insígnia de empregado público ou
a invocação de uma falsa ordem da autoridade pública bem pode integrar o erro ou
M. Miguez Garcia. 2001
415
engano, astuciosamente provocado, que tipifica a burla (Carlos Alegre, p. 64). * “Não
se verifica a agravante de o furto ser cometido com usurpação de uniforme quando o
autor do crime, que enverga o uniforme, é agente da autoridade e o uniforme é
aquele que lhe compete usar” (acórdão do STJ de 18 de Março de 1970, BMJ195132).
• Na ficção, leiase o interessantíssimo livro de Miroslav Krleza, Enterro na cidade de Maria
Teresa, editado em Portugal pela “Livros do Brasil”, sobre um caso de usurpação de
título e uniforme militares.
Alínea h): Fazendo da prática de furtos modo de vida (§ 243 Abs. 1 Nr. 3
StGB: Gewerbsmäßiger Diebstahl). Cf. com o artigo 218º, nº 2, alínea b). Pratica
furtos como modo de vida quem tem a intenção de conseguir uma fonte
contínua de rendimentos com a repetição mais ou menos regular de factos
dessa natureza. Não tem aplicação no caso do ladrão ocasional, ainda que
determinado à prática repetida de furtos, mas a lei não contém elementos para
avaliar o tempo necessário à definição do que seja o modo de vida. O
rendimento do crime não tem que ser a única fonte nem a maior fatia dos
proventos do ladrão que, com sorte, pode até viver do produto dum só furto
durante uma larga temporada sem que isso constitua caso de agravação. Note
se que este modo de vida criminoso acarreta o perigo da especialização e do
domínio de certas "artes" e inculca a ideia de vadiagem e de marginalidade,
aproximandose duma característica pessoal de pendor subjectivo. Está mais
perto da noção de "profissionalidade" do que da "habitualidade" ou da simples
"dedicação". A habitualidade é diferente, assenta numa inclinação para a prática
do correspondente delito adquirida com a repetição (Jescheck, AT, 4ª ed., p.
651). * O acórdão do STJ de 9 de Janeiro de 1992, BMJ413182, oferece
pertinentes informações sobre os conceitos de "habitualidade",
"profissionalidade", "modo de vida", "plurireincidência", "delinquência por
tendência", etc. *
• A habitualidade nos crimes essencialmente patrimoniais, incluindo o de burla, verificase
não só quando o agente faz da sua prática um modo de vida habitual ou principal,
mas também quando as circunstâncias do caso convencem de que aquele se habituou
a praticar determinado género de condutas em que de certa forma se especializou e
passou a adoptar em termos de repetição e multiplicidade demonstrativa de que a
sua prática é por ele olhada como normal, expressão de uma segunda natureza, e
assumida sem a contenção psicológica resultante das proibições legais, por isso
M. Miguez Garcia. 2001
416
reveladora de maior perigosidade da sua parte (ac. do STJ de 7 de Outubro de 1991,
BMJ410305). * Se não se descortina na reiteração o hábito de delinquir, uma
propensão para o crime radicada na personalidade do delinquente, estáse perante
um delinquente pluriocasional (acórdão do STJ de 17 de Junho de 1992, BMJ418513).
Sobre os conceitos de modo de vida e habitualidade, cf., o acórdão do STJ de 24 de
Janeiro de 2002, CJ 2002, tomo I, p. 188.
A agravação neste caso será aplicável sobretudo à pequena e à média
criminalidade.
Alínea i): Deixando a vítima em difícil situação económica. “Exigese que o
resultado seja imputável ao agente, pelo menos a título de mera culpa, e que
haja nexo de causalidade entre o comportamento do autor e o resultado — a
difícil situação económica em que a vítima fica” (Maia Gonçalves). Tratase de
um critério material de valoração, em que se atende às circunstâncias do sujeito
passivo, não se exigindo um prejuízo de especial gravidade. Mas podem
produzirse importantes prejuízos sem que a vítima fique em grave situação
económica.
2. Segundo nível de agravação. Artigo 204º, nº 2
Alínea b): Coisa que possua significado importante para o desenvolvimento
tecnológico ou económico. Não se vê jeito da qualificação poder ser afastada em
face do nº 4. “A restrição do nº 4 só funciona quando as coisas furtadas têm um
valor determinante, um valor económico avaliável com precisão” (Maia
Gonçalves). “Se os exemplos de coisa com elevada significação no
desenvolvimento tecnológico ou económico são fáceis de enumerar, em
abstracto, já a sua qualificação, em concreto, não é tão fácil. Com efeito,
podemos distinguir a coisa, cuja elevada significação já está determinada pela
sua aplicação ou utilidade prática, da coisa ainda em fase de invenção ou
experimentação técnica ou científica e de que não se sabe, ainda, qual o valor ou
significação que possa vir a ter para o desenvolvimento da tecnologia ou da
economia. Exemplos, nesta matéria, serão o furto de um projecto, de um
protótipo ou de um invento” (Carlos Alegre, p. 47).
Alínea d): Coisa que possua importante valor científico, artístico ou histórico e
se encontre em colecção ou exposição públicas ou acessíveis ao público. (§ 243
Abs. 1 Nr. 5: Diebstahl von Sachen mit kultureller Bedeutung: tratase de
objectos cuja perda representa um dano relevante para a respectiva área). O
fundamento da modalidade agravada estribase na especial protecção que o
M. Miguez Garcia. 2001
417
direito penal oferece ao titular (público ou privado) do bem como contrapartida
dos especiais deveres de carácter social que este bem suporta (como seja, mantê
lo acessível ao público para contemplação ou desfrute) (Bajo Fernandez, p. 91).
Coisas acessíveis ao público são coisas em lugares acessíveis à generalidade das
pessoas. Carácter público da colecção: quando é acessível a um número
indeterminado de pessoas, não desaparecendo essa característica se a entrada
for a pagar. Os poderes públicos garantem a conservação do património
histórico, cultural e artístico.
• "O mundo das colecções particulares e o dos museus parecem completamente diferentes.
Podese entrever a unidade, salientar o elemento comum a todos esses objectos, tão
numerosos e heteróclitos, que são acumulados pelas pessoas privadas e pelos
estabelecimentos públicos. É portanto possível circunscrever a instituição de que nos
ocupamos: uma colecção, isto é, qualquer conjunto de objectos naturais ou artificiais,
mantidos temporária ou definitivamente fora do circuito das actividades económicas,
sujeitos a uma protecção especial num local fechado preparado para esse efeito, e
expostos ao olhar do público" ("Colecção", Enciclopédia Einaudi, 1).
• * Não integra a norma em apreço a subtracção de duas pedras de ornamentação de um
portão em granito, conhecidas por merlões, e de uma cruz central também em
granito, antes colocadas na delimitação de uma tapada pertencente a outrem (acórdão
da Relação do Porto de 22 de Fevereiro de 1995, CJ, XX (1995), p. 250.
• Lechat: Nas exposições públicas ou acessíveis ao público, a entrada é geralmente livre, há
muitos visitantes e existe a possibilidade de dissimulação, de esperar pela noite para
operar à vontade. O furto é geralmente de objectos preciosos e que facilmente se
revendem.
• Será porventura útil a consulta da obra colectiva Direito do Património Cultural, INA,
1996, nomeadamente: "Enquadramento e apreciação crítica da Lei nº 13/85", por João
Martins Claro, e "Protecção penal dos bens culturais numa sociedade multicultural",
pela Profª. Maria Fernanda Palma. Cf. ainda, Vasco Costa, A classificação e a
salvaguarda do património, Leituras, Revista da Biblioteca Nacional, nº 2, Primavera
de 1998, p. 85 e ss.
M. Miguez Garcia. 2001
418
• A Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro, estabelece as bases da política e do regime de
protecção e valorização do património cultural.
Alínea e): Penetrando em habitação, ainda que móvel, estabelecimento
comercial ou industrial ou outro espaço fechado, por arrombamento,
escalamento ou chaves falsas. Com a revisão de 1995, o conceito de
arrombamento sofreu uma redução do seu âmbito relativamente à definição
anterior, com a eliminação do segmento "ou de móveis destinados a guardar
quaisquer objectos". Desta forma, o arrombamento de veículo automóvel
deixou de estar contemplado no artigo 204º, nº 2, d), do Código Penal revisto.
Por outro lado, a expressão espaço fechado acolhida neste artigo, nas alíneas f) do
nº 1 e d) do nº 2, passou a ser compreendida com o sentido restrito de lugar
fechado dependente de casa, ficando arredada a inclusão da noção de veículo
automóvel no referido conceito legal actual de espaço fechado. (Cf. o acórdão do
STJ de 1 de Outubro de 1997, CJ1997V, p. 181).
Aqui e ao contrário da alínea f) do nº 1, parece que se não exige uma
entrada de corpo inteiro. O penetrar, aqui, fazse por arrombamento,
escalamento ou com chave falsa (enquanto que na alínea f) do nº 1, a
introdução, se bem que ilegítima, se realiza sem estes outros meios: cf. Faria
Costa, cit., p. 78). Cf. o ac. do STJ de 9 de Março de 2000, BMJ495110. O
acórdão do STJ de 13 de Dezembro de 2001, CJ 2001, ano IX, tomo III, p. 239,
entendeu que se constituiu autor material sob a forma consumada de um crime
de furto qualificado por esta alínea e) do nº 2 do artigo 204º aquele que depois
de partir o vidro de uma montra, introduz os braços pelo orifício provocado e
retira os objectos que pretendia fazer seus. “É na associação ao “penetrar” do
arrombamento, escalamento ou chaves falsas, numa execução vinculada, que
reside a motivação agravativa, que não é exclusiva do nosso direito”
(Conimbricense, II, p. 78). “Para que se verifique a agravante qualificativa do
crime de furto, prevista na alínea e) do nº 2 do artigo 204º, basta que a
apropriação de coisa alheia seja efectuada mediante a introdução ilegítima,
ainda que parcial, de parte significativa do corpo do agente, por arrombamento,
escalamento ou chave falsa” (acórdão do STJ de 9 de Outubro de 2002, CJ 2002,
tomo III, p. 197).
• * O escalamento exige do arguido uma certa agilidade e dificuldade na passagem pelo que
não se verifica se ele se limita a entrar por uma janela aberta que se encontra tão baixa
que nenhum esforço exige a quem a transpõe (acórdão da Relação de Coimbra de 9
de Novembro de 1991, CJ, XVI, t. 5, p. 89. * Deve ser considerada chave falsa a
M. Miguez Garcia. 2001
419
verdadeira quando, fortuita ou subrepticiamente, esteja fora do poder de quem tiver
direito de a usar. Porém, não pode assim considerarse a que o arguido tenha
encontrado na própria porta de entrada da habitação do ofendido que veio a servir
para nela penetrar e praticar furtos (acórdão da STJ de 25 de Maio de 1994, CJ).
• A entrada num jazigo por arrombamento não constitui a agravação ditada pelo nº 7 do
artigo 426º do Código Penal de 1886, decidiu, avisadamente, o acórdão da Relação de
Lisboa de 13 de Outubro de 1945 (Revista de Justiça, ano 30º, p. 304).
Alínea f): Trazendo, no momento do crime, arma aparente ou oculta. A
revisão eliminou a anterior referência plural a “armas”. A noção de arma é dada
no artigo 4º do DecretoLei nº 48/95, de 15 de Março: “para efeito do disposto
no Código Penal, considerase arma qualquer instrumento, ainda que de
aplicação definida, que seja utilizado como meio de agressão ou que possa ser
utilizado para tal fim.” Perante esta definição, atentese em que mesmo uma
pistola sem munições pode ser usada para golpear. “A lei não exige o emprego
efectivo da arma, isto é, que o ladrão dela se sirva com o propósito de infundir
temor à vítima: apenas fala em trazer, que seguramente não é o mesmo que usá
la. Entretanto, pensamos que o agente deve trazer a arma com predisposição
para dela se servir, se for necessário” (Carlos Codeço p. 199). O fundamento da
agravação está no perigo de o agente, face ao aparecimento de uma situação
crítica, se poder decidir pelo uso da arma que tem à mão. Exemplo corrente do
não funcionamento automático da circunstância é o do guarda da fábrica que,
ao passar por um estabelecimento, depois de deixar o trabalho e levando a arma
de serviço, aí subtrai um artigo, porventura esquecido, até, de que a levava
consigo (cf. Fernanda Palma, Problema do concurso de circunstâncias qualificativas
do furto, RPCC, 2 (1991), p. 259; V. Krey, p. 61).
A utilização da arma — por ex., exibindoa à vítima que se quer
desapossar da carteira — constitui o crime de roubo, ficando por determinar se
se trata de roubo simples ou agravado em razão da arma.
Alínea g): “Como membro de bando destinado à prática reiterada de
crimes contra o património, com a colaboração de pelo menos outro membro do
bando.”
• Em termos gerais, tanto a expressão “com o concurso de 2 ou mais pessoas”, usada na
versão de 1982, como a expressão do Código Penal revisto “como membro de
bando...” se aproximam da questão mais vasta da comparticipação. Escrevia o Prof.
M. Miguez Garcia. 2001
420
Eduardo Correia (Direito Criminal, II, p. 254) que “parte da doutrina alemã costuma
integrar na teoria da comparticipação as hipóteses de Komplott (quando várias
pessoas se associam com o fim de executar um ou vários crimes determinados) e
Bando (quando tal associação se dirige à prática de uma série indeterminada de
crimes). E acrescentava: “parece, porém, que sempre que tais figuras não possam
reconduzirse à da coautoria eles nada terão a ver com a teoria da comparticipação; o
que pode acontecer é que tais associações sejam tratadas como crimes autónomos,
“sui generis”, ou como agravante especial relativamente a certos crimes
particularmente graves caso em que o seu estudo se situará na parte especial do
direito penal” .
• Um bando não necessita de uma determinada organização nem de um chefe certo, ao
contrário da “associação criminosa”. O seu objectivo consiste na prática repetida de
furtos. Não é suficiente, portanto, a associação para cometer um único furto, ainda
que na forma continuada. No furto praticado por bando há o eco, a evocação do crime
organizado. A sua especial perigosidade deriva de por detrás do crime estar um
objectivo comum de um grupo especializado de agentes. Estes cobremse
mutuamente e a respectiva actividade assenta na divisão do trabalho. Acresce o facto
de tal actividade ser independente das entradas e saídas de cada elemento, situação
que não existe num bando de dois membros. Há por isso quem entenda que para
existir um bando são necessárias pelo menos três pessoas que acordam entre si,
dolosamente, praticar furtos, distintos uns dos outros, os quais não são de antemão
pormenorizadamente determinados. Numa outra visão das coisas entendese porém
que não é decisiva a necessidade da existência de uma organização com pelo menos 3
pessoas, pois as formas especialmente perigosas de furto, isto é, aquelas em que o que
conta é a elevação do perigo de se darem mais furtos, são compatíveis com um
“bando de 2 pessoas”. A colaboração ocasional de alguns elementos, a menoridade de
outros, as actividades limitadas a uma zona, a um certo tempo ou a certas
circunstâncias, não excluem a existência de bando. Existindo um bando assim
definido, basta para a qualificação que um único crime tenha sido cometido, ainda
que na forma tentada, desde que haja a colaboração nos termos postos pela lei.
M. Miguez Garcia. 2001
421
Quanto ao agente, não é suficiente que ele pertença a um bando, é ainda necessário
que cometa um furto enquanto membro de bando. Para tanto exigese a consciência e
a vontade de subordinação aos objectivos comuns do bando. O furto deve ser
expressão de que o agente está integrado em bando, isto é, que pertence à rede de
comissão continuada de crimes dessa natureza. Não haverá assim dois furtos
agravados por esta circunstância se dois membros de um bando cometem um furto
numa estrada sem que tenham sabido ou querido que outro membro do bando
actuava na mesma altura numa estação de caminho de ferro como carteirista. O furto
como membro de bando é expressamente exigido na lei para que se verifique a
qualificação. A prática do furto háde resultar ainda da colaboração de pelo menos
um outro membro do bando. Bastará qualquer forma de participação, mas uma acção
isolada de um dos membros do bando não é suficiente, como se disse, para a
qualificação.
• * Nos termos da alínea j) do artigo 24º do DL nº 15/93, para a existência de um bando basta
um grupo de pelo menos dois membros, porventura com um líder, ligados pelo
propósito conjunto de traficarem estupefacientes de forma reiterada (acórdão do STJ
de 4 de Julho de 1996, Processo nº 272/96 3ª Secção, Internet).
III. Concurso de circunstâncias qualificativas: artigo 204º, nº 3. Não há dupla
agravação no furto.
CASO nº 18B. A, que é especialista na entrada de moradias por escalamento, numa
noite de vendaval consegue trepar ao telhado da casa de S e aceder ao interior. Confirmada a
ausência dos moradores, A logo suspeitou que os valores facilmente transportáveis se
encontravam dentro da gaveta de uma sólida cómoda antiga, fechados a sete chaves. Ao fim de
duas horas esforçadas, conseguiu o A aceder à gaveta, mas só depois de produzir estragos
assinaláveis naquela peça de mobiliário (mais de 200 euros para a restaurar). Valeu a pena o
esforço, tendose o A retirado calmamente com diversas peças de ouro e jóias valendo bem
mais de 25 mil euros.
Atentando no valor consideravelmente elevado do produto do furto
(artigo 202º, alínea b)), o crime é o do artigo 203º, nº 1, e 204º, nº 2, alínea a). Na
ausência dessa qualificativa, outras circunstância poderiam concorrer para a
aplicação da pena de prisão de 2 a 8 anos. Tenhase nomeadamente em conta
que a penetração se deu por escalamento (alínea e) do nº 2). Por outro lado, o
M. Miguez Garcia. 2001
422
ouro e as jóias estavam fechadas em gaveta, em termos de fazer funcionar a
agravação ditada pela alínea e) do nº 1 do mesmo artigo 204º, mas a norma a
que fazemos referência (nº 3 do artigo 204º) manda valorála na medida da pena
(vejase o artigo 71º), considerando para efeito de determinação da pena a que
tiver efeito agravante mais forte. "Consagrouse para o furto qualificado o
sistema de absorção agravada quando concorrem várias qualificativas,
afastandose, neste caso particular, o regime geral que se nos afigura ter sido
perfilhado no artº 71º: Assim, concorrendo no mesmo crime qualquer das
qualificativas do nº 2 com qualquer das do nº 1 funcionará com o efeito
qualificativo somente a do nº 2, valorandose a do nº 1 só para efeito de fixação
da pena dentro da medida legal (…). Estando as várias qualificativas em
concurso previstas só no nº 1 ou só no nº 2 operará qualquer delas,
indiferentemente, com o efeito qualificativo, sendo as restantes valoradas na
medida da pena" (Maia Gonçalves). Cf. o lugar paralelo do artigo 177º, nº 6.
IV. A cláusula de não qualificação do artigo 203º, nº 4.
CASO nº 18C. A entra na loja de relojoaria de B para deitar a mão ao que pudesse.
Por cautela, leva no bolso uma pistola 6,35 mm, que em outras ocasiões já lhe serviu para se
desenrascar. Vendo um relógio a reluzir, A tomouo como valendo bem uns 500 euros, e
aproveitando uma distracção do empregado, meteuo ao bolso. O valor do mesmo, como
depois se comprovou, não era porém superior a 50 euros.
O produto do furto é de diminuto valor (artigos 202º, alínea c), e 204º, nº
4), pelo que, tomando à letra o preceito em análise, não haveria lugar à
qualificação. A qualificativa da alínea f) do nº 2 não funcionaria neste caso,
sendo o furto o do artigo 203º, nº 1. Noutra versão (Faria Costa, Conimbricense
II, p. 87): “se a coisa for de diminuto valor não chega sequer a preencherse o
tipo qualificador, remetendose o comportamento proibido para o tipo
matricial”, mas este contratipo “só deve funcionar se o agente da infracção
tiver representado que aquilo que quer furtar tem um diminuto valor”. Por
outro lado, há qualificativas, como a da alínea d) do nº 2, que não têm a ver com
o valor venal ou pecuniário da coisa, impossibilitando a aplicação da cláusula.
V. Outras indicações de leitura
- Assento nº 7/2000, de 19 de Janeiro de 2000, publicado no DR I sérieA de 7 de
Março de 2000: Não é enquadrável na previsão da alínea e) do nº 2 do artigo 204º
do Código Penal a conduta do agente que, em ordem à subtracção de coisa alheia,
se introduz em veículo automóvel através do rompimento, fractura ou
M. Miguez Garcia. 2001
423
destruição, no todo ou em parte, de dispositivo destinado a fechar ou impedir a
entrada no interior daquele veículo.
- Acórdão do STJ de 3 de Dezembro de 1998, processo nº 883/98: a expressão "coisa
transportada em veículo", referida na al. a) do n.º 1 do art.º 204, do CP, abrange
igualmente a coisa transportada ou levada pelo utente do veículo, ainda que o
seja pelo respectivo condutor.
- Acórdão da Relação de Lisboa de 21 de Janeiro de 1997, CJ, ano XXII (1997), t. 1,
p. 152: a apropriação de vários objectos existentes no interior de um veículo após
ter sido forçada a fechadura de uma das portas integra o crime do artigo 204º, nº
1, b), do CP.
- Acórdão do STJ de 15 de Janeiro de 1997, CJ, ano V (1997), t. 1, p. 195: furto em
automóvel; conceito de arrombamento; furto de autorádio cometido em
automóvel que tinha as portas fechadas e trancadas, podendo ser considerado
"receptáculo equipado com fechadura".
- Acórdão do STJ de 13 de Maio de 1998, processo nº 171/98: O conceito de
arrombamento dado agora pelo art.º 202, al. d), do CP de 1995, sofreu uma
redução do seu âmbito, relativamente à definição contida no art.º 298, n.º 1, do CP
de 1982, através da eliminação do segmento «ou de móveis destinados a guardar
quaisquer objectos», que deste constava. Como consequência, o «arrombamento»
de veículo automóvel deixou de estar contemplado no art.º 204, n.º 2, al. e), do CP
revisto e, por outro lado, a expressão «espaço fechado» constante do mesmo
artigo — seus n.ºs 1, al. f) e 2, al. e) — passou a ter de ser compreendida com o
sentido de «lugar fechado dependente de casa», ficando arredada, deste modo, a
inclusão da noção de veículo automóvel no referido conceito legal actual de
espaço fechado. Não existe razão para distinguir entre coisa furtada fechada em
gaveta ou cofre ou fechada numa viatura automóvel equipada com fechadura
destinada à sua segurança. A subtracção ilegítima de objectos do interior de
veículo automóvel que tinha as portas fechadas e trancadas (para o efeito o
arguido partiu o vidro da porta da frente ou forçou o fecho de uma das portas da
viatura) integra a autoria do crime dos artigos 203º e 204º, n.º 1, al. e), do CP 1995.
M. Miguez Garcia. 2001
424
A subtracção ilegítima de diversos objectos do interior de um barraco, por
rebentamento do fecho da porta, sem que conste da matéria de facto apurada que
aquele é um lugar dependente de casa, não integra o crime de furto qualificado,
p.p. pelo art.º 204, n.º 2, al. e), do CP, configurando, sim, o crime de furto
qualificado, p.p. pela al. e), do n.º 1, do mesmo artigo e diploma.
- Acórdão do STJ de 29 de Outubro de 1998: crime de furto qualificado por
arrombamento; o conceito de arrombamento; o conceito de casa na interpretação
do conceito de arrombamento.
- Acórdão do STJ de 9 de Março de 2000, BMJ495110: o artigo 204º comporta dois
conceitos de “entrada” para subtracção, sendo o primeiro o referido na alínea f)
do nº 1 e o segundo o mencionado na alínea e) do nº 2. Assim, enquanto na
primeira situação se exige que a entrada se faça na totalidade (tanto mais que até
se admite que o agente permaneça escondido), na segunda situação a entrada do
corpo pode ser apenas parcial desde que significativa, o que vale dizer suficiente
para a apropriação e consequente subtracção.
- Acórdão do STJ de 15 de Dezembro de 1998, processo nº 1044/98, BMJ48285:
não sendo um veículo automóvel uma "casa", nem lugar fechado dependente de
"casa", não pode o furto nele praticado, pela penetração no seu interior, ser
qualificado por arrombamento, à luz do Código Penal de 1995; o âmbito do
conceito de casa ou de lugar fechado dela dependente, para os efeitos da alínea d)
do artigo 202º do CP, não se restringe às casas de habitação, nele se incluindo,
ainda, os estabelecimentos comerciais ou industriais (como entidades físicas).
Uma casa para arrecadação é, também, "casa" para os efeitos da apontada alínea
d). Para além das "casas" expressamente contidas na alínea e) do nº 2 do artigo
204º do Código Penal, outras realidades aí se incluem como "casas", a subsumir
na categoria de "outro espaço fechado"; no conceito de "outro espaço fechado" em
conexão com a norma definitória de arrombamento cabem as casas de habitação,
estabelecimento comercial e industrial e ainda as outras casas que não podem
incluirse nessas realidades, bem como os lugares fechados delas dependentes,
compreendendo, por exemplo, os jardins murados e fechados anexos às "casas".
M. Miguez Garcia. 2001
425
- Acórdão do STJ de 13 de Janeiro de 1999, CJ, ano VII (1999), tomo 1, p. 177: face à
definição de arrombamento hoje vigente, o mesmo apenas poderá ocorrer em
"casa ou em lugar fechado dela dependente", pelo que nunca poderá ocorrer em
situação de arrombamento em relação a um veículo automóvel.
- Acórdão do STJ de 27 de Maio de 1999, CJ, ASTJ, ano VII, tomo 2, 1999, p. 220: o
arguido partiu o vidro da montra de um estabelecimento e de seguida introduziu
a mão pelo buraco aberto, retirando algumas peças de ouro que ali se
encontravam. A verificação da agravante qualificativa do crime de furto
qualificado do artigo 204º, nº 2, e), não pressupõe ou exige que a entrada em
habitação ou outro espaço fechado, por arrombamento, escalamento ou chave
falsa, seja da totalidade do corpo do agente.
- Acórdão do STJ de 23 de Junho de 1999, CJ, ASTJ, ano VII, tomo 2, 1999, p. 233;
BMJ488187. Âmbito da expressão "casa ou lugar fechado dela dependente". A
expressão "casa ou lugar fechado dela dependente", constante da alínea d ) do
artigo 202º compreende também os estabelecimentos comerciais ou industriais,
ou outros espaços fechados.
- Acórdão do STJ de 7 de Julho de 1999, CJ, ASTJ, ano VII, tomo 2, 1999, p. 243.
Mesmo depois da Reforma de 1995 deve manterse a jurisprudência que tem sido
seguida pelo STJ, segundo a qual se verifica concurso real de infracções entre os
crimes de furto ou roubo e o de introdução em casa alheia, a menos que essa
entrada em casa alheia constitua o elemento configurante e qualificativo dos
crimes de furto ou de roubo.
- Acórdão do STJ de 28 de Junho de 2000, CJ ano VIII (2000), tomo 2, p. 230: o
"outro espaço fechado" do artigo 204º, nº 2, e), não abrange as viaturas
automóveis — e não cabendo estas no modelo concebido pela alínea e) do nº 2 do
artigo 204º, necessária e consequentemente deixa de interessar qualquer
ponderação sobre o sentido do vocábulo “arrombamento”, nem haverá que
equacionar a questão da prática da infracção através de chaves falsas ou de
instrumentos similares: o que releva não é a penetração por esses meios, mas a
natureza do local onde esta se verifica por qualquer desses meios; por sua vez, no
M. Miguez Garcia. 2001
426
"outro receptáculo equipado com fechadura" do artigo 204º, nº 1, e ), pretendese
apenas acautelar os espaços como os cofres, os armários, os baús, o portaluvas
ou a bagageira se fechados à chave ou com outro sistema semelhante, mas já não
um veículo automóvel com as portas fechadas.
- Acórdão do STJ de 5 de Julho de 2000, BMJ49998: crime de furto qualificado;
chave falsa em penetração de veículo automóvel; bens transportados em veículo
automóvel; bens fechados em veículo.
M. Miguez Garcia. 2001
427
§ 19º Furto, roubo, extorsão. Subtracção de coisa alheia e violência.
I. Furto; roubo; extorsão; qualificação.
CASO nº 19: Numa cidade do Norte, J convenceuse de que poderia conseguir
dinheiro assaltando uma determinada estação de abastecimento de combustíveis. No momento
que lhe pareceu azado, entrou de rompante no escritório da estação e ameaçando o empregado
com uma pistola — calibre 9 mm — de que se munira, carregada e pronta a disparar, forçouo
a entrar num lugar reservado, onde o amordaçou e amarrou. Todavia, só encontrou uns parcos
escudos — 25 euros —, que era o dinheiro para os trocos que o empregado trazia consigo,
pouco antes, quando entrara de serviço. J descobriu então uma das fardas que os empregados
costumavam usar e vestiua. Passou assim a atender os clientes até que fez cerca de quinhentos
euros em notas, com as quais se retirou, satisfeito. O empregado veio mais tarde a ser libertado
por um cliente que, cansado de esperar, foi espreitar o que se passava no escritório (cf.
TankstellenFall, in Naucke, Strafrecht Eine Einführung, 7ª ed., 1995, p. 56).
Punibilidade de J ?
J, por constrangimento da vítima, empregando, para tanto, violência
(crimemeio), subtraiu os 25 euros, coisa móvel alheia, com ilegítima intenção
de apropriação (crimefim). Estando presentes os indispensáveis momentos
subjectivos, há roubo (artigo 210º, nº 1), devendo investigarse a existência de
qualquer elemento qualificador, nomeadamente, os requisitos apontados na
alínea b) do nº 2, que remete para o artigo 204º. No caso concreto, porém, deverá
sempre averiguarse se não será de desqualificar a conduta, tratandose de
valor diminuto (artigos 202º, alínea c), e 204º, nº 4). A matéria de facto integra
ainda o crime de sequestro (artigo 158º), com a privação da liberdade do
empregado. A subtracção da farda, coisa móvel alheia, pode levantar alguns
problemas, por não ser clara a intenção de apropriação — e a simples utilização
não é penalmente punível: artigos 203º, nº 1, e 208º, nº 1. Discutível é também o
enquadramento da apropriação do dinheiro apurado com a venda da gasolina
(furto? ou a continuação do roubo, que então nunca seria desqualificado em
razão do valor subtraído?). Por último: a pistola de 9 mm é uma arma proibida
(artigo 275º, nº 1).
• O roubo é um crime especial em que se juntam, numa unidade jurídica, o furto (crimefim)
e o atentado contra a liberdade ou a integridade física das pessoas (crimemeio).
Tratase de um crime complexo: a unidade de infracções é estabelecida pela própria
lei. * É um crime complexo, na medida em que o seu autor viola não só um bem
M. Miguez Garcia. 2001
428
jurídico de carácter patrimonial, mas também um bem jurídico eminentemente
pessoal (acórdão do STJ de 18 de Novembro de 1989, BMJ391239). O crime de roubo
não é mais do que um furto qualificado, em função do emprego de violência, física ou
moral, contra uma pessoa, ou da redução desta, por qualquer modo, à incapacidade
de resistir. É assim um crime complexo que, embora se apresente juridicamente uno,
integra na sua estrutura vários factos que podem constituir, em si mesmos, outros
crimes (acórdão do STJ de 19 de Setembro de 1996, processo nº 195 3ª Secção,
Internet).
• O desenho típico do roubo junta os elementos do furto e da coacção num só crime — crime
complexo, de dois actos, em que o ladrão constrange a sua vítima a ficar sem a coisa
de que se quer apropriar. O atentado contra a liberdade ou a integridade física da
pessoa é posto ao serviço de um fim, como meio de atingir a subtracção e impedir ou
neutralizar a reacção do visado. O roubo é assim (cf. J. Wessels, AT, p. 79) a
subtracção de coisa móvel alheia para o agente dela se apoderar (= ataque à coisa)
mediante o ataque à pessoa. Outro não era o espírito das Ordenações (liv. 5º, tít. 61º),
tratando dos que tomam alguma cousa por força e contra vontade daquele que a tem
em seu poder.
A norma (artigo 210º) conjuga intimamente a defesa da propriedade e a
liberdade da pessoa, com reflexos no sistema concursal. Tratandose de um
crime contra a propriedade, isso o distingue, prima facie, da extorsão, que é um
crime contra o património em geral. O furto, o roubo e a extorsão “varrem” os
respectivos campos de aplicação de forma tão completa que não houve
necessidade de prevenir a ocorrência de lacunas com um tipo intermédio — o
que não for roubo nem furto será extorsão. (Cf. Actas, p. 132).
O artigo 210º, nº 1, reproduz o desenho típico do furto: quem, com ilegítima
intenção de apropriação para si ou para outra pessoa, subtrair, (...), coisa móvel alheia
(...). A subtracção, ou o constrangimento a que a coisa seja entregue ao ladrão,
ocorrem, em alternativa, por meio de violência contra uma pessoa, de ameaça
com perigo iminente para a vida ou para a integridade física, ou pondoa na
impossibilidade de resistir. Para a subtracção de coisa com (ilegítima) intenção
de apropriação exigese uma relação de meiofim entre o ataque à pessoa e o
ataque à coisa. O emprego da violência ou ameaça deve ser um meio para
conseguir ou para assegurar a subtracção (fim).
M. Miguez Garcia. 2001
429
CASO nº 19A. Furto ou roubo? A entrou na loja dum posto de abastecimento de
combustível e solicitou um maço de cigarros à empregada. Acto contínuo, o A sacou de um
objecto de características não concretamente apuradas mas em tudo semelhante a uma pistola,
apontoua ao corpo da empregada e, em disposição imediata de ofender, ordenoulhe a entrega
da quantia que se encontrava na caixa registadora, o que esta fez com receio do A lhe causar a
morte ou lesão física. Seguidamente, o A abandonou o local, entrou no automóvel em que para
ali se deslocara e pôsse em fuga.
A sustentou ter cometido apenas um crime de furto, mas não o de roubo.
Argumentou que os factos apurados não integram nenhum dos crimes que
concorrem com o furto para compor o crime complexo que é o roubo. E na
verdade o A não praticou qualquer agressão na pessoa da empregada da
gasolineira, quer dizer: não se provou o exercício directo da força física sobre o
corpo da pessoa em causa. Não foi a mesma atingida por socos ou pontapés,
não foi atirada ao chão ou sofreu golpes de navalha nem foi alvo de
procedimento semelhante. Com o que, nesse sentido, se não empregou
violência material. É igualmente certo que o A também não cometeu o crime de
sequestro, porquanto não chegou a privar da liberdade os funcionários
assaltados de modo a configurarse tal ilícito.
No artigo 210º, nº 1, do Código Penal, para haver roubo, o autor deverá
praticar um furto para que a infracção resulte consumada. A mais disso, e no
que respeita aos meios, o facto de o agente pôr a pessoa na impossibilidade de
resistir constitui uma forma de comissão autónoma paralelamente ao uso da
violência contra uma pessoa e ao da ameaça com perigo iminente para a vida
ou para a integridade física. Ora, igualmente não resulta provado que para
quebrar a resistência da vítima —com o fim de evitar que a subtracção se
consumasse— tenham sido utilizados meios como o hipnotismo ou o emprego
de drogas ou do álcool. A fórmula pondoa na impossibilidade de resistir supõe
sempre a quebra da resistência do visado pela utilização de meios como esses,
ainda que tal não implique que essa impossibilidade de resistir não dure mais
do que uns instantes.
O outro meio típico do roubo, a ameaça ou violência moral (vis
compulsiva), supõe que o agente faça com que a vítima tema um prejuízo
iminente para a vida ou para a integridade física, cuja realização depende da
sua vontade. Pode ser uma lesão simples, mas o comportamento do sujeito
activo deve ser apropriado a afastar a resistência da vítima. Para averiguar se
tal é o caso, deverá o intérprete perguntarse se uma pessoa, colocada na
situação da vítima, renunciaria, também ela, a resistir. Por outro lado, não será
necessário que o autor esteja em condições de concretizar um prejuízo para o
correspondente bem jurídico, objecto da ameaça, embora deva agir de forma a
M. Miguez Garcia. 2001
430
fazer crer seriamente na possibilidade de a tornar efectiva. A ameaça tanto pode
dirigirse contra a pessoa que detém a coisa como contra quem está encarregado
de a guardar, por ex., o caixa. Pode mesmo dirigirse contra aquele que vem em
socorro de uma dessas pessoas.
Defendese ainda o A argumentando com o facto de não ter dito que ia
disparar com o objecto que trazia consigo, e que, além disso, o objecto usado era
inidóneo para produzir o resultado típico da ameaça e o A nunca poderia ter
agido com dolo de ameaça nesse sentido, sendo que, por outro lado, a vítima
não ficou impossibilitada de resistir. Se tivesse resistido, provavelmente fáloia
com sucesso.
Como facilmente se conclui, não consta que o A tivesse gritado “a bolsa ou
a vida!” ou coisa semelhante. E há que dar razão também ao A quanto à falta de
aptidão do objecto para produzir o perigo próprio da ameaça e mesmo para
impossibilitar os visados de resistirem. A réplica da pistola usada não era apta a
deflagrar munições, lançando projécteis pelo efeito da deflagração de uma
carga explosiva.
Se a ameaça é ou não realizável, ou se o agente a quer ou não executar, é
irrelevante. Decisivo é apenas que o agente, como no caso aconteceu, revele a
aparência de estar a agir com seriedade e que a vítima leve a ameaça a sério.
Revestida destas características, não há dúvida de que a ameaça imediata
para a vida ou a integridade física se revela capaz de quebrar a resistência da
vítima e é passível de ser executada com uma pistola de brinquedo ou uma
pistola de alarme, ou com a réplica de uma pistola para funcionar como
isqueiro ou outro objecto de características não concretamente apuradas, mas
em tudo semelhante a uma pistola enquanto arma de fogo. Tal modo de chegar
ao alheio configura um dos meios típicos que no artigo 210º, nº 1, do Código
Penal, servem à subtracção ou ao constrangimento a que ao ladrão seja entregue
coisa móvel que lhe não pertence, agindo este com intenção de apropriação.
No caso, o A, além de actuar com intenção de apropriação de coisa alheia,
actuou igualmente com consciência e vontade de utilizar um dos meios previsto
no citado artigo 210º, nº 1, concretamente a ameaça com perigo iminente para a
vida ou a integridade física, não fazendo o menor sentido proclamar que nunca
poderia ter agido com dolo de ameaça. Na perspectiva da vítima no momento
da ocorrência do assalto, o objecto utilizado era perfeitamente idóneo não só a
quebrar a resistência da mesma, mas simultaneamente a fazêla sentirse
ameaçada na sua vida e integridade física. Mesmo sem fazer acompanhar os
seus procedimentos concludentes de ameaças verbais, o A, conscientemente,
agiu de modo a fazerse compreender nos seus propósitos de se apropriar do
M. Miguez Garcia. 2001
431
alheio, fazendoa crer que qualquer resistência da sua parte seria brindada com
um prejuízo imediato para a vida ou para a integridade corporal. O A simulou a
utilização de uma pistola verdadeira. A vítima pensou tratarse disso mesmo e
receou ser molestada na forma que ficou exposta. É inquestionável a adequação
da conduta do A para intimidar seriamente essa pessoa, fazendolhe crer que
corria perigo de ofensa iminente e incutindolhe o correspondente temor, por
aquela realmente sentido, a ponto de não esboçar resistência à subtracção que se
concretizou. O comportamento do A é o apropriado ao afastamento de
quaisquer veleidades de resistir e, sempre na perspectiva da vítima, em
disposição de a ofender.
Partindo da ideia simples de que para correcta avaliação do sucedido se
deverá perguntar se uma pessoa, colocada na situação da vítima, renunciaria,
como esta fez, a resistir, a resposta só pode ser afirmativa. Também por isso não
tinha o julgador que averiguar se da parte do A havia ou não a intenção de
enganar a vítima por forma a que esta pensasse que se tratava de uma arma
verdadeira. Efectivamente, não interessa a real capacidade da arma para
disparar, mas antes a mera aparência dessa capacidade vista por um homem
médio.
• Violência, ameaça, a terceira via — a ambiência de violência. O acórdão do STJ de 26 de
Outubro de 1977 (BMJ27075) afirmou claramente que "ainda que o réu se não
encontrasse armado, não tenha exercido violência física, nem tenha posto em perigo a
integridade física da vítima, é de considerar a existência de ameaças para o efeito
qualificativo do crime de roubo se estas forem produzidas em circunstâncias e
condicionalismo histórico susceptíveis de intimidar e coagir uma pessoa normal a
proceder como a vítima procedeu". Por outro lado, já na vigência do actual Código
Penal, o mesmo Supremo Tribunal, no acórdão de 6 de Outubro de 1994, deixou
expresso que "à violência física ou psíquica (ameaça) o artigo 306º, nº 1, do Código
Penal, equipara a violência que se concretiza por qualquer meio que ponha o sujeito
passivo na impossibilidade de resistir, e a que alguma doutrina chama "violência
imprópria". Esta "terceira via pressupõe processos físicos ou psíquicos que coloquem
a vítima em situação de disponibilidade quanto ao agente pela incapacidade de se lhe
opor". Cf. ainda o acórdão do STJ de 5 de Abril de 1995, BMJ44638, onde se refere
"que a "ambiência de violência" provocada pelos arguidos constituiu uma causa
necessária e adequada de um estado emocional de medo, na pessoa da vítima; e o
M. Miguez Garcia. 2001
432
acórdão do STJ de 12 de Junho de 1997, BMJ468 140: a violência não é
necessariamente a que causa lesões ou magoa a vítima; não implica sequer contacto
físico com a vítima, bastando o uso da força adequada à subtracção com afronta, com
assalto, é a que ofende a vítima na sua liberdade de determinação, criando a situação
de impossibilidade de resistir.
• Violência é o emprego de força física adequada para vencer um obstáculo real ou suposto.
No crime de roubo, a violência ou ameaça não tem que ter especial intensidade, basta
que seja idónea para pôr o ofendido num estado de coacção absoluta, sem poder
resistir. Integra o conceito de violência o facto de o arguido caminhar atrás da
ofendida de 86 anos, de modo a "aparecerlhe pelas costas", e ao aproximarse da
mesma puxar o saco que ela levava numa das mãos, fazendoo coisa sua Acórdão
do STJ de 11 de Março de 1998, BMJ475217.
• Praticam o crime de roubo aqueles que, sendo noite e agindo de comum acordo, obrigam
outrem a entregarlhes um fio em ouro, mediante a ameaça de que usariam o revólver
de alarme em tudo idêntico a uma verdadeira arma de fogo que, por isso, criou na
mente do ofendido a convicção de que se tratava de uma arma desta natureza
(acórdão do STJ de 6 de Outubro de 1993, BMJ430241).
• No acórdão do STJ de 11 de Maio de 1994, BMJ 430246, entendeuse que a utilização de
um isqueiro em forma de pistola, apontado à cabeça dos ofendidos, a quem foi criada
a convicção de que se tratava de uma verdadeira arma de fogo, o que foi
determinante para que eles deixassem de opor qualquer resistência aos intuitos de
apropriação do arguido, integra a prática do crime de roubo do artigo 306º, nºs 1 e 2,
alínea a), e não da alínea a) do nº 3 (CP82).
• Qualquer violência física, sem danos para a integridade corporal, como a violência moral,
procurando criar no espírito da vítima um fundado receio de grave e iminente mal
capaz de paralisar a reacção contra o agente integra o crime de roubo. É equiparada à
violência qualquer maneira ardilosa, subreptícia ou similar pela qual o agente,
embora sem o emprego da força ou incutimento de medo, consegue privar a vítima
do poder de reagir (acórdão do STJ de 19 de Dezembro de 1989, BMJ392251).
M. Miguez Garcia. 2001
433
• A subtracção fraudulenta feita com ameaça de seringa que o arguido diz infectada com
vírus da sida integra o crime de roubo ao artigo 210º, nº 1, já que ela deve ser
considerada como arma (acórdão do STJ de 8 de Fevereiro de 1996, CJ, ano IV, t. 1
(1996), p. 206).
• A lei equipara à utilização da violência a ameaça de um perigo iminente contra a vida ou a
integridade física. Se a ameaça é ou não realizável ou se de facto o agente a quer ou
não executar, é indiferente. “A ameaça de que se trata é uma ameaça grave que
procura criar no espírito da vítima um fundado receio de grave e iminente mal,
injusto ou justo, capaz de, no caso concreto, paralisar a reacção contra o agente”
(Simas SantosLeal Henriques, p. 104).
Vejamos também a hipótese da força exercida directamente sobre coisas,
quando o ladrão as arrebata, de surpresa, com violência sobre o braço ou a mão
da vítima (sacão, esticão).
CASO nº 19B. Roubo por esticão. A, quando na rua se cruza com B, arrancalhe
a carteira que B leva ao ombro e foge.
Poderá continuar a falarse em violência contra uma pessoa, quando o
ladrão actua simplesmente por “esticão” ou por “sacão”? Se o ladrão arranca a
carteira das mãos da vítima, houve desde sempre a tendência para qualificar a
subtracção como roubo, com o argumento de que, também num caso destes, a
capacidade de reacção da vítima foi impedida ou neutralizada: tratase ainda de
violência contra a pessoa. Responde a jurisprudência:
• Integra o crime de roubo tipificado no artigo 306º, nº 1, do Código Penal82 toda a acção
cometida com força física contra as pessoas votada à finalidade de lhes tirar algum
objecto que elas transportem — pois que este lhes é subtraído com força. Essa
integração da tipicidade criminal não está dependente de efectiva produção de efeito
lesivo no corpo da vítima. O modo subtractivo vulgarmente designado por “esticão”
ou “sacão” tem sido considerado, pela generalidade da jurisprudência, como
integrador da tipicidade do crime de roubo precisamente porque o seu carácter é
moldado pelo elemento violência (acórdão do STJ de 20 de Maio de 1993, BMJ427
273).
M. Miguez Garcia. 2001
434
• Integra crime de roubo a subtracção pelo agente, por esticão ou sacão, de uma pulseira de
ouro que a ofendida tinha no pulso (acórdão da Relação de Lisboa de 7 de Março de
1984, BMJ342434).
Voltando ao caso nº 19. Na actuação de J estará caracterizado um crime de
extorsão (artigo 223º)?
A extorsão situase entre os crimes contra a liberdade e os crimes contra o
património. Significa um constrangimento a uma disposição patrimonial que
causa prejuízo com intenção de conseguir enriquecimento ilegítimo para o
agente ou para terceiro. Na sistemática do código é um crime patrimonial em
que está em causa a liberdade de disposição. A afinidade com os crimes contra
a liberdade resulta, desde logo, da letra do artigo 223º, que utiliza agora a
expressão “Quem, (…) constranger outra pessoa, por meio de violência ou de
ameaça com mal importante...”, que é a mesma do artigo 154º (coacção). Na
extorsão, a violência identificase apenas com a vis compulsiva, a que se limita à
actuação na vontade da vítima. Excluise a vis absoluta, pois a extorsão supõe
uma disposição patrimonial — em paralelo com o acto do burlado, que
normalmente terá a mesma natureza —, pelo que à vítima deve restar, pelo
menos, a liberdade de actuar nesse sentido (Lackner, p. 1176; Stratenwerth, p.
347). Há também afinidades com o roubo, que é o complemento natural da
extorsão. Mas os meios de constrangimento não se identificam necessariamente.
Na extorsão, a ameaça não tem que ser com perigo iminente para a vida ou para
a integridade física, podendo ser à honra (Actas, acta nº 9, p. 146) ou ao
património, nem a violência tem que ser contra uma pessoa.
A bolsa ou a vida! A bolsa e a vida! Na extorsão ocorre um
constrangimento a uma disposição patrimonial que acarreta prejuízo — a
vítima faz chegar às mãos do agente aquilo que este lhe exige; no roubo, que é
crime contra a propriedade, o constrangimento é dirigido à entrega de coisa
móvel alheia, que o ladrão subtrai, tira por si mesmo (ou faz com que se lhe
entregue, o que dá no mesmo). E que subtrai logo ali, em acto seguido ou
simultâneo ao do emprego da violência — à maior parte dos roubos seguese
a fuga do ladrão com a coisa. Este modus operandi não é típico da extorsão — a
vantagem patrimonial vem depois. Por outro lado, no roubo a vítima fica sem
alternativa, se não dá a bolsa, dá a bolsa ... e a vida: cumprindose a ameaça, o
ladrão “levalhe” as duas. Mas na extorsão, se o delinquente "levar" a vida da
vítima (ou de terceiro), não consegue o seu objectivo principal, a vantagem
patrimonial não é satisfeita.
M. Miguez Garcia. 2001
435
• A doutrina e a jurisprudência suíças insistem em que na extorsão a vítima continua com
alguma liberdade de escolha, ainda que em medida mínima. A ameaça do género “a
bolsa ou a vida” significa que a vítima tem que escolher entre a simples perda de uma
coisa e perder também a vida. Vendo as coisas na perspectiva de uma desvantagem
patrimonial, para quem foi roubado não ficou qualquer liberdade de escolha. Mas se
alguém tem uma pistola apontada à cabeça e subscreve uma letra de câmbio ou se
passa um cheque só se pode falar de extorsão. Se o coagido não verga, se opta por
levar o tiro, já não fica em condições de assinar, e o agente, contrariamente ao que
sucede no roubo, não consegue a vantagem patrimonial pretendida. Por outras
palavras, a posição da vítima da extorsão é mais forte (Stratenwerth, p. 349).
No acórdão do STJ de 26 de Fevereiro de 1992, BMJ 414254, acentuase a
semelhança com o crime de burla, em que o lesado como que colabora no
alcance da vantagem patrimonial para o criminoso, pelo engano em que caiu. A
diferença reside em que num caso a vítima é levada a essa colaboração pelo
engano e, no outro, pela violência. É esta colaboração que falta no roubo. "O
elemento típico desta infracção é o constrangimento do ofendido, exigindose
uma relação de causalidade entre a actuação violenta ou ameaçadora do
arguido e a situação de constrangimento ou de impossibilidade de resistir da
vítima, que a leva a "colaborar" na satisfação dos objectivos do agente".
O ânimo de lucro (“Quem, com intenção de conseguir para si ou para
terceiro enriquecimento ilegítimo…”) aproxima a extorsão da burla, mas ambas
se distinguem pelos meios que o agente emprega: na burla, o engano ou o erro
provocado por astúcia, que determina de forma voluntária, ainda que
inconsciente, o prejuízo patrimonial; na extorsão, onde o prejuízo é
conscientemente suportado, o constrangimento é o meio de alcançar o lucro
intencionado.
O núcleo do tipo é dado pelo verbo constranger, que é aqui empregado no
sentido de forçar, coagir e obrigar a determinada acção, omissão ou inacção, ou
a tolerar algo, que tenha as características de uma disposição patrimonial. A
violência a que o nº 1 do artigo 223º se refere abrange qualquer forma, física ou
psíquica, mas é também a violência sobre coisas
Se se produzir perigo para a vida da vítima ou se se lhe infligir, pelo
menos por negligência, ofensa à integridade física grave, ou se do facto resultar
a morte de outra pessoa, a extorsão é qualificada, nos termos do nº 3. Por outro
lado, se a violência é contra a pessoa do visado e determina logo a entrega de
uma coisa móvel, o crime será o de roubo —, não ocorre a disposição
M. Miguez Garcia. 2001
436
patrimonial que é elemento típico do artigo 223º. Tudo depende das
circunstâncias. Pode haver elevada violência contra coisas, por exemplo, a
destruição de um estabelecimento comercial, cujo proprietário se recusou a
pagar a “protecção” concedida, ou ameaça com mal importante que não visa
directamente qualquer pessoa, como no caso de fogo posto. Na violência ou
ameaça contra terceiro(s), o visado pode ser ainda uma pessoa por quem o
constrangido se sinta responsável, mas estes casos convocam na maior parte
das vezes a tomada de reféns. O “simples aviso” não se identifica com qualquer
forma de constrangimento, pois o requisito mínimo para que a disposição
patrimonial seja consequência necessária da actuação sobre a vontade da vítima
é a ameaça com mal importante.
O tipo subjectivo sobrepõese, como se viu, ao da burla comum. Exigese
agora, expressamente, a intenção de conseguir um enriquecimento ilegítimo.
Não havendo essa intenção, e estando reunidos os restantes elementos típicos,
pode haver, por exemplo, um crime de ameaça.
Outras indicações jurisprudenciais:
• Actualmente, o elemento que distingue o crime de roubo do de extorsão é a forma de
actuação do agente — violência ou coacção físicas, ou, sobretudo, físicas, no primeiro,
e violência psicológica, no segundo — por se ter feito uma autonomização conceitual
deste último em relação àquele. Comete um crime de extorsão e não de roubo o
agente que, por meio do recurso a cartas e telefonemas anónimos em que ameaça o
lesado da prática de algum mal, consegue que este lhe entregue bens ou valores
(acórdão da Relação de Évora de 24 de Março de 1987, BMJ366590; CJ, ano XII, t. 2,
p. 315).
• Comete o crime de extorsão o agente da PSP que, na sequência de acidente de viação
supostamente provocado pela conduta contravencional de uma pessoa, informaa de
que teria de ser imediatamente detida e conduzida ao posto policial, colocandoa em
estado de grande embaraço e agitação e, servindose do constrangimento criado,
exige, em troca da não concretização dessas medidas, a entrega imediata —
conseguida — da quantia de 100 contos. As ameaças a que o preceito se refere não se
confundem com as previstas no artigo 155º, em que é indispensável que o mal
ameaçado seja injusto. No crime de extorsão é irrelevante que esse mal seja justo ou
injusto, uma vez que, mesmo quando o agente tenha o direito de infligir o mal
M. Miguez Garcia. 2001
437
ameaçado, essa ameaça, enquanto meio de praticar um crime, fálo cair na alçcada
deste normativo. No crime de extorsão a ameaça não tem que ser para a vida ou
integridade física, podendo incidir também sobre a honra, a reputação, o crédito
comercial, o nome profissional ou artístico, a tranquilidade familiar ou pessoal
(acórdão do STJ de 10 de Outubro de 1996, CJ, ano IV, tomo 3, p. 156; e BMJ 460574).
• Cometem apenas um crime de extorsão os arguidos que pretendem extorquir dinheiro a
certa pessoa, embora para isso atemorizem também os seus familiares. Isto porque o
elemento primordial que o preceito tem em vista é a protecção do património do
ofendido (ac. do STJ de 15 de Outubro de 1997, CJ, 1997V, p. 187).
Como logo se vê, J do caso nº 19 não cometeu o crime de extorsão.
II. Conceito de "arma"; qualificação do crime de roubo.
CASO nº 19C: A jurisprudência do STJ não tem sido uniforme sobre se
o uso de uma pistola de alarme qualifica o roubo. A entrou na taberna de B e
apropriouse de 575$00 que lhe subtraiu por meio de violência física e também por meio de
ameaça com uma pistola de alarme, levandoa a crer tratarse de uma arma de fogo.
Crime de roubo simples ou qualificado?
• Dizse no acórdão do STJ de 4 de Junho de 1997, BMJ468105: Se uma pistola de alarme
constitui o facto qualificativo "arma" (artigo 210º, nº 2, b) é questão objecto de
controvérsia; para uns, a qualificativa é de ordem subjectiva e enraízase na maior
intimidação da vítima, porque o temor resultante da ameaça exercida com arma,
verdadeira ou não, é tal que anula a capacidade de resistência da vítima; segundo
outros, a qualificativa é de ordem objectiva por representar uma maior dificuldade de
defesa e um maior perigo para o ofendido e para quem acorra em seu socorro, além
de revelar maior perigosidade do agente. O acórdão não hesita em aderir à corrente
objectivista. Na verdade, a lei sempre integrou na qualificativa tanto as armas
aparentes (trazidas à vista) como as ocultas (não apercebidas pelo ofendido e
consequentemente destituídas de efeito intimidativo). Assim, no domínio do Código
de 1886, um roubo cometido só com um revólver simulado não podia considerarse
como cometido com arma e assim qualificado (cf. Duarte Faveiro, Código Penal
Português anotado, 1952, p. 691). Ora, uma pistola de alarme — utilizada por forma a
M. Miguez Garcia. 2001
438
criar no ofendido a ideia de tratarse de uma arma de fogo — é suficiente para
integrar a ameaça de perigo iminente, elemento típico do crime de roubo simples,
mas é facto atípico para efeito de qualificação. De resto, as pistolas de alarme — quer
pela sua função quer pelo material em que são feitas — não são armas: estas têm
definição na própria lei — artigo 4º do DecretoLei nº 48/95, de 15 de Março.
• O acórdão do STJ de 27 de Junho de 1996, CJ, ano IV (1996), p. 201, qualificou como
“arma”, para efeitos da verificação do crime de furto qualificado, uma pistola que não
estava em condições de disparar, mas sem que o ofendido soubesse ou devesse saber
dessa deficiência. Porque no caso foram subtraídos violentamente valores ao
ofendido, com simultânea utilização da pistola a que faltava o percutor e a respectiva
mola de recuperação, configurase a prática do crime de roubo agravado, segundo
este acórdão, que define “arma”, para efeitos dos artigos 204º e 210º, como sendo todo
o objecto que tenha a virtualidade de provocar nas pessoas ofendidas ou nos
circunstantes um justo receio de virem a ser lesadas, através da respectiva utilização,
na sua integridade física, mesmo que de facto e sem que elas o saibam não possa
cumprir cabalmente tal função.
• O acórdão do STJ de 11 de Março de 1998, CJ, 1998, tomo 1, p. 220, ocupase do mesmo
tema com a particularidade de ter dois votos de vencido. Ainda sobre o que deve
entenderse como arma para efeitos da circunstância qualificativa do artigo 204º, nº 2,
f): acórdão do STJ de 16 de Abril de 1998, CJ, ano IV (1998), tomo II, p. 187; Acórdão
do STJ de 20 de Maio de 1998, CJ, ano IV (1998), tomo II, p. 201. Sobre a utilização da
seringa como arma: Acórdão do STJ de 20 de Maio de 1998, CJ, ano IV (1998), tomo II,
p. 205; Acórdão do STJ de 8 de Julho de 1998, CJ, ano IV (1998), tomo II, p. 251.Posse
de uma réplica de uma arma de fogo sem capacidade para disparar: ac. do STJ de 16
de Abril de 1998, BMJ476107.
• Estando provado que os arguidos apontaram uma «pistolaisqueiro» — em tudo
semelhante a uma arma de fogo verdadeira — ao ofendido que, convencido de que se
tratava de uma pistola de verdade, receando pela sua integridade física e até pela
vida, se submeteu, sem reacção, à concretização dos desígnios dos arguidos, o certo é
que aquele objecto não pode considerarse como arma (instrumento eficaz de
M. Miguez Garcia. 2001
439
agressão), para efeitos do disposto na alínea f), do n.º 2, do art.º 204, do CP, uma vez
que, de facto, nem autoriza o agente a sentirse mais confiante e audaz, nem reduz
realmente as possibilidades de defesa da vítima. Ac. do STJ de 18021998 Processo n.º
34/98 3.ª Secção.
• A razão de política criminal fundante da consagração da agravante qualificativa do crime
de roubo "trazendo, no momento do crime, arma aparente ou oculta" (art.ºs 204, n.º 2,
al. f) e 210, n.º 2, al. b), do CP) é uma especial censura do agente, por o tornar mais
audaz e criar maiores dificuldades de defesa da vítima. A utilização (ou a exibição) de
uma pistola de alarme pelo arguido constitui uma forma de intimidação idónea a
fazer o ofendido recear pela sua integridade física, logo causal da entrega de bens e
valores, ou seja, na terminologia legal, constitutiva de um "constrangimento".
Todavia, na ordem fáctica (o arguido apontou ao ofendido uma pistola de alarme, e
exigiu que este lhe desse determinada quantia em dinheiro) parece mais adequado
falar de um meio astucioso do que propriamente da expressão de uma vontade firme
de induzir no ofendido a ideia de que se seguiria uma agressão caso aquele meio
pistola de alarme não produzisse o resultado querido pelo arguido. Assim, a
exibição daquele instrumento pistola de alarme não foi, do ponto de vista
objectivo, apto a configurar o conceito de "arma", ainda que aparente, e, por essa
via, a justificar a qualificação do roubo à luz da circunstância agravativa da al. f), do
n.º 2, do art.º 204, do CP. 18031998 Processo n.º 1461/97 3.ª Secção. Cf. também o
acórdão do STJ de 28 de Maio de 1998, BMJ477136.
• O conceito de "arma" dado pelo art.º 4, do DL n.º 48/95, de 15 de Março, abrange apenas os
instrumentos que são ou podem ser utilizados como meios eficazes de agressão, ou
seja, aqueles que servem ou podem servir para ofender fisicamente uma pessoa, de
forma significativa ou não insignificante. A visão de uma seringa empunhada contra
uma pessoa gera, sem dúvida, um temor que paralisa a vontade de resistir de quem
quer que seja, porque existe a séria possibilidade de que aquela esteja infectada,
nomeadamente com o vírus da SIDA, integrando tal conduta o elemento típico do
crime de roubo descrito no art.º 210, n.º 1, do CP, como "ameaça com perigo iminente
para a vida ou integridade física". Mas, se para a relevância da ameaça, é indiferente
M. Miguez Garcia. 2001
440
que a seringa esteja ou não infectada, o mesmo já não acontece quando está em causa
a qualificação de tal instrumento como "arma". Para este efeito, o que é decisivo não é
que a seringa, na sua aparência, seja adequada a provocar um temor que anule a
capacidade de reacção da vítima, mas, sim, que ela, realmente, seja ou possa ser
utilizada como meio eficaz de agressão ou, por outras palavras, que sirva ou possa
servir para ofender fisicamente uma pessoa, de forma significativa ou não
insignificante. Deste modo, resulta claro que uma seringa infectada é uma arma
(uma vez que a transmissão de uma doença a uma pessoa representa, sempre, para
esta, uma ofensa física importante) como que o não é uma não infectada ou inócua do
ponto de vista sanitário (uma vez que a simples picada de uma agulha não pode,
razoavelmente, considerarse um lesão física significativa). Não estando provado que
a seringa utilizada pelo arguido, contra a ofendida, estivesse infectada, aquela não
cabe no conceito penal de arma, não se verificando, assim, a circunstância prevista no
art.º 204, n.º 2, al. f), do CP, e, por via dela, o crime de roubo qualificado, p.p. pelo art.
210, n.º 2, al. b), do mesmo diploma. 20051998 Processo n.º 370/98 3.ª Secção.
• Acórdão do STJ de 11 de Outubro de 2001, CJ, 2001, ano IX, tomo III, p. 191: uma pistola de
alarme não integra o conceito de arma do artigo 4º do DL nº 48/95, de 13 de Março.
No mesmo sentido, com uso de pistola simulada, o acórdão do STJ de 17 de Janeiro
de 2002, CJ 2002, tomo I, p. 183.
• Acórdão da Relação de Lisboa de 19 de Fevereiro de 2002, CJ 2002 tomo I, p. 150: não
estando provado que uma seringa estivesse infectada com o vírus da sida e
desconhecendose as respectivas características, a mesma não pode ser considerada
como "arma" para qualificar o crime de roubo.
Na Alemanha colocavamse idênticos problemas, a que a nova redacção
do § 250 do StGB terá posto termo (cf. W. Mitsch, Raub mit Waffen und
Werkzeugen, JuS 1999, p. 640 e ss.). As decisões jurisprudenciais inclinavamse
para o roubo agravado quando o ladrão usa uma pistola sem munições — do
ponto de vista do agente é quanto basta para neutralizar a resistência da vítima;
por parte desta, a perigosidade do assaltante é sempre a mesma, ainda que a
arma não esteja em condições de funcionar. A doutrina pronunciavase contra,
desde logo porque a questão da perigosidade já se mostra abrangida pelo delito
fundamental do roubo. Acontece, além disso, que o peso da ameaça de uma
M. Miguez Garcia. 2001
441
pistola de alarme não é significativamente maior do que o do assaltante
decidido, inclusivamente, a estrangular a vítima renitente. Ora, nesta última
hipótese, a ameaça nunca faria inclinar a balança para o lado do roubo
agravado. Finalmente, o simples facto de se empunhar uma pistola de alarme
não é, só por si, indício da maior perigosidade do agente, que frequentemente
não passa de um pobre diabo cujo atrevimento contrasta com a atitude do
assaltante que, por estar disposto a tudo, não encontrará obstáculos na
aquisição duma arma de fogo autêntica (cf. H. Otto, Jura 1997, p. 473; Geppert,
Jura 1992, p. 496; ainda, Hillenkamp, 40 Probleme, p. 151).
• Outra questão é a de saber se o ladrão é capaz de usar a arma. Cf. Kindhäuser, BT II, p. 131.
Cf., ainda, K. Geppert, Jura 1999, p. 599 e ss.; e Jura 6/2000, com comentário à decisão
do BGHSt. 45, 249, NJW 2000, 1050: ladrão que utiliza no assalto uma pistola sem
munições, mas que as leva consigo num bolso do blusão — colocase a questão de
saber se a pistola descarregada é um simples instrumento de ameaça ou se deverá ser
equiparada a uma arma objectivamente perigosa.
III. Emprego de violência e subtracção de coisa alheia / subtracção de coisa
alheia e emprego de violência.
Hipóteses:
a) A violência que o agente emprega para conseguir a subtracção, batendo na cabeça da
vítima com uma barra de ferro, chegou a pôr em perigo a vida desta;
b) A violência que o agente emprega para conseguir a subtracção, batendo na vítima
conscientemente, é de tal ordem que chega até a perfurarlhe irremediavelmente um
dos olhos;
c) Durante o assalto à mão armada a vítima tem um ataque cardíaco e morre;
d) O agente assalta a vítima na parte da manhã; o mesmo agente volta a assaltar a
mesma vítima nesse mesmo dia à tarde;
M. Miguez Garcia. 2001
442
e) O agente dá dois murros na vítima para conseguir que esta lhe entregue os 25 euros
que leva consigo.
f) O agente mata e depois forma a intenção de se apoderar da coisa (homicídio e furto,
eventualmente qualificados);
g) O agente mata para se apoderar da coisa alheia ("latrocínio": roubo acompanhado de
homicídio voluntário);
h) O agente que praticou um roubo mata uma testemunha incómoda (outra pessoa):
alínea f) do nº 2 do artigo 132º);
i) O agente que praticou um roubo, espontaneamente mata a vítima do roubo para o
encobrir (alínea f) do nº 2 do artigo 132º);
j) O agente subtrai a carteira que B tinha em cima de uma mesa e depois, porque não
gosta da cara deste, dálhe dois murros.
k) O agente subtrai a coisa e, para conservála, usa os meios do roubo (artigo 211º);
l) O agente subtrai primeiro, cometendo depois o homicídio (furto acompanhado de
homicídio);
m) O assaltante ameaça a dona e a empregada da loja com uma seringa que diz estar
infectada; quer todo o dinheiro da caixa, que está à guarda das duas;
n) O assaltante ameaça o cliente e o dono da loja com uma pistola; quer que este lhe dê
o dinheiro da caixa;
o) O assaltante dispara para o tecto para intimidar os empregados do Banco e a bala,
por ricochete, vai matar um cliente: cf. o artigo 210º, nºs 1 e 3;
p) O assaltante, de pistola em punho, leva todo o dinheiro da vítima: 2 contos;
Indicações jurisprudenciais:
M. Miguez Garcia. 2001
443
• O roubo encerra, fundidos numa unidade jurídica, o furto (que é o crimefim) e o atentado
contra a liberdade ou a integridade física das pessoas (crimemeio). Será sempre
necessário, para a determinação do número de crimes de roubo efectivamente
praticados, determinarse previamente se, e em que medida, o crime contra as
pessoas foi meio para atingir o crimefim (furto), sendo certo que, se o não foi, pode
esse crime ganhar autonomia (como crime de ameaças, de ofensas corporais, etc.) sem
que faça parte do crime de roubo. Por isso é que, no caso em que um ou mais agentes
que irrompem num banco de metralhadoras em punho e de cara tapada e ameaçam
de morte não só os empregados como os clientes que na altura ali se encontram, a
todos criando um forte estado de pavor, não se considera terem sido cometidos tantos
crimes de roubo quantas as pessoas ameaçadas, pois que, designadamente os clientes
(a não ser que sejam individualmente despojados de bens ou que a violência sobre
algum deles exercida seja essencialmente determinante da entrega ou da
impossibilidade de resistir à apropriação dos bens objecto da subtracção) nem detêm
as coisas objecto do furto (crimefim), nem têm interesse directo em resistir à
subtracção das coisas, nem os agentes precisam de vencer essa resistência para atingir
o seu objectivo. No caso dos autos, tanto a empregada do estabelecimento como a
dona deste tinham à sua guarda o dinheiro contido na caixa registadora; qualquer
delas tinha interesse legítimo em oporse a qualquer acto de subtracção de tal
dinheiro; e a resistência de qualquer delas tinha de ser vencida para o arguido
conseguir fazer entrar na sua esfera patrimonial o respectivo valor. Portanto, a
violência exercida (mediante ameaça de inoculação do vírus da sida) sobre qualquer
delas foi crimemeio em relação ao crimefim (furto), podendo concluirse que o
arguido praticou, em concurso real, dois crimes de roubo” (acórdão do STJ de 16 de
Junho de 1994, CJ, acórdãos do STJ, ano II (1994), t. II, p. 253).
• Não é subsumível à figura do crime continuado a comissão de diversos crimes de roubo
em que são violados não só bens patrimoniais como bens eminentemente pessoais e
em que são ofendidas pessoas distintas (acórdão do STJ de 1 de Fevereiro de 1996, CJ,
ano IV, t. 1 (1996), p. 198).
M. Miguez Garcia. 2001
444
• A insignificância do valor apropriado não obsta à qualificação como crime de roubo
(acórdão do STJ de 17 de Junho de 1993, CJ) cf., porém, o disposto nos artigos 204º,
nºs 1 e 2, e 210º, nºs 1 e 2, alínea b), pois nestes casos, não há lugar à qualificação se a
coisa subtraída for de diminuto valor.
• O roubo impróprio compreende as situações em que a violência contra as pessoas surge
ainda durante a execução do furto (“em flagrante delito de furto”) acórdão da
Relação de Lisboa de 29/1/91, CJ); só o integra a violência cometida depois de o
agente se ter apropriado de bens do ofendido (acórdão da Relação de Lisboa de 15 de
Abril de 1993, CJ).
• Violência depois da apropriação para o agente se subtrair à detenção: furto em concurso
real com ofensas corporais (acórdão do STJ de 21/10/1992, CJ).
• Roubo e sequestro: quando o agente, para subtrair diversos bens ao lesado, para além da
agressão física, se socorre de violenta privação da sua liberdade (acórdão do STJ de
22/4/92, CJ, e BMJ416363); são bens distintos os valores protegidos pelas normas
incriminadoras do sequestro e do roubo, e, mesmo a violência, em que consiste o
sequestro, excede em muito o âmbito da violência essencial para a configuração do
crime de roubo (acórdão da Relação do Porto de 27 de Março de 1985, CJ, ano X, t. 2,
p. 246); no mesmo sentido, o acórdão do STJ de 1 de Abril de 1992, BMJ416346.
Cometem dois crimes distintos, um de roubo e outro de sequestro, os arguidos que
após se terem apoderado de diversos valores do ofendido lhe ataram as mãos atrás
das costas, obrigandoo a sentarse no banco da retaguarda do seu carro,
abandonando o local logo de seguida. A detenção de uma pistola de calibre 6,35 mm,
não registada nem manifestada, não integra o crime do artº 275, nº 2 do CP de 1995
(ac. do STJ de 4 de Julho de 1996, Processo nº 155/96 3ª Secção, Internet). Comete o
crime de roubo em concurso real com o de sequestro, o arguido que encosta uma
arma ao condutor de um veículo para lhe tirar a mercadoria, carregandoa num
outro, sendo a vitima mantida nessa situação dentro do veículo por si conduzido,
enquanto se realizava esta última operação (acórdão do STJ de 1 de Fevereiro de 1996,
processo nº 48133 3ª Secção, Internet). Acórdão do STJ de 18 de Abril de 2002, CJ
2002, tomo II, p. 178: podem coexistir, em concurso real, os crimes de roubo e de
M. Miguez Garcia. 2001
445
sequestro, quando o agente, para subtrair bens ao lesado, antes ou depois de a
subtracção ser consumada, para além da agressão física, se socorre de violenta
privação da sua liberdade.
• Roubo e homicídio, latrocínio: desapareceu do Código actual a figura criminal complexa
do latrocínio, pelo que as situações em que o roubo é acompanhado de homicídio
voluntário da vítima passaram a constituir a comissão, em concurso real, de 2 crimes
autónomos, o de roubo e o de homicídio (acórdão STJ de 16 de Março de 1994, CJ do
STJ, ano II, 1º tomo, p. 247: acórdão do STJ de 29 de Maio de 1991, BMJ407205). O
Código Penal vigente não contém uma disposição semelhante ao artigo 433º do
Código Penal de 1886 (crime de latrocínio), no qual concorriam os elementos típicos
dos crimes de homicídio e roubo. Actualmente, as situações em que o roubo é
acompanhado de homicídio voluntário, sendo distintos os bens jurídicos tutelados,
passaram a configurar dois crimes autónomos, a punir em concurso real (artigo 30º,
nº 1, do Código Penal) (acórdão do STJ de 22 de Fevereiro de 1995, BMJ444217). O
tipo legal de crime de homicídio não protege ou consome, senão por forma impura, o
bem jurídico plúrimo tutelado pelo tipo de crime complexo de roubo, estandose
assim perante uma espécie de consunção impura, que não obsta à verificação de um
concurso (real) de crimes (ac. do STJ de 29 de Abril de 1987, BMJ366332). Se o
homicídio é perpetrado antes da apropriação, visando executála, não deve a
violência qualificar a última como roubo, pois está consumida no primeiro, havendo
assim concurso de homicídio e furto (acórdão da Relação de Coimbra, de 11 de
Fevereiro de 1987, CJ, XII, t. 1, p. 71).
• Homicídio qualificado e furto qualificado: os três réus que, com o propósito de se
apropriarem dos bens da vítima a agrediram à paulada, e depois se apossaram de
1.700$00 em dinheiro e de uma telefonia no valor de 100$00, cometem, em concurso
real, um crime de homicídio qualificado e um crime de furto qualificado (acórdão do
STJ de 27 de Outubro de 1983, BMJ329423).
• Roubo e crime correspondente ao enquadramento do excesso da violência utilizada: a
violência empregue na subtracção deve ser adequada e proporcionada à obtenção do
resultado “subtracção”; se ela for excessiva, o agente cometerá, para além do crime de
M. Miguez Garcia. 2001
446
roubo e, em acumulação com este, o crime correspondente ao enquadramento penal
do excesso da violência utilizada (acórdão do STJ de 22 de Abril de 1992, Simas
Santos Leal Henriques, Jurisprudência Penal, p. 568).
IV. Furto, roubo, extorsão.
• CASO nº 19D: A apanha o cão de estimação de B e golpeiao até que B lhe passa a
carteira para as mãos.
Furto, roubo, extorsão? Dano?
V. Roubo, extorsão, coacção.
CASO nº 19E: A inicia viagem no táxi de B. No caminho, A pede ao motorista que
pare, sai e apontalhe uma pistola, obrigandoo a largar o táxi. A pega então na viatura e
começa a dar voltas com ela até que a polícia o faz deterse. A explicou então que não queria
apropriarse do carro mas dar apenas umas voltas com ele e entregálo de novo ao taxista.
A empregou os meios do roubo, mas não tinha intenção de apropriação,
que é elemento do artigo 210º, nº 1. Empregou igualmente os meios da extorsão,
mas é duvidoso que o facto de pegar no táxi para com ele dar uma voltas
corresponda a uma disposição patrimonial, no sentido do artigo 223º, nº 1. Para
além do uso do veículo (artigo 208º, nº 1), A terá cometido unicamente um
crime de coacção do artigo 154º, nº 1.
VI. Coacção, ameaça, furto, roubo, extorsão, burla
CASO nº 19F. A quer violar uma mulher e para isso dirigese a uma garagem nos
fundos dum prédio de grandes dimensões, pondose à espreita, escondido atrás duma coluna.
Quando B se aproxima e se prepara para abrir o carro, A atirase a ela, por detrás e de
surpresa, derrubandoa. Ataa, em seguida, de pés e mãos com uma corda que trazia no bolso e
fazlhe uma mordaça com a gravata — tudo para conseguir as práticas sexuais que se
propusera. Só que, no momento decisivo, repara na carteira de B, põese a revistála, mas não
encontra dinheiro. Pega, todavia, no cartão multibanco de B, a quem, com uma navalha nas
mãos e as palavras “senão retalhote a cara”, ordena que lhe dê o número secreto, ao mesmo
tempo que lhe retira ligeiramente a gravata da boca. Logo que consegue decorar o código, A
abandona sem mais a vítima, amarrada e amordaçada, no local, e dirigese a um caixa
multibanco, apropriandose aí de 300 euros da conta de B. Por fim, inutiliza o cartão
multibanco e deitao para o lixo, gastando depois o dinheiro em seu proveito.
Punibilidade de A?
A começou por ofender B, voluntária e corporalmente, derrubandoa,
inclusivamente. A ofensa, prevista no artigo 143º, nº 1, poderá ser qualificada
M. Miguez Garcia. 2001
447
pelo emprego de um expediente insidioso, como é a espera, a emboscada, o
disfarce, a surpresa (artigos 143º, nº 1, 146º, nºs 1 e 2, e 132º, nº 2, alínea h).
Indiciase, por outro lado, um crime de violação tentado (artigos 22º, nºs 1
e 2, alínea c), e 164º, nº 1). É verdade que o A nada mais fez para concretizar o
seu plano inicial de violação — mas não é possível sustentar que
voluntariamente terá desistido de prosseguir na execução desse crime. Se A
tivesse desistido relevantemente [o que claramente não aconteceu], a tentativa
de violação deixaria de ser punível (artigo 24º, nº 1), não sendo razoável afirmar
que houve uma coacção sexual consumada (artigo 163º, nº 1), pelo que também
o agente não seria punível por este crime.
A tipicidade do artigo 158º, nº 1, mostrase do mesmo modo preenchida
(cf. também o artigo 160º, nº 1, alínea b). A amarrou a mulher, privandoa da
liberdade de locomoção (jus ambulandi), da liberdade física, a liberdade de
movimentos — impediua, em suma, de se movimentar, e por um tempo
apreciável, com o que o ilícito se consumou.
Terá havido roubo do cartão multibanco? Comprovadamente, houve
violência contra uma pessoa. A subtraiu o cartão multibanco de B, coisa que
sabia alheia, com intenção de dele se apropriar para levantar o dinheiro, e sem
intuito de restituição a B ou à instituição que o emitira. No roubo, todavia, para
a subtracção exigese uma relação de meiofim entre o ataque à pessoa e o
ataque à coisa, o emprego da violência deve ser um meio para conseguir ou
para assegurar a subtracção (fim) — e isso não aconteceu no caso em apreço,
pois a violência foi exercida com outras finalidades, não para a subtracção do
cartão multibanco. Não se verifica, por isso, o crime do artigo 210º, nº 1, mas
pode afirmarse o furto do cartão: artigo 203º, nº 1, ainda que se ignore o valor
do mesmo. Uma outra hipótese consiste em tratar a subtracção do cartão
multibanco que vai servir para tirar dinheiro do caixa, usando o ladrão o código
secreto, como um acto anterior não punido, de forma idêntica à subtracção da
chave de uma viatura de que alguém se pretende apropriar ilegitimamente. A
solução correcta encontrarseia no âmbito do concurso aparente de normas,
por ser caso de consunção.
Igualmente se mostra preenchida a tipicidade dos artigos 153º, nº 1
(ameaça) e 154º, nº 1 (coacção), pois B foi constrangida a revelar o número
secreto, com a ameaça do emprego da navalha — crime contra a integridade
física. Considerese ainda a hipótese da coacção grave do artigo 155º, nº 1, na
medida em que foi exercida quando B estava particularmente indefesa, por se
encontrar amarrada de pés e mãos. A ameaça do emprego iminente da navalha
pode integrar um crimemeio para o A conseguir a disposição patrimonial (os
M. Miguez Garcia. 2001
448
300 euros) a seu favor e à custa da vítima (extorsão agravada: artigos 223º, nºs 1
e 3, a), e 204º, nº 2, alínea f). Ainda assim, haverá que ponderar se esses factos
não se integrarão mais correctamente no crime de roubo (artigos 210º, nºs 1 e 2,
alínea b), e 204º, nº 2, alínea f). A retirada dos 300 euros poderá entenderse
como o exaurimento deste crime.
Finalmente, analisese ainda o crime de burla informática (artigo 221º, nº
1): o número secreto e o que consta da banda magnética do cartão são dados, no
sentido deste artigo, e o cartão foi introduzido num sistema informático. A
utilizou dados sem autorização, pelo que o crime estará consumado. A
inutilização final do cartão representará um acto posterior copunido.
Ficam para resolver, do mesmo modo, os inevitáveis problemas de
concurso.
VII. Outras indicações de leitura
• Acórdão do STJ de 3 de Maio de 2000, BMJ497118: roubo e sequestro. O sequestro pode
concorrer com o crime complexo de roubo. O concurso será aparente, por uma relação
de subsidiariedade, sempre que a duração da privação da liberdade de locomoção não
ultrapasse a medida naturalmente associada à prática do crime de roubo, como crime
fim. Constitui, pelo contrário, concurso efectivo quando essa privação da liberdade se
prolongue ou se desenvolva para além daquela medida, apresentandose a violação
desse bem jurídico em extensão ou grau tais que a sua protecção não pode considerar
se abrangida pela incriminação pelo crime de roubo. Cf. também o acórdão do STJ de
14 de Março de 2002, CJ 2002, tomo I, p. 222.
• Acórdão do STJ de 6 de Maio de 1998, CJ, ano IV (1998), tomo II, p. 183: pratica um crime
de roubo consumado em concurso real com um crime de coacção o arguido que
usando de violência sobre o ofendido se apropria da quantia de 500$ e de um cartão de
crédito, com o qual não conseguiu levantar qualquer importância visto que, apesar de,
também por meio de violência ter obtido do ofendido o respectivo código, ter sido
impedido de o fazer por agente da autoridade quando o tentava.
• Acórdão do STJ de 11 de Novembro de 1998, BMJ481: incorre na prática do crime de
roubo o agente que, conduzindo um veículo a uma bomba de gasolina e depois de
M. Miguez Garcia. 2001
449
enchido de combustível o depósito do mesmo, foge sem pagar, não sem antes agredir
fisicamente o funcionário que procedera ao abastecimento.
• Ac. do STJ de 26 de Novembro de 1997, BMJ471168: crime de roubo cometido com pistola
cujas restantes características não foram apuradas.
• Acórdão do STJ de 1 de Fevereiro de 1996, CJ, ano IV, t. 1 (1996), p. 198: não é subsumível à
figura do crime continuado a comissão de diversos crimes de roubo em que são
violados não só bens patrimoniais como bens eminentemente pessoais e em que são
ofendidas pessoas distintas.
• Acórdão do STJ de 17 de Maio de 1995, CJ1995, II, p. 206: extorsão para cobrança de
dívidas.
• Acórdão do STJ de 23 de Outubro de 1997, BMJ470228: a utilização de pistola de alarme
não pode enquadrarse no conceito de "utilização de arma de fogo".
• Acórdão do STJ de 3 de Julho de 1996, CJ, ano IV (1996), tomo II, p. 210: A e B ataram as
mãos de C atrás das costas, obrigaramno a sentarse no carro e apoderaramse de
diversos valores que fizeram seus, abandonando depois o local e ficando C amarrado
no interior da viatura roubo e sequestro.
• Acórdão do STJ de 4 de Janeiro de 1996, CJ, IV (1996), t. 1, p. 171: crime de roubo;
qualificação; conceito de arma; subtracção de cartão multibanco e revelação do
correspondente código.
• Acórdão do STJ de 11 de Dezembro de 1997, BMJ472179: afastamento da agravação do
roubo; valor do objecto roubado.
• Acórdão do STJ de 14 de Abril de 1999, CJ, acórdãos do STJ, ano VII, tomo 2, p. 174:
verificase concurso real de um crime de homicídio e de dois de roubo quando os
arguidos, para se apoderarem do dinheiro que levava, matam o motorista do taxi e
depois o conduzem para local ermo, onde lhe retiram o dinheiro.
• G. Biletski, Die Abgrenzung von Raub und Erpressung, Jura, 1995, p. 635.
• Pereira do Vale, Furto simples ou furto qualificado?, Estudos Jurídicos, Março (1903), nº 3.
M. Miguez Garcia. 2001
450
§ 20º Abuso de confiança; apropriação indevida.
I. Crime de abuso de confiança ou de apropriação indevida? A posse ou a
detenção de coisa alheia deve preexistir à apropriação.
CASO nº 20. Quem entrega a coisa faz no abuso de confiança o papel de
vítima adiada. B foi à loja de A fazer compras que somavam 15 contos, mas reparou
que só tinha 11 contos consigo. Sempre com o acordo de A, entregoulhe em pagamento
o dinheiro que trazia e deixoulhe 4 cautelas da lotaria nacional, no verso das quais
escreveu o seu nome e o nº de telefone, ficando de voltar para pagar os 4 contos em falta
e recuperar as cautelas, que ficavam em garantia do pagamento da dívida. A, tomando
conhecimento de que as cautelas haviam sido premiadas e porque B ainda não tivesse
liquidado a totalidade da dívida, foi receber o montante do prémio — mais de 6 mil
contos — que fez seu. (Cf. o acórdão do STJ de 5 de Dezembro de 1996, BMJ462178).
Recebidas as cautelas como mera garantia, A apoderouse delas, fazendo
as coisa sua a partir do momento em que soube que estavam premiadas e,
dando execução a essa intenção de apropriação, foi reclamar e receber o
dinheiro do prémio.
O crime de abuso de confiança consiste no descaminho ou dissipação de
qualquer coisa móvel, que ao agente tenha sido entregue, de forma lícita e
voluntária, por título e com um fim que o obrigaria a restituir essa coisa ou um
valor equivalente. Tornase necessário que o agente actue com dolo, isto é, com
a consciência de que deve restituir, apresentar ou aplicar a certo fim a coisa que
detém em seu poder; e que queira apropriarse dela, integrandoa no seu
próprio património ou dissipandoa. O abuso de confiança tem em comum com
o furto o facto de ser um crime contra a propriedade. No abuso de confiança
não se verifica, porém, como no furto, a quebra duma detenção originária
precipitada pela subtracção do objecto do crime. Quem entrega a coisa faz no
M. Miguez Garcia. 2001
451
abuso de confiança o papel de vítima adiada: o agente tem a posse legítima da
coisa, que recebeu, por ex., a título de "depósito, locação, mandato, comissão,
administração, comodato", ou para um trabalho, ou para uso ou emprego
determinado. Depois apropriase dela ilegitimamente, invertendo a posse
legítima, integrando a coisa no seu património — ou dissipandoa.
Em certas atitudes manifestase claramente a correspondente intenção. Por
ex., quando haja recusa de restituição da coisa, entendida como implicando a
vontade de se comportar o agente como proprietário. Mas não alcança o crime
consumado a simples intenção de apropriação que não chega a exteriorizarse.
E se A, encarregado de levar a C até às 5 da tarde um envelope com dinheiro,
que B lhe entregara com essa finalidade, abre o envelope e por volta das 10
horas é visto no casino a jogar os últimos 20 contos, é caso para afiançar não só
a intenção de B se apropriar do dinheiro que lhe fora confiado para aquele
indicado fim, como a própria apropriação.
Mas não basta que o agente queira simplesmente ficar com a coisa. Pelo
contrário, o querer, com esse significado, deverá, na maior parte dos casos, ser
confirmado de fora por uma actuação de apropriação claramente reconhecível
(veja, a seguir, o caso das vacas alentejanas). A simples decisão que permanece
no íntimo não corresponde à apropriação, tornase necessária uma manifestação
externa, reconhecível de fora, uma “indizielle Publizität” (MSchroeder, apud
Eser, Strafrecht IV, p. 49; ainda, Otto, Jura 1996, p. 383, e 1997, p. 472).
Também por isso se diz que no abuso de confiança é bem difícil conceber a tentativa, ainda que
a lei a preveja (artigo 205º, nº 2). "Como a coisa se encontra na posse do agente não pode
surgir nenhum obstáculo que impeça a apropriação" (F. Puig Peña, p. 375, citando Cuello
Calón).
• “Difícil é a apuração do momento consumativo do crime de apropriação indébita, uma vez
que depende ele, exclusivamente, de circunstância subjectiva. Na maioria dos casos essa
disposição é revelada por um conduta externa do agente, incompatível com a vontade de
restituir ou de dar o destino certo à coisa: venda, desvio, ocultação ou negativa expressa de não
devolvêla a quem de direito. Na doutrina admitese a possibilidade da tentativa, por se tratar
de crime material, embora se reconheça a dificuldade de sua ocorrência. Na verdade, os
M. Miguez Garcia. 2001
452
exemplos citados para apoiar essa orientação, como o caso do mensageiro infiel que é
surpreendido a abrir o invólucro que contém valores, para deles apropriarse, para nós
configura crime consumado, já que existentes a posse e o animus rem sibi habendi”(Júlio
Mirabete p. 286).
CASO nº 20A. O caso das vacas alentejanas. A e B, que eram os donos do gado e o
haviam entregue como penhor à CGD, ficaram com os animais na sua posse, após a
constituição do penhor. Já não a título de proprietários mas de fiéis depositários e
obrigaramse nessa medida a conservar esses animais e a restituílos quando fosse caso
disso. Para que o crime se consumasse era necessário que houvesse inversão do título, o
que pressupunha que os arguidos passassem de novo a actuar como donos dos animais
e não como meros detentores, pois eles apenas estavam em seu poder como fiéis
depositários. Essa inversão do título é que traduziria a intenção, por parte dos mesmos
arguidos, de se apropriarem do gado e teria que revelarse, como também se entende,
por actos objectivos que tornariam possível concluir que eles, a dada altura, passaram a
actuar com intenção de apropriação. Esses actos objectivos, reveladores da inversão do
título da posse, vinham descritos, como não podia deixar de ser, na acusação. Aí se diz
que os arguidos não apresentaram as cabeças de gado e não o fizeram porque, sabendo
que eram apenas fiéis depositários, venderam os animais em proveito próprio, entre
1980 e 1983, a diversos talhantes. Todavia, essa venda não se provou. Deuse como não
provada essa matéria de facto e o que se apurou, em síntese, é que, devido à seca e à
doença, parte dos animais tiveram que ser abatidos ou morreram naquele período de
1982/83. Ficou assim por provar a inversão do título de posse, o que significa que a
acusação não logrou demonstrar um dos elementos constitutivos do crime de abuso de
M. Miguez Garcia. 2001
453
confiança: a intenção de apropriação, por parte dos arguidos, dos animais dados de
penhor.” (Acórdão do STJ de 20 de Abril de 1995, CJ, acórdãos do STJ, ano III (1995), t. II,
p. 171).
Contentandose com qualquer título que produza a obrigação de certo uso
ou restituição, já o Código português [de 1886] dera uma larga latitude de
incriminação "que abrange assim mais do que abusos de confiança e
aproximouse da que é conhecida nos códigos estrangeiros pelo nome de
apropriação indevida", observava o Prof. Beleza dos Santos.
O aspecto em que se acentua o abuso de confiança é a violação da relação de confiança,
constitutiva duma posse titulada por depósito, locação, mandato, etc., e que liga o
possuidor por algum destes título ao proprietário ou a outro possuidor ou detentor. O
aspecto em que se acentua a apropriação indevida traduzse na delimitação do "modo"
de violação dessa relação de confiança, que háde ter lugar mediante descaminho ou
dissipação da coisa possuída. Não bastará, portanto, a inexecução das obrigações
resultantes do título (a simples utilização abusiva) mas é necessária a apropriação. Por
isso, o crime de abuso de confiança é um crime patrimonial; a violação da relação de
confiança não consuma o crime. (Prof. Cavaleiro de Ferreira, Consulta, Sommer & Cª
Ltda versus António de Sommer Champalimaud, exemplar dactilografado).
O primeiro desses dois sistemas identificase com o abus de confiance
francês. Se o depositário da coisa entregue a título precário está impossibilitado
de a restituir isso equivalerá a um acto de disposição — ou a coisa foi
consumida, ou se degradou, ou foi abandonada, vendida, dada, entregue em
penhor. Se se tratar de coisa fungível, a impossibilidade de a restituir tem a ver
com a situação de insolvabilidade de quem a recebera a título não translativo da
propriedade. A recusa de restituir corresponderá a uma vontade de apropriação
da coisa entregue a título precário: é a hipótese clássica da inversão
(interversion) da posse. Este termo, de etimologia latina “inter / versio”, significa
que o possuidor da coisa, sem modificar em nada o comportamento físico,
M. Miguez Garcia. 2001
454
modifica o animus, isto é, a sua intenção a respeito da coisa: esta passa, na
espécie, duma posse por conta de outrem à posse por própria conta (Frédéric
Jérôme Pansier, Le droit pénal des affaires, PUF, 1992, p. 32). Quer dizer: ainda que
o acto de apropriação se revele quase sempre por um acto exterior, que pode ser
de consumo, destruição, venda, troca, etc., a apropriação pode também
deduzirse da recusa de restituição, entendida como implicando a vontade de se
comportar como proprietário. É este aspecto que dá o toque ao "abuso de
confiança", com que se designava a incriminação no Código francês de 1810,
donde passou para o nosso.
De modo diferente, no Código Brasileiro, por ex., acentuavase o elemento
"apropriação", inclusivamente no nome com que se crismou o ilícito, a chamada
"apropriação indébita". Paralelamente a esta apropriação indevida, certos
ordenamentos, como o alemão, passaram a destacar, autonomamente, a
"quebra" da confiança. Tratase de um reforço valorativo, como nota o
comentador Pedrosa Machado, "da maior objectividade deste segundo sistema,
inerente à respectiva aproximação ao furto". Assim, o Código alemão dispõe
actualmente de dois preceitos: o § 246 (Unterschlagung) e o § 266 (Untreue).
Também o Código português de 1982 introduziu, ao lado do abuso de confiança
(artigo 300º), a infidelidade (artigo 319º), que é crime contra o património em
geral, e se manteve na Revisão de 1995, com expressa inclusão da quebra de
confiança nos seus elementos típicos ("...tendolhe sido confiado..."). Ainda
assim, a revisão não integrou no abuso de confiança a "apropriação ilegítima de
coisa achada", que ficou em preceito autónomo (artigo 209º), sancionada de
forma menos severa do que o furto simples, mas onde se destaca, justamente, a
apropriação (ilegítima) de coisa alheia.
Noutro aspecto se diferenciavam as legislações alemã e francesa: o modo como se resolviam as
lacunas de punibilidade. Não existindo um preceito a prever a punição autónoma da
apropriação de coisa achada (Fundunterschlagung), a doutrina e a jurisprudência alemãs
incluíam na apropriação indevida casos que os franceses, coerentemente, tratavam como
furto —não obstante a inexistência de uma subtracção—, uma vez que a apropriação
(abus de confiance) só poderia darse, havendo quebra da confiança, depois da entrega ou
do recebimento da coisa pelo agente do crime. O preceito alemão que (anteriormente à
M. Miguez Garcia. 2001
455
Lei da 6ª Reforma) punia a apropriação indevida, não exigindo esta entrega ou
recebimento da coisa, não dispensava contudo que a coisa se encontrasse na posse ou
detenção do agente, daí que se incluíssem neste ilícito os casos em que a apropriação
preexiste à posse ou detenção ou em que elas se dão simultaneamente. Cf., quanto a
alguns destes aspectos, Christian Fahl, JuS 1998, p. 24 e ss.; e Hillenkamp, StrfR, BT, 22
und 23. Probl. No caso português não se colocarão problemas desta natureza, uma vez
que o Código pune, de forma autónoma, a apropriação de coisa achada (artigo 209º), em
que, ao contrário do abuso de confiança, a apropriação antecede ou é simultânea à
detenção da coisa. Cf. também Prof. Figueiredo Dias, Conimbricence, PE, tomo II, p. 96.
Enfim, no Direito português, como acentua Pedrosa Machado, a
estruturação e sistematização do abuso de confiança é a de uma verdadeira
apropriação indevida ou indébita, na sequência directa da incriminação do
furto.
Escreve no entanto o Prof. Figueiredo Dias (Conimbricense, PE, tomo II, p. 97) que "à "mera
apropriação" que constitui na Alemanha a essência típica do crime de Unterschlagung,
acresce no (nosso) abuso de confiança um elemento novo, a saber, a relação de fidúcia que
intercede entre o agente e o proprietário ou entre o agente e a própria coisa e que aquele
viola com o crime. Neste sentido pode e deve dizerse — com consciência das
relevantíssimas consequências dogmáticas que a afirmação importa — que o abuso de
confiança é um delito especial, concretamente na forma de delito de dever, pelo que
autor só pode ser aquele que detém uma qualificação determinada, resultante da relação
de confiança que o liga ao proprietário da coisa recebida por título não translativo da
propriedade e que fundamenta o especial dever de restituição." A isto poderá objectarse
que o "abuso de confiança", como conteúdo do lado psíquico da acção, não aparece
M. Miguez Garcia. 2001
456
desenhado no tipo, sendo a sua invocação fruto de razões interpretativas, a começar pelo
mimetismo com o direito francês e a correspondente denominação do crime. É certo que
na maior parte dos títulos que são pressuposto da apropriação indevida existe uma
relação de confiança, mas este é sobretudo um modus operandi, uma mera facilidade
comissiva e circunstancial. Com efeito, ninguém quererá abusar da confiança a não ser
para, servindose de tal abuso, alcançar uma finalidade ulterior mais concreta: a de fazer
sua a coisa. Ora, essa finalidade pode também atingirse sem abusar da confiança, quer
porque não existe uma relação prévia entre as partes geradora de confiança, quer porque
o título habilitador da apropriação indevida não se fundamenta na confiança. Cf. Conde
Pumpido, p. 126; Antolisei, p. 231; Quintano Ripolles, Tratado de la Parte Especial del
Derecho Penal, p. 911.
• Outro caso de cautela premiada. Duas pessoas que adquirem a meias (de preço e de
prémio) uma cautela da Lotaria Nacional celebram um acordo denominado "contrato de
sociedade", previsto no artigo 980º do Código Civil. Se uma dessas pessoas recebe o prémio da
dita cautela premiada e não o divide com a a outra associada, depositandoo na sua conta
bancária pessoal e exclusiva, tem uma conduta que pode preencher o tipo legal de crime do
artigo 300º, nº 1, do Código Penal de 1982 (abuso de confiança). Um dos elementos
constitutivos do referido tipo legal de crime é a intenção apropriativa, a qual coincide com o
desejo ou propósito do agente de dissipar ou desencaminhar, gastando ou usando em proveito
próprio o bem em causa. As expresssões "dissipar" ou "desencaminhar" têm o mesmo sentido
de "apropriarse" (acórdão do STJ de 20 de Novembro de 1996, BMJ461213).
M. Miguez Garcia. 2001
457
II. Abuso de confiança; mandato como título de apropriação indevida;
inversão do título da posse; coisas fungíveis e infungíveis; utilização única,
certa e determinada.
CASO nº 20B. A, advogado constituído de B, recebeu deste, para além de 25 contos a título
de honorários, a quantia de 1500 contos "para depósito do preço de um andar, na acção
de preferência a instaurar". A não propôs a acção a que tal dinheiro se destinava,
sabendo que dessa forma agia contra a vontade de B e em seu directo prejuízo, nem lhe
devolveu qualquer importância. (Cf. o ac. do STJ de 22 de Janeiro de 1997, BMJ463250;
CJ, 1997, p. 204 e ss; e RPCC 7 (1997), p. 485 e ss., com anotação de Miguel Pedrosa
Machado).
Punibilidade de A: Abuso de confiança? ilícito civil?
A defesa sustentou que as quantias entregues em dinheiro pelo mandante
ao mandatário passam a ser propriedade deste último, nos termos dos artigos
1144º, 1205º e 1161º, e), do Código Civil, ficando o mandatário obrigado a
restituir o mesmo montante; e que a razão de ser da transmissão da
propriedade reside na circunstância de ser impossível individualizar a coisa
entregue no património do mandatário, em virtude da sua natureza fungível.
Conclusão: não há crime!
Na realidade, o que aqui está em causa é o problema da apropriação
indevida, ou seja, o intuito de proceder como dono do dinheiro, com ânimo de
o agente dele se apropriar em proveito próprio, desencaminhandoo ou
dissipandoo. E como se estrutura a apropriação, o descaminho ou a dissipação?
Diz o Prof Eduardo Correia: "Justamente porque o agente já detém a coisa por
efeito da entrega, a apropriação háde radicarse, iminentemente, numa certa
intenção, numa certa atitude subjectiva nova: o dispor da coisa como própria, a
intenção de se comportar relativamente a ela como proprietário, uti dominus,
com o chamado animus rem sibi habendi." Exigese porém que o animus se
exteriorize, através de um comportamento que o revele e execute. "Mas se é
necessária a entrega e a entrega lícita, nem toda ela conduz ao domínio do
M. Miguez Garcia. 2001
458
abuso de confiança": a lei quer excluir a possibilidade do abuso de confiança
relativamente às hipóteses de entrega de coisa feita com base em títulos que
importem a transferência da sua propriedade ou que justifiquem a sua
apropriação.
Mas se quem efectua a traditio reserva um poder real sobre a coisa
entregue, o respectivo título não é translativo da propriedade, quem recebe a
coisa vai possuíla em nome alheio.
E se se trata de coisa fungível, por ex., "somas em dinheiro"? Terá razão a
defesa de A, quando afirma que tais somas se confundem ou podem confundir
no património de quem as recebe (a qualquer título), passando a ser coisas
incertas e indeterminadas, sem que se possa reservar sobre elas qualquer direito
real? Escreve o Prof. Eduardo Correia: "Nos títulos indicados ["depósito,
locação, mandato, comissão, administração, comodato, ou que se haja recebido
para um trabalho, ou para uso ou emprego determinado, ou por qualquer outro
título que produza a obrigação de restituir ou apresentar a mesma coisa
recebida ou um valor equivalente", ut artigo 453º do Código Penal de 1886] a
entrega de coisas fungíveis, — porque pelos seus efeitos e pela vontade das
partes não implicam a transmissão da respectiva propriedade — impõe para
quem as recebe a obrigação de as autonomizar no respectivo património, de
modo a tornálas certas e a permitir a reserva de um direito real sobre elas por
parte de quem as entrega. Desta forma, não cumprindo tal dever, quem as
recebe apropriaas." Por isso, "sempre que alguém receba coisas fungíveis por
algum título, que não seja transmissível de propriedade, e dolosamente não se
coloque em condições de garantir a sua restituição ao proprietário no caso de
insolvência — realiza, sobrevindo, de facto, a falência, os pressupostos do crime
de abuso de confiança." Portanto, não se dá a consumação pelo facto de se
dispor da soma monetária em si mesma, mas só quando, no momento da
apropriação, o sujeito não tenha bens suficientes para responder pelo
correspondente montante, desde que concorram os restantes elementos
subjectivos que a incriminação não dispensa.
["Na medida, porém, em que não haja interesse especial nas coisas fungíveis que
concretamente se entregam, — v. g. as notas depositadas tinham pertencido a uma
pessoa célebre ou foram o primeiro dinheiro ganho por quem as depositou — a sua
M. Miguez Garcia. 2001
459
substituição por outras é possível sem que se verifique o abuso de confiança, visto que
isso exclui o prejuízo ou perigo de prejuízo resultante daquela apropriação."]
A recebeu os 1500 contos para um uso único, certo e determinado, no
âmbito do mandato. As somas de dinheiro de que dispôs foramlhe entregues
por forma que o obrigava a conserválo e a darlhe um determinado uso, que
não era o uso próprio. A apropriação (indevida) é manifesta. Com efeito, no
caso de recebimento de dinheiro para uma (só) aplicação bem especificada
(escrevese no acórdão), a situação do mandatário não é, de modo nenhum,
equiparável à do mutuário ou do depositário do depósito irregular (já que, ao
contrário destes, ele não tem interesse relevante em "servirse" da quantia que
lhe foi entregue); a fungibilidade ou infungibilidade das coisas, em última
análise, depende da vontade das partes e não da sua própria natureza (cf. artigo
207º do Código Civil). Finalmente, nada indica ter havido, em concreto, a
vontade de transferir para A a propriedade dos 1500 contos. Não pode deixar
de se concluir que A tinha a obrigação de autonomizar aquele montante no seu
património, por forma a garantir a reserva do respectivo direito de propriedade
de B. Não cumprindo tal dever, tendo dissipado em seu próprio benefício o
quantitativo em causa e não tendo proposto a acção a que ele se destinava, com
o conhecimento de que dessa forma agia contra a vontade de B e em seu directo
prejuízo, é manifesta a apropriação. E porque nunca devolveu fosse que quantia
fosse, cometeu, como autor material, um crime de abuso de confiança: artigo
205º, nºs 1 e 4, a), por se tratar de valor elevado.
III. Abuso de confiança; a entrega.
CASO nº 20C. A, cotitular de uma conta bancária, mas não proprietário das respectivas
importâncias, levantou o respectivo montante sem autorização de B, a cotitular
proprietária. A gastou o dinheiro em proveito próprio, contra a vontade de B. Cf. o ac.
do STJ de 6 de Janeiro de 1993, BMJ423146.
Punibilidade de A: Burla, furto, infidelidade, abuso de confiança? ilícito
civil?
M. Miguez Garcia. 2001
460
A, embora cotitular da conta, não era proprietário das respectivas
importâncias e sabia que o não era. A sua qualidade de cotitular delas
traduziase apenas em colocálo na situação de, na realidade, as deter por título
que, no caso concreto, não era translativo da propriedade, ainda que parecesse
sêlo, e que lhe não conferia poderes de administração de tais dinheiros.
Dizse no acórdão do STJ de 6 de Janeiro de 1993, BMJ423146: "Nas
situações em que a actuação do agente que se apropria de dinheiros comuns,
contra a vontade do ou dos ofendidos, relativamente aos quais ele tenha
poderes de administração (como sucede quanto a bens comuns do casal
distraídos por um dos cônjuges em detrimento do outro), a sua conduta é
enquadrável no crime de infidelidade, do artigo 319º do Código Penal, mas a
mesma já lhe não é subsumível nos casos em que o agente só aparentemente
tem a qualidade do comproprietário do dinheiro ou bem, como ocorre no caso
presente, por o mesmo o receber por título não translativo da propriedade
(mesmo quando exista um pacto de que esta se transferirá para o agente se
ocorrer a condição de se verificar a morte do real proprietário antes da do
titular autorizado a movimentar). Desta forma, a sua conduta não corresponde
à figura criminal da infidelidade, mas sim à do abuso de confiança".
Outro caso de abuso de confiança com uma conta bancária. * Comete o crime de abuso de
confiança o agente que sendo cotitular de uma conta bancária de cujo dinheiro não era
dono, nem sequer parcialmente, e de que apenas poderia dispor quando isso lhe fosse
autorizado pelo outro cotitular, dono do dinheiro, se apropria dele sem conhecimento
ou autorização deste. (Ac. do STJ de 14 de Abril de 1994, referido no BMJ423156).
Uma burla com contas bancárias: A convence B, sua tia, a transferir todo o dinheiro que a
mesma tinha depositado em duas contas a prazo num banco para outro e a colocálo em
nome de ambos, A e B. Posteriormente, A apoderase do dinheiro, através da execução
de um plano, contra a vontade de B. Cf. o acórdão do STJ de 23 de Janeiro de 1997, BMJ
463276. No caso discutiase com especial acuidade a noção de "enriquecimento
ilegítimo" como imprescindível na burla.
M. Miguez Garcia. 2001
461
IV. Abuso de confiança; a entrega. Licitude do recebimento?
CASO nº 20D. A, empregado de uma estação de combustíveis, recebeu de clientes 55
contos durante as horas de atendimento, mas no final do turno de trabalho desapareceu
com o dinheiro, que gastou em seu proveito.
A entrega, que é elemento objectivo do crime, goza das características do
acto válido, ficando o agente habilitado por depósito, empréstimo, mútuo,
locação, mandato, etc., em relação à coisa de que depois se apropria. E tanto
pode ser acto da vontade do proprietário da coisa como de outrem com sua
autorização, por ex., dos clientes, como no caso do dinheiro recebido por A.
Assim, * comete o crime de abuso de confiança o empregado de uma bomba de
combustível que não entrega o dinheiro que recebeu daqueles a quem vendeu
combustível (acórdão da Relação de Coimbra de 5 de Dezembro de 1984, CJ. IX
(1984), p. 116; cf. também J. A. Barreiros, p. 104).
Com a entrega o agente constituise na obrigação de afectar a coisa a um uso ou fim
determinado, ou de restituíla. De forma que, * se não se sabe a que título foi feita ao
arguido a entrega do dinheiro, e qual a finalidade a que se destinava tal entrega, não
pode ter lugar a condenação pela prática do crime de abuso de confiança (acórdão do
STJ de 23 de Setembro de 1993, Simas Santos/Leal Henriques, Jurisprudência Penal).
“Podese afirmar, enfim, que a posse ou detenção, para gerar o delito de apropriação indébita,
“deve revestir os seguintes requisitos: tradição livre e consciente, origem legítima e
disponibilidade da coisa pelo sujeito activo”. Observa Fragoso, acertadamente, que “a
cessação da legitimidade da posse ou detenção não exclui o crime de apropriação
indébita”. Cf. Júlio Mirabete, p. 283. Sobre a questão da licitude do recebimento e da
natureza da entrega como elemento típico do abuso de confiança, cf. agora o acórdão do
STJ de 20 de Dezembro de 1999, BMJ492345 (caso da Caixa Económica Faialense): O
M. Miguez Garcia. 2001
462
tipo legal não refere expressamente a licitude do recebimento das quantias. No abuso de
confiança, nem toda a ilicitude de que enferme a entrega ou o recebimento da coisa
destipifica o crime, despenalizando a apropriação dela por parte de quem a recebeu ou
de quem, pelas suas funções, ficou a deter poder sobre ela.
A entrega não tem que ser entendida num significado puramente material;
basta o simples alcance formal do termo; é o caso dos administradores de
sociedades (Beleza dos Santos; Dr. Laurentino da Silva Araújo, p. 92) ou dos
meros cotitulares de uma conta bancária que sem autorização fazem
levantamentos, tendo apenas poderes materiais sobre a coisa, como no caso 20
A. "Na sequência de Beleza dos Santos, R.L.J., 82º, pág. 34, tem a jurisprudência
do S.T.J. entendido, uniformemente, que para a verificação deste elemento do
crime não é necessário um prévio acto material de entrega do objecto, bastando
que o agente se encontre investido em um poder sobre o mesmo que lhe dê a
possibilidade de o desencaminhar ou dissipar. A entrega, por outro lado, pode
ser indirecta ou tácita” (Maia Gonçalves, anot. 2ª ao artigo 453º do CP1886; e
Código Penal Português, 1995, p. 709).
V. Abuso de confiança; entrega; subtracção; furto.
CASO nº 20E. A, empregado na oficina de reparações de B, leva daí, sem autorização do
dono, duas valiosas ferramentas com que habitualmente trabalha. Guardaas em sua
casa, para as vir a utilizar quando montar a sua própria oficina.
A tem apenas uma relação com a coisa. Ainda que a coisa esteja ali à mão,
A comete um furto ao subtraíla, dolosamente, com intenção de apropriação.
Segundo uma opinião muito divulgada, o abuso de confiança supõe,
mesmo na sua formulação actual, que o poder de facto do agente sobre a coisa
não seja custodiado (24) por quem lho confere (Nelson Hungria, apud Leal
24(
) No direito alemão, a custódia pode surpreenderse no Gewahrsam (detentio,
detenção, guarda, custódia), figura que não é idêntica à posse de direito civil, mas onde se
descortina uma relação de poder fáctico de uma pessoa sobre uma coisa, suportada por uma
vontade de domínio. O ladrão dispõe também de Gewahrsam (Heinrich Mitteis, Deutsches
Privatrecht, 9ª ed., 1981, p. 90), alcançado por uma apropriação bem sucedida, pelo que a
M. Miguez Garcia. 2001
463
HenriquesSimas Santos, Código, p. 66). Háde existir uma relação fiduciária
entre aquele que entrega a coisa e aquele que a recebe, "razão pela qual, a
manterse uma relação de domínio de facto ou de fiscalização do proprietário
ou detentor em relação à coisa entregue não se verifica este pressuposto do
crime" (J. A. Barreiros, p. 197). O que pode haver é furto: na posse vigiada não
há apropriação, mas furto, ex., carregador que subtrai a mala que detém (Paulo
José da Costa Jr., p. 309).
“Apenas a detenção não vigiada pode dar origem à apropriação indébita, pois haverá
subtracção e, portanto, furto na posse vigiada. Cometem esse delito, por exemplo, o
empregado que se utiliza de ferramentas do empregador, o caixeiro que recebe uma
importância do freguês, o comprador que experimenta um par de calçados e os que se
assenhoreiam dessas coisas. Também há furto no caso citado por Hungria: alguém é
incumbido de transportar um cofreforte e arrombao, apropriandose dos valores que
contém. O agente tem a livre disponibilidade do cofre e não de seu conteúdo” (cf. Júlio
Mirabete p. 283).
Por isso, no domínio do Código de 1886, entendiase geralmente que o
condutor que se apropria indevidamente do que lhe foi confiado para condução
pratica o crime de abuso de confiança e não o de furto, apesar de o artigo 425º,
nº 4, considerar autores de furto os albergueiros, recoveiros e barqueiros que se
apoderassem das coisas que lhes tinham sido confiadas (acórdão do STJ de 12
de Fevereiro de 1958, BMJ74387; (2) RLJ ano 68º, p. 310; Luis Osório, em nota
ao artigo 425º; A. M. Caeiro, p. 25). Hoje em dia as grandes empresas de
transportes internacionais acompanham, em permanência, cada um dos seus
camiões por meio de satélite, pelo que bem se pode pôr a questão de saber se
com isso a coisa está a ser "custodiada", como expressivamente se manifesta o
situação do ladrão que “rouba” a ladrão é claramento um furto. Cf. Candido CondePumpido
Ferreiro, Apropiaciones indebidas, p. 39 e s.
(2) No artigo 425º, nº 4, previase o "famulatus improprius" (famulus é o que executa
ordens). O tribunal tinha dado como provado que dois alentejanos de Estremoz, tendo sido
encarregados pelo denunciante de conduzirem para Vendas Novas 292 ovelhas a este
pertencentes, concertaramse com outro que lhes propôs trocarem 59 dessas ovelhas, que eram
novas, por igual número de ovelhas velhas, contra uma compensação em dinheiro.
M. Miguez Garcia. 2001
464
mestre brasileiro. Se o condutor funciona como simples instrumento do
dominus, como longa manu deste, enquanto actua por razões de serviço, então
haverá furto: para violar a guarda e a vigilância do dono, o condutor tem que
praticar uma autêntica subtracção (cf. Dr. Laurentino da Silva Araújo, pp. 49 e
50).
A doutrina alemã faz uso do critério do "servidor da posse" ou "gerente da posse". Este
só tem a coisa como um instrumento inteligente ao serviço do verdadeiro possuidor. O
conceito tem a ver com o § 855 do Código Civil, donde a doutrina extrai a conclusão de que o
"servidor" não é possuidor, ainda que lhe seja lícito o exercício dos direitos de autoprotecção
do possuidor contra ataques estranhos.
Outras indicações: O "abuso de confiança de uso" continua a não ser punível, mas a "dissipação
de bens sociais" é incriminada pelo artigo 205º. Se não houver dissipação com a
apropriação animo domini e só a intenção de causar um prejuízo patrimonial importante
por meio de uma administração ruinosa, o ilícito será o do artigo 224º ("infidelidade"). O
crime de "peculato" (artigo 375º) é, na sua essência, um crime de abuso de confiança,
qualificado. Antigamente, na Itália, como ainda agora no Brasil, distinguese do crime de
"peculato" o crime de "malversação"; o primeiro consiste na apropriação ilícita de
dinheiro do Estado pelos funcionários que no exercício da sua função detêm a sua posse,
e o segundo consiste na apropriação de dinheiro ou coisas móveis de particulares, que ao
funcionário público tenham sido confiadas no exercício da sua função pública, para lhes
dar o destino legal. Sobre "abuso de confiança fiscal", cf. o ac. do STJ de 15 de Janeiro de
1997, CJ, ano V (1997), p. 190.
CASO nº 20F. A, que ultimamente tem vivido com dificuldades de dinheiro, alugou a B,
por um mês, um automóvel, pelo preço de 150 contos, que logo pagou. Passado o prazo
do aluguer, A não devolveu o carro, tendo continuado a utilizálo ao seu serviço e da sua
namorada recente, aos olhos da qual se pretendia fazer passar por homem de posses.
M. Miguez Garcia. 2001
465
Passados dois meses, a polícia, a pedido do dono do carro, apreendeuo perto da
residência de A, devolvendoo ao dono. A fizera, entretanto, cerca de dois mil
quilómetros.
Punibilidade de A?
Não há burla. Desta só se poderia eventualmente falar se, na altura do
contrato, A não tivesse pago o aluguer, e o dono do carro lho tivesse entregue
por ter sido levado ao engano por forma astuciosa. No entanto, A pagou tudo o
que era devido. O B não não foi induzido astuciosamente à entrega do carro,
que se realizou na execução do contrato que ambos celebraram regularmente.
Terá havido abuso de confiança (artigo 205º, nº 1)? Este supõe, desde logo,
a entrega de coisa móvel alheia — e o automóvel era uma coisa móvel que
pertencia ao B. A coisa foi entregue ao A por título não translativo da
propriedade, pois A simplesmente tomou o carro de aluguer por um mês. O
abuso de confiança significa ainda a apropriação ilegítima da coisa móvel assim
entregue. Apropriação é (qualquer) manifestação da vontade de apropriação
(Otto, Jura 1996, p. 383). No furto (artigo 204º), a subtracção da coisa móvel
alheia vai acompanhada da simples intenção de apropriação, a qual não tem
que ser realizada. No abuso de confiança, a apropriação é elemento do tipo,
ainda que se exija a sua realização intencionada. Se a coisa entregue não chegar
a ser apropriada, o que pode haver é um simples abuso do uso, que se não
pune. Em geral, as dificuldades prendemse com o significado de certas
condutas que podem ser equívocas. Suponhase que A empresta a B o seu
automóvel só por dois dias e que este não lho restitui no fim desse prazo,
mantendoo estacionado na sua garagem. Este comportamento, por si só, não
revela nem a apropriação nem sequer a intenção de o B se apropriar do carro.
Não chega para se poder afirmar que o B, mantendo o carro na sua própria
garagem, o utiliza como seu proprietário (se ut dominum gerere). No caso nº 20E,
a utilização da viatura para além do prazo combinado entre as partes pode
representar uma apropriação se o A quisesse "ter" a coisa como proprietário
(rem sibi habendi). Mas se o A não põe em causa o direito de propriedade do B e
continua a utilizar a coisa como um possuidor em nome alheio — não se poderá
de modo nenhum falar em apropriação. Não representa abuso de confiança a
simples utilização da coisa alugada para além do prazo do aluguer.
M. Miguez Garcia. 2001
466
"La semplice disposizione abusiva della cosa altrui non è ancora appropriazione.
L'usurpazione di un potere dispositivo spettante al dominus significa abuso del possesso,
ma non ancora necessariamente appropriazione. Appropriazione significa assoggettare
la cosa a una nuova signoria (di fatto), espropriandone con ciò stesso il dominus"
(Pedrazzi, p. 1444). Notese que alguns autores italianos, a propósito da apropriação,
apontam dois momentos que designam por espropriazione e impropriazione.
Aliás, a não restituição da coisa tanto pode ser explicada por desleixo
como pode corresponder a esquecimento. Pode até acontecer que o
proprietário, sabendo onde a coisa se encontra, a vá buscar sem dificuldades.
No caso nº 20E não poderá sustentarse que A cometeu o ilícito em referência,
ou qualquer outro de natureza penal.
VI. Indicações de leitura
I. Acórdão do STJ de 10 de Janeiro de 2002, CJ 2002, tomo I, p. 161: o crime de abuso de
confiança consumase quando o agente, que recebeu a coisa móvel por título não
translativo da propriedade para lhe dar determinado destino, dela se apropria,
passando a agir animo domini. A inversão do título de posse carece de ser
demonstrada por factos objectivos, reveladores de que o agente já está a dispor
da coisa como se fosse sua. Essa inversão do título de posse verificase quando
aquele que detinha uma escavadora hidráulica em regime de locação financeira,
a vende a outrem, recebendo o respectivo preço, mas não quando celebra
contrato promessa de venda desse equipamento.
II. Acórdão da Relação do Porto de 21 de Maio de 2003, CJ 2003, tomo III, p. 208: o
uso indevido de um veículo automóvel por parte de quem o recebeu apenas com
M. Miguez Garcia. 2001
467
o encargo de o guardar e vender não constitui crime, não se punindo o abuso de
confiança de uso.
III. Acórdão da Relação de Évora de 21 de Março de 2000, CJ ano XXV (2000), tomo II,
p. 281: a demonstração da inversão do título da posse não pode basearse em
meras atitudes subjectivas, mas sim em actos objectivos, reveladores de que o
agente já está a dispor da coisa como se fosse sua, não sendo suficiente a simples
recusa de restituição ou a simples omissão de emprego para o fim determinado.
IV. Acórdão da Relação de Coimbra de 2 de Abril de 1998, CJ, 1998, tomo II, p. 60: a
simples negativa de restituição da coisa ou omissão desta pode ser tida como
apropriação ilegítima, sendo necessário que aquelas sejam acompanhadas de
circunstâncias inequívocas do animus sibi rem habendi
V. Acórdão da Relação do Porto de 24 de Maio de 1995, CJ 1995, tomo III, p. 262:
continuando a coisa em poder do agente, não tendo sido por ele alienada ou
consumida, a simples negativa de restituição ou omissão de emprego para fim
determinado não significa, necessariamente, apropriação ilegítima.
VI. Acórdão do STJ de 13 de Outubro de 1999, CJ ano VII (1999), tomo 3, p. 184:
violação do poder público sobre bens penhorados. Artigo 205º, nº 5.
VII. Acórdão do STJ de 15 de Abril de 1998, BMJ476272: comete o crime de abuso de
confiança aquele que contra a vontade do seu proprietário entrega a outrem para
a garantia de uma dívida o veículo que lhe havia sido emprestado.
M. Miguez Garcia. 2001
468
VIII. Acórdão do STJ de 15 de Novembro de 1995, BMJ451440: depósito; depósito
irregular; contrato de mútuo.
IX. Acórdão do STJ de 18 de Outubro de 2000, CJSTJ, ano VII (2000), tomo III, p. 209:
bens comuns do casal: comete o crime de abuso de confiança o marido que ao
separarse da mulher levanta e leva consigo certificados de aforro do casal,
depositados num banco e que administrava durante o tempo de vida em
comum.
X. Acórdão do STJ de 2 de Fevereiro de 1955, BMJ47247: marido que gasta em seu
proveito quantias que lhe são confiadas por sua mulher, com quem é casado em
separação de bens.
XI. Acórdão do STJ de 20 de Dezembro de 1999, BMJ492345 (Caixa Económica
Faialense): Natureza da entrega como elemento típico do abuso de confiança. O
tipo legal não refere expressamente a licitude do recebimento das quantias. No
abuso de confiança, nem toda a ilicitude de que enferme a entrega ou o
recebimento da coisa destipifica o crime, despenalizando a apropriação dela por
parte de quem a recebeu ou de quem, pelas suas funções, ficou a deter poder
sobre ela.
XII. Acórdão do STJ de 20 de Janeiro de 1999, CJ, ano VII (1999), tomo 1, p. 48: estando
o dinheiro depositado em conta solidária (A ou B) importa distinguir entre a
titularidade da conta e a propriedade dos fundos. Apurandose que o dinheiro
depositado pertence a ambos, presumese que o é em partes iguais.
M. Miguez Garcia. 2001
469
XIII. Acórdão do STJ de 28 de Fevereiro de 1996, CJ, ano IV (1996), tomo 1, p. 214; BMJ
454397: gerente de cooperativa que recebeu dinheiro para ser transferido para
terceiro e que não efectuou essas transferências, antes gastou esse dinheiro em
proveito da cooperativa; para se verificar o elemento "entrega" não é necessário
um prévio acto material de entrega do objecto.
XIV. Acórdão do STJ de 7 de Outubro de 1999, CJ, ano VII (1999), tomo 3, p. 167:
agravação em caso de depósito imposto por lei: artigo 205º, nº 5.
XV. Acórdão do STJ de 8 de Julho de 1998, BMJ479244: elementos típicos do crime;
"entrega".
XVI. Acórdão do STJ de 16 de Outubro de 2002, CJ 2002, tomo III, p. 201: crime de
abuso de confiança (simples ou agravado?), valor elevado, lei interpretativa,
aplicação retroactiva: a norma penal interpretativa só se aplica retroactivamente
se for mais favorável ao arguido. Os factos ocorreram durante o ano de 1992,
importando proceder à comparação entre o regime do Código Penal de 1982, na
sua versão originária e na de 1995, em que se fez a concretização de valores dos
crimes contra o património.
XVII. Lopes de Almeida et al., Crimes contra o património em geral, s/d.
XVIII. Pagliaro, Principi di Diritto Penale, 7ª ed., 1995.
XIX. Panchaud et al., Code Pénal Suisse anoté, 1989.
XX. Actas das sessões da Comissão revisora do Código Penal, PE, ed. da AAFDL, 1979.
M. Miguez Garcia. 2001
470
XXI. Albin Eser, in Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 25ª ed., 1997.
XXII. Albin Eser, Strafrecht IV, Schwerpunkt, Vermögensdelikte, 4ª ed., 1983.
XXIII. Antolisei, Manuale de Diritto Penale. Parte Speciale. I, Milão, 1954.
XXIV. António Manuel de Almeida Costa, Sobre o crime de corrupção, separata do nº
especial do BFD “Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Eduardo Correia”,
1987.
XXV. Arndt Sinn, Der Zueignungsbegriff bei der Unterschlagung, NStZ 2002, p. 64.
XXVI. Augusto Silva Dias, Os crimes de fraude fiscal e de abuso de confiança fiscal:
alguns aspectos dogmáticos e político criminais, Ciência e Técnica Fiscal, nº 394
(1999).
XXVII. Bajo Fernández et al., Manual de Derecho Penal, Parte especial, delitos
patrimoniales y económicos, 1993.
XXVIII. Beleza dos Santos, Estudos sobre “o crime de abuso de confiança”, RLJ, ano 82º
(19491950), p. 3, 17 e 33.
XXIX. Campos Costa, O crime de abuso de confiança, Scientia Iuridica, t. V.
XXX. Candido CondePumpido Ferreiro, Apropiaciones indebidas, 1997.
XXXI. Carlos Alberto da Costa Dias, Apropriação indébita em matéria tributária, RPCC 6
(1996), p. 443.
M. Miguez Garcia. 2001
471
XXXII. Carlos Alegre, Crimes contra o património, Revista do Ministério Público, 3º
caderno.
XXXIII. Cesare Pedrazzi, Sui limiti dell' "appropriazione", Riv. ital. dir. proc. penale 1997,
p. 1441.
XXXIV. Código Penal, Actas e Projecto da Comissão de Revisão, 1993.
XXXV. Cunha Rodrigues, Os crimes patrimoniais e económicos no Código Penal
Português, RPCC, 3 (1993).
XXXVI. David Borges de Pinho, Dos Crimes contra o Património e contra o Estado no
novo Código Penal.
XXXVII. Eduardo Correia, O efeito da entrega como elemento constitutivo do crime de
abuso de confiança, RDES, ano VII (1954), p. 57; Revista de Legislação e de
Jurisprudência, ano 93º, p. 35.
XXXVIII. F. Puig Peña, Derecho Penal, Parte especial, vol. IV.
XXXIX. FrédéricJérôme Pansier, Le droit pénal des affaires, PUF, 1992
XL. G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 4ª ed., 1993.
XLI. Harro Otto, Unterschlagung: Manifestation des Zueignungswillens oder der
Zueignung?, Jura 1996, p. 383.
XLII. Jorge Dias Duarte, Crimes de abuso de confiança e de infidelidade, Revista do
Ministério Público, ano 20 (1999), nº 79.
M. Miguez Garcia. 2001
472
XLIII. José António Barreiros, Crimes contra o património, 1996.
XLIV. Júlio Fabbrini Mirabete, Manual de Direito Penal. Parte Especial. Vol. 2. 17ª ed.
XLV. Kienapfel, Grundriß des österreichischen Strafrechts, BT, II, 3ª ed., 1993.
XLVI. Laurentino da Silva Araújo, Do abuso de confiança, 1959.
XLVII. LealHenriques Simas Santos, O Código Penal de 1982, vol. 4, Lisboa, 1987.
XLVIII. Luis Osório, Notas ao Código Penal Português, vol. 4º, 1925.
XLIX. M. Maia Gonçalves, Código Penal Português, 8ª ed., 1995.
L. M.T. Castiñeira, Ventas a plazos y apropiación indebida, Bosch.
LI. Manuel Cavaleiro de Ferreira, Abuso de confiança, peculato, falsificação de furto
de documentos, descaminho, Direito e Justiça, volume IV (1989/1990).
LII. Miguel Pedrosa Machado, Crime de Abuso de Confiança. Acórdão do Supremo
Tribunal de Justiça de 22 de Janeiro de 1997, RPCC 7 (1997), p. 485 e ss.
LIII. Muñoz Conde, Derecho Penal, Parte especial, 11ª ed. revisada e puesta al día
conforme al Código Penal de 1995, 1995.
LIV. T.S.Vives, Delitos contra la propiedad, in Cobo/Vives, Derecho Penal, PE, 3ª ed.,
1990.
LV. V. Manzini, Trattato di Diritto Penale Italiano, vol. 9, 1984.
LVI. Volker Krey, Strafrecht, B. T. 2, Vermögensdelikte, 10ª ed., 1995.
M. Miguez Garcia. 2001
473
LVII. Wilhelm Degener, Der Zueignungsbegriff des Unterschlagungstatbestandes (§ 246
StGB), JZ 8/2001.
M. Miguez Garcia. 2001
474
§ 21º O crime de burla comum do artigo 217º, nº 1.
I. Burla. Elementos típicos. Objecto do erro.
CASO nº 21. Burla. A era gerente da sociedade x, arrendatária do prédio onde
funcionava um estabelecimento de modas. B, gerente de y, tendo sabido que A, naquela
sua indicada qualidade, se propunha trespassar o estabelecimento, procuroua e logo lhe
entregou, no dia 10, a quantia de cinco mil contos, a título de sinal e princípio de
pagamento, de que y recebeu quitação. No desenvolvimento do então acordado, A
recebeu de B, no dia 20, mais a quantia de 2.500 contos. Ainda no desenvolvimento do
que tinha ficado entendido, A e B, ambos nas referidas qualidades, outorgaram, cinco
dias depois, contrato de promessa de trespasse do estabelecimento. De acordo com a
cláusula segunda do contrato, x prometeu dar de trespasse a y e esta prometeu receber
de trespasse o referido estabelecimento comercial, livre de quaisquer ónus ou encargos,
sem dívidas e sem pessoal. Contudo, sobre o estabelecimento objecto do contrato
promessa de trespasse incidia há mais de 10 anos, um penhor que a própria A constituíra
a favor do Banco Totta, para garantia de uma dívida de vinte mil contos, bem como dos
juros e demais despesas. Por altura das negociações entre ambos, este contrato de penhor
mantinhase inteiramente válido, sendo o Banco, em razão disso, credor da sociedade
por um valor que então não era inferior a vinte mil contos, mas a A, se bem que tivesse
presente o penhor e todas as suas implicações, não falou dele ao interessado B, nem
mesmo lhe revelou a existência de outras dívidas da sociedade, como seja, ao Fisco e à
Segurança Social. Foi só na véspera da realização da escritura definitiva que o
M. Miguez Garcia. 2001
475
interessado B soube, casualmente, por terceiros, e confirmou junto do Totta, da
existência e da subsistência do penhor. Na verdade, a A, quando com o B outorgou o
contrato, ainda que prometendo trespassar o estabelecimento livre de quaisquer ónus ou
encargos, sabia que não tinha meios para solver a dívida junto do Totta e que ela ficaria,
inevitavelmente, a gravar o estabelecimento, responsabilizandoo pelo valor
empenhado, uma vez trespassado à y em execução do prometido. A A, aliás, nem
mesmo tencionava pagar o que era devido ao Totta ou por qualquer outro modo
legítimo extinguir o penhor. Foi só para conseguir do B mais a quantia de quatro mil
contos, que dele então recebeu, que deliberadamente, de caso pensado, outorgou o
contrato com a indicada cláusula. E foi só porque a A lhe manifestou, pela indicada
forma, mas falsamente, a sua intenção de trespassar o estabelecimento comercial livre de
quaisquer ónus ou encargos, que o B, induzido nessa falsa convicção, confiadamente lhe
entregou a indicada quantia de quatro mil contos. A A actuou consciente e
voluntariamente, com intenção de conseguir a indicada quantia de quatro mil contos por
forma que sabia ilegítima e à custa de terceiro, sabendo que o fazia contra a lei.
O tipo objectivo da burla exige um comportamento astucioso que induz
alguém em erro ou leva ao engano, que por sua vez é determinante de uma
disposição patrimonial donde resulta prejuízo. Pelo que toca a este caso, não se
confirma a tese da acusação de que desde o início das negociações a A
convenceu o seu interlocutor no negócio da inexistência de quaisquer ónus
sobre o estabelecimento objecto do contrato. Não era coisa que então
incomodasse o B ou para que ele estivesse especialmente prevenido — e a A
fechouse em copas. De modo que as quantias postas pelo B a voar, de 5 mil e
2500 contos, dificilmente corresponderão a um prejuízo patrimonial causado
com os meios da burla.
Há quem, porém, admita a burla por omissão, ainda que com carácter
excepcional.
M. Miguez Garcia. 2001
476
Apurouse que o B não teria contratado, sacrificando uma primeira tranche de 5 mil
contos seguida de outra de 2500 contos, se tivesse sabido dum penhor com aquela dimensão e
alcance. Ainda assim, não temos meios para precisar os contornos dum dever de garantia —
um dever jurídico que pessoalmente obrigasse a A a evitar esse resultado prevenindo o outro
contraente do erro em que caíra ou alertandoo para a ignorância de que estava possuído
(artigo 10º, cit., nº 2). A questão pertinente é que o dever jurídico de emitir uma declaração se
rodeia das mesmas exigências postas a qualquer outra posição de garante, não chegam simples
deveres contratuais derivados do princípio da boa fé para que se possa qualificar o silêncio
como típico (V. Krey, Strafrecht, B. T., Band 2, Vermögensdelikte, 10ª ed., 1995, p. 154 e ss.).
Persiste assim a impossibilidade de castigar esse comportamento da A a título de burla, ainda
que recorrendo aos pressupostos típicos da comissão por omissão (artigos 10º e 217º do Código
Penal).
A certeza palpável do cometimento do crime está contudo à vista com a
endrómina do contrato promessa. A A comprometeuse com a cláusula livre de
quaisquer ónus ou encargos, outorgou o contrato sabendo que não tinha meios
para solver a dívida junto do Totta e que ela ficaria, inevitavelmente, a gravar o
estabelecimento, uma vez trespassado — e nem sequer queria pagar o que era
devido ao Banco ou extinguir o penhor por qualquer outro modo legítimo. Foi
só para conseguir do B mais quatro mil contos que deliberadamente, de caso
pensado, outorgou o contrato com a indicada cláusula. E foi só porque a A lhe
manifestou, pela referida forma, mas falsamente, a sua intenção de trespassar o
estabelecimento comercial livre de quaisquer ónus ou encargos, que o
interessado, induzido nessa falsa convicção, confiadamente lhe entregou os
quatro mil contos.
À pergunta se isto integra os elementos da burla responderemos que sim,
tanto mais que os elementos subjectivos acrescem aos que conformam o
desenho objectivo do tipo.
Na burla, objecto do erro ou engano podem ser apenas factos, sejam eles
externos ou internos: o agente comete o crime "[...] por meio de erro ou engano
sobre factos que astuciosamente provocou [...]", dizse no artigo 217º, nº 1, do
Código Penal.
In casu, objecto do erro é a capacidade de a A cumprir a sua parte, no
fundo, a de extinguir o penhor (facto externo) e a sua vontade de o fazer (facto
interno). Para a burla basta um desses factos, a capacidade de cumprimento ou
a vontade de cumprir. Na conclusão do contrato promessa, a A apresentouse,
falsamente, como capaz de cumprir e mesmo como querendo cumprir a sua
parte no contrato, que passava pela extinção do penhor. A A, porém,
M. Miguez Garcia. 2001
477
conscientemente, mentiu. Mas não se limitou a mentir, não se contentou em
enunciar as intenções fraudulentas que a moviam, foi mais longe, associando a
sua incapacidade de cumprir, e mesmo a sua falsa vontade de o fazer, à riqueza
de pormenores que transparece do contrato destinado a vincular as duas partes.
Afinal, a A mentiu por escrito, para assegurar o êxito, envolveuse numa mise
enscène destinada a confirmar a mentira, não se bastou com o enunciar dum
motivo fraudulento, fêlo acompanhar de maquinações aptas a —
definitivamente — consolidar brechas na defesa do sujeito passivo.
Este acabou por lhe entregar os quatro mil contos, confiando nas palavras
da A, e só procedeu assim porque a A lhe manifestou, pela indicada forma, mas
falsamente, a sua intenção de trespassar o estabelecimento comercial livre de
quaisquer ónus ou encargos, inclusivamente, livre do penhor ao banco.
Nisso consistiu o erro que determinou a disposição patrimonial geradora
do correspondente prejuízo.
Atenta a definição de valor consideravelmente elevado da alínea b) do
artigo 202º do Código Penal: "aquele que exceder 200 unidades de conta
avaliadas no momento da prática do facto", logo se vê que a quantia de quatro
mil contos a que monta o prejuízo não descaracteriza o ilícito apontado na
acusação como sendo o agravado do artigo 218º, nºs 1 e 2, a), do Código Penal, a
que corresponde a moldura penal de 2 a 8 anos de prisão. Resta determinar a
pena concreta.
II. Falsificação e burla; burla em triângulo; burla processual
CASO nº 21A. P é o pai de B, recentemente nascido das suas relações com M, mulher
solteira. P acaba de ter conhecimento do nascimento da criança, mas logo decide fazer
tudo o que estiver ao seu alcance para não contribuir com alimentos para o filho.
Começa por impugnar a paternidade em acção para tanto instaurada, negando
veementemente que seja o pai. Como a mãe garante que P é o pai da criança, o tribunal
acaba por ordenar a realização da correspondente perícia em instituto especializado. P
consegue então que um seu amigo, C, a quem paga cem contos, se submeta ao exame em
M. Miguez Garcia. 2001
478
seu lugar. Para tanto, troca a fotografia do seu bilhete de identidade pela de C, colandoa
cuidadosamente, e é com esta identificação que C acaba por se submeter ao exame em
lugar do amigo. Nas conclusões do relatório de exame, que vai acompanhado de uma
fotocópia do bilhete de identidade apresentado por C, fica a constar que P não pode ser o
pai da criança. Na sequência disso, o tribunal vem a decidir a favor de P e manda iniciar
um processo crime por falsas declarações contra a mãe. No inquérito descobrese a
tramóia combinada entre P e o amigo C e os papéis invertemse, passando estes a
arguidos.
Resta determinar os crimes cometidos por P e C.
1. Punibilidade de P. Tentativa de burla?
De acordo com a descrição típica (artigo 217º), na burla podem
surpreenderse quatro momentos objectivos, ligados numa rede de causa e
efeito: a) a astúcia do agente, exteriorizada numa conduta que a norma não
descreve; b) o erro ou engano; c) os actos (de disposição patrimonial ou de
administração) realizados pelo enganado; e d) o consequente prejuízo
patrimonial deste ou de uma terceira pessoa. Sendo o erro e o engano elementos
do tipo, têm que estar em relação, dum lado, com os meios empregues pelo
burlão, do outro, com os actos que vão directamente defraudar o património do
lesado. A conduta astuciosa do burlão motiva o erro ou engano; em
consequência do erro ou engano, a vítima passa ao acto de que resulta o
prejuízo patrimonial. Deste modo, se o agente desenvolve todo o seu propósito
enganatório, mas sem conseguir a produção do resultado — uma vantagem
patrimonial, que pode consistir em não pagar alimentos — a conduta pode ser
enquadrável na figura criminal da burla, sob a forma tentada.
A burla é crime de relação, envolve dois comportamentos, o do burlão e o
da vítima, mas só se pune o primeiro. A figura da vítima é certamente
imprescindível no iter criminis da burla mas nunca se assume como punível. A
própria actividade do enganado não se segue de modo necessário à actividade
do burlão: como se viu, este pode ter praticado todos os actos tendentes ao fim
em vista, sem que rigorosamente se possa afirmar que vai ter lugar o acto de
M. Miguez Garcia. 2001
479
disposição pretendido, ou que este vai gerar, de forma inelutável, um prejuízo
patrimonial.
O burlão é sempre uma pessoa física determinada, sendo errado afirmar
que alguém foi “burlado” por um Banco ou por uma companhia de seguros.
Por outro lado, não se duvida hoje da burla a favor de terceiro, nem
legitimamente se colocam problemas a propósito da falta de coincidência entre
a identidade do enganado e a do prejudicado. A disposição patrimonial tem
que ser feita pelo enganado (sem o que faltaria a necessária relação causal) mas
pode prejudicar o património de terceiro, quiçá uma pessoa colectiva: burla em
triângulo.
A burla em triângulo convoca por seu turno a chamada burla processual:
casos em que a parte num processo, com a sua conduta enganosa, realizada
com ânimo de lucro, induz o juiz em erro e este, em consequência do erro, dita
uma sentença injusta que causa um prejuízo à parte contrária ou a terceiro.
Uma parte no processo provoca o erro do juiz apresentando conscientemente
dados ou meios de prova falsos para conseguir uma decisão desfavorável à
outra parte. Quem procede à disposição patrimonial é quem labora em erro (o
juiz), o prejudicado é outra pessoa, por exemplo, o fisco. Na maior parte das
vezes, os factos integrarão uma falsificação de documentos ou um falso
testemunho.
Foi o que aconteceu no caso nº 21A: na sequência da troca de identidades
facultada pela falsificação do bilhete de identidade, o tribunal ditou sentença
desfavorável à criança — que ficou em risco de não poder contar com os
alimentos paternos — por ter sido induzido em erro com a conduta ardilosa de
P, que não queria dispor da prestação alimentar para o filho. Dirseá que o
tribunal foi utilizado como um instrumento de comissão do crime de burla, em
autêntica autoria mediata: a actuação astuciosa de P vem acompanhada dos
restantes elementos da burla, existindo inclusivamente o propósito de conseguir
uma vantagem patrimonial.
Será de admitir a burla processual?
Em Portugal recusase a incriminação da burla conseguida com
expedientes processuais. São situações para as quais, dizse, as leis processuais
contêm sanções adequadas, e cujo enquadramento criminal foi recusado pelos
acórdãos do STJ de 17 de Junho de 1953; de 6 de Outubro de 1960; de 3 de
Outubro de 1962 e de 16 de Janeiro de 1974, no BMJ37121; 100441; 120207 e
M. Miguez Garcia. 2001
480
23367, respectivamente, "com abundantes fundamentos” (Maia Gonçalves, p.
732).
Neste entendimento, e em resumo, a actividade judicial não pode ser
considerada meio idóneo para o cometimento do crime de burla (acórdão do
STJ de 6 de Outubro de 1960, BMJ100449). P não cometeu este crime, ainda
que só na forma tentada.
III. Crimes contra o património. Bem jurídico protegido. Conceito de
património. Prejuízo.
CASO nº 21B. Um comerciante anuncia num dos diários da cidade que tem
gabardinas, em “autêntica e pura lã”, para venda, pelo preço irrecusável de 10 contos. A
compra uma dessas gabardinas, mas quando chega a casa logo soube que tinha sido
enganado porque alguém lhe chama a atenção para o facto de não ser a gabardina de lã,
como aliás, o comerciante bem sabia. Este defendeuse dizendo que a gabardina vendida
ao A valia bem os dez contos que este pagara, o que não deixava de ser verdade.
A questão que se põe é se o comerciante, que manifestamente enganou o
A, cometeu um crime de burla. Sendo o prejuízo um elemento do crime (artigo
217º, nº 1), mas valendo a gabardina comprada os dez contos, que o A
despendeu, sempre se poderá sustentar que um tal prejuízo se não verifica. Nos
desenvolvimentos que a seguir se oferecem sobre os elementos da burla
apreciamse os critérios para apurar o prejuízo patrimonial neste tipo de crimes.
Discutese, nomeadamente, qual a pertinente noção de património. Deverá
adoptarse um critério jurídico de património? Ou um critério económico? Ou
deverá darse preferência a um critério misto? Poderá o comerciante ser
condenado por burla só porque à gabardina falta uma determinada qualidade?
IV. O crime de burla comum do artigo 217º, nº 1.
O objectivo das linhas que se seguem é o de tentar esboçar o quadro dos
principais problemas ligados aos elementos típicos do crime de burla comum.
M. Miguez Garcia. 2001
481
O artigo 217º, nº 1, do Código Penal, ao prever uma certa forma de ataque contra o
património, protegeo como um todo. O prejuízo deverá ser directamente causado por
actos que alguém pratica por ter sido enganado, ou em situação de erro, induzido pelo
burlão. O erro do sujeito passivo tem que ser provocado astuciosamente, agindo o burlão
com a intenção de conseguir um enriquecimento ilegítimo, próprio ou alheio. Tutelase o
património, globalmente considerado, enquanto conjunto de utilidades com expressão
económica, cujo exercício ou fruição a ordem jurídica não desaprova. Os autores
acentuam a necessidade dum nexo de causalidade entre os diversos elementos objectivos
da burla, mas alguns preferem, com razão, adoptar a designação de causalidade
psíquica (por oposição a causalidade material) ou a de motivação. Sendo o erro e o
engano elementos do tipo, têm estes que estar em relação, dum lado, com os meios
empregues pelo burlão, do outro, com os actos da vítima (duplo nexo de causalidade). A
conduta astuciosa do burlão (Stratenwerth: das motivierenden Verhalten) motiva o erro ou
engano; em consequência do erro ou engano, a vítima passa ao acto de que resulta o
prejuízo patrimonial.
Os diferentes elementos da burla podem ser esquematizados como segue.
1. A astúcia do burlão.
Como primeiro elemento surge a astúcia do agente, exteriorizada numa
conduta que a norma não descreve. Esta circunstância típica encontrase
relacionada com posições doutrinais que ao longo dos tempos se reflectiram na
técnica legislativa:
• a) A posição limitativa da maquinação ou miseenscène, que no século dezanove se
impôs como condição necessária do engano fraudulento. Para a doutrina francesa (cf.
Garçon, Code Pénal annoté, I, p. 1288) são precisos "actos externos, actos materiais,
M. Miguez Garcia. 2001
482
uma miseenscène destinada a confirmar a mentira" do burlão. Na interpretação do
art. 405 do ancien Code Pénal atendiase ao revestimento exterior do engano,
incriminandose aquele que estivesse construído com uma certa riqueza de formas e
de meios. Não bastava que o motivo fraudulento fosse simplesmente enunciado,
exigiase que estivesse acompanhado de maquinações aptas a abrir uma brecha na
defesa do sujeito passivo (Pedrazzi). Em suma, reservavamse para a burla apenas os
comportamentos enganosos que fossem teatralmente representados — as simples
dissimulações ou reticências ficariam para o campo mais amplo do direito civil, pois
só aqueles têm um indíce de gravidade suficiente para justificarem a punição à
sombra da lei penal.
Esta posição, a considerar que só deverá ser perseguido o engano fraudulento com uma
determinada intensidade, correspondendo ao dolo atrocior ou improbior, é vulgarmente
explicada como uma reacção contra as leis revolucionárias de 19 e 22 de Julho de 1791
em França, que introduziram pontos de incerteza na definição da escroquerie enquanto a
faziam assentar na noção de dolo do direito romano. Mais tarde, sustentavam os autores
do Code pénal napoleónico: "A partir de agora, já não bastará a alegação dum simples
dolo, ficando excluídos os enganos e as mentiras que não sejam apoiados em factos
externos". Cf. Garçon, Code pénal, art. 405, 18; e F.J. Pansier, Le droit pénal des affaires,
1992, p. 15.
• Estabelecese assim uma distinção entre a mentira verbal, que não deve ser punida, e a
manobra fraudulenta como "obra" material e exterior, de carácter positivo.
Acrescentavase ainda a necessidade da constatação do engano, que será mais fácil de
obter quando o agente se serve de actos exteriores que aparentam uma falsa realidade
pois, nesse caso, a possibilidade de verificar o engano fica facilitada pela sua
produção material no mundo exterior. Deste modo, será responsável por
"escroquerie" o indivíduo que criou sociedades fictícias e que, para persuadir
terceiros a comprar partes dessas sociedades, recorreu a uma publicidade intensiva e
M. Miguez Garcia. 2001
483
mentirosa destinada a convencer os eventuais subscritores da realidade e da
prosperidade dessas sociedades. Mas as simples afirmações mentirosas não
constituem, por si só e desacompanhadas de qualquer outra circunstância, as
manobras fraudulentas previstas no art. 405. Por conseguinte, a "escroquerie", só
podendo resultar de um acto positivo, não se coaduna com a simples omissão, pelo
que não comete o crime quem se abstém de revelar a sua situação de insolvência à
pessoa a quem solicita um empréstimo (Code Pénal. Nouveau Code Pénal. Ancien Code
Pénal, Dalloz, 93ª ed., 199596, p. 1981).
• No nouveau Code Pénal, a simples mentira só integrará um meio fraudulento (art. 3131) se
consistir no uso de falso nome ou de falsa qualidade. E do mesmo modo que no
antigo art. 405, não há manobras fraudulentas por simples omissão, nem por simples
mentira. Se alguém cala os defeitos ou os gravames da coisa não faz mais que omitir
algo, sem reflexos externos, que também não existem nos enganos implícitos, quando
se adopta uma conduta ou atitude que leva implícita a ideia do cumprimento de uma
contrapartida. Só haverá manobra fraudulenta se à mentira do agente se associar, por
ex., a intervenção de um terceiro destinada a darlhe crédito, como já pretendia
Carrara no seu tempo. A mentira tem que sair reforçada por um facto exterior que a
ratifique, o qual consistirá, na maior parte das vezes, ou numa miseenscène (v. g., se
o burlão começa pela instalação fictícia de escritórios, encenando a existência duma
actividade comercial), no uso dum documento, em actos publicitários ou na já
sublinhada intervenção de um terceiro que corrobora ou ampara o discurso
mentiroso (J. Larguier / AM. Larguier, Droit pénal spécial, 9ª ed., p. 158; G. Giudicelli
Delage, Droit pénal des affaires, 2ª ed., 1994, p. 92).
As objecções que se fazem a estas posturas radicam especialmente no facto de que, mesmo a
simples mentira, desvinculada de qualquer aparato ratificante, pode ser perigosa para
alguém facilmente sugestionável. A questão estará então em saber se, de um ponto de
vista de política criminal, deverão punirse unicamente as fraudes de maior gravidade
ou as mais perigosas.
M. Miguez Garcia. 2001
484
• b) Outras legislações adoptaram fórmulas abertas e elásticas. Tudo na sequência das
críticas doutrinais à redução do engano típico às maquinações ou manobras
fraudulentas. A susceptibilidade da conduta enganosa para conduzir à disposição
patrimonial por erro não dependerá duma miseenscène, já que, em determinados
contextos e em concretas condições, a manifestação falsa ou mentirosa pode ser
perfeitamente adequada para alcançar o injusto proveito económico. Por outro lado,
não é razoável que se estabeleça o carácter fraudulento de uma qualquer conduta a
partir dos meios empregados — seria o mesmo que definir as lesões pela natureza da
arma com que o agressor as produz.
No Código Penal alemão (StGB) é no § 263 que se define o engano como
“Vorspielung falscher oder Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen” — o
agente refere factos falsos ou altera ou dissimula factos verdadeiros. A conduta
supõe um engano sobre factos por meio de uma afirmação mentirosa do burlão
ou através de qualquer outro procedimento com o valor de uma determinada
declaração e que sirva para induzir alguém em erro. Seguindo o resumo de Blei:
é pelo engano (Täuschung) que se provoca ou mantém um erro (Irrtum) na outra
pessoa e este erro deve prejudicar (beschädigen) o património do enganado ou de
terceiro. O engano é um comportamento dirigido a provocar um erro e tanto
pode ser manifestado por declarações verbais como por manipulações
enganatórias (apresentação de documento falso, manipulação do contador da
água, gás ou electricidade, troca da etiqueta com o preço de uma mercadoria),
sendo sempre necessária no agente a consciência de que entre o facto praticado
e a realidade existe uma discrepância. Há quem afirme que, nessa medida, o
engano envolve já um factor de ordem subjectiva. Tratandose de factos ou
procedimentos concludentes — inequívocos —, o agente tem consciência, não
obstante a via mediata ou oblíqua por que se exterioriza a vontade, de que o seu
comportamento corresponde a um determinado conteúdo declarativo.
Dispondose no § 263 que o objecto do erro podem ser apenas factos, sejam eles
internos ou externos, negase virtualidade típica aos meros juízos de valor, às
simples incorrecções e aos comportamentos usualmente permitidos no tráfico
jurídico e económico, com especial incidência na actividade comercial.
O Código Penal suíço (artigo 148) emprega a expressão "astuciosamente"
("arglistig" no texto de língua alemã: Arglist=dolus malus) para qualificar a
acção enganosa: “l’escroc doit agir astucieusement”. E assim, quem com a
M. Miguez Garcia. 2001
485
intenção de conseguir um enriquecimento ilegítimo, para si ou para outrem,
astuciosamente induzir uma pessoa em erro por meio de afirmações falsas ou
dissimulando factos verdadeiros, ou se aproveitar astuciosamente do erro em
que se encontrava uma pessoa, determinando desse modo a vítima à prática de
actos prejudiciais aos seus interesses patrimoniais ou aos de um terceiro, será
punido por escroquerie (Betrug). Num desenho típico como este, o engano
conflui nos "factos" (Tatsachen), sejam eles positivos ou negativos, internos ou
externos — ou na supressão de determinados dados.
A referência ao carácter fáctico do engano arrastou consigo a dúvida quanto a saber se
poderiam ser objecto de engano os juízos de valor ou a emissão de opiniões que se não
reconduzam a uma afirmação de factos determinados. Mas logo se observou que o
decisivo é se a valoração ainda permite que se reconheça a relação com o facto (a
situação, o acontecimento) afirmado, que se trate portanto de uma generalização feita a
partir de uma alegação mais precisa (“raccourci”). De qualquer forma, as pessoas
costumam guiarse pelas suas próprias opiniões, pelos seus próprios critérios,
considerando os de terceiras pessoas como informações ou conselhos submetidos à sua
crítica (Maurach, p. 238). No juízo de valor a afirmação é composta por elementos da
posição ou opinião própria — se ela é correcta ou incorrecta é questão de convencimento
pessoal (cf. Lenckner, in S/S, Strafgesetzbuch, 25ª ed., p. 1396 e s.).
• A expressão limitativa envolvendo a “astúcia” do sujeito activo começou a ser interpretada
pela jurisprudência suíça no sentido de excluir da tutela penal quem não pôs um
mínimo de cuidado na sua própria protecção, por não merecerem protecção aquelas
situações em que o erro podia ter sido evitado com um mínimo de atenção, empenho
ou diligência. A primeira decisão do BGer sobre a actuação "astuciosa" tem por
objecto o caso dum madeireiro que ao satisfazer uma encomenda remetera ao cliente
3,5 est. de madeira com a afirmação conscientemente falsa de que eram 5 est., bem
medidos. O comprador reclamou, dois dias depois, e o vendedor reembolsouo da
diferença. O tribunal considerou que "não bastava uma simples indicação falsa, pois a
M. Miguez Garcia. 2001
486
outra parte podia ter procedido a uma verificação sem nenhum incómodo especial"
(BGE 72 IV 12f, apud Stratenwerth, p. 307): dum modo geral, as relações económicas
entre comerciantes excluemse da incriminação da burla, pela maior diligência que se
pode exigir a quem trabalha no mesmo círculo profissional. A partir daqui, os
tribunais suíços foram procedendo ao alinhamento de séries de casos, passando a
fazer uso de determinadas linhas mestras. Por ex.: Age astuciosamente quem se serve
de maquinações enganatórias, quem faz uso de uma construção de mentiras, sem que
se exija a sua verificação por parte do destinatário. Ou mesmo quem faz simples
afirmações falsas, convencido de que em razão das circunstâncias o enganado não
será levado a verificálas; ou intencionalmente dissuade a vítima de verificar a
exactidão das afirmações; ou nos casos em que não é exigível que o enganado
verifique a exactidão das afirmações; ou finalmente naqueles em que o agente de
antemão sabe que em razão de uma especial confiança que a vítima nele deposita esta
não deixará de omitir qualquer indagação.
• O artigo 640 do Código penal italiano (Código Rocco, de 1930) punia por truffa aquele que
com artifícios ou insídias, induzindo alguém em erro, procura alcançar, para si ou
para terceiro, um proveito injusto com prejuízo alheio. Enquanto no código anterior,
o de finais do século dezanove (o Código Zanardelli, de 1889), se exigia a idoneidade
genérica da conduta insidiosa “para surpreender a boa fé alheia”, o de 1930,
suprimindo este passo, acolheuse a um conceito flexível de engano, centrado no uso
de artifizi ou raggiri. O artifizo opera sobre a realidade externa, o raggiro
directamente sobre o psiquismo do enganado. É artifício qualquer alteração estudada
do que é correcto, qualquer deformação da realidade efectuada por simulação de algo
que não existe (por ex., riqueza, título, nome, qualidade, etc.), ou escondendo ou
disfarçando aquilo que existe (por ex., o próprio estado de insolvência, o de pessoa
casada ou inabilitada, o uso de determinada coisa, etc.). O raggiro é um ardil, um
enredo enganoso destinado a convencer por conversa ou por palavras, mais
precisamente, uma mentira revestida de algo idóneo a fazêla passar por verdadeira
(Antolisei, Manuale, p. 247).
M. Miguez Garcia. 2001
487
• Deste modo, começou a admitirse que o artifício ou o enredo de que fala o artigo 640 não
consistem apenas numa particular, subtil e astuta miseenscène, sendo suficiente
qualquer simulação ou dissimulação ou qualquer expediente doloso dirigido a
induzir alguém em erro. De forma que, mesmo a simples mentira, quando seja
arquitectada e apresentada de modo a assumir o aspecto da verdade e a induzir em
erro o sujeito passivo, pode integrar o elemento material do crime de burla (cf. Luigi
Delpino, Diritto Penale, parte speciale, 10ª ed., 1998, p. 990). Todavia, se por um lado
há quem defenda que um meio enganatório excessivamente grosseiro — com que só
uma pessoa particularmente ingénua pode ser enganada — não poderá considerarse
artificio ou raggiro, outros (por ex., Antolisei) entendem que a expressão legal
reclama a ideia de uma certa astúcia ou de uma subtil sagacidade na construção do
engano. Aqueles enganos que costumeiramente, ou pelo menos com grande
frequência, se verificam em dados ambientes e em função de certos relacionamentos,
embora reprovados pela consciência social, não podem ser considerados senão meras
incorrecções (Pedrazzi, apud Paulo José da Costa Jr., p. 525). Em suma, ficarão
excluídas aquelas condutas que, ainda que enganosas, os usos do tráfico não
reprovam como truffa, mas catalogam como simplici scorrettezze (exemplo de
Antolisei: "magnificare eccessivamente le qualità di un prodotto posto in vendita").
• Também entre nós houve, desde sempre, lugar para a controvérsia em torno da exigência
ou não de uma especial gravidade da conduta do burlão. No artigo 451º do Código
Penal de 1886 descreviamse certas modalidades concretas de burla, punindose
quem usasse de falso nome ou de falsa qualidade, ou que empregasse falsificação de
escrito, ou artifício fraudulento para persuadir a existência de alguma falsa empresa,
ou de bens, ou de crédito, ou de poder supostos, ou para produzir a esperança de
qualquer acidente. Foi esta noção de artifício fraudulento que desencadeou, na época,
a discussão porventura mais relevante quanto à exegese da incriminação da burla.
• Para uma primeira corrente (Jordão, Ferrão) a burla do artigo 451º, nº 3, devia concretizar
se numa qualquer "miseenscène", equiparandose o artifício fraudulento ao
emprego de manoeuvres frauduleuses. Para que realmente houvesse burla, não
M. Miguez Garcia. 2001
488
bastava a simples mentira, a mentira sem falácia, ardil ou astúcia. Era necessário que
a mentira estivesse acompanhada de actos externos, actos materiais, destinados a
confirmar a mentira. Aliás, a escola positiva apontava a perigosidade do agente como
o momento caracterizador da fraude punível. Ora, a miseenscène não é só
objectivamente mais perigosa no confronto com os simples comportamentos
mentirosos, mas conforma uma maior astúcia, uma maior pertinácia do réu, sendo
portanto muito mais temível para a sociedade.
• Numa outra visão das coisas, avultava o entendimento, capaz de afastar a identificação dos
conceitos de “artifício fraudulento” e manoeuvres frauduleuses, de que a miseenscène
não implicava, de forma necessária, a maior ofensividade da conduta por referência
ao bem jurídico e, portanto, um conteúdo de desvalor acrescido em relação às
restantes hipóteses (palavras do Conimbricense) (Beleza dos Santos, RLJ 76, 322).
Deste modo, o nº 3 do artigo 451º não se contentava com a simples mentira. Para a
presente perspectiva, o requisito de que se estivesse perante um “artifício
fraudulento” resumiase, porém, à exigência de que a conduta do agente
consubstanciasse um particular engenho, habilidade ou astúcia, e, nesta acepção, uma
“mentira qualificada”. Em conformidade, não integraria um artificio fraudulento a
acção daquele que, ao pedir um empréstimo bancário, quando perguntado sobre se
possuía bens, se limitasse a faltar à verdade, respondendo afirmativamente; ao invés,
já integraria o mencionado conceito o comportamento que, não envolvendo uma
miseescène, se esgotasse no aproveitamento astucioso de um condicionalismo
fáctico que lhe conferia uma particular credibilidade (v.g., o acto de encomendar uma
refeição num restaurante ou de se instalar num hotel, com a premeditação de não
pagar). Por outro lado e como decorre deste último exemplo, a doutrina em apreço
admitia, ao contrário da tese anterior, que a execução do crime de burla do nº 3 do
art. 451º do CP de 1886 pudesse ocorrer através de actos concludentes e, até, por
omissão (convergindo no sentido de autonomizar a noção de “artifício fraudulento”
das m. f. do dtº francês, atribuindolhe a amplitude atrás descrita (BS, RLJ, 76 307 e
322; Osório, IV, 217).
M. Miguez Garcia. 2001
489
• Em 1982, com o novo Código Penal, fizeram agulha, em termos de algum modo
semelhantes, as intervenções interpretativas da exigência de que o engano fosse
provocado “astuciosamente”. Não prescindem de uma miseenscène, identificando
os conceitos de “astúcia” e de encenação ou manobra fraudulenta, tanto Fernanda
Palma e Rui Pereira, como J. A. Barreiros. Outros (por ex., Sousa e Brito) afastam a
necessidade de uma miseenscène como elemento do crime de burla.
c) Omissis
• d) Os esforços para encontrar uma figura unitária, capaz de abranger as diversas
actividades astuciosas, mostramse infrutuosos. Nem a doutrina nem a
jurisprudência se limitaram à tese restritiva da miseenscène, ainda que em muitos
casos se acolhessem às vantagens e à força desta figura para confirmar a natureza da
mentira astuciosa. Eis um exemplo relativamente bem conhecido, em que estavam em
causa dinheiros do Estado, o do acórdão do STJ de 29 de Fevereiro de 1996, BMJ454
531; também publicado e anotado na RPCC 6 (1996):
No caso, “toda a actuação demonstra um complexo estratagema destinado a enganar o sujeito
passivo, iludindo a sua boa fé e levandoo a uma falsa representação da realidade. Nessa
actuação está patente o urdimento com exteriorização enganatória, significante da
astúcia. As manobras foram colimadas a criar junto do ministério a "aparência" de uma
determinada realidade não existente. (…) O agente convence o sujeito passivo de uma
falsa representação da realidade (e o erro ou engano nisso consistem), mediante
manobras (e estas podem ser as mais variadas, desde a simples mentira que as
circunstâncias envolventes são de molde a tornar credível perante o homem médio até
aos mais elaborados artifícios) adrede realizadas”
• Mas na praxis dos tribunais não faltam outros enredos possíveis, capazes de desencadear,
da mesma forma, o erro ou engano no espírito do burlado:
M. Miguez Garcia. 2001
490
“Integra o elemento enganoso”, escrevese no acórdão do STJ de 31 de Janeiro de 1996,
processo nº 48746 3ª Secção, “o facto de os arguidos após prévio acordo se dirigirem ao
ofendido, fazendolhe crer que eram pessoas sérias e de boa capacidade económica,
prontificandose a emitir cheques e letras, tendo com base nisso obtido a entrega do
veículo por parte do ofendido”.
“Comete o crime de burla o arguido que induz o ofendido em erro tendolhe referido que
mediante a entrega de uma quantia monetária podia falar com o examinador para que
este lhe facilitasse a feitura do exame de condução (acórdão do STJ de 14 de Fevereiro de
1996, processo nº 48597 3ª Secção).
“Comete o crime de burla o arguido que faz publicar um anúncio num jornal para venda de
um terreno, dizendo que este era óptimo para construção, disso convencendo o
ofendido, que lho comprou, quando bem sabia que a construção era ali proibida”
(acórdão do STJ de 5 de Junho de 1996, CJ, ano IV (1996, t. 2, p. 191).
“O ofendido entregou ao arguido a quantia de quatro mil contos, sabendo que este, na altura,
aceitava depósitos em dinheiro, sobre os quais pagava o mesmo juro da D. Branca — 10
% ao mês — e este aceitou esse depósito comprometendose a pagar os juros mensais de
10% sobre a quantia depositada. O engano utilizado pelo réu, para se apropriar de bens
do ofendido, consistiu precisamente no facto de lhe prometer pagar juros de 10 por cento
ao mês, sabendo de antemão que tal lhe era impossível, estando numa situação
económica difícil e tendo vendido muitos dos seus bens de raiz” (acórdão do STJ, de 19
de Dezembro de 1991/12/91, BMJ412234).
M. Miguez Garcia. 2001
491
Em Espanha, um indivíduo conseguiu 200 mil pesetas de uma mulher para adquirir uma
moradia mediante promessa de casamento e ocultando a sua condição de casado, tendo
sido condenado por estafa. (TS 12.12.1981).
A, com a afirmação de que as notas emitidas no tempo do ditador Franco tinha sido
substituídas, conseguiu que B que lhe entregasse todas as que tinha “para serem
substituídas por dinheiro novo”. Foi igualmente condenado por estafa. (TS 24.3.1981).
• Como se vê, os tribunais configuram o comportamento do sujeito activo a partir de
manobras, que podem ser as mais variadas, desde a simples mentira que as
circunstâncias envolventes são de molde a tornar credível perante o homem médio,
até às maquinações complexas e multiformes, aos mais elaborados artifícios, levando
a vítima a uma falsa representação da realidade. Mas não será necessário que o
engano consista em factos materiais ou em cenas teatrais que corroborem o que o
burlão assevera, bastam as palavras enganosas capazes de produzir a ilusão no
espírito da vítima e fazer dobrarlhe ou encarreirarlhe a vontade. O engano, afinal,
também se consegue com formas de actuação simples e rudimentares, desde que
bastem para viciar a vontade da vítima. Tanto pode consistir em afirmações de factos
falsos como na dissimulação dos verdadeiros.
• d) Não ficará mal que se insista: a burla pode concretizarse numa qualquer "maquinação",
numa "miseenscène", ou no emprego de manobras fraudulentas. A burla é
"enganação", na linguagem pitoresca de telenovela brasileira ("Tocaia Grande"). Para
enganar, as formas são as mais diversas: palavras, gestos (aprovação com sinal de
cabeça), mímica (mostrando entusiasmo por algo sem valor), sinais (etiquetar como
sendo de uísque uma garrafa de chá) ou qualquer outra acção com valor declarativo
(mala só aparentemente cheia de notas de Banco), etc. (Cf. Eser, p. 112). Podese
recorrer a factos verdadeiros mas deformados, ou ao uso de falso nome ou de falsa
qualidade. Pode ser a utilização de documentos falsos ou falsificados ou de qualquer
comportamento em que a mentira sai reforçada por um facto exterior. Tudo
M. Miguez Garcia. 2001
492
expressões cuja descrição ou enumeração a lei portuguesa economiza. O que não
pode faltar em qualquer caso concreto é a urdidura típica conferida por um processo
astucioso.
• E o silêncio, a pura passividade? Como se sabe, a vontade contratual pode manifestarse
por forma expressa ou tácita, não surpreendendo a ideia de que manter silêncio é em
si um acto de comunicação. Por toda a parte ecoa aliás o lugarcomum de que “o
silêncio oportuno tem mais eloquência do que o falar”.
• Tratandose de factos ou procedimentos concludentes — inequívocos —, o agente tem
consciência, não obstante a via mediata ou oblíqua por que se exterioriza a vontade,
de que o seu comportamento corresponde a um específico conteúdo declarativo.
Quer dizer: um determinado agir positivo autoriza uma determinada conclusão — se
alguém convida outra pessoa para a sua mesa “aceita” pagar a despesa; quem entrega
um cheque para pagar algo que leva consigo “declara” que o título tem cobertura
quando da sua apresentação a pagamento; nem será preciso assegurar que a
assinatura corresponde à da sua ficha bancária. Não obstante o silêncio, é ajustado, de
acordo com os usos da vida, as convenções sociais, chegar a uma tal conclusão.
É nesta área problemática que se discute, por exemplo, se o comportamento do automobilista
que se auto abastece e foge sem pagar integra o crime de burla (ou antes o de furto) e se
isso acontece em todas as circunstâncias. A incriminação da burla para obtenção de
alimentos, bebidas ou serviços, prevista no artigo 220º do Código Penal, responde a
algumas dificuldades que a prática judicial encontrava na superação de certos
comportamentos vizinhos destes.
• O carácter típico do silêncio pode portanto associarse a uma forma concludente, activa,
capaz de induzir alguém em erro. Neste sentido, o silêncio só aparentemente
corresponderá a um comportamento omissivo. Tudo depende das circunstâncias. O
caso do vendedor de carros usados que omite a informação sobre defeitos graves da
M. Miguez Garcia. 2001
493
viatura também já foi tratado nos nossos tribunais, tendo o Supremo decidido que
“pratica o crime de burla prevista no artigo 313º, nº 1, do Código Penal de 1982,
aquele que atribui ao veículo qualidades que este não tem e que ele bem sabia não ter,
ao mesmo tempo que oculta defeitos graves que conhecia e não revelou, sendo que
sem tais falsidades e sem as omissões cometidas não teria obtido a adesão do
comprador” (acórdão do STJ de 13 de Janeiro de 1993, BMJ423214).
Em sentido contrário, porém, o acórdão do STJ de 4 de Novembro de 1987 (cit. em Maia
Gonçalves, anotação ao artigo 313º). No caso dos usados restará o argumento adicional
de que se um comerciante vende uma viatura que aparentemente não tem defeito grave
(acção) e omite que o carro tinha sido afectado gravemente num acidente (omissão) bem
pode tratarse de valoração, não de conhecimento. Ora, o que constitui erro é a falsa
representação de factos: a falsa avaliação de factos não determina um erro. Mas também
se diz (cf. Muñoz Conde, p. 278) que ocultar vícios da coisa ou os ónus que pesam sobre
ela simplesmente porque o comprador nada pergunta ou tem como bom o estado da
coisa não deixa de ser equivalente à negação quando efectivamente se pergunta. Cf., por
último, a anotação no Boletim 466, p. 265.
• As normas penais que sancionam uma acção exigem simplesmente que se permaneça
inactivo. A punibilidade das omissões, pelo contrário, supõe um dever de
solidariedade e com ele a realização da acção devida ou esperada, pelo que a sua
extensão a estes casos se subordina a regras especiais, que o legislador português
remeteu para a parte geral do Código Penal (artigo 10º). A equiparação da omissão à
acção fazse de forma restritiva e só ocorre nos casos em que sobre o omitente "recaia
um dever jurídico que pessoalmente o obrigue a evitar o resultado" (artigo 10º, nº 2).
Deste modo, a burla só pode ser cometida através do silêncio autêntico se pudermos
enquadrálo nos pressupostos da comissão por omissão imprópria. Há quem assim
admita a burla por omissão, se houver um dever de informação por parte do agente,
M. Miguez Garcia. 2001
494
mas com carácter excepcional. Com efeito, na burla, o dever jurídico de emitir uma
declaração rodeiase das mesmas exigências postas a qualquer outra posição de
garante, não chegam simples deveres contratuais derivados do princípio da boa fé
para que se possa qualificar o silêncio como típico (cf. V. Krey, p. 157).
• (Omissis)
• Em jeito de balanço, temos assim quem admita a burla por omissão, mas com carácter
excepcional, e quem a rejeite, tomando posição à parte sobre a questão do silêncio
com o sentido concludente que já apontámos (cf., para o direito austríaco, a exposição
de Helmut Fuchs, öst. Strafrecht, AT 1, 1995, p. 360).
• Entre nós, também se podem encontrar esses diferentes posicionamentos.
• Omissis.
Na jurisprudência não falta quem afirme a burla nas hipóteses em que “o agente, perante o
erro já existente, causa a sua persistência, prolongandoo, ao impedir, com a sua conduta
astuciosa ou omissiva do dever de informar, que a vítima se liberte dele” (acórdão do
STJ, de 19 de Dezembro de 1991, BMJ412234). Ao contrário, no acórdão do STJ de 8 de
Janeiro de 1997 (processo nº 95/96 — 3ª Secção) entendese que o artigo 313º do CP de
1982 não contemplava a burla por omissão (pelo simples aproveitamento das
circunstâncias) apenas incriminando a burla por acção (o agente teria de provocar
astuciosamente o erro ou engano). Cf., ainda, o acórdão do STJ de 8 de Fevereiro de 1996,
CJ, ano IV (1996), tomo 1, p. 209: "apenas são punidos os casos em que o erro ou engano
é astuciosamente provocado (burla activa), excluindose aqueles em que é simplesmente
"aproveitado". No processo sustentarase que haveria crime cometido por omissão
porque recaía sobre os arguidos o dever jurídico que pessoalmente os obrigava a
evitarem o resultado (artigo 10º, nº 2, do Código Penal).
M. Miguez Garcia. 2001
495
• Tudo desemboca, afinal, e em primeira linha, na posição de garante.
2. O erro ou engano
A actuação do burlão não se fica por uma simples alteração da verdade,
deve antes projectarse, de forma injustificada, numa falsa representação da
realidade por parte da vítima, enganandoa ou induzindoa em erro (sobre
factos). Por conseguinte, esta conduta astuciosa (das motivierenden Verhalten) terá
que ser de molde a motivar o erro ou o engano, de tal forma que, por um lado,
se registe entre os dois segmentos típicos uma relação de causalidade; por
outro, que tal conduta fraudulenta seja antecedente ou causal desse erro ou
engano (e deste modo da disposição patrimonial que causa um prejuízo) e não
meramente acidental.
• Omissis.
• Quem paga a um curandeiro, a um exorcista ou a uma bruxa será vítima de um crime de
burla? Requerendose uma certa magnitude objectiva (Bajo Fernández), não haverá
da parte dessa gente uma actividade que baste para enganar — seriam condutas
atípicas. Por idênticas contas, também não haverá burla quando alguém solicita um
empréstimo com a simples afirmação de ser proprietário de imóveis, ou no caso da
obtenção de dinheiro com a promessa de enriquecimento por meios sobrenaturais, ou
“no facto de alguém vender, em 1976, “autênticos”relógios Omega e Rolex de ouro,
por 1200 pesetas”. Aliás, sempre se poderia acrescentar que o erro não é produto da
actividade do curandeiro ou da bruxa, mas de crenças prévias e irracionais do
suposto enganado. Ou que quando o sujeito passivo leva a cabo a disposição
patrimonial sem qualquer erro, conhecendo a mentira ou por puro passatempo ou
liberalidade, também não existe burla: videntes, falsos adivinhos, etc., não enganam
ninguém mas obtêm proveitos deste modo (Muñoz Conde, p. 278; Puig Peña, p. 351).
• Cabem aqui igualmente os enganos em que caem pessoas especialmente indefesas, como
os incapazes (incapazes de conhecer e de entender): alguns menores ou deficientes
mentais. Tratandose de um doente mental, o facto de se determinar uma pessoa
nesta situação a entregar uma coisa constitui furto, segundo uma parte da doutrina.
M. Miguez Garcia. 2001
496
O engano, dizse, não é meio idóneo para influenciar uma vontade inexistente no
âmbito jurídico, sem que esta conclusão implique a impunidade da conduta. O caso
seria de subtracção, na impossibilidade de se afirmar um verdadeiro acto de
disposição. Consequentemente, integraria um furto. Tratandose duma pessoa
parcialmente incapaz, a burla é contudo possível.
A situação jurisprudencial que de algo modo paira nesta região é a do acórdão da Relação de
Lisboa de 24 de Abril de 1991, CJ, ano XVI, t. 2, p. 204: quem se aproveita da
incapacidade física e da falta de condições psíquicas de outrem para, mediante o guiar
da sua mão, obter diversas assinaturas deste em cheque cujo valor posteriormente
levanta e utiliza em proveito próprio comete o crime de furto e não o de extorsão. Cf.,
porém, o acórdão da mesma Relação de 16 de Novembro de 1988, CJ, ano XIII, t. 5, p.
241.
• Há quem pretenda recusar a tutela do direito a quem não actuou com a perspicácia e a
diligência de que era capaz. Ao actuar negligentemente: sibi imputet. Outros preferem
excluir a imputação objectiva do resultado nos casos de negligência extrema, com o
argumento de que a sua produção foi predominantemente devida à vítima — o
burlão seria punido, mas só por crime tentado (Pérez Manzano).
• Mas há razões muito válidas para impugnar esta doutrina: é inadmissível pretender
compensar o dolo do ofensor com a culpa da vítima, são conteúdos psicológicos de
diferente natureza e relevância penal; tratase aliás de uma tese desumana e em
contradição com a experiência, pois até um bom pai de família pode de vez em
quando deixar enfraquecer a sua proverbial diligência, e neste caso não seria
admissível pôr à frente dos seus interesses outros interesses menos dignos; por fim,
considerese que a punibilidade da burla radica no seu conteúdo ilícito, de modo que
ao admitir a tese de que a conduta negligente da vítima exclui a relevância do
engano, cairíamos no paradoxo de castigar quem persegue uma actividade lícita só
por não ter sido suficientemente diligente ao cuidar dos seus interesses.
M. Miguez Garcia. 2001
497
• A burla do mendigo é um tema debatido na doutrina alemã que alguns autores introduzem
no âmbito dos enganos socialmente tolerados. Na medida em que o doador procede
de forma completamente indiferente quanto às supostas necessidades de quem pede
e só quer livrarse deste o mais depressa possível, o facto deverá ficar impune,
mesmo quando na mendicidade se alegam necessidades ou situações que podem ser
fictícias ou exageradas.
• b) A questão da idoneidade do engano na legislação italiana está ligada ao aparecimento
do Código Zanardelli (de 1889), em cujo artigo 413 se exigia a idoneidade genérica da
conduta insidiosa “para surpreender a boa fé alheia”. O Código de 1930, suprimindo
este passo, acolheuse a um conceito flexível de engano, centrado no uso de artifizi ou
raggiri. Deste modo, sustentam alguns autores, por ex., Antolisei, que tendo sido
suprimido o requisito da aptidão do meio para enganar ou surpreender a boa fé
alheia, que figurava no código precedente, não se requer uma particular idoneidade
do próprio meio. Basta que em concreto o meio usado tenha ocasionado engano.
• Todavia, há quem, mesmo perante a supressão dessa passagem da lei italiana, continue a
exigir que a conduta enganosa se revista de um mínimo de verosimilhança para
poder aparecer como adequada para atingir o resultado que o sujeito activo se propõe
realizar. Para os compiladores do código, a supressão não deixa de ser coerente com
as disposições da parte geral sobre a tentativa e o nexo de causalidade. Com efeito, já
na vigência do Código Zanardelli, a jurisprudência distinguia, quanto à idoneidade
do raggiro, conforme se tratasse de tentativa ou de truffa consumada, chegando
mesmo a concluir que qualquer indagação acerca da idoneidade dos artifizi e dos
raggiri no caso da truffa consumada seria de todo irrelevante. No entanto, a
necessidade dessa averiguação para a truffa consumada subsiste — não para
estabelecer uma idoneidade abstracta dos artifizi ou dos raggiri, mas para
determinar, nas várias fattispecie, se o erro da pessoa que sofreu o dano é
consequência da conduta do delinquente. Cf. Giuseppe La Cute.
• Os nossos tribunais vêm entendendo de há muito que mesmo a inverosímil ingenuidade
do ofendido não pode constituir desculpa para o agente. E acentuam —
M. Miguez Garcia. 2001
498
provavelmente, como eco do citado passo de Antolisei e de outros autores italianos
— que se o engano é produzido [ou mantido] e se lhe segue o enriquecimento
ilegítimo em prejuízo da vítima, não há lugar a indagação sobre a idoneidade do
meio empregado, considerado abstractamente, pois que a eventual culpa da vítima,
ou a sua ingenuidade, não podem constituir desculpa para o agente (assim o acórdão
do STJ, de 19 de Dezembro de 1991, BMJ412234). Deste modo, não importa apurar
se o meio era suficiente para enganar ou fazer cair em erro o homem médio suposto
pela ordem jurídica, uma vez que uma eventual culpa da vítima não pode constituir
uma desculpa para o agente (cf. ainda a anotação ao acórdão do STJ de 29 de
Fevereiro de 1996, BMJ454531; e RPCC 6 (1996), p. 618).
Também a Cassazione italiana decidiu que, em matéria de truffa, uma vez acertado o nexo de
causalidade entre o artificio ou o raggiro e a indução de outrem em erro, não é necessário
averiguar se os meios usados são, em abstracto, genericamente idóneos a induzir em
erro, se em concreto os mesmos se mostraram idóneos. O eventual defeito de diligência
da vítima não chega para ilidir a existência do crime. (Cass. 1511990, p. 297).
• c) Quase seria desnecessário insistir em que a conduta enganosa deverá anteceder o erro —
só quando forem prévias é que as actividades do burlão poderão declararse causais
ou motivadoras do erro em que a vítima caiu. É neste quadrante que convirá rever
aspectos das implicações penais de certas atitudes omissivas, sabendose que alguns
ordenamentos, como o suíço, contam expressamente com o aproveitamento dum erro
preexistente da vítima entre as modalidades da burla. A fórmula do Anteprojecto do
Prof. Eduardo Correia, a exemplo do Código suíço, propunha uma segunda
alternativa típica, referida ao “aproveitamento do erro ou do engano”, que acabou
por não aparecer vertida na redacção definitiva. Pode certamente falarse de casos de
erro preexistente noutra pessoa, mas dificilmente se justificará que esse erro seja
causado ou induzido por um nada fazer ou por um continuar calado — como quando
um comerciante, no exercício da sua actividade, não desfaz determinado equívoco,
embora se aguardasse dele outro procedimento. Há, no entanto, alguns autores (por
M. Miguez Garcia. 2001
499
ex., CondePumpido) que apontam uma concausa para o erro quando a conduta do
agente se dirige à confirmação ou à reafirmação do erro preexistente, maxime se o
sujeito passivo está numa posição em que é de confiar que o agente desfaça qualquer
equívoco sobre o tema — quem, no acto da compra, exprime a sua equivocada crença
de que o objecto que lhe interessa é de prata, ou que as pedras que o adornam são
autênticas, tem o direito a confiar em que, se assim não for, o comerciante vendedor
lho esclareça. E conclui. “Estamos de novo no terreno das omissões e das acções
esperadas: estando o agente obrigado, juridicamente ou por um uso social, a clarificar
a situação, se assim não fizer estará a determinar a actuação em erro do sujeito
passivo”. Mas esta é uma conclusão muito discutível e em todo o caso de dimensão e
alcance reduzidos.
• d) O agente convence o sujeito passivo de uma falsa representação da realidade, nisto
consistindo o erro ou engano. Tratandose de uma falsa representação da realidade,
ficam de fora os autênticos juízos de valor, o engano é a respeito de factos, que são
acontecimentos, eventos e situações que pertencem ao passado ou ao presente. Com
efeito, na burla, objecto do erro ou engano podem ser apenas factos, sejam eles
externos ou internos: o agente comete o crime "[...] por meio de erro ou engano sobre
factos que astuciosamente provocou [...]", dizse no artigo 217º, nº 1. O convencimento
sobre o que vai acontecer no futuro, por ex., que o preço de umas acções na Bolsa vai
subir, não é um facto, independentemente do grau de certeza que se ponha na
afirmação. Também não é um facto a solvabilidade futura de quem consegue um
empréstimo, não obstante o convencimento empenhado do mutuante. Não é nenhum
facto a futura capacidade de pagar de quem compra a crédito ou pede dinheiro
emprestado (em tais casos, facto será o convencimento actual de quem compra a
crédito ou do mutuário sobre a sua capacidade de vir a pagar ou a intenção de o fazer
no futuro). Na prática, surgem porém dificuldades. No exemplo de Stratenwerth, se
alguém diz falsamente que um empresário acaba de realizar um importante invento
que vai fazer com que suas acções subam em flecha, engana a respeito de um facto.
Facto é, por ex., “o conjunto das características de uma máquina, bem como o modo
por que ela é fabricada, o conteúdo duma conversa da véspera ou a ideia que alguém
M. Miguez Garcia. 2001
500
hoje faz de algo determinado” (Blei, p. 221), o preço ou a data de fabrico de uma
mercadoria. A razão da burla não é o facto enquanto tal mas a afirmação do facto
(suposto). Esta afirmação é descrita na norma alemã como a referência a “factos falsos
ou alteração ou dissimulação de factos verdadeiros”.
• Tratandose de ignorantia facti, não chega mesmo a desenharse uma falsa representação da
realidade: assim, se alguém vai retirando mercadorias de um determinado armazém,
sem que o prejudicado se dê conta de que alguns lotes em existência foram
diminuindo; ou no caso do passageiro clandestino. Vem isto a propósito das noções
de erro e ignorância. Alguns autores negam que sejam equivalentes, afirmando que a
vontade só pode estar viciada quando se provoca uma representação equivocada da
realidade. “Mientras que el error va referido a un conocimiento equivocado o juicio
falso, la ignorancia nos señala, precisamente, la ausencia total de conocimiento”
(Valle Muñiz). Ora, a ignorância carecerá de eficácia para motivar a vontade, por
corresponder a uma ausência de representação, a um vazio psicológico. O artigo 220ª
veio obviar a algumas destas dificuldades, punindo, em certas condições, quem, com
intenção de não pagar, entrar em qualquer recinto público sabendo que tal supõe o
pagamento de um preço. Antes da introdução deste artigo 220º no Código impunha
se que se averiguasse se a conduta dum passageiro clandestino, que utiliza um meio
de transporte público iludindo o pagamento da passagem, merece uma resposta
penal a título de burla. Se o indivíduo conscientemente entra sem pagar bilhete numa
zona de acesso restrito (polizonagem) e o controlador continua a ignorar a sua
presença, não haveria burla da sua parte, por se não verificar qualquer hipótese de
erro. Noutro ex., o revisor do comboio não terá sido induzido em erro, quando um
passageiro inicia viagem sem se ter munido previamente de bilhete e o revisor pensa
que tudo está em ordem. Mas há autores que aderem a uma compreensão ampla do
erro, em termos de abranger os casos de simples ignorância, de forma que o erro será
então qualquer falsa visão — tanto a falsa visão positiva como a ignorância da
verdade. Em ambos os casos existirá uma contradição entre a representação e a
realidade.
M. Miguez Garcia. 2001
501
3. A disposição patrimonial.
Como consequência do erro, a vítima deverá realizar o outro requisito da
burla: um acto de disposição. Os actos de disposição são o elemento do tipo
que em pertinente relação causal estão em contacto, dum lado, com o elemento
intelectual que é o erro ou engano de quem os pratica; do outro, com a
consequência exterior — patrimonial — da burla, que é o prejuízo do enganado
ou de terceiro. Esse nexo causal “deve essere concretamente accertato”, avisa
Delpino.
O desenho da burla, que é crime de relação, envolve dois
comportamentos, mas só se pune o do burlão. A figura da vítima é certamente
imprescindível no iter criminis da burla mas nunca se assume como punível. A
própria actividade do enganado não se segue de modo necessário à actividade
do burlão: este pode ter praticado todos os actos tendentes ao fim em vista, sem
que rigorosamente se possa afirmar que vai ter lugar o acto de disposição
pretendido, ou que este vai gerar, de forma inelutável, um prejuízo patrimonial.
No desenvolvimento do processo defraudatório, esta dupla circunstância
repercutese na questão da tentativa acabada e na definição da desistência
activa (artigo 24º, nº 1, do Código Penal), como de forma pertinente observam
Fernanda PalmaRui Pereira.
• a) Referindose ao papel da vítima — ao modo como a vítima “participa” no processo
executivo — a lei limitase à expressão "determinar outrem à prática de actos que lhe
causem, ou causem a outra pessoa, prejuízo patrimonial". O prejuízo, a lesão do bem
jurídico tutelado, será produto de uma actuação do próprio sujeito induzido em erro.
É aqui que reside o que de essencial tem esta matéria: a conduta do sujeito passivo,
omissiva ou comissiva, de simples permissibilidade ou de tolerância, deverá ser
consequência do erro — de forma que “o erro deverá ser analisado como motor do
acto de disposição da vítima” (Pérez Manzano). É o erro que deverá provocar no
sujeito passivo uma vontade de disposição, sendo indiferente que tal vontade se
traduza num comportamento activo ou passivo. No fundo, é indiferente a
modalidade da conduta. Tratase de qualquer comportamento voluntário (por
conseguinte: com carácter de autorização ou mesmo só omissivo do enganado) que
provoca uma diminuição patrimonial ao próprio ou em património alheio. Deste
M. Miguez Garcia. 2001
502
modo, representa uma disposição patrimonial a renúncia a um crédito por parte do
credor que a isso é induzido enganosamente.
Para negar a burla, apontase o exemplo do médico que alta noite é chamado à residência
distante de um paciente mediante telefonema falso, aproveitando os delinquentes a sua
ausência provocada para lhe pilharem a casa. Na hipótese, não houve qualquer
disposição patrimonial do médico, não obstante a tramóia em que caiu: os ladrões é que
subtraíram as coisas e cometeram um furto.
• Esta característica de ser a disposição patrimonial voluntária deixa à vítima a possibilidade
de escolha, de forma que se M se intitula falsamente funcionário do tribunal e
consegue que F lhe entregue alguns bens, alegadamente “penhorados”, dirseá que
este acto só foi voluntário na aparência, na medida em que ao pretenso executado
"só" restava entregar os bens. Terá havido furto, ainda que a solução seja discutível. A
diferença entre a burla e os crimes de apropriação estribase em que o prejuízo resulta
do acto de disposição realizado pelo próprio sujeito passivo voluntariamente, ainda
que com a vontade viciada. Decisiva é aqui a margem de liberdade de que a vítima
dispõe e não a forma como exteriormente se molda a actuação (subtracção, entrega)
(Stratenwerth, p. 315).
• b) É este elemento estrutural da burla, a disposição patrimonial, que permite distinguila, já
se vê, de outros ilícitos vizinhos, por ex., do abuso de confiança. Desde logo: no abuso
de confiança, a entrega da coisa não ocasiona nenhum dano ao disponente, o acto de
entrega obedece aos seus próprios interesses, como reflexo de uma relação contratual
determinada, de empréstimo, de depósito, etc. Como observa Valle Muñiz, nesta
medida, o resultado prejudicial não deriva da disposição prévia mas de uma
apropriação posterior do sujeito activo do delito. Observese ainda que no abuso de
confiança a detenção da coisa é originariamente lícita e só depois surge a respectiva
apropriação ilegítima — falta, por isso, o engano prévio que é essencial na burla.
Quanto à distinção com o furto, citamse alguns casos de fronteira, nomeadamente
M. Miguez Garcia. 2001
503
aqueles em que o crime aparece associado a um engano ou à astúcia do sujeito activo,
que ainda assim, subtrai uma coisa ao seu legítimo dono. Mas o nervo distintivo
estará porventura em que, na burla, a diminuição patrimonial típica é consequência
directa da própria disposição patrimonial realizada pelo enganado — entre esta
conduta e o resultado não deverá mediar uma actividade do agente que se possa
classificar como de subtracção, o dano é dano provocado pelo próprio agente. O
prejuízo patrimonial tem lugar directamente, sem outra actuação delituosa do burlão
(cf. Wessels, p. 143). No furto, o dano do lesado ocorre a arbítrio do ataque do ladrão
sobre a coisa, isto é, através da subtracção. Se um falso empregado da empresa
fornecedora da luz eléctrica bate à porta e a pretexto de ter de consultar o contador no
interior da habitação aproveita para fazer mão baixa de alguns objectos, do que se
trata é de furto, não obstante o erro em que foi induzido quem lhe facultou a entrada.
• c) Geralmente há duas pessoas envolvidas no crime consumado, o burlão e a vítima, mas
podem envolverse três e até quatro. O burlão é sempre uma pessoa física
determinada, sendo errado afirmar que alguém foi “burlado” por um Banco ou por
uma companhia de seguros. Por outro lado, não se duvida hoje da burla a favor de
terceiro, nem legitimamente se colocam problemas a propósito da falta de
coincidência entre a identidade do enganado e a do prejudicado. A disposição
patrimonial tem que ser feita pelo enganado (sem o que faltaria a necessária relação
causal) mas pode prejudicar o património de terceiro, quiçá uma pessoa colectiva
(burla em triângulo; Dreiecksbetrug). Ainda aqui podem colocarse questões de
autoria mediata e problemas de fronteira com o furto, inclusive porque a subtracção
de uma coisa pode ser acompanhada de processos astuciosos (Trickdiebsthal), se
alguém muda a etiqueta com o preço de um artigo exposto para venda, será caso de
burla. Mas se voltarmos ao caso do falso encarregado de verificar o contador ou se
um cúmplice com qualquer truque desvia a atenção do vendedor para outro subtrair
a coisa exposta para venda, haverá furto. E se numa joalharia alguém leva a jóia
verdadeira deixando uma falsa no lugar daquela?
M. Miguez Garcia. 2001
504
• d) O que se exige é uma especial relação entre quem prejudica outrem com um acto de
disposição (ou de administração) e o próprio prejudicado. As figuras do procurador,
do executor testamentário, do gerente duma sociedade, ou do administrador da
falência não levantam especiais problemas, movemse num espaço onde as relações
são de natureza jurídica. A disposição não tem, porém, que se identificar com um
negócio jurídico (Wessels, p. 125; Bajo Fernández, p. 283), pois não se exige na burla
que o disponente tenha a faculdade jurídica de dispor. Essas relações podem ser
apenas fácticas. Se uma empregada doméstica entrega uma coisa valiosa a quem diz
falsamente vir de mando do dono da casa, não haverá um acto dispositivo
juridicamente entendido, nem sequer o acto de entrega constitui um negócio jurídico
Os penalistas resolveram adoptar por isso um conceito amplo de acto dispositivo,
sem que seja necessário que a transferência ocorra conforme o modelo do negócio
jurídico patrimonial. Por conseguinte, não se exige que o disponente tenha
juridicamente a faculdade e a capacidade para dispor — mas então podem surgir
problemas.
Exs.: i) A sublocou um dos quartos da sua casa a B. Durante uma ausência de B, A entrega a
chave do carro deste a C, que falsamente se lhe apresenta como vindo a mando do
inquilino. ii) Alguém convence astuciosamente o encarregado de uma garagem de
recolhas a entregarlhe a chave do carro de um terceiro (Parkgaragenfall). Ou iii) convence
a encarregada do vestiário de uma casa de espectáculos a deixarlhe levar o sobretudo de
outrem. E se iv) alguém, dizendose falsamente dono de umas toneladas de lenha que se
encontram à beira da estrada convencer outrem a transportálas para um seu armazém?
• O tratamento destes casos é discutível (cf. Haft, p. 211). Podemos partir da ideia de que só
haverá burla se o encarregado da garagem de recolhas já antes dos acontecimentos
estava "na posição" do dono do carro, de acordo com a chamada teoria da esfera da
detenção (Lagertheorie). Faltando essa relação de proximidade poderá incriminarse
como furto, por corresponder a uma “usurpação unilateral”, i. e., a uma subtracção,
M. Miguez Garcia. 2001
505
na perspectiva de um autor italiano. No último exemplo, o do camionista que
transporta a lenha, não se verifica certamente tal relação de proximidade — e quando
numa estação dos caminhos de ferro alguém convence com ardis o bagageiro a
"levarlhe" a mala de um terceiro que disso se não dá conta, o enganado (bagageiro)
não está "na posição" do prejudicado, é instrumento de um furto. A situação resolvese
nos quadros da autoria mediata. Voltando ao encarregado da oficina: se ele não
estava certo de que entregava o carro ao dono ou a quem legitimamente o
representava, ou se isso, de qualquer forma, lhe era indiferente, parece que terá sido
instrumento da subtracção de uma coisa. Há um factor de ordem subjectiva que não
deverá ser desdenhado.
• Em suma. Se a disposição patrimonial se revestir das apontadas características, é então
indiferente que se trate da conclusão dum contrato, duma declaração unilateral, ou
que a vítima renuncie a um direito. A deslocação patrimonial tanto pode derivar
duma aceitação passiva, como duma omissão. Pode ser consciente ou
inconscientemente feita, como quando o empregado do café dá um troco inferior, na
esperança de que o cliente não se aperceba, provocandolhe um erro e levandoo a
omitir a conferência das contas. O cliente burlado procedeu a uma disposição
patrimonial induzido directamente pelo erro, sem minimamente se ter apercebido do
que acontecera, mas ainda assim há burla. Quando alguém assina sem ler um
documento de assunção de dívida, cujo carácter nem sequer conhece, por lhe ter sido
apresentado como uma petição para melhoria das condições prisionais, procede
inconscientemente, sem saber que se vincula a uma disposição patrimonial com o
correspondente prejuízo. Para que se possa afirmar a burla em casos com esses, basta,
no entanto, quanto a nós, que o sujeito esteja consciente da realidade material do seu
acto, da simples materialidade do mesmo.
e) Omissis.
• f) A burla em triângulo convoca igualmente a chamada burla processual (Prozeßbetrug):
casos em que a parte num processo, com a sua conduta enganosa, realizada com
M. Miguez Garcia. 2001
506
ânimo de lucro, induz o juiz em erro e este, em consequência do erro, dita uma
sentença injusta que causa um prejuízo à parte contrária ou a terceiro (cf. José Cerezo
Mir, La estafa procesal, in Problemas fundamentales de derecho penal, 1982, p. 254 e
ss.). Uma parte no processo provoca o erro do juiz apresentando conscientemente
dados ou meios de prova falsos para conseguir uma decisão desfavorável à outra
parte. Quem procede à disposição de um valor patrimonial é quem labora em erro (o
juiz), o prejudicado é outra pessoa, por exemplo, o fisco. Na maior parte das vezes, os
factos integrarão uma falsificação de documentos ou falso testemunho.
Muñoz Conde (p. 280) admite que o tribunal é utilizado em certos casos como um instrumento
de comissão do crime de burla, em autêntica autoria mediata; se não se admitir a “estafa
procesal” haverá factos que ficariam impunes, como quando se trata de cobrar dívidas já
cobradas ou se fingem incapacidades para alcançar uma indemnização maior. Existe um
princípio de boa fé processual que se impõe às partes, mas devem estar presentes todos
os elementos da burla, incluindo a finalidade patrimonial da actuação. Na Suíça, a
jurisprudência entende que não comete o crime de burla aquele que induz o juiz em erro
e consegue por isso uma decisão prejudicial à parte que se lhe opõe (RO 78 84 JT 1952 85,
in A. Panchaud, Code Pénal suisse, p. 151). Também em Portugal se recusa a incriminação
da burla consumada através de expedientes processuais, para a qual as leis processuais
contêm sanções adequadas, e cujo enquadramento criminal foi recusado pelos acs. do
STJ de 17 de Junho de 1953; 6 de Outubro de 1960; 3 de Outubro de 1962 e 16 de Janeiro
de 1974, no BMJ37121; 100441; 120207 e 23367, respectivamente, com abundantes
fundamentos” (Maia Gonçalves, p. 732). A actividade judicial não pode ser considerada
meio idóneo para o cometimento do crime de burla (ac. do STJ de 6 de Outubro de 1960,
BMJ100449).
M. Miguez Garcia. 2001
507
4. O prejuízo.
A burla completase, quanto aos seus elementos objectivos, com o prejuízo
— prejuízo patrimonial, já se vê. Sem prejuízo, poderá haver burla, mas só na
forma tentada. Já anteriormente vimos que a disposição patrimonial estabelece
o cordão umbilical entre erro e prejuízo patrimonial e releva como causa do
dano patrimonial. De forma que o prejuízo, seja ele do enganado ou de terceira
pessoa, háde ser consequência desse acto dispositivo.
• O prejuízo patrimonial, que é elemento de outros tipos de crime, suscita um
elevado número de questões, a maioria delas conexionadas com a noção de
património. A disposição patrimonial deverá conduzir à diminuição do
património do enganado ou de terceiro, deverá ser razão de um dano
patrimonial. O conceito de património tem aqui a sua principal área de
intervenção. Uma coisa é certa: a doutrina maioritária considera o património
como o bem jurídico protegido no crime de burla e defineo de acordo com as
suas características mistas.
Omissis
• A noção mista de património é afeiçoada por A. M. Almeida Costa, Conimbricense, p. 282,
com “correctores” tendentes a compaginála com a teleologia do direito penal”,
adoptandose um procedimento que conduz “a um específico conceito jurídico
criminal de património”. “Quer dizer, a um conceito aberto, cuja determinação
compete à jurisprudência e à doutrina ao nível das decisões concretas”. Com efeito, a
aplicação pura e simples da noção mista de património, abrangendo o conjunto dos
valores ou utilidades económicas “protegidas pela ordem jurídica”, suscita “algumas
reservas”, determinantes de “correcções” excepcionais. Por ex., “à semelhança do que
sucede noutros ordenamentos, de harmonia com o disposto no art. 280º do CC, a
orientação em análise terá de excluir do conceito de património as pretensões ou
posições económicas decorrentes de negócios cujo fim se revele contrário à “moral
social”, rectius aos “bons costumes”. Tratase, porém, no entender do mesmo Autor,
“de uma consequência inadmissível” em face da ideia (subjacente ao próprio art. 18º,
M. Miguez Garcia. 2001
508
nº 2, da CRP) de que, num Estado de direito democrático, a intervenção penal não se
dirige à tutela de pressupostos de carácter ideológicopolítico, moralista (aí incluídos
os da moral social e dos bons costumes) ou religiosos”.
• Omissis.
• c) Mas até onde poderá ir a protecção do património por intermédio da incriminação da
burla quando estão em causa actividades ilícitas? Farão parte do património os
objectos que alguém obteve por forma criminalmente ilícita?
• Aproveitemos um exemplo de Wessels: A e B são vizinhos e dãose muito mal. Sabendo
disso, C oferecese ao primeiro prometendo partir os vidros das janelas de B,
mediante a paga de 50 contos que A, satisfeito, lhe entrega. C porém gasta o dinheiro
sem fazer o “trabalho”. A entrega do dinheiro representa uma disposição patrimonial
feita por erro, já que o A fica 50 contos mais pobre, sem ver satisfeita a
contraprestação equivalente. A conversa entre ambos incidiu num negócio ilícito, cuja
realização constitui um crime. Dirseá, todavia: estas circunstâncias não impedem a
afirmação de um dano patrimonial no sentido do ilícito da burla. Acontece que o
ofensor não recebeu carta branca do enganado para se enriquecer à sua custa. Além
disso, o prejuízo do A não está no facto de a prestação versar sobre um acto
criminoso, mas numa disposição patrimonial determinada por um erro. Numa tal
hipótese, independentemente do eventual concurso de outras infracções, observase
um efectivo dano patrimonial e, por consequência, desde que verificados os demais
requisitos da figura, um delito de burla.
• Uma das áreas afectadas por estes negócios ilícitos tem a ver com os estupefacientes.
Suponhase alguém que é induzido em erro acerca dos termos de um negócio de
aquisição de heroína. O sujeito passivo sofre um prejuízo no seu legítimo património
se em troca do pagamento da soma convencionada lhe for entregue uma mala com
papéis.
M. Miguez Garcia. 2001
509
Por falar em estupefacientes. A invocação da utilidade da heroína para o seu
detentor determinou, no caso do acórdão do STJ de 16 de Outubro de 1996, BMJ
460370, que se considerasse ter havido roubo no caso do desapossamento não
autorizado de uma porção, conseguida por meio de violência contra a pessoa.
O Acórdão do STJ de 23 de Maio de 2002, CJ 2002, tomo II, p. 212, entendeu que
pratica o crime de burla aquele que promete vender notas falsas ao ofendido,
assim obtendo deste determinada quantia em dinheiro, mas não lhas entrega,
como nunca se propôs entregarlhas.
• Consideremos agora outro caso de escola: o da prestação de serviços de carácter sexual a
cujo pagamento o cliente se nega. É um domínio que comporta a violação da moral
social ou dos bons costumes. Todavia, não constituindo a prostituição, enquanto tal,
uma actividade criminosa, o incumprimento por uma das “partes”, por ex., o cliente,
pode integrar a fattispecie da burla (cf., neste sentido, A. M. Almeida Costa, p. 289, e
Sousa Brito)
• Falase por vezes, e ainda a propósito, em burla sobre negócio com causa ilícita,
acrescentandose o exemplo da cobrança por um aborto ilegal que acabou por se não
realizar por não se encontrar grávida a mulher. Explica Pérez Manzano que a
valoração penal do facto como burla, por realizar um engano e produzir um prejuízo,
não depende do carácter lícito ou não da prestação pretendida pela vítima.
O Supremo Tribunal espanhol condenou por burla um médico que aceitou praticar um aborto
mas, estando a mulher já anestesiada, descobriu que o aborto era afinal desnecessário
por não haver gravidez. Mesmo assim, o médico cobrou o preço, fingindo ter levado a
cabo o acto abortivo ilegal. É uma posição que no país vizinho tem os seus adeptos
incondicionais, afirmandose que sempre que mediante engano se produza uma
M. Miguez Garcia. 2001
510
diminuição patrimonial com ânimo de enriquecimento haverá burla, mesmo que o
enganado se proponha também obter um benefício ilícito ou imoral.
• Não falta quem sustente que igualmente há burla no caso do burlão burlado, parente
próximo do ladrão que rouba a ladrão. Afirmase que se incluem no património as
coisas que alguém possui ilicitamente (apesar de as ter obtido pela prática de um
crime anterior), em primeiro lugar, porque as mesmas têm valor económico, e em
segundo lugar porque a sua detenção está juridicamente protegida, no sentido de que
seu possuidor não pode ser privado delas a não ser por meios lícitos (cf., por ex.,
Valle Muñiz, p. 228). Outros autores, contudo, não aceitam que estes casos se
adaptem ao conceito de burla, uma vez que a coisa ou o valor detidos não contam
com a aprovação ou a tolerância do direito, não havendo lugar à afirmação de um
prejuízo patrimonial. A. M. Almeida Costa propende no sentido de tratar a hipótese
dentro dos quadros da burla, procedendo à análise do sentido que reveste a detenção
do valor ou coisa pelo autor do primeiro delito. Não exclui, inclusivamente, a
possibilidade de a conduta do agente lesar o próprio património do titular originário
dos bens ou valores.
• Equiparáveis aos da burla do mendigo, já anteriormente referidos, são certos casos de
frustração do fim económico. Se um empregado pede ao patrão uma ajuda para se
deslocar à terra distante para assistir ao funeral da mãe, que já morrera há anos, e
aproveita para passar umas férias na praia, a generosa ajuda financeira do patrão, “a
fundo perdido”, não representa qualquer prejuízo para o património deste. Falase
também de frustração de um fim social quando alguém, mediante o fornecimento de
dados falsos, consegue, por ex., o acesso a uma casa fornecida pelos serviços sociais
em programa de promoção social ou de auxílio a pessoas necessitadas. Num caso
desses, como noutros, por ex., de pensão de reforma, abono de família,
comparticipação em despesas de saúde ou de renda de casa, não se exclui o prejuízo
patrimonial de natureza pública e a possibilidade de integração na burla.
M. Miguez Garcia. 2001
511
5. O tipo subjectivo. O dolo. A intenção de obter um enriquecimento
ilegítimo.
Tratase de crime exclusivamente doloso, bastando o dolo eventual, que
deve cobrir todos os elementos objectivos do tipo. Porém, o burlão age com a
intenção de conseguir uma vantagem patrimonial ilegítima para si
(eigennütziger Betrug) ou para terceiro (fremdnütziger Betrug). Nesta parte, o dolo
(dolo "específico", como por vezes é designado) do agente do crime consiste na
intenção de obtenção de um enriquecimento, a que o burlão ou o terceiro não
têm direito, tendo o agente do crime consciência do prejuízo. A intenção de
obter um enriquecimento ilegítimo é um dos conceitos de disposição
(Dispositionsbegriffe) de que fala Hassemer. Outros são o dolo, a
voluntariedade, a malícia. São conceitos para cuja afirmação não basta uma
verificação empírica, é necessário deduzilos de outros dados. Estes é que são
empiricamente verificáveis, funcionam como verificadores da existência dos
primeiros. Essa intenção não tem que ser realizada, embora o seja a maior parte
das vezes. É uma tendência interior transcendente (überschießende
Innentendenz), que permite qualificar a burla como crime de resultado cortado,
não havendo correspondência (“congruência”) entre o lado objectivo e o
subjectivo do ilícito.
• Se o agente está convencido do seu direito à prestação, o dolo fica excluído. Outra questão
é a de saber qual o momento relevante para a sua verificação, se ele deve ser
contemporâneo da execução do crime ou se também será relevante o dolo posterior,
como se pergunta J. A. Barreiros, que entende decorrer a resposta do que se concluir
em matéria de aproveitamento da situação de erro ou engano ou burla por omissão.
• Vantagem patrimonial é toda a configuração favorável da situação patrimonial, qualquer
aumento do valor económico do património. Nos crimes contra o património em
geral reconhecese normalmente que uma vantagem patrimonial só é ilegítima se o
agente não tem direito a ela de acordo com o direito material. Se alguém engana
outrem para obter o pagamento de uma soma que lhe é devida por este não há burla.
Na verdade, a mais do dolo exigese uma intenção de enriquecimento ilegítimo,
restrição que no caso português foi introduzida na Comissão Revisora (Actas, acta da
9ª sessão).
M. Miguez Garcia. 2001
512
Um casamento vantajosamente rico não é nenhuma vantagem patrimonial. Ilegítimo é o
enriquecimento que não tem apoio em qualquer direito ou interesse protegido por lei ou
não é autorizado ou permitido por um preceito legal (acórdão do STJ de 29 de Fevereiro
de 1996, publicado e anotado na RPCC 6 (1996). Para saber o que é enriquecimento
ilegítimo há que atender ao conceito civilístico de enriquecimento sem causa que tem
como requisitos: a) o enriquecimento de alguém; b) o consequente empobrecimento de
outrem; c) o nexo causal entre o enriquecimento do primeiro e o empobrecimento do
segundo; e d) a falta de causa justificativa do enriquecimento (acórdão da Relação de
Coimbra de 28 de Novembro de 1987, CJ. XII, tomo 5, p. 67). Deve considerarse como
"enriquecimento ilegítimo" a indevida vantagem económica que o agente pretenda para
si ou para terceiro. Indevida, no sentido de contrária ao direito (acórdão do STJ de 20 de
Fevereiro de 1992, BMJ414198.
• Seguindo Simas SantosLeal Henriques, o enriquecimento ilegítimo pode ocorrer por
diversas formas: mediante um aumento patrimonial dos bens do agente ou de
terceiro (o agente, usando do conto do vigário, obtém a entrega de dinheiro por parte
do burlado); diminuição do passivo patrimonial do agente ou de terceiro (o agente
leva outrem a satisfazer uma dívida sua, persuadindoo que lhe pertencia fazêla);
mediante a poupança de despesas, que são satisfeitas pelo lesado (o agente, devedor
de alimentos a outrem, leva o sujeito passivo a satisfazer esses elementos no
convencimento de que é ele o titular dessa obrigação alimentar).
V. Consumação. Tentativa.
A consumação do crime de burla requer a produção do prejuízo, ainda
que paralelamente se não verifique a obtenção do lucro pela outra parte.
Exigindose um efectivo prejuízo patrimonial, pode simultaneamente concluir
se que o bem jurídico tutelado é o património como um todo. A burla é crime
comum, de dano contra o património, crime material, na medida em que a
M. Miguez Garcia. 2001
513
realização típica comporta o evento. Existirá o crime tentado quando se
produziu um engano idóneo na pessoa do sujeito passivo, mas o resultado não
se verificou por motivos alheios à vontade do agente. Tratandose de um crime
material ou de resultado, o ilícito apenas se consuma com a saída das coisas da
disponibilidade do sujeito. A obtenção de uma vantagem patrimonial não é,
como se disse, necessária para a consumação, embora muitas vezes ocorra; o
que a lei exige é que o agente actue com intenção de obter um enriquecimento
ilegítimo
Há quem chame a atenção para a existência de tentativa inidónea no caso
de enganos grosseiros.
O crime de burla traduzse numa actuação pela qual o agente, mediante
artifícios enganosos e sem o propósito de proceder a uma restituição ou de
cumprir uma adequada contraprestação, consegue que outrem lhe entregue
bens ou valores, pelo que tal crime tem como elementos a conduta enganosa do
agente, o propósito de obtenção de um proveito ilegítimo, a produção, no
ofendido, de um falso convencimento de obtenção de futuras vantagens, e a
entrega dos bens ou valores. Verificarseá esse crime, na forma tentada,
quando aquele agente desenvolver todo o seu propósito enganatório, mas sem
conseguir a produção do resultado entrega de bens ou de valores em vista de o
potencial lesado, depois de ter estado convencido a entregálos, por força do
artifício fraudulento utilizado, desiste de a fazer por ter passado a descrer da
possibilidade de obtenção dos prometidos benefícios. É enquadrável na figura
criminal da burla, sob a forma tentada, a conduta de quem desenvolve todo o
processo astucioso, com invocação de falsas qualidades e poderes para conferir
benefícios, nomeadamente de natureza diplomática e fiscal, mas não consegue
que a pessoa visada lhe entregue bens ou valores por a mesma, depois de ter
estado convencida da possibilidade de obtenção de tais benefícios, ter passado a
duvidar dessa mesma possibilidade (acórdão da Relação de Évora de 15 de
Janeiro de 1991, CJ, ano XVI, tomo 1, p. 310).
VI. Burla e conta bancária:
Tratase de matéria controvertida. Cf., por exemplo, o acórdão do STJ de 20 de Maio de
1992, BMJ417367, com vários votos de vencido. O acórdão da Relação de Évora de 19
de Julho de 1984, CJ, 1984IV, p. 150, entendeu que constitui a prática de um crime de
M. Miguez Garcia. 2001
514
abuso de confiança o levantamento para apropriação do capital de uma conta bancária
solidária feita por um dos seus cotitulares quando se demonstre que a inclusão do seu
nome nessa conta não corresponde a qualquer compropriedade do dinheiro e sim,
apenas, a um mero possibilitar da movimentação de tal conta, no exclusivo interesse, e
ou por ordem do outro ou outros titulares dela."
Acórdão do STJ de 23 de Janeiro de 1997, BMJ463276: A convence B, sua tia, a transferir
todo o dinheiro que a mesma tinha depositado em duas contas a prazo num banco para
outro e a colocálo em nome de ambos, A e B. Posteriormente, A apoderase do dinheiro,
através da execução de um plano, contra a vontade de B. No caso discutiase com
especial acuidade a noção de "enriquecimento ilegítimo" como imprescindível na burla.
VII. Burla e falsificação documental.
A burla é um crime complexo, em que o meio empregue, a actividade
exercida para induzir o outro em erro, poderá constituir, ela própria, também a
prática de um outro tipo legal de crime. Se assim for, quais os crimes que
devem ser imputados ao agente? Só o crime de burla? Ou também o crime de
falsificação de documentos, apesar de ele ter falsificado do documento com o
exclusivo intuito de praticar a burla? (Helena Moniz, p. 83).
Falsificação e burla: A apropriação de um cheque já assinado e datado pelo titular da conta e o
seu preenchimento no que se refere ao montante e à alteração da data, com apresentação
do cheque a pagamento e recebimento do dinheiro são previstos no Código Penal de
1982 como constituindo duas infracções: o crime de burla do art. 313º e o crime de
falsificação do artigo 228º, n.° 2. E porque não existe em tais crimes a relação de
coincidência, ou sequer afinidade nos respectivos valores ou bens jurídicos que
conduziria à concepção do denominado concurso aparente—há que imputar aos seus
M. Miguez Garcia. 2001
515
agentes a participação em um novo concurso real de crimes tal como é definido e punido
nos artigos 30º e 78º do C. Penal de 1982 (acórdão do STJ de 24 de Março de 1983, Simas
Santos Leal Henriques, Jurisprudência Penal, p. 592).
Além do crime de falsificação do artigo 228º, n.° 1, al. a), e de um crime continuado de
falsificação do artigo 228º, nºs 1, al. a), e 2, comete um crime continuado de burla dos
artigos 313º, nº 1, e 314º, al. c), todos do Código Penal de 1982 quem: a) Se apropria, em
circunstâncias não apuradas, de vários traveller'scheques sem qualquer assinatura e de
um cartão de registo de uma viatura, pertencentes a outrem; b) Com o intuito de utilizar
esses traveller'scheques, que sabia não lhe pertencerem e a fim de esconder a sua
verdadeira identidade, coloca no cartão uma fotografia sua; c) Apõe uma assinatura
semelhante à do cartão no rosto e no verso dos traveller'scheques e, fazendose passar
pelo titular do cartão, troca aqueles em vários estabelecimentos de crédito, por
determinadas quantias em escudos ou os utiliza para comprar determinados objectos, de
valores consideravelmente elevados; d) Agindo com vontade livre e consciente e
sabendo que as descritas condutas não eram permitidas por lei; pois sabia que não podia
utilizar como seus o cartão e os traveller'scheques e, ao apor a sua fotografia no cartão e
as assinaturas nos ditos traveller'scheques, sabia que iria pôr em causa a credibilidade
das pessoas em geral na genuinidade e na exactidão merecidas por tais documentos, não
se coibindo, não obstante, de o fazer; e) Agindo ainda com a intenção de obter uma
vantagem patrimonial não permitida, à custa de prejuízo de terceiros que enganou,
levandoos a supôlo legítimo portado quer do cartão quer dos traveller'scheques; f)
Através de realização plúrima de vários tipos legais de burla, no quadro da solicitação
de uma mesma situação exterior susceptível de diminuir consideravelmente a sua culpa;
M. Miguez Garcia. 2001
516
g) Que se revela na circunstância de lhe terem chegado às mãos, ao mesmo tempo, os
traveller'scheques que utilizou e também na facilidade com que em toda a parte lhos
aceitaram, sem as exigências, que seriam previsíveis, de melhor identificação da que era
oferecida com a apresentação de um cartão de registo de viatura pertencente a outra
pessoa; h) Não sendo de duvidar que tais circunstâncias, a que se juntou a pressão das
dificuldades económicas por que então passava, foram exteriores ao agente e facilitaram
a este repetição dos primeiros actos que cometeu e, portanto, lhe diminuíram a culpa
pelos subsequentes; i) Existindo o requisito da unidade do bem jurídico do tipo de crime
realizado, já que no crime de burla se protege, predominantemente, a propriedade
alheia, tendo a consideração de liberdade de disposição das pessoas apenas um papel
secundário na modelação do respectivo tipo legal; o que evidencia a não relevância da
diversidade das pessoas ofendidas no crime continuado de burla e, portanto, a
inexistência de eventual concurso de infracções (ac. do STJ de 28 de Janeiro de 1987,
BMJ363279). * O arguido que coloque o seu nome no verso de um vale postal como seu
verdadeiro titular se tratasse e que logre obter o seu levantamento, comete um crime de
falsificação de documento autêntico e um crime de burla em concurso real (acórdão do
STJ de 25 de Janeiro de 1996, processo nº 48605 3ª Secção, Internet).
Por acórdão de 19 de Fevereiro de 1992 (publicado no Diário da Republica,
I SérieA, de 9 de Abril de 1992, foi estabelecida jurisprudência obrigatória nos
seguintes termos: * “No caso de a conduta do agente preencher as previsões de
falsificação e de burla do artigo 228ª, nº 1, al. a), e de burla do artigo 313º, nº 1,
respectivamente, do Código Penal, verificase concurso real ou efectivo de
crimes”. “São diversos e autónomos, entre si, o bem jurídico violado pela burla
e o bem jurídico protegido pela falsificação (...), ou sejam, respectivamente, o
património do burlado e a fé pública dos documentos necessária à
normalização das relações sociais”.
M. Miguez Garcia. 2001
517
A doutrina do acórdão que fixou a seguinte jurisprudência obrigatória “No caso de a conduta
do agente preencher as previsões de falsificação e de burla do art. 228º, n.° 1, al. a) e de
burla do art. 313º, nº 1, respectivamente, do C. Penal de 1982, verificase concurso real ou
efectivo de crimes” é aplicável ao concurso do crime de burla com o crime de uso de
documento falso (ac. do STJ, de 2/4/92, proc. n.° 42553, Simas SantosLeal Henriques, p.
468).
Assento nº 8/2000, de 4 de Maio de 2000, publicado no DR IA de 23 de
Maio de 2000: No caso de a conduta do agente preencher as previsões de
falsificação e de burla do artigo 256º, nº 1, alínea a), e do artigo 217º, nº 1,
respectivamente, do Código Penal, revisto pelo DecretoLei nº 48/95, de 15 de
Março, verificase concurso real ou efectivo de crimes.
VIII. Burla qualificada.
O artigo 218º segue o modelo do furto, sendo determinante para a
qualificação o valor do prejuízo sofrido pela vítima.
Para que o crime de burla possa ser agravado por a pessoa prejudicada ficar em difícil
situação económica, é necessário que o arguido haja previsto que o lesado fique nessa situação
e que, mesmo assim, agisse com intenção de o conseguir, aceitasse tal situação como
consequência necessária da sua conduta ou que a admitisse como possível e com ela se
conformasse (acórdão do STJ de 19 de Janeiro de 1995, CJ, III, tomo 1, 183).
A habitualidade a que se refere o artigo 314º, alínea a), do Código Penal de 1982, supõe a
prática reiterada de infracções da mesma natureza. Não se exige a condenação por essas
práticas criminosas, sendo suficiente a prova de que o agente se dedica à prática de uma
actividade ilícita e culposa (acórdão da Relação do Porto de 29 de Abril de 1987, BMJ
M. Miguez Garcia. 2001
518
367569). Sobre os conceitos de modo de vida e habitualidade, cf., o acórdão do STJ de 24
de Janeiro de 2002, CJ 2002, tomo I, p. 188.
Entendese que determinado agente se entrega habitualmente à burla, quando o mesmo pratica
reiteradamente esse crime, revelando que já o faz por hábito, ou seja, por inclinação ou
propensão adquirida e estável que lhe facilita a sua realização. Não tem para tanto que ser
burlão profissional, nem tem de ganhar a vida dessa forma; basta que a prática frequente da
burla se tenha tornado uma das características principais do seu próprio modo de vida. A
habitualidade é susceptível de ser provada por qualquer meio legalmente admissível (ac. do
STJ de 3 de Julho de 1996, processo nº 48605 3ª Secção (Internet).
Para que se verifique a agravante da al. b) do n.º 2 do art.º 218, do CP/95, o que importa
é que o complexo das infracções revele um sistema de vida, como é o caso do burlão que
vive, sem trabalhar, dos proventos dos seus delitos de burla. Daí que, fazer da burla
“modo de vida” é a entrega habitual à burla, que se basta com a plurireincidência,
devendo ser tomadas em conta não só as anteriores condenações do agente mas também
as denúncias ou participações policiais existentes, o conteúdo dos ficheiros policiais e
todos os outros elementos testemunhais ou documentais. 14101998 Proc. n.º 697/98 .
Burla agravada, modo de vida: Ac. do STJ de 16 de Abril de 1998, BMJ476253.
Pratica o crime de burla agravada a arguida que, através de estratagema por si montado,
obteve 19 contos da ofendida, a qual ficou em precária situação económica, pois tinha
como única fonte de rendimento a pensão mensal de 15 contos. Tendo a arguida, de 1977
até à actualidade, respondido e sido condenada pelo menos 26 vezes por crime de burla,
M. Miguez Garcia. 2001
519
verificase a agravante da habitualidade exigida pela alínea a) do artigo 314º do CP
(acórdão do STJ de 27 de Junho de 1996, CJ, ano IV (1996), t. 2, p. 202).
“Fazer da burla “modo de vida” é a entrega habitual à burla, que se basta com a pluri
reincidência, devendo ser tomadas em consideração, não as anteriores condenações do
agente constantes do seu registo criminal, mas também as denúncias ou participações
policiais existentes, o conteúdo dos ficheiros policiais e todos os outros elementos
testemunhais ou documentais” Simas Santos e Leal Henriques, p. 567. Sendo assim,
pouco importa que as penas tenham sido de prisão ou de multa, suspensas ou não
suspensas, perdoadas ou não perdoadas, amnistiadas ou não amnistiadas. Embora tenha
desaparecido o conceito normativo de delinquente habitual, mantémse, no entanto o
conceito jurisprudencial e vulgar ou do conhecimento público consistente na existência
de delinquentes especialmente propensos para o crime ou certos crimes Acórdão do
STJ de 16 de Setembro de 1992, proc. nº 42500.
Pratica um crime continuado de burla agravada o funcionário de Finanças que, não residindo
no local onde trabalha, consegue factura falsa de uma pensão atestando a sua residência ali,
recebendo, assim, subsídio de residência a que, de outro modo, não teria direito (acórdão da
Relação do Porto de 18 de Janeiro de 1995, BMJ443444).
Comete um crime de burla agravada dos artigos 313º e 314º, al. c), do CP de 82, o
arguido que, convence a queixosa, sua tia, a transferir todo o seu dinheiro (4.509.050$00)
que tinha depositado, em duas contas a prazo no banco F..., para o balcão do Banco Z...,
em Mangualde, e a colocálo em nome dela, dele (arguido) e de sua esposa e dele se
apodera depois, através da execução de um plano, contra a vontade da ofendida
M. Miguez Garcia. 2001
520
(acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 23011997, Processo n.º 171/90 3ª Secção,
Internet).
Os conceitos de "habitualidade" do artigo 314º do Código Penal de 1982 e de "modo de vida"
do artigo 218º do Código Penal revisto não são coincidentes. O "modo de vida" pressupõe a
habitualidade mas exige ainda que o agente viva da actividade delituosa, faça dela fonte de
proventos para a sua sustentação (acórdão da Relação de Coimbra de 19 de Setembro de 1996,
CJ, XXI (1996), t. IV, p. 68).
É necessário que haja uma prática reiterada da conduta encarada numa perspectiva
sociopsicológica, ou seja, baseada no comportamento real do arguido, independentemente de
essa conduta ter sido ou não objecto de sucessivas condenações transitadas em julgado.
Comete esse crime aquele que há cerca de dois anos vem praticando burlas e outros actos
idênticos, que não tem emprego certo, apenas fazendo biscates como montadorreparador, e
que agia para fazer face ao consumo de estupefacientes, em que é viciado há oito anos. (ac. do
STJ de 7 de Fevereiro de 1996, BMJ454356)
O Acórdão do STJ de 9 de Janeiro de 1992, BMJ413182, oferece pertinentes informações
sobre os conceitos de "habitualidade", "profissionalidade", "modo de vida",
"plurirreincidência", etc. Cf. também, quanto ao tratamento da habitualidade, a anotação
ao acórdão do STJ de 7 de Fevereiro de 1996, BMJ454368. Cf., ainda, Beleza dos Santos,
O fim da prevenção especial das sanções criminais valor e limites, BMJ73, esp. p. 16. E
Eduardo Correia, Unidade e Pluralidade, p. 22. Beleza do Santos. Delinquentes
habituais, vadios e equiparados, RLJ, anos 70 a 73. J. Seabra Magalhães e F. Correia das
M. Miguez Garcia. 2001
521
Neves, Lições de Direito Criminal, segundo as preleções do Prof. Doutor Beleza dos
Santos, Coimbra, 1955, p. 35 e ss.
Acórdão do STJ de 14 de Outubro de 1998, CJ ano VI (1998), tomo III, p. 193 (para a
qualificação da burla, por o agente fazer da burla modo de vida, não é necessária a
profissionalidade. O que importa é que o complexo das infracções revele um sistema de
vida, como é o caso do burlão que vive sem trabalhar dos proventos dos seus delitos de
burla. Fazer da burla modo de vida é a entrega habitual à burla, que se basta com a
plurireincidência, devendo ser tomadas em conta não só as anteriores condenações do
agente mas também as denúncias ou participações policiais existentes, o conteúdo dos
ficheiros policiais e todos os outros elementos testemunhais ou documentais).
IX. Burla e crime continuado.
Ac. do STJ de 8 de Fevereiro de 1995, BMJ, 444178: A definição de crime continuado do artigo
30°, n.° 2, do Código Penal pressupõe a concorrência de vários elementos cumulativos.
Nenhuma dúvida séria se levanta relativamente ao primeiro desses elementos: foram
praticados crimes de burla agravada. Também não sofre discussão que o tipo de crime protege
o mesmo bem jurídico, concretamente o património, na sistemática da parte especial do Código
Penal. Pode admitirse que o modo de execução dos crimes teve lugar por forma
essencialmente homogénea, embora com algumas particularidades em cada caso. Mas já são
fundadas as dúvidas quanto ao derradeiro elemento da definição, ou seja, que os crimes foram
praticados ”no quadro de uma mesma situação exterior que diminuía consideravelmente a
culpa do agente”. Tanto a doutrina como a jurisprudência têm salientado a exigência de uma
proximidade temporal entre as sucessivas condutas, bem como a manutenção da mesma
M. Miguez Garcia. 2001
522
situação externa, apta a proporcionar as subsequentes repetições e a sugerir a menor
censurabilidade do agente. Igualmente se tem ponderado que não constitui crime continuado a
realização plúrima do mesmo tipo de crime se não foram as circunstâncias exteriores que
levaram o agente a um repetido sucumbir, mas sim o desígnio inicialmente formado de,
através de actos sucessivos, defraudar o ofendido. Jescheck ensina que a homogeneidade da
forma de comissão pressupõe uma certa conexão temporal e espacial, sendo, além disso,
decisiva a homogeneidade do dolo (unidade do injusto pessoal da acção), logo advertindo que
a jurisprudência exige um genuíno dolo global que deve abarcar o resultado total do facto nos
seus traços essenciais conforme o lugar, o tempo, a pessoa lesada e a forma de comissão, no
sentido de que os actos individuais apenas representam a realização sucessiva de um todo,
querido unitariamente, o mais tardar durante o último acto parcial. O autor refere que a
doutrina se contenta frequentemente com um dolo continuado criminologicamente entendido,
o qual se apresenta como um fracasso psíquico e sempre homogéneo do autor numa mesma
situação fáctica; e que alguns defendem também uma teoria puramente objectiva da
continuação, que só atenderia aos elementos externos da homogeneidade da forma de
comissão e bem jurídico, à conexão temporal dos actos individuais e ao aproveitamento da
mesma oportunidade. E logo a seguir cita alguns exemplos, de que destacaremos dois,
particularmente expressivos pela aproximação relativa ao caso concreto em exame: para reunir
várias burlas num delito continuado é necessário que o dolo se dirija de antemão à totalidade
dos — diferentes — danos patrimoniais; não basta a resolução tomada com carácter geral no
sentido de cometer quantas burlas de uma determinada classe resultam possíveis; há dolo
global se o autor tomou a decisão de subtrair de determinada oficina, aproveitando as
circunstâncias favoráveis existentes, o maior número possível de bicicletas, mas não se
M. Miguez Garcia. 2001
523
unicamente se propôs realizar numerosos furtos de bicicletas cuja execução segundo , tempo e
forma é todavia incerta. No caso vertente, se não há dúvidas de que os arguidos A, B, C
combinaram apoderarse, em conjunto, de quantias entregues à guarda da E. T. V., de que o
primeiro era empregado há cerca de 10 anos, podendo, pois, aceitarse ter havido unidade de
resolução, já o mesmo não aconteceu com a exigível proximidade temporal entre as concretas
condutas em que se traduziu a execução daquele propósito e ainda com o requisito legal da
mesma situação exterior, a constituir solicitação para a prática continuada dos crimes, em
termos de poder concluirse, razoavelmente, que diminui consideravelmente (este advérbio
tem uma carga normativa que não pode ignorarse) a sua culpa. Quanto à proximidade
temporal, é mister atentar em que a primeira burla foi praticada em 8 de Setembro de 1992, a
segunda em 20 de Novembro de 1992 e a seguinte e última em 14 de Dezembro de 1992. O
distanciamento temporal é evidente. Para além da descontinuidade temporal também não se
vê bem onde estão as circunstâncias exógenas facilitadoras da execução dos sucessivos actos
criminosos. A analogia entre os lugares da comissão dos factos é meramente formal.
Realmente, a execução do projecto criminoso processase em locais diversos, nem sempre com
os mesmos agentes nem com o concurso (involuntário) dos mesmos empregados das empresas
proprietárias dos valores, de que se propunham apoderarse. (...) A evidente diferenciação dos
locais dos crimes, das pessoas que neles se encontravam e a quem os executores materiais
tinham de dirigirse para obter a entrega dos sacos que continham os valores contrariam a
ideia de que se operou num quadro de “solicitação” que dispensaria uma revisão ou
reformulação do projecto inicial. Se é certo que o modo de execução apresenta semelhanças nos
três crimes de burla, não significa ou revela a existência de uma identidade perfeita das
diversas situações exteriores oferecidas aos agentes, de tal ordem que facilitasse a repetição dos
M. Miguez Garcia. 2001
524
actos ilícitos, após o primeiro ter sido um sucesso. Quer isto dizer que, se o modo de execução
se revelou eficaz na comissão do primeiro crime, já não pode entenderse que aí residiu o
impulso que levou os agentes a dispensarem uma avaliação das condições de sucesso nos
restantes, sem necessidade de repetirem o processo volitivo. Daí não poder concluirse que o
segundo e terceiro crimes foram como que um “arrastamento” amolecedor do desígnio inicial e
do êxito obtido com a execução do primeiro.
X. Indicações de leitura.
31. Crime de concussão — artigo 379º, nº 1, do Código Penal: cometeo o funcionário que, no
exercício das suas funções ou de poderes de facto delas decorrentes, por si ou por
interposta pessoa com o seu consentimento ou participação receber, para si, para o Estado
ou para terceiro, mediante indução em erro ou aproveitamento de erro da vítima,
vantagem patrimonial que lhe não seja devida.
32. Acórdão do Trib. Const. nº 663/98, de 25 de Novembro de 1998, DRep. II série, de 15 de
Janeiro de 1999: elementos do crime de burla.
33. Acórdão do STJ de 6 de Janeiro de 1993: abuso de confiança, burla, infidelidade ou furto?
Comete algum ilícito penal o cotitular de uma conta bancária (no caso o cotitular de
diversas contas bancárias a prazo), não proprietário das respectivas importâncias, que, sem
autorização da cotitular proprietária, levanta o respectivo montante e o dissipa em
proveito próprio?
34. Acórdão do STJ de 23 de Maio de 2002, CJ 2002, tomo II, p. 212: noção de património,
Prejuízo patrimonial que mereça a tutela do direito. Promessa de venda de notas falsas.
Fraude bilateral.
35. Acórdão do STJ de 27 de Abril de 2000, BMJ49651: burla, valor consideravelmente
elevado.
M. Miguez Garcia. 2001
525
36. Acórdão do STJ de 6 de Março de 2002, CJ 2002, tomo I, p. 222: burla informática.
37. Acórdão do STJ de 24 de Abril de 1997, BMJ466: possibilidade de cometimento de burla
por omissão.
38. Acórdão do STJ de 21 de Maio de 1998, processo n.º 179/98: para que o crime de burla se
verifique, é necessário que o agente, com intenção de obter para si ou para terceiro um
enriquecimento ilegítimo, induza em erro ou engano outrem sobre factos que
astuciosamente provocou, conseguindo por via da criação desse erro ou do engendrar
desse engano, que esse outrem pratique factos que lhe causem, ou causem a mais alguém,
prejuízo patrimonial. Assim, é imprescindível que a decisão factualize as práticas
integradoras ou inculcadoras da indução em erro ou engano (que não têm de radicar num
comportamento activo do agente, podendo ser passivo), pois que só da concretização dessa
práticas e das suas cambiantes envolventes, é possível exprimir um juízo seguro sobre a
vulnerabilidade do sujeito passivo da infracção, e consequentemente, sobre a eficácia da
relação entre os actos configurativos da astúcia e do erro ou engano criados, e a cedência
do lesado na comissão de actos a ele ou a outrem prejudiciais, ou por outras palavras, é
necessário que se comprove, que só a insídia do agente determinou a atitude do lesado
39. Acórdão do STJ de 3 de Maio de 1961, BMJ107363: em 1949, o réu dolosamente levou o
credor à convicção de que era suficiente garantia para o empréstimo de 115 contos um
terreno que não tinha valor superior a 8 contos, mostrandolhe toda uma sua propriedade,
de que aquele terreno era somente uma pequena fracção, como sendo o que daria em
hipoteca. Foi dito ao credor que o terreno tinha o valor de 300 contos e que não existia
qualquer hipoteca já constituída, quando o réu sabia que existia uma anterior, que recaía
na sua maior parte, e dizendo que o terreno se encontrava, na matriz e na Conservatória
como um terreno para construção urbana. O Supremo entendeu que o réu, tendo induzido
M. Miguez Garcia. 2001
526
fraudulentamente o credor em erro sobre a extensão e o valor do terreno, objecto da
garantia, assim o determinando a entregarlhe numerário, cometeu um crime de burla.
40. Acórdão da Relação de Lisboa de 27 de Junho de 2001, CJ, ano XXVI (2001), tomo III, p.
158: pratica o crime de burla o arguido que tenha estacionado a viatura que conduzia num
parque de estacionamento pago, sujeito ao regulamento geral de zonas de estacionamento
de duração limitada, colocando no seu interior um ticket no qual colou parte de um ticket
do dia anterior, no qual constava uma indicação horária superior à do bilhete utilizado.
41. Acórdão do STJ de 21 de Abril de 1999, BMJ486128: sobre a viabilidade de a emissão de
cheque constituir meio fraudulento do crime de burla.
42. Actas das sessões da Comissão revisora do Código Penal, PE, ed. da AAFDL, 1979.
43. Adela Asua Batarrita, El daño patrimonial en la estafa de prestaciones unilaterales
(subvenciones, donaciones, gratificaciones): la teoría de la frustración del fin, Anuario de
Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo XLVI, fasc. 1, Madrid, Jan.Abril (1993).
44. Albert Chavanne, Le délit d’escroquerie et la politique criminelle contemporaine (Etude de
jurisprudence), Les principaux aspects de la politique criminelle moderne, Recueil d’études
en hommage à la memoire du Professeur Henri Donnadieu de Vabres, Paris, Cujas, 1960.
45. Albin Eser, in Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 25ª ed., 1997.
46. Albin Eser, Strafrecht IV, Schwerpunkt, Vermögensdelikte, 4ª ed., 1983.
47. Alfredo José de Sousa, Infracções fiscais (não aduaneiras), 3ª ed., Coimbra, 1997.
48. Bajo Fernández et al., Manual de Derecho Penal, Parte especial, delitos patrimoniales y
económicos, 1993.
49. Bajo Fernández, A reforma dos delitos patrimoniais e económicos, RPCC 3 (1993), p. 499.
M. Miguez Garcia. 2001
527
50. Beleza dos Santos, A “burla” prevista no artigo 451º do Código Penal e a “fraude” punida
pelo artigo 456º do mesmo Código, RLJ, ano 76º (19431944), p. 273, 289, 305 e 321.
51. Candido CondePumpido Ferreiro, Estafas. Tirant lo blanch, Valência, 1997.
52. Carlos Alegre, Crimes contra o património, Revista do Ministério Público, 3º caderno.
53. Código Penal, Actas e Projecto da Comissão de Revisão, 1993.
54. Cunha Rodrigues, Os crimes patrimoniais e económicos no Código Penal Português,
RPCC, 3 (1993).
55. Dreher/Tröndle, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 47ª ed., 1995.
56. Eduardo Correia, Responderá o ladrão que vende a coisa furtada simultaneamente pelos
crimes de furto e burla?, RDES, ano I (19451946), p. 375.
57. F. Haft, Strafrecht, BT, 5ª ed., 1995.
58. F. Muñoz Conde, Derecho Penal, Parte especial, 8ª ed., 1990.
59. F. Puig Peña, Derecho Penal, Parte especial, vol. IV.
60. Fernanda Palma e Rui Pereira, O crime de burla no Código Penal de 198295, Revista da
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, volume XXXV, 1996, p. 329.
61. G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 4ª ed., 1993.
62. Gabriela Páris Fernandes, O crime de distribuição ilícita de bens da sociedade, Direito e
Justiça, 2001, tomo 2.
63. Germano Marques da Silva, Notas sobre o regime geral das infracções tributárias, Direito e
Justiça, 2001, tomo 2.
64. Giuseppe La Cute, Truffa, Nov. dig. ital.
65. H. Blei, Strafrecht II, BT, 12ª ed., 1983.
66. Harro Otto, Grundkurs Strafrecht, BT, 3ª ed., 1991.
M. Miguez Garcia. 2001
528
67. J. C. Moitinho de Almeida, Publicidade enganosa, Arcádia, s/d [1974].
68. J. Figueiredo Dias/M. Costa Andrade, O crime de fraude fiscal no novo direito penal
tributário português (Considerações sobre a Faculdade Típica e o Concurso de Infracções),
RPCC 6 (1996), p. 71.
69. J. Sousa e Brito, A burla do art. 451º do Código Penal Tentativa de sistematização, Sc. Iur.,
XXXII, nº 181183 (1983).
70. J. Wessels, Strafrecht, BT2, 16ª ed., 1993.
71. Jean Cosson, Les grands escrocs en affaires, Éd. du Seuil, Paris, 1978.
72. Jean Cosson, Les industriels de la fraude fiscale, Éd. du Seuil, Paris, 1971.
73. Jorge Dias Duarte, Pode o Estado ser vítima do crime de burla?, Maia Jurídica, Revista de
Direito, ano I, nº 1 (JaneiroJunho 2003), p. 193.
74. José António Barreiros, Crimes contra o património, 1996.
75. José Manuel Valle Muñiz, El delito de estafa, Delimitación jurídicopenal con el fraude
civil, Bosch, 1992.
76. Kienapfel, Grundriß des österreichischen Strafrechts, BT, II, 3ª ed., 1993.
77. Le Monde diplomatique, nº 517, Abril de 1997, "Les beaux jours de la corruption à la
française".
78. LealHenriques Simas Santos, O Código Penal de 1982, vol. 4, Lisboa, 1987.
79. Lopes de Almeida et al., Crimes contra o património em geral, s/d.
80. Luigio Delpino, Diritto Penale. Parte Speciale. 10ª ed., Simone, 1998.
81. Luis Osório, Notas ao Código Penal Português, vol. 4º, 1925.
82. M. Almeida Costa. Comentário ao artigo 217º. Conimbricense. Código Penal. Parte
especial. Tomo II.
M. Miguez Garcia. 2001
529
83. M. Cavaleiro de Ferreira, Burla e fraude na venda, parecer, ROA, ano 9º (1949), p. 71.
84. M. Cavaleiro de Ferreira, Depósito Bancário. Simulação. Falsificação. Burla. Scientia
Iuridica, XIX, nºs 103104 (1970), p. 246.
85. M. J. Almeida Costa, Intervenções fulcrais da boa fé nos ocntratos, Revista de Legislação e
de Jurisprudência, ano 133º, nº 3919, p. 297.
86. M. Maia Gonçalves, Código Penal Português, 8ª ed., 1995.
87. Mercedes Pérez Manzano, in Bajo Fernández et al., Manual de Derecho Penal (Parte
especial), vol. II, 1998.
88. Panchaud et al., Code Pénal Suisse anoté, 1989.
89. Paulo Dá Mesquita, A tutela penal das deduções e reembolsos indevidos de imposto.
Contributo para um leitura da protecção dos interesses financeiros do Estado pelos tipos
de fraude fiscal e burla tributária. RMP 2002, nº 91.
90. Pedro Caeiro, Sobre a natureza dos crimes falenciais (o património, a falência, a sua
incriminação e a reforma dela), 1996.
91. Silva Ferrão, Theoria do Direito Penal applicada ao Código Penal Portuguez, vol. VIII,
1857.
92. T.S.Vives, Delitos contra la propiedad, in Cobo/Vives, Derecho Penal, PE, 3ª ed., 1990.
93. Udo Ebert, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2ª ed., 1993.
94. Volker Krey, Strafrecht, B. T., Band 2, Vermögensdelikte, 10ª ed., 1995.
M. Miguez Garcia. 2001
530
§ 23º A legítima defesa
I. A legítima defesa: pressupostos, requisitos e limites. Legítima defesa
putativa; erro sobre um estado de coisas que, a existir, excluiria a ilicitude do
facto. Erro sobre os motivos; error in persona.
CASO nº 23: A e B são velhos amigos do tempo da "tropa", mas não se vêem vai para
20 anos. B vem ao Porto e encontra o amigo no final de uma animada partida de futebol. O
facto de cada um "torcer" pelo seu "clube" não impede que A convide o amigo para passar a
noite em sua casa e partir no dia seguinte para Lisboa. Entretanto, animados, aproveitam para
jantar juntos e beber uns copos. Até que, finalmente, por volta das duas da manhã, apanham
um táxi para casa. Chegados, A, por gentileza, dá a dianteira ao amigo que na fraca claridade
do "hall" de entrada se vê violentamente agredido com a única "arma" que havia em casa: o
rolo da massa. Como é seu timbre, B reage de imediato à ofensa e, para evitar "levar" mais,
como tudo indicava, assesta um vigoroso murro no agressor vindo do escuro, que logo cai no
chão, desamparado. Era, porém, uma agressora, a mulher de A, que já não se opunha às
contínuas escapadelas nocturnas do marido, mas que, estando sozinha em casa e temendo ser
assaltada, se munira do que tinha à mão, intentando defenderse do que supunha ser um
assaltante.
Punibilidade da mulher?
Norma proibitiva, norma permissiva. Causas de justificação, causas de
desculpação. Unidade da ordem jurídica. Vamos supor que, no desenrolar do nosso
trabalho, concluímos que uma acção realiza as características típicas de um tipo legal, que
preenche, por ex., o desenho típico do artigo 143º, nº 1, do Código Penal (ofensa à
integridade física simples), o que significa que o seu autor, actuando dolosamente, ofendeu
outrem corporalmente, a soco, a pontapé, à paulada, etc. A conduta afigurasenos ilícita,
mas essa qualificação será forçosamente provisória se o sujeito actuou numa situação
específica. Se o fez, por ex., em legítima defesa, a conduta, apesar de formalmente típica, é
aprovada pela ordem jurídica, devendo ser tolerada pelo afectado (artigos 31º, nºs 1 e 2, a), e
32º). Num caso como este entram em colisão uma norma de proibição e uma norma de
permissão, ficando esta em vantagem. As causas de justificação ou de exclusão da ilicitude
representam portanto decisões de conflito. Devemos distinguilas das causas de
desculpação, pois nestes casos a conduta continua a ser ilícita (antijurídica), embora o
agente não seja punido por não haver lugar à censura própria do agir culposo. Nos casos
práticos interessa portanto averiguar se uma determinada conduta é ilícita ou se está
justificada. Uma das questões envolvidas é a da unidade da ordem jurídica (artigo 31º, nº 1),
donde decorre que as causas de justificação não são apenas as que constam do Código Penal
(a legítima defesa, o direito de necessidade, etc.), mas também as que derivam de outros
ramos do direito (o estado de necessidade do direito civil, a acção directa), mesmo quando
não se encontram legalmente explicitadas (causas de justificação implícitas: a “adequação
social” e o "risco permitido").
M. Miguez Garcia. 2001
531
A mulher de A ofendeu B voluntária e corporalmente, assentandolhe um
golpe com o rolo da massa, pelo que fica desde logo comprometida com o
disposto no artigo 143º, nº 1, do Código Penal. Não há dúvida de que, apesar de
o local se encontrar envolto na penumbra, a mulher de A sabia que atingia uma
pessoa com o golpe e quis isso mesmo. Ainda assim, a mulher de A queria
evitar que a sua casa fosse assaltada e agiu com esse propósito, não pensando
sequer que estava a atingir o amigo do marido. Tratase, no entanto, de um
"erro" irrelevante, por ser um erro sobre os motivos: a mulher atingiu
corporalmente a pessoa que estava à sua frente. É um caso típico de error in
persona: no artigo 143º, nº 1, punese simplesmente quem ofender o corpo ou a
saúde de "outra pessoa" [sem atender, por ex., às qualidades, à idade ou à saúde
desta], e foi isso o que aconteceu.
Poderá a conduta da mulher de A ser justificada por legítima defesa? Para
tanto deveria existir uma agressão actual e ilícita de interesses juridicamente
protegidos (artigo 32º). Entre esses interesses ameaçados de lesão por B não se
encontrava —numa perspectiva objectiva— a propriedade de A, pois B não lhe
pretendia subtrair o que quer que fosse. Ainda assim, pode considerarse a
hipótese de uma violação de domicílio (artigo 190º). Todavia, como A e a
mulher viviam juntos nessa casa, qualquer deles tinha o direito de convidar um
estranho a entrar e permanecer no domicílio para aí passar a noite. Como B fora
convidado por A, não existia qualquer agressão e portanto não se configurava
uma situação de legítima defesa. A mulher de A actuou ilicitamente.
Deve contudo notarse que a mulher de A agiu na suposição errónea de
que B era um assaltante —e se tal fosse o caso existiria uma agressão à
propriedade e ao domicílio alheios. Para defesa desses valores seria então
necessário o emprego do rolo da massa e portanto o uso que dele a mulher de A
fez estaria justificado, de acordo com o disposto no artigo 32º.
Ora, uma vez que, assim, a mulher de A actuou em erro sobre um estado
de coisas que, a existir, excluiria a ilicitude do facto, à situação aplicase o
disposto no artigo 16º, nºs 1 e 2, ficando excluído o dolo. A mulher de A só
poderá ser punida por negligência (artigos 16º, nº 3, e 148º, nº 1). Se não se
puder afirmar que a mulher de A violou um dever de cuidado, então fica
excluída a punição, mesmo só por negligência (artigos 15º e 148º).
Punibilidade de B?
Ao agredir a mulher a murro, B ficou desde logo abrangido pelo disposto
no artigo 143º, nº 1. B ofendeu corporalmente outra pessoa, e agiu
voluntariamente.
M. Miguez Garcia. 2001
532
No entanto, o comportamento de B está justificado por legítima defesa
(artigo 32º). A agressão com o rolo da massa por parte da mulher era ilícita, por
não estar coberta por qualquer causa de justificação (artigo 31º). Além de ilícita,
a agressão era actual —estava ainda a desenvolverse quando se deu o contra
ataque de B. A questão que pode ser levantada é a de saber se a acção defensiva
era necessária. Para ser legítima, a defesa háde ser objectivamente necessária: "o
modo e a dimensão da defesa estabelecemse de acordo com o modo e a
dimensão da agressão". A defesa só será pois legítima se se apresentar como
indispensável para a salvaguarda de um interesse jurídico do agredido e,
portanto, como o meio menos gravoso para o agressor. (Cf. Figueiredo Dias,
Legítima defesa, Pólis). Acontece que B entrava pela primeira vez na casa que,
ainda por cima, se encontrava envolta na escuridão. Consequentemente, não lhe
seria exigível supor, naquela quase fracção de segundo, que a agressão viesse
da mulher de A e, inclusivamente, que esta estivesse em erro. Como B actuou
com vontade de defesa, a ofensa à integridade física da mulher de A mostrase
justificada. B não actuou ilicitamente.
As conclusões que apresentámos sugerem que se pode chegar ao extremo
de, não obstante haver duas agressões, nenhum dos autores dessas agressões
dever ser sancionado pela sua respectiva conduta. Na apontada perspectiva,
quem por erro não censurável pensa exercer legítima defesa expõese ao direito
de legítima defesa do "suposto" agressor.
Atentese, todavia, no seguinte modo de encarar a questão. Uma vez que,
na hipótese de "legítima defesa putativa" por erro objectivamente inevitável, se
não verifica a ratio supraindividual, o que significa que não está em causa a
salvaguarda da ordem jurídica — não haverá lugar à legítima defesa. No
entanto, continua a afirmarse a ratio individual de autoprotecção, de autodefesa
face a uma agressão que, embora não ilícita, todavia o agredido não tem o
dever de suportar — então, diante de tal agressão, B, ou um eventual terceiro,
pode oporse mediante o direito de necessidade defensivo, que lhe permite o
sacrifício de um bem superior, embora (diferentemente da legítima defesa) não
muito superior (Cf. Prof. Taipa de Carvalho, p. 187). Aliás, já se viu que tanto o
"defendente" como o "agressor" são juridicamente inocentes, como diria a Prof.
Fernanda Palma, justificandose provavelmente o tratamento do caso, ao nível
do direito de necessidade defensivo, com referência à ideia de equidade.
Na legítima defesa putativa acontece um fenómeno muito curioso de troca
de papéis: aquele que crê defenderse é, na realidade, um agressor; aquele que
foi tomado por um agressor acaba, ao fim e ao cabo, por se defender
legitimamente de uma agressão real de que é vítima. E, por paradoxal que
M. Miguez Garcia. 2001
533
pareça, ambos podem ficar isentos de responsabilidade criminal, mesmo que,
inclusivamente, provoquem um ao outro graves lesões. Francisco Muñoz
Conde, "Legítima" defensa putativa? Un caso límite entre justificación y
exculpación, in Fundamentos de un sistema europeo del derecho penal, 1995, p.
183.
II. Protecção individual; afirmação do Direito. A legítima defesa não está à
partida limitada por um critério de proporcionalidade. A defesa está porém
limitada pelo meio necessário para repelir a agressão.
• Qual o fundamento da legitimidade de uma defesa, ela mesma violadora de bens
jurídicos? Para responder de imediato a estas questões demos a palavra, uma vez
mais, a Eduardo Correia: "Porquê? Por se entender que, em princípio, o uso do
meio exigido ou necessário para a defesa ou prevenção de uma agressão actual e
ilícita do agente ou terceiros corresponde à prevalência do justo contra o injusto, à
defesa do direito contra a agressão, ao princípio de que a ordem jurídica não quer
ceder perante a sua agressão". (Faria Costa, O perigo em direito penal, p. 393).
Em termos muito gerais, o fundamento justificador da legítima defesa
encontrase na ideia (de origem hegeliana), divulgada desde meados do século
dezanove, de que "o Direito não tem que ceder perante o ilícito", ainda que
esta fórmula não deixe de ser contraditória e, para alguns autores, vazia de
sentido. É porém a concepção tradicional, que se identifica com um critério
objectivo da ilicitude.
Para a doutrina ainda hoje largamente dominante, com a legítima defesa
visase a tutela dos interesses individuais ameaçados pela agressão e, do mesmo
passo, a salvaguarda da ordem jurídica, conseguida, dentro do espírito da
prevenção geral, pela criação de um importante factor dissuasório nos
potenciais agressores (concepção dualista). Com a invocação da necessidade de
defesa da ordem jurídica pretendese justificar o sacrifício de bens jurídicos de
valor superior ao da agressão, assim se rejeitando, decididamente, a ideia de
que a legítima defesa está, à partida, limitada por um critério de
proporcionalidade entre os bens jurídicos que são sacrificados pela defesa, por
um lado, e os que são ameaçados pela agressão, por outro (cf. C. Valdágua,
Aspectos da legítima defesa, p. 31). Exemplo: de forma actual e ilícita, B ataca o
património de A, que reage e mata B em legítima defesa, sendo que a morte de
M. Miguez Garcia. 2001
534
B era o meio necessário para defesa do património. Nesta perspectiva, a lei
legitima a conduta de A para a defesa do seu património à custa da vida do
agressor. Com a necessidade de protecção dos bens jurídicos individuais estará em
causa a "defesa — e consequente preservação — do bem jurídico (para mais
ilicitamente) agredido, deste modo se considerando esta causa justificativa um
instrumento (relativo) socialmente imprescindível de prevenção e por aí, de
defesa da ordem jurídica". São palavras do Prof. Figueiredo Dias (cf. Textos, p.
164), para quem, em matéria de fundamento de legítima defesa "se não deve
sufragar nem uma concepção supraindividualista, nem individualista, mas
"intersubjectiva": "à defesa de um bem jurídico acresce sempre o propósito da
preservação do Direito na esfera de liberdade pessoal do agredido, tanto mais
quanto a ameaça resulta de um comportamento ilícito de outrem. Só assim
ficando explicada na medida possível a razão por que a defesa é legítima
ainda quando o interesse defendido seja de menor valor do que o interesse
lesado pela defesa: é que, dirseá, ainda neste caso o interesse defendido é
aquele que prepondera no conflito, porque ele preserva do mesmo passo o
Direito na pessoa do agredido."
Para a doutrina tradicional —à luz da necessidade de defesa da ordem
jurídica— justificase o sacrifício de bens jurídicos de valor superior ao da
agressão, quer dizer: ao agredido não se exige nenhum tipo de consideração
face à proporcionalidade da sua defesa, já que o próprio agressor se situou fora
do ordenamento jurídico, devendo as consequências ficar a seu cargo. A defesa
está limitada pelo meio necessário para repelir a agressão. No entanto, ainda que
se aluda ao requisito da necessidade, recusase decididamente a ponderação dos
bens afectados. Nesta perspectiva, já se disse, quem defende a sua propriedade
poderá fazêlo à custa de um valor superior (por ex., a vida do ladrão), o único
limite imposto ao exercício da legítima defesa dependerá da intensidade da
agressão e dos meios à disposição no caso concreto, mas não do valor dos bens
em conflito. É esta a ideia que arranca em 1848 com um trabalho de Berner e
que Ihering acentua ainda com maior ênfase numa sua monografia sobre a luta
pelo direito. Berner reconhecia que "sem dúvida, a vida vale mais do que um
objecto patrimonial, mas esta comparação não deve estabelecerse: o Direito
vale mais do que o injusto". Seguindo esta corrente, Ihering insistia na ideia de
que introduzir o princípio de proporcionalidade na legítima defesa significaria
atrofiála, reduzindoa a um papel semelhante ao do estado de necessidade,
com a consequente desprotecção do agredido e privilégio para os delinquentes
(cf. Iglesias Río, p. 315).
M. Miguez Garcia. 2001
535
Mas então, como resolver o caso do dono da macieira que, para conservar
a sua maçã, mata a criança? A solidez da concepção tradicional, assente em que
a legítima defesa —qualquer que seja a proporção entre os bens do agredido e
do agressor a afectar pelo exercício da defesa— "realiza sempre o mais alto de
todos eles, que é, por força da sua essência, a defesa da ordem jurídica" (Prof.
Eduardo Correia), não deixou de ser temperada, nos casos de mais chocante
desproporção entre os interesses em causa, pelo recurso ao "abuso do direito".
A ilegalidade da agressão, considerada apenas sob o ponto de vista objectivo,
não podia deixar de ser confrontada com os casos de ataque de animais e de
crianças e inimputáveis, nem com o caso do proprietário que mata a criança que
lhe tenta furtar uma maçã (além de termos o sacrifício da vida para recuperar a
maçã, o valor desta é manifestamente "insignificante").
As grandes áreas problemáticas que contendem com a legítima defesa continuam a ser,
como melhor se verá na exposição que se segue, i) as agressões com origem em pessoas
incapazes de culpa, por ex., crianças, ou com culpa sensivelmente diminuída, por ex., em
virtude de embriaguez; ii) a legítima defesa em caso de provocação do defendente; iii) as
agressões a bens de insignificante valor ou de valor desproporcionadamente inferior ao dos
bens a sacrificar por via da defesa; iv) as agressões que ocorrem entre pessoas ligadas por
particulares relações de garantia.
Também, a partir de certa altura, se passaram a ouvir as vozes dos que
pretendiam introduzirlhe um ingrediente éticosocial, de consequências ainda
mais amplas, "que exclui a sua legitimidade, no caso de uma flagrante
desproporção entre os interesses do defendente postos em perigo pelo ataque e
os do agressor sacrificados pela necessidade da defesa" (Prof. Eduardo Correia).
Ao ponto de que, hoje, "tudo é questionado na legítima defesa" (Prof. Taipa de
Carvalho). E assim, para este Autor (A Legítima Defesa, dissertação de
doutoramento, 1995), se bem compreendemos, a agressão, para além de ilícita e
actual, deverá ser dolosa, censurável e não insignificante — e dirigida aos bens
jurídicos individuais vida, integridade física, saúde, liberdade, domicílio e
património do defendente ou de terceiro, ficando de fora da legítima defesa os
casos em que tenha havido provocação. Adiante se voltará a estes pontos de
vista. Acrescentese apenas que, numa obra igualmente recente (A justificação
por legítima defesa como problema de delimitação de direitos, 1990), a Prof. Fernanda
Palma distingue entre uma legítima defesa ilimitada e uma legítima defesa
limitada ou moderada. A legitimidade da defesa fica sujeita à igualdade da
natureza (não do valor concreto) dos bens defendidos e lesados. "Toda a
legítima defesa é regida por uma não desproporcionalidade, possibilitando a
ofensa de bens superiores, mas não qualitativamente superiores aos
assegurados, numa espécie de inversão do critério ponderativo previsto para o
M. Miguez Garcia. 2001
536
direito de necessidade, nas alíneas b) e c) do artigo 34º do Código Penal" (F.
Palma, A Justificação, p. 565 e ss. e 837). Deste modo, relevará “a distinção entre
os bens jurídicos imediatamente conexionados com a essencial dignidade da
pessoa humana, cuja afectação permitiria uma defesa que pode atingir a
intensidade máxima (provocar, por exemplo, a morte do agressor), e os
restantes bens jurídicos tutelados constitucional e penalmente, cuja ofensa
apenas implicaria uma defesa que pode sacrificar bens da mesma natureza”
(Rui Carlos Pereira, Os crimes contra a integridade física na revisão do Código Penal,
in Jornadas sobre a revisão do Código Penal, AAFDL, 1998, p. 183).
Questão é saber "se assim se não foi (ou está a irse) longe de mais e a
assistirse àquilo que, com Hassemer, se pode chamar uma verdadeira "erosão
da dogmática da legítima defesa": Prof. Figueiredo Dias, Textos, p. 168.
III. Requisitos da legítima defesa.
Os requisitos de eficácia e os pressupostos da legítima defesa tornam mais
claro tudo o que se acaba de dizer.
Não podemos ignorar, naturalmente, o que se dispõe no artigo 32º. Se A se
dirige a B para lhe dar um abraço e B supõe (por erro) que este o vai agredir, a
situação não legitima uma defesa e só pode contar com os efeitos associados à
chamada legítima defesa putativa. As aparências de agressão, por ex., o
empunhar uma pistola de brinquedo ou as "agressões" combinadas entre
"agressor" e "defendente" não legitimam, objectivamente, a defesa. Mas se
alguém empunha uma pistola sem munições em termos de conscientemente
afectar a liberdade de disposição de outrem pode o ameaçado usar os meios da
legítima defesa. Notarseá também que à actuação do defendente só estão
expostos os bens jurídicos do agressor. Se na defesa se atingem bens jurídicos
de um terceiro (não agressor) poderá desenharse uma situação de estado de
necessidade (artigo 34º), com as correspondentes consequências, mas nunca
uma legítima defesa.
Uma pessoa leva a efeito uma Em situação de legítima
defesa, o agredido exerce a
agressão defesa
M. Miguez Garcia. 2001
537
actual necessária
A agressão actual é a que se mostra A defesa é necessária se e na medida em
iminente, está em curso ou ainda que, por um lado, é adequada ao
perdura. afastamento da agressão e, por outro,
representa o meio menos gravoso para o
agressor.
e ilícita com animus defendendi
A agressão é ilícita se for objectivamente A defesa deve ser subjectivamente
contrária ao ordenamento jurídico: ex., conduzida pela vontade de defesa.
não
há legítima defesa contra legítima defesa.
Estrutura da legítima defesa
Para a legítima defesa exigese em primeiro lugar uma agressão de
interesses juridicamente protegidos do agente ou de terceiro. A agressão supõe
a ameaça directa, imediata, desses interesses, através de um comportamento
humano. Não são porém agressões nesse sentido certos comportamentos em
geral tolerados, como os encontrões nos transportes públicos —, nem os ataques
de animais, na medida em que as normas têm como naturais destinatários os
entes humanos. É diferente o caso em que o cão é açulado por uma pessoa
contra a outra, podendo esta reagir em legítima defesa, mas então reage à acção
humana. Discutese se a agressão pode ocorrer por omissão, sendo caso
paradigmático o da mãe que recusa alimentar o filho acabado de nascer ou o do
preso que procura, pelos seus próprios meios, sair da cadeia, agindo
inclusivamente contra a pessoa dos guardas, depois de cumprida a pena,
quando estes se recusam a executar a ordem judicial de libertação.
Cf. outros dados em Figueiredo Dias, Textos, p. 171, nomeadamente quando esteja em
causa a legitimidade da defesa às omissões puras e impuras. Ex., poderá forçarse um
automobilista a transportar ao hospital a vítima de um acidente?
Não existe, porém, unanimidade no estabelecimento das fronteiras de
certos interesses juridicamente protegidos, como os ligados à privacidade.
Haverá diferenças entre espreitar sem consentimento para o interior do quarto
de dormir de uma senhora, intervindo o sujeito na esfera íntima da pessoa, e
M. Miguez Garcia. 2001
538
espreitar de longe um par de namorados que permanecem juntos no interior
dum carro, à beiramar.
O acórdão do STJ de 4 de Fevereiro de 1981, BMJ304235, ocupouse do caso de A que, a
cerca de 4 metros, disparou a caçadeira contra o vulto dum mirone que, em Agosto, por volta
das 22 horas, lhe surgira defronte da janela do quarto e se quedou a espreitar para o interior.
Anteriormente, em noites sucessivas, já o voyeur tivera idêntico procedimento. Questões como
esta prendemse com a privacidade e o estado emocional dos importunados, mas também têm
a ver com a actualidade da agressão, entrando num grupo de casos a conformar a chamada
legítima defesa preventiva.
A corrente maioritária entende que a agressão não precisa de ser praticada
dolosamente. Bastará uma conduta negligente ou mesmo um comportamento
desprovido de culpa. Neste sentido vai a opinião do Prof. Eduardo Correia:
"Sendo antijurídica, a agressão não precisa, de qualquer forma, de ser culposa:
mesmo actos involuntários (v. g., em estado de epilepsia), actos não dolosos,
actos de crianças, de dementes (...)." Também Figueiredo Dias escreve que "a
situação de legítima defesa pressupõe a ilicitude da agressão, mas não a culpa
do agressor" — podem assim ser repelidas em legítima defesa agressões em que
o agente actue sem culpa, devido a inimputabilidade, à existência de uma causa
de exclusão da culpa ou a um erro sobre a ilicitude não censurável". Todavia,
estas posições conduzem, inevitavelmente —dizse—, ao "vago, genérico e
indefinível tópico" das limitações éticosociais, pelo que, alguns autores (cf., por
ex., Prof. Taipa de Carvalho, p. 258 e ss.) entendem que a legítima defesa
pressupõe o carácter doloso [e censurável] da agressão. A ideia é que o próprio
conceito de agressão "exige vontade lesiva e, sobretudo, porque face a acções
imprudentes carece de sentido e não pode realizarse a função de intimidação
da legítima defesa” (outros desenvolvimentos em Taipa de Carvalho, cit., p.
259). Nesta perspectiva, contra a acção imprudente caberá estado de
necessidade defensivo (supralegal).
A propósito de agressões de inimputáveis. Necessidade de protecção de bens
colocados em perigo. Estado de necessidade defensivo. Princípio da solidariedade.
Equidade. O estado de necessidade defensivo tem sido colocado entre a legítima defesa (artigo
32º) e o estado de necessidade (artigo 35º). Os autores que, como Taipa de Carvalho, Luzón
Peña, Eb. Schmidhäuser e H. Otto exigem que a agressão seja culposa propõem a aplicação das
regras do estado de necessidade defensivo, que requer a ausência de grande desproporção e a
subsidiariedade da defesa. As condutas que apontam para o estado de necessidade defensivo
"têm algo a menos do que a agressão ilícita pressuposta pela legítima defesa e algo a mais do
que o perigo para um bem jurídico do estado de necessidade justificante. Nelas, o agente
desencadeia uma defesa contra uma agressão que não pode constituir o substrato de um
direito de legítima defesa (...). O problema do estado de necessidade defensivo, tal como o da
defesa preventiva, nasce da necessidade de protecção de bens colocados em perigo, apesar de
não ser claramente configurável um dever de suportar a defesa preventiva, inere, todavia, a
M. Miguez Garcia. 2001
539
esta figura uma necessidade actual de defesa, intensificandose, materialmente, as exigências
de protecção do titular dos bens jurídicos ameaçados. O contexto ético que torna o tratamento
jurídico destas situações problemático respeita, ainda e sempre, à equidade, pois tanto
defendente como agressor são juridicamente inocentes". (Prof. Fernanda Palma, A Justificação, p.
798). "No estado de necessidade defensivo, penso que o princípio fundamental é o da
autodefesa, intervindo o princípio da solidariedade como princípiolimite. Isto é, embora seja
justo e razoável que seja a fonte da agressão a suportar as consequências da resolução do
conflito, já se compreende, todavia, em nome do princípio da solidariedade, que, tratandose,
por exemplo, de um agressor inimputável, se proiba a intervenção defensiva, quando esta for
afectar um bem muito superior ao defendido." (Prof. Taipa de Carvalho, p. 185). Para o Prof.
Figueiredo Dias (Textos, p. 183), "o que agressões de crianças, de doentes mentais ou, em geral,
de agressões de quem actua notoriamente sem culpa pode determinar é uma modificação dos
limites da necessidade da acção de defesa" — o agredido, poderá, por ex., sem desdouro,
esquivarse à agressão.
Fuga? Turpis fuga? Desvio? Commodus discessus? Quando está em causa uma
agressão actual, ilícita, dolosa e praticada por uma pessoa plenamente consciente da
censurabilidade social do seu acto — não há qualquer fundamento para impor ao agredido ou
o dever de fuga ou desvio ou o dever de não sacrificar bens do agressor que sejam muito
superiores aos que são objecto de uma tal agressão: a recusa de uma tal proporcionalidade dos
bens, não violando qualquer princípio éticojurídico, é, ainda, necessária, sob o ponto de vista
da função preventiva, geral e especial, de uma tal categoria de agressões. Cf. Prof. Taipa de
Carvalho, p. 390. Por commodus discessus entendese a retirada cómoda da pessoa ameaçada,
desviandose do caminho, saindo pelos fundos, etc., mas o direito não lhe pode impor a
covardia, a turpis fuga. Cf. Paulo José da Costa Jr.
A agressão deverá ser actual. A agressão actual é a que se mostra
iminente, está em curso ou ainda perdura. Se ainda pode ter êxito, se não está
consumada, é actual. A actualidade da agressão exige assim que, em "ambiente"
de sincronização, se estabeleçam os seus parâmetros "antes" e "depois". No
primeiro caso, deverá atentarse na formulação do artigo 22º, nº 1, e verificar se
o agente pratica actos de execução de um crime (critério do início da tentativa).
Se o sujeito com quem se inicia uma discussão saca da pistola para
imediatamente a disparar, a vida e a integridade física da vítima ficam
imediatamente ameaçadas. Mas, como logo se vê, estes parâmetros serão
porventura insuficientes quando se não disponha da amplitude normativa do
artigo 22º, nº 1. Por isso se discute na Alemanha se a actualidade da agressão
não deverá antes começar naquele estádio de desenvolvimento que se situa
entre a preparação e o começo de execução.
Contra as afirmações "impressionistas" da nossa jurisprudência, cf. F. Palma, p. 303, referindo o
acórdão do STJ de 27 de Junho de 1984, BMJ338247. Dois ou três minutos depois do A
sair do restaurante, o B saiu também, em sua perseguição, atravessou a estrada e
M. Miguez Garcia. 2001
540
avançou sobre ele, no propósito de o agredir. O A avisou de que dispararia se o outro
continuasse a avançar para si; a seguir, disparou, mas para o ar; e só no último instante,
estando o agressor praticamente sobre ele, é que atirou de verdade. "O segundo tiro foi
tanto mais necessário, quanto tinham sido inúteis o primeiro e a ameaça que o
precedeu".
Certo é que, para qualquer teoria que se reclame da defesa mais eficaz, o
ladrão de bancos chegou já ao estádio da agressão quando, no hall de entrada
do edifício, coloca a meia na cara para não ser reconhecido. Os partidários da
legítima defesa preventiva admitem que se atinja a tiro o voyeur que, em dias
seguidos, "espreita" uma e outra vez, e que vai a fugir, por ter sido
surpreendido, desde que haja a certeza de que se assim não for, o indiscreto
metediço voltará a fazer das suas. A aplicação da norma da legítima defesa, por
analogia, a situações desse cariz explicará igualmente que se invoquem os
critérios da legítima defesa no caso do tirano familiar, por ex., para justificar a
actuação da mulher que, apanhando a dormir o marido que permanentemente,
anos a fio, inferniza a vida de toda a família, aproveita para o abater e ter
finalmente descanso. Tratarseia daquelas situações em que a ameaça da
agressão está próxima mas não está iminente e só poderiam rotularse de
situação análoga à legítima defesa. A aceitação, por antecipação, destas situações
de legítima defesa é de rejeitar perante a nossa lei penal, mas não seria de todo
desajustado afeiçoálas ao estado de necessidade desculpante do artigo 35º.
"Fernanda Palma, depois de, adequadamente, criticar e recusar a "teoria da eficácia da
defesa", sugere que haverá uma certa analogia entre estas situações de criação de um perigo
actual de uma próxima (embora não iminente) agressão ilícita e as situações subsumíveis à
disposição jurídicocivil sobre a acção directa, prevista no Código Civil, art. 336º. É minha
convicção, todavia, que nem o teor literal, nem a função, nem a natureza dos direitos objecto de
protecção pelo art. 336º do Código Civil permitem a sua aplicação analógica às situações de
perigo actual de uma agressão (ou repetição de agressão) ilícita." Prof. Taipa de Carvalho, p.
290.
Cabe também aqui a discussão sobre o que representam certas instalações
agressivas, por ex., muros e cercas electrificados, armadilhas colocadas com
intenção de proteger vivendas isoladas contra assaltos, ou até minas explosivas,
falando alguns autores de legítima defesa antecipada. Esta, nos casos indicados, e
em outros semelhantes (no Minho, por ex., coroavamse os muros de cacos de
vidro), limitase à aparência da simultaneidade da agressão e da acção de
defesa e é rejeitada, inclusivamente, por poder atingir um não agressor, que até
M. Miguez Garcia. 2001
541
pode ser uma criança. Falta a actualidade do perigo no momento em que as
offendicula são predispostas, explica G. Bettiol, Direito Penal, PG, tomo II,
Coimbra, 1970, p. 211, que entende reconduzir a questão para o âmbito do
exercício do direito de propriedade, ainda que seja de exigir uma relação de
proporção entre o bem que se pretende proteger e aquele que poderá,
eventualmente, ser ofendido. O sentido originário destes dispositivos
automáticos de defesa, escreve Miguel Ángel Iglesias Río, significava
"obstáculo", "estorvo" ou "resistência", de acordo com a interessante
reconstrução etimológica do termo offendicullum ou offensaculum realizada pelo
italiano Massari. O offendiculum reduziase a meios que, por sua natureza,
serviam unicamente para constituir um obstáculo impeditivo do livre e fácil
acesso à propriedade privada, mas sem possuir capacidade de reacção ofensiva.
Incluíamse no conceito objectos de características as mais diversas: vidros
cortantes incrustados na parte superior de um muro, cancelas com pontas, valas
com arame farpado, pontas de lança, fossas a impedir a passagem, etc.
O affaire Lègras. Há mais de 20 anos, discutiuse nos tribunais franceses um caso em
que, nas palavras do representante do Ministério Público, se enfrentavam duas concepções do
homem e da sociedade: dum lado os fanáticos da ordem pública desejavam que se lhes
reconhecesse o direito de julgar soberanamente ou de executar a justiça da forma mais
expedita. Havia outros para quem a pessoa humana estará sempre em primeiro lugar. A casa
de campo de Mr. Lègras fora assaltada umas doze vezes até que o proprietário decidiu encher
de pólvora um transistor que meteu num armário. Dois "visitantes" não autorizados sofreram
na cara os efeitos da explosão. Um dos ladrões morreu e o Sr. Lègras foi conduzido perante um
tribunal de jurados que o absolveu. A posição radical de alguns juristas que apoiaram a decisão
fazia assentar este "enérgico" direito de legítima defesa na circunstância de que uma nova
"agressão "podia verificarse a qualquer momento...".
Nos crimes permanentes, como o sequestro (artigo 158º) e a violação de
domicílio (artigo 190º), a agressão dura pelo tempo que durar a situação típica.
Se o intruso que permanece no domicílio alheio recusa retirarse, pode o dono
da casa invocar a legítima defesa, mas não assim se simplesmente lhe bloqueia a
saída com o pretexto de que já chamou a polícia. Deve terse igualmente em
atenção a permanência da agressão no caso do ladrão que vai a fugir com o
produto do furto. Aliás, no que toca aos crimes patrimoniais, a doutrina
geralmente entende que a agressão permanece enquanto se não der o
esgotamento, terminação ou consumação material, independentemente da
consumação formal ou jurídica (Kühl, Jura 1993, p. 62). Segundo Iglesias Río, p.
170, nos crimes contra a propriedade, como o furto — cuja forma de execução
possibilita a protecção defensiva, mesmo depois de se dar a consumação do
facto delitivo concreto — a agressão será actual enquanto o ladrão não tiver a
coisa subtraída em pleno sossego, enquanto não dispuser pacificamente do
M. Miguez Garcia. 2001
542
produto do furto, quer dizer: até que a lesão do direito de propriedade para a
vítima não seja irreversível. Por conseguinte, a vítima poderá perseguir, in actu,
o delinquente para recuperar o subtraído — justificandose que para recuperar
os bens ou valores se utilizem os meios da legítima defesa.
No entendimento do Prof. Figueiredo Dias, Textos, p. 177, releva "o
momento até ao qual a defesa é susceptível de deter a agressão, pois só então fica
afastado o perigo de que ela possa vir a revelarse desnecessária para repelir a
agressão. Até esse último momento a agressão deve ser considerada como
actual. É à luz deste critério que devem ser resolvidos os casos que mais
dúvidas levantam neste ponto, os dos crimes contra a propriedade, nomeadamente
o do crime de furto. Ex.: A dispara e fere gravemente B, para evitar que este fuja
com as coisas que acabou de subtrair. Poderseá considerar a agressão de B
como ainda actual? A solução não deve ser prejudicada pela discussão e
posição que se tome acerca do momento da consumação do crime de furto. O
entendimento mais razoável é o de que está coberta por legítima defesa a
resposta necessária para recuperar a detenção da coisa subtraída se a reacção
tiver lugar logo após o momento da subtracção, enquanto o ladrão não tiver
logrado a posse pacífica da coisa".
O furto é (para a posição dominante) um crime instantâneo, mas os seus
efeitos são permanentes. Cf., aliás, com a situação desenhada no artigo 211º
(violência depois da subtracção) e com os casos de agressão frustrada em que o
ladrão foge de mãos a abanar porque não conseguiu apanhar o que queria. Por
outro lado, se o ladrão abandonou o que subtraiu e foge de mãos vazias, o
lesado não está autorizado a exercer a legítima defesa, que é desnecessária. De
qualquer forma, se o dono da coisa furtada não a recupera de imediato, i. e, se a
agressão perde a sua actualidade, no indicado sentido, a recuperação forçada da
presa só poderá fazerse com apoio na acção directa (artigo 336º do Código
Civil).
Discutese muito igualmente se e em que medida é que a vítima de uma
tentativa de extorsão (artigo 223º) fica em posição de se defender
legitimamente. Para negar a necessária actualidade, sustentase que a agressão à
liberdade de disposição cessa logo que a ameaça é proferida e que os perigos
para os interesses patrimoniais do visado se situam ainda no futuro, mas o
critério é muito discutível.
A agressão deverá ser ilícita. A agressão é ilícita se for objectivamente
contrária ao ordenamento jurídico — mas não se exige, como logo decorre da
letra do artigo 32º, que a conduta preencha um tipo de crime. O livreiro pode
reagir contra o estudante que pretende levar para casa um livro, só para o ler,
M. Miguez Garcia. 2001
543
restituindoo em seguida: o furtum usus do livro não é penalmente punido, mas
a situação é objectivamente ilícita, os interesses do livreiro, proprietário do
livro, são interesses juridicamente protegidos. Apontase, porém, uma restrição
a esta unicidade entre ilicitude geral e ilicitude da agressão para efeitos de
legítima defesa (Prof. Figueiredo Dias, Textos, p. 179): "a agressão não será ilícita
para este efeito relativamente a interesses ("direitos relativos") para cuja
"agressão" a lei prevê procedimentos especiais, como será o caso dos direitos de
créditos e dos de natureza familiar. Não estarão por isso cobertas por legítima
defesa, v. g., as agressões ou ameaças tipicamente relevantes levadas a cabo pelo
credor sobre o devedor para que este lhe pague; ou pelo marido sobre a mulher
para impedir que ela abandone o lar conjugal".
Deve por outro lado notarse que não há legítima defesa contra legítima
defesa. Se A actua justificadamente perante a pessoa de B (em legítima defesa,
em estado de necessidade justificante, por ordem da autoridade, por ex., para o
prender, etc.) não pode este ripostar em legítima defesa, antes tem o dever de
tolerar tal situação. Não está legitimada por legítima defesa a agressão do
ladrão sobre o seu perseguidor que intenta, pela força, recuperar as coisas
roubadas. Recordemse ainda os frequentes casos de legítima defesa putativa: se
A vê que o seu carro está a ser deslocado do sítio em que o estacionara e reage
ao que toma pelo furto do carro, quando na realidade do que se tratava era de
acudir com ele a uma emergência, por ser o único meio de salvar uma vida, a
intervenção na esfera jurídica de A, por não ser ilícita, não autoriza a legítima
defesa, pois lhe falta um dos pressupostos do artigo 32º— mas poderá
prevalecerse do regime, que lhe é favorável, do artigo 16º, nºs 2 e 3. As relações
cidadão / polícia podem também suscitar problemas nesta área, como quando
se pretenda impor certos procedimentos relativos a provas de sangue ou a
testes de alcoolémia ou se empregam cães polícias.
IV. Requisitos da acção de defesa.
Com a defesa do agredido convertese o próprio agressor em vítima e o
agredido em autor. Para ser legítima, a defesa háde ser objectivamente
necessária: "o modo e a dimensão da defesa estabelecemse de acordo com o
modo e a dimensão da agressão". O agredido pode defenderse com tudo o que
seja necessário, mas só com o que for necessário. A defesa só será pois legítima se se
apresentar como indispensável (unumgänglich), imprescindível (unerläßlich),
actuando o defendente com os meios exigíveis para a salvaguarda de um
interesse jurídico, portanto, com o meio menos gravoso para o agressor. O juízo
sobre a adequação do meio defensivo depende do conjunto das circunstâncias
M. Miguez Garcia. 2001
544
(a "Kampflage") em que se desenrolam tanto a agressão como a acção de defesa,
devendo terse especialmente em consideração a intensidade da agressão, a
força e a perigosidade do agressor e as possibilidades de defesa do defendente:
contra um agressor de 130 quilos, que bate repetidamente com a cabeça da
vítima na capota do automóvel, pode o agredido defenderse à facada (BGHSt
27, 336). No caso do acórdão do STJ de 10 de Fevereiro de 1994, BMJ434286, o
defendente, de 77 anos, repeliu uma agressão actual e ilícita (tiro de arma de
fogo contra ameaças de agressão corporal, antecedidas de insultos), mas
provouse que o fez em situação de medo prolongado, convencido de que a
vítima, homem forte, de 30 anos, o ia atacar, bem como a sua mulher, com mais
de 90, na sua própria casa.
“A necessidade de defesa háde apurarse segundo a totalidade das
circunstâncias em que ocorre a agressão e, em particular, com base na
intensidade daquela, da perigosidade do agressor e da forma de agir”. Cf. o
acórdão do STJ de 4 de Novembro de 1993, referido pelo acórdão do STJ de 7 de
Dezembro de 1999, BMJ492159. "O juízo de necessidade reportase ao
momento da agressão, tem natureza ex ante, e nele deve ser avaliada
objectivamente toda a dinâmica do acontecimento, merecendo todavia especial
atenção as características pessoais do agressor (idade, compleição física,
perigosidade), os instrumentos de que dispõe, a intensidade e a surpresa do
ataque, em contraposição com as características pessoais do defendente (o porte
físico, a experiência em situações de confronto) e os instrumentos de defesa de
que poderia lançar mão" (Figueiredo Dias, Textos, p. 185).
Onde em princípio se rejeita o exemplo de Lucky Luke, que disparava mais rápido do
que a sua própria sombra! Há situações em que é possível não usar logo a arma de fogo que
está à mão, dando ao meio de defesa uma utilização gradual ou escalonada, podendo
inclusivamente começarse com uma ameaça verbal ou um tiro de aviso. Pode, no entanto, o
defendente verse na necessidade de visar logo o agressor se com o aviso se perder tempo,
piorando a situação de quem se defende ou tornando definitivamente impossível a defesa.
Nesse caso, o disparo deverá ser dirigido a zonas do corpo do agressor que não sejam vitais: as
pernas, o braço, etc. A fuga do defendente não tem qualquer influência na defesa necessária,
fugir não é defenderse. Acontece também, por vezes, que há vários indivíduos
simultaneamente em situação de legítima defesa. Se um deles pode, eficazmente, usar um meio
menos gravoso, se o mais forte — por ex., um praticante de luta livre — tem à sua disposição o
meio menos gravoso que é a defesa corporal, não deve o outro defendente, o mais fraco, usar a
pistola que traz consigo. Finalmente, se houver ocasião de chamar a polícia, é isso que se deve
fazer.
Já anteriormente referimos a tendência para não admitir a legítima defesa
(excluindoa) contra agressões insignificantes, como no caso do furto das maçãs.
Todavia, não será sinónimo de agressão insignificante a crassa desproporção
M. Miguez Garcia. 2001
545
dos bens, existindo esta, por ex., no caso do furtum usus ou mesmo no caso do
furto da propriedade de um automóvel, mas em que o bem jurídico do agressor
a ser lesado pela necessária acção de defesa é a substancial integridade física do
ladrão ou mesmo, eventualmente, a sua vida. Agressão insignificante não é o
equivalente de crassa desproporção. (Prof. Taipa de Carvalho, p. 487). Para o
mesmo autor, não sendo a agressão dolosa e culposa intervirá, como também já
se acentuou, um direito de necessidade defensivo: o interesse lesado pelo
defendente não será então muito superior ao interesse defendido. As agressões
de crianças, doentes mentais notórios e de pessoas manifestamente
embriagadas terão assim um tratamento particularizado. Nos casos em que o
agente pretende criar uma situação de legítima defesa para, impunemente,
atingir o agressor, há quem entenda que, para lá da falta de vontade de defesa,
não se verifica a própria necessidade de defesa — o direito entraria em
contradição consigo mesmo se permitisse tais acções defensivas. Poderia
sempre invocarse o abuso do direito. Se a provocação não é intencional, mas
apenas negligente, devese evitar a legítima defesa agressiva. Mas do conceito
de necessidade resulta, por último, que não está em causa uma
proporcionalidade dos bens jurídicos — tanto a propriedade como o domicílio
podem ser defendidos com os meios necessários para repelir a agressão, ainda
que, nas concretas circunstâncias, o defendente deva servirse, unicamente, do
meio menos gravoso para a sustar.
Não será adequada como acção de defesa a reacção de quem foi intencionalmente
fechado numa cave e que aproveita para destruir as garrafas de vinho do proprietário. Na
verdade, nenhuma relação existe entre a agressão e a apontada reacção de quem foi privado da
sua liberdade.
A defesa é necessária se e na medida em que, por um lado, é adequada
ao afastamento da agressão e, por outro, representa o meio menos gravoso
para o agressor.
Saber se é necessária uma vontade de defesa foi objecto de larga
controvérsia, por detrás da qual se encontravam, dum lado, os partidários da
ilicitude objectiva, do outro, os da doutrina do ilícito pessoal. O conceito
objectivista é definido pelo desvalor do resultado, mas o ilícito como desvalor
da acção e com os elementos pessoais (subjectivos) que lhe estão associados
passou a influenciar largos sectores da doutrina. Hoje em dia entendese,
predominantemente, que o ilícito é desvalor do resultado mas é também
desvalor da acção e ambos têm o mesmo peso na sua conformação. Deste modo,
se A, dolosamente, cometeu homicídio na pessoa de B a conduta só estará
justificada se à situação de defesa e à acção de defesa se juntar o elemento
subjectivo do tipo permissivo que é a vontade de defesa, pois só assim se afasta
M. Miguez Garcia. 2001
546
o desvalor da acção, i. e, a vontade de realização do crime. O acórdão do STJ de
19 de Janeiro de 1999, no BMJ48357, parece ser o exemplo de uma orientação
pacífica no sentido de se exigir que o agredido aja com intenção de se defender
de uma agressão — portanto, que o animus defendendi é requisito da legítima
defesa.
A defesa deve, portanto, ser subjectivamente conduzida pela vontade de
defesa, não lhe bastam os critérios objectivos anteriormente assinalados. É
necessário que o agente tenha consciência de que se encontra perante uma
agressão a um bem jurídico próprio ou de terceiro, e que actue com animus
defendendi, ou seja, com o intuito de preservar o bem jurídico ameaçado (cf.
Figueiredo Dias, Legítima defesa, Pólis). Frequentemente, os autores distinguem
entre a defesa de protecção e a agressiva, no primeiro caso, se, por ex., o defendente
se limita a levantar ou a exibir a arma, fazendo ver ao adversário o que o espera.
O defendente pode até evitar o ataque, escapando à agressão, ou pedir a ajuda
de outrem, por ex., da polícia. A forma agressiva corresponde ao dito "a melhor
defesa é o ataque". As situações têm a ver, naturalmente, com a necessidade de
defesa. Voltaremos ao assunto a propósito da provocação intencional (pré
ordenada), nos casos em que o agente pretende criar uma situação de legítima
defesa para, impunemente, lesar um bem do agressor. "Dado que a principal
intenção do agente é, não defenderse, mas sim atacar o outro indivíduo, não se
encontra satisfeito o indicado elemento subjectivo" (Figueiredo Dias). Já se viu
que, nestes casos, a conduta deve considerarse sempre ilícita. Outra questão
ligase com as consequências do "desconhecimento da situação objectiva
justificante". De acordo com o artigo 38º, nº 4, Código Penal é punível, com a
pena aplicável à tentativa, o facto praticado sem conhecimento da existência de
consentimento do ofendido susceptível de excluir a responsabilidade criminal.
Na sua interpretação corrente, a solução do Código aplicase ao consentimento
e em todos os outros casos em que o agente actua sem conhecer uma situação
justificadora realmente existente. Segundo o Prof. Figueiredo Dias, entrarseia
em contradição normativa se o Código, que aceita em princípio a punibilidade
da tentativa impossível, “deixasse de punir, também a título de tentativa,
aquele que actuou numa situação efectivamente justificante, mas sem como tal a
conhecer” (Pressupostos da punição, p. 61). A solução é correntemente aceite
pelos autores alemães. Cf., por todos, Kühl, StrafR, p. 167. A situação contrária,
a de alguém agir com vontade de defesa sem que se verifiquem os pressupostos
objectivos da legítima defesa, leva, como já se viu, à figura da legítima defesa
putativa.
M. Miguez Garcia. 2001
547
Também a jurisprudência aponta como requisitos da legítima defesa: — A existência
de uma agressão a quaisquer interesses, sejam pessoais ou patrimoniais, do defendente ou de
terceiro. — Agressão essa que deve ser actual no sentido de estar em desenvolvimento ou
iminente. — E ilícita, no sentido geral de o seu autor não ter o direito de o fazer, não se
exigindo que ele actue com dolo, com culpa ou mesmo que seja imputável. — Defesa
circunscrevendose ao uso dos meios necessários para fazer cessar a agressão, paralisando a
actuação do agressor aqui se incluindo a impossibilidade de recorrer à força pública. —Animus
defendendi, ou seja o intuito de defesa por parte do defendente. Acentuase que não é requisito
da legítima defesa a proporcionalidade entre o bem agredido e o defendido devendo entender
se não ser exigível do defendente rápida e minuciosa valoração dos bens em jogo; os casos de
manifesta e grande desproporção entre o bem agredido e o defendido podendo ser resolvidos
através do abuso de direito. Igualmente se acentua a necessidade racional do meio empregado,
requisito este que, não devendo ser afastado, deve antes ser visto sob a perspectiva do excesso
de legítima defesa. (Cf., entre outros, os acórdãos do STJ de 5 de Junho de 1991, BMJ408180; e
de 19 de Julho de 1992, BMJ419589).
CASO nº 23A: A, que foi contactado na sua residência por um vigilante nocturno de
uma escola, pedindolhe auxílio em virtude de a escola estar a ser assaltada por quatro
indivíduos e não ter conseguido contactar as autoridades policiais e que dispara um tiro sobre
um dos assaltantes que perseguia, o qual o enfrenta empunhando uma faca tiro que vem a ser
a causa determinante da morte do assaltante actua no exercício de um direito a legítima
defesa e, por isso, não pode ser criminalmente punido (ac. do STJ de 5 de Junho de 1991, BMJ
408180).
CASO nº 23B. Agiu em legítima defesa o agente policial trajando à civil que
pretendendo interferir em defesa de um indivíduo que estava a ser agredido por outros três,
foi por estes rodeado em disposição de o agredirem, um deles empunhando uma faca, e
recuou, e disparou sem êxito um tiro de revólver para intimidação e, em estado de
perturbação, disparou outro tiro contra a perna esquerda daquele que empunhava a faca,
prostrandoo no solo e provocandolhe lesões determinantes de 30 dias de doença. Mas já não
agiu em legítima defesa quando disparou o terceiro tiro contra a região malar de outro dos
mencionados indivíduos que tinha na mão um rádio portátil e distava um metro e meio,
provocandolhe a morte, por não ter o propósito de defesa nem subsistir o perigo de agressão
iminente (acórdão do STJ de 20 de Novembro de 1991, BMJ411244).
Um dos problemas mais relevantes do direito de justificação é o de saber
se se pode salvar um simples bem patrimonial (com excepção, naturalmente,
dos de valor insignificante) à custa do sacrifício de uma vida humana ou de
uma grave lesão da integridade física. A lei ordinária portuguesa não impõe
quaisquer limites à legítima defesa, em função da natureza —patrimonial ou
não patrimonial— dos bens jurídicos protegidos. Cf. agora, na área
jurisprudencial, o acórdão do STJ de 10 de Outubro de 1996, BMJ460359. A
proporcionalidade entre os valores dos bens agredido e defendido não é
requisito imposto pela disciplina jurídica da legítima defesa no nosso Direito e,
por isso, em princípio, não pode sustentarse que o valor do património haja de
ceder perante o valor da integridade física ou da vida. Isto, sem prejuízo de
M. Miguez Garcia. 2001
548
exclusão do âmbito da legítima defesa das hipóteses em que, atentos os critérios
éticosociais reinantes, se verifique uma manifesta e gritante desproporção dos
interesses contrapostos. Acórdão do STJ de 4 de Novembro de 1998, proc. nº
892/98.
V. Excesso de legítima defesa — excesso intensivo: artigos 32º e 33º.
Manipulação consciente da situação?
CASO nº 23C: Os arguidos A e B viveram durante algum tempo no estrangeiro,
onde os pais tinham estado emigrados, e quando voltaram para Portugal propuseramse
explorar uma casa de passe num dos bairros de Lisboa. S, o chefe dum grupo de jovens
“cabeças rapadas”, tinhase proposto combater o comércio da prostituição naquela zona.
Decidiu, por isso, com os seus seguidores, atacar a casa de passe dos arguidos por volta da
meia noite de 31 de Maio de 1991. As ordens eram para inutilizar as instalações e empregar a
força contra quem se lhes opusesse. Os arguidos souberam destas intenções da parte de tarde
desse mesmo dia, quando dois indivíduos do grupo extremista lhes vieram propor que, se os
arguidos pagassem à volta de cinco mil contos, nada aconteceria. A e B recusaramse a pagar e
decidiram fazer frente aos atacantes, sem nada comunicarem à polícia. Com isso quiseram
deixar claro que não consentiam que se lhes extorquisse dinheiro nem se deixavam influenciar
por acções violentas. A polícia, se tivesse sido informada, teria comparecido no local com
forças suficientes para frustrar qualquer ataque. Por volta das 23h30, A e B aperceberamse de
que a uns 150 metros do local onde se encontravam se juntavam uns 30 a 50 jovens, armados
de paus, matracas e chicotes. Para lhes fazer ver que não tinham qualquer hipótese de atacar a
casa de passe, A e B avançaram para o ajuntamento, transportandose no seu automóvel. O
arguido A levava consigo uma espingarda carregada e B uma pistola de gases. Já perto dos
jovens, A saiu do carro, mostrouse com a arma empunhada e convidou os do grupo a
"desaparecerem" e a deixálos em paz. Ao mesmo tempo ia apontando a arma para os jovens
que na rua o rodeavam a uma distância entre 10 e 50 metros. Os jovens puseramse em fuga e
acolheramse atrás dos carros, das árvores e nas entradas das casas que por ali havia. A,
convencido de que tinha os antagonistas em respeito, dirigiuse, de volta ao carro, para dali se
retirar com B. Foi então que S, o chefe dos rapazes, saiu do seu próprio automóvel, que ficara
estacionado à beira da estrada, e com as mãos no ar, em lentidão provocadora, se foi
aproximando até 6 ou 8 metros de A. Quando este lhe apontou a arma, S gritoulhe: "dispara,
dispara, sacana! — vê se te atreves!". A ficou alterado por causa da repentina mudança dos
acontecimentos e foi recuando, com a arma pronta a disparar, de volta para o carro. Quando já
estava quase sentado ao volante da viatura, o S aproximouse até cerca de um metro, e segurou
com a mão direita na porta do carro do lado do condutor. O tribunal não deu como não
provado que o S levava uma navalha na mão, pronta a usar, com a lâmina à vista. Entretanto,
alguns dos rapazes que se tinham escondido voltaram a mostrarse e aproximaramse até cerca
de 6 metros do carro dos arguidos. Foi então que B, para evitar o ataque que estava a todas as
luzes iminente, lançou gás na direcção de S, através da porta aberta do lado do condutor. S,
para se livrar do gás, desviou a cara para a direita. Nesse momento, A disparou, a pelo menos
meio metro de distância da cabeça de S, aceitando a morte deste como consequência dessa sua
M. Miguez Garcia. 2001
549
actuação. S foi atingido mortalmente atrás do pavilhão auricular direito. (Adaptação do texto
comentado por Bernd MüllerChristmann, Überschreiten der Notwehr BGHSt 39, 133, in JuS
1994, p. 649. A decisão apareceu noutras publicações, igualmente com comentários,
nomeadamente, de Roxin, NStZ 1993, p. 335, e Arzt, JZ 1994, p. 314; cf. também Fritjof Haft /
Jörg Eisele, Jura 2000, p. 313).
A questão que aqui se levanta prendese com a aplicação do artigo 33º:
• 1 — Se houver excesso dos meios empregados em legítima defesa o facto é ilícito mas a
pena pode ser especialmente atenuada. 2 — O agente não é punido se o excesso
resultar de perturbação, medo ou susto não censuráveis.
No caso nº 23C está em causa o chamado excesso intensivo de legítima
defesa — o agente, numa situação de legítima defesa, perante a agressão
iminente de que era vítima, utilizou um meio não necessário para repelir a
agressão, i. é, excedeuse nos meios necessários para a defesa. O artigo 33º
aplicase a situações destas.
O defendente actua também ilicitamente se ultrapassa os limites
temporais da legítima defesa, se se defende em caso de ataque que já não seja
actual ou tenha deixado de o ser (excesso extensivo de legítima defesa). O
defendente excede, conscientemente, os limites temporais da legítima defesa
se, por ex., estando o agressor já no chão, neutralizado, o defendente continua
a baterlhe, dandolhe repetidos pontapés. Neste caso, pode acontecer que o
defendente tenha consciência de que está a agredir o seu antagonista — o
agressor inicial — e que o faz ilicitamente, sem qualquer justificação, podendo
a sua pena, eventualmente, ser atenuada nos termos do artigo 73º, nº 1.
Se o defendente reage cedo demais, quando a agressão ainda não é
actual, mas ele a tem como tal, ou supõe erroneamente que a sua conduta
ainda é justificada, autorizada pelo direito, por ex., pensa que o seu agressor,
apesar de estar por terra, ainda está em condições de voltar a agredilo, então
tratarseá de uma hipótese a resolver em sede de erro (artigos 16º, nº 2). Certo
é que, sempre que se trate de uma falsa representação dos pressupostos
objectivos necessários à legítima defesa estaremos perante uma legítima
defesa putativa, a que são aplicáveis os princípios gerais sobre o erro.
Como já anteriormente vimos, a defesa é necessária se e na medida em
que, por um lado, é adequada ao afastamento da agressão e, por outro,
representa o meio menos gravoso para o agressor. Os casos mais frequentes de
excesso têm a ver com a utilização de um meio de defesa que, "sendo adequado
para neutralizar a agressão, é, porém, claramente mais danoso (para o agressor)
do que um outro de que o agredido ou terceiro dispunha e que também era,
M. Miguez Garcia. 2001
550
previsivelmente, adequado" (Prof. Taipa de Carvalho). Por ex., durante uma
discussão por razões de trânsito, os dois condutores saem dos respectivos
carros e entram a discutir; a dado passo, A começa a esmurrar o seu antagonista
e B saca do revólver que sempre o acompanha, disparao na cabeça de A e
provocalhe a morte, a qual poderia ter sido evitada se B se tivesse limitado a
defenderse a soco ou a visar as pernas do agressor. Notese que a decisão sobre
a existência ou não de excesso "não pode deixar de atender á globalidade das
circunstâncias concretas em que o agredido se encontra, nomeadamente, a
situação de surpresa ou de perturbação que a agressão normalmente constitui, a
espécie de agressor e os meios agressivos, de que dispõe, bem como as
capacidades e os meios de defesa de que o agredido se pode socorrer". (Cf.
Taipa de Carvalho, p. 346). De qualquer forma, o artigo 33º, havendo excesso de
legítima defesa, e independentemente de se tratar de um excesso asténico
(perturbação, medo, susto) ou esténico (cólera, ira), prevê a possibilidade de
atenuação especial da pena. Deve no entanto notarse que, em caso de excesso
de legítima defesa, o facto é sempre ilícito (nº 1). O agente só não será punido
(nº 2) se o excesso resultar de perturbação, medo ou susto não censuráveis.
É difícil explicar, do ponto de vista da “culpa”, que o antigo § 53, 3, do StGB (comoção,
medo ou susto) e o novo § 33 (perturbação, medo ou susto) só concedam a exclusão da
responsabilidade nos estados anímicos asténicos, mas não nos esténicos, como a cólera ou a
ira, pois tanto se compreende uma reacção como a outra. Contudo, a diferença justificase por
critérios de prevenção. Com efeito, geralmente, os estados anímicos agressivos são muito mais
perigosos e por isso há que evitálos por todos os meios (e portanto também ao preço da
sanção) no interesse da conservação dos bens jurídicos. Os estados de “perturbação, medo ou
susto” não provocam a imitação e por isso podem ser tratados com maior benignidade. Claus
Roxin, Culpabilidade y prevencion en Derecho Penal, Madrid, 1981, p. 80. Compreendese, porém,
que a perturbação, medo ou susto causados pela agressão impeçam a justa avaliação ou
ponderação da necessidade dos meios para a defesa, em termos de tornar não censurável o
defendente pelo seu excesso; estarseá então, pois, em face de um caso de não exigibilidade e,
portanto, de exclusão da culpa. Não deve todavia entenderse que os efeitos do referido estado
de afecto asténico sejam automáticos, como pretende Maurach, mas haverá antes que relacioná
los sempre com a teoria da falta de culpa, pelo caminho da não exigibilidade. Tratandose, por
outro lado, de estados de afecto esténico (como cólera, furor, desejo de luta, etc.), o seu efeito
não deve ser já o de excluir a culpa. Igualmente não deverá considerarse razão para excluir a
culpa um excesso nos meios conscientemente dirigido v. g. ao castigo do primeiro agressor.
Prof. Eduardo Correia, Direito Criminal, II, p. 49.
No caso nº 23C, pode pôrse a questão de saber se A intentou criar uma
situação de legítima defesa para, impunemente, atingir o agressor S (agressão
préordenadamente provocada). Uma vez que a principal intenção do agente é
então a de atacar o outro indivíduo, não se encontra satisfeito o elemento
subjectivo da legítima defesa, a vontade de defesa. Ademais, a defesa não será
M. Miguez Garcia. 2001
551
então necessária por também se não verificar a necessidade de afirmação da
ordem jurídica — não há uma defesa do lícito perante o ilícito. Nesse caso,
ficaria excluída a legítima defesa e a aplicação do regime do artigo 32º. Do
mesmo modo, também se não poderia aplicar o regime do artigo 33º, que supõe
a afirmação da legítima defesa.
Se se considerar que a provocação não foi intencional, a legítima defesa
não estará excluída. Os dados postos à nossa disposição não permitem porém
concluir que A tinha qualquer hipótese de evitar a legítima defesa agressiva.
Mas a defesa de A, tal como se processou, não representa, de modo nenhum, o
meio menos gravoso para o agressor. A, em vez de visar e atirar na cabeça do
antagonista, para conseguir neutralizálo, poderia têlo visado noutra parte do
corpo, sem lhe provocar a morte. Nesta perspectiva, face ao excesso de legítima
defesa (artigos 32º e 33º, nº 1), a morte de S é ilícita (artigo 131º), não se encontra
justificada, mas a pena pode ser especialmente atenuada (artigo 72º, nºs 1 e 2)
perante a provocação injusta e a circunstância de A ter actuado sob a influência
de ameaça grave. Em último termo, se se concluir que o excesso na actuação de
A resultou de perturbação, medo ou susto, o mesmo não será punido, mas para
tanto é necessário que o defendente não deva ser censurado pelo seu excesso.
O tratamento da provocação intencional tem tido as mais variadas
respostas na doutrina (cf. Hillenkamp, 32 Probleme, p. 16 e ss.):
i) Há quem entenda que a acção de defesa é justificada por legítima defesa mesmo
quando o defendente provocou intencionalmente a situação. Argumentase com a ideia de que
o direito não tem que ceder perante o ilícito e que, portanto, o provocador não perde o direito
ao exercício da defesa, na medida em que o faz enquanto representante da ordem jurídica.
Outros concluem igualmente pelo efeito eximente se o princípio da autodefesa não se puder
impor de outro modo, especialmente se o sujeito não se puder esquivar à agressão. Por sua vez,
os partidários da doutrina da actio illicita in causa (aiic) entendem que a provocação não faz
desaparecer o direito de defesa e que, portanto, a defesa necessária se justifica — todavia, o
"defendente" será responsabilizado pela causação do facto anterior no tempo (actio praecedens),
intencionalmente dirigido à execução da acção típica que posteriormente levou a cabo.
ii) Para a teoria do abuso do direito, quem tiver provocado intencionalmente uma
agressão, para assim poder lesar outrem a pretexto de legítima defesa, movimentase a
descoberto da lei, agindo sem a "legitimação suprapessoal" (Roxin) de que carece para
exercitar o seu papel de representante da ordem jurídica. Noutro entendimento, o provocador
renuncia à protecção jurídica, de forma que o seu contraataque não integra qualquer defesa.
Quem, de antemão, inclui nos seus planos a agressão do adversário renuncia, de forma
inequívoca, à protecção de um bem jurídico, agindo sem vontade de defesa.
M. Miguez Garcia. 2001
552
VI. Interpretação corrente do artigo 32º. Onde se fala do abuso do direito e da
crassa desproporção do significado da agressão e da defesa.
CASO nº 23D: A estava desde o começo da noite de guarda a umas árvores de fruto
numa sua pequena propriedade. Acompanhavao um pequeno cão e tinha consigo uma
espingarda de caça. Pela manhã, viu dois homens que subtraíam fruta. A chamouos e os
homens puseramse em fuga, levando consigo a fruta, uma meia dúzia de maçãs. Não
responderam aos avisos que A lhes fazia, ameaçandoos com a arma, para pararem. A não viu
outra possibilidade de recuperar a fruta senão disparar um tiro. Ao disparar, A ofendeu
corporalmente um dos homens, de forma grave. Considerese, com ligeira variante, que A era
um inválido que utilizava uma cadeira de rodas.
A questão que se coloca é a de saber se A pode ser responsabilizado pela
prática, em autoria material, de um crime do artigo 144º (ofensa à integridade
física grave). Não há dúvida que houve uma lesão grave provocada com a
arma. Pode entenderse que A podia recuperar a fruta dos ladrões mesmo com
violência, por via da legítima defesa (artigos 31º, nºs 1 e 2, a), e 32º), já que no
caso concreto não tinha outro meio senão o uso da arma. Pode todavia
perguntarse se existia uma agressão actual. Numa certa perspectiva, os ladrões
estavam em fuga e a agressão terminara (este não será, contudo, o
entendimento corrente, pois os dois homens iam a fugir e levavam consigo a
fruta, que ainda não tinham em pleno sossego). Por outro lado: seria ainda
admissível este tipo de defesa? Seria relevante o valor da coisa furtada?
De muitos lados, a limitar a necessidade de defesa, exigese que não haja
uma sensível (escandalosa, crassa) desproporção entre os interesses ofendidos
pela agressão e a defesa, negandose a defesa a qualquer preço. Na medida em
que a defesa constitua resposta proporcionada a uma agressão injusta não há
dúvida de que, seja qual for a atitude anímica que acompanha a vontade de
defesa, existe autêntica causa de justificação que legitima o acto realizado.
Contudo, a importância e a transcendência contidas na concessão a uma pessoa
de direitos que inclusivamente se negam ao Estado, como, por exemplo, o de
matar outra pessoa, impõem a necessidade de limitar esse direito individual a
certas situações realmente excepcionais (Muñoz Conde, Derecho Penal, PG, 1993,
p. 292). Com efeito, se é certo que a legítima defesa visa salvaguardar interesses
individuais e com isso a salvaguarda geral do direito, nem sempre estas
necessidades individuais e comunitárias têm que ser valoradas de igual
maneira, podendo haver casos em que se exclua a protecção individual ou a de
um interesse geral, limitandose ou excluindose o direito de legítima defesa
(rectius, restringindo, em certos casos, a possibilidade de defesa ou
condicionandoa à inevitabilidade da agressão: F. Palma, p. 835).
M. Miguez Garcia. 2001
553
Também entre nós se anotam os recentes ventos da renovação, que pode
fazerse caber sem esforço no rótulo geral das limitações éticosociais do direito de
legítima defesa (Figueiredo Dias, Pressupostos da Punição, in Jornadas, p. 59).
Nelas avulta, como já se disse, a recusa de legitimidade da defesa em caso de
escandalosa desproporção entre o bem jurídico defendido e o lesado pela
defesa, mas também a limitação dos bens que podem ser defendidos à custa da
morte do agressor. Invocase o artigo 2 II a) da Convenção Europeia dos
Direitos do Homem e o "abuso de direito" como limite da legítima defesa.
Uma parte da doutrina entende que a morte de uma pessoa só se justifica
para defesa da vida, da integridade física e da liberdade, mas nunca para a
defesa de coisas ou de bens patrimoniais. O artigo 2 II a) da Convenção
("ninguém pode ser intencionalmente privado da vida, excepto para assegurar a
defesa de qualquer pessoa contra uma violência ilegal") dirigese, no entanto,
unicamente às relações Estadocidadão. Os particulares, que não são
destinatários da Convenção, só em casos excepcionais é que podem defender os
seus bens com o recurso à força das armas.
Os campos problemáticos estendemse às agressões realizadas por
inimputáveis (pode haver legítima defesa, mas serão frequentes as limitações
da necessidade da defesa, impondose antes uma "defesa de protecção"); às
agressões provocadas por acto ilícito do agredido; às agressões associadas a
uma certa relação especial de garantia (como, por ex., entre cônjuges); e às
agressões leves, proporcionalmente inofensivas (Eser, Strafrecht I, 4ª ed., 1992, p.
122; C. Valdágua, p. 31).
Estes grupos de situações em que a legítima defesa está sujeita a limitações
"éticosociais" foram especialmente eleitos pela jurisprudência e literatura
alemãs. O Prof. Welzel (Das Deutsche Strafrecht, 11ª ed., p. 87), por exemplo,
entendia que não era admissível legítima defesa no caso de absoluta
desproporção, relacionando a lesão, não com o bem jurídico ameaçado, mas
com a irrelevância criminal da agressão. A jurisprudência proclama, com
frequência, que não será necessário estabelecer uma relação entre o bem jurídico
agredido e o lesado pela defesa; contudo, uma defesa em que o dano causado
seja desproporcionado relativamente ao dano ocasionado pela agressão
constitui um abuso de direito, e é, portanto, antijurídica.
Na nossa hipótese, caso nº 23D, a agressão era actual. Os ladrões estavam
em fuga e levavam consigo a fruta subtraída, que não largaram. O furto não
estava exaurido ou materialmente consumado, a presa não se encontrava em
pleno sossego. Será caso de ter presente toda a teoria da permanência da
consumação, "que evidentemente permitirá sempre o exercício da legítima
M. Miguez Garcia. 2001
554
defesa” (Prof. Eduardo Correia; Antolisei, p. 257). Também será difícil contestar
os restantes requisitos da legítima defesa, sobretudo a necessidade do tiro como
a única possibilidade de imediatamente pôr termo à agressão.
Ainda assim, face à extrema (crassa) desproporção entre o valor da fruta
defendida e o perigo para a vida, provocado pelo disparo, seria de denegar a
legítima defesa de A ? Em que termos?
Na interpretação corrente do artigo 32º do Código Penal continua a
entenderse, como já repetidamente se acentuou, que o defendente tem o
direito de praticar todos os actos de defesa idóneos para repelir a agressão,
desde que lhe não seja possível recorrer a outros, também idóneos, mas menos
gravosos para o agressor, não estando sujeito a quaisquer limitações
decorrentes da comparação dos bens jurídicos, interesses ou prejuízos em causa
(C. Valdágua, p. 54). O Prof. Figueiredo Dias (Legítima defesa, cit.) escreve que
"a L.D., enquanto causa de exclusão da ilicitude, atribui ao agente um autêntico
"direito de defesa", cujo exercício, à semelhança de qualquer outro direito
subjectivo, se tem de submeter aos limites do abuso de direito, regulado no
artigo 334º do Código Civil. Neste preceito consagrase, ao estilo de cláusula
geral, um princípio fundamental do direito, que ultrapassa o domínio
privatístico do diploma em que se insere. De acordo com ele, também a L. D.
encontraria determinados limites "[...] impostos pela boa fé, pelos bons
costumes ou pelo fim social ou económico desse direito", circunstância que
levaria a excluir do seu âmbito as hipóteses em que, atentos os critérios ético
sociais reinantes, se verificasse uma manifesta e gritante desproporção dos
interesses contraposto".
Existe hoje unanimidade sobre a ilegitimidade da defesa abusiva. "A
necessidade da defesa deve ser negada sempre que se verifique uma
insuportável (do ponto de vista jurídico) relação de desproporção entre ela e a
agressão: uma defesa notoriamente excessiva e, nesta acepção, abusiva, não
pode constituir simultaneamente defesa necessária". Prof. Figueiredo Dias,
Textos, p. 199.
Certos aspectos inovadores constituem [em certo sentido], ao nível da
legítima defesa, "reflexo do trânsito de uma concepção marcadamente
individualista para uma mundividência social ou solidarista, que se observa
no âmbito criminal" (Prof. Figueiredo Dias). Os autores alemães têm, com
efeito, procurado introduzir limitações de sentido éticosocial em atenção à
solidariedade, à consideração para com o atacante, sem que, todavia, as
opiniões sejam uniformes. Deve aliás notarse que a solidariedade é um
“corpo estranho” (Naucke, StrafR., p. 298 e ss.; Kühl, StrafR., p. 179) ao direito
M. Miguez Garcia. 2001
555
penal, ainda que, em alguns lugares, se não excluam os correspondentes
deveres. Recordese o disposto no artigo 200º e os fundamentos do estado de
necessidade justificante (artigo 34º), que apontam para a solidariedade devida
a quem se encontra em situação de necessidade. Em sentido alargado, nas
tentativas de limitação éticosocial argumentase com os correspondentes
princípios legitimadores: a tutela dos interesses individuais ameaçados pela
agressão e a salvaguarda da ordem jurídica, registandose situações que exigem o
recuo de ambos os princípios e mesmo a exclusão da legítima defesa.
No caso nº 23D há uma crassa desproporção do significado da agressão e
da defesa. Face à diminuta relevância da agressão, expressa pelo insignificante
valor da fruta subtraída (uma meia dúzia de maçãs), e ao também diminuto
prejuízo patrimonial do ameaçado, a medida defensiva tão drasticamente
adoptada não se justificava nem por uma ideia de defesa nem pelo princípio da
salvaguarda geral do direito, porquanto era abusiva. Mas era abusiva
justamente por via dessa crassa desproporção, ainda que no caso tivesse sido
utilizado o meio necessário.
A é autor material de um crime do artigo 144º do Código Penal. Estão
reunidos os correspondentes elementos objectivos e subjectivos. Não opera a
justificação por legítima defesa nem qualquer outra. Mas não se exclui que a
pena possa ser especialmente atenuada nos termos do artigo 72º, nºs 1 e 2.
VII. Em jeito de balanço.
Em jeito de balanço, poderemos dizer o seguinte. i) Agressões não
culposas (doentes mentais, crianças, pessoas agindo em erro objectivamente
inevitável ou em estado de necessidade desculpante) — não põem seriamente
em causa a validade da ordem jurídica, ficando a legítima defesa limitada à sua
função de protecção individual. Deste modo, se lhe for possível, deve o
defendente evitar o agressor ou procurar a ajuda da autoridade, se não for
possível, deverá orientarse ainda na linha de uma defesa de protecção, através
duma resistência dissuasora e suportando o risco de pequenos danos. Todavia,
conserva o seu direito de legítima defesa, protegendose no âmbito do
necessário, segundo uns (Roxin, p. 211). Outra solução passa pelo recurso ao
estado de necessidade defensivo (Jakobs; Frister, GA 1988, p. 305; e os restantes
autores referidos antes), ou pelo estado de necessidade desculpante,
nomeadamente, nas situações em que um indivíduo tresloucado (Amok, em
alemão) “decide” matar quantos encontra até ser abatido.
A palavra Amok tem origem nas línguas malaias. Pode corresponder a uma modalidade
de loucura ou uma forma de suicídio. "O que está em causa, decerto, é o surto brutal de uma
M. Miguez Garcia. 2001
556
agressividade que foi longamente recalcada e que em certo momento se tornou incontrolável" (L.
Knoll, Dicionário de psicologia prática, p. 21). Os nossos autores, como Tomé Pires e Fernão
Mendes Pinto referemse abundantemente à utilização de amoucos nos exércitos do mundo
malaio. A forma portuguesa amouco parece resultar do cruzamento do malaio amok com o
termo vernáculo mouco (A abertura do Mundo, vol. II, p. 217).
Neste âmbito, os casos mais facilmente reconhecíveis são os de ataques à
propriedade feitos por crianças ou por doentes mentais notórios, ou as palavras
com que ofendem a honra de outrem. Os casos de erro serão mais difíceis de
detectar, como quando alguém leva consigo o guarda chuva alheio, convencido
de que é o seu. O que então se impõe é o esclarecimento da confusão. Há,
porém, quem exclua deste grupo os indivíduos embriagados, que culposamente
se colocaram nesse estado. ii) Nos casos de sensível desproporção entre os
interesses ofendidos pela agressão e pela defesa (face à modalidade dos bens
jurídicos e a medida da respectiva lesão) não é admissível legítima defesa, já
que então se trataria de abuso do direito — não se mata a tiro de espingarda o
ladrão que vai a fugir com umas maçãs de pouco mais de cem escudos. Os
autores (por ex., Ebert, p. 72) advertem, no entanto, que o facto de se admitir
este tipo de limitações não equivale a acolher, em termos gerais, o critério da
proporcionalidade da legítima defesa. iii) Nas relações entre pessoas muito
chegadas (por ex., entre cônjuges), nomeadamente, com relações de garantia,
certos autores introduzem igualmente sensíveis limitações na legítima defesa. A
atenção para com as outras pessoas e o ideal da solidariedade sobrepõemse ao
interesse da defesa da ordem jurídica. iv) Nos casos de provocação, dolosa ou
intencional, em que o agressor se pretende acolher ao manto da legítima defesa
para assegurar impunidade, existe, claramente, um abuso do direito e o agente
será punido por crime doloso. Já acima se deu conta de outras justificações para
negar a legítima defesa em casos destes. v) Se a provocação não for dolosa, por
ex., se alguém causa uma agressão com negligência consciente, se no hotel abre
a porta errada, ou se, na condução, por falta de consideração, põe
repetidamente em perigo a vida de um peão, a legítima defesa fica limitada, em
atenção à função de protecção de interesses individuais, colocandose,
nomeadamente, a hipótese de evitar a legítima defesa agressiva. Também aqui
certos autores consideram, por último, as regras do estado de necessidade
defensivo e de situações de necessidade “análogas” ao estado de necessidade
justificante.
VIII. O excesso de legítima defesa.
CASO nº 23E: A mantinha uma relação sentimental com F, mulher casada. O marido
desta, homem habitualmente desconfiado, tinha proibido A de entrar na moradia do casal. A
M. Miguez Garcia. 2001
557
porém voltou à moradia. Às tantas, foi ali surpreendido por M (que se deslocava a casa
durante o seu turno de trabalho nocturno), na companhia de F, a qual tratou de se vestir
imediatamente e desaparecer de cena. M, irritado e furioso, pretendia ajustar contas, como
marido enganado que era, retendo A na moradia até que chegasse gente, nomeadamente a
polícia, para obter provas definitivas do adultério. Na luta que se seguiu, A foise defendendo
bem das pancadas de M. A certa altura, M logrou agarrar uma garrafa de cerveja, mas A tirou
lha e deulhe com ela na cara de tal maneira que M sofreu fractura do osso do nariz e uma
ferida ligeira. (Cf. Eser, Strafrecht I, 4ª ed., 1992, caso nº 11).
Não há dúvida nenhuma de que A ofendeu M voluntária e corporalmente,
provocandolhe fractura do osso do nariz e um ferimento ligeiro, com o que,
pelo menos, ficará incurso na previsão da norma fundamental dos crimes
contra a integridade física (artigo 143º, nº 1, do Código Penal). Se não for caso
de negar a legítima defesa, a questão estará em saber se a conduta de A podia
ser justificada ou se A podia ser desculpado. Todavia, não deixará de ser
razoável sustentarse que A provocou o ataque de M com o seu comportamento
adúltero e a entrada em casa de M contra a vontade deste. Deve por isso
perguntarse se, por sua vez, M não terá actuado em legítima defesa, e,
consequentemente, com vontade de defesa, ponderandose a
(in)admissibilidade da legítima defesa contra outra legítima defesa.
A ilicitude da agressão que a lei exige para que se possa verificar a
legítima defesa engloba dois aspectos: a prática por alguém de um acto violador
de interesses juridicamente protegidos de outrem, e a não contribuição do
defendente para o aparecimento daquele acto. E compreendese que assim seja,
porque, quando o defendente, pelo seu comportamento, dá origem àquela
actuação violadora dos interesses juridicamente protegidos de alguém, esta
última tem a susceptibilidade de funcionar como uma legítima defesa contra
aquele comportamento, e porque não pode haver legítima defesa contra uma
legítima defesa (ac. do STJ de 25 de Setembro de 1991, BMJ409483).
Ficará limitado ou excluído o direito de legítima defesa de A por causa do
seu comportamento provocatório? Ou, simplesmente, A excedeuse no seu
direito de legítima defesa?
M proibira expressamente a entrada de A na moradia do casal, mas este
violou o direito de M, verificandose, com isso, a lesão de interesses
juridicamente protegidos e susceptíveis de legítima defesa. Acontece todavia
que A, ao ser surpreendido, só não terá desaparecido, saindo da moradia,
porque M disso o impediu. Com o que bem se pode pôr em dúvida a
actualidade dessa apontada agressão. Com efeito, no momento em que M
impede a saída de A, fica totalmente excluído o perigo que anteriormente
ameaçava o correspondente bem jurídico. Por outro lado, M só poderia alegar o
M. Miguez Garcia. 2001
558
seu direito de defesa, em termos de se excluir a legítima defesa de A, se tivesse
actuado com a consciência de estar a defenderse. Para a existência deste
elemento subjectivo da justificação, é necessário que o autor conheça a agressão
ilícita e pretenda repelila. No entanto, M só pretendia reter A para ajustarem
contas e para conseguir com isso provas da infidelidade da mulher, não
existindo qualquer sinal de que M estivesse motivado por uma vontade
subjectiva de defesa. Vendose assim na necessidade de se defender, A actuou
para repelir uma agressão actual e ilícita. Embora no caso se verifiquem os
requisitos da actuação em legítima defesa, A agiu com manifesto excesso nos
meios empregados, por não se justificar que, para deter a agressão, fosse
necessário golpear o seu antagonista na cara, de molde a fracturarlhe a cana do
nariz, numa altura em que este acabava de ser desapossado da garrafa de que o
defendente justamente se serviu. A lesão produzida na pessoa de M deve ser
considerada antijurídica. Havendo excesso dos meios empregados em legítima
defesa o facto é ilícito mas a pena pode ser especialmente atenuada (artigo 33º,
nº 1, do Código Penal). Todavia, o agente não é punido se o excesso resultar de
perturbação, medo ou susto não censuráveis (artigo 33º, nº 2). A legítima defesa
justifica apenas as acções defensivas que são necessárias para afastar uma
agressão actual e ilícita da forma menos gravosa para o agressor. Se o
defendente ultrapassa esse limite, actua ilicitamente (excesso intensivo de legítima
defesa). O defendente actua também ilicitamente se se defende em caso de
ataque que não seja actual ou tenha deixado de o ser (excesso extensivo de
legítima defesa). No 1º caso o autor excedese na medida, no 2º transgride os
limites temporais da legítima defesa.
Quando o ordenamento jurídico manda que o defendente, em caso de
legítima defesa, deve escolher o meio defensivo menos gravoso, não obstante a
situação de perigo e de apuro, colocao perante uma tarefa árdua, pois tem que
conservar a serenidade e a obediência ao direito numa situação em que o
autodomínio se perde facilmente. Acresce a isto que o defendente tem de se
haver com a lesão que tenha sofrido. Por isso, já no século passado se admitiu a
possibilidade de uma atenuação penal. Chegouse mesmo a equiparar o excesso
devido a perturbação, medo ou susto com a própria legítima defesa no § 41 do
StGB prussiano de 1851.
Hoje em dia, como se viu, também no direito português o autor “não é punido”,
segundo o artigo 33º, nº 2, se ultrapassou os limites da legítima defesa por perturbação, medo
ou susto não censuráveis.
Tratade de uma causa de desculpação. É certo que o facto continua a ser
ilícito e que apenas se reduziu o seu conteúdo de culpa. Porém, o legislador
renuncia a formular a censura por culpa por considerar tão diminutos o
M. Miguez Garcia. 2001
559
conteúdo do ilícito e a culpa pelo facto que não se alcança o patamar do
merecimento penal. No excesso de legítima defesa o desvalor do resultado
diminui na medida do valor do bem protegido pelo autor, o desvalor da acção
fica anulado em boa parte pela situação de legítima defesa e a vontade de
conservação; a culpa toma outro aspecto, já que a perturbação, o medo e o susto
dificultaram o essencial da formação da vontade com referência à norma. A
perturbação, medo ou susto hãode ser realmente a causa do excesso de
legítima defesa, e para que haja impunidade haverá que exigir um grau elevado
de estado anímico. Podendo intervir também outras manifestações anímicas,
como a ira, o ardor da luta, o ódio ou a indignação, só serão, no entanto,
decisivos os factores asténicos. (H.H. Jescheck, AT, 4ª ed., 1988, p. 442 e s.).
No presente caso, ainda que actuando com intenção de defesa (animus
defendendi), A não utilizou os meios necessários para fazer cessar a agressão. Um
desses meios seria o do recurso à força pública, que, no entanto, se vê logo
como impraticável, pois o comportamento de M fora determinado justamente
pela ausência da polícia no local. De qualquer forma, e como já se acentuou, não
se justifica que, para deter uma agressão que o agressor só podia continuar com
as mãos, se golpeie o antagonista na cara com a garrafa que o defendente
acabara de lhe arrebatar. A situação é a de excesso de legítima defesa,
enquadrável na previsão do artigo 33º, susceptível de uma punição
especialmente atenuada (artigo 72º). Não se descarta, contudo, o acerto da
absolvição, se a favor de A pudermos garantir o excesso resultante de
perturbação, medo ou susto não censuráveis, que só a escassez da prova nos
impede de afirmar em definitivo.
CASO nº 23F: Excesso de legítima defesa não punível; excesso asténico
e não censurável.
A matou B, seu irmão. Com uma faca de cozinha, A desferiu um golpe no tórax da
vítima, causandolhe, como consequência directa e necessária, ferida cortoperfurante
transfixiva do lobo superior do pulmão esquerdo, e lesão determinante da morte. O Tribunal,
considerando que A agiu em legítima defesa, com excesso asténico do meio utilizado, não
censurável e, por isso, não punível, de acordo com o artigo 33º, nº 2, com referência ao artigo
32º, absolveuo.
O Supremo (acórdão de 5 de Junho de 1991, BMJ408180) confirmou a
decisão. Provouse que: —Houve por parte da vítima uma agressão actual, ou seja, um
desenvolvimento iminente aos interesses pessoais (integridade física) de A e ilícita, por o seu
autor não ter o direito de a fazer, já que a primeira se aproximou do segundo e seguiuo,
mesmo quando este recuou para o interior da cozinha, com o propósito de o agredir a murro e
a pontapé, tal como já o fizera a uma irmã, a um irmão e ao pai de ambos. — Houve por parte
de A agressão à vida da vítima em defesa do bem acima referido, como meio necessário, na
impossibilidade manifesta de recorrer à força pública. para repelir ou paralisar a actuação do
M. Miguez Garcia. 2001
560
agressor, actual e ilícita. — A actuou com o propósito de defesa, com animus defendendi. —
Mas com uso de meio excessivo, injustificável, irracional, para se defender, através de meio
letal. — O excesso do meio usado pelo A ficou a deverse ao medo que o A tinha da vítima,
pessoa que, embora mais baixa de estatura, era mais encorpada e mais forte do que ele e tinha
praticado luta gregoromana, de tal modo que já por diversas vezes o havia agredido e
obrigado a tratamento hospitalar.
Há que considerar aquele excesso como asténico e não censurável, por
falta de culpa, com a consequente não punição do A, uma vez que sem culpa
não há punição criminal.
Cf. o acórdão do STJ de 10 de Fevereiro de 1994, BMJ434286: A repeliu uma
agressão actual e ilícita (tiro de arma de fogo contra ameaças de agressão corporal, antecedidas
de insultos). Provouse o medo prolongado de A, de 77 anos, convencido de que a vítima,
homem forte, de 30 anos, o ia atacar, bem como a sua mulher, com mais de 90, na sua própria
casa: excesso de legítima defesa não punível artigo 33º, nº 2.
Cf. também o acórdão do STJ de 11 de Maio de 1983, BMJ327476: A vítima
preparavase para agredir o réu, pois logo que se deparou com ele disselhe: "É agora o fim da
tua vida". Então, convencido de que a vítima o ia matar, o réu foi imediatamente buscar a
caçadeira e, metendolhe dois cartuchos, disparoua contra a vítima. As palavras ameaçadoras,
proferidas por um homem como a vítima, não podem ser minimizadas. Este criara a imagem
dum marginal perigoso, andava sempre armado, trazia as pessoas em sobressalto, chegara a
abrir fogo contra agentes da GNR. A atitude da vítima denuncia claramente o perigo de uma
agressão ilegal iminente, não motivada por provocação, ofensa ou qualquer crime actual
praticado pelo réu. Houve, todavia, excesso nos meios empregados, mas o réu estava muito
perturbado, agindo dominado pelo medo de que a vítima viesse a concretizar as suas ameaças:
medo desculpável. O réu foi absolvido.
CASO nº 23G: Excesso de legítima defesa punível.
A parou o carro que conduzia na Rua do Progresso para conversar com X, sua
companheira. B aproximouse do veículo e bateu na janela fechada. A abriu a janela e B pediu
lhe 50 escudos, que A lhe negou, após o que arrancou. Mais tarde, no Bairro do Aleixo, quando
A com a companheira e os filhos saía do carro, B dirigiuselhe dizendo: "Agora, filho da puta,
passa para cá o dinheiro; voute roubar, filho da puta, passa para cá o dinheiro". A e B ficaram
frente a frente. A avançou então para B munido de um instrumento cortoperfurante, espetouo
no tórax, atingindo o coração. A representou a morte de B como consequência possível do seu
acto de espetar, no corpo dele, o instrumento cortoperfurante, mas espetouo, conformandose
com a morte, que veio a ocorrer. (Cf. o ac. do STJ de 11 de Dezembro de 1996, BMJ462207).
O homicídio privilegiado difere do homicídio com atenuação especial da
provocação pela diferença de grau de intensidade da emoção causada pela
ofensa e ambos diferem da legítima defesa, "grosso modo", porque nos
primeiros o agente, ao contrário do último, não actua com animus defendendi.
E o excesso de legítima defesa não se enquadra em alguns daqueles porque o
agente actua com a intenção de se defender mas exorbitando nos meios
empregados. No caso, verificavase a circunstância da provocação injusta
M. Miguez Garcia. 2001
561
prevista na al. b) do nº 2 do artigo 72º, mas a reacção não foi proporcional à
ofensa, pelo que não é enquadrável na previsão do artigo 133º. A cometeu,
como autor material, um crime de homicídio do artigo 131º, mas em excesso de
legítima defesa, nos termos do artigo 33º, nº 1, por excesso dos meios
empregados. A, quando desferiu o golpe, encontravase enervado e exaltado
pelo comportamento de B: as circunstâncias recomendam a atenuação especial
da pena, facultada no artigo 33º, nº 1 (artigo 73º). Pena concreta: 3 anos e 2
meses de prisão. Escrevese no acórdão: "a aplicação deste regime exclui a
aplicação de qualquer outro".
CASO nº 23H: Insistese em que o excesso de legítima defesa pressupõe
a legítima defesa.
A, que andava incompatibilizado com B, agrediuo a certa altura a socos e a pontapés,
sem dar qualquer explicação. Por causa dessas agressões, B não sofreu lesões graves, cuja
natureza o obrigasse designadamente a receber tratamento hospitalar. A determinada altura,
estando A e B a uma distância não superior a um metro um do outro e A se preparava para
continuar a agredir B a soco, este, já em estado de exaltação, empunhou uma pistola que trazia
consigo e apontandoa ao tórax de A disparou pelo menos 3 tiros, atingindoo com 2 balas
nessa região do corpo e com uma bala na região abdominal, que foram causa necessária e
adequada da sua morte. B disparou "com intenção de matar a vítima, querendo dessa forma
obstar a que esta continuasse a agredilo".
A situação corresponde à que foi tratada no acórdão do Supremo de 12 de
Junho de 1997, assim parcialmente sumariado: sem legítima defesa, nos seus
pressupostos, não pode ter lugar o excesso de legítima defesa. E assim, quando o agente, para
pôr termo a uma agressão a soco e a pontapé, dispara três vezes uma pistola para uma zona
vital do corpo do agressor, a uma distância não superior a um metro, não pratica o acto em
legítima defesa nem com excesso de legítima defesa, mas sim um crime de homicídio
voluntário simples (ac. do STJ de 12 de Junho de 1997, CJ, ano V (1997), p. 238).
"O revide a um ataque passado é represália ou vingança. Jamais legítima
defesa." Paulo José da Costa Jr., p. 60.
CASO nº 23I: Criação propositada da aparência de uma situação de
legítima defesa.
Num café duma vila beirã, houve uma escaramuça inicial entre A e B, provocada por
este: logo após a entrada do A no café, o B insistiu em humilhar e agredir o seu antagonista,
dizendolhe, inclusivamente, “Ah, ladrão, que te heide matar”, ao que o outro respondeu: “Se
queres matarme, matame”. Pouco depois, o A voltou ao café, pediu água quente para
descongelar o párabrisas do carro, regressou ali para devolver a garrafa vazia e pediu uma
cerveja, tendo permanecido no interior do café até que este fechou e todos saíram. O A foi à
frente, o B atrás e, saindo quase ao mesmo tempo, dirigiramse cada um para os respectivos
carros, estacionados do outro lado da rua. O B, que se encontrava manifestamente embriagado,
foi ao seu carro donde retirou uma bengala. O A retirou, por sua vez, um revólver do seu carro.
O B então desferiu uma bengalada na cabeça do outro e o A, cambaleante, em resposta,
efectuou um disparou com o revólver, atingindo o B numa parte não apurada do corpo. Por
M. Miguez Garcia. 2001
562
causa da bengalada, o A veio a cair do outro lado da estrada, tendo sido seguido pelo B, que o
pretendia agredir pela segunda vez com a bengala. Receando ser de novo atingido, o A
efectuou mais quatro disparos. Os cinco tiros atingiram o B, designadamente no tórax e no
abdómen, tendo um deles atingido órgãos vitais, provocando a morte do B como causa directa
e necessária. O A agiu voluntária, livre e conscientemente, com o propósito de matar o B.
Uma vez que A deu vários tiros na pessoa de B fica desde logo
comprometido com a tipicidade do artigo 131º. A disparou e B morreu. A morte
foi produzida pelos tiros disparados por A. Este agiu dolosamente, com
conhecimento e vontade de realização do tipo de ilícito indicado. A sabia que
matava B (outra pessoa) com os tiros e quis isso mesmo. Tratase agora de saber
se se encontra presente qualquer causa de justificação ou de desculpação.
O Tribunal de Trancoso condenou A como autor material de um crime de homicídio com
atenuação especial da pena (artigos 72º, nºs 1 e 2, alínea b), 73º, nº 1, alíneas a) e b), e 131º) na
pena de 5 anos de prisão. O A recorreu, desde logo por entender que agiu em legítima defesa.
Argumenta ter praticado o facto como meio necessário para evitar a sua morte, intentando
repelir a agressão que se iniciara e era actual e ilícita. Além disso, quis defenderse e a
existência de vários tiros não retira o animus defendendi, pois um homem médio não tem tempo
para pensar, após levar uma arrochada na cabeça que o atira à distância. O Supremo (acórdão
de 7 de Dezembro de 1999, BMJ492159, relator Conselheiro Martins Ramires) entendeu que se
não configura “situação de legítima defesa”, pois o que existe é a propositada criação, pelo A,
da “aparência de uma situação de legítima defesa”. O A andou a entrar e a sair do café;
entretanto, o B, que se encontrava com uma elevada taxa de alcoolémia no sangue,
permanecera sempre ali e não há referência a que se tivesse intrometido de novo com o A,
apesar daquelas idas e voltas deste, e só saiu quando saiu toda a gente, incluindo o A. Porque
não foi o A embora enquanto o B estava no café, sabendose (porque também ficou provado)
que este era pessoa conflituosa? Cá fora, o A podia terse metido na viatura e partido, ma optou
por aguardar que o B estivesse armado com a bengala para, munido do revólver e
empunhandoo em direcção àquele, se dirigir para a vítima, encurtando assim a distância entre
os dois de modo a instigar o B a desferirlhe a bengalada e a poder ser por ela atingido, em vez
de o intimidar com o revólver, mantendose fora do alcance da bengala manejada pelo B.
Não pode por isso deixar de concluirse, como se fez no acórdão do
Supremo, que o A, conhecedor do temperamento conflituoso e agressivo do B,
quis tirar desforço da humilhação que este lhe infligira — e provocou
deliberadamente uma situação objectiva de legítima defesa, para deste modo
alcançar, por meio ínvio, a impunidade de um ataque que fez desencadear
propositadamente. Não há assim legítima defesa. E porque não há legítima
defesa, também se não configura excesso de legítima defesa, porque este
pressupõe a existência de uma situação autêntica de legítima defesa a que se
responde com excessos dos meios empregados.
M. Miguez Garcia. 2001
563
IX. Palavraschave.
Abuso do direito; acção directa; actuação em erro sobre um estado de coisas que, a
existir, excluiria a ilicitude do facto; adequação social; agressão actual e ilícita de interesses
juridicamente protegidos do agente ou de terceiro; agressão frustrada; agressão ilícita e actual,
dolosa, censurável e não insignificante; agressões de crianças, doentes mentais notórios e de
pessoas manifestamente embriagadas; agressões insignificantes; animus defendendi; causas de
desculpação; causas de justificação implícitas; causas de justificação ou de exclusão da ilicitude;
conduta ilícita ou conduta justificada; Convenção Europeia dos Direitos do Homem; crassa
desproporção dos bens; critério de proporcionalidade entre os bens jurídicos que são
sacrificados pela defesa, por um lado, e os que são ameaçados pela agressão, por outro; defesa
de protecção e defesa agressiva; direito de defesa; direito de necessidade defensivo; direito de
necessidade; doutrina do ilícito pessoal; equidade; erro objectivamente inevitável; estado de
necessidade defensivo; estado de necessidade do direito civil; excesso asténico (perturbação,
medo, susto) e esténico (cólera, ira); excesso de legítima defesa não punível e excesso de
legítima defesa punível; o excesso de legítima defesa pressupõe a legítima defesa; excesso
intensivo; excesso nos meios conscientemente dirigido v. g. ao castigo do primeiro agressor;
flagrante desproporção entre os interesses do defendente postos em perigo pelo ataque e os do
agressor sacrificados pela necessidade da defesa; ilicitude objectiva; legítima defesa antecipada;
legítima defesa ilimitada e legítima defesa limitada ou moderada; legítima defesa preventiva;
legítima defesa putativa; limitações éticosociais da legítima defesa; limites temporais da
legítima defesa; meio necessário para repelir a agressão; não exigibilidade; necessidade de
defesa; necessidade de protecção de bens colocados em perigo; norma proibitiva e norma
permissiva; princípio da solidariedade; provocação intencional (préordenada) e provocação
não intencional; ratio individual de autoprotecção; risco permitido; salvaguarda da ordem
jurídica; situação análoga à legítima defesa; teoria da eficácia da defesa; teoria da permanência
da consumação; turpis fuga; tutela dos interesses individuais ameaçados pela agressão;
unidade da ordem jurídica; violação de um dever de cuidado; vontade de defesa.
X. Outras indicações de leitura
• Sobre movimentos alternativos ao monopólio estatal da força (empresas privadas de
segurança, milícias de bairro, movimento do vigilantism nos Estados Unidos): cf. a monografia
de Iglesias Río adiante referida, nomeadamente, p. 282 e ss.
• Artigo 151º, nº 2, do Código Penal: A participação em rixa não é punível quando for
determinada por motivo não censurável, nomeadamente quando visar reagir contra um
ataque, defender outrem ou separar os contendores.
• DecretoLei nº 457/99, de 5 de Novembro de 1999, aprova o regime de utilização de armas
de fogo e explosivos pelas forças e serviços de segurança. De acordo com os artigos 2º, nº 1, e
3º, nº 2, "o recurso a arma de fogo só é permitido em caso de absoluta necessidade, como
medida extrema, quando outros meios menos perigosos se mostrem ineficazes, e desde que
M. Miguez Garcia. 2001
564
proporcionado às circunstâncias, só sendo de admitir o seu uso contra pessoas quando tal se
revele necessário para repelir agressões que constituam um perigo iminente de morte ou
ofensa grave que ameace vidas humanas."
• Direito de legítima defesa jurídicocivil (art. 337º do Código Civil): cf. Figueiredo Dias,
Textos de Direito Penal, 2001, p. 206 e ss.
• Acórdão da Relação de Coimbra de 9 de Outubro de 2001, CJ ano XXVI 2001, tomo IV, p.
24: acção directa — artigo 336º do Código Civil.
• Acórdão da Relação do Porto de 17 de Março de 1999, CJ, 1999, tomo II, p. 220: pressuposto
da "necessidade" da acção directa.
• Acórdão do STJ de 10 de Dezembro de 1998, processo nº 1084/98: sendo a matéria de facto
perfeitamente elucidativa de que o disparo efectuado pelo arguido teve lugar quando já havia
terminado a agressão de que tinha sido vítima, bem como de que a sua conduta se ficou a
dever a uma mera atitude de desforço, inexistindo actualidade da agressão ou animus
defendendi, inexiste legítima defesa ou o seu excesso.
• Acórdão do STJ de 12 de Junho de 1997, BMJ468129: agente que, para pôr termo a uma
discussão a soco e a pontapé, dispara três vezes uma pistola para uma zona vital do corpo do
agressor, a uma distância não superior a 1 metro: o acto não é praticado em LD nem com
excesso de LD, é um crime de homicídio voluntário simples.
• Acórdão do STJ de 16 de Janeiro de 1990, CJ, 1990, tomo I, p. 13: medida da pena aplicável
ao crime de homicídio voluntário tentado, cometido com excesso de legítima defesa: atenuação
especial do artigo 33º, nº 1, e o disposto no artigo 23º, nº 2, para a punição do crime tentado.
• Acórdão do STJ de 19 de Março de 1998, Processo nº 1413/97 3.ª Secção: A chamada
"legítima defesa putativa" e o excesso de legítima defesa não se confundem: A primeira,
traduzse na errónea suposição de que se verificam, no caso concreto, os pressupostos da
defesa: a existência de uma agressão actual e ilícita. A «perturbação, medo ou susto não
censuráveis» de que fala o n.º 2, do artº 33, do CP, respeita ao «excesso dos meios empregados
em legítima defesa», isto é, aos requisitos da legitimidade da defesa: necessidade dos meios
utilizados para repelir a agressão. Uma coisa é o erro sobre a existência de uma agressão actual
e ilícita no qual o agente desencadeia a defesa (legítima defesa putativa), e outra distinta, a
M. Miguez Garcia. 2001
565
irracionalidade, imoderação ou falta de temperança nos meios empregues na defesa,
resultantes do estado afectivo (perturbação ou medo) com que o agente actua.
• Acórdão do STJ de 19 de Novembro de 1998, CJ VI (1998), tomo III, p. 221: tendo a acção do
arguido ocorrido após ter terminado a agressão de que foi vítima, não existe legítima defesa e,
não existindo esta, não pode falarse em excesso de legítima defesa.
• Acórdão do STJ de 21 de Janeiro de 1998, BMJ473133: caso da prostituta brasileira. LD,
não punibilidade; conduta ilícita da vítima, in dubio pro defendente; excesso culposo e doloso.
Tem voto de vencido. Neste caso, o tribunal considerou correctamente que se usou do meio
necessário para repelir a agressão, afirma Figueiredo Dias, Textos, p. 188.
• Acórdão do STJ de 25 de Junco de 1992, BMJ418569: legítima defesa, direito de
necessidade, estado de necessidade desculpante, excesso de legítima defesa.
• Acórdão do STJ de 26 de Maio de 1994, CJ, ano II (1994), tomo II, p. 239: não existe excesso
de LD, mas excesso extensivo, a pretexto de legítima defesa, nem conduta em estado de
perturbação, medo ou temor quando objectivamente não existe ou não existe já uma situação
de LD, nomeadamente por o arguido ter feito terminar a agressão de que tinha sido vítima.
• Acórdão do STJ de 7 de Dezembro de 1999, BMJ492159: não se pode considerar agindo
em legítima defesa aquele que provoca deliberadamente uma situação objectiva de legítima
defesa para alcançar, por esse meio ínvio, a impunidade de um ataque desencadeado
propositadamente já com intenção de matar o agressor.
• Américo A. Taipa de Carvalho, A Legítima Defesa, dissertação de doutoramento, 1995.
• Antolisei, Manuale di diritto penale, PG, 10ª ed., Milão, 1985.
• Carolina Bolea Bardon, El exceso intensivo en la legítima defensa, ADPCP, vol. LI, 1998.
• Claus Roxin, As restrições éticosociais ao direito de legítima defesa, in Problemas
Fundamentais de Direito Penal.
• Costa Andrade, O princípio constitucional “nullum crimen sine lege” e a analogia no campo
das causas de justificação, RLJ ano 134º, nº 3924.
• Eb. Schmidhäuser, Die Begründung der Notwehr, GA 1991, p. 97 e ss.
• Eb. Schmidhäuser, Zum Begriff der Rechtfertigung im Strafrecht, Fest. für K. Lackner, 1987.
• Eduardo Correia, Crime de ofensas corporais voluntárias, CJ, ano VII (1982), tomo 1.
• Eduardo Correia, Direito Criminal, I, p. 418; II, p. 49.
M. Miguez Garcia. 2001
566
• Eduardo Maia Costa, Evasão de recluso, homicídio por negligência, comentário ao ac. do
STJ de 5 de Março de 1992, RMP (1992), nº 52.
• Enrique Gimbernat Ordeig, Rechtfertigung und Entschuldigung bei Befreiung aus
besonderen Notlagen, in Rechtfertigung und Entschuldigung, III, her. von A. Eser und W.
Perron, Freiburg, 1991.
• Eser/Burkhardt, Strafrecht I, 4ª ed., 1992; em tradução espanhola: Derecho Penal,
Cuestiones fundamentales de la Teoría de Delito sobre la base de casos de sentencias, Ed.
Colex, 1995.
• F. Haft, Strafrecht, AT, 6ª ed., 1994.
• Fernando Conde Monteiro, A Legítima Defesa: Um Contributo para a sua Fundamentação,
dissertação de mestrado, 1994.
• Fernando J. F. Araújo de Barros, Legítima defesa, 1980.
• Francisco Muñoz Conde, Derecho Penal, PG, 1993
• Francisco Muñoz Conde, "Legítima" defensa putativa? Un caso límite entre justificación y
exculpación, in Fundamentos de un sistema europeo del derecho penal, 1995, p. 183. Publicado,
em tradução portuguesa, na RPCC 6 (1996), p. 343.
• Francisco Muñoz Conde, Teoria general del delito, 1991.
• G. Bettiol, Direito Penal, II, Coimbra, 1970.
• H.H. Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts: Allg. Teil, 4ª ed., 1988, de que há tradução
espanhola.
• J. J. Gomes Canotilho, Actos autorizativos jurídicopúblicos e responsabilidade por danos
ambientais, BFD (1993), p. 23.
• Jorge de Figueiredo Dias, Legítima defesa, Pólis.
• Jorge de Figueiredo Dias, Liberdade, culpa, direito penal, 1976, p. 244.
• Jorge de Figueiredo Dias, Pressupostos da Punição e causas que excluem a ilicitude e a
culpa, in Jornadas de Direito Criminal, ed. do CEJ.
• Jorge de Figueiredo Dias, Textos de Direito Penal. Doutrina geral do crime. Lições ao 3º
ano da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, elaboradas com a colaboração de
Nuno Brandão. Coimbra 2001.
• José Cerezo Mir, Curso de derecho penal español, Parte general, II, 5ª ed., 1997.
M. Miguez Garcia. 2001
567
• José Cerezo Mir, Las causas de justificación en el derecho penal español, Fest. für H. H.
Jescheck, 1985, p. 441 e ss.
• José de Faria Costa, O Perigo em Direito Penal, p. 392.
• José Faria Costa, O direito penal económico e as causas implícitas de exclusão da ilicitude,
in Direito Penal Económico, CEJ, 1985.
• Julio Fioretti, Sobre a Legítima Defeza, Lisboa, Clássica Editora, 1925. Tradução de "Su la
legittima difesa", Torino, publicada, pela primeira vez, em 1886.
• K. Kühl, Die "Notwehrprovokation", Jura 1991, p. 57 e ss.
• K. Kühl, Strafrecht, AT, 1994.
• Luzón Peña, Curso de Derecho Penal, PG I, 1996.
• Maria da Conceição S. Valdágua, Aspectos da legítima defesa no Código Penal e no Código
Civil, 1990.
• Maria Fernanda Palma, A justificação por legítima defesa como problema de delimitação
de direitos, 1990.
• Maria Fernanda Palma, Justificação em Direito Penal: conceito, princípios e limites, in
Casos e Materiais de Direito Penal, Coimbra, 2000, p. 109.
• Maria Fernanda Palma, Legítima defesa, in Casos e Materiais de Direito Penal, Coimbra,
2000, p. 159.
• Maria Fernanda Palma, O estado de necessidade justificante no Código Penal de 1982, in
BFD, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Eduardo Correia, III, 1984.
• Marnoco e Sousa, A legítima defesa no direito penal português, Estudos Jurídicos, Abril,
1903, nº 4.
• Miguel Ángel Iglesias Ríos, Fundamentos y requisitos estructurales de la legítima defensa,
Granada, 1999.
• Rui Carlos Pereira, Justificação do facto e erro em direito penal.
• Teresa Pizarro Beleza, Legítima defesa e género feminino; paradoxos da "feminist
jurisprudence"', in Jornadas de Homenagem ao Prof. Doutor Cavaleiro de Ferreira, 1995.
• Teresa Quintela de Brito, O direito de necessidade e a legítima defesa no Código Civil e no
Código Penal, 1994.
• Vaz Serra, Abuso do direito em matéria de responsabilidade civil, BMJ85243.
M. Miguez Garcia. 2001
568
• Vaz Serra, Causas justificativas do facto danoso, BMJ85, esp. p. 69 e ss. sobre a acção directa
(Selbsthilfe).
M. Miguez Garcia. 2001
569
§ 24º O estado de necessidade
I. Estado de necessidade. Colisão de deveres. Causação do resultado; violação
do dever de cuidado; imputação objectiva do resultado; conexão de ilicitude;
comportamento lícito alternativo; doutrina do aumento do risco; princípio da
confiança.
• CASO nº 24: A é médico e o único especialista em doenças dos rins na região. Na noite
de Fim de Ano, cerca da uma hora, A foi chamado de urgência por D, sua doente, que
vem sendo submetida a diálises periódicas. Dado o estado da paciente, A sabia que
na ausência de cuidados imediatos a vida de D correria perigo. Por isso, e porque
tinha ingerido uma boa quantidade de álcool (como médico sabia que a taxa de álcool
no sangue deveria andar por 1,4 g/l, como efectivamente acontecia), chamou um táxi.
Foi em vão: não havia táxis disponíveis àquela hora. Contrariado, acabou por se pôr
ao volante do seu próprio carro, a caminho da casa de D. Quando, porém, seguia por
uma das ruas da localidade, de repente, sem que nada o fizesse prever, apareceulhe
na frente do carro H, que saíra alegremente de uma festa ali ao lado e por breves
instantes tinha estado parado atrás de um muro, à beira da rua, sem que o condutor o
pudesse ter visto antes. Foilhe impossível evitar embater no peão, não obstante
seguir a velocidade que não era superior à velocidade regulamentar de 50 km/h. A
vítima sofreu ferimentos graves e caiu, inconsciente, no chão. A parou, saiu do carro,
mas viu logo que para salvar a vida de H tinha que o transportar imediatamente ao
hospital. E assim fez, pelo caminho mais rápido, sabendo muito bem que punha em
jogo a vida da sua doente renal. Logo que deixou H no hospital, A dirigiuse
imediatamente para casa da doente. Mal chegou, apercebeuse da morte desta,
ocorrida poucos minutos antes. Se A tivesse chegado uns minutos mais cedo, D,
muito provavelmente teria sido salva. A deu conhecimento do atropelamento à
polícia. Cf. M. Aselmann e Ralf Krack, Jura 1999, p. 254 e ss., cuja proposta de solução
M. Miguez Garcia. 2001
570
serviu de apoio a estas notas. Cf., igualmente, Bockelmann / Volk, AT, p. 99, e Otto,
AT, p. 131.
Punibilidade de A ?
1. O atropelamento de H.
i) Punibilidade de A por ofensas corporais por negligência (artigo 148º, nº
1).
Do acidente resultaram ofensas corporais graves na pessoa de H, pelo que
A pode estar comprometido com o disposto no artigo 148º, nº 1.
A estava obrigado a pôr na condução que empreendeu os necessários
cuidados. Seguia pela via pública, ao volante do seu automóvel, não obstante a
taxa de álcool no sangue ser superior a 1,2 g/l e deste modo contrariar o
comando do artigo 292º do Código Penal. Todavia, é duvidoso que o resultado
típico, as lesões corporais na pessoa de H, possa ser objectivamente imputado a
A. A causação do resultado e a violação do dever de cuidado, só por si, não
preenchem o correspondente ilícito típico. Tratandose de ofensas à integridade
física, acresce a necessidade da imputação objectiva do evento. Este critério
normativo pressupõe uma determinada conexão de ilicitude: não basta para a
imputação de um evento a alguém que o resultado tenha surgido em
consequência da conduta descuidada do agente, sendo ainda necessário que
tenha sido precisamente em virtude do carácter ilícito dessa conduta que o
resultado se verificou.
• "Podemos conceber situações em que há uma violação do dever objectivo de cuidado e,
todavia, em termos de imputação objectiva, o resultado não poder ou não dever ser
imputado ao agente. Basta para isso pensar em um qualquer caso que a
jurisprudência e a doutrina alemãs já sedimentaram, transformandoos em exemplos
de escola. Enunciemolos: a) o caso do ciclista embriagado (A) que é ultrapassado por
um camião que ao desrespeitar as regras de trânsito o atropela mortalmente com o
rodado anterior; b) a hipótese do farmacêutico que não cumprindo a receita médica
avia, várias vezes, a pedido da mãe, doses de fósforo para uma criança que vem a
morrer por intoxicação; c) o caso do director de uma fábrica que, não cumprindo as
disposições legais, não desinfecta os pelos de cabra, importado da China,
provocando, assim, a morte de quatro trabalhadores; d) a hipótese do médico que
anestesia com cocaína, não cumprindo as leges artis, já que o indicado na situação
seria a aplicação de novocaína, o que provoca a morte do paciente. (...). Uma tal
M. Miguez Garcia. 2001
571
enunciação e o seu tratamento pela doutrina alemã permitenos ter imediata
consciência de que, para uma parte da doutrina, alguns daqueles casos, conquanto
haja em todos violação de dever objectivo de cuidado, se radicalizam em uma
ausência de imputação objectiva do facto ao agente. Daí que, se a violação do dever
objectivo de cuidado é condição necessária para que o facto nas acções negligentes
possa ser objectivamente imputado ao agente, é também certo que a não imputação
do facto passa necessariamente pela ausência de violação do dever objectivo de
cuidado. Por outras palavras: as acções negligentes de resultado pressupõem uma
estrutura limitadora da responsabilidade que se perfila de forma dúplice: de um lado,
a violação de um dever objectivo de cuidado (...), valorado também pelo critério
individual e geral, e de outro, a exigência de um especial nexo, no "sentido de uma
conexão de condições entre a violação do dever e o resultado". Prof. Faria Costa, O
perigo em direito penal, p. 487.
Na altura do acidente, A circulava à velocidade regulamentar, fazendoo
pela sua mão de trânsito. Um condutor sóbrio não teria procedido de outra
maneira —nomeadamente, não poderia ter previsto que um peão saísse
inopinadamente detrás de um muro, à beira da estrada, e se atirasse em correria
para debaixo do automóvel, sem dar ao condutor a mínima possibilidade de
travar ou de se desviar para não embater na vítima. Ora, uma vez que temos
como apurado que o comportamento lícito alternativo provocaria igualmente o
resultado danoso, este não deverá ser imputado ao condutor. Não obstante a
elevada taxa de álcool no sangue (TAS) do condutor, não se pode concluir que
os perigos daí advindos se tivessem concretizado no resultado típico, i. e. nas
ofensas à integridade física graves sofridas pelo atropelado. A doutrina do
aumento do risco chegaria aqui a idênticos resultados, porquanto a alcoolémia do
condutor não aumentou o risco de embater no peão. Observese, por outro lado,
que, de acordo com os critérios correntes do princípio da confiança, "ninguém terá
em princípio de responder por faltas de cuidado de outrem, antes se pode
confiar em que as outras pessoas observarão os deveres que lhes incumbem"
(Figueiredo Dias, Direito penal, sumários e notas, Coimbra, 1976, p. 73). Quem
actua de acordo com as normas de trânsito pode pois contar com idêntico
comportamento por banda dos demais utentes da via e A podia confiar em que
ninguém, de repente, sairia de detrás do muro nas apontadas circunstâncias. O
condutor só pode confiar que, pelo facto de agir segundo o direito, não pode ser
penalmente responsabilizado por factos que não pode evitar. No caso, o
M. Miguez Garcia. 2001
572
condutor não podia evitar o que aconteceu, porque, para além do mais, não
previu — nem tinha que prever — o resultado. Falta também aqui, como se vê,
um elemento essencial à imputação por negligência, que é a previsibilidade.
Podemos assim concluir que A não cometeu o crime de ofensas à integridade
física por negligência do artigo 148º, nº 1.
• "Há quem entenda — quanto a nós bem, adiantese — que o interagir motivado pelo
tráfego rodoviário só tem sentido se for compreendido através do princípio geral da
confiança. Mais do que o cumprimento das regras de cuidado, o que importa ter
presente é que, objectivamente, vigora a ideia de que qualquer utente da via tem de
confiar nos sinais, nas comunicações, dos outros utentes e tem, sobretudo, de confiar,
em uma óptica de total reciprocidade, na perícia, na atenção e no cuidado de todos os
outros utilizadores da via pública." Prof. Faria Costa, O Perigo, p. 488.
ii) Punibilidade de A pelo crime de condução perigosa de veículo
rodoviário (artigo 291º).
A conduzia em estado de embriaguez e atropelou H, que sofreu ferimentos
graves. O artigo 291º castiga quem conduzir veículo automóvel, com ou sem
motor, em via pública ou equiparada, não estando em condições de o fazer com
segurança, por se encontrar em estado de embriaguez ou sob influência de
álcool. Ponto é que se crie deste modo perigo para a vida ou para a integridade
física de outrem. Tratase, portanto, de crime de perigo concreto: o perigo é
elemento típico do crime. Para haver crime, seria então necessário demonstrar
que no caso o resultado de perigo teve origem na condução em estado de
embriaguez de A. Como logo se vê, houve um perigo que se concretizou,
chegou a ocorrer uma situação de dano para a integridade física do atropelado,
de que essa situação de perigo concreto foi um estádio intermédio. Todavia, não
foi o perigo decorrente da condução em estado de embriaguez que cristalizou
no evento danoso — a condução não ultrapassou o risco permitido na
correspondente actividade. Na verdade, só a conduta inadequada de H pode
explicar a realização do risco que ficou caracterizado. A não cometeu este crime.
iii) Punibilidade de A pelo crime de condução de veículo em estado de
embriaguez (artigo 292º).
A conduzia com uma TAS (taxa de álcool no sangue) superior a 1,2 g/l.
Faziao, como já se disse, por ser médico, com suficiente conhecimento de que a
taxa andaria por esse valor, e consequentemente com dolo eventual, na medida
em que igualmente se conformou com a condução nessas circunstâncias (artigo
14º, nº 3). Ainda assim, e porque a taxa estava muito perto do seu valor mínimo,
M. Miguez Garcia. 2001
573
sempre se poderia afirmar, pelo menos, a negligência do condutor, sendo certo
que a norma prevê igualmente a punição desta forma de culpa.
Reparese que em caso de conflito no cumprimento de deveres jurídicos
não é ilícito o facto de quem satisfizer dever de valor igual ou superior ao do
dever que sacrificar (artigo 36º, nº 1).
Existe uma situação de conflito de deveres quando o agente se encontra
pelo menos perante dois deveres jurídicos, com a consequência inevitável de só
poder satisfazer um à custa do outro. Em geral, distinguemse três grupos de
hipóteses. Ou o agente tem de obedecer a dois comandos (deveres de acção), por
ex., se um médico em caso de acidente presta os primeiros socorros apenas a
uma das vítimas, embora se lhe impusesse o dever de acudir a todas. Ou pode
haver colisão entre uma acção e uma omissão (conflito entre um dever de acção e
um dever de omissão), "questão que, como é sabido, foi abundantemente tratada
após (e em consequência das ordens criminosas dadas pelos "superiores" nazis)
a segunda grande guerra — é, hoje, maioritariamente, entendido que é uma
questão a equacionar e a resolver segundo os princípios e disposições do direito
de necessidade (geral — C. P., art. 34º — ou especiais — casos de detenção em
flagrante por autoridade (...)". Prof. Taipa de Carvalho, A Legítima Defesa, p. 172.
Há quem não aceite, porém, que se possa dar uma situação de colisão entre dois
deveres de omissão. O condutor que entra na autoestrada pela via de acesso
errada não pode voltar para trás nem seguir para a frente — nem pode ficar ali
parado, mas isso provavelmente não representa qualquer colisão de deveres,
uma vez que a situação se esgota em transgredir a norma que na condução em
estrada proíbe que se circule contra a mão.
No caso que nos ocupa, A, por um lado, tinha o dever de omitir a
condução em situação de alcoolémia (dever de omissão), por outro, era seu
dever prestar em tempo útil os cuidados de que a sua paciente estava tão
necessitada (dever de acção).
Acontece que a situação assim desenhada representa mais fielmente um
direito de necessidade.
• "O chamado "conflito de deveres", quando, verdadeiramente, coenvolver um problema de
justificação (de exclusão da ilicitude), é ao direito de necessidade que se deve
subsumir e como tal ser resolvido." Prof. Taipa de Carvalho, A Legítima Defesa, p. 173.
De acordo com o artigo 34º, não é ilícito o facto praticado como meio
adequado para afastar um perigo actual que ameace interesses juridicamente
protegidos de terceiro. Ponto é que se verifiquem os requisitos das três alíneas
seguintes. No caso concreto, existia um perigo actual para a vida da paciente,
M. Miguez Garcia. 2001
574
existia, portanto, uma situação de necessidade. Conduzir em estado de
alcoolémia até à casa da doente (acção em estado de necessidade) deveria ser —
e era, objectivamente—, a maneira necessária de afastar o perigo, coberta,
subjectivamente, pela vontade de salvar a vida da doente. A procurou em noite
de Fim de Ano um táxi, consciente de que não podia conduzir a sua própria
viatura, mas sem êxito. Por outro lado, A não estava em posição de chamar um
colega que fizesse o seu trabalho, pois era o único especialista da região e o
único que podia acudir à paciente. De forma que se não descortina um meio
menos gravoso, rodeado de menores custos, de afastar o perigo. Além disso, A
actuou com conhecimento da situação de necessidade. Finalmente, pode muito
bem garantirse que o interesse a salvaguardar era sensivelmente superior ao
interesse a sacrificar. Havia claramente um perigo concreto para a vida da
doente renal em contraposição com um perigo abstracto que era a segurança do
trânsito rodoviário. Os bens jurídicos protegidos num caso e no outro serão
idênticos, mas a segurança do trânsito tem a ver, de forma abstracta, com a
protecção da vida dos que andam nas ruas e estradas. O que é decisivo é a
proximidade e a probabilidade de se verificar o perigo. No crime de perigo
abstracto que é o do artigo 292º ocorre simplesmente a possibilidade, a
eventualidade, de pôr em perigo a vida de uma qualquer pessoa, é uma
situação de perigo presumido. O que estabelece a diferença com o artigo 291º é
que aqui se exige a concretização de um perigo para a vida de uma ou mais
pessoas. E assim, concretizado o perigo, a pessoa cuja vida correu perigo é A —
ou A e B —, e já não simplesmente A ou B ou C ou D, etc. Basta atentar nas
penas cominadas para os dois tipos de crime para se concluir que o peso recai
mais intensamente no crime de perigo concreto. Pode por isso dizerse que a
protecção da vida da doente, que estava em risco de morrer e morreu mesmo,
representa um interesse sensivelmente superior aos que têm a ver com a
segurança abstracta dos participantes no trânsito rodoviário. Com isto,
podemos concluir que a conduta de A está justificada por aplicação dos artigos
31º, nºs 1, e 34º.
• Todavia, e como se deixou dito, a solução poderá já ocorrer no domínio do artigo 36º, no
âmbito do conflito de deveres, com a vantagem de não ser necessário assentar na
sensível superioridade do interesse a salvaguardar, já que, no caso de conflito no
cumprimento de deveres jurídicos, não é ilícito o facto de quem satisfizer dever de
valor igual ou superior ao do dever que sacrificar. Contentandose a lei com um
dever de valor igual, a tarefa do intérprete ficará muito mais facilitada.
M. Miguez Garcia. 2001
575
Apontamento jurisprudencial. Cf. o acórdão da Relação de Lisboa de 5 de Maio de 1998, CJ
1998, tomo III, p. 141: A, em estado de embriaguez, conduziu a mulher ao hospital,
depois de esta ter sido acometida de doença súbita e grave — e de A ter, sem sucesso,
diligenciado por conseguir outro transporte. Apenas se admitiu no acórdão a exclusão
da culpa (artigo 35º). O Prof. Figueiredo Dias (Textos, p. 224) cita o acórdão da mesma
Relação de 19 de Junho de 1996 e comenta que no caso em que A, embriagado, conduziu
um automóvel para socorrer a mãe, que, sofrendo de doença grave e vivendo só, lhe
tinha telefonado dizendo que se sentia mal e necessitava de assistência — pode ser uma
conduta justificada se ela traduzir o meio único de conduzir em tempo um doente grave
ao hospital.
2. O que aconteceu depois.
i) Punibilidade de A: comissão por omissão do crime dos artigos 10º e 131º.
Uma vez que A não prestou o auxílio médico à sua paciente e esta morreu,
A pode ter cometido o crime em referência.
Deuse o resultado mortal e isso pode ser imputado a A, já que este, com
uma probabilidade quase a raiar a certeza, o podia ter evitado.
• A causalidade omissiva constróise em termos hipotéticos e não em termos naturalísticos.
O juízo formulado em matéria de causalidade omissiva é, por sua própria natureza,
fundado num método de estrutura probabilística e será tanto mais válido quanto
mais perto da certeza se encontrar.
"Uma vida não vale nada, mas nada vale uma vida. "
Arthur Koestler, Um Testamento Espanhol.
Como a doente estava a ser tratada por A, este encontravase em posição
de garante por vias do contrato estabelecido entre ambos (critério tradicional)
ou por assunção do dever de protecção e auxílio (critério doutrinal mais
recente). A conhecia a sua posição de garante, sabia que havia a possibilidade
de salvar a vida da doente e que esta podia morrer — houve, por isso, dolo da
sua parte. Não intervém o artigo 34º porque falta a sensível superioridade do
M. Miguez Garcia. 2001
576
interesse a salvaguardar, que é requisito da alínea b). A conduta poderá todavia
analisarse no âmbito da colisão de deveres. É certo que A tinha o dever de
garante perante a sua doente renal e não o tinha relativamente ao atropelado
— neste caso, a ingerência não vem acompanhada da culpa do condutor, nem o
acidente lhe pode ser ilicitamente atribuído. O responsável pelo acidente foi
sem dúvida nenhuma o peão. O dever de acudir à paciente renal seria
valorativamente mais elevado do que o de ajudar o peão atropelado. Háde
notarse contudo que no artigo 36º se não faz uma valoração deste tipo, o bem
jurídico da vida não é mensurável em função da idade ou de privilégios sociais,
nem em função de critérios exteriores como aqueles que vinham sendo
apontados. A estava em posição de apenas poder salvar uma das vidas —e foi
isso que fez. A conduta não é portanto ilícita.
“Autêntico conflito de deveres susceptível de conduzir à justificação existe apenas
quando na situação colidem distintos deveres de acção, dos quais só um pode ser cumprido”.
Figueiredo Dias, Textos, p. 239.
Mas se se rejeitarem os pressupostos justificadores da situação, i. e, se se
concluir que a conduta de A é ilícita, não se lhe poderá recusar os efeitos do
estado de necessidade desculpante, tal como decorrem do artigo 35º.
O direito de necessidade é uma causa de justificação que tem a ver com a
ponderação de interesses. O direito de necessidade (estado de necessidade
justificante) aproximase da legítima defesa: desde logo, a "agressão" é uma
manifestação de "perigo" para a pessoa do defendente, é um caso especial de
perigo (Kühl). E aproximase do estado de necessidade desculpante, primeiro,
pela semelhança dos respectivos elementos típicos; depois, por cumprirem a
sequência legal dos artigos 34º e 35º. Mas têm consequências diferentes, que é
bom ter sempre em atenção. Por outro lado, são várias as manifestações do
estado de necessidade justificante, incluindo as dos artigos 34º do Código Penal
e 339º do Código Civil e o já aludido estado de necessidade defensivo, supra
legal. Todas essas formas do estado de necessidade justificante são
concretizações dos princípios da necessidade e da ponderação de interesses.
Justificase a conduta típica quando, em situação de necessidade, havendo
sensível superioridade do interesse a salvaguardar relativamente ao interesse
sacrificado, for razoável impor ao lesado o sacrifício do seu interesse, i.e, dáse a
salvaguarda de um dos interesses à custa do outro (artigo 34º). Mas logo se vê
que a ponderação de interesses só se suscita como requisito do direito de
necessidade. Fora de uma situação de "necessidade" fica afastada tanto a
possibilidade de a conduta ser justificada como a de o agente ser desculpado.
M. Miguez Garcia. 2001
577
• Dáse uma situação de necessidade quando um perigo actual para um bem jurídico só for
removível através de uma acção típica que lesa ou põe em perigo um outro bem
jurídico. Bockelmann / Volk, AT, p. 96. São numerosas as situações de necessidade
em que existe um bem ou um interesse jurídico em perigo, cujo afastamento se faz à
custa de outro bem ou interesse jurídico. Um desses casos é a situação de legítima
defesa — o agressor cria um perigo que vai ser afastado à sua própria custa, mas
podem configurarse muitas outras variantes. A fonte do perigo pode, por ex., ser
uma coisa (ataques de animais, o fogo numa mata), ou pode empregarse coisa alheia
para afastar o perigo, e então teremos o afastamento do perigo à custa de terceiro. Cf.
Haf, p. 87.
O direito de necessidade do artigo 34º supõe desde logo um "perigo" que
ameaça interesses juridicamente protegidos do agente ou de terceiro. Há
situações a que, face às circunstâncias concretas, provavelmente se seguirá um
evento lesivo — são situações de perigo. Perigo é portanto a probabilidade séria
de dano, é o dano em potência. Do conceito de dano e do conceito de
probabilidade chegase assim ao de perigo.
• O juízo de probabilidade é resultado de um silogismo, em que a premissa maior é
representada por aquilo que sói acontecer (conhecimento nomológico) e a premissa
menor pelo caso concreto (conhecimento ontológico). Destarte, uma dose de veneno
costuma matar (conhecimento nomológico); Tício ministra uma taça de veneno a Caio
(conhecimento ontológico); logo, Tício provavelmente matará Caio. A probabilidade
é um critério apriorístico. Dele se parte para se chegar ao perigo. Probabilidade é
abstração de provável. Provável opõese a efectivo, como probabilidade (ou
possibilidade) opõese a efectividade. Efectivo é aquilo que já se verificou. Referese a
um processo causal já desenvolvido. Diz respeito ao passado, ou ao presente. Jamais
ao futuro. Provável, ao contrário, é aquilo que ainda não se efectivou. É um processo
causal in fieri (que está sendo feito), em estado embrionário. Projectase rumo ao
futuro. Quando aquilo que pode acontecer se realiza, a probabilidade se transmuda
em certeza. Probabilidade, porém, ainda não é certeza. É atitude potencial, é
possibilidade relevante de vir a ser. Paulo José da Costa Jr., Direito Penal Objetivo, p.
24.
M. Miguez Garcia. 2001
578
Mas é ainda de perigo a situação em que se encontra um bem jurídico cuja
lesão já se iniciou e pode ser continuada, pois o perigo não acaba
necessariamente com o começo da lesão. O dano não é um aliud, mas um plus,
relativamente ao perigo. No exemplo de Mitsch, quando as chamas que lavram
numa casa começam a "lamber" a casa do vizinho, esta fica em perigo. Do
mesmo modo, num edifício em chamas, há o perigo de o fogo alastrar e
danificar outras partes do mesmo edifício. Só quando se extingue o fogo ou a
casa ardeu completamente é que o perigo desaparece. A situação de perigo
distinguese de uma situação não perigosa pela existência de elementos que
tornam provável a imediata produção de um dano (Lenckner, S/S). Quando no
interior de uma casa de lavoura se deita um cigarro aceso para um molho de
palha, tornase provável, num juízo de prognose ex ante, o desencadear de um
incêndio. Portanto: um cigarro aceso deitado para um molho de palha
corresponde à criação de uma situação de perigo. Se não se ateia o fogo, mesmo
assim a situação não deixou de ser perigosa. Ainda que sem dano, o perigo
verificouse. Há coisas que, por vezes, ameaçam produzir danos — animais,
explosões, emissões tóxicas, queda de edifícios, ou fenómenos naturais, como as
tempestades, tremores de terra, avalanches, inundações, furacões (Mitsch, p.
329). No artigo 34º, a lei renova a expressão, vinda já do artigo 32º, "interesses
juridicamente protegidos do agente ou de terceiro" como sendo o objecto do
perigo — e aí reside uma diferença importante relativamente ao estado de
necessidade desculpante, onde se limita a ameaça à vida, à integridade física, à
honra ou à liberdade. Neste contexto, uma greve de fome, voluntariamente
assumida, ou uma tentativa de suicídio não representam uma situação de
perigo, mas se alguém é encontrado inconsciente na via pública, em estado que
faz perigar a vida, justificase o uso não autorizado de um carro alheio para o
transporte ao hospital.
O perigo deve ser actual, simultâneo ao facto. O perigo é actual se a
qualquer momento puder conduzir ao dano. Se no momento da prática do facto
já existe uma lesão do interesse protegido, o perigo é obviamente actual — aliás,
o que é decisivo não é propriamente a actualidade do perigo mas a situação de
constrangimento.
A situação de necessidade pode concretizarse num perigo para o agente
ou para terceiro (repare na expressão correspondente do artigo 32º: interesses
juridicamente protegidos do agente ou de terceiro). Exemplos: A causa lesões
corporais em B para salvar a própria vida. A causa lesões corporais em B para
salvar a vida de C. O pai, na casa em chamas, atira pela janela o filho que quer
salvar, mas à custa de ferimentos na criança. Neste caso, a vida do terceiro é
M. Miguez Garcia. 2001
579
salvaguardada à custa da integridade física do mesmo terceiro, havendo
portanto identidade entre o portador do interesse a salvaguardar e o portador
do interesse sacrificado.
A actuação (“o facto praticado”) deverá ser adequada para afastar o
perigo, de modo que não se justificam aquelas medidas que à partida não
oferecem a mínima possibilidade de eficácia. Podem existir diferentes modos de
afastar o perigo e se uma dessas modalidades produz menor dano, se é a menos
gravosa, corresponderá então ao meio adequado. O facto de esse meio coactivo
não ser substituível por outra medida menos gravosa tornao necessário.
• "Même dans la destruction, il y a un ordre, il y a des limites" (A. Camus, Les Justes).
Se houver outras variantes tão danosas como a considerada, então o
perigo não será removível de outro modo. A fuga e o afastarse alguém perante
o perigo são modalidades que em situação de necessidade devem ser assumidas
— ao contrário do que se passa com a legítima defesa, em estado de
necessidade, a fuga não é desonra nem covardia. Tudo isso corresponde, aliás, à
natureza subsidiária do estado de necessidade: não é caso de invocálo se o
agente puder conjurar o perigo de outro modo, sem ofender o direito de
outrem. Se o perigo só puder ser afastado mediante uma certa e determinada
actuação, então passa esta a assumirse, automaticamente, como necessária.
• A acção de necessidade configurase como uma actio duplex, por ter dois lados: "uma
vertente de lesão de um bem jurídico e uma dimensão de salvaguarda de bens
jurídicos" (Küpper JuS 1987, p. 81, e Costa Andrade, p. 164).
No artigo 34º, o pressuposto de justificação mais complicado (Mitsch, p.
334) é o da alínea b): haver sensível superioridade do interesse a salvaguardar
relativamente ao interesse sacrificado — e representa uma diferença
significativa no confronto com o artigo 35º. A vida humana está no lugar
cimeiro destas considerações, é, em absoluto, o valor mais elevado — e isso sem
referências qualitativas à idade, à posição social, à eventual doença do sujeito,
ou mesmo quantitativas, porquanto se rejeita o confronto entre uma e várias
vidas. Considerese o caso, a analisar em sede de estado de necessidade
desculpante, do agulheiro que, para salvar a vida das centenas de pessoas que
viajam no comboio, admite a hipótese de o desviar para uma linha secundária
onde dois ou três trabalhadores serão inevitavelmente trucidados. Em geral,
nos interesses em jogo não se trata, porém, de uma avaliação abstracta — em
abstracto, a saúde é mais valiosa que o património, mas o decisivo consistirá
antes numa ponderação global concreta dos interesses em conflito. Um quadro
M. Miguez Garcia. 2001
580
de van Gogh pode bem ser salvo à custa dumas arranhadelas na pessoa do
guarda do museu. Recomendase que se aprecie a extensão e a iminência do
perigo, a intensidade dos sacrifícios, o tipo e a dimensão das consequências
secundárias ou mediatas, a obrigação especial da tolerância do perigo por parte,
por ex., de bombeiros ou polícias e, por fim, a esfera de procedência da fonte de
perigo (Eser, p. 260; pormenorizadamente, Figueiredo Dias, Textos, cit.). No caso
nº 24, o médico levou o atropelado com ferimentos graves ao hospital, não
obstante conduzir com uma elevada TAS, e nesse percurso não pôs em perigo
(perigo concreto!) qualquer bem jurídico dos restantes intervenientes no
tráfego. Num caso destes, como anteriormente já se acentuou, estão frente a
frente a concreta saúde de um e o perigo abstracto de alguém morrer
atropelado por um condutor embriagado (perigo presumido, do artigo 292º do
Código Penal).
• Imposição coactiva da doação de sangue? Pode acontecer que, por causa da raridade do
seu grupo sanguíneo, a vida de uma pessoa gravemente ferida só possa ser salva à
custa da transfusão de outra pessoa que, porém, se recusa a dar o seu sangue. Quid
juris? A doutrina maioritária sustenta que a imposição coactiva da doação de
sangue transcende a eficácia justificativa do direito de necessidade — descontadas
as hipóteses de subsistência de particulares deveres de garante. E isto pese embora
a particular e evidente natureza do conflito: de um lado o valor da vida, do outro
uma agressão relativamente inócua à integridade física. Só que a imposição
coactiva da doação contraria pura e simplesmente o princípio da liberdade e da
dignidade humana. Em tais casos, a expressão da solidariedade só poderá ter
sentido se constituir um acto de liberdade ética. O homem não deverá em qualquer
caso ser utilizado como meio. Cf. Costa Andrade, Consentimento e acordo em direito
penal, p. 239; e Bockelmann / Volk, p. 99.
A origem do perigo é vista, fundamentalmente, em dois sentidos: um
estado de necessidade defensivo, como quando o facto praticado lesa um objecto de
que provém o perigo — o agente abate o cão de O, quando o animal (a fonte do
perigo) estava prestes a abocanhar o bébé; e o estado de necessidade agressivo,
quando o facto é praticado contra um interesse jurídico neutro relativamente ao
perigo — o agente pega no extintor de O para apagar o incêndio.
M. Miguez Garcia. 2001
581
Do lado subjectivo, deve o sujeito actuar com vontade de salvaguardar o
interesse jurídico em perigo, com conhecimento de todas as circunstâncias do
tipo de justificação.
Há um estado de necessidade justificante e outro desculpante: a teoria
da diferenciação. Como já se compreendeu, no tratamento do estado de
necessidade, o Código adoptou uma via que distingue o estado de necessidade
desculpante (artigo 35º) e o estado de necessidade justificante (artigo 34º). Na
Alemanha, isso acabou por acontecer sob a influência de Goldschmidt, que
falava de um microcosmos jurídico em que coincidiam os pontos de vista da
ilicitude e da culpa (solução diferenciada: o estado de necessidade constitui
obstáculo à ilicitude quando o interesse protegido é sensivelmente superior ao
sacrificado e obstáculo à culpa nas restantes hipóteses).
• Muito conhecido é o caso Mignonette, de 1884, em que uns náufragos, à míngua de
alimentos, sacrificaram o companheiro mais novo para conseguirem sobreviver. O
tribunal condenouos à morte, mas os réus foram depois agraciados e a pena
substituída por seis meses de cárcere. O caso seria hoje tratado no âmbito do estado
de necessidade desculpante (cf., a seguir, a tábua de Carnêades). O tribunal inglês,
como nota Roxin, não tinha outra alternativa — o direito insular tinha que rejeitar,
logicamente, a causa de justificação, sendo certo que ali se não conhecia uma isenção
da responsabilidade independente da justificação. A sentença, ainda assim, não fugiu
a manifestar "a mais sentida expressão de compaixão pelos sofrimentos dos
acusados", e a Coroa, lançando mão do indulto, comutou a pena, como já se disse,
para seis meses de privação da liberdade "sem trabalhos pesados". E Roxin comenta:
alcançouse assim, por vias travessas ao estrito plano do Direito positivo, uma
solução próxima da que o direito continental oferece com a solução diferenciada entre
ilícito e culpabilidade.
• Excerto da sentença do caso Mignonette. Queens Bench Division 1884 (14 QBD, 273),
apud J. Verhaegen, L'humainement inacceptable en droit de la justification, RICPT, 1981,
p. 269: "Não é correcto dizerse que existe uma necessidade absoluta e sem reservas
de alguém preservar a sua própria vida (...). Não é necessário sublinhar o grande
perigo que decorre da circunstância de se admitir o princípio que aqui foi
discutido. Qual o critério valorativo que permite comparar as vidas? Será o de se
M. Miguez Garcia. 2001
582
ser forte ou inteligente? (...) No caso que nos ocupa, foi escolhido o mais fraco, o
mais jovem, o menos capaz. Haveria uma maior necessidade de o matar e não os
adultos? A resposta deverá ser "não". Não se contesta, neste caso particular, que os
factos eram "diabólicos", mas também é evidente que uma vez admitido tal
princípio o mesmo poderá constituir o manto legal para que se passem a praticar
crimes horríveis ...".
• A ideia do efeito justificante da situação de necessidade entronca na teoria da colisão de
Hegel, cujo cerne reside numa ponderação de interesses — do interesse a
salvaguardar relativamente ao interesse a sacrificar. O facto estará justificado perante
a sensível superioridade do primeiro. "O problema, posto com a maior largueza por
Hegel a propósito da colisão entre a vida e a propriedade, conduziu a admitir neste
caso um verdadeiro direito (não, pois, equidade ou mero "ius aequivocum"), um
direito de necessidade: para conservação do bem jurídico da vida, quando em perigo,
pode sacrificarse a este o bem jurídico da propriedade de outrem. É a esta luz, como
nota Bockelmann, que se considera legítima a manutenção daquele bem cuja
destruição representaria a maior violação jurídica. O que, posto em linguagem
moderna, significa considerar lícita a realização de um interesse superior àquele que
se sacrifica" (Eduardo Correia, Direito Criminal II, p. 81). A ideia do efeito desculpante
da situação de necessidade identificase com a teoria da adequação de Kant: quem
actua em estado de necessidade age e permanece em situação de ilicitude, mas
porque lhe não é exigível outra conduta deverá ser desculpado. Cf. Haft; e F. Palma,
A Justificação, p. 327 e ss., igualmente com considerações a propósito do caso
Mignonette.
• Os ingleses quando falam neste estado de necessidade, causa de justificação ou causa de
exclusão da ilicitude, utilizam a expressão correspondente a necessidade, ou seja
necessity; aí é mesmo uma situação de necessidade objectiva. Quando estão a falar na
outra situação, da pessoa que age em estado de necessidade, mas no sentido de
coacção moral ou situação de medo, usam a expressão duress. É mais fácil, assim
discutir a contraposição de situações. Cf. Teresa P. Beleza, p. 290. Vejase, a propósito,
M. Miguez Garcia. 2001
583
o título dos trabalhos publicados in S. H. Kadish, Encyclopedia of Crime and Justice,
1983, nomeadamente, Morawetz, “Justification, Necessity”, e Levine, “Excuse,
Duress”. E vejase ainda B. Schünemann, La función de delimitación de injusto y
culpabilidad, in Fundamentos de un sistema europeo de Derecho Penal, Libro
Homenaje a Claus Roxin, 1995.
• CASO nº 24A: Após um acidente com várias vítimas, imediatamente compareceu uma
ambulância, vislumbrandose a possibilidade de salvar algumas vidas. Todavia,
todos os presentes reconheceram desde logo que A, o motorista, estava fortemente
embriagado, não havendo ninguém em condições de o substituir. O motorista
conduziu a viatura até ao hospital em velocidade adequada e com respeito de todas
as regras de trânsito.
• A condução de veículo em estado de embriaguez (artigo 292º) encontrase
justificada por estado de necessidade (artigo 34). Era absolutamente
necessário que alguém levasse os feridos graves ao hospital e ninguém
mais sabia conduzir a ambulância. A distância para o hospital era curta
e não se verificou um perigo concreto para outros utentes da via. O
risco contido na condução em estado de embriaguez ficouse por limites
adequados.
• CASO nº 24B: Um bombeiro pode salvar uma criança, mas só atirandoa, lá bem do
alto do edifício em chamas, para os colegas que improvisaram uma tela amortecedora
na base do prédio. Existe o perigo de a criança cair mal e partir a base do crânio. O
perigo que assim ameaçava a criança realizouse e a morte, infelizmente, veio a
ocorrer.
• A acção do bombeiro encontrase coberta pelo artigo 34º. Só havia uma
alternativa à morte da criança pelas chamas. Quando o bombeiro se
decidiu por atirar a criança do alto do prédio em chamas escolheu pôr
M. Miguez Garcia. 2001
584
em perigo um bem jurídico para evitar a lesão certa do bem jurídico. A
situação reportase ao mesmo bem jurídico mas isso não obsta à
aplicação do artigo 34º. Tratase de um caso de ponderação de riscos.
Cf. Otto, p. 131.
• CASO nº 24C: Um médico, que tem que proceder a uma transfusão de sangue no local
de um acidente para salvar uma vida, dirigese para onde se deu o sinistro, a curta
distância da sua residência, durante a noite, por uma estrada bem iluminada mas a
velocidade bem superior à legalmente permitida.
• Como no caso nº 24, um perigo abstracto e remoto confrontase com uma
situação de perigo concreto para a vida da vítima do sinistro. A conduta
do médico está justificada por direito de necessidade.
• CASO nº 24D: A, médico, obriga P, um doente internado no hospital onde presta
serviço, a dar sangue a B, que sem ele teria morrido. P, todavia, tinhase recusado a
dar sangue voluntariamente.
• Estão aqui, frente e frente, a preservação da vida de B, e uma ofensa à
integridade física de P, bem como a sua liberdade de decisão. A mais
disso, está em causa o sentimento de segurança de todos os outros
doentes internados naquele estabelecimento hospitalar. A doutrina
maioritária sustenta que a imposição coactiva da doação de sangue
transcende a eficácia justificativa do direito de necessidade —
descontadas as hipóteses de subsistência de particulares deveres de
garante. E isto pese embora a particular e evidente natureza do conflito:
de um lado o valor da vida, do outro uma agressão relativamente
inócua à integridade física. Só que a imposição coactiva da doação
M. Miguez Garcia. 2001
585
contraria pura e simplesmente o princípio da liberdade e da dignidade
humana. Em tais casos, a expressão da solidariedade só poderá ter
sentido se constituir um acto de liberdade ética. O homem não deverá
em qualquer caso ser utilizado como meio. (Cf. Costa Andrade,
Consentimento e acordo em direito penal, p. 239, e os diversos autores aí
citados).
II. A problemática da justificação por estado de necessidade. A dupla
previsão normativa dos artigos 34º e 35º.
Há inúmeras situações em que o afastamento de um perigo actual que
ameaça bens jurídicos do agente (ou de terceiro) se faz através da prática de um
facto típico. Quer dizer: perante uma situação de perigo para bens jurídicos,
surge a necessidade de os salvaguardar ou de os proteger, e isso só se consegue
lesando ou afectando outros interesses juridicamente protegidos.
• Os autores (vd., por ex., Eduardo Correia, Direito Criminal II, p. 70) ocupamse não só das
hipóteses em que os interesses a defender e os que se torna para tal necessário
sacrificar são de igual valor, como aqueles em que eles são de valor superior ou de
valor menor, uns relativamente aos outros. "A história, a jurisprudência e os autores
fornecemnos os mais variados exemplos destes diversos tipos": o da "tabula unius
capax", em que os interesses em conflito são de valor equivalente: vida contra vida;
"ou quando, para salvar uma vida é necessário fazer outrem cair de um andaime,
causandolhe graves ferimentos; quando, para evitar um naufrágio, o capitão tem de
lançar ao mar parte da carga; quando, para vencer uma doença grave ou mortal, é
necessário utilizar remédios pertencentes a outrem; quando, para debelar um
incêndio, importa utilizar ou danificar coisas pertencentes a outrem, v. g. utilizando
para as mangueiras água de um poço alheio ou arrombando a porta de um vizinho,
etc. E é ainda possível que alguém, como único meio de v. g. evitar uma grave ofensa
corporal, não resista a sacrificar a vida alheia (p. ex. para evitar a perda de um braço
ou da vista não resista a atirar sobre outrem, causandolhe a morte, a bomba que vai
M. Miguez Garcia. 2001
586
explodir nas suas mãos) — caso em que, seguramente, o interesse a defender é de
valor inferior ao do interesse sacrificado".
Verificase portanto uma situação de conflito ou colisão entre interesses
jurídicos. Já vimos que, por ex., numa situação de legítima defesa o perigo
provém de um agressor injusto à custa do qual é afastado. Mas o perigo pode
também provir de uma coisa (pensese no ataque de um animal) ou pode até ser
endossado a um terceiro, utilizandose uma coisa alheia para o afastar. Os
juristas, já desde tempos antigos, vêmse ocupando com estes problemas,
contribuindo até hoje com três ideias fundamentais: a doutrina do espaço livre de
direito, segundo a qual existe entre a antijuridicidade e a justificação uma
terceira categoria de comportamentos "não proibidos". Tratarseia de casos que
não são de justificação nem entram no âmbito da culpabilidade, antes se
apresentam como juridicamente neutros (também por isso integrados na
chamada "doutrina da neutralidade"). Não seriam antijurídicos nem conforme
ao direito, de modo que o direito prefere não intervir, deixandoos a vogar em
espaço livre. O exemplo mais conhecido que cabe nesta fórmula é o do alpinista
suspenso com outro por uma corda que se encontra quase a ceder e que por isso
suporta apenas um deles. O da frente decide cortála, deixando despenharse no
abismo o companheiro, pendurado a seguir. A crítica que se faz a esta posição
tem a ver com a necessidade de uma clara distinção entre a antijuridicidade
(que autoriza alguém a defenderse) e a conformidade ao direito (que gera um
dever de tolerar). Por sua vez, a teoria do efeito justificante do estado de necessidade
tem as suas raízes na teoria da colisão de Hegel. A ideia chave é a seguinte:
entre o bem a salvaguardar e o bem a sacrificar para sua protecção deverá
interceder uma ponderação de bens e interesses. Resultando dessa ponderação
a predominância do bem ou do interesse a salvaguardar, o agente estará
justificado. Por ex.: A parte os vidros da janela de um terceiro porque esse é o
único meio de ventilar uma habitação cheia de gás onde A está prestes a morrer
asfixiado. A doutrina do efeito desculpante do estado de necessidade tem o seu
fundamento na teoria da adequação de Kant. A ideia base é a seguinte: aquilo
que o autor faz ao actuar em estado de necessidade é e permanece ilícito. Mas
porque lhe não era exigível outra conduta deverá ser desculpado. Ex.: A mata
outra pessoa para salvar a própria vida. A doutrina alemã distingue a
salvaguarda de interesses próprios ou alheios realmente (wesentlich)
preponderantes sobre outros em conflito como causa de justificação; e como
causa de desculpação a salvaguarda de interesses próprios e fundamentais,
como a vida, a integridade física e a liberdade, face a outros iguais ou mesmo
superiores. Cf. os §§ 34 e 35 do StGB: Lackner, p. 257 e ss. Partindo desta ideia
M. Miguez Garcia. 2001
587
diferenciada, o Código Penal português acolheu o estado de necessidade
justificante no artigo 34º: se o interesse salvaguardado for de valor
sensivelmente superior ao sacrificado, o facto estará justificado por direito de
necessidade. E acolheu no artigo 35º o estado de necessidade desculpante: se o
interesse salvaguardado não for de valor sensivelmente superior ao sacrificado
o facto é ilícito, mas o agente poderá ver a sua culpa excluída.
• Umas vezes o estado de necessidade exclui a ilicitude: casos de sacrifício de valores
menores para salvar valores maiores. Outras vezes exclui a culpa: casos de
sacrifício de valores iguais aos que se salvam, ou mesmo de valores maiores,
quando ao agente não era exigível outro comportamento.
• "O fundamento da justificação do estado de necessidade parte da compatibilização da
missão do direito de proteger bens jurídicos com uma situação de perigo e de conflito
em que não se podem salvar todos — e aí entram em jogo a ponderação de interesses
e a ideia da inexigibilidade. A ponderação de interesses determina a inconveniência
de se protegerem interesses inferiores à custa de interesses superiores. Mas quando se
podem salvar interesses preponderantes à custa de outros menos valiosos, a
preferência do direito inclinase, logicamente, para eles e valora positivamente a
acção. E quando os interesses em conflito são equivalentes, então, ante a indiferença
do direito por qualquer resultado, por não ser além disso a sanção jurídica o meio
mais adequado para resolver o conflito e impor o sacrifício próprio ou a simpatia ou
conveniência por interesses alheios, e sobretudo para permitir o máximo de liberdade
aos cidadãos — o direito não quer exigir a ninguém que se abstenha de actuar. Por
outro lado, a inexigibilidade geral em determinadas situações ou, ao contrário, a
exigibilidade específica ou superior por certos motivos são factores que também
intervêm na ponderação de interesses. Deste modo, ponderação de interesses e
inexigibilidade estão estreitamente relacionados". Cf. Luzón Peña, Curso de Derecho
Penal, PG I 1996, p. 622.
• "O Autor do Projecto começou por, sumariamente, expor a teoria do chamado estado de
necessidade. Referiu as três posições possíveis que sobre ele podem ser e têm sido
defendidas: a que o vê sempre como causa de exclusão da ilicitude; a que o vê sempre
M. Miguez Garcia. 2001
588
como causa de exclusão da culpa; e a dita "teoria diferenciada", que o considera como
obstáculo à ilicitude quando o interesse protegido é sensivelmente superior ao
sacrificado e como obstáculo à culpa nas outras hipóteses. (…) E acrescentou: numa
visão puramente individualista do direito e dos bens jurídicos que aquele protege não
se compreende que seja lícita a intervenção de alguém na esfera jurídica alheia; mas à
medida que nos aproximamos de uma visão mais social do direito e dos bens
jurídicos, tal intervenção começa a ser progressivamente admitida e, nesta medida,
pode falarse de um verdadeiro direito de necessidade ou, o que é o mesmo, de um
estado de necessidade que exclui a ilicitude do facto". Acta da 15ª Sessão, Actas, p.
234.
Alguns dos problemas que rodeiam a figura do estado de necessidade têm
a ver com formulações "pouco precisas" com que a norma aparece dotada:
"meio adequado", "sensível superioridade do interesse a salvaguardar", "ser
razoável impor ao lesado", etc. Por outro lado, e ao contrário do que acontece na
legítima defesa, em que o agente responde a uma agressão ilícita, aquele que
age em estado de necessidade envolve um terceiro "inocente" no afastamento da
situação de necessidade — o que, como se viu já, induz um outro sentido para a
justificação.
A estrutura do estado de necessidade justificante (estado de necessidade
"objectivo" ou "direito" de necessidade). Podemos associar nesta altura, para
melhor as compreender, a figura do artigo 34º (direito de necessidade) e a do
artigo 339º do Código Civil (estado de necessidade jurídicocivil). Neste artigo
339º encontrase consagrado um verdadeiro direito de necessidade,
proclamandose que é lícita a acção daquele que destruir ou danificar coisa
alheia com o fim de remover o perigo actual de uma dano manifestamente
superior, quer do agente quer de terceiro. No artigo 34º, o direito de
necessidade torna a conduta lícita, mas é preciso: a) Não ter sido
voluntariamente criada pelo agente a situação de perigo, salvo tratandose de
proteger o interesse de terceiro; b) Haver sensível superioridade do interesse a
salvaguardar relativamente ao interesse sacrificado; e c) Ser razoável impor ao
lesado o sacrifício do seu interesse em atenção à natureza ou ao valor do
interesse ameaçado. Um interesse a salvaguardar (interesse juridicamente
protegido) e um interesse a sacrificar estão assim frente a frente. O interesse a
salvaguardar é alvo da ameaça de um perigo actual. O afastamento do perigo
conduz ao sacrifício de um outro interesse. Uma ponderação entre os interesses
contrapostos aponta para a prevalência do interesse protegido. A ponderação
M. Miguez Garcia. 2001
589
compreende todas as circunstâncias que caracterizam a concreta situação de
colisão, comparandose ambos os bens, por ex., a vida dum lado, a propriedade
do outro.
A situação de necessidade ("… um perigo actual que ameace interesses
juridicamente protegidos do agente ou de terceiro…"). A situação de necessidade
pressupõe uma situação conflitual de bens jurídicos, mas os bens ou interesses
em conflito não se encontram tipificados no artigo 34º. Protegido pelo direito de
necessidade pode ser assim, em princípio, qualquer bem jurídico, penal ou não
penal (cf. Figueiredo Dias, p. 214). Podem estar cobertos pelo direito de
necessidade, segundo a norma homóloga do código penal alemão, o corpo, a
vida, a honra e a propriedade, mas esta enumeração é aí apenas exemplificativa,
não tem um significado taxativo nem se encontra limitada aos bens do sujeito.
Por conseguinte, na justificação qualquer bem jurídico é merecedor de
protecção pelo direito de necessidade. Por outro lado, se no artigo 35º o bem a
salvaguardar não tem que ser mais valioso do que o bem a sacrificar, na
justificação essa ponderação de bens jurídicos tem um significado decisivo. Daí
que se possa afirmar que são susceptíveis de gozar da cobertura do direito de
necessidade também os interesses da comunidade ou qualquer outro interesse
geral. Assim, no exemplo do Prof. Figueiredo Dias, se alguém comete um facto
típico patrimonial de valor relativamente pequeno para afastar um perigo
actual de contaminação ambiental. Os autores como Eser / Burkhardt apontam
uma excepção: a vida (nascida), porque o seu sacrifício não se pode justificar
nunca, nem sequer para salvar outra vida. Se nos encontramos face a um caso
de "vida contra vida", como no exemplo da tabula unius capax, que só podia
transportar um dos náufragos, se o sujeito mata o companheiro para se salvar a
si mesmo, a situação corresponde, quando muito, a um estado de necessidade
desculpante.
O bem jurídico a salvaguardar tem que se encontrar objectivamente em
perigo e este deverá ser actual. Um perigo actual existe quando a possibilidade
de um dano é tão iminente que com quase total certeza vai ter lugar se não se
adoptar imediatamente uma medida de defesa, o que também pode ocorrer
com os chamados "perigos duradoiros", em que a qualquer momento, e
portanto a configurar igualmente a actualidade do perigo, se pode dar uma
situação de perigo, como por ex., o da derrocada de um edifício em ruínas.
A aponta para B com intenção homicida uma pistola carregada — nesse momento, a vida
de B está em perigo, ainda que o tiro não acerte. Mas não haverá perigo para a vida se nas
mesmas condições a pistola não estiver carregada.
CASO nº 24E: Na madrugada de 15 de Abril de 1970, quando A seguia conduzindo
o seu veículo automóvel pelo troço da então chamada autoestrada dos Carvalhos, nas
M. Miguez Garcia. 2001
590
proximidades do Porto, fazendoo de acordo com as pertinentes regras de direito rodoviário,
viu, a uns cinco ou seis metros de distância, que um vulto humano se lançava em correria para
atravessar a faixa de rodagem. A ainda se esforçou por travar e desviar a trajectória do seu
carro mas, atenta a curta distância e o inopinado da situação, não conseguiu evitar o embate,
que foi violento, ficando o peão estendido no chão, sem dar acordo de si. A ia a sair do carro
para se inteirar do real estado da pessoa atropelada e providenciar socorros, mas deuse conta
de que uma chusma de indivíduos armados de paus e em berreiro desenfreado, gritando que o
iam matar, se aproximava do local do acidente. Temendo não poder explicar o sucedido nem
deter a multidão, que manifestamente se preparava para fazer "justiça" por sua conta, A, ainda
que consciente de que abandonava a vítima do atropelamento e que o "abandono de sinistrado"
era punido pela lei, voltou a entrar no carro, que acelerou, indo entregarse à polícia, em Vila
Nova de Gaia, onde fez um relato circunstanciado de tudo o que acontecera.
Na ponderação de interesses pode interessar saber, para solucionar casos
como o apresentado, se o perigo foi ou não provocado pelo próprio sujeito, já
que, nos termos do artigo 34º, alínea a), é necessário à justificação "não ter sido
voluntariamente criada pelo agente a situação de perigo, salvo tratandose de
proteger o interesse de terceiro". Interessa saber desde logo, explica o Prof.
Figueiredo Dias, "o que pretendeu a lei com o requisito, neste contexto, da
voluntariedade da criação do perigo", sabendose que o fundamento
justificante do estado de necessidade é a solidariedade devida a quem se
encontra em situação de necessidade. Ora, a justificação só deverá considerarse
afastada se a situação for intencionalmente provocada pelo agente, isto é, se ele
premeditadamente criou a situação para poder livrarse dela à custa da lesão de
bens jurídicos alheios. De qualquer modo, sempre haverá que ter em conta a
ressalva da última parte da alínea a) do artigo 34º quando se trata de proteger
interesses alheios.
A acção de necessidade
A acção de necessidade pressupõe em primeiro lugar uma ponderação de
interesses, pois de acordo com o disposto na alínea b) do artigo 34º só tem lugar
a justificação se houver sensível superioridade do interesse a salvaguardar
relativamente ao interesse sacrificado. Por conseguinte: segundo o princípio do
interesse preponderante, só poderá considerarse o facto justificado quando o
valor do bem posto a salvo (bem ou interesse jurídico a preservar) é superior ao
do interesse lesado (bem ou interesse sacrificado).
Como se deverá realizar essa ponderação?
O ponto de partida nesta questão é a ponderação abstracta de interesses.
Levase esta a cabo contrapondo os bens jurídicos em colisão e considerando o
grau de protecção que lhes é outorgado pelo ordenamento jurídico. Um dos
índices poderá ser a medida legal da pena cominada: a vida de uma pessoa,
bem jurídico protegido no artigo 131º, é hierarquicamente superior ao bem
M. Miguez Garcia. 2001
591
jurídico da integridade física, protegida pelos artigos 143º e ss. O legislador
reconhece um maior valor ao direito à vida da pessoa nascida relativamente ao
não nascido. Mas em definitivo o que resulta decisivo é a ponderação global
concreta de ambos os interesses contrapostos. Os bens jurídicos afectados só
constituem uma parte, se bem que considerável, dos factores valorativamente
relevantes. Há que valorar outros factores (positivos ou negativos), como, por
ex.: a dimensão e a proximidade do perigo, a quantidade e a intensidade da
lesão do bem jurídico (interesse completamente aniquilado ou só parcialmente
ou ligeiramente afectado), o tipo e a dimensão das consequências secundárias
ou remotas, a obrigação especial de tolerância do perigo por parte dos afectados
em virtude da aceitação profissional (polícias, bombeiros, etc.), e finalmente a
esfera de procedência da fonte de perigo. Este último factor pode ser
importante, como já se disse, no caso de autoprovocação da situação do estado
de necessidade ainda que, desde logo, se não exclua a aplicação do artigo 34º
(como acontece com o artigo 35º) pelo facto de o autor ter provocado o mesmo
ou cooperado na produção da situação de necessidade.
• CASO nº 24F: A apresentou queixa contra B, seu antigo empregado, por factos que em
seu entender integram a prática de vários crimes de abuso de confiança. No decorrer
das diligências em sede de inquérito apurouse que uma das letras em causa foi
apresentada a desconto no Banco ARP, tendo sido o respectivo produto líquido do
desconto creditado na conta de depósitos à ordem com o nº 0001.222222.001. Para
aquilatar da responsabilidade criminal do arguido entendeuse ser necessário apurar
quem são os titulares da conta onde foi efectuado o referido movimento, e bem assim
quem procedeu ao desconto, para o que se contactou o Banco ARP que, todavia, se
escusou a prestar tais informações, invocando sigilo bancário: artigo 78º, nºs 1 e 2, do
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo
DecretoLei nº 298/92, de 31 de Dezembro
• No Código Penal revisto pelo DecretoLei nº 48/95, de 15 de Março, o crime de violação de
segredo profissional vem previsto no artigo 195º, excluindose apenas do seu âmbito
de aplicação a revelação de segredo profissional com consentimento. Ao invés, na
redacção do Código Penal de 1982, o artigo 184º excluía desse mesmo âmbito de
aplicação a revelação de segredo com justa causa ou com consentimento de quem de
direito, estabelecendo o artigo 185º do mesmo Código os pressupostos da exclusão da
M. Miguez Garcia. 2001
592
ilicitude da violação do segredo profissional e que servia de fundamento à quebra
desse segredo, preceito este que não tem correspondência no Código Penal
actualmente em vigor. Em resultado dessa revisão, em que foi eliminada a referida
cláusula da exclusão da ilicitude constante da versão originária do Código Penal, o
Código de Processo Penal aprovado pela Lei nº 59/98, de 25 de Agosto, no artigo
135º, nº 2, dispõe que “havendo dúvidas fundadas sobre a legitimidade da escusa, a
autoridade judiciária perante a qual o incidente se tiver suscitado procede às
averiguações necessárias. Se, após estas, concluir pela ilegitimidade da escusa,
ordena, ou requer ao tribunal que ordene, a prestação do depoimento”, preceituando
o nº 3, que “o tribunal imediatamente superior àquele onde o incidente se tiver
suscitado (…) pode decidir da prestação de testemunho com quebra de segredo
profissional sempre que esta se mostre justificada face às normas e princípios
aplicáveis da lei penal, nomeadamente face ao princípio da prevalência do interesse
preponderante. A intervenção é suscitada pelo juiz, oficiosamente ou a requerimento.
Do exposto resulta que a intervenção do tribunal superior na resolução do incidente
previsto no artigo 135º, nº 3, do Código de Processo Penal, surge se o tribunal
considerar que a escusa é legítima mas, mesmo assim, entende que no caso concreto a
quebra do sigilo profissional se mostra justificada face às normas e princípios
aplicáveis da lei penal, nomeadamente face ao princípio da prevalência do interesse
preponderante (vd. acórdão da Relação de Lisboa de 4 de Dezembro de 1996, in CJ
1996, tomo V, p. 154).
• "Onde estas regulamentações [artigo 339º do CC, artigos 195º do CP e 135º do CPP e outras
diversas regulamentações dos actos de autoridades, nomeadamente policiais] se
revelem mais estritas do que o art. 34º não pode recorrerse a este para cobrir uma
situação como capa da justificação. Mas, por outro lado, o art. 34º contém
concretizações, v. g. na exigência de adequação do meio, que podem reflectirse na
interpretação de especiais causas de justificação baseadas também na ideia da
prevalência, em situação conflitual, de interesses mais valiosos, valendo em tais
questões o art. 34º como lex generalis na matéria." Figueiredo Dias, Textos, p. 214.
M. Miguez Garcia. 2001
593
III. Estado de necessidade desculpante; artigo 35º.
• CASO nº 24G: A tábua de Carneades (Cícero, De Re Publica, II, 15). Carneades,
filósofo que viveu no século II antes de Cristo, conta que, após o naufrágio de um
navio, os dois marinheiros sobreviventes, A e B, agarraramse a um tábua que só
chegava para um (tabula unius capax). Para salvar a vida, A afastou B da tábua e este
morreu afogado. Põese o problema de saber se A pode ser condenado por homicídio.
Só os problemas jurídicos é que estão aqui em causa — e nomeadamente a aplicação
dos artigos 34º e 35º do Código Penal. Tratase de um dilema jurídico, duma situação
coactiva em que uma pessoa tem que escolher entre dois males. A só podia tentar
salvar a vida afastando o outro da tábua, afogandose este. B podia tentar salvar a
vida actuando do mesmo modo contra A. Matar ou ser morto, eis o dilema dos
marinheiros. H. Koriath (JA 1998, p. 250) propõe quatro variantes da situação, mas
insiste numa delas, que é a seguinte:
Elementos de facto: B tentou primeiro afastar A da prancha — foi em reacção
a esta conduta do B que A, por sua vez, o empurrou, tendo B morrido afogado.
Na medida em que A empurrou B e este morreu afogado, A pode estar
implicado na prática de um crime do artigo 131º do Código Penal. Todavia, se a
conduta de A, ao empurrar o outro, não tiver a qualidade de uma "acção", o
resultado, a morte de B., não pode ser imputado, não haverá uma relação de
causa e efeito. Na verdade, descrever a conduta de alguém como sendo uma
"acção" supõe que na situação concreta o sujeito podia ter tido outro
comportamento, que inclusivamente podia nada ter feito. E a pergunta é esta:
poderia A terse abstido de empurrar B ? Não tendo havido uma situação de vis
absoluta, A podia ter escolhido sacrificarse e salvar a vida de B. A actuação de A
não é um simples movimento reflexo, mas é intencional, presidido pela
vontade, e assim tem a qualidade de uma acção.
Nos termos do artigo 131º é autor de um homicídio quem matar outra
pessoa, i. e, quem causar (produzir) a morte de outrem. O problema, agora, está
em saber se A efectivamente matou B. Como estamos a referirnos a um
resultado concreto, a acção de A deverá ter sido condição necessária dessa
morte, pois, se assim não fosse, a morte de B não se teria dado naquela altura e
nas apontadas circunstâncias. A provocou a morte de B e esta podelhe ser
imputada, de acordo com os critérios da imputação objectiva. Por outro lado, A
M. Miguez Garcia. 2001
594
previu a morte de B e conformouse com ela. Agiu pelo menos com dolo
eventual. A actuação de A é ilícita, a menos que se encontre coberta por uma
causa de justificação.
Terá A agido em legítima defesa? Devemos em primeiro lugar apurar se A
se encontrava em situação de legítima defesa. Esta supõe uma agressão ilícita.
Ora, não há motivo para duvidar que a actuação de B, ao pretender que A
largasse a tábua, embora sem êxito, é uma agressão objectivamente ilícita.
Alguns autores exigem que a agressão seja igualmente dolosa e culposa (cf.
Prof. Taipa de Carvalho, passim), para que fique inteiramente livre a via da
legítima defesa. Esta posição apoiase no facto de com a legítima defesa se
pretender a salvaguarda da ordem jurídica. O defendente defende não só os
seus interesses individuais mas também a afirmação do Direito — e isso só
pode ser conseguido quando se trata de acções culposas, ou seja, de um
comportamento conscientemente dirigido contra o Direito. Nas circunstâncias
trágicas em que se desenrolou, a morte de B não poderá ser taxada de
conscientemente dirigida contra o Direito. Claro que, contra esta posição se
pode argumentar desde logo com a letra da lei, que invoca apenas a agressão
ilícita, sem mais. E depois, sempre ocorre perguntar: então, não podemos
defendernos de comportamentos objectivamente perigosos? A resposta é pela
positiva, mas tem uma nuance: para nos defendemos de condutas perigosas não
necessitamos de invocar os critérios estritos da legítima defesa — ilimitada, pois
temos à nossa disposição o estado de necessidade defensivo e mesmo o estado
de necessidade justificante do artigo 34º. Em conclusão: como B não actuou
culposamente, não houve uma agressão aos interesses juridicamente protegidos
de A, pelo que este não pode invocar uma situação de legítima defesa para
justificar o que se seguiu.
A também não pode invocar um direito de necessidade que justifique a
morte de B.
O direito de necessidade supõe uma situação de necessidade e a
justificação arranca de ter sido o facto praticado numa situação de necessidade.
O desenho é o de uma situação actual de perigo para um bem jurídico, que não
pode ser afastado de outra maneira (artigo 34º). Ora, no caso, estas condições
mostramse cumpridas: A encontravase numa situação de perigo actual para a
vida; e sem a morte de B o perigo não seria afastado.
Entre os requisitos do direito de necessidade contase o da alínea b) do
artigo 34º, onde se exige sensível superioridade do interesse a salvaguardar
relativamente ao interesse sacrificado. Ora, como o caso era de vida contra vida
— A não pode invocar esta causa de justificação. Não devemos sequer chamar
M. Miguez Garcia. 2001
595
aqui à colação o princípio da proporcionalidade, pois na situação trágica
descrita, de óbvio dilema, não estava em jogo qualquer ponderação de
interesses, mas unicamente a oportunidade de um deles sobreviver à custa do
outro.
• A sensível superioridade a que se refere o artigo 34º, alínea b), não significa uma especial
superioridade (quantitativa ou qualitativa) de um dos interesses. Antes designa o
processo que permite concluir pela superioridade de um dos interesses: uma “normal
sensibilidade aos valores (“cultural e socialmente determinada)”. Cf. Fernanda
Palma, O estado de necessidade justificante; cf., ainda, Casos e materiais, p. 374.
A conduta de A, ao causar dolosamente a morte de B, é ilícita, não está
coberta por qualquer causa de justificação.
Vejamos agora se A pode ser desculpado nos termos do artigo 35º, nº 1,
uma vez que age sem culpa quem praticar um facto ilícito adequado a afastar
um perigo actual e não removível de outro modo, que ameace a vida ...
• CASO nº 24H: O cão de estimação de A é um animal de raça e muito valioso, com
vários prémios já ganhos, mas que tem uma especial embirração pelo pequeno cão do
vizinho, um pacífico cachorro, rafeiro, igualmente estimado por B, seu dono. Em
dado momento, um ataque, fulminante, fazia adivinhar que o pequeno cachorro,
inevitavelmente, sairia morto das investidas do inimigo. B, para o salvar, pegou no
taco de golfe que tinha à mão e deu com ele no cão de raça, que ficou sem um olho.
Sem essa sua enérgica actuação, o cão de B teria sido morto.
• Variante: O cão de estimação de A é um animal de raça e muito valioso, com vários
prémios já ganhos, que foi à cozinha do vizinho, B, donde tirou um par das suas
salsichas preferidas. B, dandose conta do acontecido, pretendendo recuperar as suas
salsichas, dá uma pancada no animal com o taco de golfe que tem ali à mão. O cão,
com a violência da pancada, acabou por ficar sem um olho. A pancada com o taco era
a única maneira possível de evitar que o cão comesse as salsichas ou as levasse
consigo. Na verdade, B recuperou as suas salsichas. Eb. Schmidhäuser, StrafR AT
Studienbuch, p. 144; J. Hruschka, StrafR, p. 100.
Punibilidade de B?
M. Miguez Garcia. 2001
596
IV. A justificação do aborto no Código Penal.
• "Como crime contra a vida intrauterina, o aborto resiste quase incólume à lógica
justificadora da Parte Geral do Código Penal. Causas de exclusão da ilicitude como a
legítima defesa, o direito de necessidade e o consentimento do ofendido sãolhe
inaplicáveis. A invalidade da justificação por legítima defesa resulta da ausência de
um pressuposto definido no artigo 32° do Código Penal: a agressão ilícita e actual. O
feto não pode, com efeito, praticar uma agressão, em nenhuma acepção juridicamente
relevante. É, em todos os sentidos, um ser inocente. Tão pouco o direito de
necessidade previsto no artigo 34° do Código Penal pode justificar o aborto. Em
primeiro lugar, porque a vida (embora intrauterina) assume um valor tal que se
torna difícil afirmar, relativamente a ela, a "sensível superioridade" de qualquer outro
bem jurídico (incluindo mesmo a vida autónoma), nos termos do disposto na alínea
b) do artigo 34º. Em segundo lugar, porque tomando o nascituro como lesado não se
pode concluir pela razoabilidade da imposição do sacrifício da sua própria vida,
como seria exigível por força do disposto na alínea c) do artigo 34º. Por fim, o feto não
pode prestar o seu consentimento na lesão. E se o pudesse fazer, o consentimento não
excluiria a ilicitude do aborto, por não estar em causa um interesse jurídico
livremente disponível (artigo 38º, nº 1). Apenas o conflito de deveres pode ser
seriamente encarado como causa de justificação do aborto. Porém, não são nítidos os
limites deste instituto, quando aplicáveis a tal crime. Indiscutível é apenas que a
salvação da vida da mãe à custa da vida do feto é lícita, ante o disposto no nº 1 do
artigo 36º. A vida da mãe representa um valor pelo menos igual ao da vida do
nascituro. Pode mesmo afirmarse uma relação de superioridade, que se manifesta,
nomeadamente, na inferior penalidade cominada para o aborto e na impunidade do
aborto negligente. Já é duvidoso, contudo, que o aborto possa ser directamente
provocado, através de uma conduta activa, para obter como efeito a salvação da vida
da mãe. Se se admitir uma tendencial igualdade dos bens jurídicos conflituantes, a
violação do dever de omitir uma actuação lesiva assume maior gravidade do que a
violação do dever de empreender uma actuação salvadora. Não é justificável, por
exemplo, a conduta do médico que retirar a um doente uma máquina de reanimação
M. Miguez Garcia. 2001
597
para a colocar ao serviço de outro doente, quando ambos requeiram idênticos
cuidados. E igualmente problemática será a justificação do aborto por conflito de
deveres quando a morte do feto vise assegurar não já a sobrevivência da mãe mas a
preservação da sua saúde. É certo que uma grave lesão no corpo ou na saúde é mais
gravemente sancionada, no Código Penal, do que um aborto: para as ofensas
corporais graves cominase uma penalidade de 1 a 5 anos e para o aborto consentido
uma penalidade até 3 anos de prisão. Estes raciocínios quantitativos não são, porém,
decisivos. Na escala constitucional de bens jurídicos, dáse primazia à vida
relativamente a integridade pessoal (artigos 24° e 25° da Constituição) e no Código
Penal respeitase essa ordem (artigos 131° e ss. e 142° e ss.). O facto de a um
homicídio poder caber penalidade menos gravosa do que a um crime de ofensas
corporais (cfr. os artigos 134° e 143°) não subverte aquela ordem axiológica; devese,
exclusivamente, à necessidade de graduar a responsabilidade em função da
gravidade do crime e da culpabilidade do agente, que não dependem só da
relevância do bem jurídico tutelado. De todo o modo, a possibilidade de justificar
através de uma causa de exclusão da ilicitude tradicional o aborto terapêutico
implicará que tenha sido apenas este que, cautelosamente, Eduardo Correia
pretendeu despenalizar no artigo 152° do Anteprojecto da parte Especial do Código
Penal, seguindo uma via que Melo Freire preconizara em 1786, no seu Projecto de
Código Penal. Na discussão travada no âmbito da Comissão Revisora, Eduardo
Correia pronunciouse pela inevitabilidade da justificação do aborto terapêutico,
invocando as leis penais de outros países e advertiu que, na falta de consagração
expressa, a jurisprudência acabaria por criar com o risco de abusos uma causa de
exclusão da ilicitude supralegal. A verdade, contudo, é que o Código Penal de 1982
não contemplaria, originariamente, nenhuma causa de justificação (ou, na versão
mais descomprometida do Anteprojecto de Eduardo Correia, de impunibilidade) do
aborto. Só a Lei n° 6/84, de 11 de Maio, o viria fazer." Rui Carlos Pereira, O crime de
aborto e a reforma penal, 1995, p. 45 e ss.
M. Miguez Garcia. 2001
598
V. Outras indicações de leitura
Acórdão do STJ de 25 de Junho de 1992, BMJ418569: legítima defesa, direito de
necessidade, estado de necessidade desculpante, excesso de legítima defesa.
Acórdão da Relação de Coimbra de 5 de Julho de 2000, RPCC 10 (2000): Segredo. Artigo
135º. Segredo médico. O tribunal só pode impor a quebra do segredo profissional se verificar
que os interesses que o segredo visa proteger são manifestamente inferiores aos prosseguidos
com a sua revelação.
Acórdão da Relação de Coimbra de 11 de Julho de 2002, CJ 2002, tomo V, p. 36: exclusão da
ilicitude. Princípio da ponderação dos valores conflituantes. Condução sem habilitação legal.
Código Civil: artigo 339º, nº 2 — obrigação de indemnizar o lesado pelo prejuízo sofrido.
Américo A. Taipa de Carvalho, A Legítima Defesa, dissertação de doutoramento, 1995,
especialmente, p. 172 e ss.
António Carvalho Martins, O aborto e o problema criminal, 1985.
Baumann / Weber / Mitsch, Strafrecht, AT, Lehrbuch, 10ª ed., 1995.
Boaventura de Sousa Santos, L'interruption de la grossesse sur indication médicale dans le
droit pénal portugais, BFDC, XLIII, 1967.
Claus Roxin, G. Arzt, Klaus Tiedemann, Introducción al derecho penal y al derecho penal
procesal, Ariel, Barcelona, 1989.
Claus Roxin, Teoria da infracção, Textos de apoio de Direito Penal, tomo I, AAFD, Lisboa,
1983/84.
Costa Andrade, O princípio constitucional “nullum crimen sine lege” e a analogia no campo
das causas de justificação, RLJ ano 134º, nº 3924.
Eduardo Correia, Direito Criminal, I, p. 418; II, p. 49.
M. Miguez Garcia. 2001
599
Eduardo Maia Costa, Evasão de recluso, homicídio por negligência, comentário ao ac. do
STJ de 5 de Março de 1992, RMP (1992), nº 52.
Enrique Gimbernat Ordeig, El estado de necesidad: un problema de antijuridicidad, in
Estudios de derecho penal, 3ª ed., 1990.
Enrique Gimbernat Ordeig, Rechtfertigung und Entschuldigung bei Befreiung aus
besonderen Notlagen, in Rechtfertigung und Entschuldigung, III, her. von A. Eser und W.
Perron, Freiburg, 1991.
Eser/Burkhardt, Strafrecht I, 4ª ed., 1992; em tradução espanhola: Derecho Penal,
Cuestiones fundamentales de la Teoría de Delito sobre la base de casos de sentencias, Ed.
Colex, 1995.
F. Haft, Strafrecht, AT, 6ª ed., 1994.
Giuseppe Bettiol, Direito Penal, Parte Geral, tomo II, Coimbra, 1970.
Gonzalo Quintero Olivares, Derecho Penal, PG, 1992.
Jorge de Figueiredo Dias, Textos de Direito Penal. Doutrina geral do crime. Lições ao 3º ano
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, elaboradas com a colaboração de Nuno
Brandão. Coimbra 2001.
José António Veloso, "Sortes", Separata de Estudos Cavaleiro de Ferreira, RFDL, 1995.
José Cerezo Mir, Curso de Derecho Penal Español, PG II, Teoría Jurídica del delito/2, 1990;
2ª ed., em 1998, como Parte General III.
Juan Bustos Ramírez, Manual de derecho penal español. Parte general, 1984.
Karl Lackner, StGB, 20ª ed., 1993.
Maria Fernanda Palma, A justificação por legítima defesa como problema de delimitação de
direitos, 1990.
M. Miguez Garcia. 2001
600
Maria Fernanda Palma, Justificação em Direito Penal: conceito, princípios e limites, in Casos
e Materiais de Direito Penal, Coimbra, 2000, p. 109.
Maria Fernanda Palma, O estado de necessidade justificante no Código Penal de 1982, in
BFD, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Eduardo Correia, III, 1984. Publicado
igualmente in Casos e Materiais de Direito Penal, Coimbra, 2000, p. 175.
Rui Carlos Pereira, O crime de aborto e a reforma penal, 1995.
Teresa P. Beleza, Direito Penal, 2º vol., AAFDL.
Teresa Quintela de Brito, O direito de necessidade e a legítima defesa no Código Civil e no
Código Penal, 1994.
Vaz Serra, Causas justificativas do facto danoso, BMJ85.
M. Miguez Garcia. 2001
601
§ 25º Justificação.
Ilicitude, justificação. Tipo de ilícito, tipo de justificação; elementos
objectivos e subjectivos; limitações éticosociais.
• CASO nº 25: T, indivíduo franzino e de poucas forças, quando se encontrava na casa de
O2 começou a ser agredido sem motivo por O1, indivíduo de porte atlético. T bem
podia ter fugido da dependência e da própria casa de O2, logo que foi ameaçada a sua
integridade física. Em vez disso, porém, pegou num vaso de flores que se encontrava
ali à mão e arremessouo contra O1. O vaso atingiu O1 no peito, as flores bateramlhe
na cara. O1 tropeçou e caiu no chão. Sofreu uma ferida contusa. O vaso caiu e desfez
se em cacos. T previu tudo isso.
Devemos começar por distinguir entre o que aconteceu com O 1 e o que
aconteceu com O2. Recomendase que se comece com O1, por se tratar do crime
mais grave (artigo 143º do Código Penal). O artigo 143º corresponde ao crime
fundamental de ofensas corporais, pelo que, se houver uma circunstância
qualificativa, esta não deverá ser descurada. Havendo, pelo contrário, uma
causa de justificação, o ilícito não se verifica.
O tipo objectivo do crime fundamental contra a integridade física (artigo
143º, nº 1) mostrase preenchido. Não há razões para pôr em dúvida que o
ferimento sofrido por O1 é imputável a T. A vertente subjectiva do ilícito está,
do mesmo modo, preenchida. T previu o resultado, a ofensa contra a
integridade física, como consequência da sua descrita actuação.
• Pode todavia acontecer que o facto se encontre justificado. Uma justificação da ofensa
corporal de O1 não se encontra excluída. Os pressupostos de justificação do dano
podem ser no entanto diferentes e podem até não ocorrer. De qualquer forma, as
situações não devem ser confundidas.
A ofensa corporal de O1 poderá ser especialmente justificada por legítima
defesa (artigos 31º, nºs 1 e 2, a), e 32º). Da actuação atribuível a O1 surgiu um
perigo para a integridade física de T. O1 agrediu, no sentido do artigo 32º. A
M. Miguez Garcia. 2001
602
agressão era actual, face à imediata ameaça da integridade física de T, e era
ilícita O1 não tinha o direito (não tinha nenhum direito) de empregar a força
contra T. T encontravase em situação de legítima defesa. Nesta situação, o
arremesso do vaso de flores representava uma actuação defensiva em princípio
adequada perante a agressão. Era, por outro lado, o meio mais suave para a
defesa. O1 era fisicamente muito mais possante e T limitouse a atirarlhe com o
vaso ao peito e não, por ex., à cabeça... A defesa escolhida por T foi o meio
necessário no sentido do artigo 32º. Mostramse preenchidos os pressupostos
objectivos do tipo justificador.
• Contra esta solução não se pode objectar que T se poderia ter posto em fuga (commodus
discessus). Em situação de legítima defesa, a defesa é sempre permitida. Não é caso
de introduzir na discussão as limitações "éticosociais" para que, hoje em dia, tanto se
chama a atenção. Num caso regra, como este é, o defendente tem o direito de praticar
todos os actos de defesa idóneos para repelir a agressão, desde que não lhe seja
possível recorrer a outros, também idóneos, mas menos gravosos para o agressor. A
situação não está sujeita a quaisquer limitações decorrentes da comparação dos bens
jurídicos, interesses ou prejuízos em causa, nem T estava obrigado a evitar a agressão
através da fuga, por mais cómodo e possível que isso fosse (cf. Conceição Valdágua,
Aspectos da legítima defesa, p. 54).
Como já se disse, o artigo 32° do Código Penal exige, para que se verifique
legítima defesa, que a conduta do agente tenha sido meio necessário para
repelir uma agressão. A exigência de o facto ser praticado como meio necessário
de defesa para impedir a agressão implica a necessidade de o agente actuar
com animus defendendi (cf., por ex., o ac. do STJ de 19 de Junho de 1991, proc.
41647). As condições deste (i. é, as condições subjectivas de justificação do facto
por legítima defesa) encontramse também satisfeitas: o defendente agiu com
vontade de defesa.
Há certas causas justificativas, por ex., a legítima defesa, relativamente às quais se põe o
problema de saber se bastará, do lado subjectivo, o conhecimento pelo agente da situação
justificadora, ou será ainda necessário um certo animus ou intenção de actuar no sentido da
licitude (cf. Figueiredo Dias, Pressupostos da punição, in Jornadas de Direito Penal, CEJ, 1983,
p. 61).
T conhecia a situação de legítima defesa e estava igualmente ciente da
forma e da medida defensiva por si escolhida. A lesão corporal de O 1 está
M. Miguez Garcia. 2001
603
consequentemente justificada por legítima defesa (artigos 31º, nºs 1 e 2, a), e
32º).
Como fizemos noutros casos, devemos agora apreciar o que se passou com
O2. Está em causa o dano causado por T.
O tipo objectivo do artigo 212º do Código Penal mostrase preenchido. O
vaso foi destruído por acção de T. Também o lado subjectivo se encontra
preenchido. T previu a destruição do vaso, que é coisa móvel alheia, em
consequência da sua actuação. Não é necessário um dolo específico quando se
trata de crime de dano.
É caso para averiguar se ocorre alguma causa de justificação. A justificação
já atendida (por legítima defesa) não se estende a este caso, ainda que se trate
sempre da mesma acção. O vaso pertencia a O2 e este não praticou qualquer
agressão.
Os pressupostos do artigo 34º (direito de necessidade) estarão presentes?
O estado de necessidade surge quando o agente é colocado perante a
alternativa de ter de escolher entre cometer o crime, ou deixar que, como
consequência necessária, se o não cometer, ocorra outro mal maior ou pelo
menos igual ao daquele crime. Depende ainda da verificação de outros
requisitos, como a falta de outro meio menos prejudicial do que o facto
praticado e a probabilidade da eficácia do meio empregado (ac. da Relação do
Porto de 2 de Janeiro de 1984, in Simas SantosLeal Henriques, Jurisprudência
Penal, p. 131). O direito de necessidade, justificado embora por razões de
recíproco solidarismo entre os membros da comunidade jurídica, tem em todo o
caso de recuar perante a possibilidade de violação da dignidade e da autonomia
ética da pessoa de terceiro (exigibilidade éticosocial do sacrifício imposto: cf.
Figueiredo Dias, Pressupostos..., in Jornadas..., CEJ, p. 63).
Todavia, o estado de necessidade, contrariamente ao que ocorre com a
legítima defesa, é, eminentemente subsidiário. Não existe se o agente podia
conjurar o perigo com o emprego de meio não ofensivo do direito de outrem.
"A própria possibilidade de fuga (recaindo o perigo sobre bem ou interesse
inerente à pessoa) exclui o estado de necessidade, pois tal recurso, aqui, não
representa uma pusilanimidade ou conduta infamante" (Nelson Hungria, cit.
em Leal HenriquesSimas Santos, O Código Penal de 1982, 1º vol., comentário
ao artigo 34º). Cf., ainda, J. Hruschka, Strafrecht, p. 18.
M. Miguez Garcia. 2001
604
Consequentemente, não se encontra, por esta via, justificado o crime de
dano do artigo 212º.
Reparese, para terminar, que também o consentimento (artigo 38º) exclui
a ilicitude do facto. Ao consentimento efectivo é equiparado o consentimento
presumido, definido nos nºs 1 e 2 do artigo 39º. Atendendo, todavia, à escassez
da matéria de facto, não nos será razoavelmente permitido supor que O2, o
dono do vaso, teria eficazmente consentido.
O Código não dispõe de uma norma geral sobre os elementos subjectivos
das causas de justificação, mas o artigo 38º, nº 4, estabelece que no caso de o
consentimento não ser conhecido do agente, este será punível com a pena
aplicável à tentativa. A punibilidade da tentativa explicase por o desvalor do
resultado ser compensado pela ocorrência da situação objectiva justificante, mas
é duvidoso que este regime, consagrado para o consentimento, valha
analogicamente, para as restantes causas de justificação (cf. Rui Carlos Pereira,
Justificação do facto e erro em direito penal; Raúl Soares da Veiga, Sobre o
consentimento desconhecido, RPCC, ano 1 (1991), p. 327).
Costa Andrade, O princípio constitucional “nullum crimen sine lege” e a analogia no
campo das causas de justificação, RLJ ano 134º, nº 3924.
M. Miguez Garcia. 2001
605
§ 26º Situações putativas.
Legítima defesa putativa. Estado de necessidade putativo
• CASO nº 26 (legítima defesa putativa): A vem a sair dum parque de estacionamento, de
madrugada, cerca das 3 horas. De repente, convencido de que vai ser agredido por X,
que dele se aproximava para se certificar do caminho mais curto para o hotel onde
está hospedado, empurrao, fazendo com que X, caindo para o lado, sofra uma lesão
num joelho.
• CASO nº 26A (estado de necessidade putativo): A, que se sente perdido na serra, onde
foi apanhado por uma tempestade de neve, arromba a porta de uma vivenda isolada,
vendo nisso a derradeira possibilidade de não morrer de frio durante a noite que se
aproxima. A, todavia, podia ter entrado por uma das janelas da casa, sem causar
qualquer dano, já que a mesma não estava fechada.
• CASO nº 26B (excesso, excesso asténico, legítima defesa putativa): A, de 19 anos de
idade, é titular de uma licença de caça. Um dia, enquanto caçava, avistou B, julgando
tratarse de um caçador furtivo. B pôsse em fuga, o que fez avolumar as suspeitas de
A, que o perseguiu. B acabou por parar numa clareira, voltouse e encaminhouse na
direcção de A. Este julgou que ia ser por ele atacado, o que objectivamente não
correspondia à verdade. No entanto, A acreditou que o outro se dirigia para ele
querendo agredílo. A disparou a espingarda e acertou mortalmente em B.
• Noutra variante, A dispara a espingarda por estar assustado e profundamente perturbado
com a situação.
• Numa última variante, A dispara a espingarda porque odeia caçadores furtivos e está cada
vez mais convencido de que B é um deles.
M. Miguez Garcia. 2001
606
Se quem se defende crê erroneamente que se verifica uma agressão actual,
dáse um caso de excesso extensivo (25) de legítima defesa. A esta suposição
errónea de uma situação de facto justificante chamase vulgarmente legítima
defesa putativa, a qual engloba situações que, em última análise, se reconduzem à
disciplina do erro. Compreendemse aí, tanto a hipótese em que o agente actua
na falsa convicção de que se verificam os pressupostos da legítima defesa erro
sobre as circunstâncias de facto (Código Penal, artigo 16º, nº 2), como aquelas
em que o agente, "não obstante representar de forma correcta o
circunstancialismo fáctico em que actua, erradamente pensa que o âmbito da
legítima defesa abrange também a sua conduta erro sobre a ilicitude (Código
Penal, artigo 17º). Em ambos os casos o comportamento do defendente
apresentase como ilícito, passando a respectiva punição a constituir um
problema a resolver em sede de culpa" (Figueiredo Dias, Legítima defesa,
Pólis).
No caso nº 26 está, assim, fora de questão invocar o artigo 33º do Código
Penal, cujo nº 1 se refere ao "excesso nos meios empregados em legítima
defesa". Como A actuou na falsa convicção de que se verificavam os
pressupostos da legítima defesa, a hipótese enquadrase no regime do artigo
16º, nº 2, sendo certo que o crime de ofensas à integridade física se exprime
tipicamente tanto na forma dolosa como na negligente. O caso nº 26A resolve
se nos mesmos parâmetros, mas o Código só refere o desenho doloso do dano
(artigos 13º e 212º).
O caso nº 26B pode enquadrarse no "excesso de legítima defesa putativa":
o autor julga erroneamente que se está a iniciar uma agressão e excede, em
legítima defesa presumida, os limites da defesa. Pode parecer que também este
caso deve ser tratado no quadro normativo do erro, por se tratar de legítima
defesa putativa. Reparese, todavia, que o agente excede os limites da
justificação, admissíveis na própria situação por ele suposta. Mesmo que B,
efectivamente, tivesse agredido A ilicitamente o que não aconteceu , então
não teria sido necessário, atenta a natureza das coisas, matar B para afastar a
agressão. Teria havido meios menos gravosos com que se poderia obter
imediatamente o mesmo efeito. Por exemplo, A podia ter disparado para as
25
. Diferente do excesso intensivo ou nos meios, que ocorre quando, apesar de se encontrarem
preenchidos os diversos requisitos da legítima defesa, o agente causa ao agressor mais danos do que os
necessários à estrita preservação do bem jurídico ameaçado. Para que se verifique o excesso intensivo é
indiferente o valor relativo dos interesses conflituantes, bastando apenas que, na defesa, se hajam
ultrapassado os meios considerados "idóneos" ou "adequados" para impedir a agressão. Não intervém aqui a
teoria geral do erro, mas toda a problemática da "inexigibilidade".
M. Miguez Garcia. 2001
607
pernas de B, tanto mais que este se encontrava afastado de A quando o tiro
partiu. A podia ter visado outra parte do corpo menos sensível. Não há razão
para impor as consequências jurídicas decorrentes da disciplina do erro. Pelo
contrário, releva o excesso de meios empregados, pelo que o agente deve, em
princípio, ficar inteiramente responsável a título de dolo (cf., a este respeito, por
ex., Helmut Fuchs, Öst. Strafrecht, AT I, p. 182; J. Hruschka, Strafrecht, 2ª ed.,
1988, p. 269). Em Portugal, conhecese um caso em que conflui, por um lado,
uma legítima defesa putativa e, por outro, um excesso de legítima defesa: o STJ,
por acórdão de 30 de Setembro de 1993 (CJ, acs. do STJ, ano I, tomo III, 1993, p.
215; BMJ429523), decidiu que "age em legítima defesa putativa o agente que
entendeu o gesto da vítima, de erguer um cajado no decurso de uma discussão,
como sendo o início de uma agressão e, em seguida, a agride de forma a causar
lhe a morte. Quando o arguido representou ainda que porventura falsamente
os pressupostos objectivos necessários à legítima defesa, a situação fica
equiparada à existência real desses pressupostos. Verificase a situação do
artigo 33º, nº 1, do CP, quando o arguido empregou um meio de defesa para
além de todos os limites necessários à manutenção da sua integridade física".
• Na legítima defesa putativa acontece um fenómeno muito curioso de troca de papéis:
aquele que crê defenderse é, na realidade, um agressor; aquele que foi tomado por
um agressor acaba, ao fim e ao cabo, por se defender legitimamente de uma agressão
real de que é vítima. E por paradoxal que pareça, ambos podem ficar isentos de
responsabilidade criminal, mesmo que, inclusivamente, provoquem um ao outro
graves lesões. Francisco Muñoz Conde, "Legítima" defensa putativa? Un caso límite
entre justificación y exculpación, in Fundamentos de un sistema europeo del derecho
penal, 1995, p. 183.
Na hipótese tratada pelo Supremo, a questão de o agente ter actuado por
medo não chegava a pôrse, mas é neste sentido que temos que apreciar a
conduta de A na primeira variante do caso ("excesso asténico de legítima defesa
putativa") e decidir do mesmo passo se lhe é aplicável a regulamentação
favorável do artigo 33º, nº 2, em consonância com a mencionada orientação
jurisprudencial. Como se sabe, em estado de afecto asténico (perturbação,
medo, susto), o agente fica impedido de ponderar devidamente os meios
necessários para a defesa, consagrandose a impunidade do excesso asténico
não censurável. Mas quando estamos perante um estado de afecto esténico
(cólera, furor, desejo de vingança) e será porventura a última variante , o
M. Miguez Garcia. 2001
608
enquadramento fazse na previsão do nº 1. Resta, no entanto, saber se a
natureza esténica do afecto não deverá nestes casos excluir, ao menos as mais
das vezes, a atenuação especial da pena que ali se prevê. De qualquer modo, o
afecto esténico não detém nunca efeito desculpante (cf. Figueiredo Dias,
Legítima defesa, cit.; Pressupostos de punição, Jornadas, CEJ, p. 79; Sobre o
estado actual da doutrina do crime, RPCC 2 (1992), p. 27 e ss.) (26).
Quais os crimes praticados por A nas diversas situações apontadas?
Indicações de leitura:
• Acórdão do STJ de 28 de Abril de 1993, BMJ426257: crime de burla agravada; emissão de
cheque; crime de usura; direito de necessidade.
• Acórdão do STJ de 29 de Setembro de 1994, BMJ439319: homicídio voluntário; estado de
necessidade.
• Fernando Camilo Vasconcelos, O Estado de Necessidade no Direito Penal, Porto, 1982.
• Francisco Muñoz Conde, El error en Derecho Penal.
• Francisco Muñoz Conde, "Legítima" defensa putativa? Un caso límite entre justificación y
exculpación, in Fundamentos de un sistema europeo del derecho penal, 1995, p. 183.
• J. Wessels, Derecho Penal.
• Jorge de Figueiredo Dias, Pressupostos da punição e causas que excluem a ilicitude e a
culpa, Jornadas de Direito Criminal, O Novo Código Penal Português e Legislação
Complementar, Lisboa, 1983, p. 72.
• Jorge de Figueiredo Dias, Sobre o estado actual da doutrina do crime, RPCC, I (1991), p. 9;
2 (1992), p. 7.
• Jorge de Figueiredo Dias/Pedro Caeiro, Erro sobre proibições legais e falta de consciência
do ilícito (artigos 16º e 17º do Código Penal) Violação de normas de execução orçamental.
RPCC, 5 (1995), p. 245 e ss.
• José Caetano Duarte, O erro no Código Penal.
26
. A propósito do pensamento da inexigibilidade, a que no Código se não reconheceu valor geral, no
sentido de uma cláusula geral desculpante, e dos factos praticados em estado de afecto grave, que o agente
criou culposamente, o Prof. Figueiredo Dias admite, se bem percebemos, a possibilidade de analogia com o
que se estabelece no artigo 33º, nº 2, sendo decisivo apenas que aquela criação [e desenvolvimento] "não
radique em qualidades jurídico-penalmente desvaliosas da personalidade, pelas quais o agente deva
responder" (cf. Pressupostos, p. 79, e, especialmente, Sobre o estado actual, cit.).
M. Miguez Garcia. 2001
609
• Maria Fernanda Palma, O Estado de Necessidade Justificante no Código Penal de 1982,
Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Eduardo Correia, III, BFD, 1984.
• Rui Carlos Pereira, Justificação do facto e erro em direito penal.
• Teresa Serra, Problemática do erro sobre a ilicitude.
M. Miguez Garcia. 2001
610
§ 27º O erro
I. Erro — o erro intelectual exclui o dolo (artigo 16º, nºs 1 e 2); o erro moral,
correspondendo a um problema de culpa, deve ser apreciado segundo um
critério de censurabilidade que poderá conduzir à sua irrelevância, à exclusão
da culpa ou à sua atenuação (artigo 17º, nºs 1 e 2).
• Por erro entendese a ignorância ou má representação de uma realidade.
• Essa realidade pode ter uma natureza diversa, traduzindose em elementos fácticos ou
normativos de um tipo de crime (artigo 16º, nº 1, primeira e segunda proposições),
certas proibições (artigo 16º, nº 1, terceira proposição), em elementos que
constituem pressupostos de causas de exclusão da ilicitude ou da culpa (artigo 16º,
nº 2) ou valorações do sistema penal (artigo 17º). [José António Veloso, Erro em
Direito Penal, p. 6, usa os conceitos de ignorância e suposição como modalidades
de erro consequentes face ao regime legal].
• Relativamente ao seu objecto, o erro pode incidir sobre realidades de facto ou elementos
da direito descritos no tipo de crime (artigo 16º, nº 1, primeira e segunda
proposições) ou mesmo sobre certas proibições (artigo 16º, nº 1, terceira
proposição). Pode ainda incidir sobre aspectos da realidade estranhos ao tipo de
crime que correspondam aos pressupostos de uma causa de exclusão da ilicitude
ou da culpa (artigo 16º, nº 2, do Código Penal). Finalmente, o objecto do erro pode
ser a própria proibição ou permissão legal, na medida em que a sua ignorância ou
deficiente representação seja sinónimo de uma falta de consciência da ilicitude do
agente (artigo 17º).
• O Código distingue o regime do erro consoante a sua natureza: a ignorância ou a errada
apreensão da realidade pode corresponder a um problema cognitivo ou pode
traduzirse num problema valorativo. No primeiro caso, estamos perante um erro de
M. Miguez Garcia. 2001
611
natureza intelectual ou meramente cognitivo (erro de conhecimento ou erro
intelectual); no segundo, estamos perante um problema de natureza axiológica ou
de valoração do agente sobre a realidade (erro de valoração ou erro moral).
• Consequências: o erro intelectual excluirá o dolo (artigo 16º, nºs 1 e 2). O erro moral
corresponderá a um problema de culpa, devendo a sua relevância ser apreciada
segundo um critério de censurabilidade que poderá conduzir à sua irrelevância, à
exclusão da culpa ou à sua atenuação, neste caso com a correspondente graduação
da pena (artigo 17º, nºs 1 e 2).
• Cf. Teresa P. Beleza e Frederico de Lacerda da Costa Pinto, O Regime Legal do Erro e as
Normas Penais em Branco, p. 10 e 22.
II. Breve introdução à problemática do erro.
A ignorância ou a errada apreensão da realidade como um problema
cognitivo ou como um problema valorativo: erro de natureza intelectual ou de
conhecimento, que corresponderá a um mero problema cognitivo / erro de
valoração ou erro moral, correspondente a um problema de natureza
axiológica.
1.No direito português há duas maneiras de encarar o erro do ponto de
vista penal. A cada uma dessas duas formas de erro correspondem diferenças
quanto à relevância e aos efeitos na responsabilidade penal do agente. Numa
das formas de erro (erro intelectual) o dolo é excluído ficando o caso pendente
da punibilidade do agente por negligência de acordo com as regras gerais. Na
outra, se o erro (erro moral ou de valoração) não for censurável a culpa é
excluída — poderá falarse aqui, do ponto de vista dogmático, de um
fundamento de exclusão da culpa; em caso de censurabilidade do erro
permanece a punibilidade por facto doloso, ainda que a pena possa ser
especialmente atenuada. A diferença entre as duas formas de erro nada tem a
ver com a questão ultrapassada da distinção entre erro de facto e erro de direito
ou com a possibilidade de distinguir este último sob o ponto de vista de um
erro penal ou extrapenal. No Código Penal português o erro pode incidir sobre
elementos de facto ou de direito descritos no tipo de crime ou mesmo sobre
certas proibições ou pode incidir sobre pressupostos de uma causa de exclusão
M. Miguez Garcia. 2001
612
da ilicitude ou da culpa (artigo 16º, nºs 1 e 2). O objecto do erro pode ser ainda a
própria proibição (ou permissão) legal, na medida em que a sua ignorância ou
deficiente representação seja sinónimo de uma falta de consciência da ilicitude
(artigo 17º).
Esta última regra fornece a chave da compreensão do que seja o
verdadeiro fundamento da distinção entre as duas indicadas formas de erro.
Vejamos o ex. do Prof. Figueiredo Dias (O problema da consciência da
ilicitude, p. 279 e ss., que procuramos seguir muito de perto). O automobilista
que, seguindo numa estrada em noite enevoada e sentindo um embate no
veículo, continua o seu caminho porque supôs tratarse de uma pedra ou de um
animal — quando na realidade se tratava de uma criança que ficou gravemente
ferida — actua, relativamente ao facto tipicamente relevante (abandono,
omissão de auxílio), com falta de conhecimento de um elemento típico, com
uma falta ao nível da sua consciência psicológica que impede a consciência ética
de se orientar esclarecidamente para o problema do desvalor em causa (o do
abandono). Já porém o automobilista que se dá conta que embateu numa
criança e, vendoa gravemente ferida, se não põe a questão do dever de a
socorrer, ou se não julga juridicamente obrigado a fazêlo e assim (v. g. para se
não atrasar no caminho ou não manchar de sangue os estofos do seu carro) a
abandona, possui ao nível da sua consciência psicológica todos os elementos
necessários para que a consciência ética se ponha e decida correctamente o
problema de desvalor em causa. Ponderese a circunstância de o automobilista
não conhecer o artigo 200º do Código Penal, ou não o conhecer exactamente
supondo v. g. que ele só impõe o dever de auxílio a quem tiver tido a culpa do
acidente — na perspectiva do automobilista, a quem não falta qualquer
conhecimento relevante da situação, já que se apercebera claramente de que
atropelara uma criança, o abandono desta não será ilícito.
O regime do erro é, em direito penal, uma decorrência do princípio da
culpa ou da responsabilidade subjectiva, de forma que, basicamente, o
problema que aqui se coloca é um problema de culpa. A relevância penal do
erro constitui, portanto, um problema de culpa: a imputação a um agente de
factos criminalmente relevantes assenta num nexo subjectivo na modalidade de
dolo ou de negligência (artigos 14º e 15º). Daí a oportunidade da pergunta: o
significado axiológico normativo destas condutas é o mesmo para a culpa?
Perguntando doutra forma: onde é que, no que tange à culpa, se encontra
a diferença específica que permite distinguir um erro que exclui o dolo dum
M. Miguez Garcia. 2001
613
outro erro que não exclui o dolo, mas que exclui sempre a culpa, quando não
for censurável?
A resposta está no seguinte:
O erro exclui sempre o dolo quando no processo de motivação se interpõe
um erro intelectual, uma falta de conhecimento que conduz a uma apreensão
inexacta da situação e que impede o agente — como impediria qualquer pessoa,
por mais conformada que estivesse com o deverser jurídico penal — de tomar
consciência da ilicitude da conduta intentada. No primeiro exemplo, o do
automobilista que atropela a criança mas julga erroneamente que embateu
numa pedra, mesmo o agente dotado de uma consciência conformada com
exigências daquele deverser precisaria de saber que o veículo havia embatido
num ser humano para que se pudesse pôr e decidir correctamente a questão do
dever de auxílio.
No segundo caso, o que está em causa é um erro moral ou de valoração —
é uma questão de "bondade" ou "maldade" jurídica, de ilicitude ou licitude; e o
que é bom, ou mau, lícito ou ilícito, não é qualquer conhecimento mas só pode
ser a própria conduta. O agente teve neste caso presentes na consciência
psicológica todos os elementos que eram necessários para que a sua consciência
ética se tivesse posto e decidido correctamente a questão do dever respectivo;
pois todo o homem de consciênciaética conformada com as exigências do
direito penal teria concluído, na base do conhecimento do agente concreto, pela
ilícitude da não prestação de auxílio.
Daí que possamos concluir o seguinte: quando falta ao agente o
conhecimento de circunstâncias tipicamente relevantes, a censura da culpa
fundase em uma falta de conhecimento ao nível da consciênciapsicológica;
quando existe dolodofacto mas falta a consciência da ilicitude, a censura
fundamentase em uma falta da consciênciaética, relacionada com os valores
que ao direito penal cumpre proteger. No caso em que o condutor abandona a
criança por julgar ter embatido numa pedra, e não sendo de esperar, mesmo do
homem prudente e cuidadoso, mas dotado das qualidades intelectuais do
agente, que nas circunstâncias da acção comprovasse a natureza do embate,
cessa toda a censura e toda a culpa. Já porém no caso em que há dolodofacto
mas falta a consciência da ilicitude do que se trata é de uma falta da própria
consciênciaética e portanto de uma qualidade éticojuridicamente relevante da
personalidade, susceptível de fundamentar por si mesma, quando
M. Miguez Garcia. 2001
614
documentada no facto, uma culpa de espécie particular. Ora, estas qualidades
são valoradas de acordo com um padrão estritamente objectivo.
2.O erro sobre elementos de facto ou de direito de um tipo de crime
exclui o dolo (artigo 16º, nº 1, 1ª parte). Estamos agora em condições de
compreender que o erro sobre elementos de facto ou de direito de um tipo de
crime exclui o dolo (artigo 16º, nº 1, 1ª parte). Com efeito, o tipo é o portador da
valoração da correspondente conduta como ilícita e o conhecimento de todos os
seus elementos constitutivos (de facto ou de direito, positivos ou negativos,
descritivos ou normativos, determinados ou indeterminados, "fechados" ou
"abertos") é indispensável a uma correcta orientação da consciência do agente.
Deste modo, ainda que a acção preencha o tipo objectivo do ilícito, em
caso de erro sobre a factualidade típica, a sanção fica excluída quando se tratar
de crime doloso (artigo 14º).
• No exemplo do indivíduo que leva consigo o guardachuva de outra pessoa, no
convencimento de que é o seu (desconhecimento da natureza alheia da coisa), o
agente não é punido por furto (artigos 14º, 16º, nº 1, e 203º). Não obstante o disposto
no artigo 16º, nº 3, a regra não funciona num caso como este por só serem puníveis
situações de “furto” cometidas dolosamente.
Mas se excepcionalmente o facto for punível por negligência (artigos 13º,
última parte, e 15º), o agente poderá ser punido a este título: artigo 16º, nº 3 —
“fica ressalvada a punibilidade da negligência nos termos gerais.”
• Exemplo: durante uma caçada, A atinge mortalmente o seu companheiro B a tiro,
confundindoo com um animal. B, por brincadeira, tinhase escondido atrás de uns
arbustos e começara a grunhir como se fosse uma peça de caça. A desconhecia que
atirava sobre “outra pessoa” (artigo 131º) e isso exclui a punição por dolo (artigos 14º,
16º, nº 1, e 131º), mas se o erro for censurável, se o caçador disparou
descuidadamente, sem proceder ao exame atento da situação, A será punido por
crime negligente (artigos 13º, última parte, 15º, 16º, nºs 1 e 3, e 137º, nº 1).
Conclusão: o dolodotipo faltará no caso de um erro de tipo ou erro sobre
a factualidade típica — erro intelectual ou erro de conhecimento, que exclui o
M. Miguez Garcia. 2001
615
dolo (artigo 16º, nº 1). Poderá, quando muito, haver punição a título de
negligência (artigo 16º, nº 3), nos termos gerais.
3.No artigo 16º, nº 2, o erro é ainda de natureza intelectual — o seu
regime é idêntico ao erro sobre o facto típico, ficando excluído o dolo (e isso,
não obstante tratarse de uma realidade que transcende o facto típico (Teresa
Beleza), pois incide sobre os pressupostos de facto de uma causa de exclusão
da ilicitude ou da culpa). O artigo 16º, nº 2, dispõe que o preceituado no nº
anterior — quanto ao erro sobre elementos de facto ou de direito de um tipo de
crime (...) —, abrange o erro sobre um estado de coisas que, a existir, excluiria a
ilicitude ou a culpa do agente. O regime deste nº 2 segue materialmente o
regime do erro sobre o facto típico — por se tratar de um erro de natureza
intelectual ele possui um efeito idêntico ao erro sobre o facto típico, de forma
que também aqui se exclui o dolo.
Os casos de erro sobre um pressuposto objectivo, de facto ou de direito, de
uma causa de justificação, situamse entre o autêntico erro de tipo e o autêntico
erro de proibição. Assemelhamse ao erro de tipo porque, tal como neste, o
agente erra sobre elementos objectivos de facto ou de direito (normativos ou
descritivos); estão perto do erro de proibição porque ao errar a respeito do
conhecimento de circunstâncias que fundamentam a ilicitude erra afinal o
agente a respeito da ilicitude do facto.
Quem actua na suposição de que o faz com o beneplácito de uma causa de
justificação alcança o apelo da norma de Direito tanto quanto aquele que ignora
a existência de um elemento do facto. Quem erra sobre um elemento de facto ou
de direito do tipo de crime fica creditado da mesma atitude de conformidade
com o Direito daquele que erra a respeito de um estado de coisas que, a existir,
excluiria a ilicitude ou a culpa, pois só actua contra o Direito por causa do erro
de que está possuído. Ambas as situações conferem com a razão de ser da
regulamentação prevista no artigo 16º, mas não com a prevista no artigo 17º.
• “A razão porque o erro de tipo permissivo não segue o regime do erro de proibição reside,
por um lado, na diminuição — que não na supressão — do desvalor da conduta, já
que o agente acredita estar a actuar justificadamente, isto é, de acordo com o Direito e
não contra o Direito. Em consequência, por outro lado, também o conteúdo da culpa
se reduz consideravelmente uma vez que a motivação que conduziu à formação do
dolo não se funda num ânimo, numa atitude contrária ao Direito, mas tão somente no
M. Miguez Garcia. 2001
616
exame descuidado da situação. O que deve censurarse ao agente é o facto de ter
actuado descuidadamente, sem proceder ao exame atento da situação. Significa isto
que se mantém incólume o dolo de tipo, havendo participação punível, mas que não
estão reunidos os pressupostos da culpa dolosa, na medida em que falta a atitude
contrária ao Direito por parte do agente. Consequentemente, vai ser afastada a
censura dolosa, para o agente vir a ser punido com a pena correspondente ao crime
negligente, nos termos dos artigos 16º, nº 3, e 13º.” (Cf. Teresa Serra, p. 85, chamando,
por isso, a atenção para a dupla função do dolo).
• No exemplo em que A interpreta erroneamente como agressivo um gesto de B que de noite
se aproxima de si (por ex., para lhe pedir uma informação, ou para lhe pedir um
cigarro) e o golpeia, com intenção de se defender, A só pode ser sancionado pelo
artigo 148º, mas nunca pelo artigo 143º.
4.A ignorância da proibição nos casos de conduta axiologicamente
neutra será ainda um problema de conhecimento (de natureza cognitiva ou
intelectual), pelo que igualmente se excluirá o dolo (artigo 16º, nº 1, última
parte). Finalmente, em face do artigo 16º, nº 1, última parte, as considerações
antes feitas ajudam a compreender que, também aqui, perante uma conduta
axiologicamente neutra, se o agente desconhece a proibição legal e em
consequência disso não alcança a consciência da ilicitude fica excluído o dolo do
agente e a punição a esse título (artigo 16º, nº 1, última parte) — o erro fica a
deverse ainda a uma falta de ciência, que não a um engano da sua consciência.
A consciênciaética não se exprime na conduta realizada e não pode ser atingida
pelo juízo de censura da culpa. O que pode censurarse ao agente não é uma
falta de consonância da sua consciênciaética com os critérios de valor da ordem
jurídica, mas só eventualmente uma falta de cuidado, traduzida na omissão do
dever de se informar e esclarecer sobre a proibição legal, que torna a sua
conduta axiologicamente relevante: a censura típica da negligência.
Com efeito, a norma de proibição pode ser indispensável à relevância
"axiológica da conduta" (Figueiredo Dias) ou "de criação predominantemente
política" (Cavaleiro de Ferreira). Neste caso, o seu conhecimento é
"razoavelmente indispensável à tomada de consciência da ilicitude" e a
ignorância dita a exclusão do dolo. Se o agente ignorar a vigência da norma
incriminadora, desconhecerá a existência da proibição e estará em situação de
M. Miguez Garcia. 2001
617
erro intelectual, que o impede de tomar consciência da ilicitude, ficando
excluído o dolo. Por ex., tratandose de norma do chamado direito penal
económico secundário ou extravagante o bem jurídico protegido pode não
possuir um substracto ontológico concreto nem se referir a pessoas particulares;
tratarseá assim de um crime em que as condutas que o integram não
assumem, independentemente da proibição, um evidente carácter ético de
desvalor, a ponto de se poder considerar irrelevante o erro sobre a proibição
(Figueiredo Dias, Crime de câmbio ilegal, p. 55). Recordese que para que haja
dolo do tipo (possibilitando uma ulterior afirmação de uma culpa dolosa)
necessário se torna que o agente conheça todos os elementos indispensáveis
para que a sua consciênciaética se ponha e possa resolver correctamente o
problema da ilicitude do seu comportamento, quer tais elementos sejam factos
materiais, ou até as próprias concretas proibições. A maior ou menor extensão
do conhecimento exigido varia em função do tipo de crime em presença e da
conduta que o preenche. O critério é, no entanto, sempre o mesmo: o erro
intelectual exclui o dolo e tal erro existe quando falta ao agente, ao nível da sua
consciência psicológica, o conhecimento de um qualquer elemento que seja
necessário para que a sua consciência moral esteja na posse de todos os dados
necessários para se colocar e resolver o problema da ilicitude.
Na situação psicológica documentada pelo caso de câmbio ilegal tratado
pelo Prof. Figueiredo Dias (Crime de câmbio ilegal, CJ, ano XII (1987), tomo 2,
p. 53) falta qualquer substracto material (ao nível do agente) sobre o qual
aplicar o juízo de censura próprio da culpa dolosa. "Como poderia no facto
praticado demonstrar o agente contrariedade ao direito, quando não possuía o
conhecimento necessário para sequer poder aventar a possibilidade de a sua
acção ser antijurídica?" Há portanto condutas que — diferentemente do que
sucede com um homicídio, um roubo, uma violação ou uma falsificação
documental — não podem reputarse, em si mesmas, como axiologicamente
relevantes: são axiologicamente neutras. O que então pode eventualmente
censurarse ao agente — repetese — não é uma falta de consonância da sua
consciênciaética com os critérios de valor da ordem jurídica, mas só uma falta
de cuidado (omissão do dever de se informar e de se esclarecer sobre a
proibição legal), isto é, a censura típica da negligência. A censura fundamenta
se aqui no incumprimento de um dever de informação e esclarecimento sobre
proibições legais e não no de um dever de pôr em tensão a consciênciaética e
de a conformar com as valorações da ordem jurídica. Deve contudo acentuarse
que o erro sobre a proibição será em regra censurável para o agente pertencente
ao círculo (nos casos de condutas axiologicamente neutras que se relacionam
M. Miguez Garcia. 2001
618
com a actividade profissional do agente ou com o círculo de vida a que este
pertence, por ex., as proibições que atingem a actividade do médico, do
farmacêutico, do caçador, do automobilista) não censurável para o estranho (F.
Dias, O Problema, p. 409).
• Crítica: o que é uma conduta "axiologicamente neutra" ou "axiologicamente relevante"?
Com base em que critérios vai o Tribunal decidir dessa natureza? Como é que é
possível garantir o cumprimento do princípio do contraditório relativamente à
decisão desta questão? Barbara Wooton escrevia há já muito, com a ironia que lhe era
peculiar, que desconfiava que os mala in se eram, simplesmente, mala prohibita há mais
tempo. Bater na mulher era, há quarenta anos, quando os Tribunais portugueses
ainda admitiam expressamente o poder de "moderada correcção doméstica" do
marido, um (mero) malum prohibito? Assim, Teresa Beleza / Costa Pinto, O erro sobre
normas penais em branco.
5.O erro moral ou erro de valoração corresponde a um problema de
culpa e pode conduzir à exclusão da culpa ou à sua atenuação (artigo 17º, nºs
1 e 2). Se a conduta for em si mesma axiologicamente relevante a ignorância
da proibição será ainda um problema de culpa — a resolver segundo os
critérios do artigo 17º.
Estarão aqui em causa a errónea convicção do agente de que a
incriminação não existe, ou de que, existindo, todavia não cobre a conduta
intentada, bem como a errónea aceitação quer da existência de um obstáculo à
ilicitude que o direito não reconhece, quer de que o âmbito de um obstáculo
juridicamente reconhecido é mais amplo do que na realidade o é, cobrindo com
a sua força justificadora a conduta intentada.
• Exemplos: i) De erro de proibição: T, que se encontra há pouco tempo em Portugal, vindo
de um país estrangeiro, conhece aqui R e sabe que esta vai fazer 14 anos daí a dois
meses, inclusivamente, fazem projectos para comemorar a data. Apesar disso, T
pratica com R relações sexuais de cópula. No país donde T é originário só se proíbem
relações sexuais do tipo das descritas com raparigas de idade inferior a 13 anos.
Como T desconhece o que se passa em Portugal não tem consciência do seu facto, não
sabe que comete um crime. Na verdade, T preencheu todos os elementos do tipo do
M. Miguez Garcia. 2001
619
artigo 172º do Código Penal, mas faltalhe a consciência da ilicitude, pois não conhece
a proibição (a norma de proibição). (Tratarseia de erro de tipo se, pelo contrário, T,
conhecendo a proibição, estivesse convencido de que a rapariga de 13 anos tinha de
facto 17). ii) De erro sobre o âmbito de aplicação da norma: T, estudante de Direito,
entra em discussão com a sua irmã mais nova e não tendo gostado dos modos desta,
deixaa adormecer e aproveita para lhe cortar uma abundante porção de cabelo.
Depois, sustentou que não tinha cometido nenhuma acção ilícita, pois só pode haver
ilicitude quando um tipo de crime da parte especial do Código Penal se mostrar
preenchido. É certo — continuou T, mas sem razão! — que o artigo 143º pune quem
ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa, mas isso não acontece quando
simplesmente se corta o cabelo de alguém. iii) De erro sobre a existência de uma
norma de permissão: o funcionário T sabe que a norma penal que pune a corrupção
(artigo 373º) não lhe permite receber dinheiro como contrapartida de um serviço
prestado no exercício de funções, mas supõe erradamente que isso não se aplica aos
valiosos presentes que lhe queiram dar por altura do Natal e aceita receber vários. iv)
De erro sobre o âmbito de aplicação de uma norma de permissão: T conseguiu
finalmente pôr termo à agressão de O. Quando este jaz, estendido no chão, T dálhe
ainda uns vigorosos pontapés que o atingem por várias partes do corpo (artigo 143º),
partindo da suposição errónea de que o facto estava ainda coberto por legítima defesa
(artigo 32º).
Num caso destes, o agente terá actuado com todo o conhecimento
necessário a uma correcta orientação da sua consciênciaética para a questão do
desvalor do facto, i. é, para o problema da ilicitude, de tal forma que a censura
do erro e do ilícitotípico que este fundamenta só pode repousar em uma
desconformação entre os critério de valor da consciênciaética do agente e os
reconhecidos pela ordem jurídica. O que então poderá eventualmente censurar
se ao agente é — não uma falta de cuidado, traduzida, por ex., na omissão do
dever de se informar e de se esclarecer sobre a proibição legal, isto é, a censura
típica da negligência —, mas uma falta de consonância da sua consciênciaética
com os critérios de valor da ordem jurídica. Mesmo quando o agente incorre em
um erro censurável sobre a existência ou o âmbito de um obstáculo à ilicitude a
censura não se dirige à circunstância de ele "desconhecer" os exactos limites de
M. Miguez Garcia. 2001
620
que a ordem jurídica faz depender a exclusão da ilicitude, antes sim à
circunstância de, apesar de um exacto conhecimento da situação e de uma
correcta orientação para o problema da ilicitude, não ter alcançado a
consciência do desvalor da conduta intencionada.
Consequentemente, a relevância do erro moral como problema de culpa
deverá ser apreciada segundo um critério de censurabilidade que poderá
conduzir à sua irrelevância, à exclusão da culpa ou à sua atenuação (artigo 17º,
nºs 1 e 2). Todavia, a falta de consciência da ilicitude só deverá reputarse não
censurável quando, para além de se não lograr a comprovação de que ela ficou
a deverse, directa e imediatamente, a uma qualidade desvaliosa e jurídico
penalmente relevante da personalidade do agente, for possível verificar,
positivamente, a manutenção no agente, apesar daquela falta, de uma "recta
consciência", fundada em uma atitude de fidelidade ou correspondência a
exigências ou pontos de vista de valor juridicamente relevantes (Figueiredo
Dias, RLJ; O Problema, p. 307; Liberdade, Culpa, Direito Penal, p. 242).
III. Erro de tipo; erro sobre a factualidade típica.
• CASO nº 27: T, que se encontra na casa de O, vê ali um livro que supõe erradamente ser
seu. Para não ter que voltar ali só para levar o livro, meteo na saca com que anda e
levao consigo, sem nada dizer.
Falta o dolo quando o agente desconhece uma circunstância do tipo de
crime. Falta a consciência da ilicitude quando o agente desconhece a proibição
do facto. É assim que emergem o erro de tipo ou sobre a factualidade típica e o
erro na proibição como as duas formas do erroignorância. Objecto do erro de
proibição é em primeira linha a norma de proibição. Objecto do erro de tipo é a
base factual a subsumir no tipo de proibição.
No caso nº 27, como se trata de subtracção de coisa alheia, o tipo de ilícito
objectivo do furto mostrase preenchido. Todavia, T desconhece uma
circunstância factual típica, desconhece que o livro é alheio. T está em erro
sobre a factualidade típica, pelo que não será punido (artigos 14º, 16º, nº 1, e
203º). Tratase de um “erro intelectual ou de conhecimento” (correspondente a
um problema cognitivo) que pode versar sobre quaisquer elementos,
descritivos ou normativos, tipicamente relevantes. Não obstante o disposto no
M. Miguez Garcia. 2001
621
artigo 16º, nº 3, a regra não funciona num caso como este por só serem puníveis
situações de “furto” cometidas dolosamente.
• Mas se excepcionalmente o facto for punível por negligência (artigos 13º, última parte, e
15º), o agente poderá ser punido a este título: artigo 16º, nº 3 “fica ressalvada a
punibilidade da negligência nos termos gerais.” A existência de negligência depende
então da censurabilidade do erro. Durante uma caçada, T atinge mortalmente o seu
companheiro O a tiro, confundindoo com um animal. O, por brincadeira, tinhase
escondido atrás de uns arbustos e começara a grunhir como se fosse uma peça de
caça. T desconhecia que atirava sobre “outra pessoa” (artigo 131º) e isso exclui a
punição por dolo (artigos 14º, 16º, nº 1, e 131º), mas se o erro for censurável, T será
punido por crime negligente (artigos 13º, última parte, 15º, 16º, nºs 1 e 3, e 137º, nº 1).
IV. Erro; erro sobre a proibição; falta de consciência da ilicitude; erro sobre a
licitude do facto; crime putativo.
• CASO nº 27A: O pedreiro “promovido” a dono de café. A colocou no seu
estabelecimento de confeitaria, situado em Rio Tinto, uma máquina, contendo várias
bolas e, junto dela, um cartaz, todo ele numerado. A máquina destinavase a uma
modalidade de jogo, na qual o jogador introduz uma moeda de 100$00 e, rodando o
manípulo para a direita, recebe em troca uma bola, dentro da qual se encontram duas
senhas. Se nas senhas se encontrar um número que coincida com algum dos números
existentes no cartaz, o jogador terá direito ao prémio pecuniário, indicado em pontos,
por baixo do número premiado.
• A sabia que tal jogo é um jogo de fortuna ou azar.
• Agiu de forma voluntária e consciente.
• Anteriormente, trabalhava na construção civil como pedreiro.
M. Miguez Garcia. 2001
622
• Não se provou que A sabia que a exploração de tais máquinas fora das zonas autorizadas
de jogo é proibida. Também se não provou que A sabia que a sua conduta era
reprovável e contrária à lei.
• A fora acusado da prática de um crime p. e p. pelos artigos 3º, 4º, 108º e 115º do DL 422/89
de 2 de Dezembro. O artigo 1º dispõe que "jogos de fortuna ou azar são aqueles cujo
resultado é contingente por assentar exclusiva ou fundamentalmente na sorte". O
artigo 3º, nº 1, prescreve que a exploração de tais jogos só é permitida nos casinos
(existentes nas zonas previstas no nº 3) ou nos locais referidos nos artigos 6º a 8º. A
máquina existente no estabelecimento de A destinavase a um jogo de fortuna ou
azar, para os efeitos do artigo 1º citado (uma vez que, depois de o jogador introduzir
uma moeda de 100$00 e rodar o manípulo aí existente, é aleatório, dependendo da
sorte, o conteúdo da bola que sai em troca). A sua exploração era feita em local não
permitido, ou seja, fora das zonas de jogo legalmente instituídas, não constando dos
autos qualquer autorização das autoridades competentes. Por outro lado, o artigo
108º prevê que "quem, por qualquer forma, fizer a exploração de jogos de fortuna ou
azar fora dos locais legalmente autorizados será punido...", mas não se incrimina a
conduta simplesmente negligente.
Encontramse preenchidos os elementos objectivos deste tipodeilícito.
Vejamos se a conduta integra o correspondente elemento subjectivo, sendo
certo que (artigo 13º do Código Penal), "só é punível o facto praticado com dolo
ou, nos casos especialmente previstos na lei, com negligência". Age com dolo
aquele que, representando um facto que preenche um tipo de crime, actua com
intenção de o realizar — artigo 14º, nº 1, do Código Penal.
Ora, como ficou provado, A representou que, ao colocar a máquina em
causa no seu estabelecimento, estava a explorar um jogo de fortuna ou azar e
quis fazêlo, tendo agido voluntária e conscientemente. Estão, assim,
preenchidos os elementos intelectual (conhecimento ou representação dos factos
constitutivos de um tipo legal de crime) e volitivo (vontade de realização desses
factos) do dolo (enquanto tipodeilicito).
M. Miguez Garcia. 2001
623
Porém, não se provou que A soubesse que a sua conduta — exploração do
jogo — era proibida por lei, ou seja, não se provou que agiu com consciência da
ilicitude.
E se, de acordo com o artigo 16º, nº 1, do Código Penal "o erro (...) sobre
proibições cujo conhecimento for razoavelmente indispensável para que o
agente possa tomar consciência da ilicitude do facto, exclui o dolo", de acordo
com o artigo 17º, nº 1,, "age sem culpa quem actuar sem consciência da ilicitude
do facto, se o erro não lhe for censurável".
A delimitação entre o regime do artigo 16º e o do artigo 17º fazse a partir
da natureza axiológica da conduta do agente. Importa, pois, determinar qual o
critério decisivo de distinção entre os dois tipos de erro (o previsto no artigo 16º
e o previsto no art. 17º), para sabermos se, no caso, se aplicará alguma dessas
normas.
• O problema envolvese na questão mais geral da distinção entre erro sobre a mera
proibição legal e a verdadeira e própria falta de consciência da ilicitude que é agora
entendida como elemento material do juízo de culpa e com completa autonomia
relativamente ao dolo. (27)
Em primeiro lugar, será necessário verificar se, no caso concreto, o simples
conhecimento do tipo objectivo por A, em todas as circunstâncias relevantes, de
facto e de direito, era suficiente para uma correcta orientação do mesmo para o
desvalor do ilícito. Se concluirmos que não e que, no caso, era ainda para tanto
necessário o conhecimento da proibição (v. g., porque é fraca a coloração ética
da conduta em causa, porque são razões de pura oportunidade ou de estratégia
social que baseiam a proibição, ou porque nos deparamos com uma hipótese de
neocriminalização que ainda não ganhou a devida ressonância éticosocial),
estaremos perante um erro sobre a proibição relevante (artigo 16º, nº 1). Se,
porém, se concluir que A possuía todo o conhecimento razoavelmente
indispensável para tomar consciência da ilicitude do facto e todavia não a
alcançou, então tratase de uma hipótese que cabe na previsão do artigo 17º, por
não estarmos perante um caso de falta de informação ou de esclarecimento, mas
27 A consciência da ilicitude é momento da culpa, da censurabilidade (H. Welzel, Das
Deutsche Strafrecht, 11ª ed., 1969, p. 77), tendo sido ultrapassada a concepção que incluía o
conhecimento da antijuridicidade no dolo, o chamado dolus malus.
M. Miguez Garcia. 2001
624
de deficiência da própria consciência ético jurídica de A, que não lhe permite
apreender correctamente os valores jurídicopenais. (Cf. Figueiredo Dias,
Pressupostos da Punição, Jornadas, p. 72 e s.)
O teor do artigo 16º, nº 1, significa que é também objecto de
conhecimento, no dolo, a norma proibitiva que incrimina o facto, mas não o é
sempre — só se for indispensável para o agente tomar consciência da ilicitude.
É que a consciência da ilicitude está, em geral, implícita no conhecimento do
próprio facto. As directrizes básicas de ordem moral e social são manifestas a
todos os homens providos de razão, e o Direito penal só incrimina, em geral, as
ofensas a princípios fundamentais da ordem moral e social (Direito penal
primário).
• Na verdade, toda a gente sabe que não se pode matar, nem roubar, nem violar, nem
ofender corporalmente, nem injuriar, nem acusar falsamente, pois todas estas
condutas, citadas como exemplo, correspondem ao que Garófalo chamava “delitos
naturais”, cuja reprovabilidade faz parte da cultura social.
A falta de consciência da ilicitude não é, então, de admitir e não é
excusável, porque a consciência da ilicitude acompanha naturalmente o
conhecimento dos elementos essenciais do facto ilícito.
Há, porém, crimes predominantemente de criação política, nos quais essa
presunção não se verifica, por neles sobrelevar a imposição de deveres de
disciplina social (direito penal secundário). Em tais casos, para tomar consciência
da ilicitude, tem o agente de conhecer a própria norma que os impõe e, então,
só haverá dolo se o agente tiver conhecimento da proibição legal, por se tratar
de condutas axiologicamente neutras (como em parte do direito penal
extravagante), em que a consciência ética, para se pôr correctamente o problema
da ilicitude, precisa de conhecer, não só a factualidade, como a própria
proibição, uma vez que só esta dá relevância axiológica à conduta (cf.
Cavaleiro de Ferreira, Lições de Direito Penal Parte Geral 1, 1992, p. 337 e s.;
Figueiredo Dias, Direito Penal, Sumários das Lições, 1975, p. 247).
• Significa isto, em suma, que a estas normas não se podem ligar as virtudes dos chamados
“axiomata media”, isto é, dos princípios que gozam de validade universal e que
“ajudam a reduzir a complexidade de um Sistema (de uma Sociedade regional ou
universal), por constituírem pontos de contacto entre concepções morais de diferentes
M. Miguez Garcia. 2001
625
proveniências” (F.A.Z. de 26.4.96: Wie weit fällt der Apfel?, recensão ao livro de Detlef
Horster, Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Moral und Recht in der postchristlichen
Moderne, Surkamp, 1995). Na verdade — e é isso que temos vindo a acentuar —,
existe um grande número de ilicitudes de cuja existência só têm cabal conhecimento
algumas pessoas particularmente informadas. É a propósito deste grupo de
infracções que se põem boa parte dos casos ou problemas de erro. O Direito Penal
deverá ter regras para solucionar, de acordo com o ideal de justiça, os defeitos de
conhecimento que compreensivelmente possam surgir. É opinião de há muito aceite
que isso não afectará a eficácia geral das leis, pois apenas exigirá que se faça uma
valoração das circunstâncias pessoais de cada sujeito a fim de medir o melhor
possível a resposta jurídica que a sua conduta merece (Quintero Olivares/Muñoz
Conde, La reforma penal de 1983, p. 41).
Assim, para que o dolo se ache excluído por aplicação do art. 16º, nº 1,
última parte, tornase necessária a análise prévia do conteúdo de ilicitude da
norma incriminadora, por referência ao bem jurídico protegido, a fim de
determinarmos, com segurança, se estamos perante uma proibição cujo
conhecimento era razoavelmente indispensável para que A pudesse tomar
consciência da ilicitude dos factos praticados.
Apreciar a conduta de A à luz dos indicados critérios.
Considere que o crime cujos elementos típicos foram praticados por A se
encontra previsto em diploma avulso e não, por ex., no Código Penal. A
discussão passa pela distinção entre Direito penal primário e secundário e pela
natureza dos bens jurídicos protegidos. Reparese que no preâmbulo do
DecretoLei nº 10/95, de 19 de Janeiro, que procedeu a um reenquadramento da
actividade de exploração de jogos de fortuna ou azar, se reconhece que neste
domínio sempre foi assumida a tutela de interesses de ordem pública, desde
logo, os ligados à “função turística” do jogo, “designadamente como factor
favorável à criação e ao desenvolvimento das áreas turísticas”. E isto,
naturalmente, porque a inevitável proliferação do jogo clandestino coincide, em
toda a linha, com a subversão dessa reiterada intenção. Reparese ainda que a
incriminação em causa pressupõe a violação de um dever extrapenal, sendo
certo que a autorização para a exploração de jogos de fortuna ou azar depende
de uma decisão materialmente administrativa.
M. Miguez Garcia. 2001
626
Palavras chave: bens jurídicos pessoais, bens jurídicos supraindividuais; carácter ético de
desvalor; conduta axiologicamente relevante; conduta axiologicamente neutra;
conhecimento da materialidade do facto; conhecimento da proibição; consciência ética;
culpa dolosa; dever de pôr em tensão a consciência ética e de a conformar com as
valorações da ordem jurídica; Direito penal secundário, Direito penal de justiça; Direito
penal económico; elementos intelectual e volitivo do dolo; erro de valoração ou moral;
erro intelectual ou de conhecimento; falta de ciência, engano da consciência;
incumprimento de um dever de informação e esclarecimento sobre proibições legais;
normas penais em branco; personalidade contrária ou indiferente ao deverser jurídico
penal; preceitos de criação eminentemente política; substracto ontológico concreto.
No acórdão da Relação de Lisboa de 27 de Janeiro de 1998, CJ, ano XXIII
(1998), t. I, p. 51, concluírase, de modo diferente, que o arguido não conhecia a
proibição de explorar um jogo de fortuna ou azar, pelo que não se colocava a
problemática do erro que exclui o dolo, ou seja, do artigo 16º. O que se
verificou, por parte do arguido, foi a crença errónea de estar a agir licitamente,
ou seja, de um erro de valoração ou erro moral. O arguido foi absolvido com
fundamento em erro não censurável sobre a ilicitude — artigo 17º, nº 1.
A situação inversa a esta (à do erro sobre a licitude do facto) integrase no
chamado "crime putativo". O agente pratica o facto ao abrigo de uma causa de
justificação, mas convencido de que a ordem jurídica a não prevê. Exemplo: A
introduzse na casa de B, arrombando a porta, para salvar C, que está prestes a
ser devorado por um incêndio. A terá agido ao abrigo do estado de necessidade
justificante, mesmo que ignore a licitude do facto. Na hipótese (cf. Rui Carlos
Pereira), o agente não será punível por violação de domicílio e dano — a
solução resulta dos conjugados princípios da legalidade e da necessidade das
penas e das medidas de segurança: "nem a ilicitude penal pode ser delimitada
pelas figurações do agente, em substituição do legislador, nem se requer a
tutela penal de bens jurídicos em situações em que o mal do crime apenas existe
na consciência do agente".
M. Miguez Garcia. 2001
627
V. Erro sobre um estado de coisas que, a existir, excluiria a ilicitude do facto;
erro sobre os pressupostos objectivos, de facto ou de direito, de uma causa de
justificação.
• CASO nº 27B: A mascarouse de assaltante de bancos e para divertir os amigos dirige
se ao Banco x. O caixa C, atemorizado, acredita que se trata de um assalto a sério e
mata A, com a arma que tinha ali à mão.
C supôs erroneamente que se verificavam os pressupostos da legítima
defesa. De acordo com o disposto no artigo 16º, nº 2, o dolo fica excluído. C só
poderá ser condenado por negligência: artigo 16º, nº 3. C, que actuou em
situação de errosuposição, não revelou uma atitude de indiferença ou de
hostilidade ao direito, bem pelo contrário: a atitude de C é comparável à
daquele que actua em erro sobre a factualidade típica e portanto desconhece um
elemento, descritivo ou normativo, do tipo de crime. No caso de C existe, sem
dúvida, o desvalor do resultado a que a sua vontade se dirigia, mas faltalhe o
desvalor da acção que se verifica no facto doloso.
VI. Um caso particular de erro: erro sobre circunstâncias que fazem funcionar
um tipo de crime privilegiado.
• CASO nº 27C: Segundo o artigo 134º, nº 1, do Código Penal, "quem matar outra pessoa
determinado por pedido sério, instante e expresso que ela lhe tenha feito é punido
com pena de prisão até 3 anos." A está junto ao leito de B, doente terminal, e supõe
erradamente que este lhe pede que lhe acabe com a vida, por estar farto dela.
Todavia, B limitarase a lamentarse da sua triste sorte.
• Existe aqui um erro sobre a própria existência do pedido. Mas o erro no artigo 134°
também pode incidir sobre as características do pedido: como se viu, o pedido tem de
ser "instante", "sério" e expresso".
A doutrina aparece dividida.
M. Miguez Garcia. 2001
628
• Maria Paula Gouveia Andrade (Algumas considerações sobre o regime jurídico do art. 134º
do Código Penal, Usus editora, Lisboa, s/d.) comenta os seguintes exemplos. A mata
B, maior e imputável porque pensa que o seu pedido é livre quando não é porque se
trata de um pedido que B fez quando se encontrava sob hipnose (o que A ignora), ou
porque pensa que o pedido é consciente: B formulou o pedido porque pensava sofrer
de doença incurável mas está de perfeita saúde (o que tanto A como B desconhecem).
Embora as circunstâncias relativas à vítima sejam circunstâncias típicas, como típicas
são as características do pedido, não se pode dizer que este "erro sobre o tipo" releve
nos termos preconizados pelo artigo 16º, 1 — o dolo de homicídio existe sempre e não
é excluído por este erro, já que o autor não está em erro quanto à sua própria
conduta, quanto à sua acção homicida. No entanto, deve entenderse que este erro
releva, e a sua relevância será sempre favorável ao agente".
• O Prof. Costa Andrade entende que o erro releva — de modo que se deverá aplicar o tipo
privilegiado que o agente supõe realizar (artigo 134º). Cf. Comentário Conimbricense,
tomo I, anotação ao artigo 134º, p. 69.
• Outra é a opinião da Prof. Teresa Beleza: o erro deverá projectar a sua influência dirimente
apenas no desvalor da acção e não no desvalor do resultado do facto — quem mata
outrem em erro sobre o pedido, e é o que acontece no caso 27C, tem intenção de
matar uma pessoa, i. é, tem dolo de homicídio, mas erra sobre uma circunstância
desse facto, sobre a existência do pedido. O agente deverá ser punido por tentativa de
um homicídio privilegiado (artigos 134º, 22º e 23º) em concurso efectivo com um
crime de homicídio negligente (artigo 137º), desde que concorram os correspondentes
pressupostos. Se não houver negligência, o resultado não poderá ser imputado ao
agente. Afastase igualmente a aplicação do artigo 16º. Cf. Teresa P. Beleza e
Frederico de Lacerda da Costa Pinto, O Regime Legal do Erro, p. 15 e ss.
M. Miguez Garcia. 2001
629
VII. Erro e norma penal em branco; o exemplo do conceito de valor nos
crimes patrimoniais.
O tipo subjectivo do artigo 203º, nº 1, exige a actuação dolosa do agente e a
intenção de apropriação de coisa móvel alheia. A subtracção negligente não se
projecta no âmbito do penal. O dolo deve pois abranger todos os elementos
objectivos do tipo, só assim se estabelecendo a necessária congruência entre o
lado objectivo e o lado subjectivo do ilícito. O ladrão deve especialmente saber
que a coisa subtraída é alheia, embora não se exija o conhecimento da concreta
identidade do lesado. O dolo estará excluído perante a errónea suposição de
que a coisa pertence exclusivamente ao agente (erro sobre a factualidade típica
ou erro de tipo: artigo 16º, nº 1, do Código Penal). Não tem lugar a censura
própria da negligência (artigo 16º, nº 3) porque, como se disse, a subtracção
negligente de coisa alheia não goza de expressão típica. É por outro lado
indiferente que o dolo do agente se dirija a um concreto objecto ou a um
conjunto indeterminado de valores. Por isso mesmo, haverá um só furto se o
dolo do agente começa por se circunscrever a um espaço determinado e este
depois se amplia ou altera, em suma, se o ladrão em momento posterior
"alarga" o seu dolo ou o faz incidir em objectos que inicialmente não lhe
passava pela cabeça subtrair. A abre a secretária de B para lhe subtrair a pasta com
documentos mas logo ali vê um relógio de ouro e levao também consigo: há um só furto,
consumado. A abre a secretária de B para lhe subtrair um relógio de ouro que afinal não
encontra, mas aproveita e leva a pasta com documentos: o furto continua a ser um só, não é
caso de tentativa por um lado e furto consumado por outro.
Outro é o problema suscitado com as questões de valor, após a adopção de
critérios quantificados, como os de valor diminuto, elevado e
consideravelmente elevado da revisão de 1995 (artigo 202º, a), b) e c). Intervém
aqui o conceito de Uc, unidade de conta. A circunstância de o valor da coisa
ultrapassar o patamar de qualificação deve ser abrangida pelo dolo do agente,
mas basta o dolo eventual. Na Áustria, cujo sistema de qualificação é nesta
parte idêntico ao nosso, criticase o baixo nível de exigência dos tribunais
quanto a este aspecto, raramente se colocando questões quanto ao
conhecimento do valor da coisa objecto do furto. A circunstância qualificativa
aproximase assim de uma condição objectiva da sanção mais elevada. (Cf.
Kienapfel, p. 80). Se o ladrão pretende subtrair coisa alheia com "um valor o
mais possível elevado: einen möglichst hohen Wert" (Triffterer, p. 189) não se
contesta o dolo. Mas podem surgir dificuldades por se tratar de norma penal
M. Miguez Garcia. 2001
630
em branco: a graduação do conceito de valor nos crimes patrimoniais (artigo
202º, a), b), e c), fazse por referência ao conceito de Uc, unidade de conta, cujo
valor é o estabelecido nos termos dos artigos 5º e 6º, nº 1, do DecretoLei nº
212/89, de 30 de Junho, "e que, por essa razão, implicará modificações no
âmbito de aplicação dos crimes patrimoniais por alteração de legislação não
penal". Cf. Teresa P. Beleza e Frederico de Lacerda da Costa Pinto, O Regime Legal do Erro,
p. 51.
VIII. Indicações de leitura
António Pinto Monteiro, Erro e vinculação negocial: o errovício consiste no
desconhecimento ou falsa representação da realidade; se, pelo contrário, a falsa representação se
reportar ao futuro, é a previsão que falha ou o quadro de acontecimentos pressuposto que não se
verifica ou evolui em termos diferentes do previsto. É claramente dominante a opinião
segundo a qual o erro se reporta ao presente ou ao passado enquanto a pressuposição se refere ao
futuro.
Acórdão do Tribunal Constitucional nº 450/99 de 8 de Julho de 1999, DR II série nº 262, de
10 de Novembro de 1999 (16956): contraordenação, erro de valoração; violação de deveres de
cuidado e de conhecimento; menosprezo ou falta de consideração pelos deveres legais.
Acórdão da Rel. de Lisboa de 17 de Março de 1998, CJ, 1998, tomo II, p. 147: erro sobre os
limites da causa de justificação; hipótese em que o arguido invoca a convicção de ter agido na
convicção de que exercia um direito de crítica, a coberto da liberdade de imprensa; age com
erro que lhe é censurável aquele que dirige a sua crítica hostil e maliciosa ao apresentador dum
programa televisivo, enquanto homem e actor, vilipendiandoo e depreciandoo; erro de
valoração; artigo 17º.
M. Miguez Garcia. 2001
631
Acórdão da Relação de Évora de 14 de Março de 1995, CJ, ano XX (1995), tomo II, p. 274:
crime de prisão ilegal; erro sobre a proibição e erro sobre a factualidade típica; crime
negligente.
Acórdão da Relação de Coimbra de 10 de Abril de 2002, CJ 2002, tomo II, p. 52: arguido de
crime de corrupção passiva que alega ter agido sem consciência da ilicitude. Crimes artificiais,
crimes de criação meramente estadual, crimes meramente proibidos ou mala prohibita. Dever
reforçado de reconhecer as regras da actividade permanente do agente (advocacia, medicina,
comércio, indústria, etc.).
Acórdão da Relação de Coimbra de 2 de Outubro de 2002, CJ 2002, tomo V, p. 38: a
ignorância de proibição associada a actividades permanentes do agente (advocacia, medicina,
comércio, indústria, etc.) impõe um dever reforçado de conhecimento das regras que as
regulamentam, pelo que a estes casos não é aplicável o regime da segunda parte do nº 1 do
artigo 16º.
Acórdão de 16 de Março de 1994, CJ, ano II (1994), tomo I, p. 253: crimes “sexuais”; erro não
desculpável sobre a identidade da vítima.
Acórdão de 8 de Novembro de 1995, CJ, ano III (1995), tomo III, p. 230: crime de fraude na
obtenção de subsídios; erro sobre a proibição; as fraudes dessa natureza não são condutas de
fraca coloração ética ou tipos legais previstos devido a razões de pura oportunidade de
estratégia social ou hipóteses de neocriminalização que ainda não ganharam ressonância ético
social.
M. Miguez Garcia. 2001
632
Acórdão do STJ de 18 de Dezembro de 1996, CJ, ano IV (1996), tomo 3, p. 204: aborda a
questão de saber se agentes da PJ acusados de sequestro agiram com erro e sem consciência da
ilicitude da sua conduta.
Acórdão do STJ de 19 de Novembro de 1997, BMJ471115: no roubo, o ilícito atinge valores
essenciais e perceptíveis por qualquer ser humano, independentemente do seu extracto social e
cultural, pelo que não se compreende quanto ao mesmo a alegação de causa de exclusão de
culpa e violação do artigo 17º. Aliás a tipização de tal ilícito vem de tempos imemoriáveis e a
ela já se referiu a “Lex Cornelia de Sicariis” (Sila) como crime público – vd. R. Devesa, Derecho
Penal.
Acórdão do STJ de 28 de Fevereiro de 1996, CJ, ano IV (1996), tomo 1, p. 214; BMJ454397: é
de considerar censurável, para os efeitos do artigo 17º, nº 2, o erro sobre a ilicitude do gerente
de cooperativa que recebera dinheiro para ser transferido para terceiro e que não efectuou
essas transferências, antes gastou esse dinheiro em proveito da cooperativa, sabendo que assim
prejudicava aquele.
Albin Eser/Björn Burkhardt, Strafrecht I. Allgemeine Verbrechenselemente. (Há tradução
espanhola).
Augusto Silva Dias, A relevância jurídico penal das decisões de consciência, 1986.
Cavaleiro de Ferreira, Lições de Direito Penal, Parte Geral, 1992, p. 339.
Celia Suay Hernández, Los elementos normativos del error, Anuario de Derecho Penal y
Ciencias Penales, tomo XLIV, fasc. I, Madrid, JaneiroMarço de 1991.
M. Miguez Garcia. 2001
633
Claus Roxin, Sul problema del diritto penale della colpevolezza, Riv. ital. dir. proc. penale,
1984, p. 16.
Francisco Muñoz Conde, "Legítima" defensa putativa? Un caso límite entre justificación y
exculpación, in Fundamentos de un sistema europeo del derecho penal, 1995, p. 183.
Francisco Muñoz Conde, El error en Derecho Penal.
Frederico de Lacerda da Costa Pinto, O ilícito de mera ordenação social e a erosão do
princípio da subsidiariedade da intervenção penal, RPCC 7 (1997).
Gomes da Silva, Direito Penal, 2º vol. Teoria da infracção criminal. Segundo os
apontamentos das Lições, coligidos pelo aluno Vítor Hugo Fortes Rocha, AAFD, Lisboa, 1952.
Hans Joachim Rudolphi, A consciência da ilicitude potencial como pressuposto da
punibilidade no antagonismo entre “culpa” e “prevenção”, Direito e Justiça, vol. III, 1987/1988,
p. 81 e ss.
Harro Otto, Der Verbotsirrtum, Jura, 1990, p. 645.
J. Wessels, Derecho Penal.
Jorge de Figueiredo Dias, Acerca do tratamento do erro no sistema penal moderno, in
Temas básicos da doutrina penal, Coimbra Editora, 2001.
Jorge de Figueiredo Dias, Crime de câmbio ilegal, CJ, ano XII (1987), tomo 2, p. 53.
M. Miguez Garcia. 2001
634
Jorge de Figueiredo Dias, Der Irrtum als Schuldausschliessungsgrund im portugiesischen
Strafrecht, in Rechtfertigung und Entschuldigung, III, herausg. von A. Eser und W. Perron,
Freiburg, 1991.
Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal, sumários, 1975/77, p. 207.
Jorge de Figueiredo Dias, Dos factos de convicção aos factos de consciência: uma
consideração jurídicopenal, in Ab uno ad Omnes (75 anos da Coimbra Editora), 1998.
Jorge de Figueiredo Dias, Erro de direito no crime de especulação em arrendamento, RLJ, nº
3570, p. 136.
Jorge de Figueiredo Dias, Liberdade, Culpa, Direito Penal, 1976.
Jorge de Figueiredo Dias, O problema da consciência da ilicitude em direito penal, 3ª ed.,
1987.
Jorge de Figueiredo Dias, Para uma dogmática do direito penal secundário, RLJ, 3720, 117,
p. 75 e s.
Jorge de Figueiredo Dias, Pressupostos da punição e causas que excluem a ilicitude e a
culpa, Jornadas de Direito Criminal, O Novo Código Penal Português e Legislação
Complementar, Lisboa, 1983, p. 72.
Jorge de Figueiredo Dias, Sobre o estado actual da doutrina do crime, RPCC, I (1991), p. 9; 2
(1992), p. 7.
M. Miguez Garcia. 2001
635
Jorge de Figueiredo Dias, Textos de Direito Penal. Doutrina geral do crime. Lições ao 3º ano
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, elaboradas com a colaboração de Nuno
Brandão. Coimbra 2001.
Jorge de Figueiredo Dias/Manuel da Costa Andrade, O crime de fraude fiscal no novo
direito penal tributário português (Considerações sobre a Faculdade Típica e o Concurso de
Infracções), RPCC 6 (1996), p. 71.
Jorge de Figueiredo Dias/Pedro Caeiro, Erro sobre proibições legais e falta de consciência
do ilícito (artigos 16º e 17º do Código Penal) Violação de normas de execução orçamental.
RPCC, 5 (1995), p. 245 e ss.
José António Veloso, Erro em direito penal, AAFDL, 1993.
José Caetano Duarte, O erro no Código Penal.
Luis Duarte D’Almeida, Sobre leis penais em branco, BFDUL, vol. XLII (2001), nº 1.
Luzón Peña, Curso de Derecho Penal, PG I, 1996.
M. Cortes Rosa, La función de la delimitación de injusto y culpabilidad en el sistema del
derecho penal, in Fundamentos de un sistema europeo del derecho penal, Bosch, 1995.
Rui Carlos Pereira, Justificação do facto e erro em direito penal, Jornadas de Homenagem ao
Professor Doutor Cavaleiro de Ferreira, separata da RFDUL, 1995.
Rui Patrício, Erro sobre regras legais, regulamentares ou técnicas nos crimes de perigo
comum no actual direito português (Um caso de infracção de regras de construção e algumas
interrogações no nosso sistema penal), Lisboa, AAFDL, 2000.
M. Miguez Garcia. 2001
636
Rui Patrício, Norma penal em branco. Em comentário ao Acórdão do Tribunal da Relação
de Évora de 17.4.2001, RMP 2001, nº 88.
Rui Pereira, A relevância da lei penal inconstitucional de conteúdo mais favorável ao
arguido, RPCC 1 (1991), p. 67.
Teresa P. Beleza e Frederico de Lacerda da Costa Pinto, O Regime Legal do Erro e as
Normas Penais em Branco, 1999.
Teresa P. Beleza, Direito Penal, 2º vol., 1983, p. 305.
Teresa Serra, Problemática do erro sobre a ilicitude.
Ulrich Neumann, Der Verbotsirrtum (§ 17 StGB), JuS 1993, 10, p. 793 e ss.
Wolfgang Frisch, Der Irrtum als Unrechts und / oder Schuldausschluß, in Rechtfertigung
und Entschuldigung, III, her. von A. Eser und W. Perron, Freiburg, 1991.
M. Miguez Garcia. 2001
637
§ 28º A omissão
I. Omissão; delicta ommissiva; delicta commissiva per ommissionem.
CASO nº 28: Um casal, cujas relações estão praticamente desfeitas, passa férias junto ao mar.
Em certo momento, durante um passeio pelo molhe, a mulher cai acidentalmente à água, num
sítio já um pouco afastado da costa. Não sabe nadar e mal se pode mexer: como era já tarde,
vestira roupa grossa por causa do frio. Vaise afogar, inevitavelmente, dentro de instantes, se
ninguém a ajudar. O marido, que também está pesadamente vestido, mas que é bom nadador,
considera que deve “deixar que as coisas sigam o seu rumo” e é assim que se decide. No molhe
passeiam numerosas pessoas que ali passam férias. Algumas não se deram conta do acidente.
Outras observaramno mas não fazem nada. A mulher morre afogada. Cf. Wolfgang Naucke,
Strafrecht. Eine Einführung, 7ª ed., 1995.
Ninguém mexeu uma palha, de forma que interessa definir o círculo dos
que podem ser acusados de um crime por omissão. Na primeira linha
encontramse o marido e os outros veraneantes que viram o acidente. Mas
também fará parte dos "suspeitos" o porteiro do hotel que viu o casal a discutir
e pensou que aquilo não iria durar mais do que dois ou três dias? Poderão ficar
excluídos os parentes do casal que conheciam a veemência das discussões? E o
advogado a quem a mulher informara das razões porque queria o divórcio? E o
grupo de turistas japoneses que a uns 500 metros do molhe sentiu que qualquer
coisa estava para acontecer?
O marido não prestou qualquer auxílio e deixou que as coisas seguissem o
seu rumo, pelo que fica logo comprometido com o crime do artigo 200º. O
mesmo acontece com alguns veraneantes, sobretudo os bons nadadores ou os
que tinham consigo um telemóvel e podiam comunicar com o 112 (número
nacional de socorro). O artigo 200º aplicase à omissão de auxílio, àqueles que,
pura e simplesmente, nada fazem numa situação de grave necessidade — na
norma não se exige que o afastamento do perigo seja efectivo, o que se exige é a
prestação do auxílio necessário ao afastamento do perigo. É por isso que a norma
do artigo 200º se aplica ao marido — porque, pura e simplesmente, este nada
fez. Deste modo, não é o facto da mulher ter morrido que se vai agora imputar
ao marido e/ou aos veraneantes, é apenas o facto de estes lhe não terem
prestado o auxílio necessário.
M. Miguez Garcia. 2001
638
Eis a pedra de toque da distinção entre as omissões puras e impuras. Nas
omissões puras punese a simples inactividade (28)— o dever de agir resulta
directamente da lei. Nas omissões impuras, o dever de agir para evitar um
resultado deriva de uma posição de garantia. Punese aquele que, numa
situação de perigo, efectivamente nada faz para afastar a ameaça de lesão (da
vida, da integridade física, etc.) de outrem. Aplicamse então as normas sobre a
comissão de crimes, por ex., o artigo 131º. Tanto dá que a mãe que quer matar o
filho o deixe morrer de fome como o deite a afogar na banheira da casa. A
expressão significa (Naucke, p. 278) que o agente não é penalmente
responsável apenas pela omissão, mas que também o é pelas consequências
danosas que derivarem dessa omissão. Por outro lado, não existem preceitos
especiais a castigar estas omissões impuras — empregamos os que punem as
respectivas acções.
Como já se viu, o marido e os veraneantes (só alguns, naturalmente)
podem ser punidos por um crime de omissão pura. Bem difícil será sustentar,
no entanto, que as mesmas pessoas são responsáveis pela morte da mulher, ou
seja, por omissão impura (ou imprópria), como autores de um crime de
comissão por omissão. Os tribunais são poucas vezes chamados a julgar um
crime de omissão impura. Mas as omissões impuras aparecem frequentemente
nos exames escritos, de modo que o canditato deve fazer um redobrado esforço
por dominar o assunto.
Deve, desde logo, atenderse a que são requisitos comuns gerais à omissão própria e à omissão
imprópria:
1º O dever jurídico de agir;
) À primeira vista, "punir as omissões pode parecer semelhante a punir pensamentos ou intenções; por
28
outro lado, omitir uma conduta é imediatamente equiparado a um "nada fazer" que não é abrangido por
uma ordem de proibições basicamente constituída por proibições de acções". Todavia, "no campo ético",
acções e omissões podem equiparar-se: "segundo a linguagem das normas, as proibições podem integrar
comando de acções" (Prof. Fernanda Palma, RPCC 9, p. 553; cf. também Prof. Eduardo Correia, Direito
Criminal, I vol., p. 271). Os crimes de omissão pura são crimes de desobediência — no artigo 200º o
comando versa sobre o auxílio necessário ao afastamento do perigo na concreta situação de grave
necessidade, o comportamento não consiste numa qualquer actividade, mesmo que em abstracto se trate de
uma actividade útil. Os crimes de comissão por omissão (omissão impura) devem ser vistos como de não
evitação do resultado ordenada pelo comando da acção com que se pretende obviar à lesão de um
determinado bem jurídico.
M. Miguez Garcia. 2001
639
2º A omissão da acção devida;
3º A possibilidade de agir ou capacidade de agir ou de acção: falta tal capacidade de acção
quando ao agente não assistem a força física, a destreza manual, a inteligência, os
conhecimentos técnicos, os instrumentos necessários para praticar a acção devida (J. A.
Veloso).
Os crimes de omissão são crimes de dever; os crimes de comissão por omissão são, além
disso, crimes específicos. Em ambos os casos, autor é o omitente. Nos crimes próprios, o facto
punível esgotase na infracção de uma norma preceptiva, nos crimes impróprios a norma
proíbe (norma proibitiva) a produção de um resultado.
II. Artigo 200º — omissão de auxílio, omissão pura
O Código contém uma série de tipos onde se prevê a punição de quem
omite uma determinada acção, por ex., os artigos 200º (omissão de auxílio), 245º
(omissão de denúncia), 249º, nº 1, c) (recusa de entrega de menor), 284º (recusa
de médico), 369º (denegação de justiça), 381º (recusa de cooperação). O mais
conhecido, com lugar assegurado nos trabalhos práticos, é o do artigo 200º.
Artigo 200º (omissão de auxílio).
• 1. Quem, em caso de grave necessidade, nomeadamente provocada por desastre, acidente,
calamidade pública ou situação de perigo comum, que ponha em perigo a vida, a
integridade física ou a liberdade de outra pessoa, deixar de lhe prestar o auxílio
necessário ao afastamento do perigo, seja por acção pessoal, seja promovendo o
socorro, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias.
• 2. Se a situação referida no número anterior tiver sido criada por aquele que omite o auxílio
devido, o omitente é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até
240 dias.
• 3. A omissão de auxílio não é punível quando se verificar grave risco para a vida ou a
integridade física do omitente ou quando, por outro motivo relevante, o auxílio lhe
não for exigível.
M. Miguez Garcia. 2001
640
A proibição penal de matar, de furtar, de violar ou de sequestrar exige
unicamente do agente que omita certas acções, que, abstendose de matar
alguém, de furtar, de violar, etc., deixe intocada a situação existente através da
qual se protege a vida, a propriedade e a liberdade das pessoas. Pelo contrário,
a punição das omissões, ao criar um dever de agir em favor do próximo,
significa um impulso para melhorar as relações sociais. Um direito penal que
puna omissões próprias e impróprias pune quem não corresponde aos apelos e
às expectativas de solidariedade dos outros membros da sociedade. A punição
por “omissão de auxílio” deve ser entendida unicamente no sentido de que
cada um deve preocuparse com os outros, mesmo com os anónimos, em caso
de grave e iminente perigo para essas pessoas.
A questão do bem jurídico protegido tem a ver com a solidariedade
humana, ainda que o seu lugar sistemático aproxime o preceito das "gravações
e fotografias ilícitas" e da "subtracção às garantias do Estado de direito
Português", que o Código alinha no capítulo dos crimes contra outros bens
jurídicos pessoais. Consagrandose um dever de solidariedade social, esperase
que o seu destinatário, enquanto membro da sociedade, se manifeste
responsavelmente para com os outros, exigindoselhe uma certa
disponibilidade para ajudar. Objecto da tutela são efectivamente a vida, a
integridade física ou a liberdade de outra pessoa.
Não se incluem no artigo 200º, com referência ao perigo que justifica a
prestação do auxílio, os bens patrimoniais alheios de valor elevado, como se faz,
por ex., no artigo 272º, nº 1 (incêndios). Tratase de um crime de omissão pura
(assim, Wessels, AT, p. 215, e BT1, p. 224) e de perigo concreto, sendo seu
pressuposto típico a concretização dum perigo (caso que "ponha em perigo" a
vida, etc.).
O dever de auxílio obriga qualquer pessoa (a norma começa com o
"Quem" anónimo dos crimes comuns) e isso o distingue do dever de garante que
no artigo 10º, nº 2, recai pessoalmente sobre o omitente. A situação típica que
desencadeia um dever de auxílio é um caso de grave necessidade. A grave
necessidade significa uma situação, por ex., de desastre ou acidente, com risco
iminente de lesão relevante para a vida, a integridade física ou a liberdade de
alguém. Discutese, no entanto, quais são esses perigos para a vida ou para a
integridade física. Uma doença ou uma gravidez só serão de atender quando
justamente se envolvam em caso de grave necessidade, isto é, quando estejam
sob a ameaça de perigo iminente para a vida ou a integridade física. A norma
porém atende à liberdade pessoal nas suas diversas manifestações, incluindo a
liberdade e a autodeterminação sexual. Um desastre, um acidente, etc., pode ser
M. Miguez Garcia. 2001
641
provocado dolosamente, pode mesmo constituir um ilícito típico. E pode ter
sido originado inclusivamente pela própria vítima, a qual, mesmo assim, não
perde a protecção que a norma lhe confere. Discutese, no entanto, a questão da
tentativa de suicídio, que terá que se apresentar como um caso de grave
necessidade e que pode conduzir a situações de inexigibilidade em face da
atitude de quem se encontra disposto a morrer a todo o custo (Küpper, p. 5 e
161). Vejase, a propósito, o artigo 154º, nº 3, alínea b). A situação de perigo
comum significa a possibilidade de lesão para um grande número de pessoas, a
situação de calamidade pública é, por ex., a de um período de fomes
generalizadas.
A conduta que a lei descreve como ilícita é a não prestação (omissão) do
auxílio necessário ao afastamento do perigo. O auxílio é o necessário ao
afastamento do perigo e o critério ou juízo da necessidade é o do observador
avisado. Uma boa parte da doutrina entende que a prestação do auxílio já não é
necessária se, por ex., a vítima entretanto morreu; e que o dever cessa naqueles
casos em que a vítima é socorrida por outros meios. Mas não tem sido esse o
entendimento dos nossos tribunais. Sustentase, por ex., no acórdão do STJ de
10 de Fevereiro de 1999, CJ, ano VII, tomo 1 (1999), p. 207, que comete o crime
de omissão de auxílio do artigo 200º, nºs 1 e 2, do Código Penal, o condutor que
se afasta do local do acidente sem providenciar socorro à vítima — apesar de
haver aí pessoas, uma delas haver mesmo chamado uma ambulância —, e ter
regressado mais de 10 minutos depois, já que ele, como causador do acidente,
continua obrigado a comportamento positivo no sentido da prestação de
auxílio.
O auxílio deve ser prestado em tempo oportuno, mas a correspondente
actuação não tem que ser pessoal, basta que o obrigado promova o socorro, por
ex., chamando um médico, o 112, etc. Se a prestação de auxílio logra êxito ou
não — é irrelevante, a lei apenas exige que se preste o auxílio. Aliás, tudo
depende das circunstâncias, inclusivamente, das capacidades pessoais de quem
tem o dever de agir.
É necessário ter em atenção as limitações da própria capacidade de agir. Tratase aqui, não da
capacidade de dirigir finalisticamente o comportamento, mas mais modestamente da
capacidade física de executar uma determinada acção. Não se omite o auxílio com um barco a
uma pessoa que se afoga, se não existe barco (Stratenwerth, AT, p. 278 e ss.); ou, no exemplo de
Wessels, quem passeia em Bona não omite o salvamento de pessoas que caíram ao Reno em
Colónia. De quem não é médico só se podem esperar os “primeiros socorros”, e mesmo o
M. Miguez Garcia. 2001
642
socorro de um médico pode ser limitado se ele não dispuser dos instrumentos e dos
medicamentos necessários.
Como pressuposto do auxílio, está, pois, a possibilidade fáctica de o
prestar. Aliás, a correspondente omissão não é punível quando se verificar o
grave risco a que se alude no nº 3 do artigo 200º. Não omite o auxílio quem não
puder ajudar, por exemplo, sem pôr a sua vida em risco, porque isso não lhe é
exigível. Cf., também, o que resulta da nova redacção do artigo 128 do Código Penal suíço
(Unterlassung der Nothilfe, na versão alemã; omissioni de soccorso, no texto italiano): Chiunque
omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte,
ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere (...).
O crime é unicamente doloso e o omitente deve saber, não só que se está
perante uma situação de grave necessidade, como deve conhecer os restantes
factores típicos, nomeadamente que a prestação do auxílio é necessária e lhe é
exigível. Aquele que nada faz por supor, erradamente, que a vítima está morta,
pode ficar impune por aplicação do artigo 16º, nºs 1 e 3.
O crime estará consumado logo que o agente manifeste de forma
perceptível a sua resolução de não prestar o auxílio.
Outra questão prática está no contacto destas matérias com as situações de
conflito de deveres (artigo 36º, nº 1), por ex., dum médico que é chamado para
tratar um seu cliente que saiu ligeiramente ferido dum acidente e que se recusa
a dar prioridade ao outro sinistrado cuja vida manifestamente corre perigo.
Atenderseá, no entanto, a que a recusa de auxílio da profissão de médico está
prevista, como crime específico, no artigo 284º.
No nº 2 do artigo 200º prevêse a forma agravada de cometimento do
crime por aquele que tiver criado a situação de grave necessidade (ingerência),
por ex., actuando em legítima defesa.
III. Artigo 10º — comissão por acção e por omissão, omissão imprópria.
Princípio da legalidade. Nexo de causação/evitação do resultado desvalioso.
Determinação das posições de garante a partir de planos que complementam
os tipos. Especial relação de confiança; relação de proximidade; relação de
domínio.
Face ao que se dispõe no artigo 10º, suscitase a questão de saber se, no
caso nº 28, pelo menos o marido pode ser responsabilizado pela morte da sua
mulher. Outro problema é a de saber se a pena aplicada ao marido que se torna
M. Miguez Garcia. 2001
643
responsável pela morte da sua mulher deve ou não ser mais elevada do que a
pena dos que se limitaram a não prestar o auxílio a que estavam obrigados.
• Artigo 10º (comissão por acção e por omissão):
• "1. Quando um tipo legal de crime compreender um certo resultado, o facto abrange não
só a acção adequada a produzilo como a omissão da acção adequada a evitálo, salvo
se outra for a intenção da lei.
• 2. A comissão de um resulatdo por omissão só é punível quando sobre o omitente recair
um dever jurídico que pessoalmente o obrigue a evitar esse resultado.
• 3. No caso previsto no número anterior, a pena pode ser especialmente atenuada."
"Através desta norma que, em si mesma expande as margens da punibilidade, reconhecemos
uma específica intencionalidade políticolegislativa e no recorte do seu minucioso regime
podemos surpreender o enfoque dogmático sobre o qual gira a equiparação da omissão à acção
no actual Código Penal, qual seja: a existência de um dever jurídico de garante pela não
produção do resultado que recaia sobre o omitente. É, pois, nesta categoria dogmática —
claramente assumida como o único elemento capaz de dar consistência à própria imputação do
resultado sem resvalar em uma responsabilidade sem tipicidade ou em uma tipicidade
diminuída o que, em bom rigor, é o mesmo — que encontramos uma razão de ser para que um
non facere possa merecer o mesmo desvalor, quer de omissão, quer de resultado, que o próprio
facere." Prof. Faria Costa, Omissão.
Por vezes suscitamse questões sobre a distinção prática entre crimes de
acção e de omissão, perante condutas exteriormente equívocas ou ambíguas: a
solução está ligada à circunstância de saber se o agente criou ou potenciou o
perigo para o bem jurídico ameaçado (conduta activa) ou antes se não diminuiu
ou eliminou um tal perigo (conduta omissiva). A distinção tem um grande
significado porque só nos crimes impróprios se pressupõe um “especial dever
jurídico de pessoalmente evitar o resultado” no sentido do dever de garantia.
Nos seguintes grupos de casos, pode não ser nítida a distinção entre acção e omissão (cf. v. H.
Heinegg, p. 362):
M. Miguez Garcia. 2001
644
• i) Acção e omissão seguemse, uma à outra, no tempo — A, que, distraído, conduzia o seu
automóvel, atropela B, ciclista, que seguia pela sua mão de trânsito; A não socorre B, e
conscientemente abandonao, ferido, sabendo que o mesmo, se não for socorrido, vai morrer, o
que efectivamente acontece. Para boa parte da doutrina, tratase de um problema de concurso:
a um crime negligente por acção, seguese um homicídio doloso, por omissão.
• ii) Durante a sua actuação, o sujeito omite o cuidado devido — A causa um acidente com
danos pessoais, por conduzir, de noite, sem luz.
• iii) Em vez da acção esperada, seguese uma outra — A, médico, opera por erro a perna
direita do paciente, que está doente, mas da perna esquerda.
• iv) Um processo causal, destinado a salvar a vida de A, é interrompido por actuação
consciente de B.
• v) O médico A desliga a máquina que no hospital mantinha artificialmente vivo o doente
B. Para a opinião dominante, tratase de uma acção consistente no desligar da máquina.
• vi) É o próprio sujeito quem se coloca na impossibilidade de actuar de acordo com o seu
dever: O nadadorsalvador não pode salvar B, que está prestes a afogarse, por ter perdido a
noite anterior numa festa de arromba.
Vem de muito longe a questão da equiparação entre acções e omissões que num sentido
jurídico provoquem um certo resultado, lembra a Prof. Teresa Beleza, p. 519. E cita uma
disposição dos Fueros de Medinaceli relativa à omissão como uma forma de execução da pena
capital: non coma nin beba ata que muera. A propósito do ius maletractandi, também García de
Cortázar, na Historia de España Alfaguara II, p. 229, refere o amplo direito de coerção do
senhor relativamente aos camponeses: "al solariego puede el señor tomarle el cuerpo e todo
cuanto en el mundo ovier", dirá el Fuero Viejo de Castilla, y cuanto a Aragón, Pedro IV
reconoció en 1380 que el señor no sólo podía encarcelar al colono sino hacerlo morir de
hambre, sed o frío." Uma visita a Peñiscola levanos invariavelmente à residência do “último”
papa de Avinhão, o aragonês Pedro de Luna (Benedito XIII, o “Papa Luna”) e ao local dos
emparedamentos. O condenado era metido num buraco aberto na parede da principal sala do
“castelo”, que o carrasco se encarregava de tapar com tijolos. Faltandolhe uma fresta para
respirar, a morte era quase imediata (por acção?!). Na variante em que se lhe deixava uma
fresta, o condenado continuava a respirar, mas morria de fome e sede, lentamente, ao fim duns
M. Miguez Garcia. 2001
645
dias (por omissão!), sem que lhe servisse de consolo o cheiro das iguarias alinhadas ali ao lado,
à mesa de quem dispunha do poder de vida e de morte. Na ficção, o “Barril de Amontillado”,
de Edgar Allan Poe, conta a história de um indivíduo que, sentindose humilhado, decide
vingarse ao jeito do Papa Luna — e castigar quem o injuriou, com a preocupação, conseguida,
de ficar impune. Na cave, diz o narrador já no final da novela, ouviuse por algum tempo o
tilintar de guizos. Depois, e durante meio século, nenhum mortal perturbou o sossego dos
ossos amontoados da desgraçada vítima. In pace requiescat!
A posição de garante ocupa o papel central destes crimes, cujo ilícito
apresenta, como em qualquer outro crime doloso, um lado objectivo e um lado
subjectivo.
A posição de garante e a chamada cláusula de correspondência ("...o facto
abrange não só a acção adequada a produzilo como a omissão da acção adequada a evitálo...")
pertencem ambas ao tipo objectivo. Nos crimes de resultado, como o homicídio
(artigo 131º), ao tipo objectivo pertence também a produção do resultado. Exige
se que o omitente tenha a possibilidade de evitar o resultado, de forma que, se ao
sujeito falta a capacidade de intervir, também não omite a evitação do
resultado. A mais disso, deve apurarse a causalidade da omissão, a qual existirá
se, com a execução da acção pelo omitente, tivesse sido possível evitar o
resultado. Do lado subjectivo, o dolo deve abranger todos os elementos
objectivos do ilícito, por ex., o omitente deve conhecer os elementos fácticos
donde deriva a sua posição de garante: o marido do nosso exemplo deve saber
que a pessoa que caíu à água é a sua mulher, ou o seu filho, etc. Apurandose
todos os elementos objectivos e subjectivos do ilícito deve verificarse se existe
qualquer causa de justificação, que na maior parte dos casos estará relacionada
com uma situação de necessidade ou de colisão de deveres, por ex., o caso do
médico que num acidente com várias vítimas só pode salvar uma vida. A mais
disso, no plano da culpa, deve apurarse se existe qualquer situação de
inexigibilidade como motivo de desculpação.
Propõese o seguinte esquema estrutural do crime de omissão impróprio
doloso:
1. Tipo objectivo do ilícito:
• a) a produção do resultado típico (por ex., a morte ou a lesão corporal) — artigos 10º, nº
1, 14º e 131º ou 143º do Cód. Penal;
M. Miguez Garcia. 2001
646
• b) a não execução da acção adequada a evitar o resultado, maugrado a real
possibilidade física de o evitar — artigo 10º, nº 1;
• c) a causalidade da omissão e a imputação objectiva do resultado;
• d) a posição de garante de quem omite (ver figura) artigo 10º, nº 2;
• e) a cláusula de correspondência — artigo 10º, nº 1.
2. Tipo subjectivo do ilícito:
• a) o dolo do tipo;
• b) outras características subjectivas.
No que respeita ao lado objectivo do tipo, interessa desde logo averiguar
se se produziu a morte por afogamento da mulher na sequência da inacção do
marido, ou seja, se se verificou o resultado típico. Na falta do resultado, pode
ainda assim colocarse a possibilidade de crime de comissão por omissão na
forma de tentativa face à resolução de o sujeito não evitar o resultado (artigo
22º, nº 1). Mas o nada fazer não corresponde, só por si, à omissão. Tem que
haver algo determinado, para que se possa dizer que à omissão corresponde
uma sanção penal. Esse algo determinado é, nos crimes de comissão por
omissão, a evitação do resultado típico. O criminoso, para o ser, tem que, desde
logo, omitir uma determinada acção de salvamento de cuja realização resultaria
a possibilidade de evitar o resultado. Tratase daquilo que no artigo 10º, nº 1, se
chama a omissão da acção adequada a evitar o resultado. O Direito não exige
que alguém se esforce inutilmente ou sem sentido. Uma das acções adequadas a
evitar a morte da mulher, no caso nº 28, seria o marido atirarse à água e nadar
até junto da mulher, mantendoa a boiar, ou, se não soubesse nadar ou se
soubesse nadar mal, atirarlhe uma bóia ou uma corda a que ela se pudesse
agarrar. Ou pegar no primeiro barco que lhe aparecesse. A realização da acção
adequada a evitar o resultado típico deve estar ao alcance do sujeito, este deve
ser capaz de a executar. Assim, se o marido não soubesse nadar, se não fosse
capaz de se atirar à água (a circunstância de envergar roupa pesada não seria só
por si motivo para não se atirar à água, pois a roupa tirase rapidamente), seria
manifesta a falta de capacidade para realizar qualquer destas acções, ainda que
pudesse executar outras, também elas adequadas. Aliás, a falta de
M. Miguez Garcia. 2001
647
conhecimentos pode impedir o sujeito de agir, por ex., se não souber fazer
funcionar o motor do barco.
Justificase a imputação do resultado ao omitente e, consequentemente, a
causalidade quando se puder afirmar que a acção devida e omitida teria
certamente evitado o resultado. Naturalmente, nunca se pode ter a certeza
absoluta de que o teria evitado. "Quando se fala de certeza neste contexto
entendese uma probabilidade muito elevada, uma probabilidade a raiar a
certeza, de modo que não subsistam dúvidas suficientemente relevantes para
impedir a condenação. Uma orientação moderna vai mais além e faz a
imputação sempre que se pode afirmar que a acção devida teria diminuído o
perigo de produção do resultado (critério do aumento de risco aplicado às
omissões)". (J. A. Veloso).
O dever de garantia, a posição de garante, assenta num dever especial
(dever pessoal, como diz a lei: artigo 10º, nº 2) de evitar o resultado. O artigo 11º
do Código Penal espanhol de 1995 equipara a omissão à acção quando exista
uma específica obrigação legal ou contratual de actuar ou quando o omitente
tenha criado uma situação de risco para o bem juridicamente protegido
mediante uma acção ou omissão precedente. Mas o legislador português não
seguiu essa linha de orientação. Nomeadamente, não limitou as fontes do dever
jurídico de agir à enumeração tripartida tradicional, que é considerada pouco
satisfatória: a lei, que define deveres jurídicos primários; o contrato, por ex., uma
educadora assume o dever de vigiar a criança que foi confiada aos seus
cuidado; e a ingerência, ou seja, uma actuação precedente geradora de perigos.
A questão tem a ver directamente com o princípio da legalidade, aceitando
se correntemente a determinação das posições de garante — na esteira da
doutrina alemã — a partir de planos que complementam os tipos. Em suma, a
ordem jurídica tem que fornecer a fundamentação para relacionar o omitente
com um certo resultado.
M. Miguez Garcia. 2001
648
Um dever moral não é fundamentalmente suficiente
para determinar uma posição de garante, relevando
o grau de intimidade da relação do sujeito com o
bem jurídico, sendo que esta proximidade está dada
aqui pela relação social que o omitente mantém com
o titular do bem jurídico. Bacigalupo,apud Carlos del
Valle, Conciencia y Derecho Penal, Granada, 1994, p.
176.
Vejamos, a este propósito, o estado da nossa doutrina.
Para o Professor Figueiredo Dias, o dever de garantia não resulta dos indicados fundamentos
positivos (lei, contrato e ingerência), mas sim de "uma valoração éticosocial autónoma,
completadora do tipo, através da qual a omissão vem fundamentalmente a equipararse à
acção na situação concreta, por virtude das exigências de solidarismo do homem para com os
outros homens dentro da comunidade. Decisiva é uma relação fáctica de proximidade
(digamos existencial) entre o omitente e determinados bens jurídicos que ele tem o dever
pessoal de proteger, ou entre o omitente e determinadas fontes de perigo por cujo controlo é
pessoalmente responsável, alargandose assim o catálogo das situações em que o dever de
garantia se afirma. Esta concepção (que liga o dever de garantia à proximidade do agente com
certos bens jurídicos e determinadas fontes de perigo, antes que directamente à lei, ao
contrato e à ingerência) tem a seu favor o advérbio “pessoalmente” do nº 2 do artigo 10º. Deste
modo, repetese, não haverá objecção decisiva a que as margens da equiparação sejam
alargadas, de modo a caberem dentro delas situações como as de “clara comunidade de vida”
e as chamadas “posições de senhorio ou de domínio”, com especial incidência nas situações
ditas de “monopólio”.
Para alguns autores, a presença física do omitente, tratandose de
situações de monopólio de facto, comunidade de vida e comunidade de
"perigo", é imprescindível no desencadear do resultado desvalioso. Tratase de
uma orientação doutrinária em que o ponto fulcral para considerar que uma
situação fáctica é capaz de gerar um dever jurídico de garante residirá, antes de
M. Miguez Garcia. 2001
649
tudo o resto, na esfera de domínio positivo do omitente. Este tem de poder intervir,
em termos reais, no nexo de causação/evitação do resultado desvalioso.
"Na verdade — escreve o Prof. Faria Costa —, se o dever jurídico de garante emergir da lei e do
contrato podemos conceber que o omitente não esteja fisicamente presente no momento em
que se desencadeia o resultado proibido e nem por isso ele deve ver excluída a sua
responsabilidade. O pai que, com manifesta negligência, deixa o filho, de 4 ou 5 anos, em casa
onde há uma varanda sem gardeamento protector e sai, para ir ao cinema, é responsável, se
bem que por negligência, pela morte de seu filho se este tiver caído da varanda abaixo.
Todavia, mesmo assim, o critério da presença física situacional do omitente — fora, repetese,
das situações que não tenham sido envolvidas pela força conformadora da lei e do contrato —
não é ainda de todo em todo convincente. Daí que ele deva ser visto tãosó como um critério
adjuvante e densificador. Mas com ele, verdadeiramente, ainda se não responde à questão
essencial, qual seja: porque razão é que um anónimo cidadão que passeia ao pé de um
pequeníssimo lago de um jardim público e vê nele uma criança a afogarse e nada faz —
quando é a única pessoa presente — pode e deve ser penalmente responsabilizado pela morte
da criança? Porque motivo é que nasce para esse anónimo cidadão um especial dever de
garante pela não produção do resultado desvalioso?".
O fundamento dos deveres de garante: dever de justiça, obrigações naturais — artigo 402º do
Código Civil. "Com todas as dúvidas e hesitações que a complexidade do problema justifica,
pensamos que o radical último de fundamentação — e de fundamentação jurídica — se possa
talvez encontrar na norma que o artigo 402º do Código Civil contempla". (...). O étimo comum
das situações que queremos aqui encontrar poderseá resumir na seguinte fórmula: em ambos
os casos o agente deve, por um imperativo de justiça, actuar de modo juridicamente relevante.
Sucede que, no campo do direito civil, a ordem jurídica só retira consequências a partir do
momento em que se realizou o cumprimento da obrigação — a valência normativa aqui
exigida assenta no facere —, enquanto, se estivermos dentro do direito penal, a ordem jurídica
faz produzir consequências a partir de um omittere, a partir da omissão da expectativa
comunicacional que a comunidade quer ver cumprida." Prof. Faria Costa, A Omissão.
Considerando agora as principais posições de garante, comecese por
atentar no quadro a seguir, onde se indicam as fontes respectivas, segundo o
M. Miguez Garcia. 2001
650
critério actualmente mais divulgado: o primeiro grupo tem por objecto o
controlo de uma fonte de perigos. No segundo grupo, o dever de garante
assenta no exercício de uma função de protecção de bens jurídicos.
Deveres de segurança Deveres de assistência
Situação
A E 1 5
UM UM BEM
PERIGO JURÍDICO
B C D 2 4
3
Muitos bens jurídicos indeterminados (A-E) Muitos perigos indeterminados (1-5)
estão ameaçados por um perigo ameaçam um bem jurídico
Caso O conjunto é protegido de um doente mental Um doente mental é protegido do conjunto
Solidariedade natural com o portador do
Ingerência bem jurídico
Vigilância de fontes de perigo Comunidade de vida
Vigilância de outrem Assunção voluntária
Estrutura dos deveres de garante Segundo Fritjof Haft,
Strafrecht, AT, p. 179
No caso de anterior intervenção geradora de perigos (ingerência) o sujeito
é obrigado, como garante, a impedir a produção do correspondente dano.
Quem cria o perigo tem o dever de impedir que este venha a converterse em
dano. Isso vale, muito especialmente, para os casos em que alguém, com a sua
conduta, pôs a vida de outrem em perigo. Ainda assim, há quem tome posição
contra, quem seja antiingerência (cf., com ampla informação, Hillenkamp, 29.
ATProblem, p. 228). A tendência é, aliás, para lhe introduzir limitações, como
veremos. O caso típico de ingerência que não costuma levantar problemas é o
do automobilista que negligentemente atropela um ciclista e o deixa ficar
estendido na estrada, embora se aperceba que a vítima irá morrer se não receber
M. Miguez Garcia. 2001
651
assistência médica devido aos ferimentos graves que sofreu. Morrendo o
ciclista, como o condutor se apercebeu que iria acontecer, este será responsável
por um crime negligente e por um homicídio doloso, desde que se tivesse
conformado com a morte que assim representou (dolo eventual). Teremos então
um ilícito negligente cometido por acção (atropelamento) e um crime doloso
cometido por omissão. A conduta descuidada do automobilista é causal da
morte do ciclista e este resultado pode serlhe imputado também a título
negligente, pois o dolo posterior não é susceptível de interromper o nexo de
imputação negligente. A posição de garante do automobilista no crime doloso
deriva, naturalmente, da situação de ingerência decorrente do seu
comportamento ilícito anterior. Esta hipótese, como se disse, não deverá contar
com ampla contestação porque o automobilista, por um lado, criou o perigo
adequado, e, por outro, o perigo foi ilicitamente criado, pois, como vimos, o
automobilista actuou negligentemente. Ainda assim, temselhe objectado com
a questão do dolo subsequente: a passividade da omissão que se segue ao
atropelamento, fortuito ou negligente, não conduz senão ao dolo subsequente e
às objecções que contra este se formulam (outras informações em Gimbernat,
Ensayos, p. 282). Não conhecemos, por outro lado, qualquer decisão
jurisprudencial que coincida com a solução exposta, ficandose a praxis pela
aplicação do artigo 200º, ainda que na sua forma agravada. Na Espanha, diznos
ainda Gimbernat, tem acontecido o mesmo.
Não falta hoje quem defenda (cf. Figueiredo Dias) que, na “ingerência”, não basta que o perigo
seja adequado, mas é ainda necessário que ele tenha sido ilícita ou inadmissivelmente criado.
Sendo assim, o automobilista não estaria investido na posição de garante de evitar o resultado
letal se ele não tivesse produzido ilicitamente o acidente e ainda que este constituísse causa
adequada da morte. Mas não estaria excluída a punibilidade pelo artigo 200º.
A "ingerência" pode, aliás, estar associada à legítima defesa, criando o
defendente um perigo para a vida do seu agressor. A opinião mais amplamente
divulgada (Wessels, p. 232) entende que daqui não nasce qualquer posição de
garante e por isso quem legitimamente e de forma necessária se defende não
tem o dever de actuar no sentido de impedir a morte do agressor — foi a vítima
da legítima defesa quem com a sua agressão ilícita colocou a sua própria vida
em perigo e portanto não pode esperar ajuda de quem estava investido num
direito de intervenção na sua esfera pessoal. Fica, no entanto, espaço para a
discussão quando o defendente provoca o perigo para a vida do agressor
depois de neutralizada a agressão. Um caso de que derivará a posição de
M. Miguez Garcia. 2001
652
garante será o seguinte: o do ciclista que, para salvar a vida, se desvia numa
curva do automobilista que em sentido contrário vem fora de mão e que,
despistandose, vai ferir uma pessoa que aguarda na paragem do autocarro.
Podendo o ciclista invocar uma situação de necessidade justificante no
afastamento dum perigo para a sua própria vida (vida em comparação com a
integridade física), ainda assim, parece que lhe compete o dever de evitar
outros danos maiores na pessoa do peão. Houve, da parte do ciclista, uma
intervenção na esfera pessoal de um terceiro que nada tinha a ver com o que
que se passou na estrada (Kühl, p. 590). Podemos chegar à mesma conclusão no
caso do indivíduo que, sem saber que outro se encontra dentro, fecha a porta
duma divisão dum edifício (actuação precedente), omitindo a libertação de
quem ficou privado de se movimentar quando posteriormente se apercebe do
que antes fizera. Por outro lado, não bastam perigos mínimos (princípio de
bagatelas): quem, por ex., oferece álcool a outrem não é ainda garante
relativamente ao perigo daí proveniente (por ex., através da condução
automóvel). O perigo de causar um prejuízo a outrem deve ser, como já se
disse, um perigo adequado. Assim, falta especialmente o perigo se se abre um
círculo de responsabilidade para outrem. Quem, por ex., indica outrem como
testemunha num processo não é cúmplice, por omissão, de falsas declarações
(artigo 359º, nº 1). Finalmente, o dever de garante do condutor nos casos
indicados é só em relação ao bem jurídico posto em perigo pela sua violação do
dever (vida, integridade física da vítima do acidente), já não em relação a outros
perigos que ameacem a vítima, ou que ameacem, por ex., o cônjuge do agente.
No capítulo da responsabilidade por condutas ilícitas de terceiro (dever
de garante por vigilância de outrem), cabe começar por observar que cada um é
responsável pelos seus próprios actos e que a este princípio apenas fogem os
educadores quanto aos menores, os professores relativamente aos alunos no
respectivo círculo escolar, os guardas prisionais para com os maus tratos
recebidos por presos de outros presos. A responsabilidade termina, por ex., no
cônjuge. Entre marido e mulher haverá um especial dever de protecção, mas
quem não impede o seu cônjuge de cometer crimes não assume qualquer
posição de garante, restando apenas a questão residual de saber se existe uma
forma de comparticipação.
Os laços familiares impõem deveres de garante, mas o âmbito em que isso
ocorre não foi ainda estabelecido com a necessária precisão. O núcleo
fundamental assenta no vínculo natural dos pais para com os seus filhos.
Enquanto os filhos, por si sós, são incapazes de sobreviver, têm os pais o dever
de lhes prestar a colaboração correspondente às suas necessidades. Não
M. Miguez Garcia. 2001
653
alimentar uma criança equivale a ministrarlhe veneno, são duas maneiras de
lhe fazer perigar a vida. O contrário levanta algumas perplexidades, porque os
filhos não são "responsáveis" pela existência dos pais. Ainda que pais e filhos se
devam, de acordo com a lei civil (artigo 1874º do Código Civil), mutuamente
respeito, auxílio e assistência, só o vínculo entre pais e filhos é que é, por assim
dizer, elementar — e mantémse mesmo onde falta uma estreita comunidade de
vida. Também nem todos aceitam que das relações conjugais derivam deveres
de garante, mas do que não há dúvida é que qualquer dos cônjuges espera
auxílio do outro e confia na sua protecção em situações de necessidade, rectius,
de apuro, como coisa natural e justificada. Os vínculos conjugais determinam,
pelo menos, o dever jurídico de ambos se protegerem e ajudarem, de acordo
com as suas forças, em caso de perigo para a vida. Cf., quanto ao dever de
cooperação e quanto ao dever de assistência, respectivamente, os artigos 1674º e
1675º do Código Civil. Mas já não se compreende tão bem um tal dever
recíproco de protecção quando o casamento está desfeito e, sobretudo, se os
cônjuges fazem vidas separadas. Neste caso, pelo menos, a confiança recíproca
nas situações de necessidade já se não justifica.
Estes deveres de garante podem ainda surgir em casos de estreita
comunhão de vida ou de estreita comunhão de perigos. Temse em vista, em
primeiro lugar, situações semelhantes ao casamento (incluindo uniões de
homossexuais), com características duradouras e que, por força da mútua
confiança estabelecida (critério restritivo e fundamentador), demandam
igualmente deveres recíprocos em situações de necessidade. Já não assim com a
"simples" amizade ou relações de namoro, como também não é possível
estabelecer um critério geral que valha para os que moram na mesma casa, ou
os que trabalham na mesma empresa, ou outras comunidades de acaso, pois aí
do que se trata é de saber se entre duas pessoas se estabeleceram relações de
confiança no sentido que ficou delineado. Pessoas que simplesmente vivem na
mesma casa para pouparem nas despesas não estão, só por essa circunstância,
ligadas de tal modo que daí lhes advenham recíprocos deveres de garantia. Mas
não se exclui que o desenvolvimento das relações entre algumas dessas pessoas
acabe nessa situação. Vejase, a propósito, o caso nº 28B. Outra hipótese é a de
perigos para bens extremamente valiosos de quem participa em expedições, por
ex., na montanha, comprometendo, por um lado, os diferentes membros em
recíprocos deveres, e, por outro, o guia que os assumiu por contrato. O que
queremos acentuar é que quem toma parte numa destas expedições (reparese:
geralmente de curta duração), é responsável pela vida dos seus camaradas, mas
não pelos respectivos bens. Não estão no mesmo plano os passageiros vítimas
M. Miguez Garcia. 2001
654
dum naufrágio, pois aí ninguém se constitui garante da vida de ninguém. A
doutrina dominante nega a existência de deveres de evitação do resultado em
comunidades originadas em desgraças (Unglücksgemeinschaften).
Arzt, JA 1980, p. 713, põe em confronto duas situações extremas: os sobrevivente dum
naufrágio que — até em sentido figurado — se sentam no mesmo barco, procurando salvarse,
e os clientes duma discoteca que se incendeia. A duração da situação e o isolamento do mundo
exterior são essencialmente distintos. No caso da discoteca não se origina uma autêntica
comunidade na desgraça. Mas, conclui Arzt, os náufragos, que se encontram no mais absoluto
isolamento relativamente a outras comunidades e têm a responsabilidade de se manter unidos
e de se apoiar reciprocamente, são garantes da evitação dos danos que ameacem qualquer
deles.
No domínio da estreita relação de vida não existe pleno acordo quanto ao âmbito dos bens
jurídicos cuja lesão há que impedir se não se quer incorrer num crime de comissão por omissão:
"que se castigue por "homicídio por omissão" quem deixa morrer a tia doente com quem vive"
não significa, porque seria "grotesco", que o sobrinho responda igualmente por "dano por
omissão" se omite alimentar o canário da tia ou regar as suas flores. Gimbernat, que cita
Grünwald nesta passagem, comenta: estes exemplos, com que se pretende demonstar que as
posições de garante não fazem responder, em comissão por omissão e indiscriminadamente,
por todos os bens jurídicos (vida, propriedade, etc.) de quem goza da garantia, fizeram carreira
na doutrina posterior, que remete frequentemente para os exemplos de Grünwald do canário e
das flores da famosa tia.
Deveres de custódia podem ser assumidos, tomando o agente o bem
jurídico à sua guarda, como no caso da babysitter, a qual se encarrega de
substituir os pais, que estão vinculados ao portador do bem jurídico por um
vínculo natural, mas que assume, do mesmo passo, deveres de garante para
com a criança. Se o serviço se inicia, a eventual nulidade do contrato não pode
deixar sem efeito a posição de garante da babysitter. Mesmo quando esta é
contratada "só até à meianoite" e os pais regressam depois das duas da manhã,
permanece a posição de garante, por vias da correspondente "assunção fáctica",
não obstante o termo do contrato. Se a babysitter abandona a criança
responderá pelos eventuais danos da vida ou da saúde desta, como se os tivesse
causado (Gimbernat, p. 286). Mas se por ex., alguém contrata os seus serviços e
M. Miguez Garcia. 2001
655
a babysitter se encarrega de cuidar de uma criança na ausência dos pais, mas
não chega a iniciar funções, e, não obstante, os pais ausentamse em viagem
pensando que aquela virá e tratará da criança — num caso destes quem viola o
dever de garante são os pais e só eles. Se o guia de montanha não comparece no
dia da excursão, o contrato não é cumprido, mas se os candidatos a alpinistas
avançam por sua conta e risco o guia faltoso não pode ser responsabilizado pela
morte de algum deles durante a expedição. Nesta área podem aparecer
problemas específicos dos médicos nas relações com os seus clientes,
nomeadamente, no auxílio médico à morte por omissão, se, por ex., o médico
assiste, impassível, à agonia da sua doente, que acaba de se injectar com uma
dose letal de heroína e lhe pede para nada fazer porque quer pôr termo à vida.
Já antes se aludiu à ideia de domínio. Alguns autores transportamna
especificamente para o domínio da coisa (Sachherrschaft) e nela encontram uma
das razões que lhes permite relacionar o omitente com um certo resultado. Cita
se o exemplo doutrinário, já dos primeiros anos do século 20, de quem, por
curiosidade ou para realizar um assalto, penetra numa cave alheia, fechandose
lhe a porta, que só poderá ser aberta por fora, na sequência dum golpe de vento.
Como explica Gimbernat, aqui não existe uma intervenção precedente, porque a
porta foi fechada por uma causa natural e não pelo proprietário. Ainda assim,
será este quem tem o domínio da coisa e com ele um dever de actuar, gerador
de uma comissão por omissão. Hoje em dia voltamse a discutir estas ideias,
reconduzindoas, por último, aos deveres do tráfico. Os deveres de segurança no
tráfico englobam todos os casos em que houve um agir precedente gerador de
perigos. A mais disso, estes deveres, erigidos em critério independente,
explicam como se pode reconduzir um resultado a uma omissão noutras
situações que não conheceram um agir precedente (cf. Gimbernat). O
proprietário do edifício que não repara os defeitos do telhado, sobrevindos por
ocasião de uma forte tempestade, responsabilizase como garante pela
integridade física de quem passa na rua relativamente à queda de telhas. Vale o
mesmo para o dono do cão que é deixado à solta e que morde o filho do vizinho
que brincava no jardim anexo à moradia, ou o carteiro. O morador duma casa
ou o encarregado dum estabelecimento, como titulares do domínio da coisa,
têm a obrigação de garante de impedir as lesões de bens jurídicos que se
reconduzam a acidentes ou a acções delitivas de terceiras pessoas que ameacem
produzirse dentro da sua esfera de domínio. Há, como já se disse, perigos que
podem ter origem em instalações industriais ou em residências, por ex., em
galerias ou sectores mal iluminados ou em escadas com deficiências, mas o
dono do restaurante onde ocasionalmente se faz a divisão do produto dum
M. Miguez Garcia. 2001
656
assalto não comete qualquer receptação por via da sua omissão. Nem existe
qualquer dever jurídico que obrigue a remover escritos difamatórios na parede
de uma casa. O dono da casa não comete nenhum crime contra a honra por
omissão. A vigilância de fontes de perigo ligase ainda a camiões, animais —
pensese no tigre fugido do jardim zoológico ou do circo, e a determinado tipo
de instalações. Quando a ordem jurídica aprova o domínio sobre essas coisas
nasce o dever de as controlar e de evitar os perigos que delas derivam. Já
levantam dúvidas os casos em que um terceiro colabora na criação da situação
perigosa. O proprietário dum camião tem que o manter em condições de
circular mas também tem que impedir a condução por incapazes ou por quem
não esteja habilitado. Na condução por pessoa embriagada, os perigos derivam
do condutor e não da coisa, como bem se compreende.
Uma palavra ainda sobre as denominadas posições de monopólio, para
transcrever um apontamento do Prof. Taipa de Carvalho, p. 242, com o
entendimento de que estas devem ser incluídas no dever geral de auxílio (artigo
200º) e excluídas do dever de garantia, pois "não deverá ser o facto de poderem
ser vários ou apenas um a salvar o bem jurídico que fará com que se deva
afirmar apenas o dever de auxílio ou o dever de garante". Mas não se esqueça a
orientação doutrinária que apela à esfera de domínio positivo do omitente. Em
situações de monopólio, o resultado desvalioso bem poderá (deverá?) imputar
se ao omitente recorrendo a esses pressupostos explicativos e fundamentadores.
O catálogo antecedente, baseado essencialmente nos autores alemães, não é obviamente
definitivo. Existem igualmente deveres de garante que não se adaptam a este esquema. Um
exemplo, para alguns, é o da burla. Pode a burla cometerse por omissão? Outra questão é a de
saber se concorre mais do que um dever de garante. Por ex., o pai (que tem naturalmente um
dever de custódia) coloca o seu próprio filho em situação de perigo para a vida (dever de
segurança por actuação precedente, geradora de perigos). Nestes casos, o próprio dever não sai
reforçado (dever não é um conceito graduável). Porém, sai reforçada a exigibilidade da acção
de salvamento.
Quanto ao lado subjectivo nos crimes de comissão por omissão dolosos.
Nos delitos de acção o dolo referese aos elementos descritos no tipo. Nos
delitos de omissão, o dolo referese às características típicas de que decorre um
dever de acção. Em parte estão descritas no tipo, outras não estão descritas. O
dolo estendese também a estas características não descritas no tipo. O omitente
deve saber que não intervém — deve portanto ter presente que omite uma
M. Miguez Garcia. 2001
657
acção — e deve estar consciente de que pode executar essa mesma acção. A
posição de garante pertence ao tipo, mas já não o consequente dever de acção,
que é elemento da ilicitude, tal como o correspondente dever de omissão nos
delitos de comissão por acção. No que respeita ao elemento volitivo do dolo, há
especialidades que devem ser assinaladas. Nos delitos de acção, há
normalmente uma clara expressão. Nos de omissão, o omitente frequentemente
"deixa as coisas seguirem o seu caminho", sem que se possa falar de uma
vontade em sentido próprio. Na maior parte das vezes excluise aqui uma
intenção. Para o dolo directo e o dolo eventual é decisivo assentar no factor
intelectual. Ex., A, mulher casada, observa no decorrer do tempo que o seu
amante se ocupa do plano de matar o marido. A situação aqui vaise
desenvolvendo, pouco a pouco, de tal modo que quanto à vontade da mulher
— comparandoa com a vontade num delito de acção — nenhumas dúvidas se
suscitam. Para o dolo basta que a mulher saiba da situação típica e conheça a
sua capacidade de agir.
No caso nº 28, parece que podemos agora colocar a pergunta decisiva: se
perante um casamento a todos os títulos "desfeito", ao marido é de impor uma
posição de garante e se, perante a sua omissão, será autor de um homicídio
cometido por omissão (artigos 10º, 131º) ou se simplesmente deve ser castigado
por aplicação do artigo 200º. Haverá ainda aí — ao menos — uma relação
fáctica de proximidade, "digamos: existencial" (Prof. Figueiredo Dias), entre o
omitente e determinados bens jurídicos que ele tem o dever pessoal de
proteger?
IV. Omissão; furto; ameaça existencial
CASO nº 28A: A, que acompanha B, sua mulher, repara, numa aglomeração de pessoas à
entrada do Metro, que um carteirista deita a mão à bolsa da senhora e retira de lá uma nota de
500 escudos. A nada faz.
Não está em causa a actuação do ladrão, mas o comportamento do marido,
pretendendose saber se este, em comissão por omissão, pode ser
responsabilizado pelo crime de furto (artigos 10º e 203º, nº 1). A quantia não
constitui um bem patrimonial "existencialmente" importante para a mulher.
Neste exemplo de Bärwinkel, referido por Gimbernat, o marido só seria
responsabilizado pela comissão de furto por omissão se o ladrão tivesse
subtraído "todo o património" da mulher, por ex., se lhe tivesse levado a
caderneta de depósitos, supondo que com ela podia transferir todo o dinheiro
M. Miguez Garcia. 2001
658
para uma sua conta. Adviria então para o marido o dever de evitar o furto, por
nele se conter uma ameaça existencial. Com efeito, entendese geralmente que a
garantia só entrará em jogo quando a omissão acompanha a ruina total do
portador da garantia. Comparese a solução com o que anteriormente se
escreveu sobre os vínculos conjugais em caso de perigo para a vida.
V. Ainda a cláusula de equivalência (artigo 10º, nº 1). Burla por omissão
CASO nº 28B: A, ficando calado, aproveitase astuciosamente de um engano de B, que A
anteriormente tinha provocado involuntariamente, para o prejudicar patrimonialmente em seu
benefício.
A equiparação da omissão à acção fazse de forma restritiva e a sua
necessidade só se manifesta nos casos em que sobre o omitente "recaia um
dever jurídico que pessoalmente o obrigue a evitar o resultado" (artigo 10º, nº
2). Deste modo, a burla só pode ser cometida pelo silêncio autêntico se
pudermos enquadrálo nos pressupostos da comissão por omissão imprópria.
Há quem assim admita a burla por omissão, se houver um dever de informação
por parte do agente, mas com carácter excepcional. Com efeito, na burla, o
dever jurídico de emitir uma declaração rodeiase das mesmas exigências
postas a qualquer outra posição de garante, não chegam simples deveres
contratuais derivados do princípio da boafé para que se possa qualificar o
silêncio como típico (V. Krey). Esses especiais deveres de informação podem
derivar, por exemplo, e segundo alguns autores, de relações particularmente
estreitas, associadas a certas ligações negociais de longa duração. De qualquer
forma, a omissão não prescinde das cores da astúcia, já que a lei não dispensa
este elemento.
Como crime de resultado, a burla pertence ao conjunto das infracções que
requerem a realização de uma actividade específica para lesar de modo típico o
bem jurídico, é crime de execução vinculada ou de meios determinados, na
medida em que é a própria lei que descreve, com maior ou menor número de
dados, a forma como deve produzirse o resultado.
A ressalva da primeira parte do nº 1 do artigo 10º do Código Penal ("outra
intenção da lei"), que acresce à exigência de que o tipo legal de crime
compreenda "um certo resultado", tem sido interpretada no sentido de excluir
da equiparação da omissão à acção certos crimes de execução vinculada, como a
burla, autorizando essa equiparação desde logo quanto aos crimes de forma
livre, como o homicídio, que pode acontecer por envenenamento, por aplicação
M. Miguez Garcia. 2001
659
de uma corrente eléctrica, pelo disparo duma arma de fogo, etc. A recusa da
burla omissiva feita por M. Fernanda PalmaRui Pereira assenta na
interpretação conjugada dos artigos 217º e 10º do Código Penal, que, no
entender dos autores, só atribuem relevância à astúcia que se exprime por
acção. Estará em causa o modo de ser objectivo da acção, atendendo à energia,
ao engenho ou à persistência criminosa que ela revela. Nos crimes de forma
livre, a posição de garante é a decisiva na questão da equivalência da omissão
com um agir positivo. Pelo contrário, nos crimes em que a lei descreve os meios
de execução, a cláusula da equiparação funciona como obstáculo à comissão por
omissão, se for essa "a intenção da lei". No caso do homicídio, atendendo ao
elevado valor do bem jurídico que é a vida, basta qualquer acção que, de modo
objectivamente imputável, seja causa da morte de outra pessoa (O. Triffterer,
öst. Strafrecht, AT, 2ª ed., 1994, p. 56).
Realmente, em certos casos, não se torna necessário "procurar critérios
sofisticados de distinção" entre crimes de omissão e acção: a solução oferecida
pela experiência comum e pelo sentimento imediato possui "o toque bom" das
coisas evidentes (Prof. Figueiredo Dias, Pressupostos da punição, p. 53). Mas
naqueles em que o tipo descreve uma forma vinculada de execução, ou pelo
menos torna dependente dela o desvalor da acção, a apontada restrição legal
"só pode ter o sentido de reenviar o aplicador do direito para uma valoração
autónoma, de carácter éticosocial, através da qual ele determine se, segundo as
concretas circunstâncias do caso, o desvalor da omissão corresponde ou é
equiparável ao desvalor da acção, na perspectiva própria da ilicitude. Se, atenta a
interpretação devida ao tipo legal de acção quanto à espécie e ao modo de
execução ou aos meios determinados que ela supõe, o aplicador se pronunciar
pela não correspondência, deve ele então concluir que outra era no caso a
intenção da lei, nos termos e para os efeitos da cláusula geral de equiparação
contida no artigo 10º1" (Prof. Figueiredo Dias, ob. cit., p. 55). Ora, segundo
alguns autores, na burla a omissão tem significado social idêntico à
correspondente acção descrita no tipo, não está relacionada unicamente com a
produção do resultado, está igualmente implicada no modo típico da sua
produção: exigese, não uma qualquer lesão, mas uma lesão provocada por erro
ou engano (cf., Ebert, p. 163; Haft, p. 206). Ponto é que a astúcia, que na lei
portuguesa é elemento típico imprescindível, se possa então afirmar. No caso nº
28A ponderase a hipótese do erro que o agente causou sem astúcia (por erro:
ingerência), mas que astuciosamente não trata de remover. Se porém o
aproveitamento desse erro não corresponde ao erro provocado pela astúcia do
M. Miguez Garcia. 2001
660
agente não haverá equivalência com a modalidade normal da burla, ficando,
consequentemente, arredada a tipicidade.
• Ebert, p. 163: A cláusula de equivalência tem a ver com o modo de produção do resultado,
diz respeito somente àqueles tipos que não se limitam a sancionar a simples causação
do resultado (desvalor do resultado), mas que, para além disso, exigem uma
determinada modalidade de acção (desvalor da acção). A equivalência da omissão à
acção assenta, nestes tipos de ilícito, na circunstância de a omissão não estar em
relação somente com a produção do resultado, mas também com o modo típico da
sua produção. Na burla exigese, não uma qualquer causação dum dano mas um
dano por erro ou engano; a omissão deverá incluir portanto a não evitação de um
erro.
A propósito de tipos abertos e da equiparação da omissão à acção. O artigo 10º representa o
alargamento da punibilidade dos tipos legais da parte especial do Código. O artigo 10º
funciona como tipo aberto, necessitado de complemento, por força do qual certos agentes são
considerados como garantes da nãorealização típica. Os crimes negligentes são também tipos
abertos em que "a lei apenas descreve uma parte dos elementos do tipo e a outra parte se vê
remetida para a integração judicial do tipo, sendo dado ao juiz só o ponto de vista segundo o
qual ele tem de proceder a essa integração". Nos delitos por negligência esse ponto de vista é
enunciado pela referência ao "cuidado a que, segundo as circunstâncias, está obrigado" o
agente (artº 15º do C.P.), nos delitos de omissão imprópria pela exigência da "posição de
garante". (Castanheira Neves, Digesta, p. 376). A propósito dos tipos abertos, cf. ainda Jorge
Miranda/Pedrosa Machado, Constitucionalidade da protecção penal dos direitos de autor e da
propriedade industrial, p. 37.
VI. Homicídio por omissão; imputação dolosa; imputação negligente
CASO nº 28C: A acabou de cumprir uma pena de prisão e encontra na casa do seu amigo
B, um apartamento de 3 divisões onde este vive com a sua companheira L e o filho de ambos,
F, com nove meses, ambiente familiar e um bom refúgio para quem, como A, se sente
desamparado. Enquanto B e L dormem com a criança num quarto, A fica numa cama
M. Miguez Garcia. 2001
661
articulada, na sala, sendo os pais quem trata da criança. Às tantas, B é, por sua vez, preso e A,
que continua no apartamento, escrevelhe para a prisão, dizendolhe que tem vindo a olhar
pelo pequeno e a mãe. Esta desconhece o conteúdo da carta. Até então, a criança fora sendo
bem tratada e regularmente alimentada. Enquanto a mãe trabalhava, das 17 às 24 horas,
deixava, sem nada dizer, que A se ocupasse do filho. Passadas semanas, L perdeu o emprego e
passou a frequentar bares e a acompanhar com diferentes homens. A princípio, ainda L tratava
da comida da criança antes de sair, pedindo a A que lha desse, o que ele fazia, mas com o
correr dos dias a mãe foise esquecendo do filho. A, que lhe reprovava a falta de cuidado para
com a criança, ameaçou denunciála à segurança social, mas ainda assim foise ocupando dela
até que conseguiu um emprego. L não combinou nada de especial com A quanto aos cuidados
do filho, não obstante as suas prolongadas ausências, e este ficou ao abandono, pois A só ao
fim da tarde lhe podia valer. Mesmo assim, nunca mais foi limpo e as bebidas eramlhe
deixadas na cama que continuava numa sujidade execrável. Em Outubro, A esteve ausente por
uns dias, mas quando voltou não foi ver a criança. Durante esse tempo, em que a criança
passou fome e sede, a mãe esteve em casa apenas durante umas horas. A apercebeuse da
situação em que se encontrava a criança, mas nada fez, por estar convencido de que L tomaria
providências. Depois da morte da criança, A e L passaram a dormir juntos, até que ela iniciou o
consumo de heroína, tornandose toxicodependente. Também A consumia drogas duras de vez
em quando. A cuidava de L quando esta frequentemente se sentia mal. Certo dia, quando se
encontravam em casa e se tinham ambos injectado, A apercebeuse de que L tinha perdido a
consciência — massajoulhe o coração e ministroulhe um medicamento, para a ajudar. A sabia
que a vida de L estava ameaçada mas nada mais fez, deixandoa confiada ao seu destino.
Algumas horas depois L morreu. Apurouse que, sem dúvida, teria sido salva se na altura A
tivesse chamado um médico. Cf. v. H.Heinegg, Prüfungstraining, p. 55.
Está em causa unicamente o comportamento de A para com a criança e a
mãe.
A matéria fáctica convoca a apreciação do eventual homicídio negligente
da criança por omissão (artigos 10º e 137º) e, também por omissão, do homicídio
voluntário da mãe (artigos 10º e 131º). Além disso, pode haver omissão de
auxílio (artigo 200º).
M. Miguez Garcia. 2001
662
A principal dificuldade prendese com a posição de garante de A. Como
antes se viu, esta pode derivar de uma função de protecção relativamente a um
bem jurídico concreto, como no caso de estreitas relações de vida. Os autores
têm procurado delimitar estas situações, apontando casos como o de diversos
locatários de um apartamento que vivem em conjunto, os homossexuais ou as
pessoas casadas que vivem em família. Mas alguns exigem, numa perspectiva
mais apertada, que entre os respectivos membros se desenvolvam deveres
recíprocos de auxílio e de vigilância ou que se criem vínculos de confiança
mútua, não reconhecendo a simples “comunidade de vida”, por si só, como
uma instituição capaz de gerar deveres de garantia.
No caso concreto, A, quando em Outubro regressou ao apartamento, nem
sequer olhou para a criança, não obstante saber que o comportamento anterior
da mãe era profundamente descuidado e reprovável. A tinha escrito ao pai da
criança que “estava a olhar pelo pequeno”, mas é duvidoso que isso represente
a assunção de uma obrigação e de qualquer forma sempre se referia a um
tempo passado em que não havia ameaça para a vida. Por outro lado, da
simples estada na casa não resultam para A os deveres de alimentar e cuidar do
pequeno, pois os pais estavam ali presentes e era a estes em primeira linha que
tais deveres competiam, ficando a cargo da mãe quando o companheiro foi
preso. É certo que A e o pequeno viviam debaixo do mesmo tecto, mas não
existiam entre eles relações de parentesco nem foi assumida qualquer função de
protecção, como no caso do dono de uma casa que olha pelos hóspedes. Será
contudo de ponderar uma especial relação de confiança criada com o auxílio
que A foi prestando à mãe A foi parcialmente assumindo esses deveres, ainda
que não houvesse um acordo expresso entre ambos para a divisão de tarefas.
Mesmo assim, parece que a situação se terá alterado substancialmente a partir
do momento que A arranjou trabalho e esteve durante alguns dias fora do
apartamento, sendo essa a altura crítica para a criança.
A morte de L passa sem dúvida pela situação de garantia que se gerou a
partir do momento em que começaram as relações íntimas e A aceitou cuidar de
L nos momentos em que esta se sentia mal, o que será suficiente para
estabelecer uma especial relação de confiança. Não obstante L se ter injectado
voluntariamente, realizouse na morte desta o perigo resultante da omissão de
A, que tinha o dever de a evitar. A, que conhecia a situação de perigo para a
vida de L, conscientemente deixou que fosse o acaso a decidir, e nisso consiste o
seu dolo.
M. Miguez Garcia. 2001
663
VII. Omissão, artigos 10º, 131º
CASO nº 28D: A é filho de um médico, B, com quem vive. A sofreu um acidente e para lhe
salvar a vida impõese uma transfusão de sangue imediata. A situação é de tal ordem que B é a
única pessoa cujo sangue serve para a transfusão. Acontece até que, de momento, B é também a
única pessoa que pode proceder a essa transfusão. Está junto de si uma enfermeira que o pode
ajudar a dar o sangue e a proceder à transfusão. Todavia, B não dá o sangue e A morre. A teria
sido salvo se a transfusão se tivesse realizado em devido tempo. Cf. J. Hruschka.
Tratase de saber se B cometeu um homicídio por omissão (artigos 131º e
10º do Código Penal).
A morreu. Deuse um evento, a morte de uma pessoa, o qual corresponde
ao "resultado", no sentido dos artigos 10º e 131º. B tinha podido evitar a morte
de A, procedendo à transfusão do seu próprio sangue. Houve todavia omissão
de B, não obstante, como pai de A, ser responsável pela vida deste, enquanto
interesse ameaçado. Nessa medida, em razão dos laços que o ligavam a A, seu
filho, com quem vivia, e dos correspondentes deveres de assistência (auxílio,
guarda ou protecção), B encontravase investido na posição de garante (artigo
10º, nº 2). Quanto à transfusão, a mesma era, a todas as luzes, adequada e
necessária.
Além disso, era exigível que B procedesse à transfusão. O interesse
(protegido) de A à conservação da vida era manifestamente superior ao
interesse (a sacrificar) de B à sua integridade física. Mas, em definitivo, não
seria só isto que fundamentaria a exigibilidade do sacrifício de uma quantidade
de sangue que, de qualquer forma, não seria irrelevante. Esse sacrifício tem que
ser também "ajustado" (adequado: artigo 34º) às exigências do dever de
assistência. A necessária acção de salvaguarda tem que ser um meio "ajustado"
(adequado) ao afastamento do perigo.
• Cf. as expressões "acção adequada a produzilo" e "omissão da acção adequada a evitálo"
do artigo 10º, nº 1 — e "meio adequado para afastar um perigo" do artigo 34º. Cf.,
ainda, no artigo 35º, nº 1, a expressão "praticar um facto ilícito adequado a afastar um
perigo". Recorde, por último, que no artigo 200º, nº 1, se emprega o termo "auxílio
necessário ao afastamento do perigo".
Perante um perigo actual que ameaça interesses juridicamente protegidos
de terceiro, a transfusão sanguínea seria o meio adequado para o afastar (artigo
M. Miguez Garcia. 2001
664
10º, nº 1). Havendo manifesta superioridade do interesse a salvaguardar
relativamente ao interesse sacrificado, era razoável impor a B o sacrifício do seu
interesse em atenção à natureza e ao valor do interesse ameaçado de A. No
fundo, tratase de fazer valer aqui as razões que justificam o direito de
necessidade previsto no artigo 34º do Código Penal.
O lado objectivo do tipo dos artigos 10º, 131º mostrase preenchido e do
mesmo modo o subjectivo. B conhecia todas as circunstâncias relevantes ao
preenchimento do tipo objectivo.
Não se descortinam causas de justificação ou de desculpação, pelo que B
cometeu um homicídio consumado por omissão (artigos 10º, 131º).
Terá B cometido igualmente um crime de omissão de auxílio (artigo 200º
do Código Penal)?
Houve um "acidente", no sentido referido na norma. B omitiu a actividade
consistente no auxílio que lhe era possível. O auxílio era "necessário", também
no sentido do artigo 200º.
Todavia, a omissão de auxílio não é punível quando se verificar grave
risco para a vida ou a integridade física do omitente ou quando, por outro
motivo relevante, o auxílio lhe não for exigível (nº 3 do artigo 200º). No caso
concreto não se verificaria, tudo o indica, grave risco para a vida e é de crer que
também a integridade física de B não ficaria em grave risco. Todavia, parece
que o direito de necessidade não justifica que se imponha a um qualquer —
anónimo — uma doação de sangue necessária para salvar a vida de outrem. B,
não obstante ser o pai de A, "joga" aqui, face aos elementos típicos, um papel
idêntico a qualquer outra pessoa. A norma "desiste" de estabelecer qualquer
relação entre os intervenientes. O "Quem" com que se inicia o preceito é o
mesmo da generalidade dos preceitos incriminadores do Código. Ora, a
doutrina maioritária sustenta que a imposição coactiva da doação de sangue
transcende a eficácia justificativa do direito de necessidade — descontadas as
hipóteses de subsistência de particulares deveres de garante, como se viu antes.
E isto pese embora a particular e evidente natureza do conflito: de um lado o
valor da vida, do outro uma agressão relativamente inócua à integridade física.
Só que a imposição coactiva da doação contraria pura e simplesmente o
princípio da liberdade e da dignidade humana. Em tais casos, a expressão da
solidariedade só poderá ter sentido se constituir um acto de liberdade ética. O
homem não deverá em qualquer caso ser utilizado como meio. (Cf. Costa
Andrade, Consentimento e acordo em direito penal, p. 239, e os diversos
autores aí citados). No caso concreto, o auxílio "necessário" não será também o
"meio adequado" ao afastamento do perigo. Existe assim um motivo relevante
M. Miguez Garcia. 2001
665
que permite sustentar que este auxílio não é exigível a B, no sentido do nº 3 do
artigo 200º.
O tipo de ilícito do artigo 200º não se encontra por isso preenchido. B não
omitiu o auxílio necessário, no sentido do artigo 200º.
VIII. Omissão, artigo 200º
CASO nº 28E: X estava a tomar banho na albufeira de uma barragem quando, de repente,
lhe deu uma cãibra, ficando prestes a afogarse. A, que ia a passar, apercebeuse de tudo.
Podia, inclusivamente, terse lançado para um dos barcos que ali se encontravam ancorados e
alcançar o X, para o salvar, mas nada fez. X morreu afogado, mas teria sido salvo se A se
tivesse dirigido a ele com o barco, ali à sua disposição.
Variante: O barco de brinquedo do menino Zézinho estava prestes a ir a pique nas águas da
albufeira da mesma barragem o que, inevitavelmente, conduziria à sua perda. F, que por ali
passava, e que podia terse metido num barco e retirado o barquinho das águas, nada fez. Se F
tivesse acorrido a tirar o barquinho das águas, este não se teria afundado na barragem. Cf. J.
Hruschka, StrafR. p. 91.
O caso de X é de "grave necessidade" e a vida deste estava "em perigo"
(artigo 200º, nº 1). A, que tinha a possibilidade de salvar a vida de X com o
emprego do barco, todavia nada fez, mantendose inactivo. Esse auxílio era
necessário ao afastamento do perigo, sendo certo que X, pelas suas próprias
forças, não podia salvar a vida. Além disso, era exigível que A prestasse o
auxílio, sendo o interesse no salvamento de X bem superior a qualquer interesse
que, da parte do omitente, pudesse vir a ser prejudicado, como por ex., o de
ficar com a roupa molhada. O lado objectivo do ilícito mostrase, pois,
preenchido, bem como o lado subjectivo. Não se descortinam causas de
justificação ou de desculpação, pelo que A cometeu o crime do artigo 200º, nº 1.
O caso do barco do Zézinho não será de "grave necessidade" e o "perigo"
não tem a ver com a vida, a integridade física ou a liberdade de outra pessoa,
pelo que a omissão não preenche a tipicidade do artigo 200º.
M. Miguez Garcia. 2001
666
IX. Omissão, artigos 10º, 212º.
CASO nº 28F: O cão de estimação de A é um animal de raça e muito valioso, com vários
prémios já ganhos, mas que tem uma especial embirração pelo pequeno cão do vizinho, um
pacífico cachorro, rafeiro, igualmente estimado por B, seu dono. A "fera", às tantas, avança
sobre o pequeno animal que, imediatamente, fica ameaçado de morte. A, que sem esforço
podia impedir o seu cão de atacar o outro, nada fez, embora se tenha apercebido de que o
cãozinho mais fraco iria ser morto, como efectivamente veio a acontecer.
Variante: O cão de A, animal de raça e muito estimado, acompanha o dono a um piquenique e
aproveita para, "fraudulentamente", tirar duas pequenas salsichas da merenda de um dos
acompanhantes humanos. A, que tudo viu, nada fez para evitar a "apropriação" indevida e
definitiva das salsichas, ainda que, facilmente, pudesse ter evitado que tal acontecesse, fazendo
com que o cão "devolvesse" o alheio. As salsichas acabaram por ser comidas pelo cão de A. Cf.
Hruschka, p. 118.
Punibilidade de A no caso nº 28F e na sua variante.
CASO nº 28G: X estava a tomar banho na albufeira de uma barragem quando, de repente,
lhe deu uma cãibra, ficando prestes a afogarse. A, que de tudo se apercebeu, lançouse para o
barco de recreio de B, com intenção de rebentar a porta que dava acesso à cabina de pilotagem
e com o barco em movimento salvar a vida de X. B, que também se apercebeu de toda a
situação, e inclusivamente compreendeu as intenções de A, atirouse violentamente a este —
agarrandose a ele com ambas as mãos —, impedindoo assim de entrar na cabina de pilotagem
e utilizar o barco. X morreu por afogamento. Teria sido salvo se B não tivesse impedido A de
rebentar com a porta e de utilizar o barco para salvar X.
A ilicitude da coacção (artigo 154º) tem a ver com a cláusula de
censurabilidade do respectivo nº 3, a ), que põe o meio empregado em relação
com o fim visado. Em geral, sustentase que a cláusula não intervém se ocorrer
uma eximente de carácter geral (legítima defesa, consentimento, etc.). Se houver
uma causa de exclusão da ilicitude, então o facto fica justificado, não sendo
necessário discutir expressamente a cláusula de censurabilidade apontada.
M. Miguez Garcia. 2001
667
B terá cometido um crime (consumado, tentado) de coacção? B impediu A,
nas indicadas condições, de salvar X que se afogava. Terá B cometido um crime
de homicídio (artigo 131º) por acção?
X. Omissão. Conflito de deveres — artigo 36º.
CASO no 28H: X, que volta de um passeio na montanha, encontra em chamas a casa
paterna, situada numa encosta. Apercebese que seu irmão I, de 8 anos, se encontra no interior,
no primeiro andar. A avó A, também no mesmo andar, mas em outra parte da casa, pede
auxílio. O fogo no interior da casa impede um e outro de fugir. X apercebese que o telhado se
vai desmoronar e que só terá tempo de, com o auxílio de uma escada, salvar o irmão I ou a avó
A. Resolve rapidamente salvar I. Logo a seguir o telhado desmoronase e A morre. Cf. J.
Wessels.
1. Como é que se deve encarar o caso do ponto de vista penal?
2. Qual seria a situação se X tivesse encontrado na casa que ardia em vez da avó A a sua amiga
Me
a) salva I e M morre;
b) salva M e, tendose o telhado desmoronado, e I perde a vida.
Indicações para a solução: (cf. Wessels) Deve começar por verificar se é caso de omissão e se X
tem, relativamente a A, um dever especial (pessoal) de garante ou se apenas violou um dever
geral de auxílio. O resultado típico do homicídio (artigo 131º) produziuse: o telhado, ao cair,
matou a avó. No 1º caso, X não realizou a acção adequada para para salvar a avó. Antes de
decidir ajudar o irmão, X tinha a possibilidade e a capacidade de salvar a avó. A omissão de X
foi causal da morte da avó. X, como garante, em razão da existência de um laço estreito com a
avó, tinha o dever de impedir a sua morte, pois familiares muito chegados e com quem se
convive no quotidiano devemse mútua assistência e ajuda em caso de perigo para a
integridade física ou a vida. No caso não tem que se fazer qualquer prova da equiparação da
omissão à acção, por se tratar de homicídio doloso. Pode pôrse a questão de saber se a não
actuação de X no que respeita à avó se encontra coberta por uma colisão de deveres justificante
M. Miguez Garcia. 2001
668
(sendo os deveres de diferentes categorias, o agente não actua ilicitamente se cumprir com o
dever mais importante à custa do menos importante, em caso de deveres equivalentes se
cumprir com um deles). No caso nº 28G, tratase de colisão de deveres. X estava obrigado a
evitar como garante o resultado face a ambos, e para o direito todas as vidas são absolutamente
equivalentes. Mas no conflito de deveres de salvamento equivalentes o ordenamento jurídico
deixa liberdade ao destinatário da norma para se decidir por um ou por outro dever. Assim, X
não omitiu ilicitamente o salvamento da avó.
Em relação a I e a M só existia uma colisão aparente de deveres, porque só existia um dever de
actuar, o de garante face ao irmão, que X cumpriu. Um dever de garantia afasta o dever geral
de auxílio.
No caso da alínea b) X realizou, face ao irmão, o tipo do artigo 131º. Não existe uma colisão de
deveres. Não consta a razão pela qual X se equivocou acerca do seu dever jurídico de actuar,
ou seja, se, por ex., tivesse acreditado que, na situação concreta, tinha a liberdade de salvar
qualquer dos dois. (E se salvou a noiva porque esta (por ex., estavam noivos) lhe estava
humanamente mais chegada?).
XI. Erro sobre a posição de garante; erro sobre o dever de garante.
CASO nº 28H: P, exímio nadador, enquanto passeia na praia, observa um rapaz que por
entre as ondas se debate e que, manifestamente, se afoga se não for socorrido de imediato. P
ignora que se trata do seu próprio filho e nada faz.
O marido do caso nº 28 vê como a sua mulher se debate nas águas, prestes a afogarse, mas
nada faz, pois, conhecendo embora os recíprocos deveres que se devem os cônjuges que vivem
em estreita comunhão de vida, ainda assim está convencido que, perante as contínuas
infidelidades da mulher, só lhe cabe um difuso dever de auxílio e não o de evitar que a mesma
morra.
No primeiro caso, o pai erra sobre uma circunstância do tipo objectivo do
ilícito. Como o dolo tem que se estender, inclusivamente, à posição de garante,
mas o pai não sabe que é o filho que se está a afogar, aplicase o artigo 16º, nºs 1
e 3. P só poderá vir a ser punido por homicídio negligente, se pudesse ter
M. Miguez Garcia. 2001
669
previsto que quem se afogava era o seu próprio filho. No segundo caso,
concluindose por um erro de valoração ou erro moral, o marido pode ser
absolvido com fundamento em erro não censurável sobre a ilicitude — artigo
17º, nº 1, ficando para resolver se nesse caso poderá vir a ser condenado com
base no artigo 200º.
Problemas de concurso. A função subsidiária do crime de omissão de auxílio (artigo 200º)
perante os crimes de comissão por omissão: a omissão de auxílio só entra em questão onde não
exista um dever de garante do agente pela não verificação de um resultado típico. A
interpretação do artigo 10º do Código Penal deve fazerse em si mesma e por si mesma,
independentemente da interpretação que se faça do artigo 200º. E se deste modo os âmbitos
dos dois preceitos em alguma área se cobrirem, deve aí darse decidida prevalência ao artigo
10º sobre o artigo 200º. (Cf. F. Dias; tb. Wessels).
XII. Indicações de leitura
• Acórdão do STJ de 9 de Julho de 2003, CJ 2003, tomo II, p. 240: pratica um crime de
homicídio por omissão o arguido que vivendo com a vítima que é sua mãe, tem 80 anos de
idade e está acamada, durante 12 dias não lhe deu qualquer tipo de alimento, nem
providenciou para que alguém o fizesse; ausentouse de casa, bem sabendo que a vítima
não tinha possibilidade de se alimentar, desse modo aceitando e conformandose com a
ideia de que tal abstenção lhe poderia causar, como causou, a morte. A relação de
proximidade existencial em que se encontrava o arguido (filho) com a vítima (mãe),
colocandoa na sua própria e exclusiva dependência, criou no arguido o dever jurídico de
protecção e asistência tornandoo pessoalmente responsável pela vida da vítima. Tem um
voto de vencido.
• Acórdão da Relação do Porto de 15 de Dezembro de 1999, BMJ492485: sentido da
expressão “grave necessidade” referida ao crime de omissão de auxílio; condutor que
embate num ciclomotor, provocando a queda do respectivo condutor, e continua a marcha,
pondose em fuga, por recear as pessoas presentes, que imediatamente socorreram a vítima
e chamaram uma ambulância.
• Acórdão do STJ de 10 de Maio de 2000, BMJ497125: crime de omissão de auxílio;
pressupostos necessários. Função subsidiária da incriminação pelo artigo 200º.
M. Miguez Garcia. 2001
670
• Acórdão da Relação de Coimbra de 1 de Junho de 1988, CJ, XIII, t. 3, p. 110: comete o crime
de homicídio por omissão a ré que teve plena consciência de que a conduta do coréu
dando a beber vinho em que misturara veneno conduziria necessariamente à morte do
filho, e podendo têla contrariado ou impedido, nada fez nesse sentido. O dever de agir
para evitar o resultado necessário derivava, nesse caso, do disposto no artº 1878º do C.
Civil.
• Acórdão do STJ de 16 de Janeiro de 1990, CJ, 1990, tomo I, p. 33: pratica também o crime de
omissão de auxílio o autor de crime de ofensas corporais qualificadas pelo resultado letal,
que não removeu, nem procurou remover o perigo que criou através da sua anterior
conduta criminosa.
• Acórdão da Relação de Évora de 14 de Maio de 2002; CJ 2002, tomo III, p. 269: o bem
protegido no crime de omissão de auxílio não é a integridade física, ou a vida da vítima,
mas sim o direito natural de socorro que assiste a todas as pessoas. Assim, o facto de a
morte da vítima ter ocorrido imediatamente após um acidente não obsta à verificação
daquele crime.
• Acórdão do STJ de 10 de Fevereiro de 1999, CJ, 1999, tomo I, p. 207: comete o crime de
omissão de auxílio do artigo 200º, nºs 1 e 2, do Código Penal, o condutor que se afasta do
local do acidente sem providenciar socorro à vítima, apesar de haver aí pessoas, uma delas
haver mesmo chamado uma ambulância, e ter regresssado mais de dez minutos depois, já
que ele, como causador do acidente, continua obrigado a comportamento positivo no
sentido da prestação de auxílio.
• Acórdão do STJ de 24 de Abril de 1997, BMJ466: possibilidade de cometimento de burla
por omissão.
• Américo A. Taipa de Carvalho, A Legítima Defesa, dissertação de doutoramento, 1995.
• Américo Taipa de Carvalho, Comentário ao Artigo 200º (omissão de auxílio),
Conimbricense, p. 846.
• Armin Kaufmann, Unterlassung und Vorsatz, in Strafrechtsdogmatik zwischen Sein und
Wert, p. 107.
• Augusto Silva Dias, A Relevância jurídico penal das decisões de consciência, Coimbra,
1986.
M. Miguez Garcia. 2001
671
• Bockelmann/Volk, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4ª ed., Munique, 1987.
• E. Gimbernat Ordeig, Causalidad, omisión e imprudencia, in Ensayos penales, Tecnos,
1999.
• E. Gimbernat Ordeig, Comentario al artículo 11, in Cobo del Rosal et alii, Comentarios al
Código Penal I, Madrid, Edersa, 1999.
• E. Gimbernat Ordeig, Das unechte Unterlassungsdelikt, ZStW 111 (1999), p. 307 e ss.
• E. Gimbernat Ordeig, La omisión impropia en la dogmática penal alemana. Una
exposición, in ADPCP, vol. L, 1997
• E. Gimbernat Ordeig, La omisión impropia en la dogmática penal alemana. Una
exposición, in Ensayos penales, Tecnos, 1999.
• E. Gimbernat Ordeig, Sobre los conceptos de omissión y de comportamiento, Estudios de
Derecho Penal, 3ª ed., 1990, p. [182].
• F. Haft, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 6ª ed., 1994.
• G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 4ª ed., Berna, 1993.
• Geilen, Probleme des § 323 c StGB, Jura 1983, p. 78.
• Gunther Arzt, Zur Garantenstellung beim unechten Unterlassungsdelikt (2. Teil, 2. Hälfte),
JA 1980, p. 712.
• HH. Jescheck, Tratado de Derecho Penal, parte general, Granada, 1993.
• H. Otto, Grundkurs Strafrecht, Allgemeine Strafrechtslehre, 5ª ed., 1996.
• Hans Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11ª ed., 1969, parcialmente traduzido para espanhol
por Juan Bustos Ramírez e Sergio Yáñez Pérez com o título Derecho Penal Aleman,
Editorial Jurídica de Chile, 4ª ed., 1997.
• J. Seabra Magalhães e F. Correia das Neves, Lições de Direito Criminal, segundo as
prelecções do Prof. Doutor Beleza dos Santos, Coimbra, 1955, p. 57 e s.
• J. Wessels, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 17ª ed., Heidelberg, 1987.
• Jorge de Figueiredo Dias, A Propósito da Ingerência e do Dever de Auxílio nos Crimes de
Omissão, Anotação ao ac. do STJ de 28 de Abril de 1982, Revista de Legislação e de
Jurisprudência, ano 116º, (1983), nº 3706
• Jorge de Figueiredo Dias, Comentário ao artigo 134º, Conimbricense, p. 66.
• Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal, sumários, 1975.
M. Miguez Garcia. 2001
672
• Jorge de Figueiredo Dias, Pressupostos da punição e causas que excluem a ilicitude e a
culpa, in Jornadas, p. 52.
• José António Veloso, Apontamentos sobre omissão, Direito PenalI, AAFDL, 1993.
• José de Faria Costa, Omissão (Reflexões em Redor da Omissão Imprópria), BFDUC. vol.
LXXIII, 1996.
• Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Los delitos de omisión: Fundamento de los deberes de
garantía, Civitas, 2002.
• Júlio Gomes, Estudo sobre o dever geral de socorro, in Rev. de Direito e Economia, ano XIV
(1988), p. 101.
• Karl Lackner, StGB, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, 20ª ed., Munique, 1993.
• Küpper, Strafrecht BT 1, 1996.
• Manuel António Lopes Rocha, A parte especial do novo Código Penal Alguns aspectos
inovadores, Jornadas de Direito Criminal, Centro de Estudos Judiciários.
• Manuel da Costa Andrade, Comentário ao Artigo 135º (Incitamento ou ajuda ao suicídio),
Conimbricense, p. 91.
• Manuel da Costa Andrade, Consentimento e Acordo, p. 445 e ss.
• Maria do Céu R. S. Negrão, Sobre a omissão impura, RMP, ano 7º (1986), nº 25.
• Maria Fernanda Palma, A teoria do crime como teoria da decisão penal (Reflexão sobre o
método e o ensino do Direito Penal), RPCC 9 (1999), p. 523 e ss.
• Marta Felino Rodrigues, A teoria penal da omissão e a revisão crítica de Jakobs, Coimbra,
2000.
• Pedro Marchão Marques, Crimes Ambientais e Comportamento Omissivo, Revista do
Ministério Público, ano 20 (1999), nº 77.
• Pedro Soares de Albergaria, A posição de garante dos dirigentes no âmbito da
criminalidade de empresa, RPCC 9 (1999), p. 605 e ss.
• Pedro Pitta e Cunha Nunes de Carvalho, Omissão e Dever de Agir em Direito Civil.
• Seelmann, "Unterlassene Hilfleistung" oder: Was darf das Strafrecht? JuS 1995, p. 281.
• Stree, in Schönke / Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 25ª ed., 1997.
• Teresa Quintela de Brito, A tentativa nos crimes comissivos por omissão: um problema de
delimitação da conduta típica, Coimbra, 2000.
M. Miguez Garcia. 2001
673
• Teresa P. Beleza, Direito Penal, 2º volume, tomo II, 1980.
• Torio Lopez, Límites políticos criminales del delito de comisión por omisión, Anuário de
Derecho Penal y Ciencias Penales, Madrid, 1984.
• v. H.Heinegg, Prüfungstraining Strafrecht, Bd. 1, 1992.
• Wolfgang Naucke, Strafrecht. Eine Einführung, 7ª ed., 1995.
M. Miguez Garcia. 2001
674
§ 29º A negligência.
I. Dolo e negligência. Crimes negligentes. A negligência como ilícito punível.
• CASO nº 29 A, guarda da linha, abre as cancelas logo após a passagem de um comboio.
B, mal o caminho fica livre, inicia a travessia da dupla via férrea, ao volante do seu
automóvel, onde viajavam outras três pessoas, mas o carro vem a ser aí embatido por
um outro comboio, que surge em sentido contrário ao do primeiro. B morreu e com
ele dois dos passageiros. O outro ficou gravemente ferido. Considere as seguintes
variantes:
• a) A tinhase levantado nesse dia descontente com a vida e "disposto a fazer sangue". Não
lhe repugnava, até, que o seu nome viesse nas primeiras páginas dos jornais. Quando
abriu as cancelas sabia muito bem que o segundo comboio estava prestes a passar pelo
local e previu que o carro de B, que se aproximava, seria arrastado e esmagado pela
composição.
• b) A segunda composição era especial, destinada a transportar os adeptos dum clube
nortenho que ia jogar à Capital. A não fora informado da passagem deste segundo
comboio nem lhe era possível saber que esse comboio iria passar.
• c) A fora informado da passagem do segundo comboio, mas esqueceuse e foi por se ter
esquecido que abriu as cancelas nas circunstâncias referidas.
• d) A fora informado da passagem do segundo comboio, mas esqueceuse. Foi por
esquecimento que abriu as cancelas nas circunstâncias referidas. Encontravase na altura
em estado de extrema fadiga por causa do trabalho a que vinha sendo submetido desde
há dias. Com efeito, quem fazia os outros turnos, inclusivamente os turnos da noite, não
comparecera ao serviço, e A não pregara olho. A chegou, inclusivamente, e por mais de
uma vez, a protestar com veemência junto dos seus superiores, mas ninguém ligou.
M. Miguez Garcia. 2001
675
“Age com negligência...”: é assim que se exprime o artigo 15º do Código
Penal. Mas só é punível o facto praticado com negligência nos casos especiais
previstos na lei: artigo 13º (princípio da excepcionalidade da punição das condutas
negligentes, numerus clausus).
Se alguém vem acusado de homicídio do artigo 131º e não se comprova a correspondente
actuação dolosa, pode ainda pôrse a questão da sua punição nos termos do artigo 137º,
desde que se conclua que o agente matou outra pessoa, já não com dolo, mas por
negligência. Além deste preceito, e de outros, não muitos, prevêse no Código Penal a
punição da ofensa à integridade física por negligência (artigo 148º) e a condução, pelo
menos por negligência, de veículo com uma TAS (taxa de álcool no sangue) igual ou
superior a 1,2 g/l (artigo 292º). O Código conhece combinações dolo/negligência. Por
ex., o artigo 272º (incêndios, explosões e outras condutas especialmente perigosas) segue
o esquema subjectivo adoptado na generalidade dos crimes de perigo comum: no nº 1 —
acção dolosa e criação de perigo doloso; no nº 2 — acção dolosa e criação de perigo
negligente; no nº 3 — acção negligente e criação de perigo negligente. Há também os
crimes preterintencionais em que o agente actua como dolo relativamente ao tipo
fundamental, com a ocorrência de um resultado que se imputa a título de negligência
(ex., artigos 18º, 145º). Mas é em vão que se procura um dos vários crimes sexuais ou de
falsificação documental com esse desenho típico, pois todos têm expressão dolosa. Por
outro lado, em caso de erro sobre as circunstâncias do facto (artigo 16º) fica ressalvada a
punibilidade por negligência, mas esta só ocorre se uma norma a prevê nos termos
gerais, o que significa a necessidade de comprovação de todos os elementos de um
determinado tipo de ilícito negligente.
Não existe em direito penal o crimen culpae, um tipo geral de crime
negligente que declare ilícita e puna qualquer violação do dever de cuidado.
M. Miguez Garcia. 2001
676
Existem crimes negligentes concretos, crimina culposa, por ex., o homicídio
negligente, os diversos crimes contra a integridade física por negligência, a
receptação por negligência (artigo 231º, nº 2), etc. Enquanto crimes negligentes
de lesão e de pôr em perigo como que acompanham a missão dos
correspondentes tipos dolosos.
Só uma parte, pequena, dos crimes dolosos é que tem um correspondente
ilícito negligente, por ex., a ofensa à integridade física ou os crimes contra a
vida tanto se prevêem e punem na forma dolosa como na negligente. Não
acontece assim com o dano ou com o furto, que só têm expressão dolosa.
No Código podemos encontrar crimes negligentes de resultado e crimes
negligentes de mera actividade. Nestes, a lei limitase a descrever a conduta que
o agente realiza. Um crime de simples actividade negligente é — já o vimos — o
do artigo 292º, na parte em que pune a condução, pelo menos por negligência, de
veículo com uma TAS igual ou superior a 1,2 g/l.
Até há relativamente pouco tempo, os crimes negligentes tinham uma importância limitada.
Historicamente, foram sendo tratados como uma raridade, só saíram da sombra em que
se encontravam com a progressiva industrialização e o aumento significativo dos
veículos em circulação: a dogmática teve de se render ao número crescente dos
homicídios e das ofensas à integridade física por negligência no tráfego rodoviário. Na
perspectiva clássica, a negligência recortase unicamente como problema de culpa. A
teoria causal da acção limitava o conteúdo do ilícito do facto negligente à “causação do
resultado” socialmente nocivo. Passou posteriormente a distinguirse, ainda no âmbito
da culpa, entre dois elementos significativos: a inobservância do cuidado objectivamente
necessário e o cuidado que o autor estava em condições de observar (Frank; Mezger).
Hoje em dia domina a opinião de que o delito involuntário constitui um tipo especial da
acção penal com estruturas autónomas no que respeita à tipicidade, à ilicitude e à culpa:
a negligência não é uma simples "forma de culpa", mas um tipo especial de conduta
punível que reúne elementos de ilicitude e de culpa (Jescheck, AT, p. 509).
M. Miguez Garcia. 2001
677
Não é o desvalor do resultado que separa os crimes dolosos dos
negligentes. Tanto o artigo 131º (homicídio) como o artigo 137º (homicídio por
negligência) começam pela expressão "quem matar outra pessoa": o resultado é
o mesmo num caso como no outro. O que separa os dois ilícitos é o desvalor da
acção: o agente actua intencionalmente ou prevê a realização típica como
consequência necessária da sua conduta ou conformase com essa realização
(artigo 14º) — a menos que se trate de um simples erro de conduta (artigo 15º).
• Em tempos passados, quando os autores construíam o ilícito na base da causalidade, esta
era igual, tanto dava que o crime fosse doloso como negligente. O crime construíase
então sobre o desvalor do resultado. Como o desvalor da acção não tinha
importância, o resultado era exactamente o mesmo nos dois casos, não era possível
graduálo nem estabelecer diferenças: o ilícito era estático e absoluto. A teoria
causalista, por isso mesmo, não aprofundou o problema do ilícito dos crimes
negligentes, pura e simplesmente, aplicoulhes as regras dos crimes dolosos. Em
Bustos Ramírez, p. 262 e ss., podem lerse os pormenores da evolução posterior dos
crimes negligentes.
II. Noção e formas da negligência
O artigo 15º formula, ainda, um juízo de dois graus, na medida em que se
dirige a quem não proceder com o cuidado a que, segundo as circunstâncias,
está obrigado e de que é capaz.
• Aparentemente, o nosso Código Penal favorece a consideração de um dever de cuidado
objectivo (ainda que concretizado), situado ao nível da ilicitude, a par de um dever
subjectivo, situado ao nível da culpa, ao referir o cuidado a que o agente "está
obrigado " e de que é "capaz" — em ambos os casos, "segundo as circunstâncias" —
cfr. o artigo 15º. Rui Pereira, A relevância da lei penal inconstitucional de conteúdo
mais favorável ao arguido, RPCC 1 (1991), p. 67.
Deste modo, age com negligência quem, por não proceder com o cuidado
a que, conforme as circunstâncias, está obrigado e de que é capaz, não chega
sequer a representar a possibilidade da realização típica (negligência
inconsciente). Age ainda negligentemente quem, de forma ilícita e censurável,
M. Miguez Garcia. 2001
678
representa como possível a realização típica mas actua sem se conformar com
essa realização (negligência consciente). Na negligência consciente (luxuria) o
agente representa como possível a realização de um facto que preenche um tipo
de crime mas actua sem se conformar com essa realização —o agente previu a
possibilidade do resultado, por exemplo, um acidente, e apesar disso actua, ou
deixa de tomar as medidas recomendadas na situação concreta. Na negligência
inconsciente (negligentia) o agente não chega sequer a representar a
possibilidade de realização do facto —o agente nem sequer pensou nas
consequências, embora pudesse têlo feito e devesse têlas previsto.
• A fórmula da "conformação" é o elemento diferenciador do dolo eventual com a
negligência consciente. Entre nós, a definição tanto do dolo eventual como da
negligência consciente encontrase normativamente condicionada. Num caso como
no outro, o agente representa como possível a realização de um facto que preenche
um tipo de crime: comparese a formulação dos artigos 14º, nº 3, e 15º, a):
"...representada como consequência possível...", "representar como possível...". A
diferença está em que, neste último, o agente actua sem se conformar com a
realização fáctica.
Às vezes, a lei prevê uma punição mais gravosa para a negligência
grosseira. Cf., o nº 2 do artigo 137º, o nº 3 do artigo 156º e o artigo 351º. E usa a
expressão "grave incúria ou imprudência […], grave negligência”. Cf. o artigo
228º, nº 1, a) (insolvência negligente). No crime de receptação, a expressão "faz
razoavelmente suspeitar", usada no artigo 231º, nº 2, aproximase da figura da
negligência grosseira, "compreendida como fundada num especial grau de
previsibilidade do agente" (Rui Carlos Pereira, O dolo de perigo, p. 111). A
doutrina moderna parece negar importância prática à distinção entre
negligência consciente e inconsciente, e o legislador também lha não atribui, só
lhe interessa separar a negligência consciente do dolo eventual. As duas formas
de negligência recebem tratamento idêntico, estão estruturalmente equiparadas,
relevando em qualquer delas a violação do dever de cuidado, que na
negligência inconsciente se refere ao não reconhecimento do perigo e na
consciente a uma sua falsa valoração. Outra é a questão do "peso" com que cada
uma delas contribui para a determinação concreta da pena, não faltando quem
sustente que é na negligência inconsciente que reside a maior falta de respeito
pelo outro (Stratenwerth).
M. Miguez Garcia. 2001
679
III. Natureza e elementos do crime negligente. Os crimes negligentes de
resultado.
• Nem o exacto conteúdo da noção de negligência nem a sua integração na teoria do crime se
encontram já suficientemente esclarecidos — muitas vezes são, até, amplamente
discutidos, existindo um número considerável de modelos e de noções sistemáticas.
(Cf. Lackner, p. 119). Kühl observa que, no respeitante à construção do crime
negligente, nos vemos infelizmente confrontados com uma “multiplicidade de
modelos em número dificilmente abarcável”. Continua a ser discutida a ordenação
sistemática tanto da “violação do dever objectivo de cuidado” como do
“conhecimento de realização típica” com que alguns a substituem ou que lhe dão
como acrescento. Contudo, acabou por se impor um modelo que inclui esta
característica no tipo de ilícito da negligência. Para fins didácticos, costumase alinhá
la logo à cabeça (depois da tipicidade, examinase a ilicitude e a culpa). Sobre o crime
negligente, entre as exposições mais conhecidas entre nós, para além dos autores
nacionais (por ex., Jorge de Figueiredo Dias, Velhos e novos problemas da doutrina da
negligência, in Temas básicos da doutrina penal, Coimbra Editora, 2001), encontramse
as de Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts: AT, 4ª ed., 1988, de que há tradução espanhola;
Johannes Wessels, Strafrecht, AT1, 17ª ed., 1993 (com uma 32ª edição em 2002
(Wessels / Beulke)), de que há traduções para o português (Brasil) e para o espanhol
a partir de edições muito anteriores; e Mir Puig, Derecho Penal, Parte general,
Barcelona, com diversas edições. Cf., ainda, sempre com proveito, F. Muñoz Conde,
Derecho Penal, Parte general, igualmente com diversas edições.
Para a opinião dominante, a negligência é uma forma de conduta que
reúne elementos de ilícito e de culpa. Nos crimes negligentes atendemos, no
plano do ilícito típico, à violação do cuidado objectivo e à previsibilidade
objectiva da realização típica — nos crimes negligentes de resultado não basta a
simples causação do evento típico, por ex., a morte de uma pessoa; no plano da
culpa, atendemos ao dever subjectivo de cuidado e à previsibilidade individual
da realização típica. Nos crimes negligentes de actividade o tipo de ilícito
esgotase na realização da conduta típica descrita na norma e na não
M. Miguez Garcia. 2001
680
observância do necessário cuidado objectivo — e uma vez que nestes crimes se
não prevê um resultado, não há lugar à indagação da causalidade nem à análise
da previsibilidade objectiva e subjectiva do resultado, de que se não prescinde
quando tal resultado é elemento do tipo.
• Desvalor de acção e desvalor de resultado. Dissemos que o tipo de ilícito negligente
supõe, no plano do desvalor da acção, a violação do dever objectivo de cuidado
(=violação do cuidado objectivamente devido) e a previsibilidade objectiva da
realização típica. Tratase de dois elementos internamente ligados e que não devem
ser apreciados isoladamente (Lackner). Escreve Kühl que os dois pressupostos típicos
não se encontram um ao lado do outro, mas estão tão “intimamente unidos” que
“não podem ser apreciados isoladamente”. Wessels exprime assim esta articulação:
“falta de atenção exigida pelo tráfico (= violação do dever de cuidado) como
pressuposto objectivo do resultado típico”. Alguns autores contestam a necessidade
da violação do dever de cuidado; outros, como Roxin, consideramno irrelevante, por
não trazer nada de novo relativamente aos critérios gerais de imputação objectiva, na
medida em que só haverá negligência se o agente criar um perigo não permitido (AT,
p. 892 e ss.). Além da violação do dever de cuidado e da previsibilidade objectiva,
concorre o resultado como elemento dos crimes negligentes de resultado. Quem
conduz um automóvel e, por seguir distraído, não pára num sinal vermelho, age com
manifesta falta de cuidado, mas se nada aconteceu, se o condutor não matou
ninguém ou se nenhum peão ficou ferido, falta a concorrência dum evento típico —
consequentemente, não preenche a conduta o crime do artigo 137º, nem o do 148º,
quanto muito uma contraordenação estradal, ou o crime do artigo 291º, ou o do
artigo 292º, este de mera actividade, se estiverem presentes os restantes pressupostos.
• Doutrina do duplo grau: tipo de ilícito e tipo de culpa específicos da negligência.
Consequentemente — e de algum modo repetindo o que ainda agora se escreveu —,
uma coisa é a negligência enquanto elemento típico que fundamenta a ilicitude, outra
a negligência como elemento da culpa. O tipo de ilícito negligente supõe a violação
do dever objectivo de cuidado e a previsibilidade objectiva da realização típica.
Estando indiciada a ilicitude, pode, ainda assim, intervir uma causa de justificação.
M. Miguez Garcia. 2001
681
No âmbito da culpa deverá apurarse se o autor, de acordo com a sua capacidade
individual, estava em condições de satisfazer as exigências objectivas de cuidado e de
prever o resultado.
Abordemos agora, com outro pormenor, todos esses elementos,
começando pela conduta descuidada do agente.
a) A violação do dever de cuidado (=violação do dever de diligência)
determinase por critérios objectivos, nomeadamente, pelas exigências
postas a um homem avisado e prudente na situação concreta do agente. A
extensão do dever de cuidado é referida ao homem médio do círculo social
ou profissional do agente, i. e, do concreto círculo de responsabilidades em
que o agente se move (por ex., como médico, como motorista de pesados,
etc.).
A medida do cuidado devido é portanto independente da capacidade de cada um
(opinião maioritária). Certos autores entendem, contudo, que este critério
generalizador é dispensável. Apontando para a objectivização da capacidade
individual de actuação, incluem no tipo de ilícito imprudente a inobservância de
um dever subjectivo de cuidado, que ocorreria sempre que o agente tivesse
podido prever a possibilidade da produção do resultado: na determinação da
concreta ilicitude da negligência não interviria assim o homem medianamente
prudente, na medida em que a diligência ou a violação da diligência deverão
comprovarse a partir das capacidades individuais do agente. Na verdade, é difícil
entender porque é que os mais capazes não têm que se empenhar, com toda a sua
capacidade, para evitar a lesão de bens jurídicos. Adiante veremos melhor que a
opinião maioritária se sente obrigada a fazer uma excepção ao seu critério
generalizador do homem médio: não obstante a observância das exigências gerais
de cuidado deve excepcionalmente afirmarse a lesão do dever de diligência se o
M. Miguez Garcia. 2001
682
agente, a quem não faltam conhecimentos especiais ou capacidades especiais, não
os emprega para evitar o resultado danoso.
b) O dever objectivo de diligência concretizase, em numerosos
sectores da vida, através de regras de conduta (normas específicas, como
as normas de trânsito —que são as mais frequentemente invocadas, em vista
do desenvolvimento a que chegou a circulação automóvel—,
regulamentos da construção civil, regras de conservação de edifícios, etc.)
ou por regras de experiência, por ex., as leges artis de determinadas
profissões ou grupos profissionais, como o dos médicos, engenheiros, etc.
Cf., especialmente, Figueiredo Dias, Velhos e novos problemas, que, a propósito do que
se passa com "as normas profissionais e análogas (nomeadamente as de carácter
técnico, as chamadas leges artis)" alude à actividade de "médicos, dentistas,
enfermeiros, engenheiros, arquitectos, caçadores, desportistas, guardas prisionais,
soldados, hoteleiros ou outras pessoas ligadas a qualquer nível, à cadeia
alimentar".
O médico, quando leva a efeito uma diligência da sua especialidade, em especial uma
operação, deve agir de forma a evitar danos, procedendo como mandam as regras
e a experiência da arte médica. Tratase de “normas de trabalho”, expressas ou
não, criadas por associações de interesse privado, nomeadamente, em áreas
técnicas, que são o resultado da experiência e da prática de prevenir e de lidar com
o perigo e que por isso estabelecem claramente os limites do risco permitido.
O que em abstracto é perigoso poderá não o ser em concreto (Roxin). Todos esses
preceitos e regras fornecem indicações para a determinação da medida de cuidado
— a sua violação indicia, em medida elevada, uma falta de cuidado. Contudo,
M. Miguez Garcia. 2001
683
tratase unicamente de indícios. Se numa emergência, para evitar atropelar uma
criança que surge na via de forma inopinada, o automobilista invade a faixa
esquerda, violando a norma que o manda circular pela direita, e vem a embater
numa pessoa que na paragem aguarda o autocarro, causandolhe ferimentos,
compreendese que esta violação é necessária para preservar o bem jurídico da
vida da criança — não será essa circunstância que fundamenta uma conduta
ilícita. Para evitar uma colisão, o condutor de um dos veículos pode — e deve —
imprimir à sua viatura uma velocidade bem acima dos limites permitidos se essa
for a forma de evitar embater no carro que vem em sentido contrário. Mas a
observância de tais regras não exclui necessariamente a negligência.
Numa central nuclear, o director, um perito altamente qualificado, apercebese em
determinado momento duma estranha avaria no reactor e conclui imediatamente
que, se cumprir o que está administrativamente determinado, poderá produzirse
uma fuga radioactiva de proporções catastróficas. As consequências poderão,
todavia, minimizarse se se contrariarem os regulamentos. Neste caso, o que se
exige ao perito é que infrinja a norma, mesmo que, assim, se vá criar um outro
risco. Ponto é que este seja menor e se evite a fuga radioactiva. Não haveria então
um desvalor objectivo da acção, sendo o risco criado um risco permitido.
Consequentemente, não poderíamos apontar ao perito a violação dum dever de
cuidado. Pensese, aliás, na susceptibilidade de reconduzir os factos a uma
situação de necessidade e a um conflito entre dois males desiguais que pode
chegar a impor a infracção da norma especial para evitar o mal maior. O estado
M. Miguez Garcia. 2001
684
de necessidade seria, in casu, de molde a excluir o desvalor objectivo da acção,
ainda que subsistindo um desvalor de resultado. Cf. Teresa R. Montañes, p. 202.
c) O Direito impõe a todos o dever de evitar a lesão de terceiros: é o
dever geral de cuidado, de forma que, quando falamos das características
típicas dos crimes negligentes e trabalhamos metodicamente, devemos
indagar quais são os comportamentos que a ordem jurídica exige numa
determinada situação — só assim poderemos medir a conduta do agente
(Kühl), saber se ela corresponde à do homem homem avisado e prudente
na situação concreta do agente. A medida do cuidado exigível coincidirá
com o que for necessário para evitar a produção do resultado típico
(Jescheck).
Nas modernas sociedades industrializadas tornase impossível proibir toda e qualquer
acção que implique um perigo de lesão de bens jurídicos. No entanto, na prática
tornase igualmente impossível sistematizar cada um dos deveres de cuidado, tão
diferentes são entre si. Mas o dever de cuidado radica, desde logo, na abstenção de
qualquer acção idónea ao preenchimento do tipo de delito imprudente — cuidado
como omissão de acções perigosas: "Sorgfalt als Unterlassung gefährlicher
Handlungen". O autor deve buscar a tempo os conhecimentos, experiências e
faculdades sem os quais a realização da acção seria irresponsável por causa do
risco que lhe está associado. Quem pretender conduzir um camião deverá
frequentar o número de aulas suficiente para obter a respectiva licença (Jescheck,
p. 523 e s.). Também Roxin, p. 902, entende que onde não existem modelos de
comportamento formulados para áreas especializadas devem servir duas regras
gerais de orientação: quem pretender levar a cabo uma certa conduta cujo risco
não está em condições de avaliar, deverá informarse; se não se puder informar ou
esclarecer deverá absterse de agir. Cf., agora, Figueiredo Dias, Velhos e novos
M. Miguez Garcia. 2001
685
problemas, com dois exemplos, sem dúvida actuais: o da eventual
responsabilização das instâncias decisoras, do procedimento de coincineração, "se
previamente se não tiverem esgotado todas as possibilidades oferecidas pelo
conhecimento científico actual de determinação dos perigos para bens jurídicos
individuais e colectivos" — e a utilização na guerra de munições com urânio
empobrecido.
Em muitos domínios, a afirmação de que a negligência começa quando se ultrapassam
os limites do risco permitido, é uma ideia perfeitamente apreensível.
Consideremos a condução automóvel, que, como outras actividades próprias das
sociedades modernas —e como tal imprescindíveis— comportam riscos que, em
certas ocasiões, nem mesmo com o maior cuidado se podem evitar. Põese em
relação a tais actividades a questão da sua necessidade social ou da sua utilidade
social e, por isso mesmo, o Direito aceitaas, não as proíbe, não obstante os perigos
que lhes estão associados. As condutas realizadas ao abrigo do risco permitido não
são negligentes, não chegam a preencher o tipo de ilícito negligente. Se o agente
não criou ou incrementou qualquer perigo juridicamente relevante não existe
sequer a violação de um dever de cuidado. A negligência excluise se o agente se
contém nos limites do risco permitido, se num atropelamento não criou nem
potenciou um risco para a vida ou para a integridade física da vítima.
Não actua de forma negligente quem se mantém nos limites dum risco permitido. As
actividades perigosas autorizadas pela ordem jurídica (transportes ferroviários,
marítimos e aéreos, actividades mineira e industrial, etc.) e as que são permitidas
no tráfego rodoviário a quem está habilitado não constituem qualquer causa de
M. Miguez Garcia. 2001
686
justificação para o homicídio, as lesões corporais, os danos, etc., que ocorram no
âmbito de actividades perigosas, pois isso não necessita qualquer justificação, na
medida em que a acção causadora do resultado — que assim não representa uma
lesão do dever de cuidado nem tão pouco a realização dolosa de um tipo de ilícito
— não ultrapasse o âmbito do risco permitido. Deste modo, actua negligentemente
quem causa um resultado típico através de uma acção que aumenta o risco acima
da medida permitida (aumento do risco da produção do resultado), como
conduzir em velocidade desmedida, fazer uso de pneus gastos, pôr a navegar um
navio incapaz, etc. (Cf. Wessels; T. R. Montañes; Bockelmann / Volk).
O problema material é já antigo; embora em 1861 se dissesse que o caminho de ferro era
um empreendimento antijurídico, isso só tinha a ver com os pressupostos da
responsabilidade civil. Mas já muito antes da "época da técnica" não só a
construção civil, as pedreiras, as minas, a navegação, etc., eram "actividades
perigosas", como também havia cavalos que tomavam o freio nos dentes, crianças
que caíam nos poços, combustões que causavam danos, em resumo, também
certas coisas do uso diário eram perigosas. Para poder chegar à formulação do
risco permitido foi preciso, por um lado, que se produzisse um aumento
quantitativo dum novo tipo de perigos, que se tornou evidente especialmente no
âmbito do tráfego ferroviário e rodoviário, e, por outro, que se soubesse até que
ponto era possível dominar, com um comportamento cuidadoso, o âmbito do risco
nas actividades perigosas que se iam ampliando — e mesmo saber até que ponto é
que isso só se poderia obter renunciando ao "progresso". G. Jakobs, El delito
imprudente, p. 173.
M. Miguez Garcia. 2001
687
d) O princípio da confiança: ninguém terá em princípio de
responder por faltas de cuidado de outrem. Uma limitação (sensata:
Wessels) das exigências de cuidado deriva do princípio da confiança.
Provindo o perigo da actuação de outras pessoas, não precisará o agente
de entrar em conta com tal risco, "uma vez que as outras pessoas são (ou
devem suporse), elas próprias, seres responsáveis. Por outras palavras,
ninguém terá em princípio de responder por faltas de cuidado de outrem,
antes se pode confiar em que as outras pessoas observarão os deveres que
lhes incumbem" (Figueiredo Dias, Direito penal, sumários e notas,
Coimbra, 1976, p. 73). Se o condutor que goza de prioridade fosse
obrigado a parar por via de uma possível transgressão do condutor
obrigado a deterse, então o direito de prioridade seria progressivamente
desvalorizado e nunca mais seria possível um tráfego fluído (BGHSt 7, 121
s.). É uma conclusão inteiramente de acordo com o pensamento do risco
permitido. Quem actua de acordo com as normas de trânsito pode pois
contar com idêntico comportamento por banda dos demais utentes. Mas
não se pode prevalecer do princípio da confiança quem não se conduz de
acordo com as normas. O princípio também não é aplicável nos casos em
que reconhecidamente se não justifica a confiança num comportamento
regular de outrem. Exs: condutas inábeis de pessoas muito idosas ou de
crianças; de peões manifestamente desorientados; situações de trânsito
especialmente perigosas e complicadas; sempre que outro utente da via
deixe entender, pelo seu comportamento, que não está a cumprir as regras
de trânsito: se um condutor repara que outro não observa a prioridade
deve também ele deterse e não deve prosseguir, confiando no seu
“direito” (cf. Roxin, com mais dados). O princípio da confiança não vale
apenas para o trânsito rodoviário, mas em todos os casos em que muitos
são "responsáveis" por um perigo" — trabalho de equipa (cf. Jakobs, El
delito imprudente, p. 176). Definese a diligência de cada um e o risco
permitido mediante a compartimentação do círculo de responsabilidades
(conf., por ex., para a colaboração em operações, experiências científicas,
acções de salvamento e semelhantes). O BGH reconheceu que, numa
operação, os médicos que nela participam podem, em princípio, confiar
numa colaboração isenta de erros dos colegas das outras especialidades. Se
não confiássemos nos outros não só seria impossível repartir tarefas como
teríamos que omitir as condutas susceptíveis de serem influenciadas por
uma conduta alheia. Um exemplo: em qualquer cruzamento de ruas
deparamos com sinais de prioridade.
M. Miguez Garcia. 2001
688
O princípio da desconfiança. Quem se comporta de maneira não cuidadosa confia na
desconfiança dos outros? Quem entra numa via rápida com muito trânsito confia
em que os condutores que vêm atrás travem? De acordo com jurisprudência
constante, tratase de uma confiança que não o deve ser, i. é, que não está
permitida. Jakobs, El delito imprudente, p. 177.
Dever de diligência e princípio da confiança no âmbito da circulação rodoviária. As
pessoas devem absterse de actos que impeçam ou embaracem o trânsito ou
comprometam a segurança ou comodidade dos utentes das vias: artigo 3º, nº 2, do
Código da Estrada. As relações do princípio da confiança com as regras de
cuidado no âmbito da circulação rodoviária analisamse numa série quase
infindável de decisões judiciais, cujos principais exemplos se podem ver coligidos
no lúcido comentário de Paula Ribeiro de Faria, no Conimbricense, PE, tomo I, p.
264 e s. (cf., ainda, K. Lackner, p. 122; Krümpelmann, LacknerFS, p. 289; Cramer,
S/S, p. 211 a 215). No mesmo local podem consultarse outras indicações úteis
relativamente à construção de edifícios ou outras obras e às lesões da integridade
física (as quais justificam o comentário) que nesse âmbito possam vir a ser
causadas a terceiros; bem como a aplicação do artigo 148º do Código Penal no
âmbito da actividade médica. Cf., ainda, Kienapfel, p. 50, com extenso
apontamento sobre normas de cuidado dirigidas à protecção da vida e da
integridade física em diversos domínios, como o tráfego rodoviário; a indústria, o
comércio e actividades similares; a protecção de trabalhadores; os tratamentos
médicos; a vigilância de crianças; as actividades venatórias; as deslocações por
água; o caso dos elevadores; as competições desportivas; o manejo de armas; etc.
M. Miguez Garcia. 2001
689
São hoje em número quase inabarcável as decisões sobre a velocidade em geral
prescrita na circulação automóvel, particularizandose casos de condução com
mau tempo, em situações de invernia, ou com deficiente visibilidade; de acidentes
por falta de segurança do próprio veículo; ou em cruzamentos de pouca
visibilidade; de condução em estado de cansaço ou fadiga ou de condutor com
pouca experiência; de encandeamento por outro veículo que circula em sentido
contrário; de golpe de direcção na sequência da introdução de um insecto na
cabine, etc. Também para Kienapfel aparece o princípio da confiança, bem como a
questão do tempo de reacção, com especial significado no que toca à limitação dos
deveres objectivos de cuidado na circulação rodoviária.
e) Culpa na assunção. Ainda o cuidado como cumprimento do dever
de informação e preparação prévia. Se alguém empreender uma tarefa
para a qual não possui os necessários conhecimentos ou capacidades pode
daí derivar uma falta de cuidado. Chamaselhe culpa na assunção ou
culpa por excesso e representa um caso especial do dever de omissão. O
dever de cuidado exige que para dominar a acção se possuam os
necessários conhecimentos e capacidades. Por isso, actua de forma
incorrecta o médico que inicia e prossegue um tratamento para que lhe
falta a necessária especialização. Ao médico competia absterse de tal
tratamento, ou então impunhaselhe que adquirisse os necessários
conhecimentos ou que solicitasse a assistência de um colega especializado.
Viola o dever de cuidado quem conduzindo em estado de extremo
cansaço atropela um peão, já que nesse estado não pode reagir com a
suficiente rapidez. Também aqui o conteúdo do dever de cuidado consiste,
antes de mais, em reconhecer os perigos que surgem da conduta concreta
para o bem jurídico protegido e adoptar a atitude correcta correspondente,
ou seja, realizar a acção perigosa somente com as suficientes precauções de
segurança ou omitila completamente (Wessels, p. 196). Por isso actua
objectivamente de forma contrária ao dever quem empreende uma
actividade que, por falta de experiência, não é capaz de levar a cabo.
M. Miguez Garcia. 2001
690
Afirmamos a previsibilidade objectiva do resultado quando, segundo as
máximas da experiência e a normalidade do acontecer, o resultado produzido
pela acção é consequência idónea (adequada) da conduta do agente.
i) Consequências imprevisíveis, anómalas ou de verificação rara
serão juridicamente irrelevantes (Figueiredo Dias, Sumários, p. 156).
ii) Objectivamente previsível tem que ser, não só o próprio resultado,
como igualmente o processo causal, ainda que apenas nos seus traços
essenciais. A relação de causalidade é um elemento do tipo, como o são a
acção e o resultado. Consequentemente, a previsibilidade do agente deve
estenderse também ao nexo causal entre a acção do agente e o resultado.
Deve contudo repararse que normalmente só um especialista poderá
dominar inteiramente o processo causal — na maior parte dos casos, o
devir causal só será previsível de forma imperfeita. De modo que o jurista
aceita a ideia da representação da relação causal por parte do agente em
traços largos, nas suas linhas gerais, essenciais.
A é atropelado e fica tão ferido que não restam quaisquer esperanças de o salvar. Ainda assim,
é conduzido ao hospital, mas no trajecto e ambulância despistase e A morre, não dos
ferimentos produzidos no atropelamento mas por causa do despiste da ambulância. O
autor do atropelamento não poderá ser responsabilizado pela autoria negligente do
homicídio de A, nos termos do artigo 137º, nº 1, mas só pelas ofensas corporais (artigo
148º, nº 1) produzidas.
É agora a altura de abordarmos os problemas de causalidade e de
imputação objectiva.
No plano objectivo, o nexo de imputação entre acção e resultado vale tanto
para os crimes dolosos como para os negligentes. Há fundamentalmente dois
caminhos para responder à questão da conexão entre acção e resultado:
causalidade e imputação. Ao falarmos de causalidade estamos a pensar na
acção (causa) que provoca um determinado evento ou resultado (efeito).
Quando falamos de imputação partimos do resultado para a acção. O primeiro
caminho corresponde à doutrina clássica. O segundo caminho busca resolver
insuficiências dos pontos de vista tradicionais.
M. Miguez Garcia. 2001
691
a) A teoria da adequação parte da teoria da equivalência das
condições, na medida em que pressupõe uma condição do resultado que
não se possa eliminar mentalmente, mas só a considera causal se for
adequada para produzir o resultado segundo a experiência geral. Não está
em causa unicamente a conexão naturalística entre acção e resultado, mas
também uma valoração jurídica. Excluemse, consequentemente, os
processos causais atípicos que só produzem o resultado típico devido a
um encadeamento extraordinário e improvável de circunstâncias. Deste
modo, não haverá realização causal (adequada) se a produção do
resultado depender de um curso causal anormal e atípico, ou seja, se
depender de uma série completamente inusitada e improvável de
circunstâncias com as quais, segundo a experiência da vida diária, não se
poderia contar.
b) Podemos, aliás, recorrer a outros critérios de imputação objectiva,
associados à teoria do risco. Por ex., excluindo a imputação nos processos
causais atípicos, que fogem inteiramente às regras da experiência, com os
quais se não pode razoavelmente contar empregando um juízo de
adequação. Se A ao conduzir o seu automóvel toca ligeiramente em B,
produzindolhe pouco mais do que um arranhão e este vem a morrer por
ser hemofílico, não lhe poderá ser imputada a morte mas só ofensas
corporais por negligência — faltará o nexo de risco. Pressupõese, por
outro lado, uma determinada conexão de ilicitude: não basta para a
imputação de um evento a alguém que o resultado tenha surgido em
consequência da conduta descuidada do agente, sendo ainda necessário
que tenha sido precisamente em virtude do carácter ilícito dessa conduta
que o resultado se verificou (cf. Lackner; Wessels, p. 199; Curado Neves, p.
197).
Com efeito, "as acções negligentes de resultado pressupõem uma estrutura limitadora da
responsabilidade que se perfila de forma dúplice: de um lado, a violação de um dever
objectivo de cuidado (...), valorado também pelo critério individual e geral, e de outro, a
exigência de um especial nexo, no "sentido de uma conexão de condições entre a
violação do dever e o resultado". Prof. Faria Costa, O Perigo, p. 487. Os autores, citando
Exner, acentuam que a soma de uma conduta descuidada com um resultado causado por
M. Miguez Garcia. 2001
692
esta não pode bastar para fundar a responsabilidade por um crime negligente, sendo
necessário que o perigo criado pelo agente com a sua conduta típica se concretize no
resultado para que este possa ser imputado àquela. Faltará o nexo de ilicitude ou
conexão de violação de cuidado (PflichtRechtswidrigkeitszusammenhang) se o
resultado se teria igualmente verificado observando o agente o cuidado devido. Dizendo
doutro modo: o resultado só é objectivamente imputável ao agente se assentar na
respectiva acção e no nexo de ilicitude. Falta este no caso em que o resultado se teria
produzido também se o agente tivesse respeitado o cuidado a que estava obrigado. T,
condutor de um camião, ultrapassa O, ciclista embriagado, guardando apenas a
distância de 75 cms. O dá uma guinada para a esquerda, devido a uma inesperada
reacção provocada pelo álcool, cai e é atropelado pelas rodas traseiras da viatura. Se o
condutor tivesse observado a distância regulamentar (1m, 1,5m) o acidente mortal teria
comprovadamente ocorrido e com ele o resultado mortal. Se se puder suprimir
mentalmente, não a acção de T (ultrapassagem), mas a contraditoriedade ao dever dessa
acção (ultrapassar a curta distância) sem que o resultado desapareça com a necessária
segurança, então não falta a causalidade mas a conexão de ilicitude. A actuação de T não
é punível (cf., nomeadamente, Curado Neves).
• Consequentemente, nos crimes negligentes de resultado, como o homicídio (artigo 137º) ou
as ofensas à integridade física (artigo 148º), a causação do resultado e a violação do dever de
cuidado, só por si, não preenchem o correspondente ilícito típico. Para além da causalidade da
conduta, o resultado tem que ser "obra" do sujeito, tem que lhe ser objectivamente imputável.
Se A, por atropelamento, sofreu pouco mais do que uns arranhões, pode vir a morrer no
despiste da ambulância que o transporta ao hospital. Se a vítima partiu uma perna pode vir a
morrer de embolia entretanto sobrevinda como complicação. Devemos responsabilizar o
M. Miguez Garcia. 2001
693
condutor do carro pela morte do atropelado, como "obra" sua? E se a vítima vem a morrer por,
ela própria, se ter recusado a fazer o tratamento adequado?
A chocou violentamente com o carro de B quando procurava chegar a horas ao aeroporto.
Sofreu lesões na cabeça, mas apesar das dores violentas e do conselho dos médicos, não
desistiu da viagem e veio a morrer no avião. Se tivesse sido operado a tempo, havia
todas as probabilidades de ser salvo. A responsabilidade penal do outro condutor não se
pode estender à morte de A, mas não se exclui a eventualidade de o condenar por
ofensas à integridade física negligentes.
• Como se vê, à causalidade acresce a necessidade da imputação objectiva do evento.
Ao lado dum risco básico permitido, que não pode ser excluído mesmo quando concorram
condições ideais, existe a permissão de correr riscos incrementados (trajectos com
nevoeiro, partes de estradas com gelo, deslocações em horas de ponta) sempre que a
realização da actividade sob as condições que incrementam o risco se considere mais útil
do que a sua proibição absoluta. Tornase por isso impossível indicar o risco permitido
fazendo uso duma percentagem. (...) A medida mínima do risco quotidiano convertese
numa ampliação da liberdade de actuar: quem conduz com pneus gastos a uma
velocidade de apenas 10 quilómetros por hora, ou quem não respeita às duas da manhã
a velocidade de 30 quilómetros por hora estabelecida à porta da universidade actua de
modo não permitido, mas não supera o risco mínimo permitido no tráfico rodoviário. G.
Jakobs, El delito imprudente, p. 174. Uma vez por outra, em dia de forte tempestade e de
ventania desusada, a polícia corta o trânsito na ponte da Arrábida, impedindo que se
corram riscos mais do que incrementados.
M. Miguez Garcia. 2001
694
• A mais do que se disse, não serão imputáveis resultados que não caiam na esfera de
protecção da norma de cuidado violada pelo agente: o ladrão que ao praticar o furto dá lugar à
perseguição pelo guarda, que vem a morrer atropelado, não infringe um dever de cuidado e
não é responsável por essa morte. Outro exemplo: O condutor T segue a alta velocidade e
atropela o menor M que atravessa de modo imprevisto. T causa a morte de M no exercício da
condução, todavia, mesmo à velocidade regulamentar, o acidente não teria sido evitado: pode
invocarse aqui um comportamento lícito alternativo. Se concluirmos que o comportamento
lícito alternativo teria igualmente produzido o resultado danoso, este não dever ser imputado
ao agente.
A doutrina dominante limita a imputação objectiva com o fim de protecção da norma
(Gimbernat; Lackner, p. 124): não são imputáveis resultados que não caem na esfera de
protecção da norma de cuidado violada pelo agente. Deste modo, mesmo que tenha
violado um dever objectivo de cuidado, o agente não é responsável se a norma donde
este cuidado deriva não tinha por finalidade evitar resultados como o produzido.
Exemplo: A conduz junto de um hospital à velocidade de 50 quilómetros por hora,
excessiva, por haver no local sinalização indicadora de hospital e da proibição de se
circular a mais de 30. Se um peão, imprevistamente, sai por detrás de um automóvel
estacionado e em correria se mete na frente do carro de A, não tendo este qualquer
possibilidade de travar ou de se desviar, o condutor, na ausência de um nexo de
protecção, não deve ser responsabilizado pelas ofensas corporais porventura sofridas
pelo peão pelo simples facto de circular a 50, já que a velocidade indicada no sinal tinha
por exclusiva função evitar ruídos exagerados que perturbassem os doentes e não a
disciplina do trânsito. Outro exemplo, no domínio dos cuidados médicos: um doente
tem que ser anestesiado para ser submetido a uma operação, mas o seu médico, antes
disso, não trata de averiguar, recorrendo a especialistas, se ele suportará a anestesia. O
M. Miguez Garcia. 2001
695
médico não poderá ser responsabilizado por homicídio involuntário, caso o paciente não
sobreviva à anestesia, se se chegar à conclusão que não havia nenhuma contraindicação
relativamente à anestesia mas simplesmente que a vida do doente teria sido prolongada
com o adiamento da operação. A função do dever de cuidado que impõe ao médico que
mande verificar em primeiro lugar a tolerância do doente à anestesia não é conseguir
aquele prolongamento. Na verdade, "o âmbito de protecção e a finalidade prosseguidos
pela norma devem prevalecer sobre o registo do seu rigoroso cumprimento" (Prof. Faria
Costa, O Perigo, p. 499).
• Faltará um nexo de ilicitude se se concluir que o resultado produzido também não teria
sido evitado conduzindose o sujeito de acordo com o direito, i. e., usando do necessário
cuidado. De acordo com a fórmula do comportamento lícito alternativo, haverá que colocar a
seguinte hipótese: "O que é que teria acontecido se, na situação concreta, o agente se tivesse
comportado de acordo com o direito?" Gimbernat recorda que para evitar este recurso a
processos causais hipotéticos como fundamento de uma absolvição, Roxin estabeleceu, em
1962, a sua teoria do "aumento do risco", que não opera com nenhuma especulação hipotética,
mas apenas com saber se a conduta negligente, em comparação com a correcta, incrementou ou
não o risco de produção do resultado. O próprio Gimbernat, por seu lado e nesse mesmo ano,
introduziu na ciência penal a teoria do "fim de protecção da norma", que igualmente prescinde,
para determinar se um resultado deve ou não ser imputado a um determinado comportamento
formalmente negligente, do confronto com o que teria sucedido se o autor se tivesse
comportado correctamente, estabelecendo como critério determinante o de saber se o resultado
concreto produzido era um dos que o Direito queria evitar com a imposição de um
determinado dever de diligência (Gimbernat, Ensayos, p. 219).
M. Miguez Garcia. 2001
696
Nos trabalhos práticos, tratandose de um caso do
dia a dia, i. é, de solução manifesta, procederemos à
subsunção no preceito ou na regra correspondente.
Mas se se trata de especialidades que o preceito ou a
regra não comportam de modo explícito e imediato,
então haverá que produzir considerações adicionais
sobre a violação de um dever objectivo de cuidado
ou a criação ou o incremento (aumento ou
potenciação) de um risco não permitido.
Com a realização do tipo de ilícito fica indiciada a ilicitude da conduta, a
exemplo do que se passa com os crimes dolosos. No domínio das causas de
justificação, as mais significativas serão, nesta área, a legítima defesa, o estado
de necessidade e o consentimento que não exclua a tipicidade. Mas, dizem
alguns autores, que, por se tratar de negligência, não é necessário o elemento
subjectivo de justificação.
A negligência supõe que o agente seja capaz de cumprir o dever de
cuidado e de prever o resultado típico. Só age negligentemente quem estava em
condições de satisfazer as exigências objectivas de cuidado — podendo então
serlhe censurada a conduta violadora do dever de cuidado e o facto de ter
agido não obstante a previsibilidade do resultado. Dizendo por outras palavras:
para que exista culpa negligente é necessário que o agente possa, de acordo com
as suas capacidades pessoais, cumprir o dever de cuidado a que estava
obrigado; deve portanto comprovarse se o autor, de acordo com as suas
qualidades e capacidade individual, estava em condições de satisfazer as
correspondentes exigências objectivas. Para tanto, deve terse em atenção a sua
inteligência, formação, experiência de vida; deve olharse também às
especialidades da situação em que se actua (medo, perturbação, fadiga). Se o
agente, por uma deficiência mental ou física, ao tempo da sua actuação não
estava em condições de corresponder às exigências de cuidado, não poderá ser
censurado pela sua conduta.
Ao tipo de culpa dos crimes negligentes pertence assim a previsibilidade
individual (subjectiva). A previsibilidade do resultado típico e do processo
M. Miguez Garcia. 2001
697
causal nos seus elementos essenciais deverá verificarse não só no plano
objectivo, mas igualmente no plano subjectivo, de acordo com a capacidade
individual do agente. Na negligência inconsciente o agente não chega sequer a
representar a possibilidade de realização do facto, ficando excluída a
previsibilidade individual, especialmente por falhas de inteligência ou de
experiência. Na negligência consciente o agente representa sempre como
possível a realização de um facto que preenche um tipo de crime.
Recapitulando: Tal como o "dolo", o conceito jurídico da "negligência" tem, como forma de
conduta e forma de culpa, uma dupla natureza, o que implica um exame "de dois
graus". Dentro do tipo de ilícito deve comprovarse que não foi observado o cuidado
exigido objectivamente. No âmbito da culpa deverá apurarse se o autor, de acordo com
a sua capacidade individual, estava em condições de satisfazer as exigências objectivas
de cuidado. Consequentemente, uma coisa é a negligência enquanto elemento típico que
fundamenta a ilicitude, outra a negligência como elemento da culpa. Elementos da culpa
serão a capacidade de culpa, a consciência da ilicitude, ao menos na forma potencial, e a
exigibilidade (recordemse certas situações de conflito, que levam à exclusão da culpa,
não obstante a violação do dever de cuidado). Acrescem os elementos específicos da
negligência individual.
Esquematicamente, a estrutura dos crimes negligentes poderá ser assim
representada:
1) Tipodeilícito
a) Acção ou omissão da acção devida. Recordese o que se disse
oportunamente sobre os automatismos na condução automóvel. Os
automatismos são produto da aprendizagem. A doutrina actual, mesmo
quando se inclina para a não acção nos actos reflexos, afirmaa em geral ao
nível dos automatismos, que se desenvolvem sem a intervenção da
consciência activa.
M. Miguez Garcia. 2001
698
b) Violação do dever objectivo de cuidado. A violação do dever de cuidado determinase por
critérios objectivos, nomeadamente, pelas exigências postas a um homem avisado e
prudente na situação concreta do agente. A extensão do dever de cuidado é referida ao
homem médio do concreto círculo de responsabilidades em que o agente se move (por ex.,
como médico, como motorista de pesados, etc.). O dever de cuidado é limitado pelo
princípio da confiança: ninguém terá em princípio de responder por faltas de cuidado de
outrem, antes se pode confiar em que as outras pessoas observarão os deveres que lhes
incumbem.
c) Produção do resultado típico nos crimes negligentes de resultado. Por ex., a
morte de “outra pessoa”, no artigo 137º, nº 1.
d) Previsibilidade objectiva do resultado, incluindo o processo causal. Um
resultado será objectivamente previsível se for previsível para um homem
sensato e prudente, colocado na situação do agente no momento da acção,
de acordo com a experiência geral (juízo de adequação).
e) Imputação objectiva desse resultado à acção do sujeito. Causalidade. Imputação normativa.
Adequação, nexo de risco, aumento do risco perante comportamento lícito alternativo. A
produção do resultado pode ficar fora do âmbito de protecção da norma; o resultado pode
verificarse também em caso de comportamento lícito alternativo.
f) Concorrência, ou não, de uma causa de justificação
2) Tipodeculpa
a) Censurabilidade da acção objectivamente violadora do dever de cuidado.
Capacidade de culpa A negligência supõe que o agente seja capaz de
cumprir o dever de cuidado e de prever o resultado típico. Deve comprovar
se se o autor, de acordo com as suas qualidades e capacidade individual,
estava em condições de satisfazer as correspondentes exigências objectivas,
tendo em atenção a sua inteligência, formação, experiência de vida; deve
olharse também às especialidades da situação em que se actua (medo,
perturbação, fadiga). Se o agente, por uma deficiência mental ou física, ao
tempo da sua actuação não estava em condições de corresponder às
exigências de cuidado, não poderá ser censurado pela sua conduta.
b) Previsibilidade individual. A previsibilidade individual está excluída na
negligência inconsciente; na negligência consciente o agente representa sempre
como possível a realização de um facto que preenche um tipo de crime. A
punibilidade poderá ocorrer por culpa na assunção.
c) Exigibilidade do comportamento lícito. A conduta cuidadosa não será
exigível quando a sua adopção não for de esperar duma pessoa na situação
do agente.
M. Miguez Garcia. 2001
699
III. Questões de autoria. Tentativa.
Autor de um crime negligente "pode ser não apenas o autor imediato,
como o autor atrás do autor, desde logo, o mandante ou o incitador de um
comportamento que, por ex., vem a terminar por um homicídio negligente: o
patrão que manda o motorista circular a velocidade excessiva em virtude da
qual ocorre a morte de um peão, ou aquele que dá droga a um dependente que
com ela vem a morrer de overdose. Frequentes são na verdade os casos de
autoria paralela, em que o resultado é produzido imediatamente por um, mas
só porque outro anteriormente violou um dever objectivo de cuidado ou o risco
permitido. Por ex., A mata B com uma manobra do seu automóvel
absolutamente proibida e perigosa, porque obteve a carta de condução com os
favores de C, que o aprovou no exame de condução, apesar de se ter apercebido
da sua inaptidão." Prof. Figueiredo Dias, Conimbricense, p. 113.
• Face às correspondentes características, não há nos crimes negligentes nem “tentativa”
nem "cumplicidade". Uma acção negligente, em que o autor “não conhece” nem
“quer” o resultado, nunca pode representar uma decisão de actuar (artigo 22º, nº 1).
IV. Dolo e negligência. O caso nº 29
No caso nº 29, A causou (produziu) a morte de B e dos 2 passageiros e
lesões graves no outro. Salta à vista que tudo isso, enquanto resultado, lhe pode
ser causalmente atribuído (elemento do tipo objectivo) nas diferentes hipóteses
apresentadas. Nas hipóteses descritas sob as alíneas b), c) e d), A não previu que
tal evento viesse a acontecer.
No caso da alínea b), poderemos, já no domínio objectivo do ilícito, afastar
a responsabilidade de A, uma vez que a conduta deste não violou qualquer
dever de diligência (artigo 15º). Nenhum guarda da linha, na concreta situação
de A, teria a possibilidade objectiva de prever o preenchimento do tipo,
incluindo, nomeadamente, a produção do resultado típico. Essa violação pode
ser claramente afirmada nas hipóteses das alíneas c) e d), mas nesta última
situação, a da alínea d), parece não ser exigível que A adoptasse outro
comportamento, pois tudo indica que não estava capaz, face às suas
capacidades pessoais de momento, de reconhecer e cumprir o dever de cuidado
objectivo.
M. Miguez Garcia. 2001
700
Podemos agora fazer o confronto com a hipótese mais simples, que é a da
alínea a). A imputação objectiva do resultado, relativamente ao qual A actuou
dolosamente, não oferece então qualquer dúvida. Podemos também reconhecer
que o lado subjectivo do ilícito se encontra preenchido. A conhecia os perigos
para os apontados bens jurídicos, tendo aberto a cancela com dolo homicida.
Não existe qualquer causa de justificação ou de desculpação. A conduta
integrará, pelo menos, a norma fundamental do homicídio doloso (artigo 131º
do Código Penal). Fica para resolver a questão de saber quantos crimes foram
cometidos e se algum deles foi simplesmente tentado (artigo 22º).
Num homicídio doloso podemos contentarnos com a verificação de que
uma acção produziu a morte de uma pessoa em termos de, sendo causal, lhe
poder ser imputável objectivamente. Na medida em que há dolo, fica fora de
dúvida que o comando "não matarás", fundamento do preceito do artigo 131º,
foi contrariado.
Código Penal. Artigo 15º (Negligência). Age com negligência quem, por não proceder com o
cuidado a que, segundo as circunstâncias, está obrigado e de que é capaz: a) Representar
como possível a realização de um facto que preenche um tipo de crime mas actuar sem
se conformar com essa realização; ou; b) Não chegar sequer a representar a possibilidade
da realização do facto.
A violação de um dever objectivo de cuidado é o eixo em torno do qual gira o
conceito de negligência.
Nos crimes negligentes não podemos contentarnos com tão pouco. Tal
como o "dolo", o conceito jurídico da "negligência" tem, como forma de conduta
e forma de culpa, uma dupla natureza, que implica um exame "de dois graus":
Em 1º lugar: dentro do tipo de ilícito deve comprovarse que não foi
observado o cuidado exigido objectivamente. Se a conduta observou o cuidado
requerido na situação concreta não será ilícita. Se, pelo contrário, a conduta
violou o cuidado imposto, dando lugar, de forma adequada, à verificação do
correspondente resultado, fica preenchido o tipo de ilícito negligente —
surgindo o resultado como uma consequência previsível e normal da violação
M. Miguez Garcia. 2001
701
do dever de cuidado pode ser imputado ao agente. Em 2º lugar: no âmbito da
culpa deve apurarse se o autor, de acordo com a sua capacidade individual,
estava em condições de satisfazer as exigências objectivas de cuidado. Está aqui
em causa um critério subjectivo e concreto, ou individualizador, que deve partir
do que seria razoavelmente de esperar de um homem com as qualidades e
capacidades de agente, como se exprime o Prof. Figueiredo Dias, in
Pressupostos, Jornadas, p. 71. Logo, se for irrazoável, ou inexigível não
poderemos consubstanciar um juízo de censura ao agente e não há, por isso,
fundamento para a punição (Prof. Faria Costa, O Perigo, p. 516).
Na parte especial do Código, são de resultado a quase totalidade dos
crimes negligentes. São estes — e não os de mera actividade negligente, em que
a lei se contenta com a simples violação do dever de diligência — os que
suscitam a maior parte dos problemas.
Nos poucos crimes negligentes de mera actividade a acção típica está descrita na lei, por
exemplo, no artigo 292º, que se refere à “condução de veículo em estado de embriaguez
por negligência”. Num caso destes, deve comprovarse não só o conhecimento da
realização típica, mas igualmente a acção descuidada do agente.
O artigo 137º (homicídio por negligência) do Código Penal, na medida em
que se limita a descrever os elementos objectivos "matar outra pessoa",
configura, por um lado, um crime de resultado, implicando desde logo a
imputação deste à acção, e, por outro, um tipo de ilícito necessitado de
complemento. Enquanto o resultado se não produz, não é possível aludir a um
crime material negligente, o que afasta a possibilidade da sua realização na
forma de tentativa (artigo 22º, nº 1).
• Recapitulando: O tipodeilícito dos crimes materiais negligentes é constituído pela
violação de um dever objectivo de cuidado e a possibilidade objectiva de prever o
preenchimento do tipo e a produção do resultado típico quando este surja como
consequência da criação ou potenciação, pelo agente, de um risco proibido de
ocorrência do resultado. A fórmula da previsibilidade objectiva põe ao aplicador do
direito a tarefa de averiguar como teria agido um homem avisado e prudente do
círculo de actividade do agente (por ex., um médico, um condutor de camião, um
M. Miguez Garcia. 2001
702
engenheiro civil, um guardalinha) na situação concreta, com vista a prevenir perigos
para outrem da maneira mais indicada. Esta valoração (objectiva) realizase
comparando a conduta do agente com a conduta exigida pela ordem jurídica na
situação concreta. Se porventura existir uma divergência entre a conduta
efectivamente realizada e a conduta — conforme ao dever de cuidado — que deveria
ter sido realizada, o tipo de ilícito objectivo da negligência fica preenchido, desde que
o agente, pelo menos, pudesse ter previsto a sua realização como possível
(negligência inconsciente, artigo 15º, b). Se o tipo de ilícito se mostra preenchido, é
ainda necessário submeter o caso a critérios subjectivos, próprios do tipodeculpa.
No que respeita à culpa, e à correspondente lesão do dever de cuidado, deve
empregarse, naturalmente, um critério subjectivo. Para que exista culpa negligente é
necessário que o agente possa, de acordo com as suas capacidades pessoais, cumprir
o dever de cuidado a que estava obrigado; deve portanto comprovarse se o autor, de
acordo com as suas qualidades e capacidade individual, estava em condições de
satisfazer as correspondentes exigências objectivas. Para tanto, deve terse em atenção
a sua inteligência, formação, experiência de vida; deve olharse também às
especialidades da situação em que se actua (medo, perturbação, fadiga).
Pela acção perguntamos de que é o homem capaz. Pelo ilícito perguntamos de que é que o
homem é capaz em determinadas situações e desempenhando certos papéis. Pela culpa
perguntamos de que é que este homem é capaz (Kaufmann, apud Faria Costa, o Perigo,
p. 423 sublinhámos).
Na hipótese concreta descrita na alínea d) do caso nº 29, as condições
objectivas que moldam o tipodeilícito negligente (infracção do dever objectivo
de cuidado, previsibilidade do resultado) estão certamente preenchidas.
Qualquer guarda da linha, avisado e prudente, teria feito tudo para não se
esquecer que um comboio especial ia ali cruzar àquela hora, comportamento
que, de resto, estará prescrito nos correspondentes regulamentos. Ficaria, em
suma, advertido para os perigos que a abertura extemporânea da cancela
acarretavam para a vida e a integridade física de quem confiadamente
atravessasse a linha férrea. Assim, A, ao agir nas circunstâncias apuradas, devia
M. Miguez Garcia. 2001
703
ter previsto o acidente, com as mortes e as lesões corporais para as pessoas que
viajavam no carro, e absterse de abrir as cancelas antes da passagem do
segundo comboio, o que não fez. No entanto, face à situação de extrema fadiga
de A, será pelo menos arriscado afirmar que este podia ter previsto que o
desditoso evento resultaria da sua descrita actividade. Com o que estamos em
condições de afirmar que o tipodeilícito se encontra preenchido. Não assim o
correspondente tipodeculpa, pelo que a conduta de A, não sendo passível de
censura, também não será alvo de punição por homicídio ou ofensas à
integridade física negligente. Não seria certamente razoável nem exigível dirigir
um juízo de censura a quem, encontrandose nas descritas condições, não
acatou a norma de cuidado que no caso cabia para evitar o resultado danoso.
• Negligência e pluralidade de eventos. A definição de culpa inconsciente tem estado ligada
à corrente jurisprudencial que entende que, em regra, só é possível formular um juízo
de censura por cada comportamento negligente a pluralidade de eventos delituosos
(por ex., no mesmo acidente verificouse a morte de uma pessoa e ferimentos em
outras duas) não pode ter a virtualidade para desdobrar as infracções (cf. o ac.
anotado por P. Caeiro; ac. do STJ: BMJ374214; 387320; 395258; 403150; CJ 1990, II,
11; cf., ainda, ac. do STJ de 15.10.97, CJ, 1997V, p. 212). P. Caeiro discorda: o
resultado não é irrelevante para o preenchimento do ilícito nos crimes negligentes; a
punição do concurso ideal no quadro da unidade criminosa não poderia
fundamentar a decisão do tribunal (artigo 30º, nº 1); ainda que a decisão se baseie
como parece na unicidade do juízo de censura, em razões impostas pelo princípio
da culpa, não é curial distinguir entre negligência consciente e inconsciente: a maior
falta de respeito pelo outro reside precisamente na negligência inconsciente
(Stratenwerth, p. 326). E havendo uma pluralidade de tipos preenchidos,
imprescindível seria mostrar que a falta de representação dos factos só permite a
formulação de um juízo de censura. Por outro lado, está excluída a continuação
criminosa, visto tratarse de bens eminentemente pessoais. A punição do crime
continuado só tem sentido quando existem várias resoluções criminosas cuja
censurabilidade é cada vez menor por força de um particular condicionalismo
exterior ao agente. Não é possível estabelecer uma analogia com a diminuição da
culpa que fundamenta as regras da punição do crime continuado. O caso enquadrase
M. Miguez Garcia. 2001
704
na figura do concurso ideal heterogéneo (30º, nº 1, e 77º). Cumpriria então encontrar a
pena única aplicável, de acordo com o princípio do cúmulo jurídico, começando por
determinar a pena concreta cabida a cada um dos três crimes cometidos, nos termos
do artigo 71º do CP; seguidamente, construirseia a moldura do concurso (artigo 77º.
nº 2, do CP) que teria como limite máximo a soma das três penas parcelares e como
limite mínimo a pena concreta mais grave; finalmente, considerando conjuntamente
os factos e a personalidade do agente, encontrarseia a pena única a aplicar.
• * O acórdão do STJ de 8 de Janeiro de 1998, CJ 1998, tomo I, p. 173, considera que se não
verifica concurso de infracções quando, do mesmo acidente e do mesmo
comportamento negligente, resultar a morte de uma pessoa e ofensas corporais em
outras tratase de crime de resultado múltiplo, em que se pune o mais grave,
funcionando os outros como agravantes a ter em conta na fixação concreta da pena.
V. Negligência: critério generalizador; critério individualizador.
• CASO nº 29A: A, durante um período, de Abril de 1995 aos começos de 1996, por
diversas vezes ofereceu a seu sobrinho E, nascido a 20 de Junho de 1981, cassetes
vídeo com filmes de terror. Entre outros, havia alguns da série "Sextafeira 13", que
descreviam a morte de pessoas, reproduzida de forma perfeitamente animalesca. O
herói da série era uma figura de terror conhecida por "Jasão". Na tarde de 2 de Março
de 1996, E, aproveitando a ausência dos pais, resolveu pôrse na pele de "Jasão" e
pregar um bom susto à prima S, de 10 anos de idade. Confeccionou ele próprio um
capuz e vestiu um camuflado, onde derramou tinta vermelha, a fingir sangue.
Munido dum machado e duma faca, E encaminhouse para o local onde na sua ideia
encontraria a pequena. Esta estava em casa na companhia de R, pessoa adulta, o que
deixou E irritado. Então, aproximouse de ambos e começou por vibrar duas facadas
na cabeça de R, para o impedir de se opor aos seus propósitos. Logo a seguir,
sentindose um autêntico Jasão, deu duas machadadas na cabeça da prima S e
afastouse do local. Bay ObLG, 28.10.98, NJW (1998), p. 3580.
M. Miguez Garcia. 2001
705
A, o tio, foi acusado de dois crimes de ofensas corporais por negligência.
Contudo, o tribunal absolveuo.
O dever de cuidado é um dever objectivo, não é possível que o seu
conteúdo se determine em função da capacidade individual de quem actua.
Estão em causa os elementos constitutivos do crime negligente. Não basta,
porém, a ocorrência do resultado desvalioso, por ex., as ofensas corporais ou a
morte de uma pessoa. Na verdade, um comportamento só será negligente se,
por um lado, o resultado se produzir pela violação daquelas exigências de
cuidado que a ordem jurídica, na situação concreta, associa ao homem avisado e
prudente do círculo de actividade do agente; e se, por outro lado, o resultado
era previsível também para esse homem, dotado dessas qualidades e
capacidades. A medida do cuidado devido é portanto independente da
capacidade de cada um. Uma vez apurados estes elementos, que configuram o
tipo de ilícito da negligência, é altura de averiguar (em sede de culpa) se ao
agente pode ser dirigido um juízo de censura, se — atendendo à sua
inteligência e formação, às suas qualidades e capacidades, à sua posição social e
experiência de vida — o agente estava em condições de cumprir o dever
objectivo de cuidado e de prever o resultado típico.
Justificase que se ponha de lado a doutrina do duplo grau?
• Certos autores entendem, contudo, que o critério generalizador é dispensável. Apontando
para a objectivização da capacidade individual de actuação, incluem no tipo de ilícito
imprudente a inobservância de um dever subjectivo de cuidado, que ocorreria
sempre que o agente tivesse podido prever a possibilidade da produção do resultado.
O ponto de referência dessas opiniões situase assim na previsibilidade individual
(subjectiva) e no cumprimento do dever individual (subjectivo) de cuidado: na
determinação da concreta ilicitude da negligência não intervirá uma "pessoa avisada
e sensata da mesma profissão ou círculo social do agente" porque a diligência ou a
violação da diligência deverão comprovarse a partir das capacidades individuais do
agente — consequentemente, não será em sede de culpa que os traços individuais do
agente, as suas capacidades para evitar a lesão de determinados bens jurídicos,
deverão ser analisados. Por detrás destas teses está uma particular concepção da
ilicitude.
M. Miguez Garcia. 2001
706
Privilégios dos especialmente capazes? a lesão de certos bens jurídicos pela
actuação de pessoas especialmente capazes deverá ficar a cargo das
vítimas?
É, com efeito, difícil entender porque é que os mais capazes não têm que
se empenhar, com toda a sua capacidade, para evitar a lesão de bens jurídicos.
A opinião maioritária sentese obrigada a fazer uma excepção ao seu critério
generalizador do homem médio (cf., por ex., Roxin, p. 907): não obstante a
observância das exigências gerais de cuidado deve excepcionalmente afirmarse
a lesão do dever de diligência se o agente, a quem não faltam conhecimentos
especiais ou capacidades especiais, não os emprega para evitar o resultado
danoso. Como exemplo de conhecimentos especiais atentese nos de um
camionista quanto à perigosidade dum cruzamento que normalmente não é
reconhecido com perigoso. Como exemplo de capacidade especial, mencionese
o cirurgião altamente dotado ou o corredor de rali. Um e outro terseiam
comportado cuidadosamente se se tivessem empenhado de acordo com os
critérios médios de um cirurgião ou de um automobilista e assim causassem a
morte ou a lesão de uma vítima, que no entanto teriam sido evitadas se um e
outro se tivessem comportado de acordo com as suas especiais capacidades.
Notese, no entanto, que já em sede de imputação objectiva se entra em
consideração com os conhecimentos especiais do agente, o que leva o Prof.
Figueiredo Dias, negando a excepcionalidade do entendimento de ambos, a
perguntar com Roxin: "Porque é que o que vale para o conhecimento especial
não deveria ser igualmente válido para a capacidade especial?" Cf., ainda
Teresa Quintela de Brito, RPCC 12 (2002), p. 395.
No caso nº 29A, uma pessoa sensata e prudente (critério generalizador)
não teria certamente previsto os "crimes" de E e por isso nenhuma negligência
se poderá imputar a A, que deverá ser absolvido. A solução talvez pudesse ser
diferente optandose logo por um critério onde os (eventuais) conhecimentos
especiais do agente tivessem assento em igualdade com as restantes
circunstâncias atendíveis. É por isso que, frequentemente, esses conhecimentos
especiais do indivíduo são tidos em conta no juízo de previsibilidade objectiva
que serve de base à determinação da diligência devida. Esse juízo de
previsibilidade levao o intérprete a cabo colocandose no momento em que se
desencadeia a acção, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto que
uma pessoa sensata e inteligente podia reconhecer mais as conhecidas pelo
M. Miguez Garcia. 2001
707
autor (juízo de prognose póstuma, em que o observador, colocado ex ante, entra
em consideração com os conhecimentos especiais do agente). Considerese o caso
de um cirurgião extraordinariamente capaz que durante uma operação perigosa
se limita a usar a sua perícia e habilidade imprescindíveis para poder levar a
cabo este tipo de operações: a correspondente conduta estará de acordo com a
diligência objectivamente devida e não se integra no tipo de ilícito dos crimes
de acção imprudente. Isto não significa, necessariamente, que o cirurgião fique
impune, caso deixe de fazer uso da sua capacidade excepcional, apesar de ter
previsto a possibilidade da morte do paciente e de a evitar mediante o uso das
suas capacidades excepcionais (cf. Cerezo Mir). Cf., ainda, Mir Puig, El Derecho
penal en el estado social y democrático, p. 70 e ss.
A estrutura dos crimes negligentes de resultado, para a posição
minoritária que defende a dispensabilidade do critério generalizador, poderá
ser assim representada:
• 1. Tipicidade
• i ) Tipo objectivo. Elementos típicos: acção, produção do resultado típico, conexão entre
acção e resultado.
• ii ) Tipo subjectivo: violação do dever subjectivo de cuidado tendo em conta os elementos
típicos: acção, produção do resultado típico, conexão entre acção e resultado.
• 2. Concorrência, ou não, de uma causa de justificação
• 3. Culpa
• i ) Capacidade de culpa.
• ii ) Exigibilidade do comportamento lícito.
M. Miguez Garcia. 2001
708
VI. Negligência grosseira; graus de violação do dever objectivo de diligência;
na negligência grosseira há uma intensidade superior da lesão do dever
objectivo de cuidado.
• CASO nº 29B: A e B vão juntos à caça para os lados da Idanha e resolvem ocupar o
mesmo bungalow no parque de campismo junto da barragem. Antes de se deitarem,
fazem o que em tais circunstâncias já se tornou um hábito, verificam mais uma vez
que as respectivas armas estão descarregadas. A desperta cedo, na manhã seguinte,
pega na arma e apontaa ao amigo, que ainda na cama se esforça por dormir "só mais
um bocadinho". Ao mesmo tempo gritalhe, com ar divertido — ó Zé!, se não te
levantas já daí, levas um tiro. Então, para enorme surpresa de A, da espingarda sai o
tiro que inesperadamente atinge o amigo e o mata. A não representou nem quis tal
desfecho.
Do comportamento de A bem se pode dizer que violou intensamente, de
forma extremamente grosseira, o dever objectivo de cuidado.
O próprio Código separa a negligência consciente da inconsciente, mas
esta distinção não tem a ver com a noção de negligência grosseira.
• A origem da figura "parece radicar na distinção "escolástica" entre culpa lata, leve e
levíssima que foi utilizada no direito penal comum por inspiração do direito civil. A
moderna doutrina da negligência prescindiu dessa distinção porque ela pressupunha
a concepção da negligência como forma de culpa sem um fundamento autónomo de
ilicitude. A identificação da negligência com a violação do dever de cuidado
implicava uma unificação ou generalização do conceito de negligência,
tendencialmente incompatível com a distinção de graus de negligência. E, a reforçar
esta incompatibilidade, encontravase também a concepção finalista de culpa que
pretendia referir a culpa (quer a respeitante ao facto doloso, quer ao facto negligente)
somente à potencial consciência da ilicitude)" (Prof. Fernanda Palma, Direito Penal.
Parte Especial. Crimes contra as pessoas, Lisboa, 1983, p. 101).
M. Miguez Garcia. 2001
709
• Existem normas estradais cuja violação apresenta um grau de perigo potencial superior ao
de outras: são aquelas cuja violação o Código da Estrada classifica como contra
ordenações muito graves e cuja prática indicia uma conduta grosseiramente
negligente. Ac. da Relação de Coimbra de 5 de Março de 1997, BMJ465657. A
negligência grosseira a que alude o nº 2 do artigo 137º do Código Penal abrange
aqueles casos em que, de forma mais flagrante e notória, se omitem os cuidados mais
elementares (básicos) que devem ser observados ou aquelas situações em que o
agente se comporta com elevado grau de imprudência, revelando grande irreflexão e
insensatez. Ac. da Relação de Coimbra de 6 de Março de 1997, BMJ465657. Agiu
com negligência grosseira o condutor de um automóvel que imprimia ao mesmo
mais do dobro da velocidade permitida no local onde transitava, circunstância que
lhe fez perder o controlo sobre a viatura, o que, por sua vez, deu lugar a que aquela
saísse da faixa de rodagem da via e passasse a circular pela berma da estrada.
Acórdão da Relação de Coimbra de 13 de Janeiro de 1999, CJ, 1999, tomo I, p. 43.
VII. Receptação negligente; dever de cuidado interno e dever de cuidado
externo.
• CASO nº 29C: A, residente no Bairro do Cerco do Porto, comprou a B, seu vizinho, um
aparelho de rádio por 3 contos. B era conhecido no Bairro por ser toxicodependente,
sem modo regular de ganhar a vida, e pela sua tendência para cometer pequenos
furtos. A admitiu a hipótese de o aparelho de rádio ter chegado às mãos de B por
forma irregular, mas acabou por se deixar convencer que afinal se tratava da prenda
de anos dada por uma tia, como B insistentemente lhe assegurava. O rádio era
efectivamente furtado, como se veio mais tarde a comprovar.
• De acordo com o artigo 231º do Código Penal, é desde logo autor do crime de receptação
aquele que, "com intenção de obter, para si ou para outra pessoa, vantagem
patrimonial, dissimular coisa que foi obtida por outrem mediante facto ilícito típico
contra o património, a receber em penhor, a adquirir por qualquer título, a detiver,
conservar, transmitir ou contribuir para a transmitir, ou de qualquer forma assegurar,
M. Miguez Garcia. 2001
710
para si ou para outra pessoa, a sua posse", sendo por isso punido punido com pena
de prisão até 5 anos ou com pena de multa até 600 dias (nº 1). Além disso, pratica o
ilícito do nº 2, "quem, sem previamente se ter assegurado da sua legítima
proveniência adquirir ou receber, a qualquer título, coisa que, pela sua qualidade ou
pela condição de quem lhe oferece, ou pelo montante do preço proposto, faz
razoavelmente suspeitar que provém de facto ilícito típico contra o património, sendo
por isso punido com pena de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 120 dias.
• Na estrutura do código, o crime de receptação, para além de comportar ainda uma forma
agravada, integrase nos chamados crimes contra direitos patrimoniais, sendo, a par
do auxílio material, que lhe vem a seguir, um dos crimes de consolidação ou de
perpetuação (ou perpetuidade, como se diz no acórdão do STJ de 18 de Junho de
1985, no BMJ348296, citando Nelson Hungria) de uma situação patrimonial
anormal, por oposição a outros que, como o furto ou o dano, se caracterizam pela
subtracção de um objecto que é deslocado do seu legítimo dono para outrem ou que
simplesmente é destruído ou danificado. Nos crimes de perpetuação impedese
conscientemente a correcta reconstituição da situação do proprietário por via do
crime parasitário, dificultando ou impossibilitando o retorno da coisa para a
disponibilidade do desapossado. Na receptação, todavia, o agente actua com a
intenção de obter, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial, ao passo que no
auxílio material actua apenas no interesse de outrem. Na forma dolosa dos crimes de
manutenção de uma situação anormal é além disso necessário que o agente tenha
conhecimento de que se cometeu um crime contra o património, embora não se exija
que se conheça, em concreto, o crime cometido, nem as respectivas circunstâncias de
modo, tempo e lugar (cf., para um caso de receptação, o acórdão da Relação de
Coimbra, de 15 de Fevereiro de 1984, no BMJ334540).
No caso nº 29C, A não praticou o crime correspondente à modalidade de
receptação dolosa, justamente por faltar na sua actuação o correspondente
elemento subjectivo geral. A adquiriu o rádio por três contos, mas, de acordo
com a prova, não o fez dolosamente, nem sequer com dolo eventual. Todavia, o
mesmo A, ao receber das mãos do B o rádio que pagou por aquela quantia, não
M. Miguez Garcia. 2001
711
se assegurou da sua legítima proveniência, podendo fazêlo. Com efeito,
perante a "pechincha" que lhe veio às mãos, ao A impunhase que se informasse
ou que se abstivesse de comprar o rádio, já que intuiu a possibilidade de ele ter
sido furtado. Tinha, em suma, o dever de se acautelar, advertindo o perigo de
adquirir coisa furtada ou ilicitamente subtraída a outrem, pois, tornados banais,
são de todos os dias os assaltos a carros estacionados na via pública para deles
se retirarem artigos ou peças. Ao A cumpria informarse ou informarse melhor
quanto à proveniência da coisa, recusando a sua compra até estar
suficientemente informado, ou até recusandoa em definitivo, se não chegasse a
informarse convenientemente.
• Jescheck (Lehrbuch des Strafrechts, p. 521 e ss.) distingue, dentro do desvalor da acção
(lesão do dever objectivo de cuidado) entre um dever de cuidado interno (dever de
acautelar — advertir — o perigo e valorálo correctamente) e um dever de cuidado
externo (cuidado como omissão de certas acções que envolvem riscos; cuidado como
actuação prudente em situações perigosas; cuidado como cumprimento do dever de
informação e preparação prévia), distinção que provém de Engisch.
VIII. Regresso à questão da imputação objectiva.
• CASO nº 29D: A dá a B, seu amigo, uma porção de heroína. B injectase com a
substância, mas morre na sequência disso, de sobredose.
Em muitos domínios, a negligência começa quando se ultrapassam os
limites do risco permitido.
As condutas realizadas ao abrigo do risco permitido não são negligentes,
não chegam a preencher o tipo de ilícito negligente. Se o agente não criou ou
incrementou qualquer perigo juridicamente relevante não existe sequer a
violação de um dever de cuidado. O exemplo discutido de há muito é o do
jovem que marca um encontro com a namorada e esta vem a morrer, no local do
encontro, na queda de um meteorito (ou na queda dum raio, ou por outro
fenómeno natural, tanto dá): a conduta do rapaz não criou um risco
juridicamente relevante e não existe qualquer violação duma norma de
cuidado, portanto, não se lhe poderá imputar a morte da namorada. Por outro
lado, se alguém conduz uma viatura com observância das regras estradais e
mesmo assim provoca lesões noutra pessoa que se atravessa na frente do carro
M. Miguez Garcia. 2001
712
— também se não verifica uma violação do dever de cuidado. A negligência
excluise se o agente se contém nos limites do risco permitido, se não criou nem
potenciou um risco para a vida ou para a integridade física da vítima do
atropelamento. Também não existe lesão do dever de cuidado se o agente
dolosamente se limita a colaborar na autocolocação em risco de outra pessoa,
se, por ex., anima o condutor a carregar no acelerador e este vem a morrer no
despiste do carro que acabou por não conseguir dominar.
• Imaginemos que A dá a B, seu amigo, uma porção de heroína e que este se injecta com a
substância, vindo a morrer na sequência disso. Será A responsável pela morte de B ?
Na medida em que A deu a heroína a B, pôsse uma condição para a morte deste. A
morte de B é, do mesmo modo, uma consequência adequada da acção de A. Com a
entrega da heroína, A aumentou, de forma relevante, o risco da morte de B. Dirseá
que a morte de B é assim de imputar a A. O BGH E 32, 262 decidiu, porém, em
sentido contrário — uma vez que B ainda era capaz de, por si, tomar decisões, por ex.,
a de conscientemente se injectar com heroína, e como A não tinha deveres especiais
para com B, não era, por ex., médico deste, a morte de B não pode ser imputada a A.
B é o responsável pela sua própria morte — princípio da autoresponsabilidade.
No caso do meteorito, ninguém dirá que o resultado era previsível: falta,
desde logo, a criação dum perigo juridicamente relevante. Falta a realização do
perigo criado se A, atingido a tiro, de raspão, num braço, vem a morrer no
despiste da ambulância que o conduz ao hospital. Passase o mesmo com a
evitabilidade. Se numa povoação segue um carro em velocidade excessiva e um
peão se lhe atira para a frente, não haverá negligência do condutor se for claro
que o atropelamento não poderia ter sido evitado mesmo que a velocidade
fosse a prescrita.
• Em risco de perder o comboio, A promete uma boa gorjeta ao taxista se este o puser a
tempo na gare. O passageiro não será responsável por homicídio involuntário se, por
falta de cuidado do motorista, um peão for colhido mortalmente quando o carro
seguia a velocidade superior à permitida. Mas A já será responsável se puser ao
volante do carro, para que o conduza, uma pessoa notoriamente embriagada que vem
a causar a morte do peão. Neste caso, A actua com manifesta falta de cuidado.
M. Miguez Garcia. 2001
713
• Voltamos ao princípio da confiança. O princípio da confiança deve valer, inclusivamente,
nos casos em que, por regra, se deve confiar em que outrem não comete um crime
doloso. Se se tivesse que responsabilizar o vendedor e outros intervenientes não seria
possível a venda de facas, fósforos, isqueiros, substâncias inflamáveis, machados e
martelos. Se tivéssemos que adivinhar que estávamos a oferecer a outrem a
oportunidade de cometer um crime doloso então a vida moderna seria o mesmo que
renunciar ao trânsito nas estradas. Tratase também aqui de um caso de risco
permitido: os perigos inevitáveis são aceites por causa das vantagens individuais e
sociais que o princípio da confiança oferece. Reside aqui o autêntico núcleo da velha
teoria da proibição de regresso, segundo a qual não é punível a colaboração não dolosa
em delitos dolosos. (Cf. Roxin, p. 899).
IX. Negligência e condução automóvel. Causação do resultado; violação do
dever de cuidado; imputação objectiva do resultado; conexão de ilicitude;
comportamento lícito alternativo; doutrina do aumento do risco; princípio da
confiança.
• CASO nº 29E: A é médico e o único especialista em doenças de rins da região. Na noite
de Fim de Ano, cerca da uma hora, A foi chamado de urgência por D, sua doente, que
vem sendo submetida a diálises periódicas. Dado o estado da paciente, A sabia que
na ausência de cuidados imediatos a vida de D correria perigo. Por isso, e porque
tinha ingerido uma boa quantidade de álcool (como médico sabia que a taxa de álcool
no sangue deveria andar por 1,4 g/l, como efectivamente acontecia), chamou um táxi.
Foi em vão: não havia táxis disponíveis àquela hora. Contrariado, acabou por se pôr
ao volante do seu próprio carro, a caminho da casa de D. Quando, porém, seguia por
uma das ruas da localidade, de repente, sem que nada o fizesse prever, apareceulhe
na frente do carro H, que saíra alegremente de uma festa ali ao lado e por breves
instantes tinha estado parado atrás de um muro, à beira da rua, sem que o condutor o
pudesse ter visto antes. Foilhe impossível evitar embater no peão, não obstante
seguir com atenção e à velocidade regulamentar, que não era superior a 50 km/h. A
M. Miguez Garcia. 2001
714
vítima sofreu ferimentos graves e caiu, inconsciente, no chão. A parou, saiu do carro,
mas viu logo que para salvar a vida de H tinha que o transportar imediatamente ao
hospital. E assim fez, pelo caminho mais rápido, sabendo muito bem que punha em
jogo a vida da sua doente renal. Logo que deixou H no hospital, A dirigiuse
imediatamente para casa da doente. Mal chegou, apercebeuse da morte desta,
ocorrida poucos minutos antes. Se A tivesse chegado uns minutos mais cedo, D,
muito provavelmente teria sido salva. A deu conhecimento do atropelamento à
polícia. (Cf. M. Aselmann e Ralf Krack, Jura 1999, p. 254 e ss.).
Punibilidade de A ?
O atropelamento de H.
Punibilidade de A por ofensas corporais por negligência (artigo 148º, nº 1,
do Código Penal).
Do acidente resultaram ofensas corporais graves na pessoa de H, pelo que
A pode estar comprometido com o disposto no artigo 148º, nº 1. Para tanto, é
necessário demonstrar que a conduta de A foi causa das lesões corporais
sofridas por H, que o acidente foi condicio sine qua non dessas lesões — e
quanto a isso não sobra espaço para quaisquer dúvidas. A estava obrigado a pôr
na condução que empreendeu os necessários cuidados. Seguia pela via pública,
ao volante do seu automóvel, não obstante a taxa de álcool no sangue ser
superior a 1,2 g/l e deste modo contrariar o comando do artigo 292º do Código
Penal. Todavia, é duvidoso que o resultado típico, as lesões corporais na pessoa
de H, possa ser objectivamente imputado a A. A causação do resultado e a
violação do dever de cuidado, só por si, não preenchem o correspondente ilícito
típico. Tratandose de ofensas à integridade física, acresce a necessidade da
imputação objectiva do evento. Este critério normativo pressupõe uma
determinada conexão de ilicitude: não basta para a imputação de um evento a
alguém que o resultado tenha surgido em consequência da conduta descuidada
do agente, sendo ainda necessário que tenha sido precisamente em virtude do
carácter ilícito dessa conduta que o resultado se verificou.
"Podemos conceber situações em que há uma violação do dever objectivo de cuidado e,
todavia, em termos de imputação objectiva, o resultado não poder ou não dever ser
M. Miguez Garcia. 2001
715
imputado ao agente. Basta para isso pensar em um qualquer caso que a jurisprudência e
a doutrina alemãs já sedimentaram, transformandoos em exemplos de escola.
Enunciemolos: a) o caso do ciclista embriagado (A) que é ultrapassado por um camião
que ao desrespeitar as regras de trânsito o atropela mortalmente com o rodado anterior;
b) a hipótese do farmacêutico que não cumprindo a receita médica avia, várias vezes, a
pedido da mãe, doses de fósforo para uma criança que vem a morrer por intoxicação; c)
o caso do director de uma fábrica que, não cumprindo as disposições legais, não
desinfecta os pelos de cabra, importado da China, provocando, assim, a morte de quatro
trabalhadores; d) a hipótese do médico que anestesia com cocaína, não cumprindo as
leges artis, já que o indicado na situação seria a aplicação de novocaína, o que provoca a
morte do paciente. (...). Uma tal enunciação e o seu tratamento pela doutrina alemã
permitenos ter imediata consciência de que, para uma parte da doutrina, alguns
daqueles casos, conquanto haja em todos violação de dever objectivo de cuidado, se
radicalizam em uma ausência de imputação objectiva do facto ao agente. Daí que, se a
violação do dever objectivo de cuidado é condição necessária para que o facto nas acções
negligentes possa ser objectivamente imputado ao agente, é também certo que a não
imputação do facto passa necessariamente pela ausência de violação do dever objectivo
de cuidado. Por outras palavras: as acções negligentes de resultado pressupõem uma
estrutura limitadora da responsabilidade que se perfila de forma dúplice: de um lado, a
violação de um dever objectivo de cuidado (...), valorado também pelo critério
individual e geral, e de outro, a exigência de um especial nexo, no "sentido de uma
conexão de condições entre a violação do dever e o resultado". Prof. Faria Costa, O
Perigo, p. 487.
M. Miguez Garcia. 2001
716
Na altura do acidente, A circulava à velocidade regulamentar, fazendoo
com atenção e pela sua mão de trânsito. Um condutor sóbrio não teria
procedido de outra maneira — nomeadamente, não poderia ter previsto que
um peão saísse inopinadamente detrás de um muro, à beira da estrada, e se
atirasse em correria para debaixo do automóvel, sem dar ao condutor a mínima
possibilidade de travar e desviarse, evitando embater na vítima. Ora, uma vez
que temos como apurado que o comportamento lícito alternativo provocaria
igualmente o resultado danoso, este não deverá ser imputado ao condutor. Não
obstante a elevada taxa de alcoolémia do condutor, não se pode concluir que os
perigos daí advindos se tivessem concretizado no resultado típico, i. é, nas
ofensas à integridade física graves sofridas pelo atropelado. A doutrina do
aumento do risco chegaria aqui a idênticos resultados, porquanto a alcoolémia do
condutor não aumentou o risco de embater no peão. Observese, por outro lado,
que, de acordo com os critérios correntes do princípio da confiança, "ninguém terá
em princípio de responder por faltas de cuidado de outrem, antes se pode
confiar em que as outras pessoas observarão os deveres que lhes incumbem"
(Figueiredo Dias, Direito penal, 1976, p. 73). Quem actua de acordo com as
normas de trânsito pode pois contar com idêntico comportamento por banda
dos demais utentes da via e A podia confiar em que ninguém, de repente, sairia
de detrás do muro nas apontadas circunstâncias. O condutor pode confiar em
que, pelo facto de agir segundo o direito, não pode ser penalmente
responsabilizado por factos que não pode evitar. No caso, o condutor não podia
evitar o que aconteceu, porque, para além do mais, não previu — nem tinha que
prever — o resultado. Falta também aqui, como se vê, um elemento essencial à
imputação por negligência, que é a previsibilidade. Podemos assim concluir
que A não cometeu o crime de ofensas à integridade física por negligência do
artigo 148º, nº 1.
"Há quem entenda — quanto a nós bem, adiantese — que o interagir motivado pelo tráfego
rodoviário só tem sentido se for compreendido através do princípio geral da confiança.
Mais do que o cumprimento das regras de cuidado, o que importa ter presente é que,
objectivamente, vigora a ideia de que qualquer utente da via tem de confiar nos sinais,
nas comunicações, dos outros utentes e tem, sobretudo, de confiar, em uma óptica de
total reciprocidade, na perícia, na atenção e no cuidado de todos os outros utilizadores
da via pública." Prof. Faria Costa, O Perigo, p. 488.
M. Miguez Garcia. 2001
717
X. Indicações de leitura
Acórdão da Relação de Coimbra de 4 de Novembro de 1998, CJ, XXIII, 1998, tomo V, p. 45:
para a punição da negligência é preciso, como segundo pressuposto (e aqui radica
essencialmente o problema da culpa civil), a culpabilidade, a qual requer, para além do mais, a
prova (...) de que por sua inteligência e cultura, sua experiência de vida e situação o agente está
individualmente em condições de cumprir o dever de cuidado que havia sido objectivamente
prescrito.
Acórdão da Relação de Coimbra de 6 de Março de 2002, CJ 2002, tomo II, p. 41: nos crimes
negligentes presumese a negligência com a inobservância de lei ou regulamento; porém, o
acidente produzido háde ser do tipo daqueles que a lei quis evitar quando impôs a disciplina
traduzida na norma violada.
Acórdão do STJ de 14 de Maio de 1998, BMJ477289: na negligência, a imputação subjectiva
exige uma possibilidade concreta de agir de outra maneira, só podendo imputarse ao agente, a
título de culpa, o resultado que, dentro dos limites da sua conduta contrária ao dever, era para
ele previsível.
Acórdão do STJ de 7 de Março de 1990, BMJ395258: ocupouse da questão de saber se,
quando por via do mesmo acidente resulta a morte de duas ou mais pessoas, o agente comete
um só crime ou se, ao invés, perpetra tantos crimes quantos os sujeitos ofendidos.
Acórdão do STJ de 14 de Março de 1990, BMJ395276: acidente de viação; unidade e
pluralidade de infracções.
Acórdão do STJ de 15 de Outubro de 1997, CJ, 1997III, p. 212: culpa inconsciente; acidente
de viação; unidade e pluralidade de infracções.
M. Miguez Garcia. 2001
718
Acórdão do STJ de 29 de Abril de 1998, processo nº 149/98: na negligência simples é violado
o dever objectivo de cuidado ou dever de diligência, aferido por um homem médio. A
negligência grosseira exige grave violação do dever de cuidado, de atenção e de prudência,
grave omissão das cautelas necessárias para evitar a realização do facto antijurídico, quando
não se observa o cuidado exigido de forma pouco habitual ou que no caso concreto resulta
evidente para qualquer pessoa.
Acórdão do STJ de 7 de Outubro de 1998, CJ, ano VI (1998), tomo III, p. 183; publicado
também na Revista do Ministério Público, nº 76 (1998), com anotação de Paulo Dá Mesquita:
sendo oito as mortes verificadas (por negligência), estáse perante um concurso de crimes, já
que por oito vezes se encontra violado o mesmo dispositivo legal: art.º 136, n.º 1, do CP de 1982
ou art.º 137, n.º 1, do CP de 1995. Tendo as oito mortes resultado como consequência
necessária, directa e única da conduta negligente omissão dos deveres de fiscalização da
qualidade da água tratada para diálise — do arguido, que se prolongou de meados de 1992 a
22 de Março de 1993, verificase uma situação de concurso ideal. Estandose perante uma
negligência inconsciente — o arguido não chegou a representar a possibilidade de morte dos
insuficientes renais crónicos por não proceder com o cuidado a que estava obrigado , não
havendo manifestação de vontade de praticar actos ou omissões de que saísse tal resultado,
não pode falarse de falta de consciência de ilicitude ou em erro sobre a ilicitude. Na
negligência inconsciente a ilicitude está intimamente ligada tão só ao não proceder o agente
com o cuidado a que está obrigado.
Acórdão do STJ de 21 de Janeiro de 1998, BMJ473113: crimes de homicídio com
negligência grosseira e de condução sob o efeito do álcool. Dupla valoração da condução sob o
M. Miguez Garcia. 2001
719
efeito do álcool — na condenação por condução sob esse efeito e na agravação qualificativa do
homicídio negligente na forma grosseira. Prisão efectiva.
Bernardo Feijóo Sánchez, Teoria da imputação objectiva, trad. brasileira, 2003.
Bockelmann/Volk, Strafrecht, allgemeiner Teil, 4ª ed., 1987.
Burgstaller, Wiener Kommentar, § 6.
Claus Roxin, Strafrecht, allgemeiner Teil, Bd. 1. Grundlagen, der Aufbau der
Verbrechenslehre, 2ª ed., 1994.
Claus Roxin, Problemas Fundamentais de Direito Penal.
Cramer, in Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 25ª ed., 1997.
Eduardo Correia, Direito Criminal, I e II.
Eduardo Correia, Les problemes posés, en droit pénal moderne, par le développement des
infractions non intentionnelles (par faute), BMJ1095.
F. Haft, Strafrecht, AT, 6ª ed., 1994.
Faria Costa, As Definições Legais de Dolo e de Negligência, BFD, vol. LXIX, Coimbra, 1993.
Faria Costa, Dolo eventual, negligência consciente (parecer), CJ, acórdãos do STJ, ano V
(1997).
Faria Costa, O Perigo em Direito Penal, especialmente, p. 471 e ss.
Günter Stratenwerth, Derecho Penal, PG, I. El hecho punible, 1982.
Günter Stratenwerth, L'individualizzazione della misura di diligenza nel delitto colposo,
Riv. ital. dir. proc. penale, 1986, p. 635.
Günther Jakobs, El delito imprudente, in Estudios de Derecho Penal, 1997.
H.H. Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts: Allg. Teil, 4ª ed., 1988, de que há tradução
espanhola.
M. Miguez Garcia. 2001
720
Hans Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11ª ed., 1969, parcialmente traduzido para espanhol
por Juan Bustos Ramírez e Sergio Yáñez Pérez com o título Derecho Penal Aleman, Editorial
Jurídica de Chile, 4ª ed., 1997.
Helmut Fuchs, Österreichisches Strafrecht. AT I, 1995.
Ingeborg Puppe, La imputación objectiva. Presentada mediante casos ilustrativos de la
jurisprudencia de los altos tribunales. Granada 2001.
João Curado Neves, Comportamento lícito alternativo e concurso de riscos, AAFDL, 1989
Johannes Wessels, Strafrecht, AT1, 17ª ed., 1993: há tradução para o português de uma
edição anterior.
Jorge de Figueiredo Dias, Direito penal, sumários e notas, Coimbra, 1976.
Jorge de Figueiredo Dias, Pressupostos da punição, in Jornadas de Direito Criminal, CEJ,
1983.
Jorge de Figueiredo Dias, Sobre o estado actual da doutrina do crime, RPCC 1 (1991).
Jorge de Figueiredo Dias, Velhos e novos problemas da doutrina da negligência, in Temas
básicos da doutrina penal, Coimbra Editora, 2001.
José Cerezo Mir, Curso de Derecho Penal Español, parte general, II, 5ª ed., 1997.
José Manuel Paredes Castañon, El riesgo permitido en Derecho Penal, 1995.
KarlHeinz Gössel, “Velhos e novos caminhos da doutrina da negligência”, BFD, 59 (1983).
Karl Lackner, StGB, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, 20ª ed., 1993.
Kienapfel, Grundriß des österreichischen Strafrechts, BT, I, 3ª ed., 1990, especialmente § 80.
Kristian Kühl, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 1994.
Mir Puig, Derecho Penal, parte especial, Barcelona, 1990.
Mir Puig, El Derecho penal en el estado social y democrático de derecho, 1994.
M. Miguez Garcia. 2001
721
Otto Triffterer, Österreichisches Strafrecht, AT, 2ª ed., 1993.
Pedro Caeiro/Cláudia Santos, Negligência inconsciente e pluralidade de eventos: tipode
ilícito negligente unidade criminosa e concurso de crimes princípio da culpa. RPCC 6 (1996).
Samson, Das Fahrlässigkeitsdelikt, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band
I, AT (§§ 1—79 b), 2ª ed., 1977.
Teresa Rodriguez Montañes, delitos de peligro, dolo e imprudencia, Centro de Estudios
Judiciales, Ministerio de Justicia, Madrid, 1994.
Udo Ebert, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2ª ed., 1993.
Wolfgang Mitsch, Fahrlässigkeit und Straftatsystem, JuS 2001, p. 105 e ss.
M. Miguez Garcia. 2001
722
M. Miguez Garcia. 2001
723
•
•
§ 30º Autoria. Comparticipação
I. Autoria singular. Pluralidade de agentes na prática do crime:
comparticipação. A autoria como causação; a autoria como execução; a autoria
como domínio do facto.
• CASO nº 30: A quer matar o filho que acaba de dar à luz, mas sentese muito fraca por
ter tido um parto difícil e pede a B, sua irmã, que faça desaparecer o recémnascido. B
não tem qualquer interesse na morte do sobrinho, mas afogao na banheira, dando
execução aos desejos da irmã. ("Badewannenfall", RGSt. 74, p. 84 e ss.).
• Palavraschave: acessoriedade, agente que "domina" o facto, animus auctoris, animus
socii, associação criminosa, atenuação especial obrigatória, autor por detrás do
autor, autor principal, autoria como causação, autoria como domínio do facto,
autoria como execução, autoria imediata e autoria mediata, autoria material e
moral, autoria singular, auxiliator causam dans, auxiliator causam non dans,
bando, coautoria, comparticipação, conceito diferencial entre cúmplice e autor,
conceito extensivo de autoria, conceito unitário de autoria, crime autónomo
cometido durante a execução do plano, cumplicidade, decisão conjunta, delitos a
favor de terceiro, divisão do trabalho, domínio da acção, domínio da organização,
domínio da vontade, domínio funcional do facto, domínio do facto, excesso,
exercício conjunto do domínio (funcional) do facto, homem por detrás, instigação,
instigação em cadeia, instrumento; intervenção a título principal: instigação;
intervenção a título secundário: cumplicidade; intervenientes acessórios, pacto
suicida, participação essencial do instigador, participação principal, participação
secundária do cúmplice, participação secundária, participação, princípio da
M. Miguez Garcia. 2001
724
responsabilidade, repartição funcional de tarefas, rodas de engrenagem, senhores
do facto, teoria do animus, teoria do interesse, vontade de domínio do facto.
No caso nº 30, B matou outra pessoa, agindo com dolo homicida. Tendo
executado o facto "por si mesma" (artigo 26º, 1ª alternativa) é autora material de
um crime do artigo 131º do Código Penal. A é instigadora, na medida em que,
dolosamente, determinou outra pessoa à prática do facto. Todavia, quando o
caso se colocou ao RG alemão, o tribunal considerou que a morte da criança só
era importante para A e que B se limitara a ajudála, pondo nisso uma atitude
puramente "altruística". Vistas as coisas assim, a figura central do
acontecimento é a mãe da criança e B figura acessória, que só deverá ser punida
como cúmplice e portanto com uma pena mais leve, como veio a decidirse.
Ao longo dos tempos foram sendo ensaiadas diversas soluções para
distinguir a autoria da participação. Uma delas corresponde à posição do RG
naquilo que se tornou conhecido como "Badewannenfall" e que — dizse —
evitou que os juízes alemães condenassem a tia homicida a prisão perpétua.
Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu em termos
semelhantes o caso "Stachynski": um agente duma potência estrangeira, por
ordem dos seus superiores, matou dois exilados políticos em Munique.
Sustentouse igualmente que a falta de vontade de autor e especialmente do
interesse no facto, que era do mandante, podem fazer com que aquele que o
executa por suas próprias mãos seja excepcionalmente tido por simples
cúmplice (cf. J. Baumann, Beiträge, p. 236). Mas os fundamentos destes dois
arestos foram muito contestados.
A autoria como causação; conceito extensivo de autoria; conceito unitário
de autoria; autoria material e moral; significado da participação. Nos casos
mais simples, o aplicador do Direito encontrase perante um crime cometido
por uma única pessoa, seu autor singular (imediato). Mas podem intervir
diversos indivíduos e darse a possibilidade, nos autênticos crimes de resultado
descritos na parte especial do código, de se atribuir esse resultado aos vários
agentes envolvidos, desde que estes tenham um contributo causal para o facto.
Identificase então a causação do facto com a autoria, de forma que é autor do
crime todo aquele que lhe tenha dado causa, entendendose esta "causa", nos
termos gerais, segundo os critérios da causalidade adequada (Eduardo Correia).
• A induz B a matar X. B concorda e consegue que C lhe empreste uma arma de fogo, com
que mata X num dos dias seguintes.
M. Miguez Garcia. 2001
725
Neste exemplo, B cometeu directamente, por suas próprias mãos, o crime
do artigo 131º, pois matou "outra pessoa". Todavia, A e C também "mataram" X
e também são, por isso, autores de um homicídio, ainda que, um e outro, o
tivessem cometido indirectamente. Neste sentido, o conceito de autoria é
extensivo (lato) e abrange a própria cumplicidade — como se viu, autor do
homicídio será aquele que deu o tiro na vítima, mas também o que fornecera a
arma. A haver diferença entre a autoria (autoria material e moral), como
participação principal, e a cumplicidade, como participação secundária, seria só
uma diferença dentro da própria causalidade. A qual se obteria recorrendo à
velhíssima distinção de Farinacio entre "auxiliator causam dans" e "auxiliator
causam non dans". O conceito de cumplicidade ficaria limitado ao chamado
auxílio simples, causam non dans, ou seja, aquele auxílio sem o qual o crime não
deixaria de se realizar igualmente (Eduardo Correia).
• Em face, todavia, das dificuldades a que tal ideia conduzia, procurouse construir a
cumplicidade à luz de outras ideias, por ex., recorrendo a um elemento subjectivo: na
cumplicidade o sujeito actuava com animus socii — que supunha agir em interesse
alheio — e não com animus auctoris — que seria um agir no próprio interesse. No caso
"Badewanne" pode encontrarse a aplicação destas ideias.
Para a aplicação da sanção penal não é necessário partir dum regime
diferenciado entre a autoria singular e as diversas formas de intervenção. Neste
sentido, quem por qualquer forma contribuir para o facto é seu autor, bastando,
para realizar a imputação ao agente, que se estabeleça a relação causal entre a
conduta e o facto descrito na norma. Chegase assim a um sistema unitário em
que qualquer intervenção se caracteriza pela respectiva causação ilícita e
culposa do facto (especialmente do resultado típico), independentemente da
participação dos restantes, qualquer que seja a sua importância. Constituindo a
causalidade o único critério relevante, não intervém a regra da acessoriedade: a
punibilidade de um é independente da punibilidade dos outros participantes,
daí que qualquer participação nunca será referida ao facto de outrem. A
intensidade delitiva e a importância da colaboração de cada um para a
totalidade do facto são relegadas para o momento da individualização da pena.
• O sistema unitário tem os seus inconvenientes, desde logo porque nivela todas as
contribuições, chama "ladrão" ao que assalta um banco com uma metralhadora e ao
que lhe forneceu a meia para tapar a cara. Alheandose da acessoriedade, as teorias
M. Miguez Garcia. 2001
726
unitárias só tratam de contributos isolados, aos quais falta uma referência comum;
além disso, desconhecem as diferenças essenciais entre a realização de um crime e a
influência dos outros intervenientes nessa mesma realização. Nesta perspectiva, aliás,
ampliase, sem justificação políticocriminal, a punibilidade da tentativa: se A
consegue uma arma para daqui a algum tempo matar B, seu inimigo, o acto é
simplesmente preparatório e fica isolado, não carecendo de punição, se for A quem
deve executar por si só tudo o que é necessário para o homicídio. Mas se houver
divisão de trabalho, se a preparação cabe a A sendo outro o encarregado de
descarregar a arma na pessoa da vítima, a acção preparatória, para as teorias
unitárias, convertese num contributo final (concluído) para o crime e deveria ser
punida como tentativa mesmo que nada mais aconteça, justamente porque se
prescinde da ideia de acessoriedade (cf. Jakobs, AT, p. 595).
A autoria como execução; critério restritivo; o autor como figura central
do acontecimento típico; significado da participação como participação em
facto alheio. Na doutrina domina o chamado critério restritivo. Autor é — não
já, simplesmente, como no modelo anterior, quem causa o resultado típico, mas
quem executa a acção que causalmente produz o resultado. A autoria é referida
à realização típica, à execução de todas as características do tipo objectivo e
subjectivo do ilícito (cf., no direito alemão, o § 25, I, 1ª alternativa, que se refere
à "execução do facto — Begehung der Straftat —, e o artigo 26º do Código Penal,
"é punível como autor quem executar o facto").
• Se B, com dolo homicida, dispara o tiro que mata X, B é autor de um crime de homicídio,
qualquer que seja a colaboração que lhe tenha sido prestada, mesmo que lhe falte a
vontade de ser autor e independentemente do seu próprio interesse no facto.
Qualquer outra pessoa que participa no facto desempenha um papel
distinto do autor. Pode ser o instigador, que se limita a determinar (no âmbito
duma relação causal ou de motivação) outra pessoa à sua prática, ainda que se
exija começo de execução. Pode também ser o cúmplice. Mas nem o cúmplice
nem o instigador chegam a executar a acção típica. Esta fica reservada para
quem realmente age — como autor directo singular (imediato), como coautor
ou como autor mediato. Ainda assim, e como melhor se verá a seguir, o Código
português incluiu a instigação entre as formas de autoria, pelo que o artigo 26º
M. Miguez Garcia. 2001
727
não é integralmente moldado na ideia de execução. Mas como os intervenientes
que só determinaram o autor a realizar o facto ou o ajudaram na sua prática
ficariam impunes se o artigo 26º não incluísse os instigadores, ou se não
existisse o artigo 27º, a punição destas formas de participação é acessória: exige
se sempre que outra pessoa execute o facto ou que, pelo menos, lhe dê começo
de execução.
A autoria como domínio do facto; autoria imediata e autoria mediata;
intervenção a título principal: instigação; intervenção a título secundário:
cumplicidade. Estamos agora em condições de compreender que a distinção
entre autoria e participação não deve moldarse unicamente pela ideia de
execução ou partir simplesmente da constatação de que os tipos penais
descrevem meros processos causais — a distinção deve, acima de tudo, assentar
numa unidade de sentido finalcausal (Gallas). O importante não é quem causa
o facto ou quem executa a acção típica mas quem domina a execução desta. E
domínio do facto significa "ter nas mãos o decurso do acontecimento típico
abarcado pelo dolo" (Maurach; Wessels, p. 154).
• A teoria do domínio do facto limita o seu âmbito de aplicação aos crimes dolosos.
Noutros casos, o elemento que define a autoria não é o domínio do facto, mas
apenas a característica típica objectiva ou subjectiva que o correspondente tipo de
ilícito descreve. Uma possibilidade de concretizar o conceito de domínio do facto
consiste em entender que o sujeito tem o poder de deixar correr ou de interromper a
realização da acção típica — a cumplicidade será em consequência relegada para os
simples actos de ajuda, sem participação na decisão nem no domínio final do facto.
Mas a teoria limita o seu âmbito de aplicação aos crimes dolosos, acompanhando o
conceito restritivo de autor, o que se explica pelo sentido originariamente subjectivo
da teoria, vinculado à ideia de finalidade. Nos crimes negligentes, que se
caracterizam precisamente pela perda do domínio final do facto, não se pode
distinguir a autoria da participação: é autor quem causa o facto por forma negligente
— é um conceito unitário. Cf. Mir Puig, p. 396. Recordemse, por outro lado, aqueles
casos em que a lei define o possível círculo de autores, como nos delitos específicos
próprios e nos delitos de dever. Impondo a lei um dever especial, agente será então
aqui, não quem detenha o domínio do facto, mas só quem, para além disso, se
encontre vinculado pelo dever contido no tipo (Figueiredo Dias, p. 54). Nestes casos,
M. Miguez Garcia. 2001
728
o elemento que define a autoria não é o domínio do facto, mas apenas a característica
típica objectiva ou subjectiva que o correspondente tipo de ilícito descreve. Nos
crimes omissivos, aquele que omite é sempre autor. Atenta a natureza dos crimes de
omissão imprópria, que exigem a evitação de um resultado, qualquer colaborador,
desde que portador das características típicas, é autor. Não intervindo no
acontecimento, não se pode sustentar que ele exerceu o domínio do processo.
Consequentemente, o critério do domínio do facto é aqui inidóneo para distinguir
entre autor e cúmplice.
• Autor de um crime negligente pode ser não apenas o autor imediato, como o autor atrás
do autor, desde logo, o mandante ou o incitador de um comportamento que, por
ex., vem a terminar por um homicídio negligente: o patrão que manda o motorista
circular a velocidade excessiva em virtude da qual ocorre a morte de um peão, ou
aquele que dá droga a um dependente que com ela vem a morrer de overdose.
Frequentes são na verdade os casos de autoria paralela, em que o resultado é
produzido imediatamente por um, mas só porque outro anteriormente violou um
dever objectivo de cuidado ou o risco permitido. Por ex., A mata B com uma
manobra do seu automóvel absolutamente proibida e perigosa, porque obteve a
carta de condução com os favores de C, que o aprovou no exame de condução,
apesar de se ter apercebido da sua inaptidão. Prof. Figueiredo Dias, Conimbricense,
p. 113. E se A vem a morrer por ter sido atropelado no momento em que B, com
falta de cuidado, dirige a manobra do condutor dum camião que faz marcha atrás
sem ter visibilidade? A negligência será unicamente de quem dirige a manobra,
embora não conduzisse o camião. É a actuação de A que no caso se encontra
vinculada ao risco como critério de referência da imputação — e que,
consequentemente, é a conduta típica.
O ponto de partida da teoria do domínio do facto é o conceito restritivo de
autor e a respectiva vinculação ao tipo legal. Desta forma, a autoria não pode
basearse numa qualquer contribuição para a causação do resultado mas
apenas, em princípio, na realização de uma acção típica. A acção típica deve ser
entendida como unidade de sentido objectivosubjectiva — e não, somente,
M. Miguez Garcia. 2001
729
como uma actuação revestida de uma determinada atitude pessoal ou como
mero acontecer do mundo exterior. O facto aparece assim como a obra de uma
vontade dirigida ao acontecimento (die Tat erscheint damit als das Werk eines das
Geschehen steuernden Willens). Para a autoria, contudo, não só é decisiva a
vontade de direcção mas também o peso objectivo da parcela assumida por
cada um dos intervenientes no facto. Deste modo, só pode ser autor quem
domina o curso do facto, compartilhandoo de acordo com o significado da sua
contribuição objectiva. (Jescheck, p. 590).
Enquanto critério restritivo, a teoria do domínio do facto — em que o
autor aparece como figura central do acontecimento típico — permite distinguir
as diversas formas de autoria (imediata, mediata, coautoria); e permite
compreender a diferença entre autoria e participação. Tem domínio do facto,
desde logo, o autor singular imediato que realiza o ilícito típico directamente, i.
é, por si próprio, com domínio da acção. Autor é também aquele que executa o
facto utilizando outrem como instrumento: é o autor mediato que tem o domínio
da vontade. É coautor quem, dividindo as tarefas, realiza uma parte necessária
da execução do plano conjunto, com domínio funcional do facto.
II. Separar a autoria da participação: diferença entre autoria e cumplicidade.
A intervenção secundária do cúmplice.
Como já se deixou entendido, não há unanimidade no estabelecimento dos
critérios por que se rege a distinção entre (co)autoria e participação. O Código
português — dizendo com a Profª Teresa Beleza — pune "como autor" aquele
que age (como autor directo singular, ou como autor mediato ou como co
autor). "Separando todos estes dos cúmplices, o Código parece adoptar um
conceito restritivo de autor, moldado a uma luz orientadora baseada no
domínio do facto ou, pelo menos, com ela consentâneo. Mas incluindo na
"autoria" aquilo a que chamaríamos instigação, aproximase de uma concepção
mais ampla, de raiz causalista, em que os instigadores são verdadeiros autores
morais. Aproximação hesitante, no entanto, dado o carácter acessório
reconhecido a essa "autoria" no final do artigo 26º, tornada dependente de uma
execução por outro iniciada." (T. Beleza, A estrutura da autoria nos crimes de
violação de dever Titularidade versus domínio do facto?, RPCC, 2 (1992), p. 337;
publicado também em Fundamentos de un sistema europeo del derecho penal, Bosch,
1995, p. 337).
M. Miguez Garcia. 2001
730
Os cúmplices, como intervenientes acessórios, são no Código figuras
marginais, a quem falta o domínio do facto e que aí foram relegados para o
artigo 27º, que os pune com a pena fixada para o autor especialmente atenuada,
consequentemente, adequada à forma de participação não essencial ou
secundária. Comparando os artigos 26º e 27º, vêse que os cúmplices, que
apenas favorecem ou prestam auxílio à execução, ficam fora do acto típico — se
o agente ultrapassa o mero auxílio e executa uma parcela do plano criminoso,
não poderá deixar de ser havido também como autor do facto ilícito e já não
como cúmplice. Recordando o que se escreve no acórdão do STJ de 16 de
Janeiro de 1990, BMJ393241, o cúmplice, ao contrário do autor, não executa o
facto, por si ou por intermédio de outrem, nem toma parte directa na sua
execução, nem determina outra pessoa à prática do facto, pois somente favorece
ou presta auxílio à execução, ficando fora do facto típico.
A teoria dos bens escassos ajustase à eficácia dos meios e dá relevo às contribuições
necessárias para o resultado. Mas nem sempre se distinguiu assim o cúmplice da figura
do coautor. Entre nós — para além de se empregar, como já se observou, a distinção de
Farinacio, entre "auxiliator causam dans" e "auxiliator causam non dans", ou seja: quem
não dá causa será simplesmente cúmplice —, a teoria dos bens escassos serviu
frequentemente para afirmar que qualquer contribuição com um bem escasso para a
produção do resultado se enquadrava na (co)autoria e que a contribuição consistente
num bem abundante — não escasso — seria caso de cumplicidade. A teoria foi
desenvolvida por Gimbernat no seguimento da doutrina do domínio do facto, à qual se
apontava a incapacidade para fornecer um critério de delimitação entre autoria e
cumplicidade. Uma bomba de muitos quilos de trotil seria um bem escasso, porque é
coisa que se não pode comprar como quem compra uma faca ou uma navalha. A
contribuição de quem fez a bomba ou a conseguiu por qualquer forma seria uma
intervenção essencial e o raciocínio serviria — com outros complementos que para aqui
não vêm — para afirmar se alguém é autor ou se é cúmplice.
M. Miguez Garcia. 2001
731
Na Alemanha, para a distinção entre o coautor e o cúmplice, a
jurisprudência continua ainda hoje a orientarse por critérios
predominantemente subjectivos, pela vontade de colaboração (animus)
(Stratenwerth, p. 229; Jakobs, 608 e ss.), mas faz também apelo a elementos
objectivos, de forma que o domínio objectivo indicia, em regra, o animus
auctoris, a vontade do sujeito, que passa a definirse como "vontade de domínio
do facto".
CASO nº 30A: A empresta o seu próprio carro a B e a C para que estes
nele se desloquem até uma estação de serviço, com venda de combustíveis. A
intenção é assaltar os escritórios no final da tarde e levar todo o apuro desse dia.
A deslocase noutro carro para o local do assalto e permanece aí, armado,
pronto para o que der e vier, fingindo aguardar a sua vez de encher o depósito,
enquanto os outros dois se dirigem às instalações, cada um deles munido de
uma pistola de 9 mm. Uma hora depois, já a bom recato, A, B e C dividem o
dinheiro subtraído em partes iguais.
Serão A, B e C coautores, ou a coautoria envolverá apenas A e B, sendo C
mero cúmplice? Entre os três houve uma decisão conjunta e todos participaram
na execução, de acordo com o plano comum: A, B e C são coautores.
A contribuição de C para o facto tem certamente carácter relevante do
ponto de vista causal. E foi, como as de A e B, consciente e querida (elemento
subjectivo da coautoria). Por outro lado, C empresta ao empreendimento
criminoso uma actividade que tem uma natureza decisiva. É certo que A e B são
os principais protagonistas do assalto, mas C assumiu o papel de guardacostas
dos outros dois, ficando de vigia, pronto para o que der e vier. Entre os três houve
um pactum scelleris, um acordo prévio para a comissão do roubo com repartição
de tarefas. E todos participaram na execução, agindo conforme o plano
convencionado. Cada um deles actuou e deixou actuar os outros dois, de modo
que o que cada um deles fez pode ser imputado aos outros, que actuaram de
acordo com ele — todos realizaram simultaneamente os elementos do
correspondente tipo penal. Pode bem falarse de uma imputação recíproca das
diversas contribuições causais, sendo que todos os partícipes respondem pela
totalidade do facto comum. Só não seria assim se um dos coautores se tivesse
excedido por sua conta, relativamente ao plano acordado, sem que os outros
tivessem dado o seu consentimento a esse excesso —em tal caso, o excesso não
poderia ser imputado aos restantes, porque para lá do que foi acordado não há
possibilidade de imputação recíproca.
M. Miguez Garcia. 2001
732
III. A comissão por intermédio de outrem: autoria mediata. Critério para
separar a instigação da autoria mediata: o instigador não executa o facto,
limitase a "determinar" outrem à sua prática, ficando dependente de uma
execução por este iniciada.
Nos crimes dolosos de comissão por acção, a circunstância de a autoria se
deduzir directamente da realização do tipo conduz à definição do autor
imediato como aquele que por si mesmo executa uma acção típica cominada
com pena. A autoria directa, imediata, é como que o protótipo da autoria, na
medida em que esta significa preenchimento do tipo de ilícito.
Todavia, o próprio artigo 26º reconhece a possibilidade de o facto ser
executado por intermédio de outrem, o que significa a presença de duas pessoas
na prática do crime: o autor mediato, que realiza o ilícito como próprio, e o
"outro", que o executa, actuando como intermediário.
O Prof. Eduardo Correia, por ex., in Direito Criminal, II, de 1965 (cf.,
ainda, a acta da 12ª sessão, Actas, p. 194), aderindo a um conceito extensivo de
autoria assente na teoria da adequação considerava supérflua a instigação, pois
a mesma podia e devia ser compreendida no conceito de autoria mediata, moral
ou intelectual, "desde que a este se dê um sentido lato que abranja todas aquelas
hipóteses em que alguém causa a realização de um crime utilizando ou fazendo actuar
outrem por si." A causalidade devia continuar a considerarse "o verdadeiro
fulcro" (Mezger: "o ponto de arranque cientifico") à volta do qual gira a teoria
da participação, de modo que, se alguém determina, e por conseguinte prevê ou
deve prever, actividades dolosas ou negligentes de outrem por força do seu
comportamento, o resultado considerase consequência normal, típica, não
obstante entre eles se interpor uma vontade humana.
Perante as novas concepções do agente que "domina" o facto, o "homem
por detrás" já não é em regra considerado autor mediato quando o executor
actua livre de erro e de forma plenamente culposa, intervindo aqui o princípio
da responsabilidade. O critério para distinguir a instigação da autoria mediata
passa, portanto, pelo domínio do facto: a autoria mediata caracterizase,
sobretudo, como domínio da vontade. O autor mediato — diz Wessels — utiliza
para cometer um "facto próprio" "mãos alheias", assumindo deste modo o papel
dominante. A posição subordinada é deixada para o intermediário, que pratica
M. Miguez Garcia. 2001
733
o crime por suas próprias mãos, sujandoas. O autor mediato domina o
acontecimento total, mas fica na sombra — deixa que o outro trabalhe por si e
lava daí as suas mãos (Kühl, p. 630).
Pergunta a Profª. Fernanda Palma: a autoria mediata será necessária? Resolve alguma categoria
de problemas? “Na realidade, a figura da autoria mediata, contida no artigo 26º do
Código Penal, é absolutamente justificável porque exprime uma ideia não “mecanicista”
de execução, adequada aos processos sociais reais de domínio de processos causais”.
RPCC 9 (1999), p. 409.
Todavia, não existe unanimidade no tratamento das constelações de casos
que neste âmbito se podem suscitar. O chamado autor mediato tem o domínio do
facto porque domina um instrumento humano, o executor, aproveitandose de
uma deficiência deste. Esta deficiência do executor é o ensejo para o domínio da
vontade ou do saber do homem por detrás nos casos em que o executor actua de
forma atípica ou sem dolo. i) A, médico, entrega a uma enfermeira uma injecção
letal, que esta ministra ao doente sem de nada suspeitar; ii) A caça na
companhia de B, que só recentemente aprendeu a manejar a espingarda. Às
tantas, A descobre a presença de C, seu inimigo mortal, a coberto de umas
moitas, e faz sinal a B para que dispare nessa direcção, a pretexto de matar um
javali. B, convencido de que se trata duma peça de caça faz fogo e atinge
mortalmente C. A é o (único) autor doloso. B não "vê" os factos e portanto não
pode opor resistência a quem maliciosamente os maneja por detrás (Roxin).
Outra hipótese de autoria mediata tem a ver com o uso da força. Se A
neutraliza a vontade de B com a ameaça de um perigo actual para a vida ou
para a integridade física, assim o compelindo à realização de um tipo penal, B
convertese em executor da vontade de A, que por isso será o autor mediato do
crime. O executor pode mesmo agir sem culpa, por ser inimputável (cf. o artigo
20º). A costuma vender droga num dos bairros da cidade mas sentese acossado
pela polícia, que o vigia, e paga 5 contos a B, de doze anos, para que este o faça
por ele. A aproveitase da inimputabilidade do menor para assumir o papel
dominante.
• Nos trabalhos práticos deve apreciarse em primeiro lugar o desempenho do executor,
nomeadamente, se já se mostram realizados os elementos objectivos típicos.
M. Miguez Garcia. 2001
734
Concluindose que o executor actuou sem dolo, o fez justificadamente ou é
desculpável, põese a questão de saber se, por detrás, existe alguém responsável
nos termos indicados. Se assim for, deverá verificarse se este tinha o domínio do
facto e só então será caso de lhe atribuir a actuação do executor, desde que
concorram todos os outros requisitos.
Muito discutido é o caso do chefe do bando, que algumas opiniões situam
na coautoria, mesmo quando a intervenção se dá na fase preparatória, no
momento de organizar ou projectar um facto criminoso. É certamente uma
solução incorrecta perante o artigo 26º do nosso Código, mesmo nos casos em
que a actividade de planificação e de organização continua a produzir efeitos
durante a execução do crime, pois se o chefe do bando não toma parte nesta
faltalhe o domínio funcional do facto. Se não se intervém na própria execução,
faltará a referência jurídicopenal do domínio. Verificandose os elementos da
instigação e havendo pelo menos começo de execução por parte do(s)
induzido(s) será este o papel que melhor lhe cabe.
Hipótese diferente ocorre no domínio da chamada criminalidade
organizada, onde os "aparelhos organizados de poder" revelam uma estrutura
bem mais complexa e apurada do que a do simples bando. A introdução de
uma nova subespécie do domínio da vontade, o chamado domínio da organização
(Organisationsherrschaft), permitiu que alguns autores situassem na autoria
mediata os casos de abuso de um aparelho organizado de poder. São casos
limite de cometimento de crimes (especialmente homicídios) por pessoas que
na esfera de um aparelho de poder organizado funcionam como "rodas de
engrenagem", arbitrariamente permutáveis (fungíveis). Existem com efeito
centros de poder rigidamente hierarquizados e dotados de forte disciplina
interna que se aproveitam da disponibilidade sem condições do agente
imediato para a realização do facto. O autor mediato é o membro da
organização criminosa que, ocupando um posto dirigente e de mando, decide e
ordena a prática de certos crimes sem chegar propriamente e tomar parte activa
na respectiva execução. Como "detém o poder e dá as ordens, domina o
processo pela simples fungibilidade do instrumento, no sentido em que o
instrumento pode ser substituído por outro, por a condição de instrumento não
depender das características individuais da pessoa que executa o facto" (Teresa
Serra). Os dirigentes de tais aparelhos, sem se levantarem das secretárias e
portanto sem participarem na execução dos crimes, são os verdadeiros
M. Miguez Garcia. 2001
735
mandantes e senhores do facto: o Schreibtischtäter tem o domínio do facto, não
obstante a completa responsabilidade do executor.
• Estas condições estruturais com percursos previsíveis podem existir designadamente em
estruturas organizativas estatais, empresariais ou análogas e em hierarquias de
(co)mando. Num tal caso, o "homem por detrás" é o autor na forma de autoria
mediata — actua com conhecimento destas circunstâncias, aproveitandose para a
realização do facto também, em especial, da disponibilidade incondicional do agente
imediato, e querendo o resultado como efeito da sua própria acção (Teresa Serra, A
autoria mediata através do domínio de um aparelho organizado de poder, RPCC 5 (1995), p.
312).
Participação é só cumplicidade? ou identificase também com a
instigação? A proximidade entre o autor mediato (que executa o facto por
intermédio de outrem) e o instigador (que determina outra pessoa à prática do
facto, desde que haja execução ou começo de execução) articulase numa
constelação típica (Ebert, p. 171) que no StGB se explica pela diferença entre
autoria e participação, onde a instigação se integra. Porém, como já vimos, o
Código português junta a autoria mediata e a instigação, como eco do que
acontecia no código antigo, onde ambas formavam a categoria mais alargada da
autoria moral. Identificandose a instigação com a forma de punição da autoria
— sem que se pressuponha a prática pelo instigador de qualquer acto de
execução, no sentido do artigo 22º (Valdágua, p. 115) — a ideia de participação,
ao contrário do sistema alemão, coincide normativamente, no nosso direito,
com a da cumplicidade (artigo 27º, nº 1). De qualquer forma, o instigador será
certamente uma figura que actua no momento anterior ao facto: a conduta deste
limitase a "determinar" outrem à prática do crime, ficando dependente de uma
execução por este iniciada. No Código português punese o instigador como se
fosse autor, como que a sublinhar uma forma de participação essencial: o
instigador é punido com a mesma pena do autor. Mas punese como cúmplice
quem, dolosamente e por qualquer forma, se limita a prestar auxílio material ou
moral à prática por outrem de um facto doloso (artigo 27º, nº 1), cabendolhe a
atenuação especial obrigatória, adequada à forma de participação não essencial
— secundária ou acessória.
• Os crimes de mão própria. Tradicionalmente, associados à autoria mediata, mas para a
excluir, encontramse os crimes de mão própria, nos quais a lei parece exigir que seja
M. Miguez Garcia. 2001
736
a pessoa descrita no preceito que leve a cabo a execução (E. Correia). Uma vez que
autor de um crime de mão própria é apenas aquele que o pratica de forma imediata,
por si próprio, fica excluída a autoria mediata. No direito alemão apontase o
exemplo do juramento falso. Adoptandose um conceito extensivo de autor, nada
obsta a que, v. g., quem determine outrem a prestar um juramento falso se considere
autor de tal delito (E. Correia). No nosso Código, atentese no artigo 171º (actos
exibicionistas) e no artigo 292º (condução de veículo em estado de embriaguez).
IV. Autoria. Comparticipação. Oferecimento para delinquir.
• CASO nº 30B: A e B são companheiros e amigos e ambos têm problemas, desde há
algum tempo, com as respectivas mulheres. Sentemse, um e outro, incompreendidos
e alvo de suspeições permanentes. No bar que frequentam, A e B pedem mais um
copo e aproveitam para digerir as suas raivas, até que se decidem — A matará a
mulher de B, B matará a mulher de A. No dia seguinte, B, enquanto toma o pequeno
almoço, sentado diante da mulher, faz por se esquecer do que, no dia anterior, tinha
combinado com A. Rise à socapa das tolices que passaram pela cabeça dos dois. Por
essa hora, A também tem à sua frente a respectiva mulher, mas, ao contrário do
amigo, está bem consciente do que ambos combinaram e disposto a executar a sua
parte no plano. Ao fim da tarde desce à cave e pega na espingarda. Já o sol se punha
quando tomou posição diante da casa do amigo: do lado de lá da janela via a mulher
deste, ali à distância do tiro, que tinha pronto a disparar. No momento crítico
acontecem, porém, duas coisas inesperadas: a filha de B, de seis anos de idade,
agarrase à mãe, e A, sentindo vergonha do que se propunha fazer, incomodado, com
a consciência a roêlo, desiste do que projectara. De regresso a casa, telefona a B e diz
lhe que se desvincula do que tinham combinado, dispensando o amigo de cumprir a
sua parte. Para sua grande surpresa, fica então a saber que este nunca levara a sério o
plano de matarem as mulheres. Cf. Thomas Nuzinger e Dirk Sauer, Ein
unmoralischer Kegelabend, JuS 1999, p. 980.
Punibilidade de A e de B ?
M. Miguez Garcia. 2001
737
1. Punibilidade de A.
a ) Factos que afectam a mulher de B.
i) Homicídio voluntário tentado (artigos 22º, nºs 1 e 2, 23º, nºs 1 e 2, 73º, nº
1, a) e b), e 131º), eventualmente qualificado. Uma vez que a mulher de B
continua viva, não se pode falar no resultado morte. Todavia, houve a decisão
de matar a mulher. A mais disso, os actos de A precedem imediatamente a
acção típica, inserindose na execução, de acordo com o plano concreto que se
propôs realizar. São pois actos de execução e como tal definidos no artigo 22º, nº
2, c). A pode, no entanto, ser beneficiado pela desistência da tentativa, já que
não chegou a disparar sobre a mulher. A desistência do propósito criminoso,
como circunstância que beneficia o agente, está prevista no artigo 24º, nº 1: a
tentativa deixa de ser punível quando o agente voluntariamente desistir de
prosseguir na execução do crime. No caso, não parece de duvidar que o agente
desistiu voluntariamente e portanto de forma relevante, pelo que o seu acto não
será punível.
ii) A obrigouse perante B a matar a mulher deste, mas o chamado
"oferecimento para delinquir" não está previsto no Código Penal português,
embora conste do § 30 II, 1ª alternativa, correspondente ao antigo § 49 a), do
StGB alemão, onde se punia quem, baldadamente, procurava determinar
outrem ao crime, se oferecia para a sua prática, aceitava esse oferecimento ou
com outros se concertava para a prática dele. Cf. a Acta da 13ª sessão, Actas, p.
206.
b ) Factos que afectam a mulher de A.
i) Como B nada fez, não chegou sequer a praticar actos de execução, como
se dirá a seguir, também se não poderá afirmar que A determinou B, em termos
de ser instigador, já que a instigação está dependente do começo de execução
do crime (artigo 26º, última parte). A instigação não é autónoma.
ii) A nada fez para impedir que B matasse a sua mulher. A tinha o dever
jurídico de pessoalmente evitar o resultado morte da sua mulher (artigo 10º, nº
1). Não seria problema afirmar o dolo de A, mas não houve actos de execução
por parte de B, pelo que não haverá lugar para considerar um crime de
homicídio cometido por omissão, mesmo só tentado.
2. Punibilidade de B.
M. Miguez Garcia. 2001
738
a) Factos que afectam a mulher de B.
i) A praticou actos de execução do crime que decidira cometer na pessoa
da mulher de B, mas não se pode afirmar o dolo de instigador, dolo de
consumação, pelo que B não é instigador da tentativa de homicídio.
ii) B tinha, relativamente a sua mulher, que A decidira matar, praticando
até actos de execução, o dever jurídico de pessoalmente evitar a morte (artigo
10º, nºs 1 e 2) e nada fez. À pessoa de B, todavia, não podemos referir qualquer
dolo, pelo que se responde pela negativa à problemática da autoria do crime de
homicídio (tentado) por omissão.
b ) Factos que afectam a mulher de A.
i) B nem decidiu matar a mulher de A nem praticou qualquer acto de
execução.
V. As diversas formas de autoria nos crimes dolosos de acção (continuação). Co
autoria; domínio funcional do facto. Crime autónomo cometido durante a
execução do plano.
• CASO nº 30C: Por volta das 5 da manhã, A e B dirigiramse ao posto de abastecimento
da Rua do Paraíso a fim de aí se abasteceram de gasolina. Cerca de uma hora mais
tarde regressaram ao local. A saiu do carro e dirigiuse ao escritório, onde se
encontrava o empregado M. A tirou de um dos bolsos uma pistola de 9 milímetros,
carregada e pronta a disparar. Apontoua ao peito de M e ordenoulhe que se deitasse
no chão e lhe desse todo o dinheiro que tivesse em seu poder e se encontrasse no
escritório. O M, no chão, deulhe todo o dinheiro que tinha e indicoulhe a gaveta
onde se encontrava o restante. A de imediato rebentou a fechadura da gaveta, e,
prevalecendose sempre da perturbação e insegurança, bem como do convencimento
de M de que aquele não hesitaria em atingilo na sua integridade física, retirou dali a
quantia de 85 contos que levou consigo. Antes de sair do escritório, A disse a M que
permanecesse deitado, após o que A saiu e fechou a porta, retendo M no interior,
contra a vontade deste. A voltou para o carro onde o aguardava B e dali se afastaram
de imediato. A e B agiram de comum acordo quanto ao propósito de se apoderarem
M. Miguez Garcia. 2001
739
do dinheiro que o A encontrasse no interior do escritório, a fim de repartirem entre
ambos o produto, apesar de saberem que tais valores lhes não pertenciam e que
agiam contra a vontade do seu legítimo dono. Parte da quantia de que se
apropriaram, dois contos, pertencia ao M, que veio mais tarde a ser indemnizado pela
sua entidade patronal. O M esteve fechado no escritório durante cerca de 10 minutos,
até um outro empregado se ter apercebido do que se passava. Não se provou que o B
tenha participado por qualquer forma, dado o seu acordo ou tenha tido prévio
conhecimento da resolução de fechar M dentro do escritório e da destruição da
gaveta. Cf. o acórdão do STJ de 22 de Fevereiro de 1995, BMJ444209.
O tribunal condenou A pela prática, em coautoria, de um crime de roubo
(artigo 210º), e, em concurso real, ainda pela prática de um crime de sequestro
(artigo 158º) e de um crime de dano (artigo 212º). E condenou B, mas apenas
como coautor do roubo e do dano.
Conforme a definição legal (artigo 26º), várias pessoas podem ser co
autores, tomando parte directa na execução, por acordo ou juntamente com
outro ou outros. Interessanos sublinhar que, na distinção entre a autoria
singular imediata e a coautoria, o autor singular executa o facto por si mesmo,
enquanto o coautor toma parte directa na sua execução — e fálo por acordo ou
juntamente com outro ou outros. Se num determinado caso apenas A realiza os
elementos objectivos e subjectivos do ilícito, e se o faz sem justificação e de
forma culposa, então A é autor singular — imediato — desse crime: A executou
o facto por si mesmo e executouo integralmente.
Na coautoria não precisa cada um dos agentes de realizar totalmente o
facto correspondente à norma penal violada, podendo executálo só
parcialmente. Por ex., o assalto a um banco é levado a cabo por dois indivíduos.
Conforme tinham combinado, A faz mão baixa do dinheiro enquanto B ameaça
os clientes e o caixa. Os diferentes actos que integram o roubo (artigo 210º, nº 1)
— um dos ladrões coloca as pessoas presentes na impossibilidade de resistir
enquanto o outro subtrai o dinheiro — são contributos para o plano criminoso
comum do assalto ao banco, realizado em coautoria. O coautor, ao contrário
dos cúmplices, tem um domínio sobre o sucesso total do facto: recusada a sua
colaboração, o mesmo fracassa. Este poder, decorrente da essencialidade da
função que desempenha no plano, incide sobre a totalidade do facto, o que
permite que o mesmo lhe seja integralmente imputado, apesar da sua execução
M. Miguez Garcia. 2001
740
por esse interveniente ser apenas parcial. No nosso exemplo, cada um dos dois
ladrões executa uma função que é essencial para o bom êxito do plano comum.
É o chamado domínio funcional do facto. Acontece o mesmo se o assalto ao banco
for assim executado: um dos ladrões fica no carro com o motor a trabalhar e
pronto a arrancar, outro trata de desligar o alarme do edifício bancário, um
terceiro vigia a aproximação de carros suspeitos, o quarto mantém em respeito
o caixa do banco apontandolhe uma pistola, enquanto o quinto recolhe o
dinheiro. Também aqui todos serão coautores, ainda que só o comportamento
dos dois últimos realize os elementos típicos do crime de roubo (violência,
subtracção: artigo 210º, nº 1). Mesmo a conduta do que fica ao volante se integra
na coautoria, mas já seria, provavelmente, cumplicidade o contributo do taxista
que pelo dobro do preço normal da corrida, conscientemente, acede a levar os
ladrões ao local do crime.
• Se, fora de qualquer combinação, A entrasse no banco de pistola empunhada simplesmente
para fazer ver ao caixa que se lhe continuasse a perseguir a mulher o mataria, e se B,
que aguardava a sua vez de ser atendido, dandose conta do que estava a acontecer,
aproveitasse para deitar a mão a um maço de notas — então teremos dum lado um
crime de ameaças (artigo 153º) e do outro um crime de furto (artigo 203º), mas não
haveria coautoria.
Os coautores levam a cabo um facto próprio (comum), de maneira que se
não poderá falar aqui do princípio da acessoriedade, que é típico da
participação. Os participantes (por ex., um cúmplice) colaboram num facto
alheio: não se lhes aplica o princípio da imputação recíproca de esforços e
contribuições, que é exclusivo da coautoria.
• Quem impede a vítima de se defender para que outro a esmurre comete com este o crime
de ofensa à integridade física (artigo 143º), não é simplesmente seu cúmplice.
Ponderese agora o seguinte caso, que se integra na chamada coautoria alternativa:
X segue para sua casa em Matosinhos, umas vezes pela Avenida da Boavista outras
pela Circunvalação. A e B, seus inimigos, querem a todo o custo matar X. Para que a
acção não falhe, executam assim o plano combinado: A esperao armado no primeiro
trajecto e B, ao mesmo tempo, no segundo. É B quem mata X, que nesse dia escolheu
a Circunvalação para seguir para casa. Será A coautor do crime de homicídio? Ou A
M. Miguez Garcia. 2001
741
não terá passado da fase dos actos preparatórios? Haverá, simplesmente,
cumplicidade da sua parte? Na chamada coautoria aditiva, vários indivíduos,
previamente acordados, realizam cada um uma acção que por si só se dirige à
realização completa do tipo, tendo a actuação conjunta o sentido de garantir que as
falhas de actuação de uns sejam compensadas com os acertos de outros e que assim
seja praticamente certa a produção do resultado. O exemplo normal, também citado
por García Conlledo, que seguimos de perto, é o de um número elevado de terroristas
que, para não falharem a morte dum político, se colocam cada um numa janela
próximo do local em que háde passar o político e, quando este passa, disparam todos
ao mesmo tempo, como fazem os pelotões de fuzilamento, não se sabendo que bala
ou balas lhe produzem a morte, mas sabendose que umas o atingem e outras não.
• Já se acentuou que, se os intervenientes actuam independentemente um do outro, não será
caso de coautoria nem de participação. Se por ex., A, que quer envenenar B, seu
marido, para casar com o amante C, e lhe mistura na bebida uma dose de veneno,
ainda assim insuficiente para provocar a morte de uma pessoa, e se, desconhecendo a
iniciativa de A, C, o amigo, mistura idêntica dose não letal de veneno na mesma
bebida, de forma que as duas juntas chegam para provocar a morte do odiado
marido, a hipótese é de causalidade cumulativa, também situada no âmbito das
chamadas autorias paralelas — ou autoria acessória (Luzón Peña, p. 363,
Stratenwerth, p. 252).
• Mas, como já se acentuou, cada coautor responde apenas até onde vai o acordo recíproco.
Consequentemente, nenhum deles será responsável pelos excessos do outro.
Quer dizer: na coautoria várias pessoas dividem as tarefas e na fase
executiva cada uma presta a sua contribuição para o êxito do plano comum. No
artigo 26º é imprescindível que o coautor tome "parte directa na execução", não
basta uma intervenção na fase dos actos preparatórios. Já atrás vimos, em
consonância com esta definição legal, que o cérebro do bando de delinquentes
que fica na sombra — o chefe do grupo de criminosos que, para arranjar um
álibi, vai ao cinema com um ruidoso grupo de amigos na hora do assalto que ele
próprio organizou —, não é coautor do golpe executado pelos outros.
M. Miguez Garcia. 2001
742
• E se o chefe do bando, durante o golpe, da sua base continua permanentemente em contacto
com os operacionais no terreno, dandolhes ordens pelo telefone, tomando
providências para que outra viatura siga para o local com reforços, e avisando dos
movimentos da polícia, que consegue acompanhar via rádio?
O coautor toma parte directa na execução, por acordo ou juntamente com
outro ou outros, de forma que o chefe de bando que não toma parte na
execução do assalto não assume o papel de coautor nos crimes assim
praticados. Mas é necessário atentar que nenhum dos dois termos desta relação
é compatível com uma visão atomística da coautoria, observa Conceição
Valdágua, p. 125, não só o "acordo" mas também o requisito "juntamente com
outro ou outros" pressupõe algo que unifique (junte) os contributos do vários
coautores para além do resultado da soma desses contributos. Não será, pois,
de coautoria a história dos dois sobrinhos que aspiram à herança do tio e que,
cada um por si e no desconhecimento recíproco do que faz o outro, lhe
ministram o que, um e outro, erradamente supõe ser uma dose letal de veneno.
Morrendo o tio, o caso é de autoria paralela em homicídio tentado, pois não
houve acordo, nem os dois sobrinhos actuaram "juntamente" um com o outro.
• Vamos agora supor que A e B pretendem apoderarse dum valioso quadro a óleo que X
tem em casa. Fica entendido entre ambos que A entrará na moradia e que B ficará a
vigiar, mas como lhes repugna ter que enfrentar os moradores, aguardam uma
ocasião em que, tudo o indica, a casa ficará vazia, para passarem à acção. B faz até
passar a sua colaboração pelo facto de não terem que enfrentar qualquer dos
moradores. A entra na vivenda mas logo vê que está alguém em casa. Para assegurar
o êxito da operação, em vez de discretamente se retirar, como ainda podia fazer, A
apanha um sabre que pende da parede e surpreende o único morador, a quem, sob a
ameaça da arma, obriga a acompanhálo até junto do quadro, com que foge.
Poderemos sustentar que há coautoria entre A, como agente dum roubo, e B, como
agente de um furto? Reparese que o uso da violência contra uma pessoa — elemento
do roubo — corre unicamente por conta de A, pois B não a aprovara, pôs até como
condição da sua colaboração que nenhum deles a usaria. Vejase, em complemento
deste, o caso nº 30C.
M. Miguez Garcia. 2001
743
Por outro lado, para caracterizar a decisão conjunta não parece bastar a
existência de um qualquer acordo entre os comparticipantes — acordo que em
regra existe também entre o autor e o cúmplice, — exigindo uns que todos os
coautores tenham uma "incondicional vontade de realização do tipo"; —
impondo outros que o papel desempenhado por cada um revele objectivamente
a sua participação no domínio do facto (cf. Figueiredo Dias, p. 58). Deste último
ponto de vista, o essencial residirá então no segundo requisito da autoria: o
exercício conjunto do domínio (funcional) do facto. Um domínio funcional do
facto existirá quando o contributo do agente — segundo o plano de conjunto —
põe, no estádio da execução, um pressuposto indispensável à realização do
evento intentado, quando, assim, "todo o empreendimento resulta ou falha".
(Ainda Figueiredo Dias, p. 59).
Em resumo, é indispensável uma decisão conjunta e uma execução
conjunta da decisão. O acordo entre os agentes pode ser expresso ou tácito,
prévio ou não à execução do facto. A ilustrar, vejase, por ex., o caso tratado no
acórdão do STJ de 20 de Dezembro de 1989, BMJ393269: Por diversas vezes, A
procedeu à venda de estupefacientes na barraca de B, o dono da droga, a quem
sempre entregava o produto da venda. O tribunal de 1ª instância, por razões
que não vêm ao caso, não dera como provado que tivesse havido um acordo
entre ambos com vista à venda e à obtenção de lucros. A actuação de A não
podia ser qualificada como de cumplicidade nem como de coautoria. Na falta
desse acordo, o tribunal de recurso entendeu, e bem, que o A tinha praticado o
facto criminoso por si mesmo e condenouo como autor singular material de
um crime de tráfico de estupefacientes. Mas é coautor do crime de homicídio
voluntário o agente que intervém num assalto a uma ourivesaria, onde um dos
companheiros que estava de vigia disparou a matar sobre uma pessoa que
espreitou a uma janela alertada pelo ruído, depois de ter sido acordado por
todos que disparariam contra quem quer que os tentasse impedir de concretizar
o assalto (acórdão do STJ de 13 de Fevereiro de 1991, in Jurisp. Penal, p. 70).
Os casos práticos colocam por vezes problemas que nem sempre recebem
respostas uniformes. Por ex., o de saber se a execução conjunta poderá darse
quando os intervenientes estão longe um do outro ou se a contribuição
executiva para o facto comum pode ocorrer em momentos distintos. Já demos o
exemplo dos dois interessados na morte do seu inimigo comum, que escolhe
caminhos diferentes para chegar a casa. Um dos matadores emboscao num
ponto, o outro esperao no caminho alternativo. Do ponto de vista temporal, as
contribuições podem ocorrer durante toda a fase de execução, i. e, no intervalo
M. Miguez Garcia. 2001
744
compreendido entre o começo da tentativa e a consumação do facto: a
empregada doméstica que, entendendose com o namorado, lhe fornece a chave
do móvel onde este, no dia seguinte, vai buscar uns maços de notas que lhes
não pertencem, enquanto ela distrai a dona da casa no jardim anexo.
Mas a questão principal tem a ver com o comportamento do vigilante,
aquele que, por ex., durante um furto, fica na rua, de atalaia, vigiando,
enquanto outro ou outros transpõem o muro da moradia que todos querem
assaltar. Reparese que dum modo geral o vigilante não levanta suspeitas, quem
está de fora raramente o associa aos que actuam na cena do crime propriamente
dita.
• "Se "ficar à porta" vigiando for uma forma suficientemente decisiva para permitir o
desenlace típico no caso concreto, a imputação penal justificarseá como acontece no
caso em que alguém fica a guardar o dono da loja para que não intervenha, ou a
distrair a vítima para que não impeça o assalto. Mas se "ficar à porta" apenas aumenta
a segurança do outro agente, não sendo determinante o aumento de risco para o
resultado típico, ficaremos no patamar menos grave da cumplicidade. A expressão do
artigo 26º do Código Penal não é impeditiva desta doutrina, como, por vezes, a
jurisprudência tem parecido entender, pois "tomar parte directa na execução" apenas
significa realizar uma conduta a que o resultado típico pode ser imputado no
contexto do acordo criminoso e não, necessariamente, praticar actos de execução
como se de uma autoria singular se tratasse". Prof. Fernanda Palma, A teoria do crime
como teoria da decisão penal, RPCC 9 (1999), p. 592.
• "O vigilante é coautor se isso for necessário para a realização do facto, se portanto dessa
actuação se puder dizer que tem as características de uma função independente nas
tarefas de cada um. Se, por ex., um bando de criminosos leva consigo, pela primeira
vez, um "aprendiz", para o ir iniciando no exercício da "profissão", e o põe a vigiar
num lugar sem importância, o caso será de cumplicidade. A realização do plano não
fica dependente da contribuição do aprendiz. Os outros poderiam actuar, fazendoo
sem ele, ainda que para tanto tivessem que providenciar por um "sentinela" para um
lugar importante. Se o ficar de atalaia representa ou não o papel dum coautor
dependerá das circunstâncias de cada caso." (Roxin).
M. Miguez Garcia. 2001
745
• "O que se postou a uma certa distancia para facilitar o roubo he tanto autor do delito com o
mesmo que roubou." Mello Freire.
• Ficando o arguido na rua a vigiar enquanto os restantes coarguidos penetravam na
residência do ofendido para aí subtraírem diversos bens é coautor do crime de furto,
pois sem a ajuda do vigia, o assalto não se faria jamais nas condições de segurança e
viabilidade (ac. do STJ de 4 de Novembro de 1993, in Jurisp. Penal, p. 74).
O Supremo tem, de há muito, consagrado a tese segundo a qual, para a co
autoria, não é indispensável que cada um dos intervenientes participe em todos
os actos para obtenção do resultado pretendido, já que basta que a actuação de
cada um, embora parcial, seja um elemento componente do todo indispensável
à sua produção. A decisão conjunta, pressupondo um acordo, que, sendo
necessariamente prévio [opinião discutível, por haver quem admita o acordo
sucessivo] pode ser tácito, pode bastarse com a existência da consciência e
vontade de colaboração dos vários agentes na realização de determinado tipo
legal de crime [a consciência e vontade unilateral de colaboração poderão
integrar uma autoria paralela]. As circunstâncias em que os arguidos actuaram
nos momentos que antecederam o crime podem ser indício suficiente, segundo
as regras da experiência comum, desse acordo tácito; já no que diz respeito à
execução, não é indispensável que cada um deles intervenha em todos os actos
ou tarefas tendentes ao resultado final, basta que a actuação de cada um,
embora parcial, se integre no todo e conduza à produção do resultado.
(Acórdão do STJ de 22 de Fevereiro de 1995, BMJ444209; CJ, ano III (1995), p.
221; acórdão do STJ de 18 de Março de 1993, CJ, ano I (1993), p. 195). Numa
decisão do Tribunal Supremo de Espanha pode lerse que o acordo de vontades
entre duas ou mais pessoas para levar a efeito a realização de um plano delitivo
por eles traçado estabelece entre os que se concertam um vínculo de
solidariedade penal que os faz partícipes com igual grau de responsabilidade,
qualquer que seja a função ou tarefa que caiba a cada um dos concertados
(sentença de 31 de Maio de 1985, in ADPCP, vol. LI, 1998, p. 651).
• A nossa lei começa por fazer assentar a coautoria num acordo, mas para alguns autores
bastará — parecenos —, a consciência e vontade da colaboração de várias pessoas
na realização dum tipo legal de crime. Escreve, por exemplo, o Prof. Faria Costa, in
Jornadas, p. 170: "Para definir uma decisão conjunta parece bastar a existência da
consciência e vontade de colaboração de várias pessoas na realização de um tipo legal
M. Miguez Garcia. 2001
746
de crime ("juntamente com outro ou outros"). É evidente que na sua forma mais
nítida tem de existir um verdadeiro acordo prévio — podendo mesmo ser tácito —
que tem igualmente que se traduzir numa contribuição objectiva conjunta para a
realização típica. Do mesmo modo que, em princípio, cada coautor é responsável
como se fosse autor singular da respectiva realização típica. " Cf. também, sobre isto,
Maia Gonçalves, Código Penal, em anotação ao artigo 26º. E as Actas, p. 199.
• Um dos requisitos é portanto a participação directa na execução do facto, conjuntamente
com outro ou outros, num exercício conjunto do domínio do facto, numa contribuição
objectiva para a realização, que tem a ver com a causalidade, embora possa não fazer
parte da execução, como por exemplo, a conduta do motorista do veículo onde se
deslocam os assaltantes dum banco; para a verificação do acordo basta a existência da
consciência e vontade de várias pessoas na realização de um tipo legal de crime,
basta provar a adesão de vontade de cada um à execução do crime (acórdão do STJ de
14 de Junho de 1995, CJ1995, II, p. 230). Na definição da coautoria material é
necessário que se verifique uma decisão conjunta, tendo em vista a obtenção de um
determinado resultado e uma execução igualmente conjunta. Para além disso, e
quanto ao primeiro requisito, basta um acordo tácito, com a simples consciência
bilateral ou plurilateral referida ao facto, com o conhecimento pelos agentes da
recíproca colaboração [nota: há autores para quem é insuficiente a simples
consciência de colaboração], sem que se exija que se conheçam entre si. No que
respeita à execução conjunta, não é indispensável que o agente intervenha em todos
os actos ou tarefas em ordem a ser alcançado o resultado final, antes relevando, que a
actuação de cada agente, ainda que parcial, se integre no todo e conduza
essencialmente à consumação do tipo de legal de crime que se tenha em vista.
Acórdão do STJ de 15 de Outubro de 1998 Proc. n.º 731/98. Existe coautoria material
nos casos em que, sem que haja um acordo expresso, as circunstâncias de facto em
que os arguidos actuaram são reveladoras, segundo as regras da experiência comum,
de um acordo tácito assente na existência da consciência e vontade de colaboração.
Acórdão do STJ de 7 de Outubro de 1998 Proc. n.º 802/98. Havendo acordo prévio
dos agentes das infracções cometidas, e a aceitação prévia, por cada um deles, de
M. Miguez Garcia. 2001
747
todos os actos que se seguissem para o executar, desde que cometidos por um deles,
não importando quem, está integrado o conceito de coautoria — artigo 26º do
Código Penal. Acórdão do STJ de 14 de Abril de 1999, BMJ486110.
• CASO nº 30D: Tratandose de coautoria sucessiva, só a partir do ingresso do agente
se pode equacionar a sua responsabilidade criminal na comparticipação. A, agindo
conscientemente, em conjugação de esforços e identidade de fins, com o propósito de
conseguir lucros, conhecendo as características estupefacientes da heroína e da
cocaína transaccionadas e sabendo que a sua detenção, guarda, aquisição e venda
eram proibidas por lei — passou, a certa altura, a colaborar na actividade que B, C e
D vinham desenvolvendo já há vários meses de venda dessas substâncias. Tendo
havido persistência da actuação conjunta e sendo A uma das principais contempladas
pelos benefícios da acção é de coautoria que se trata e não se simples cumplicidade.
A tinha o domínio do facto. Acórdão do STJ de 22 de Março de 2001, CJ 2001, tomo I,
p. 260.
O acordo dáse em regra antes de começar a execução (realidade que às
vezes aparece associada à palavra Komplott), mas a coautoria, na forma de co
autoria sucessiva, pode ainda ocorrer se a colaboração se dá durante o crime, i. e,
até que o mesmo esteja exaurido — portanto, até ao momento da sua
consumação material. Ex.: A sabe que X tem umas dezenas de televisores num
armazém e resolve furtarlhos. Sozinho, arromba o portão, e traz os aparelhos
para o quintal anexo ao armazém, mas não tem forças para carregálos e conclui
que sem o auxílio dum terceiro tudo irá por água abaixo. Por isso, telefona a B,
que aceita e vai ao local ajudar no carregamento dos aparelhos que A leva para
casa. Quando da intervenção de B, o furto já estava formalmente consumado,
mas a consumação material ocorreu com a contribuição de B, que foi essencial.
A principal questão que aqui se coloca é como responsabilizar o coautor
sucessivo, pois dificilmente se aceitará que a decisão comum tenha efeitos
retroactivos. Estes casos de coautoria sucessiva não devem ser confundidos
com a prática de certas modalidades de furto qualificado, por ex., se A vai à
frente e sozinho arromba a porta de entrada duma loja, onde a seguir se
introduz com B, como tinham combinado, e donde levam o que encontram — o
caso integrase no crime de furto qualificado com introdução por
arrombamento do artigo 204, nº 2, alínea e), que ambos praticam em coautoria.
M. Miguez Garcia. 2001
748
No caso nº 30C pode perguntarse se é acertada a condenação de B
também por um crime de dano. Reparese que o A teve necessidade de rebentar
a gaveta para retirar o dinheiro do seu interior; é evidente que se trata de um
acto que acompanha frequentemente a execução de um crime de roubo,
devendo ter sido considerado por ambos, pelo menos tacitamente, quando
tomaram a decisão de realizarem o assalto. No que respeita ao sequestro, é bem
possível que o B, se fosse posto perante a hipótese de ter que encerrar o M no
escritório concordasse com isso, mas é claro que não se pode afirmar, sem mais,
um acordo tácito, pois a situação não será muito frequente. Podemos partir da
seguinte ideia: se um dos agentes, na execução da tarefa que lhe foi confiada,
usar um meio não previsto aquando da elaboração do plano criminoso, que
porventura preencha os elementos de um outro tipo legal de crime, será de
responsabilizar todos os compartes também como coautores desse novo crime
se tal meio for normalmente previsível e estiver frequentemente interligado à
execução do crime planeado. Nesse caso, não se torna necessário que tenha
havido expressa anuência de todos. (Cf. ainda o acórdão do STJ de 22 de
Fevereiro de 1995, cit.).
VI. Coautoria (continuação). Roubo; homicídio.
• CASO nº 30E: A, B, C e D entraram em acordo para realizarem vários assaltos.
Chegados juntos ao local, os dois primeiros colocaramse de vigia, com armas
empunhadas, e os outros começaram a arrombar as portas. Um dos vigias, A, atirou
sobre a vítima, na realização do plano de disparar sobre quem quer que fosse que os
quisesse impedir de concretizar o assalto.
Sabendo os arguidos C e D que o seu coarguido usava arma de fogo e
prevendo que esta pudesse disparar e atingir, com as consequências mais
graves, inclusive a morte, a quem se opusesse aos seus desígnios, havendo pois
acordo sobre a execução do crime, esses arguidos, embora não usassem arma,
tomaram parte na execução ilícita, sendo autores (cf. o Acórdão do STJ de 13 de
Fevereiro de 1991, BMJ404216).
Na coautoria, como já se disse, exigese que o agente tome parte directa
na execução do facto, por acordo ou juntamente com outro ou outros. São assim
dois os seus requisitos: — acordo com outro ou outros, que tanto pode ser
expresso como tácito, mas sempre se exigirá, como sempre parece ser de exigir,
M. Miguez Garcia. 2001
749
pelo menos uma consciência da colaboração (...) a qual, aliás, terá sempre de
assumir carácter bilateral; — participação directa na execução do facto
conjuntamente com outro ou outros, um exercício conjunto no domínio do
facto, uma contribuição objectiva para a realização, que tem a ver com a
causalidade, embora possa não fazer parte da "execução" (v.g., a conduta do
motorista do veículo onde se deslocam os assaltantes do banco). Estes
elementos do acordo e da actuação conjunta com outro ou outros têm de ser
devidamente entendidos, convindo referir no que respeita ao primeiro, que
parece bastar a existência da consciência e vontade de várias pessoas na
realização de um tipo legal de crime. Assim, basta provar na coautoria a
adesão de vontade de cada um à execução do crime, e aquele que conheceu a
actividade dos outros e colaborou conscientemente nela, executando
parcialmente o crime, é responsável por toda a actividade. (Acórdão do STJ de
14 de Junho de 1995, CJ de acórdãos do STJ).
• Homicídio; suicídio; pacto suicida. À luz do nosso direito penal, é irrelevante a existência
de um “pacto suicida” porque a intervenção activa e exclusiva, causadora de morte
de outrem, ainda que em resultado de um pacto dessa natureza, não é enquadrável
na figura do incitamento ou ajuda ao suicídio do artigo 135º do Código Penal, mas
sim, segundo as circunstâncias concretas do caso, em qualquer das situações do
homicídio voluntário dos artigos 131º a 134º do mesmo diploma. E isso porque os
conceitos de incitamento ou ajuda só podem corresponder às figuras da autoria
mediata ou da cumplicidade, mas nunca às da autoria imediata, como se pode ver
pela simples análise dos artigos 26º e 27º do Código Penal. Comete o crime de
homicidio voluntario simples, do artigo 131º do Código Penal, o arguido que a) Após
se ter encontrado em sua casa com a ofendida (com quem mantinha um namoro
contrariado pelos pais dela) e no decurso de relação sexual que haviam decidido
manter, se muniu de uma faca de cozinha com 16 cm de lâmina e com o comprimento
total de 28 cm. que estava sobre uma mesa de cabeceira do quarto onde se
encontravam; b) Acto contínuo, apontou essa faca à zona do peito da ofendida, onde
a espetou em todo o comprimento da lâmina; c) De seguida retirou a faca da zona
atingida e de novo espetoua mais quatro vezes sucessivas, assim causando a morte
da ofendida; d) Seguidamente espetou a mesma faca em si próprio, com o que
M. Miguez Garcia. 2001
750
provocou três feridas pulmonares; e) E veio depois a ser assistido em hospital onde a
faca lhe foi encontrada na cintura pulmonar (Acórdão do STJ, BMJ413161.
VII. Cumplicidade; ainda o conceito diferencial entre cúmplice e autor. Onde
se fala de acessoriedade limitada, acessoriedade rigorosa e acessoriedade
mínima.
• CASO nº 30F: C e J planearam de comum acordo assaltar uma dependência bancária
em dia que também escolheram. Como carro de apoio, utilizaram um automóvel
pertencente a D, que emprestara a viatura ao C para melhor concretizarem o assalto.
Na execução do plano traçado, C e J fizeramse transportar nesse carro. De seguida
arrancaram em alta velocidade até um sítio a uns 5 quilómetros do banco assaltado,
deixaram o carro e passaram para outro, distanciandose, sempre em grande
velocidade. D agiu livre e conscientemente, com o propósito de ajudar C e J a
concretizar o referido assalto.
O legislador português parece ter renunciado a estabelecer um regime
unitário, destacando a cumplicidade da autoria, como se pode ver dos artigos
26º e 27º do Código. Certo é que, muitas vezes precisaremos de qualificar um
determinado comportamento ou como autoria ou como cumplicidade, o que
não é tarefa de somenos importância, sabendose que a pena do cúmplice é a
aplicada para o autor, mas especialmente atenuada (artigo 27º, nº 2). Para a
teoria do domínio do facto o autor aparece como figura central do acontecimento
típico, mas ao cúmplice cabe, mais modestamente, o papel de figura periférica,
não essencial. Ao cúmplice não se exige que realize os pressupostos da autoria,
ou seja, os elementos típicos correspondentes: o domínio que o cúmplice tem
sobre o facto esgotase com a prestação do auxílio. No momento seguinte
reduzse à posição expectante de quem aguarda os acontecimentos. Isso o
distingue do contributo do coautor que, de algum modo, é condição dos
demais actos e do sucesso do empreendimento (Costa Pinto, p. 278).
• Também já vimos que para os seguidores das teorias subjectivas o decisivo estava na
vontade, sem que se considerasse a forma ou o peso da colaboração no facto. Para
essas teorias, ainda hoje aceites como idóneas para estabelecer a distinção entre autor
M. Miguez Garcia. 2001
751
e cúmplice — especialmente por aqueles que trabalham com a teoria da equivalência
das condições, no plano da causalidade —, autor é quem quer o facto como próprio,
quem o leva até à consumação, actuando com ânimo de autor (animus auctoris);
cúmplice é quem quer o facto como alheio, quem actua com animus socii, por a sua
vontade estar dependente da do autor. A situação históricodogmática em que as as
teorias subjectivas lograram imporse, explica Stratenwerth, tem a ver com a
influência de v. Buri, que era juiz do Tribunal do Reich, onde se adoptou a teoria da
equivalência das condições. Em razão do idêntico valor das condições, incluindo as
postas pelo partícipe, relativamente ao resultado, parecia não existir outra hipótese
de separar o autor e o partícipe, a não ser a direcção da vontade de cada um.
Já agora, recordaremos que a posição tradicional do nosso Supremo
Tribunal em matéria de qualificação entre cumplicidade e coautoria parte da
distinção entre causa dans e causa non dans, devendo ser considerado cúmplice o
indivíduo cuja intervenção, a não ter tido lugar, não evitaria o crime, antes faria
com que, eventualmente, fosse cometido em condições de tempo e modo
diferentes. * Cúmplice é apenas aquele que presta um "auxilium causam non
dans", isto é, aquele cuja intervenção no crime não é essencial. Acórdão do STJ
de 15 de Outubro de 1998, no proc. n.º 764/98.
Para a punição do cúmplice é necessária a prática por outrem de um facto
doloso (que pode ser simplesmente tentado). É o que se dispõe no artigo 27º, nº
1. A cumplicidade é, portanto, uma forma de participação em facto alheio, é
participação de um nãoautor no facto de um autor, exigindose que o facto
tenha atingido um certo estádio de realização para que a participação se torne
punível. É a regra da acessoriedade: para a punição da instigação ou da
cumplicidade supõese que outrem realize uma actividade executiva. Se A, B e
C combinam minuciosamente um assalto mas porque são indolentes não fazem
nada para cumprir o plano comum, não se pode sequer falar de tentativa, não
chega a haver actos de execução do crime planeado, pelo que não é possível a
participação. Se D, para ajudar os assaltantes preguiçosos, conscientemente lhes
tivesse emprestado um pé de cabra para o assalto, não se chegava a uma
situação de cumplicidade punível. No direito português, o princípio da
acessoriedade vale tanto para a cumplicidade (artigo 27º) como para a
instigação (artigo 26º, última parte).
M. Miguez Garcia. 2001
752
Mais precisamente: pressuposto da participação é a existência de um facto
(doloso) típico e ilícito de outrem (regra da acessoriedade limitada), que pode
ser simplesmente tentado: exigese que o facto tenha atingido um certo estádio
de realização e que assim se torne punível.
• A culpa é uma questão pessoal de cada interveniente. Instigador e cúmplice
(com)participam em facto alheio, participam no crime do autor imediato (autor
principal). Este é a figura central dos acontecimentos, os outros são figuras
periféricas. A participação não dá lugar a um tipo de crime autónomo, mas tem
carácter acessório, supondo a prática de um crime alheio e, de acordo com os artigos
26º e 27º, um facto ilícito, cometido dolosamente, o qual, pelo menos, deverá alcançar
o estádio da tentativa. Não se exige, porém, a culpa do "autor principal" (artigo 29º).
A culpa é uma questão pessoal de cada interveniente.
• Houve tempo em que a teoria da participação se construía a partir do robustecimento da
vontade criminosa do agente. O cúmplice (mas sobretudo o indutor) conduziria
outrem a peccare, de forma que o alargamento da punição aos participantes, e em
especial à instigação, passou a encontrar o seu fundamento na corrupção que eles
levam a cabo na pessoa do autor material: o participante conduziria outrem à
delinquência e à culpa. É um raciocínio dentro da chamada acessoriedade rigorosa,
supondo a punição do cúmplice que outrem pratique um facto culposo e não
simplesmente ilícito. Se o autor material do facto fosse um inimputável, a
participação ficava excluída. Mas o Código não permite que a punição do cúmplice
fique dependente da culpa de outrem, como, por último, se retira do artigo 29º, onde
se dispõe que cada participante é punido segundo a sua culpa, independentemente
da punição ou do grau de culpa dos outros participantes. A punição de um nunca
pode ficar dependente da culpa do outro, com o que, actualmente, se rejeitam os
pressupostos da acessoriedade rigorosa.
Hoje em dia, o fundamento da punibilidade da participação (instigação /
cumplicidade) fazse assentar num facto principal com determinadas
características: no primeiro caso, supõese a relevância de se "determinar" outra
pessoa (artigo 26º, última parte), na cumplicidade a de se "prestar auxílio" a
M. Miguez Garcia. 2001
753
outrem (artigo 27º, nº 1). A participação é sempre num facto doloso e ilícito,
como decorre das normas mencionadas, mas que não tem, necessariamente, que
ser culposo (artigo 29º). A participação constróise no âmbito da acessoriedade
limitada, em contraste com as exigências da acessoriedade rigorosa, cujos
contornos passavam por um facto típico e doloso, ilícito, mas sempre culposo.
• Se M, um indivíduo masoquista, induz outrem a baterlhe, fazendoo sangrar, o primeiro
não é partícipe mas é vítima do crime — o bem jurídico violado não é alheio. Falta a
"não identidade" do "instigador" com a da "vítima" do crime (Kühl, p. 671).
• Como o suicídio não é ilícito, o incitamento ou a ajuda ao suicídio não seriam puníveis se
não houvesse o artigo 135º, nºs 1 e 2. É outra consequência da regra da acessoriedade.
No artigo 349º dizse que quem instigar, promover ou, por qualquer forma, auxiliar a
evasão de pessoa legalmente privada da liberdade é punido com pena de prisão até 5
anos. Aqui, quem instiga ou presta auxílio é autor do crime de tirada de presos.
Dispõe o artigo 27º, nº 1, que é punível como cúmplice quem, dolosamente e por qualquer forma,
prestar auxílio material ou moral à prática por outrem de um facto doloso.
Por conseguinte, tem que haver duas pessoas envolvidas: a que pratica o
facto principal (facto doloso e ilícito) e a que, dolosamente, lhe presta auxílio à
sua prática. O dolo é sempre referido à "realização de um facto que preenche
um tipo de crime" (cf. a redacção dos diversos números do artigo 14º),
consequentemente a um facto ilícito, que tanto pode corresponder a um crime
comum, como a um qualquer delito especial, próprio, por ex., o crime de
atestado falso do artigo 260º, nº 1. Não pode, por isso, abrangerse no conceito
de participação o facto justificado, por ex., por legítima defesa, ou o facto
negligente. Rejeitase assim a teoria da acessoriedade mínima, segundo a qual
bastaria que o autor realizasse o tipo de um crime, mesmo que o fizesse ao
abrigo de uma causa de justificação.
Não se pune a cumplicidade tentada, mas punese a cumplicidade na
tentativa. A lei não prevê a cumplicidade tentada, mas punese a cumplicidade
na tentativa, i. e, o auxílio à prática do crime que não chega a consumarse por
circunstâncias alheias à vontade do seu autor. Ex.: A põe à disposição de B a
pistola de que este necessita para matar X. Se o tiro falhar, o auxílio é à prática,
M. Miguez Garcia. 2001
754
por B, de um crime de homicídio doloso na forma tentada (artigos 22º, nºs 1 e 2,
23º, nºs 1 e 2, 27º, nºs 1 e 2, 73º, nº 1, a) e b), e 131º). Pode, no entanto, acontecer
que, de posse da pistola, B não chegue a utilizála — não obstante o auxílio de
A se fazer acompanhar da decisão de ajudar na prática de um crime de
homicídio, A — que fez tudo o que tinha a fazer — não será punido por
cumplicidade, pois B não chegou à fase dos actos de execução.
Objectivamente, a cumplicidade consiste em, por qualquer forma, prestar
auxílio material ou moral à prática por outrem de um facto doloso. Este auxílio
não pode ser entendido como todo e qualquer contributo em favor do crime ou
de quem o comete. Cúmplice é só aquele que presta um contributo real à
actuação do autor, não basta a simples colocação de certos meios para que a
exigência legal de "prestar auxílio" fique preenchida: não basta que alguém
forneça uma manta para o ladrão se resguardar do frio enquanto aguarda o
momento azado de agir. Por outro lado, a conduta do cúmplice não se identifica
com a do autor, já que este está comprometido, em maior ou menor medida,
com a realização típica, sendo punível como autor quem executar o facto: é
assim que se inicia o artigo 26º.
De nada interessa que a actividade ou prestação do cúmplice seja essencial
ao facto do autor: o que releva é que essa actividade ajude o autor a praticar o
facto, mas sem intervir na sua perpetração. No caso nº 30E, D, com o empréstimo
do seu automóvel, auxiliou um projecto criminoso que previamente conhecia,
embora tal projecto se pudesse realizar por outro meio. Isso, porém, não
interessa para o estabelecimento da figura da cumplicidade, mas sim que o
empréstimo do automóvel integrou um auxílio ao facto doloso de que o agente
tinha pleno conhecimento. Acórdão do STJ de 3 de Novembro de 1994, CJ de
acórdãos do STJ.
VIII. Ainda a cumplicidade. Desenvolvimentos.
• CASO nº 30G: A vai cometer um assalto e B, conscientemente, transportalhe a escada
que lhe permitirá aceder ao primeiro andar do prédio onde pretende entrar para aí
deitar a mão a uma avultada quantia.
• A está decidido a realizar um determinado assalto e C fornecelhe a chave para abrir a
porta da casa. No local, A mete a chave na fechadura, mas não consegue fazêla
rodar. Por fim, parte o vidro duma janela e, por aí, entra na moradia, donde subtrai
M. Miguez Garcia. 2001
755
duas valiosas (mais de sete mil contos) peças de ourivesaria. Haverá cumplicidade de
C (artigos 27º, nºs 1 e 2, 73º, nº 1, a) e b), e 204º, nº 2, a) e e), do Código Penal)?
• Suponhase agora que as chaves serviam perfeitamente mas revelaramse supérfluas
porque a porta estava aberta.
Saber se o comportamento do cúmplice deverá ser causa do resultado
criminoso, i. é, se se deve exigir da parte deste um contributo causal para o
crime, ou se basta que o favoreça — eis uma das questões que enxameiam esta
área do direito penal.
Do ponto de vista causal, poderemos concluir como segue:
• i ) Quem auxilia o ladrão levandolhe a escada até ao local do crime (se não for caso de co
autoria) é punido como cúmplice do furto praticado, mesmo que o próprio agente a
pudesse ter levado para a usar com êxito, dispensando a ajuda alheia. A causalidade
existe, já que não são de acolher quaisquer considerações hipotéticas.
• ii ) No caso das chaves que para nada servem não há qualquer contribuição causal para o
resultado criminoso — a correspondente cumplicidade tentada não é punível.
• iii ) O facto de as chaves, no último exemplo, se mostrarem supérfluas, porque a porta
estava aberta, não afasta a causalidade. Do mesmo modo, pode afirmarse a
cumplicidade do vigilante (cuja actuação não deva qualificarse como coautoria),
mesmo que nenhum perigo se detecte durante o assalto.
Para os adeptos da teoria do favorecimento, basta que o resultado
criminoso seja facilitado ou favorecido, por qualquer forma, pelo
comportamento do cúmplice. De facto, no artigo 27º, nº 1, a punibilidade do
cúmplice não depende da comprovação de uma qualquer relação causal. A
prestação de auxílio é dirigida "à prática" do crime alheio. Consumandose o
ilícito, só se pune o auxílio prestado à actividade criminosa, sem dependência
da sua repercussão no resultado. Faltando o resultado, a cumplicidade é ainda
punível, embora só como cumplicidade no crime tentado. Em suma, o resultado
criminoso, não sendo "obra" do cúmplice, não pode, enquanto tal, serlhe
imputado — a punibilidade do cúmplice não está dependente das relações
causais que se suscitem no âmbito da autoria.
M. Miguez Garcia. 2001
756
Comentemos agora a seguinte frase da Profª. Fernanda Palma: "A conduta do cúmplice
aumenta o risco de produção do resultado típico, embora não esteja numa verdadeira
conexão de risco com o resultado típico".
Em geral, poderá sustentarse que o auxílio relevante para a cumplicidade
é só aquele que, comprovadamente, aumentou o risco para a vítima e,
consequentemente, as possibilidades de sucesso do criminoso (cf. Klaus
Geppert, Die Beihilfe). Só quem dolosamente melhora as condições de êxito do
criminoso e aumenta o risco da vítima é que participa numa agressão ao bem
jurídico. Consequentemente, só será cúmplice quem com o seu auxílio
possibilitar ou intensificar a lesão do bem jurídico ou facilitar ou assegurar a
prática do crime, desde que esse papel se não integre na (co)autoria ou na
instigação (cf. Lackner, p. 219). E esse auxílio pode acontecer "por qualquer
forma", dando conselhos ou actuando, tanto faz — a lei não especifica os meios
que podem constituir um auxílio material (arranjar uma ferramenta,
proporcionar uma ocasião favorável ou o transporte para o local do crime, ou
ficar a vigiar, enquanto esta actuação não signifique uma parcela da execução
do crime) ou moral (o remover dos últimos escrúpulos do ladrão relativamente
à planeada actuação, o dar conselhos sobre a forma de agir no local, a promessa
dum álibi, o cimentar da decisão criminosa, a garantia de ajuda por ocasião da
fuga proporcionando alimentação ou abrigo). Diz um partidário da teoria do
aumento do risco: Se com o seu comportamento o cúmplice aumentou o risco,
que se realizou na correspondente lesão do bem jurídico, consumouse então a
cumplicidade (artigo 27º, nº 1). Se não se puder comprovar esse aumento de
risco, o que poderá existir é uma cumplicidade tentada, que todavia não é
punível (cf. Otto, p. 305). O fundamento da punição da cumplicidade não está
na causação do resultado criminoso mas na intensificação das chances de ele
ocorrer, com o consequente aumento do risco para o bem jurídico atingido.
• Responde como cúmplice aquele que acompanha o autor sabendo que ele vai praticar o
crime de homicídio mas não o determinou a executar os respectivos factos, nem
tomou parte directa na sua execução, prestando porém intencionalmente ao autor o
auxílio da sua presença apoiante e recebendo posteriormente uma compensação
pecuniária, previamente combinada, por esse auxílio. Acórdão do STJ de 1 de
Fevereiro de 1989, BMJ384371.
M. Miguez Garcia. 2001
757
• Serão cúmplices os dois clientes dum bar que, ao entrarem, deparam com uma cena de
violação prestes a acontecer e que logo começam a bater palmas, em apoio do
violador? É o mesmo que perguntar se as atitudes de solidariedade e de apoio são
autênticas ajudas, capazes de fortalecer a decisão de cometer o crime como forma de
auxílio moral.
• De qualquer modo, o auxílio, para ser cumplicidade, não poderá implicar da parte do
participante a prática de qualquer acto de execução (Stratenwerth, p. 250; Figueiredo
Dias, p. 85). Se o agente vai além do auxílio simples e, tomando uma decisão conjunta
com os restantes comparticipantes, pratica um acto necessário de execução do plano
criminoso, então, tornase ele próprio coautor do facto. (Acórdão do STJ de 5 de
Abril de 1995, BMJ4467). O cúmplice, ao contrário do autor, não executa o facto, por
si ou por intermédio de outrem, nem toma parte directa na sua execução, nem
determina outra pessoa à prática do facto, pois somente favorece ou presta auxílio à
execução, ficando fora do facto típico. (Acórdão do STJ de 16 de Janeiro de 1990, BMJ
393241). Autoria e cumplicidade constituem formas de (com)participação criminosa
que se distinguem entre si pelo modo da sua realização e pelo grau da sua gravidade
objectiva. Nesta última, como se alcança do cotejo entre os artigos 26º e 27º do Código
Penal, o agente fica fora do acto típico, apenas favorecendo ou prestando auxílio à
execução. Porém, se aquele ultrapassar o mero auxílio e praticar uma parte típica da
execução do plano criminoso, ou se participar mesmo em determinada parcela dessa
execução, não poderá deixar de ser havido também como autor do facto ilícito. À luz
destes pressupostos, em crimes do tipo dos de tráfico de estupefacientes, é difícil a
qualquer dos comparticipantes escapar ao rótulo de autor ou permanecer fora do
conceito de autoria, dada a dimensão e amplitude da previsão das respectivas
normas incriminadoras. 0406198 Processo n.º 235/98. Cf. também o acórdão do STJ
de 4 de Junho de 1998, BMJ4787.
Outra questão controversa: a de saber se um comportamento corrente,
idêntico a tantos outros do dia a dia — por ex., a venda dum veneno ou duma
faca numa loja comercial, sabendo o vendedor que o objecto vai ser utilizado
num homicídio —, pode constituir uma cumplicidade punível. Noutros sectores
M. Miguez Garcia. 2001
758
da vida, pensese ainda em acções de conteúdo aparentemente neutro, como a
abertura duma conta bancária para facilitar o branqueamento de capitais. Ou
quando alguém, conscientemente, fornece gasolina aos assaltantes dum banco
que procuram a fuga de carro. Um dos casos mais antigos deste género foi
julgado pelo Tribunal do Reich em 1906, pondose a questão de saber se o
fornecimento de pão ou de vinho a um bordel favoreceria os comportamentos
imorais que ali tinham lugar (Schünemann GA 1999, p. 224). Decidiuse que o
fornecimento do vinho era uma cumplicidade, mas não o do pão, porque só o
vinho tem as qualidades afrodisíacas capazes de fomentar as actividades
próprias duma casa como aquela.
• Um caso destes apareceu nas provas de admissão ao CEJ de 15 de Abril de 1993.
Atormentado pelo ciúme, Ângelo vem alimentando em silêncio o propósito de matar
Boavida. Procurou já abatêlo a tiro (...). Dias depois, passou pela drogaria do seu
amigo Diamantino e pediu uma embalagem de certo veneno para ratos, que sabia ser
um composto de arsénio, cujas propriedades mortíferas, também para o homem, bem
conhecia, e acrescentou entre dentes, naquele jeito próprio dos tímidos, que era para
“uma ratazana" que aparecia lá pela sala de mesa. Diamantino, que já se havia
apercebido da ciumeira que afligia o amigo e logo admitiu a possibilidade de Ângelo
pretender matar com aquele veneno (cujas aludidas propriedades sobejamente
conhecia) o referido Boavida, satisfez o pedido: nem lhe desagradava que a sua
suspeita se concretizasse (Boavida já lhe tinha frustrado uma conquista). Boavida veio
a morrer num acidente, quando a ambulância em que era transportado ao hospital,
na sequência de intoxicação provocada por Ângelo, se despistou. Mas a autópsia
revelou que, se assim não fora, Boavida morreria inevitavelmente em consequência
da intoxicação.
Alguns autores transportam para aqui os pressupostos da adequação social
ou da adequação profissional, para limitarem a aplicação da fórmula legal "prestar
auxílio". Outros colocam a solução predominantemente no dolo: ao lado do
saber (momento intelectual do dolo) será necessário, para que haja dolo de
cúmplice, que este queira, também ele, o resultado criminoso (elemento
volitivo), não bastando uma consciência segura da ocorrência desse resultado.
Outros autores exigem a criação dum risco desaprovado pela ordem jurídica,
deslocando o problema para as questões de imputação. Por ex., a venda do
M. Miguez Garcia. 2001
759
veneno para os ratos tem que, comprovadamente, aumentar o risco do
resultado criminoso e este deverá ser desaprovado pela ordem jurídica.
Outra é a questão de saber se cúmplice e autor do facto têm que,
forçosamente, comunicar um com o outro (cumplicidade encoberta). Parece
que não. Se a fidelíssima mulher de A sabe, por mero acaso, que B, seu
idolatrado marido, vai dar um golpe em determinada moradia, e sozinha,
temendo pela liberdade e o bem estar do esposo, toma o encargo de se pôr a
vigiar as imediações enquanto ele, sem nada saber da presença da mulher, se
introduz para furtar, é manifesta a cumplicidade.
Auxilium post delictum. Já não é possível a cumplicidade se o crime está
não só formalmente consumado — como por vezes é possível e acontece no
furto, por ex. —, mas também terminado, i. e, exaurido. Qualquer "auxílio" será
então elemento típico de uma disposição autónoma, ou do crime do artigo 232º
(auxílio material), ou do artigo 231º (receptação) ou do artigo 367º
(favorecimento pessoal), que é uma forma de encobrimento. Pensese no caso
em que A, para ser simpático com B, que já lhe prestou favores semelhantes,
guarda consigo o ouro que este acabara de furtar. Ou quando A, sabendo que B
é autor dum furto em determinado local, onde, na atrapalhação da fuga, deixou
vestígios que imediatamente o comprometem, trata de eliminar esses vestígios,
subtraindoos à investigação policial.
Auxilium in delicto. É porém possível a cumplicidade sucessiva, que
ocorre quando o crime, já formalmente consumado, ainda não se encontra
exaurido, terminado. Se para ajudar o ladrão que foge com o produto do furto
A se lança ao proprietário das coisas, impedindoo, como este pretendia, de
perseguir o criminoso, A será cúmplice do crime cometido. É de roubo
impróprio (artigo 211º) a hipótese, de algum modo inversa a esta, de alguém se
atirar ao ladrão para, em flagrante delito de furto, o obrigar a restituir as coisas
subtraídas, reagindo este com violência.
• Auxilium ante delictum. É possível haver cumplicidade na fase preparatória do facto
principal, a qual porém só será punível se o crime se consumar, ou se, ao menos, tiver
começo de execução punível (artigo 23º, nº 1).
É punível como cúmplice quem, dolosamente e por qualquer forma,
prestar auxílio material ou moral à prática por outrem de um facto doloso
(artigo 27º, nº 1). Falase aqui de um duplo dolo — com dois pontos de referência:
M. Miguez Garcia. 2001
760
o dolo do cúmplice a respeito do seu próprio auxílio e da correspondente
aptidão para favorecer o crime do autor; e o dolo do cúmplice a respeito do
facto principal. O dolo do cúmplice é dolo de consumação dum crime doloso.
Mas não é necessário que o cúmplice tenha do crime que favorece um
conhecimento perfeito, basta que conheça os seus elementos essenciais. Háde
notarse, para melhor compreensão destes fenómenos, que o instigador induz
outrem a praticar um determinado crime — por vezes, estáse mesmo perante
um determinado resultado criminoso. O cúmplice, pelo contrário, contribui de
modo difuso para o crime, não ambiciona, de modo necessário, a sua realização,
mas sabe e aceita que o seu comportamento se pode manifestar num crime,
mesmo que nada mais faça.
• CASO nº 30H: Em noite de Agosto, A esforçase durante horas por abrir uma caixa
multibanco e alcançar as notas que estão ali tão perto. Quando, já sem forças, recolhia
as ferramentas para se ir embora de mãos a abanar, aparecelhe B, que de tudo se
tinha apercebido, e que lhe fornece uma saborosa bebida fresca. A, com as forças
retemperadas, retoma o trabalho e consegue apropriarse do dinheiro.
Quem sustentar que a cumplicidade existe desde que o resultado
criminoso seja facilitado ou favorecido, por qualquer forma, pelo
comportamento do cúmplice, tem aqui um bom exemplo: o êxito criminoso não
depende completamente da ajuda do cúmplice, mas foi por este facilitado. Mas
a solução já seria diferente se o ladrão não estivesse "esgotado".
IX. Instigação. Instigador e autor do facto principal têm que comunicar entre
si? Ou basta qualquer meio de influenciar outrem psiquicamente? Como
tratar aquelas situações em que um proporciona a outro uma oportunidade
favorável para este cometer um crime?
• CASO nº 30I: A acaba de assaltar um banco e é perseguido por B, que o segue, a correr,
uns 20 metros atrás. Adivinhase que, não tarda, B acabará por agarrar o ladrão do
banco. Para evitar o pior, A pega num maço de notas trazidas do banco e atirao para
o chão, certo de que B não vai desprezar a oportunidade de encher os bolsos,
deixandoo em paz, até porque mais ninguém viu a cena.
M. Miguez Garcia. 2001
761
Determinar outra pessoa à prática do facto (artigo 26º, última parte)
significa criar nela a decisão de o cometer (Hervorrufen des Tatenschlusses). Mas
quando se pode dizer que se determina outra pessoa à prática de um crime?
A figura da instigação é fruto da dogmática alemã que, no que toca à
causalidade do comportamento do indutor, se encontra dividida.
Nas acções humanas apresentamse muitas vezes causalidades de natureza psicológica, ou seja,
não de acontecimento para acontecimento, mas de pensamento para acontecimento
(Cesare Segre, Introdução à análise do texto literário, p. 145).
Na definição do que seja "determinar", alguns autores colocam bem
poucas exigências, bastandolhes, para o preenchimento do tipo objectivo da
instigação, qualquer meio de influenciar outrem psiquicamente, não havendo
necessidade de comunicação directa do instigador com o instigado. Em
princípio, qualquer meio é idóneo para a indução, desde que envolva uma
influência psíquica, escreve Jescheck, AT, p. 622. Atendese à contribuição do
instigador para a decisão de cometer o crime recorrendo à causalidade
("condicio sine qua"). Será, por isso, suficiente um simples conselho, uma mera
indicação ou sugestão, um desafio, um palpite ou um qualquer estímulo quanto
à oportunidade de cometer o delito, a promessa de uma recompensa, um
pedido, ou a expressão dum desejo. Como se vê, incluemse aqui
comportamentos concludentes, como são as ofertas e as promessas. Também se
indicam outras formas de determinação concludentes, como pode acontecer em
casos de dissuasão apenas aparente, ou fazendo gestos cujo significado não
deixa dúvidas a ninguém. Nesta perspectiva, em que os meios são indiferentes,
não se colocarão obstáculos de monta à aceitação da instigação indirecta, na
forma de indução à indução do facto principal. (29)
• É discutível que a omissão seja forma adequada de influenciar psiquicamente.
Mas será mesmo suficiente qualquer comportamento que leve a ideia do
crime ao seu autor? Ou será necessário, no mínimo, que a influência anímica, o
influxo psíquico do instigador sobre o instigado seja acompanhado por um
contacto recíproco — por uma qualquer forma de comunicação, por ex., verbal,
29
) Da exclusão da punibilidade da instigação à instigação, na perspectiva do Autor do Projecto, cf. a
acta da 12ª sessão, Actas, p. 196: "quando, no nº 3, se fala em "directamente", pretende-se excluir a
punibilidade de uma instigação à instigação". Cf., mais adiante, o caso da boite Meia Culpa.
M. Miguez Garcia. 2001
762
ou até por uma espécie de pacto entre ambos? Adoptandose uma fórmula
restritiva, então, no exemplo do ladrão que atira o maço de notas para serem
apanhadas por quem o persegue não haverá instigação a um crime, ainda que a
situação criada seja suficientemente estimulante para levar o perseguidor a
abandonar os seus propósitos iniciais. Mas, se aceitarmos que os meios
indutivos são indiferentes, como fazem os partidários da teoria da causação, o
ladrão será instigador do crime contra a propriedade cometido pelo
perseguidor que cai na tentação de deitar a mão às notas com intenção de se
apropriar delas, sabendoas alheias.
• Alguns seguidores das teses restritivas consideram, por ex., que só se justifica aplicar ao
instigador a pena do autor do crime principal se a sua falta de domínio da situação —
na medida em que o instigador se mantém distanciado do crime — for compensada
por uma influência especialmente intensa sobre o criminoso: o instigador teria que
acender o rastilho para a execução do crime, só então é que o impulso dado com uma
determinada finalidade chegaria para o desencadear.
Ainda assim, mesmo quando instigador e autor do crime comunicam
entre si, nem todos os meios de "determinar" outra pessoa deverão ser aceites
como idóneos. Se por ocasião do atropelamento dum peão A diz para o
condutor que se "raspe" senão a chuva intensa dálhe cabo do fato novo — não
é possível falar sequer de uma influência sobre a vontade, as palavras
empregues têm uma natureza indutora bem mais fraca do que a situação criada
na perseguição do ladrão de bancos. Questão pertinente, a este nível, é a de
quem dá conselhos na área do direito, por ex., os advogados. E se um
indivíduo, F, que acaba de cometer um crime de violação se vira para outro, C,
que está ao lado e lhe diz: "também queres?", proporcionandolhe uma
oportunidade favorável, que o pode fazer cair em tentação? Parece que não
haverá instigação na medida em que o primeiro não quis influenciar a vontade
do C. E se o criminoso está necessitado de dinheiro para fugir para o estrangeiro
e alguém lhe diz: "então tens que assaltar um banco!" São casos (casoslimite)
em que é legítimo pôr a questão duma "instigação" relevante.
Quem não poderá ser instigado é o que já estiver determinado a cometer o
facto concreto, o omnimodo facturus: não se abrem portas que já estão
escancaradas (F. Haft, p. 206).
M. Miguez Garcia. 2001
763
• A procura convencer B a matar C, indivíduo odiado por meio mundo, mas B já tinha
tomado a decisão de o eliminar. A instigação tentada não é punível.
Não longe deste tema estão aquelas situações em que o comportamento de
alguém corresponderá à "última gota que faz transbordar o copo", se por ex., A
estava "quase" decidido a cometer o crime, mas só o faz quando B, com a sua
insistência, lhe remove os últimos escrúpulos — a mostrar que as questões de
causalidade serão então cada vez mais ténues. Também é razoável afirmar que
quem ainda hesita ou faz depender a prática do facto de uma condição, por
exemplo, uma recompensa, pode ser instigado, já que na instigação se trata de
criar uma vontade de praticar o facto até aí não existente (Stratenwerth, p. 246).
Mesmo o indivíduo cuja inclinação para o crime é conhecida poderá sofrer uma
influência decisiva por parte de outrem, que então será instigador do crime
cometido.
Suponhase agora que A está decidido a cometer um roubo, mas B
convenceo a ir armado. A estava decidido (omnimodo facturus) a cometer um
crime de roubo simples (artigo 210º, nº 1), antes da intervenção de B.
Aconselhado por este, acabou por cometer um roubo agravado ao levar consigo
uma pistola proibida, municiada e pronta a disparar, que exibiu à vítima (artigo
210º, nºs 1 e 2, b ), e 204º, nº 2, f ). Como castigar B? Pela instigação dum crime
de roubo agravado, foi a resposta dos tribunais alemães: o homem por detrás
foi além da decisão do ladrão e induziuo a um crime mais perigoso na sua
forma de execução e cujo conteúdo de ilícito é bem mais elevado. Mas a
conclusão foi muito criticada: o facto de simplesmente se exceder a decisão
criminosa não significa determinar outra pessoa a cometer o crime, por isso se
não justifica a condenação pelo roubo agravado. Como a lei sanciona
autonomamente o emprego de arma proibida, a instigação será ao crime de
ameaça (artigo 153º, nº 1) e ao crime do artigo 275º, nºs 1 e 3 (armas). Objecto de
reflexão será, a mais disso, a possibilidade de castigar B por cumplicidade
(psíquica) no roubo (simples).
Na hipótese inversa, a do ladrão que estava decidido a cometer um roubo
com arma, que o B convence a não levar, parece haver uma diminuição do risco,
não se justificando a punição de B. O que se justifica é a aplicação da teoria da
imputação objectiva à participação, como se vê (cf. Kühl, p. 688).
M. Miguez Garcia. 2001
764
• Os autores alinham ainda soluções para outras hipóteses de "mudança" induzida: troca de
agentes do crime, alteração do objecto ou dos motivos do crime, câmbio de
modalidade criminosa, etc.
Outra é a questão de saber se se pode castigar a tentativa de instigação
(prevista no § 30, I, do StGB, mas que não foi adoptada no direito português),
ou se tal conduta pode integrar alguma forma (psíquica) de auxílio. A faz tudo
para que B, sozinho, vá assaltar um banco que lhe indica, mas B rejeita a
proposta e mantémse tranquilo em casa: tentativa de instigação, não punível.
A questão da concretização do crime principal e do seu autor. Elementos
subjectivos da instigação; duplo dolo. A instigação relacionase com um facto
concreto e com uma pessoa determinada, quanto muito com um círculo de
pessoas determinado. O instigador determina outra pessoa, uma certa pessoa, a
praticar um crime concreto. Não sendo este o caso, pode ainda configurarse,
em certos termos, a instigação pública a um crime, como se prevê e pune no
artigo 297º, nº 1. Mas também se não pune a tentativa desta forma autónoma de
instigação.
No que toca à concretização (individualização) do facto principal, bastará
a simples indução ao cometimento do crime e as indicações abstractas do tipo
de ilícito a executar, do género: "tens que deitar a mão a umas centenas de
contos". Entendese, por outro lado, que não tem que ser concretizado nem o
lugar e o tempo do crime, nem a pessoa da vítima.
O dolo do instigador deverá, por um lado, abranger o seu próprio
comportamento indutor, a determinação de outra pessoa ao crime; por outro,
deverá dirigirse à consumação dum facto doloso: "quem, dolosamente,
determinar outra pessoa à prática do facto" (artigo 26º). Mas isso não obsta a
que se puna a instigação dum crime que não passou da tentativa.
O dolo do instigador deverá abranger todas as circunstâncias que tornam
o facto punível. Incluemse aqui certos elementos subjectivos específicos — o
instigador tem que saber, por ex., que o executor de uma burla por si induzido
actua com intenção de obter enriquecimento ilegítimo, ainda que esta intenção
não seja exigida ao instigador. O dolo do instigador determina a medida da
correspondente responsabilidade pelo desvalor do crime cometido. Indo o
criminoso com o seu crime além daquilo a que o instigador o tinha querido
determinar não se poderá responsabilizar o instigador por esse excesso. Se a
M. Miguez Garcia. 2001
765
instigação foi a um furto e o instigado usa de violência sobre a vítima para lhe
arrancar a carteira, circunstância que aquele não representou nem quis, a
punição do instigador não pode passar do furto. Se o instigado comete um
crime diferente, não se pode responsabilizar o indutor como instigador dele,
por não o ter querido. Se a coisa não chega a ser subtraída, como queria o
indutor, mas o induzido vai comprála ao ladrão, tornandose autor duma
receptação, não pode condenarse o primeiro pela correspondente instigação —
faltalhe o dolo relativamente ao crime cometido e a tentativa de instigação ao
furto não é punida, como já se observou.
A questão do dolo do instigador está ligada aos casos de error in persona,
que aparecem frequentemente nos testes escritos e que apreciamos noutro
lugar. Recordese o caso RoseRosahl e o outro, mais recente, conhecido por
HoferbenFall ou RoseRosahl II.
Age ilicitamente quem instiga o instigador? A instigação indirecta. Na
prática há muitos casos de instigação em cadeia. Em certas condições será
instigador quem induz outrem a instigar um terceiro à prática do facto e este
tem, pelo menos, começo de execução. Na "instigação em cadeia", o instigador
nela integrado não necessita saber nem o número, nem o nome dos escalões
intermédios, nem o nome do autor principal, bastandolhe uma representação
concreta do facto principal (Jescheck, AT, p. 622). O § 30, I e II, do StGB, que
trata da tentativa de participação, prevê também a figura da "participação em
cadeia" (cf. Stratenwerth, p. 364; Jakobs, p. 670). Cf., entre nós, o acórdão da
Relação de Lisboa de 10 de Julho de 1985, CJ, ano X, tomo 4, p. 158).
• O caso mais conhecido de "instigação à instigação" parece ser o da boite "Meia Culpa", de
Amarante. O dono do "Diamante Negro" pretendeu, em recurso, que por nunca ter
contactado directamente com os autores materiais a sua intervenção só poderia
configurar instigação a uma instigação, o que é geralmente rejeitado como
modalidade de comparticipação criminosa (vd. Eduardo Correia, Direito Criminal
— Tentativa e Frustração — Comparticipação Criminosa, p. 154). O acórdão do STJ de 27
de Janeiro de 1999 (30) entendeu que a intervenção desse recorrente "não foi a de mero
instigador que se limita a incentivar ou a aconselhar alguém a decidirse pela prática
de uma acção ilícita. Aqui, toda a concepção e idealização da acção lhe pertencem. Ele
30
) Que aqui citamos por consulta a uma fotocópia do processo nº 1146/98.
M. Miguez Garcia. 2001
766
é a inteligência e a vontade da acção e dos resultados. Ele detém desde o início até
final o completo domínio da acção criminosa". No entendimento vertido pelo
Supremo, não tendo havido contacto directo entre o mandante inicial e os executores
materiais do crime, do que se trata é de autoria mediata. No contributo de Ana
Catarina Sá Gomes para Casos e Materiais de Direito Penal, p. 331, pode lerse um
resumo da matéria de facto saída do julgamento e um comentário breve dessa
solução jurisprudencial. Aí de diz, acertadamente, que contrariamente ao que foi
defendido pelo STJ, "o facto de o mandante inicial ter planeado com algum pormenor
a execução do crime não o transforma, por esse motivo, em autor mediato do mesmo.
Autor mediato não é aquele que planeia, mas aquele que, de alguma forma, domina a
vontade do autor material. Ora, no caso em análise, a vontade de praticar o crime,
embora induzida, é dos autores materiais do facto criminoso. Quem detém a vontade
de acção são os autores materiais, e não quem planeou tal acção. O mandante apenas
criou a vontade de praticar o crime aos autores materiais, embora de acordo com um
plano que arquitectou. É assim de verdadeira instigação a actuação do mandante
inicial." Como, no caso, o mandante instigou outra pessoa a praticar o crime, "tendo
este último, em cumprimento do combinado, concluído o contacto com os autores
materiais do crime, que o executaram", tratarseá de uma verdadeira "instigação
indirecta ou, dito por outras palavras, de uma coinstigação", ainda admitida pela
parte final do art. 26º do Cód. Penal e, como tal, punível. No fundo, o que importa "é
que se consiga estabelecer o nexo causal entre a acção do instigador inicial
(determinação) e a do autor material (prática do facto)".
• Instigador. Instigado. A instigação não é autónoma — não se pune a tentativa de
instigação no nosso direito — e só é ilícita e punível quando do lado do instigado
houver pelo menos "começo de execução". O artigo 26º, in fine, tornaa dependente de
uma execução por outro iniciada. Mas o instigador não executa o facto, limitase a
"determinar" outra pessoa. O chamado "oferecimento para delinquir" não está
previsto no Código Penal português, mas consta do § 30, correspondente ao antigo §
49 a) do StGB alemão, onde se punia quem, baldadamente, procurava determinar
outrem ao crime, se oferecia para a sua prática, aceitava esse oferecimento ou com
M. Miguez Garcia. 2001
767
outros se concertava para a prática dele. A disposição inspirouse na oferta para
matar Bismarck, feita ao arcebispo de Paris por um caldeireiro belga e tomou o nome
deste, ficando a ser conhecida como "parágrafo Duchesne". Cf. a Acta da 13ª sessão,
Actas, p. 206. Por outro lado, não existe uma instigação negligente! O dolo do
instigador deve ser dirigido à consumação do facto pelo autor material, mas pode
acontecer que o crime fique no estádio da tentativa. Haverá então instigação de um
crime tentado: A pede a B que mate C. B cumpre o prometido, mas falha a pontaria.
X. Os casos de excesso e de erro
• CASO nº 30J: A convence T a subtrair uma pulseira de ouro que B tinha deixado à
vista, com outras coisas, na mesa do café, quando momentaneamente dali se
ausentou. Como B entretanto regressou e colocou a pulseira no braço, T resolveu usar
a violência para dela se apropriar, o que conseguiu.
Punibilidade de A?
Havendo excesso, porque, por ex., o autor imediato foi além do que o
instigador queria, este só responde na medida do seu dolo, ao menos eventual
—, ressalvada a responsabilidade por negligência nos termos gerais. Ex.: a
intenção era matar A, mas o executor rouba também a vítima (Figueiredo Dias,
p. 71). Para um caso de alteração do plano criminoso o ac. da Relação do Porto
de 24 de Maio de 1989, BMJ387648. Quanto ao error in objecto vel in persona do
autor imediato (irrelevante para este), há quem o trate na Alemanha como
aberratio ictus na esfera do instigador, cujo dolo não cobria o objecto atingido
pelo autor do facto (consequência: tentativa de instigação, § 30 I), e quem o
declare irrelevante para ambos.
Na estrutura do Código Penal português, a instigação parece ser uma
forma de participação que no artigo 26º, última parte, se equipara às diversas
formas de autoria (imediata, coautoria, mediata) apenas para efeitos de
punição. Aliás, o Código não diz quem é autor, mas sim, tãosó, quem é punível
como autor (Valdágua, p. 22).
M. Miguez Garcia. 2001
768
XI. A chamada participação necessária.
Certos crimes contam com diversos personagens, em diferentes papéis,
mas só um é punido. Na usura (artigo 226º), autor é quem explora situação de
necessidade do devedor, com a particularidade de ser o comportamento deste
que, em princípio, faz desencadear o crime. Outro caso a ter em consideração é,
por ex., o abuso sexual de crianças ou de menores dependentes (artigos 172º e
173º). Ou a tirada de presos (artigo 349º). A lei, todavia, pune apenas a
actividade de um desses intervenientes: o burlado nunca será punido, nem
mesmo em situações de extrema ingenuidade perante a lábia do burlão (artigo
217º, nº 1). Suponhase, porém, que o educador (cf. o artigo 173º) só pratica um
acto sexual de relevo com menor de 17 anos que lhe havia sido confiado para
educação porque este o instigou. Diz Welzel (Das Deutsche Strafrecht, 11ª ed., p.
123) que o menor, não obstante tratarse de um sujeito imputável (artigo 19º),
não podendo ser autor também não há razões para o apontar como instigador,
já que o tipo de ilícito lhe outorga um privilégio que tem a ver com a sua
situação pessoal de dependência. As coisas passamse de modo diferente no
favorecimento de credores (artigo 229º, nº 1). Como este preceito visa proteger o
conjunto de credores, qualquer um deles pode ser instigador do favorecimento.
Outro caso de instigação necessária pode verse no artigo 134º, nº 1 (homicídio a
pedido da vítima). No artigo 349º, alínea b) punese quem instigar, promover
ou, por qualquer forma, auxiliar a evasão de pessoa legalmente privada da
liberdade. É a chamada tirada de presos. Quem instiga a evasão é autor do crime
do artigo 349º e é punido com pena de prisão até 5 anos, mas o evadido, mesmo
que tenha promovido a evasão (mesmo que a tenha instigado), é punido com a
pena do artigo 352º (pena de prisão até 2 anos).
XII. (omissis)
XIII. Participação em crime agravado pelo resultado
• CASO nº 30L: A pretende dar uma sova na pessoa de B e para isso utiliza uma
matraca, atingindoo, porém, na cabeça e produzindolhe aí lesões que foram a causa
directa da morte de B. A não tinha sequer previsto o evento mortal como
consequência da sua actuação. Acontece que o A tinha sido induzido por C a dar a
M. Miguez Garcia. 2001
769
sova no B, mas o C, quando convenceu o outro, nem sequer tinha pensado em que o
B podia morrer.
Punibilidade de A e C ?
A ofendeu B, voluntária e corporalmente (artigo 14º, nº 1), ficando desde
logo comprometido com o disposto no artigo 143º, nº 1, sem que se verifique
qualquer causa de justificação ou de desculpação. Como A ofendeu o corpo de
B, e este veio a morrer, põese a questão de saber se este resultado, que não
estava abrangido pelo dolo inicial de A, deve ser imputado à actuação deste,
agravando o crime, nos termos do artigo 145º. A agravação exige a imputação
do evento ao agente sob os dois aspectos da imputação objectiva e da
imputação subjectiva: artigo 18º. Ao desvalor do resultado (no exemplo, a
morte) acresce o desvalor da acção que se traduz na previsibilidade subjectiva e
na consequente violação de um dever objectivo de cuidado (negligência).
As dificuldades relacionamse mais exactamente com a instigação nos
crimes agravados pelo resultado e portanto com a responsabilidade de C, que
convenceu o autor principal a dar a sova no B, embora sem ter, também ele,
pensado nas consequências mortais. Como se sabe, a instigação deverá dirigir
se à consumação dum facto doloso: "quem, dolosamente, determinar outra
pessoa à prática do facto" (artigo 26º). No caso concreto, só o ilícito base, de
ofensa à integridade física, é que foi praticado dolosamente, a morte só poderá
ser imputada a título de negligência.
Ponderese a solução do concurso (cf. J. Damião da Cunha, RPCC 2 (1992),
p. 579): C será instigador do crime fundamental doloso e autor do crime
negligente, se, relativamente a este, estiverem reunidos os correspondentes
pressupostos (previsibilidade subjectiva e violação do dever de cuidado). E
pensese — 2ª hipótese de trabalho — em que, no artigo 18º, a expressão
"agente" pode entenderse como remetendo para qualquer das formas de
"comparticipação" admissíveis (artigos 26º e 27º). "No fundo, pois, a questão é a
de saber qual a interpretação a dar à palavra "agente" (autor ou
comparticipante) ... em função do papel que desempenha nos quadros do CP...
aceitando a possibilidade de comparticipação no âmbito do artigo 18º" (ainda J.
Damião da Cunha, e JA 1989, p. 166).
M. Miguez Garcia. 2001
770
XIV. Comparticipação; “mais duas pessoas”; bando; associação criminosa.
• O "bando" é um agrupamento de pessoas conexionadas, mais emotiva que racionalmente, à
volta da realização mais ou menos persistente e ronceira da actividade criminosa,
com vista a determinado objectivo, aproveitando fundamentalmente em cada
momento, a experiência e a capacidade de cada elemento individual e colectivamente
considerados. Não se exige na sua constituição ou existência, a organização típica da
associação criminosa, que a pressupõe bem definida, nem se contenta, como a co
autoria, com a mera comparticipação. Como também não se exige que o grupo que o
integre se dedique apenas á actividade criminosa. Outra actividade do grupo, e até
lícita, pode servir para a realização da actividade criminosa, ou para a camuflar. A
qualidade de membro de uma família não afasta a estrutura criminal do bando, já que
desviada aquela das suas finalidades próprias, pode até servir para melhor e mais
facilmente, se agregar e constituir tal figura penal. 27021997 Processo nº 908/96 3ª
Secção.
• A figura do bando visa abarcar aquelas situações de pluralidade de agentes actuando "de
forma voluntária e concertada, em colaboração mútua, com uma incipiente
estruturação de funções", que embora mais graves e portanto mais censuráveis do
que a mera coautoria ou comparticipação criminosa, não são de considerar
verdadeiras associações criminosas, por nelas inexistir "uma organização
perfeitamente caracterizada, com níveis e hierarquias de comando e com uma certa
divisão e especialização de funções de cada um dos seus componentes ou aderentes".
Tendo ficado provado: Que entre Maio e fins de Dezembro, os arguidos com
especial incidência no período de Maio a Setembro, venderam diversos produtos
estupefacientes num acampamento junto a uma lixeira, que se tornou um centro de
distribuição de droga na região de Aveiro, atraindo compradores provenientes de
Vouzela e Águeda que afluíam diariamente às dezenas, para esse efeito, afluxo que só
diminuiu após a realização de uma terceira busca, da prisão dos arguidos e de uma
continuada vigilância policial; Que os arguidos utilizavam os seus filhos menores
quer para contactar os compradores, quer para ir buscar droga que lhes vendiam,
M. Miguez Garcia. 2001
771
quer para proceder à sua venda; Que os arguidos usaram o mencionado
acampamento da lixeira como base para procederem à venda de droga a terceiros,
actuando de forma organizada, protegendose mutuamente, controlando a
aproximação quer dos compradores, quer da polícia, vigiando os locais onde se
encontrava escondida a droga, utilizando armas de fogo para evitar qualquer
tentativa de furto da droga pelos consumidores, para intimidarem a polícia e dar
alarme da sua aproximação; Que actuavam em grupo, pelo menos com a
colaboração doutro membro do grupo, fazendo modo de vida da compra e/ou
revenda de droga, praticam aqueles um crime de tráfico agravado, p.p. nos arts 21º,
nº 1 e 24, als. b), i) e j), do DL 15/93. 18121997 Processo nº 918/97 3ª Secção.
• * Para que se verifique o crime de associação criminosa exige o artigo 299º, nºs 1 e 2, do
Código Penal, que estejam reunidos os seguintes elementos típicos: a) Fundar,
promover, fazer parte, apoiar, chefiar ou dirigir grupo, organização ou associação; b)
Que o grupo, organização ou associação tenha a sua actividade dirigida à prática de
crimes; c) Que o agente tenha querido fundar ou promover, fazer parte, apoiar,
chefiar ou dirigir grupo, organização ou associação para a prática de crimes e que
saiba que a sua conduta é proibida por lei. Sendo um crime doloso, o dolo háde ser
dirigido precisamente àquele acordo de vontades colimado à finalidade comum de
cometer crimes de determinada natureza. O STJ tem vindo a exigir que o acordo de
vontades tenha um certo carácter de permanência e de autonomia relativamente à
personalidade de cada um dos seus aderentes. Enquanto na coautoria ou
comparticipação existirá um acordo conjuntural para a comissão de determinado
crime concreto, na verdadeira associação criminosa haverá um projecto estável para a
realização da finalidade de praticar crimes de certa natureza em número ainda não
determinado. Cf. a anotação ao acórdão do STJ de 4 de Junho de 1998, BMJ4787.
• No artigo 132º, nº 2, g), a especial censurabilidade ou perversidade pode ser indiciada pela
prática do facto juntamente com, pelo menos, mais duas pessoas.
• Dados sobre o conceito corrente de "bando", grupo, horda, clique, seita, etc., podem ser
colhidos em L. Knoll, Dicionário de psicologia prática, p. 148, 157 e 290.
M. Miguez Garcia. 2001
772
XV. Para recordar:
• A acessoriedade. Pressuposto da participação é a existência de um facto (doloso) típico e
ilícito de outrem, que pode ser simplesmente tentado: exigese que o facto tenha
atingido um certo estádio de realização e que assim se torne punível. Se A, B e C
combinam minuciosamente um assalto mas porque são indolentes não fazem nada
para cumprir o plano comum, não se pode sequer falar de tentativa. Não havendo
um ilícito típico não é possível a participação. Se no ex. anterior D para ajudar os
assaltantes preguiçosos conscientemente lhes tivesse emprestado um pé de cabra
para o assalto, a cumplicidade não seria possível: para poder falarse de cumplicidade
é necessário que o facto do autor seja ao menos típico e ilícito. É a regra da
acessoriedade limitada. No direito português, o princípio da acessoriedade vale tanto
para a cumplicidade (artigo 27º) como para a instigação (artigo 26º, última parte).
• A acessoriedade e o encobrimento. No início da década de 1980, quando apareceu um
novo código penal, já o "encobrimento" ("favorecimento pessoal") deixara de ser
entendido como uma forma de participação no crime. E a razão era simples: não se
podia tomar parte em algo que já estava consumado. As formas de encobrimento têm
sem dúvida o seu próprio conteúdo de ilícito, na medida em que, ajudar o autor de
um crime a alcançar o esgotamento material dos seus propósitos ou a conseguir
defraudar a acção da justiça, faz com o que o ilícito cristalize e até se amplie
materialmente, ao mesmo tempo que se frustra a reacção punitiva (Quintero
Olivares). Só que, notese, o encobrimento não contribui para o ilícito anteriormente
realizado. Qualquer forma de encobrimento fica assim submetida ao princípio da
acessoriedade. E isso reflectese na sanção própria do encobrimento que nada terá a
ver com a do delito precedente (acto prévio). Reparese que nos artigos 231º e 232º se
incrimina a receptação — e o auxílio ao criminoso, para que este tire benefício da
coisa ilicitamente obtida. O favorecimento pessoal como crime contra a realização da
justiça foi autonomizado nos artigos 367º e 368º.
M. Miguez Garcia. 2001
773
• O facto terminado. (1) A dá vários murros na pessoa de B. O crime fica consumado com o
primeiro murro, mas se P acorre e ambos continuam a socar B, em conjugação de
esforços e de intenções, haverá comparticipação, ambos são coautores. Cf., porém, a
questão da responsabilidade na coautoria sucessiva; falase de coautoria sucessiva
(ou adesiva) quando uma pessoa toma parte num facto cuja execução fora iniciada
em regime de autoria singular por outro sujeito, a fim de, em conjunto, conseguirem a
consumação (R. Mourullo). (2) A deu vários murros em B e desapareceu, mas logo P
aproveita a oportunidade para se vingar de B que está por terra. Dálhe por sua vez
diversos pontapés. Não há comparticipação. Cada um deles comete o "seu" crime. (3)
Considere agora o caso de um furto que ainda não atingiu a fase de exaurimento mas
já está formalmente consumado quando intervém um terceiro que "colabora" com o
ladrão.
• O vizinho artigo 28º. Em situações de comparticipação em factos cuja ilicitude dependa de
qualidades ou relações especiais do agente (por ex., o artigo 360º), basta que um deles
as detenha para que a pena aplicável se estenda a todos os outros. Para a Profª Teresa
Beleza (Ilicitamente comparticipando), no artigo 28º podem ser abrangidas as
seguintes situações típicas: 1Situações de coautoria em que só um (só alguns) dos
coautores tenha(m) as qualidades ou relações especiais exigidas no tipo específico
(próprio ou impróprio). 2Situações de comparticipação em que só um (ou alguns)
dos participantes (cúmplices ou instigadores) detenha(m) essas qualidades, não as
tendo o autor. 3Situações de comparticipação em que algum ou alguns dos
participantes detenham qualidades especiais, mas não as tendo o autor nem outros
participantes. 4Possivelmente, situações de autoria mediata em que as qualidades
exigidas não se verificam no autor mediato mas tão só no executor do facto ou no
autor imediato não responsável. O artigo 28º vem permitir que a punibilidade de
qualquer comparticipante portador de qualidades ou relações especiais se comunique
aos restantes agentes da comparticipação. Mesmo que seja o partícipe (instigador ou
cúmplice) a exibir a circunstância especial, a punição pode transmitirse ao autor
“leigo”. Ou seja, a ligação centrípeta entre a gravidade do facto central (de autoria
imediata, mediata ou de coautoria material) e a do facto periférico de participação
M. Miguez Garcia. 2001
774
(instigação ou cumplicidade) é aqui eliminada (cf. Maria Margarida Silva Pereira, Da
autonomia do facto de participação, O Direito, 126º (1994), p. 575). Não será necessário
recorrer ao artigo 28º quando um extraneus convence (instiga) um intraneus (por ex.,
um funcionário) a praticar um facto típico doloso (por ex., um crime de funcionário):
no artigo 26º, última parte, a instigação já acolhe a punibilidade da situação. No caso
do acórdão do STJ de 26 de Janeiro de 2000. BMJ493272, o arguido I, escrivão de
direito, praticou o crime de falsificação (artigo 256º, nº 4), inventando totalmente um
acto judicial que não existiu e fabricando o documento em que se narra tal acto. O H
praticouo igualmente (ainda que como simples cúmplice) visto que, apesar de não
ser funcionário público e a falsificação dizer respeito a um acto judicial inserido em
processo desta natureza, tornaselhe extensível a incriminação por força do nº 1 do
artigo 28º. É inegável que o H sabia que o seu coarguido tinha aquela qualidade de
escrivão do processo.
XVI. Outras indicações de leitura.
• Lei nº 101/2002, de 25 de Agosto (Regime jurídico das acções encobertas para fins de
prevenção e investigação criminal): O respectivo artigo 6º trata de isentar de responsabilidade
o agente encoberto que, no âmbito de uma acção encoberta, consubstancie a prática de actos
preparatórios ou de execução de uma infracção em qualquer forma de comparticipação
diversa da instigação e da autoria mediata, sempre que guarde a devida proporcionalidade
com a finalidade da mesma.
• O sistema comparticipativo do Direito de Mera Ordenação Social: vd. Frederico de Lacerda
da Costa Pinto, O ilícito de mera ordenção social e a erosão do princípio da subsidiariedade,
RPCC 7 (1997), p. 18.
• Acórdão da Relação de Coimbra de 13 de Março de 1996, CJ, XXXI, II, 50: artigo 28º;
comunicabilidade da ilicitude na comparticipação; crimes cometidos por titulares de cargos
públicos no exercício das suas funções.
• Acórdão da Relação do Porto de 6 de Março de 1991, CJ: é coautora do crime de violação a
mãe que, sistematicamente, procura convencer a filha, através de espancamentos, a dedicarse
à prostituição, acenandolhe, além disso, com chorudos proventos.
M. Miguez Garcia. 2001
775
• Acórdão do STJ de 3 de Novembro de 1994, in Col. Jur., Acórdãos do STJ: a rixa pressupõe
que não há acordo ou pacto prévio entre os intervenientes e que, se houver esse acordo,
entramos no campo da comparticipação nos crimes de ofensas corporais ou de homicídio.
• Acórdão do STJ de 11 de Fevereiro de 1998, Processo n.º 1191/97 3.ª Secção: o crime de
administração danosa em unidade económica do sector público ou cooperativo é um crime
específico próprio, que só pode ser praticado por quem detiver certas qualidades pessoais,
nomeadamente o estar incumbido da respectiva gestão; no caso de comparticipação criminosa,
basta que aquelas qualidades pessoais se verifiquem relativamente a um dos comparticipantes
para que a pena correspondente se torne aplicável aos demais (art.º 28, n.º 1, do CP).
• Acórdão do STJ de 22 de Março de 2001, CJ 2001, tomo I, p. 260: coautoria sucessiva.
• Acórdão do STJ de 12 de Novembro de 1997, BMJ47148: cada coautor é responsável pela
totalidade do evento, pois sem acção de cada um o evento não teria sobrevindo. Muitas vezes a
simples presença de um agente no local do crime é suficiente para convencer outrem a praticá
lo.
• Acórdão do STJ de 13 de Dezembro de 1995, BMJ452230: o arguido detinha quase 1 quilo
de heroína e vários produtos e instrumentos para a sua transformação, pelo que é autor do
crime correspondente, não obstante não ter vendido ou cedido essas preparações a alguém em
concreto.
• Acórdão do STJ de 14 de Junho de 1995, CJ1995, II, p. 230: sublinhase que a arguida E, por
acordo com os seus dois coarguidos, o C e a P, aderiu sem quaisquer reservas ao plano de
roubarem a vítima Félix, que lhe foi dado a conhecer por esses dois, sendo decisivo o seu
envolvimento sexual calculado com o F para fazer entrar o C de surpresa em casa deste, como
entrou. A E realizou a parte do plano que lhe competia no plano que traçaram todos os três
arguidos, e mesmo na altura em que a vítima foi agredida e manietada ela deu a sua
consensual presença, ficando junto da vítima e do C e da P. Sem sombra de dúvida que ela
cumpriu a sua intervenção periférica, colocando decisivamente uma condição sem a qual se não
produzia o evento, intervenção essa que se pode contrapor à parte nuclear do crime de
homicídio (agressão e imobilização do Félix). Só que mesmo nesta ela tomou parte activa:
depois de a vítima estar imobilizada a P e o C, também ajudados pela E, iniciaram então as
buscas à casa, procurando dinheiro e valores, enquanto, simultaneamente, a E e a P se
M. Miguez Garcia. 2001
776
revezavam, guardando e observando a vítima a fim de se poderem aperceber se, porventura,
ela se libertava.
• Acórdão do STJ de 15 de Outubro de 1997, CJ, 1997V, p. 196: cumplicidade e
favorecimento pessoal; "para haver cumplicidade deve haver uma relação de causalidade entre
o facto do cúmplice e o crime, através da conduta do executor".
• Acórdão do STJ de 17 de Abril de 1997, BMJ466228: distinção entre a comparticipação e a
associação criminosa.
• Acórdão do STJ de 2 de Dezembro de 1993, in Simas Santos Leal Henriques,
Jurisprudência Penal, p. 577: Provado que ambos os arguidos desencadearam o processo
violento contra o ofendido por forma a imobilizálo para subtraírem determinados objectos, é
evidente que ambos tomaram parte directa na execução do crime e são seus coautores, mesmo
que os actos de maior violência tenham sido a seguir exercidos por um deles. Tendo os
arguidos actuado em conjugação de esforços, por forma deliberada e com vista ao mesmo fim,
o acordo entre eles é, pelo menos, tácito, e não é indispensável que cada um dos agentes
intervenha em todos os actos para a obtenção do resultado desejado, bastando que a actuação
de cada um seja elemento componente do todo e indispensável à produção do resultado.
• Acórdão do STJ de 22 de Março de 2001, processo nº 473/01, 5ª secção: quer o coautor,
quer o cúmplice, são auxiliatores. Cada um, a seu jeito, ajuda ou concorre para a produção do
feito. Porém, enquanto o primeiro assume um papel de primeiro plano, dominando a acção (já
que esta é concebida e executada com o seu acordo inicial ou subsequente, expresso ou tácito
e contribuição efectiva), o segundo é, digamos, um interveniente secundário ou acidental: só
intervém se o crime for executado ou tiver início de execução e, além disso, mesmo que não
interviesse, aquele sempre teria lugar, porventura em circunstâncias algo distintas. A sua
intervenção, sendo embora concausa do concreto crime levado a cabo, não é causal da
existência da acção, no sentido de que, sem ela, apesar de tudo, o facto sempre teria lugar,
porventura em circunstâncias algo diversas. É, neste sentido, um auxiliator simplex ou causam
non dans. Quer isto dizer, que sem autor não pode haver cúmplice mas já pode conceberse
autoria sem cumplicidade, o que mostra o carácter acessório desta figura.
• Acórdão do STJ de 23 de Junho de 1994, BMJ438261: crime de incêndio; cumplicidade: o
cúmplice fica fora do acto típico, somente favorece ou presta auxílio à execução.
M. Miguez Garcia. 2001
777
• Acórdão do STJ de 24 de Março de 1999, BMJ485267: A acordou com B arranjar alguém
que incendiasse uns armazéns, mas nunca foi intenção deste fazêlo, já que apenas pretendia
receber do A e fazer seu o preço combinado pelo serviço e com isso ludibriálo. Ora, o
comportamento do autor mediato será punido se ele determinou outro ou outros à prática do
facto e desde que haja execução ou começo de execução do facto criminoso induzido ou
praticado por determinação do autor mediato.
• Acórdão do STJ de 26 de Fevereiro de 1992, BMJ414244: distinção entre autoria e
cumplicidade: A fornecia em sua casa a troco de dinheiro uma certa quantidade de heroína ao
coarguido B, sem que se tenha provado que isso se tivesse enquadrado no desenvolvimento
de um qualquer plano acordado entre eles.
• Acórdão do STJ de 28 de Julho de 1987, BMJ369392: não é possível a condenação de co
autor moral na falta de identificação do coautor material.
• Acórdão do STJ de 3 de Março de 1971, BMJ205123: assalto à agência do Banco de
Portugal na Figueira da Foz; coautoria, cumplicidade.
• Acórdão do STJ de 3 de Outubro de 1990, BMJ400284: crime de roubo, coautoria,
cumplicidade.
• Acórdão do STJ de 4 de Junho de 1998, BMJ4787: sobre a comunicabilidade das
circunstâncias qualificativas dos furtos, resultante do artigo 28º, que contempla tanto a autoria
mediata como a imediata.
• Acórdão do STJ de 4 de Novembro de 1993, BMJ431169 (cf. a anotação de p. 178 do
Boletim): este acórdão reitera a posição tradicional do Supremo em matéria de distinção entre
cumplicidade e coautoria, e que parte da distinção entre causa dans e causa non dans, devendo
ser considerado cúmplice o indivíduo cuja intervenção, a não ter tido lugar, não evitaria o
crime, antes faria com que, eventualmente, fosse cometido em condições de tempo e modo
diferentes.
• Acórdão do STJ de 7 de Dezembro de 1988, BMJ382276: são coautores do crime de
homicídio os que, embora não tenham estado presentes quando o ofendido foi apanhado,
colaboraram no seu transporte para o largo de uma povoação e ao chegarem ali previram a
possibilidade de ele ser morto pela populaça e, não obstante isso, não se retiraram, e
descarregaramno, entregandoo à populaça.
M. Miguez Garcia. 2001
778
• Acórdão do STJ de 7 de Dezembro de 1994, BMJ44293: para que possa afirmarse que o
arguido agiu em comparticipação criminosa, basta terse provado que ele contou com a
colaboração de outrem para levar a efeito ou concretizar os seus desígnios criminosos, mesmo
que esse outro não tenha sido identificado, já tenha falecido ou ainda não tenha sido julgado
pelos mesmos factos.
• Acórdão do STJ de 7 de Maio de 1997, BMJ467419: o arguido assumiu a responsabilidade
do evento e de todas as circunstâncias objectivas em que este teve lugar Actas, 12ª sessão;
cada um dos executores, ainda que algum tenha praticado apenas parte dos actos materiais de
execução, tornase coautor desde que tenha havido acordo prévio e consciência da colaboração
dos demais para a consumação.
• Acórdão do STJ de 9 de Maio de 2001, CJ, ano IX (2001), tomo II, p. 187: agravação pelo
resultado; coautoria, cumplicidade.
• Acórdão do STJ, BMJ390147: A e B deram boleia a C e ao companheiro desta, D. Em certa
altura do percurso, A e B declararam à C que queriam manter com ela relações de cópula
completas, o que a C recusou. D aproveitou uma paragem do carro e correu a pedir socorro,
mas o condutor arrancou, levando nele a C. Mais adiante pararam e a C tentou fugir, mas foi
agarrada por A e B, que a impediram, pela força, de se defender, até que ela se estatelou no
chão. O A manteve então relações de cópula completa com a C, ao mesmo tempo que o B a
imobilizava. Depois, o B manteve relações da mesma natureza com a C, em idênticas
circunstâncias. O Tribunal condenou A e B como coautores de dois crimes de violação. O
Supremo recordou que a violação não tem o carácter de mão própria: o facto ilícito "em si" não
é a cópula, mas o forçar uma mulher a ter cópula (hoje em dia qualquer pessoa a sofrer um dos
actos típicos do artigo 164º, nº 1). Tratase de coautoria e não de autorias paralelas: cada um
dos dois arguidos praticou em concurso real dois crimes de violação.
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 11 de Dezembro de 1991, CJAcórdãos do STJ:
coautoria do crime de rapto — e não cumplicidade — de quem, depois de prévio acordo,
conduz a carrinha onde a ofendida é transportada e telefona para a mãe dela a fazer exigências.
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 15 de Julho de 1992, CJAcórdão do STJ: co
autoria do ladrão que fica de vigia enquanto o outro entra na casa de habitação do ofendido
contra a sua vontade, donde retirou valores que distribuíram entre eles.
M. Miguez Garcia. 2001
779
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 17 de Fevereiro de 1993, CJAcórdãos do STJ,
ano I, tomo 1, p. 197.
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 28 de Janeiro de 1993, CJAcórdãos do STJ:
cumplicidade dos que, intervindo no acordo, ajudaram a cimentar as vontades dos que
executaram uma das inúmeras burlas cometidas.
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 9 de Fevereiro de 1994, CJAcórdãos do STJ,
ano II, tomo 1, p. 223.
• Actas das sessões da comissão revisora do Código Penal, Parte geral, vol. I e II, ed. da
AAFDL.
• Ambos, Tatherrschaft durch Willensherrschaft kraft organisatorischer Machtapparate, GA
(1998), p. 241.
• Baumann / Weber / Mitsch, Strafrecht, AT, 10ª ed., 1995.
• Claus Roxin, Sobre la autoria y participación en el Derecho Penal, Textos de apoio,
AAFDL, 18º texto, p. 363 e ss.
• Claus Roxin, Teoria da infracção, Textos de apoio de Direito Penal, tomo I, AAFD, Lisboa,
1983/84.
• E. Gimbernat Ordeig, Autor y cómplice en Derecho Penal, Madrid, 1966.
• E. Gimbernat Ordeig, Delitos cualificados por el resultado y causalidad, Madrid, 1990.
• E. Mezger, Derecho Penal, Parte general (libro de estudio), 1957.
• Eduardo Correia, Direito Criminal, II, 1965.
• Eduardo Correia, Problemas fundamentais da comparticipação criminosa, Col. Studium,
1963; e separata da Revista de Direito e de Estudos Sociais, anos IV e VI, nºs 1 a 3.
• Eric Hilgendorf, Was meint "zur Tat bestimmen" in § 26 StGB?, Jura 1996, p. 9.
• Esteban Juan Pérez Alonso, La coautoría y la complicidad (necessaria) en derecho penal,
Granada, 1998.
• F. Muñoz Conde, Derecho Penal, Parte general, 1993.
• Frederico de Lacerda da Costa Pinto, A relevância da desistência em situações de
comparticipação, 1992.
• Frederico de Lacerda da Costa Pinto, O ilícito de mera ordenação social e a erosão do
princípio da subsidiaridade da intervenção penal, RPCC, ano 7 (1997), p. 7.
M. Miguez Garcia. 2001
780
• Friedrich Geerds, Täterschaft und Teilnahme, Jura, 1990, p. 173.
• G. Jakobs, Strafrecht, AT, 2ª ed., 1993 — há tradução espanhola, publicada em 1995.
• G. Stratenwerth, Derecho Penal, parte general, I (el hecho punible), 1982.
• H. Otto, Grundkurs Strafrecht, Algemeine Strafrechtslehre, 5ª ed., 1996.
• H.H. Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts: allgemeiner Teil, 4ª ed., 1988, de que há tradução
espanhola.
• Henrique Salinas Monteiro, A comparticipação em crimes especiais no Código Penal,
Universidade Católica Editora, Lisboa, 1999.
• J. Damião da Cunha, Tentativa e comparticipação nos crimes preterintencionais, RPCC, 2
(1992), p. 561.
• Joachim Hruschka, Regreßverbot, Anstiftungsbegriff und die Konsequenzen, ZStW 110
(1998), p. 581.
• Johannes Wessels, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 17ª ed., 1987. Há traduções em português e
em espanhol, a partir de edições anteriores.
• Jorge de Figueiredo Dias, As "associações criminosas" no Código Penal Português de 1982
(artigos 287º e 288º), 1988.
• Jorge de Figueiredo Dias, Autoría y participación en el dominio de la criminalidad
organizada: el "dominiodelaorganización" (exemplar dactilografado).
• Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal, sumários e notas das Lições, 1976.
• Jorge Fonseca, Crimes de empreendimento e tentativa, 1986.
• José de Faria Costa, Formas do crime, Jornadas de Direito Criminal, CEJ, 1983.
• Jose Manuel Gomez Benitez, El domínio de hecho en la autoría (validez y límites), Anuario
de Derecho Penal y Ciencia Penal, 194, p. 103
• Juan Bustos Ramírez, Manual de derecho penal español, parte general, 1984.
• K. Kühl, Strafrecht, AT, 1994.
• Karl Lackner, StGB, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, 20ª ed., 1993.
• Kindhäuser, Strafrecht, BT II, p. 137 (sobre o conceito de “bando”).
• Kindhäuser, Bestimmtheit des Gehilfenvorsatzes, NStZ 1997, p. 272.
• Klaus Geppert, Die Anstiftung (§ 26 StGB), Jura 1997, p. 299 e ss; 358 e ss.
• Klaus Geppert, Die Beihilfe (§ 27 StGB), Jura 1999, p. 266 e ss.
M. Miguez Garcia. 2001
781
• Manuel Cavaleiro de Ferreira, Lições de Direito Penal, I. A Lei Penal e a Teoria do Crime
no Código Penal de 1982, 1987.
• Manuel Simas Santos, anotação ao acórdão do STJ de 29 de Fevereiro de 1996, RPCC 6
(1996), especialmente, p. 632 e ss.
• Manuela Valadão e Silveira, O crime de participação no suicídio e a criminalização da
propaganda do suicídio na revisão do Código Penal (artigos 13º e 139º), Jornadas sobre a
revisão do Código Penal, FDUL, 1998.
• Manuela Valadão e Silveira, Sobre o crime de incitamento ou ajuda ao suicídio, AAFDL, 2ª
reimp., 1995.
• Maria da Conceição Valdágua, Início da tentativa do coautor (contributo para a teoria da
imputação do facto na coautoria), 1993.
• Maria da Conceição Valdágua, O início da tentativa do coautor no Direito Penal alemão,
1988.
• Maria Margarida C. Silva Pereira, Da autonomia do facto de participação Um estudo
referente ao Código Penal de 1982, O Direito, ano 126 (1994), IIIIV.
• Michael Heghmanns, Überlegungen zum Unrecht von Beihilfe und Anstiftung, GA 2000,
p. 473 e ss.
• Miguel Díaz y García Conlledo, "Coautoría" alternativa y "coautoria" aditiva, in Política
criminal y nuevo Derecho Penal (Libro Homenaje a Claus Roxin), Bosch, 1997, p. 295.
• Miguel Pedrosa Machado, Associação e comparticipação na lei da droga, in Formas do
Crime, Textos Diversos, 1998.
• Miguel Pedrosa Machado, Para uma síntese do conceito jurídicopenal de comparticipação,
in Formas do Crime, Textos Diversos, 1998.
• Miguel Pedrosa Machado, Sumários de aulas sobre a comparticipação e o concurso de
crimes, in Formas do Crime, Textos Diversos, 1998.
• Santiago Mir Puig, Derecho Penal, parte general, 3ª ed., 1990.
• Silva Sánchez, Responsabilidade penal de las empresas y de sus órganos en derecho
español, in Fundamentos de um sistema europeo del derecho penal. LibroHomenaje a Claus
Roxin, 1995,
M. Miguez Garcia. 2001
782
• Teresa Pizarro Beleza, A estrutura da autoria nos crimes de violação de dever
Titularidade versus domínio do facto?, RPCC, 2 (1992).
• Teresa Pizarro Beleza, Direito Penal, 2º vol., 1983.
• Teresa Pizarro Beleza, Ilicitamente comparticipando o âmbito de aplicação do artigo 28º
do Código Penal. Estudos em homenagem ao Prof. Eduardo Correia, separata, 1988.
• Teresa Serra, A autoria mediata através do domínio de um aparelho organizado de poder,
RPCC 5 (1995).
• Udo Ebert, Strafrecht, AT, 2ª ed., 1992.
• v. HeintschelHeinegg, Prüfungstraining Strafrecht, Band 1, 1992.
• v. HeintschelHeinegg, Prüfungstraining Strafrecht, Band 2, 1992.
M. Miguez Garcia. 2001
783
§ 31º A tentativa
I. Tentativa; actos de execução. O iter criminis.
• CASO nº 31: B, secretária de A, dirigese ao gabinete deste para assunto de serviço. Aí,
A agarraa pelos braços e empurraa contra a parede, tentando beijála. Acto
contínuo, A introduz uma das mãos por baixo da camisola que B vestia e apalpoulhe
os seios, ao mesmo tempo que a forçou a deitarse. Apesar dos gritos de B, A puxou
lhe violentamente as meias e as cuecas e, com uma das mãos, esfregoulhe a vagina, o
ventre e as pernas. A tentou ainda introduzir um dedo na vagina de B. Só não o
conseguiu por ela ter fugido. A foi em sua perseguição e forçoua a entrar de novo no
escritório, o que não sucedeu porque B, agarrandose à porta, acabou por fugir. Era
intuito de A manter pela força relações sexuais de cópula com a B, contra a vontade
desta.
A praticou, sem dúvida, um crime de violação, na forma tentada, previsto
e punido pelos artigos 22º, 23º, 73º e 164º, nº 1. Escrevese no acórdão do STJ de
1 de Abril de 1992, BMJ416341 (a questão fora já apreciada pela Relação de
Lisboa, CJ 1991IV207):
"A decisão de cometer um crime é o primeiro pressuposto de toda a
tentativa punível. É o que desde logo resulta do nº 1 do artigo 22º do Código
Penal ao dispor que:
“1. Há tentativa quando o agente pratica actos de execução de um crime que decidiu cometer,
sem que este chegue a consumarse".
Depois, como também resulta do mesmo preceito legal, a tentativa exige a
prática de actos de execução do crime que o agente decidiu cometer, sem que
contudo se tenha operado a consumação.
M. Miguez Garcia. 2001
784
Utilizando um critério formal, a alínea a) do artigo 22º, nº 2, considera
actos de execução os que preenchem um elemento constitutivo de um tipo de
crime.
Nem todos os tipos criminais descrevem contudo actividades a que possa
subsumirse a conduta do agente. Daí que ao lado de um critério puramente
formal a lei adopte um critério objectivo definindo também como actos de
execução:
— Os que são idóneos a produzir o resultado típico (alínea b) do artigo
22º);
— Os que, segundo a experiência comum e salvo circunstâncias
imprevisíveis, são de natureza a fazer esperar que se lhes sigam actos das
espécies indicadas nas alíneas anteriores (alínea c) do mesmo artigo).
Ora, é nesta última categoria de actos que se integra a conduta de A.
Embora se trate de actos formalmente preparatórios situamse nos limites
da acção típica, sendo manifesta a sua inerência à própria execução. São actos
que se inserem no plano concreto que o agente se propõe realizar.
Conforme vem provado, era intuito de A manter pela força relações
sexuais de cópula com a B, contra a vontade desta. Na realização deste plano
forçoua a deitarse, apalpoulhe os seios, puxoulhe violentamente as meias e
as cuecas e de seguida com uma das mãos, esfregoulhe a vagina, o ventre e as
pernas. Quando tentava introduzir um dedo na vagina da ofendida, conseguiu
esta libertarse de A, o qual foi em sua perseguição e forçoua a entrar de novo
no escritório, o que não sucedeu porque a ofendida, agarrandose à porta,
acabou por fugir.
Segundo a experiência comum e salvo circunstâncias imprevisíveis, a estes
actos seguirseiam actos idóneos a produzir o resultado típico.
Há uma estreita conexão temporal entre a acção de A e o resultado que
pretendia alcançar. Os seus actos precedem imediatamente a acção típica
inserindose na execução, de acordo com o plano concreto que se propôs
realizar. São pois actos de execução e como tal definidos no artigo 22º, nº 2,
alínea c)."
M. Miguez Garcia. 2001
785
• Constituem actos de execução do crime de violação o agarrar a ofendida, menor de 12 anos
de idade, arrastála para o meio do mato e, ali, derrubandoa e tapandolhe a boca,
retirarlhe as cuecas e, ao mesmo tempo, abrindo a braguilha das calças que trazia
vestidas, expor o seu órgão sexual, deitandose de seguida em cima dela porque,
além de configurativos de violência elemento constitutivo do crime, são
absolutamente aptos, segundo a experiência comum, à produção do resultado final
cópula com a ofendida (acórdão do STJ de 21 de Novembro de 1990, BMJ401240).
O iter criminis: etapas de realização do facto punível doloso. O âmbito da
tentativa é, por vezes, difícil de estabelecer. Tratase porém de uma matéria com
acentuada relevância para a boa compreensão dos fundamentos da intervenção
do direito penal. A tentativa representa uma forma especial dessa intervenção,
já que, com ela, os propósitos criminosos não são por inteiro conseguidos. Há
tentativa quando o agente praticar actos de execução de um crime que decidiu cometer,
sem que este chegue a consumarse, dizse no artigo 22º, nº 1. Na tentativa, os
fundamentos subjectivos do facto criminoso encontramse completamente
preenchidos, mas a consumação delitiva não chega a realizarse, pelo que
também não se realiza a lesão do correspondente bem jurídico, que
simplesmente foi posto em perigo pela actuação do sujeito.
Os pressupostos do crime tentado estão, por um lado, preenchidos
quando, como diz a lei, o crime não chega a consumarse, mas tais pressupostos
estão igualmente preenchidos quando o tipo objectivo do ilícito se encontra por
completo realizado. Também aqui o crime, que acabou por consumarse, teve
que passar, necessariamente, pela fase da correspondente tentativa.
Podemos por outro lado afirmar que a ideia delitiva surge na pessoa e que
a partir daí até à consumação vai percorrer um caminho, o chamado iter
criminis, em que se distinguem diversas etapas: a fase interna (a fase da tentação:
assim lhe chamavam os escolásticos), ou seja, a decisão de cometer o crime,
durante a qual o autor idealiza o seu plano; a fase preparatória; a da execução; e a
da consumação, quando todas as características típicas se encontram
preenchidas.
• A distinção entre actos preparatórios e actos de execução arranca da ciência medieval
italiana, que distinguiu o conatus proximus e o conatus remotus em função da maior ou
menor proximidade relativamente ao resultado final (Devesa, Derecho penal español,
M. Miguez Garcia. 2001
786
PG, 1992, p. 783). O termo latino conatus designa a noção de esforço, de tendência
(Fabien Lamouche, Le Désir, p. 79); é o empenho, o impulso, a tentativa (Torrinha,
Dic. latinoportuguês).
A possibilidade de uma tentativa como forma, hoc sensu, autónoma de
ilícito só se revela naquela primeira constelação de casos; a segunda não é mais
do que um “estádio intermédio” que a consumação absorve (cf. J. Rath, JuS
1998, p. 1006). Quando, mais à frente, estudarmos os problemas de concurso,
estes aspectos, em especial o conceito de “estádio intermédio”, serão mais
detalhadamente expostos, a par das noções de “subsidiaridade” e “consunção”.
• Só existe tentativa do crime doloso. E se para a consumação é suficiente o dolo
eventual, também o será para a tentativa. No direito vigente só se pune a tentativa
dolosa, não existe a tentativa dos crimes negligentes. Tentativa e negligência são,
por assim dizer, noções antitéticas. Atentese, no entanto, em que, por vezes, se
pune autonomamente a violação negligente do dever de cuidado: cf. o artigo 292º,
onde se não descreve a realização de um resultado. Cf. igualmente o que se diz
noutro lugar a propósito da congruência entre dolo eventual e tentativa.
• CASO nº 31A: 1. A encontrase numa situação financeira bastante delicada e projecta
arranjar dinheiro com o assalto a um banco.
• 2. Sabe mais ou menos o tipo de estabelecimento adequado e acaba por encontrar uma filial
da Caixa, numa localidade do distrito de Aveiro, com um sistema de alarme
aparentemente antiquado e com uma saída para a autoestrada, logo ali a meia dúzia
de quilómetros.
• 3. A tem perfeita consciência de que não pode realizar sozinho o assalto, de modo que
associa um seu antigo companheiro de “negócios” — B — ao plano assim
pacientemente elaborado.
• 4. No dia combinado, A e B deslocamse para as proximidades da agência da Caixa num
Mercedes (valor: 7 mil contos) a que conseguiram deitar a mão pouco antes, levando
consigo uma pistola metralhadora. Estacionam o carro perto do banco, num local
M. Miguez Garcia. 2001
787
donde podem facilmente encaminharse na fuga para a autoestrada, saem, levando
A a arma escondida debaixo do casaco, e entram na agência, mas logo A se dá conta
da presença de dois polícias uniformizados entre os clientes e faz sinal de retirada
para o companheiro, abandonando ambos o local.
• 5. Contudo, poucos dias depois vão pôr de novo o plano em prática, deixando desta feita a
arma no carro, depois de A chegar à conclusão de que na agência estava só o gerente,
que lhe seria fácil imobilizar de surpresa enquanto B deitava a mão ao dinheiro.
• 6. Como tinham planeado, realizado com êxito o assalto, A e B, com o dinheiro num saco,
entram no Mercedes, mas ao ver que um transeunte, desconfiado, ia para anotar a
matrícula do carro, o A dispara uma rajada de aviso para o ar com a pistola
metralhadora, a qual, conforme era vontade de A, não atingiu ninguém.
• 7. A e B fugiram do local sem serem identificados, tendo abandonado o Mercedes em
Aveiro, onde dividiram o dinheiro roubado no banco, separandose em seguida.
Neste exemplo (adaptado) de Kühl, AT, p. 434, detectamse nitidamente
duas distintas fases de realização de um mesmo caso. De acordo com a
avaliação que dele faz o legislador, o descrito conjunto de factos tem o seu
centro de ilícito e de culpa na totalidade das características típicas
desenvolvidas por A e B e referidas sob o nº 5, as quais integram a coautoria de
um crime de roubo (artigos 26º e 210º, nº 1), sem que interesse aos nossos
actuais propósitos determinar se se trata de roubo simples ou qualificado. Com
efeito, na execução do plano conjunto, A imobilizou, pela força, o gerente,
enquanto B deitava a mão ao dinheiro, recolhendoo no saco, actuando ambos
com intenção de apropriação de coisa móvel (o dinheiro) que sabiam ser alheia.
• Sobre a natureza jurídica da tentativa e sobre a questão de saber se a tentativa constitui
um tipo autónomo de crime ou “uma circunstância acidental de um tipo
consumado de referência” (formulação de Pedrosa Machado). O crime praticado por
A e B está consumado —é assim que o ilícito do artigo 210º, nº 1, se apresenta na parte
especial do código, quer dizer: enquanto crime consumado. Como acontece na
generalidade dos códigos penais, na parte especial a conduta punível é descrita por
M. Miguez Garcia. 2001
788
referência a um autor singular (“quem” matar outra pessoa; “o médico” que recusar o
auxílio da sua profissão…) e à infracção na sua forma consumada. A técnica de
abranger mais pessoas no tipo penal (por ex., um cúmplice) ou aquelas situações que
não chegaram à consumação (A disparou a matar, mas o visado não morreu, continua
vivo) exige que nos códigos se estabeleçam normas que permitam ampliar os tipos
penais na correspondente medida. Dizse que tais disposições, como o artigo 22º ou o
artigo 27º, implicam uma extensão dos tipos penais: são uma causa de extensão da
tipicidade. Sem a norma sobre a tentativa esta ficaria impune, por na parte especial se
preverem unicamente as formas que levam à consumação. A tentativa não faz surgir
tipos autónomos, mas tipos dependentes que devem ser referidos ao tipo de uma
determinada forma de delito. Mas há autores para quem na tentativa se cria um tipo
diferente e autónomo. Por ex., Mir Puig (Derecho Penal, PG, 1990, p. 357, e ADPCP
1973, p. 349) entende que a tentativa não constitui uma “forma de aparição” do delito
consumado, já que a consumação e a tentativa supõem tipos distintos, ainda que
relacionados. A distinção tem alcance prático: se considerarmos que a moldura penal
do crime tentado é a correspondente a um tipo de crime autónomo, não se lhe
aplicará o disposto no nº 2, última parte, do artigo 118º — o prazo de prescrição do
procedimento criminal por um crime tentado deverá, nesta perspectiva, calcularse
com base no limite máximo da pena aplicável ao crime tentado (cf., em especial,
Miguel Pedrosa Machado, Formas do Crime, p. 11). Cf. a anotação ao artigo 118º no
Código Penal de Maia Gonçalves.
Se agora repararmos na factualidade referida sob o nº 4, concluímos que só
podemos subsumila na tentativa de roubo (artigos 22º, nºs 1 e 2, e 210º, nº 1),
eventualmente qualificado, pois quem decidiu cometer um crime de roubo e,
sem alcançar o resultado, se limita a praticar actos de execução desse crime —o
qual se consuma por meio de violência contra uma pessoa para subtrair coisa
móvel alheia —será castigado por tentativa de roubo. No caso, as dificuldades
de integração de tais factos na tentativa não deixam de ser acentuadas, já que,
por uma lado, os contornos do ilícito típico que a lei descreve como consumado
na parte especial do código não são simplesmente lineares, por outro, porque a
noção de actos de execução não é inteiramente precisa, ainda que o código, nas
diversas alíneas do nº 2 do artigo 22º, nos forneça directivas de alguma valia.
M. Miguez Garcia. 2001
789
Tomando a factualidade descrita sob o nº 4, o anterior furto do Mercedes não
pode seguramente ser visto como acto de execução, no sentido do emprego de
violência contra uma pessoa, mas haverá começo de execução, possivelmente,
quando A e B se aproximam do local do crime ou, pelo menos, quando entram
nas instalações do banco com a arma, já que, segundo a experiência comum e
salvo circunstâncias imprevisíveis, é de esperar que a estes actos se lhes sigam
actos idóneos a produzir o resultado típico, havendo uma estreita conexão
temporal entre a acção de A e B e o resultado que ambos pretendiam alcançar.
A descrita actuação de A e B integra actos que precedem imediatamente a acção
típica inserindose na execução, de acordo com o plano concreto que os
assaltantes se propõem realizar. Decorridos mais uns segundos e dados mais
meia dúzia de passos, se nada acontecesse de imprevisível, A e B teriam sacado
da arma, exigindo a entrega do dinheiro em caixa. Praticaram pois actos de
execução e como tal definidos no artigo 22º, nº 2, alínea c). Ainda assim, A e B
não passaram do estádio da tentativa, acontecendo até que ambos
abandonaram o cometimento do crime de roubo, pois, como se vê do mesmo nº
4, deixaram o local quando se deram conta da presença de dois polícias
uniformizados entre os clientes. Mas não se pode dizer que, com isso, A e B
desistiram de prosseguir na execução do crime, no sentido de beneficiarem do
regime do artigo 24º, nº 1, deixando a tentativa de ser punível, já que
manifestamente faltam os pressupostos de aplicação desta norma, sendo até
difícil sustentar que, afinal, A e B desistiram de prosseguir na execução do
crime, pois continuaram, dias depois, a execução do mesmo plano que
anteriormente tinham elaborado. Na verdade, "quando não haja desistência do
propósito criminoso não há ainda desistência voluntária da tentativa, mas
interrupção voluntária da execução e a interrupção voluntária da execução,
para nela prosseguir mais tarde, não equivale à revogação da intenção de
consumar o crime" (Prof. Cavaleiro de Ferreira). Na medida em que os factos
que integram a tentativa decorrem de uma resolução autónoma tomada por A e
B, ficará para determinar se os mesmos se encontram em situação de concurso
efectivo com os restantes crimes praticados, nomeadamente, o furto do Mercedes
(artigo 30º, nº 1; e artigo 203º, nº 1, ou 208º, nº 1). Certo é que a matéria do nº 1, o
simples projecto de assaltar um banco, não é punível, na medida em que a
simples manifestação de vontade, como diria von Liszt, não integra nenhuma
acção, nenhum ilícito, nenhum crime: cogitationes poenam nemo patitur. A
actividade descrita sob o nº 2, a busca de uma agência adequada para o assalto,
ficase pela região dos actos preparatórios, ainda que levados a efeito na
execução do plano criminoso, mas que não chegam a ser actos de execução do
M. Miguez Garcia. 2001
790
crime planeado. Estes actos preparatórios não são puníveis (artigo 21º), embora,
por vezes, uma disposição legal preveja tais espécies de actos como crime
autónomo. Vejase, por ex., o artigo 271º, onde se pune quem preparar a execução
dos actos referidos nos artigos 262º (contrafacção de moeda), 263º (…), fabricando,
importando, adquirindo para si ou para outra pessoa, expondo à venda ou retendo:
formas, cunhos, clichés, prensas de cunhar, punções, negativos, fotografias ou outros
instrumentos que, pela sua natureza, são utilizáveis para realizar crimes. A rajada
disparada para o ar pode constituir um crime de ameaça do artigo 153º, mas
não seguramente o do artigo 211º (violência depois da subtracção), pois, não
obstante a situação de flagrante delito aí prevista, os arguidos não actuaram
para conservar ou não restituir o dinheiro subtraído. Tanto aqui como naquilo
que se descreve sob o nº 7 poderemos surpreender a fase de exaurimento ou
esgotamento do crime de roubo, que se consumou quando da subtracção do
dinheiro por meio da violência (consumação formal ou jurídica), mas que agora
logra a sua consumação material, com o completo êxito do assalto, a proporcionar
a divisão da presa em pleno sossego. Digase, por último, que também será
punível o uso da pistola metralhadora, que é arma proibida (arma proibida de
fogo, material de guerra: artigo 2º, nº 1, do DL nº 207A/75, de 17 de Abril), com
o cometimento do crime do artigo 275º, nº 1. Por aqui se vê a importância da
distinção entre actos preparatórios e actos de execução, pois só estes são
puníveis, em princípio, e ainda assim nem sempre. Com efeito, só é punível a
tentativa dos crimes mais graves (artigo 23º, nº 1: a tentativa só é punível se ao
crime consumado respectivo corresponder pena superior a 3 anos de prisão), salvo
disposição em contrário, como acontece, por ex., com o furto (artigo 203º, nºs 1 e
2). Vejase, a ilustrar, que no ilícito de ofensa à integridade física simples (artigo
143º, nº 1) os limites da punição manifestamse com a consumação do crime,
pois nenhuma disposição legal prevê a punição numa fase anterior: nem os
actos preparatórios nem a correspondente tentativa são puníveis.
II. Tentativa; actos de execução; atenuação facultativa e obrigatória.
• CASO nº 31B: A que acabara de ter um forte desentendimento com o cônjuge decide
pôr termo à vida. Para isso enche um copo com uma bebida alcoólica à qual adiciona
veneno. No entanto, A afastase momentaneamente do aposento onde deixara o copo
com veneno com a manifesta intenção de ao voltar o tomar. Só que, passados
momentos, por uma qualquer resolução interior (in)condicionada, decide antes, por
aquele mesmo meio, matar o cônjuge já que sabia que este tinha uma forte
M. Miguez Garcia. 2001
791
dependência alcoólica e não deixaria de beber o conteúdo do copo que deixara ficar
na outra sala. B não chega a beber o líquido envenenado por razões que para o caso
pouco montam. (Exemplo do Prof. Faria Costa).
Na resolução de casos práticos deve verificarse se o facto se não
consumou e se a tentativa é punível (artigo 23º). Depois, seguindo a técnica do
próprio Código, é altura de determinar se o agente decidiu cometer o crime. Por
fim, verificase se houve começo de execução, se o agente pôs em marcha o
plano que concebeu, praticando actos de execução (artigo 22º, nºs 1 e 2).
Na prova de um caso prático, a resolução tem de se discutir, logo de início, como primeiro
elemento da tentativa. Nessa medida, é tratada de forma diferente do crime
consumado, onde se começa sempre com a investigação do tipo objectivo e o tipo
subjectivo só complementa. A necessidade de escolher, na tentativa, uma ordem
diferente resulta de não poder ser averiguado o complemento para o preenchimento
do tipo objectivo, enquanto não se sabe a que é que o autor estava resolvido. Quando,
por ex., numa troca de palavras, alguém puxa de uma pistola, isto pode ser o
complemento de um homicídio, se o autor simultaneamente quer disparar sobre o
interlocutor; se, pelo contrário, ele só quer ameaçar com a arma, tratase, quando
muito, do elemento que faltava para uma coacção. C. Roxin, Problemas fundamentais, p.
298.
Porque se pune a tentativa? O desvalor da acção é o mesmo na tentativa
e no crime consumado.
Os partidários da teoria objectiva fundamentam a punibilidade da
tentativa no perigo concreto para o bem jurídico protegido, que é
quantitativamente inferior ao do crime consumado —nesta perspectiva
dificilmente haverá lugar para a punição da tentativa inidónea (ou impossível). Já
a teoria subjectiva considera a vontade do autor, comprovadamente hostil ao
direito e que assim se manifesta no comportamento tentado, i. é, no desvalor
M. Miguez Garcia. 2001
792
subjectivo de acção, como o fundamento da respectiva pena. O que justifica, por
um lado, a punibilidade de qualquer forma de tentativa inidónea; por outro,
possibilita o alargamento da tentativa à custa da fase preparatória do iter
criminis. Na tentativa impossível ou inidónea a resolução delitiva traduzida em
actos executivos exteriores não pode conduzir à consumação do delito. Isto
poderá ficar a deverse a que a acção seja inadequada, à inexistência do objecto
material ou à inidoneidade do sujeito. (1)
• As duas principais posições surgem frequentemente combinadas. Por ex., nos §§ 22 e 23 do
StGB põemse em relevo as representações do autor e prevêse a punição da tentativa
inidónea (§ 22); a mais disso, limitase o âmbito da tentativa de acordo com critérios
objectivos (§ 22: “unmittelbar ansetz” — “realização imediata do tipo”) e exigese
para a tentativa impossível uma certa medida de perigosidade objectiva. (Cf. Ebert, p.
111). Nesta perspectiva mista, ainda assim domina a componente subjectiva
(Baumann/Weber/Mitsch) e com ela a autorização para o juiz atenuar a pena, mas
em moldes simplesmente facultativos. A teoria da impressão, especialmente sensível
à vertente subjectiva da tentativa, é em geral a acolhida na Alemanha. De acordo com
esta teoria, o fundamento da punibilidade é, certamente, a vontade contrária a uma
norma de conduta, mas a punibilidade da exteriorização da vontade dirigida ao facto
só poderá afirmarse quando possa ser abalada a confiança da comunidade na
vigência da ordem jurídica e lesado o sentimento de segurança colectiva e com ele a
paz jurídica (Jescheck, AT, p. 463). Os fundamentos da teoria não aparecem em
oposição com o castigo da tentativa impossível, mas obstam à punibilidade da
tentativa irreal ou supersticiosa, porque esta não desestabiliza a confiança da
1
. A teoria subjectiva pura da tentativa aparece patrocinada inicialmente por aqueles que
professam uma concepção subjectiva pura do injusto, doutrina que, depois de ter ficado
obscurecida pela doutrina objectiva, ressurge modernamente — sem perder o seu carácter
absolutamente minoritário — na obra de Zielinski, entre outros autores. De acordo com ela, o
injusto é integrado, de modo não já fundamental, mas exclusivo, pela presença do desvalor
subjectivo de acção, reservandose para o resultado o papel de uma simples condição objectiva
de punibilidade. A concepção subjectiva do ilícito parte neste autor da premissa de que a
norma jurídica é prioritariamente uma norma subjectiva de determinação com a qual o Estado
pretende vincular a vontade dos destinatários, motivandoos ao comportamento social valioso.
O ordenamento jurídico não se limita a valorar o comportamento humano externo, antes trata
de motivar o comportamento valioso e de dissuadir os destinatários a adoptarem
comportamentos antisociais. Cf. Sánchez García de Paz, p. 15.
M. Miguez Garcia. 2001
793
comunidade na vigência do ordenamento jurídico (ainda Jesheck, ob. e loc. cits.). O
conceito subjectivo — acentua a propósito o Prof. Cavaleiro de Ferreira — "faz
depender a existência da tentativa da manifestação inequívoca, em acto exterior, da
intenção de cometer o crime. Reflecte de algum modo o direito penal da vontade (por
oposição ao direito penal do facto), acentuando a malícia da vontade como essência
do próprio crime e subalternizandolhe o aspecto da ilicitude objectiva". Neste
quadro, é facultativa a atenuação da pena aplicável ao crime tentado.
Segundo os pontos de vista objectivos, a tentativa exige a perigosidade objectiva da
acção, na medida em que tal perigosidade se manifeste ex ante, ainda que ex post se revele que o
resultado não podia produzirse. O juízo sobre o perigo é formulado na perspectiva de um
observador objectivo situado no lugar do autor (ex ante), com todos os conhecimentos e
possibilidades de que este dispõe, assim como o conhecimento médio existente na
comunidade. Este requisito é um momento constitutivo de toda a acção de tentativa, não só da
tentativa idónea, mas também da inidónea ou impossível. Cf. Sánchez García de Paz, p. 20.
• A polícia soube que um “rato de hotel”, há muito conhecido pelas suas actuações,
geralmente bem sucedidas, tinha sido visto a "rondar" uma residencial da “Baixa”. O
visado admitiu que andava por ali à espera de uma oportunidade para actuar.
Neste exemplo de Naucke, se nos orientarmos pelo critério da
perigosidade objectiva do comportamento do ladrão de hotéis chegamos à
conclusão que o marginal ainda não tinha feito nada de perigoso — não tendo
havido "começo de execução", não se atingiu o limiar da punibilidade. Mas se
partirmos da perigosidade subjectiva do agente, podemos chegar a resultados
opostos, que o legislador certamente não terá querido adoptar no artigo 22º. A
opção por um ou outro sistema está de algum modo ligado à questão dos fins
das penas. Historicamente, nem o pendor retribuicionista e de expiação nem as
actuais finalidades de ressocialização exigiriam no nosso exemplo a
efectividade da sanção. Mas a cominação legal através da perigosidade
subjectiva do agente impõe que se adoptem as medidas penais correspondentes
— a perigosidade subjectiva impõe portanto a educação pela pena.
Fiandaca/Musco recordam como, durante o regime fascista italiano, se
verificou a tendência para dilatar os limites da tentativa punível por meras
razões de controlo político, abandonandose o critério tradicional do início da
execução. E concluem que o verdadeiro punctum dolens da punição da tentativa
coincide com a preocupação de evitar que o instituto se preste, na sua aplicação
concreta, a ser manipulado.
M. Miguez Garcia. 2001
794
• Com efeito, em 1930, na Itália, com o Código Rocco, abandonouse a fórmula do "início de
execução" utilizada pelo Código Zanardelli, substituindoa pela da idoneidade e
inequivocidade dos actos. Já Carrara se referia a esta "univocità degli atti", pois, se
alguém pega numa espingarda e se prepara para disparar, isso significa tanto que
quer abater legitimamente uma peça de caça como a intenção de matar um
companheiro ou simplesmente de lhe causar lesões corporais. Portanto, "se um acto
destes tanto pode conduzir ao crime como à acção inocente, então não passa de um
acto preparatório."
É necessário que se verifiquem actos de execução de um crime que o
"agente decidiu cometer". Entre nós sempre predominou o carácter objectivo
do instituto (cf. as Actas, a partir da p. 164). A tentativa tem vindo a prestar
homenagem ao critério da causalidade adequada, ainda que sem se renunciar
ao próprio plano do agente. Frequentemente, destacase também a ideia de que
o ordenamento jurídicopositivo valora muito mais intensamente o desvalor do
resultado do que o desvalor de perigo — na expressão do Prof. Faria Costa —,
correspondendolhe por isso a obrigatoriedade da atenuação especial, em
conformidade com o artigo 23º, nº 2, mas em contraste com os casos de
atenuação especial facultativa. (Cf. Faria Costa, O Perigo, p. 408 (102); Pedrosa
Machado, p. 21; Almeida Fonseca, p. 92). A atenuação obrigatória fazse nos
termos do artigo 73º, mas não está sujeita, naturalmente, aos constrangimentos
do artigo 72º.
No Projecto da autoria do Prof. Eduardo Correia (1963) haveria tentativa
"quando o agente pratica actos de execução de um crime que, todavia, não vem
a consumarse", mas logo houve objecções à proposta por não existir nela
referência ao elemento subjectivo, à intenção, rectius, à resolução do agente —
por um lado, não seria possível ganhar qualquer significado ou sentido o
“praticar actos de execução”, por outro, renunciavase à exigência de tipicização
da ilicitude.
• "A ilicitude material da tentativa [é] constituído pelo desvalor da acção. Entre nós essa
afirmação não é inteiramente correcta. Desde a crítica endereçada à concepção
subjectiva da punibilidade da tentativa defendida por Beleza dos Santos, que a
doutrina portuguesa se inclina para uma fundamentação materialobjectiva assente
na ideia de perigo para o bem jurídico, embora mitigada pela valoração do plano
M. Miguez Garcia. 2001
795
do agente. Portanto, o ilícito material do facto tentado comporta um momento de
desvalor de resultado, traduzido na colocação em perigo [perigo real no caso da
tentativa possível, aparência de perigo no caso da tentativa impossível punível] de
bens jurídicos, reconduzindose, desse modo, ao fundamento geral da intervenção
penal. " Augusto Silva Dias, Entre "comes e bebes", RPCC 8 (1998), p. 587.
• Onde se aproveita para falar do dolo na tentativa. "Aferir da ilicitude da tentativa na base
da criação de um perigo para bens jurídicos significaria, pura e simplesmente,
renunciar à exigência de tipicização da ilicitude! Se um homem derruba uma rapariga e
nesse momento é preso, qual o tipo de ilícito perante o qual vai pôrse a questão da
tentativa? O do roubo, o do homicídio, o do atentado ao pudor, o da violação...? Eis o
que só é possível responder através da referência à resolução do agente" (Figueiredo
Dias, Direito Penal, Sumários e notas, 1976, p. 15). Sem uma referência ao dolo, ao
menos como "dolodotipo", i. é, como conhecimento e vontade de realização do tipo
deilícito objectivo, "não é possível fundamentar tipicamente o ilícito da tentativa, não
é possível, por outras palavras, realizar, relativamente à tentativa, a função de
tipicização do ilícito" (Figueiredo Dias, Sobre o estado actual da doutrina do crime, RPCC
1 (1991), p. 50).
Para a "vexata quaestio" da caracterização dos actos que importam já um
começo de execução, o Prof. E. Correia propunha o que se consigna agora nas
três alíneas do nº 2 do artigo 22º do Código. Assim, são actos de execução,
desde logo, os que preenchem um elemento constitutivo do tipo legal. "Só
que, por vezes, — sobretudo quando a lei não descreve de forma vinculada
uma certa acção, mas só o resultado típico — é difícil saber se um certo acto
preenche ou não um elemento típico. Certo será, todavia, que a execução que
todo o tipo supõe háde abranger os actos idóneos a causar o resultado nele
previsto — razão por que também tais actos hãode considerarse como
executivos". Deste modo, a tese da perigosidade do acto como reveladora do
seu carácter executivo, impõe o recurso ao plano do agente, ao menos
considerado na sua significação objectiva. Mas é possível ir mais longe, pois
pode haver actividades que envolvam um perigo de lesão tal que devam ser
abrangidas pela função extensiva da punibilidade que encerra o conceito de
tentativa. Por exemplo: A deixa uma bomba de relógio em casa de B, mas é
M. Miguez Garcia. 2001
796
preso antes de ter posto a trabalhar o maquinismo que conduz à deflagração. O
critério da alínea c) do aludido nº 2, com apelo à experiência comum, visa
melhorar a chamada fórmula de Frank, que tem servido para solucionar casos
semelhantes.
• Os principais critérios. O do começo de execução da acção típica ou o dos actos idóneos,
dirigidos de modo não equívoco à prática dum delito? É difícil apontar com
precisão o momento em que se passa da fase dos actos preparatórios e se chega à dos
actos executivos. Os práticos, informa Paulo José da Costa Jr., ofereceram um critério
meramente cronológico para distinguir os vários momentos do iter criminis: "Actus
remotus, remotissimus, propinquus et proximus". Para a doutrina, a distinção
constituiu verdadeira via crucis. Critérios os mais variados foram propostos. Muito se
discutiu a respeito, nas inúmeras monografias e tratados, com conclusões
diversificadas e opostas.
• O Código italiano de 1930, como se viu, construía o crime tentado com referência aos
contornos imprecisos do conceito de "atti idonei" e "diretti in modo non equivoco" a
commetere il delito: actos idóneos, dirigidos de modo não equívoco à prática do
delito. Todavia, o requisito da idoneidade não contribui decisivamente para a
tipificação da conduta da tentativa. Por sua vez, o requisito da direcção não equívoca
dos actos — a inequivocidade do comportamento — não atinge suficientemente o
perfil da tipicidade, ficando o juiz com a liberdade de determinar o conteúdo e os
limites do instituto.
• Na maior parte dos sistemas europeus, a conduta tentada continua a ser individualizada
através do conceito do começo de execução da acção típica. Nalguns casos, remetese
simplesmente para "um começo de execução", como no art. 1215 do Código francês,
caracterizandoo a praxis pelos actos que devam ter como consequência directa e
imediata a consumação do crime. Noutros casos, a fórmula do começo de execução
completase pela referência a factos exteriores, como no artigo 16º, nº 1, do Código
espanhol: Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente
por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían
M. Miguez Garcia. 2001
797
producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la
voluntad del autor. O Código português empenhase numa definição analítica dos
actos de execução — sem que esta especificação, diz por ex., o relatório da Comissão
ministerial para a reforma do Código Penal italiano (constituída em 1 de Outubro de
1998), "seja realmente de molde a contribuir para a definição da conduta, por ser
evidente que a exigência de uma manifestação exterior da resolução criminosa se
retira já do princípio geral da materialidade do crime. Ora, o problema é o da
individualização do grau de desenvolvimento da conduta punível, cuja solução se
procura conseguir com o critério do início de execução."
• Tanto no Código penal alemão como no austríaco o critério da individualização da conduta
típica continua a ser o da "execução do tipo", mas o limiar da punibilidade é
antecipado com a referência aos actos que precedem "directamente",
"imediatamente", os actos executivos. Também o nosso Código equipara aos actos
executivos os que, segundo a experiência comum e salvo circunstâncias
imprevisíveis, forem de natureza a fazer esperar que se lhes sigam actos executivos.
A disciplina da tentativa orientase assim, entre nós, numa direcção objectiva,
centrada no conceito da punibilidade dos actos executivos da conduta típica.
O Prof. Faria Costa entende que no nosso Código se consagra um critério
objectivo mitigado. É necessário que se verifiquem actos de execução de um
crime que o "agente decidiu cometer". O critério fundamental apresentase
como objectivo "já que a tentativa tem que integrar uma referência objectiva a
certa negação de valores jurídicocriminais na forma de lesão ou perigo de lesão
de bens jurídicos protegidos mas a que há que adicionar o próprio plano do
agente integrado na sua intencionalidade volitivamente assumida, que, face ao
texto legal e segundo a nossa opinião, não pode ser limitado ao mero papel de
esclarecer o significado objectivo do comportamento do agente, antes dever ser
valorado em si mesmo. Por outro lado, é indiscutível que na seriação do que são
actos de execução se adoptou deliberada e conscientemente um critério que
assenta no pressuposto da causalidade adequada...".
• No exemplo invocado, temos uma "tentativa de envenenamento por omissão que
compreende alguns pontos que importa esclarecer. Em primeiro lugar, os actos de
M. Miguez Garcia. 2001
798
"execução" (v. g., deitar veneno no copo) não têm qualquer relevância na sua forma
activa já que primeiramente foram praticados tendo em vista um acto que não é
punido criminalmente. Eles só podem ganhar valor jurídicopenal quando
socialmente era de esperar que o agente tivesse actuado de modo a evitar a lesão do
bem jurídico da vida. Só que, em segundo lugar, neste caso, o momento objectivo em
que socialmente se esperava a actuação do agente tem de passar necessariamente
pelo próprio agente. Isto é, só quando ele decide inverter o acto de suicídio em
homicídio por envenenamento é que verdadeiramente era socialmente esperado que
o agente removesse o copo com veneno". (Prof. Faria Costa, Formas do Crime, in
Jornadas de Direito Criminal, CEJ, 1983, p. 160).
III. Começo de execução; tentativa inacabada; tentativa acabada.
• CASO nº 31C: Uma mulher casada quer matar o seu marido, confeccionalhe uma sopa
envenenada e colocaa sobre a estufa, na cozinha. O marido costuma, todos os dias,
depois do regresso do do escritório, tirar daí a refeição quente, já preparada. 1) A
mulher está presente no momento da entrada do marido em casa, e observa o
comportamento deste. 2) A mulher sai de casa antes da entrada do marido. Ela
pretende regressar somente horas mais tarde, e espera vir a encontrar o marido
morto. (Cf. Roxin, p. 321 e ss.).
A mulher fez tudo o que era necessário da sua parte para a produção do
resultado. Só que se trata de dois diferentes tipos de matéria de facto: no
primeiro, ela detém nas suas mãos o acontecimento até ao seu último momento
— a mulher pode, em qualquer altura, deitar fora a sopa, o processo causal
pertence ainda à sua esfera de domínio. Roxin, p. 322: no 1º caso equiparase
estruturalmente a tentativa inacabada ao facto de que o autor detém, nas suas
mãos, o acontecimento até ao seu último momento. Assim, tal como o autor
pode em qualquer momento interromper a tentativa inacabada do crime, assim
também a mulher pode, em qualquer momento, atirar fora a sopa. Cf. com o
caso anterior.
M. Miguez Garcia. 2001
799
IV. Tentativa; actos de execução; actos preparatórios.
• Caso nº 31C: A quer matar B com uma bomba e trata de reunir o explosivo e os
materiais para fazer uma bomba relógio, que monta em sua casa. Em seguida, escapa
se pela calada da noite e entra na casa de B, que supõe vazia. Começa por tirar a
bomba do saco onde a transporta. B, todavia, encontrase em casa, no piso mais
elevado, e como ouviu barulho acende a luz para ver o que se passava. A dáse conta
de tudo. Com medo de ser preso, agarra no saco e deixa a bomba sem ter posto a
trabalhar o maquinismo que conduz à deflagração (cf. Samson, caso nº 28, p. 155;
Actas da Comissão Revisora do Código Penal, Parte geral, AAFDL, p. 171).
Punibilidade de A ?
V. No conto do vigário, quem quer cai, quem não quer...
• Para que o agente seja condenado por tentativa não basta que os factos do crime
consumado tenham sido planeados e existam na mente daquele e que a consumação
não ocorra por circunstâncias alheias à sua vontade. Todo o crime tem um sujeito
passivo — a vítima — e, por isso, os actos de execução têm de ser exteriorizados, de
modo a mostrar a intenção criminosa do agente. No crime de burla, na modalidade
de "conto do vigário", os actos de execução têm de incidir sobre o burlado, a vítima
em perspectiva. Na verdade, tendo os arguidos procurado testar a ingenuidade da
pseudo vítima e envolvêla na distribuição pelos pobres da quantia de um milhão de
escudos, sem que esta tenha aceite a proposta daqueles e, desconfiando das suas
intenções, foi contar o que se passava à GNR, que procedeu à detenção imediata dos
arguidos pondo termo às intenções destes, não se passou dos actos preparatórios.
Acórdão do STJ de 11 de Março de 1998 Processo n.º 1493/97 3.ª Secção
VI. Tentativa; actos de execução; extorsão.
• CASO nº 31D: A planeia amedrontar, alarmar e intimidar B, C e D, de modo a que se
sintam inseguros para assim os obrigar a pagaremlhe avultadas somas, através de
M. Miguez Garcia. 2001
800
explosões de grande porte. A, porém, foi surpreendido e preso, sem ter conseguido o
constrangimento das vítimas, no momento em que entrava em acção, ficando deste
modo impossibilitado de prosseguir o seu escopo criminoso.
A intimidação constrangedora através de explosões de grande porte
encontrase já "na zona imediatamente anterior à realização do tipo legal do
crime", pois através da mesma se cria situação da qual se deve esperar,
normalmente, o efeito pretendido pela realização do fim do agente. A sua
idoneidade para conduzir ao constrangimento propriamente dito é ponto que
se não discute, em nome das regras da vida e das formulações da lógica e do
senso comum. No concreto, há mesmo sinais de que tudo estava projectado
para a passagem, sem solução de continuidade, à chamada "fase decisiva do
facto". Há dolo (dolo directo) de extorsão consumada: A previu, quis e
perpetrou até onde lho consentiu a causa externa impeditiva o facto mesmo
de operar para constranger à entrega de somas elevadas, na mira de, em último
termo, conseguir a entrega das mesmas. Mostrase assim preenchido o tipo
especial do crime (extorsão) na forma tentada (cf. o ac. do STJ de 16 de Janeiro
de 1992, BMJ413206). Sublinhouse a expressão "sem solução de
continuidade", empregada pelo Supremo como adequada linha de orientação.
No acórdão do STJ de 1 de Abril de 1992, BMJ416341, acima referido, aludese
a uma "estreita conexão temporal entre a acção e o resultado", com o mesmo
sentido.
VII. Começo da tentativa na coautoria; teoria do domínio, pelo coautor, do
facto global.
• CASO nº 31E: Três assaltantes combinam que qualquer perseguidor deve ser abatido.
Quando um deles ouve, atrás de si, um perseguidor, dispara sobre ele, enquanto os
outros continuam a fuga (Roxin, p. 334).
A questão tem a ver com os limites temporais da coautoria. No caso de
coautoria, a tentativa começa, para todos os participantes, a partir do momento
em que um deles entra no estádio da execução. Há um domínio do facto conjunto:
como o acontecimento global da coautoria pode ser imputado a cada um dos
autores, cada acção de execução que um deles realiza, segundo o plano, é,
simultaneamente, uma acção de execução de todos. Segundo o plano conjunto,
M. Miguez Garcia. 2001
801
os três assaltantes seriam coautores do crime em apreço. A solução global baseia
se assim na imputação recíproca de actos: a actividade de cada coautor, na
medida em que estiver de acordo com o plano comum, deve ser imputada a
cada um deles como se se tratasse da sua própria. É como se as contribuições
para o facto fossem as de uma pessoa com muitas mãos, muitos pés, muitas
línguas... (Kühl).
A crítica que se faz à solução global, perante o princípio da legalidade e o
artigo 26º do Código Penal português (Valdágua), é que neste se exige que o co
autor tome "parte directa na ... execução (do facto)".
• A solução passará então pela conjugação do artigo 26º com as diversas alíneas do artigo 22º
e a análise do plano de execução do facto acordado entre o agente e os outros
comparticipantes, justamente porque a intervenção do coautor na fase executiva é
um requisito essencial da coautoria (cf. Valdágua, p. 182). Considerese o exemplo
clássico (referido tb. por Valdágua, p. 59 e 183): um casal planeou um furto em casa
alheia, empregando chave falsa, ficando combinado que ambos entrariam para
subtraírem diversos objectos. O plano passava por uma primeira fase, em que o
marido entraria sozinho. Quando este já tinha a chave metida na fechadura da porta e
procurava abrila, estando a mulher inactiva, a aguardar a sua vez de intervir, de
acordo com o combinado, apareceu o dono da casa. A mulher é coautora da tentativa
de furto: com a sua presença no local do crime "praticou já um acto de auxílio moral
(...) e a esse acto deveria, segundo o plano comum, seguirse, muito em breve, a
intervenção dela na subtracção, que é elemento constitutivo do respectivo tipo legal
de crime (artº 22º, nº 2, alínea c)". Cf. Valdágua, p. 183, que adverte que ao mesmo
resultado chegaria a solução global, mas através da imputação, à mulher, do
comportamento do marido, como se de uma conduta própria se tratasse, ou pela via
do domínio ou condomínio do facto global pela mulher, dado o carácter essencial da
sua tarefa (cooperar na subtracção).
M. Miguez Garcia. 2001
802
VIII. Medida da pena da tentativa; concorrência de agravantes especiais e
factores atenuativos especiais; reincidência.
• CASO nº 31F: Para a determinação da pena quando ocorram agravantes especiais,
como a reincidência, e factores atenuativos também especiais, como a tentativa, que
conduzem à aplicação do regime dos artigos 72º e 73º, há que atender, em primeiro
lugar, ao conjunto dos elementos agravativos para se obter a correspondente moldura
penal, para depois se fazerem actuar os requisitos atenuativos e se determinar a
respectiva moldura punitiva. Segundo o CP 95, o furto qualificado agravado por
reincidência tem como moldura penal uma punição entre 2 anos e 8 meses e 8 anos de
prisão; sendo ele especialmente atenuado deve ser punido com prisão entre 30 dias e
5 anos e 8 meses de prisão. Ac. do STJ de 2 de Maio de 1996, CJ, ano IV (1996), p. 175.
A pena da reincidência alcançase obtendo uma moldura penal, só depois
passando o juiz à determinação da pena concreta (artigo 76º). O mecanismo é o
seguinte (Actas, 9, 83): — num primeiro momento o juiz determinou a medida
concreta da pena como se não houvesse reincidência; — num segundo
momento, verificada a reincidência, o juiz retoma a moldura abstracta,
construindo uma nova moldura penal agravada de um terço no mínimo; — em
terceiro lugar, ele fixa uma pena dentro da moldura encontrada; — por último,
ele procede à comparação das duas penas concretas, indo ver se a agravação é
superior à pena concreta mais grave anteriormente fixada.
No ac. do STJ de 16 de Janeiro de 1990, CJ, 1990, tomo I, p. 13, tratase da
moldura penal aplicável ao crime de homicídio voluntário tentado, cometido
com excesso de legítima defesa: atenuação especial do artigo 33º, nº 1, e o
disposto no artigo 23º, nº 2, para a punição do crime tentado.
No ac. do STJ de 19 de Setembro de 1990, CJ, 1990, tomo 4, p. 17, concluise
ser possível a atenuação especial por qualquer das circunstâncias do artigo 73º
[72º] em relação ao crime tentado.
O acórdão do STJ de 1 de Março de 2000, BMJ49559, contém uma
operação de cúmulo sucessivo dos efeitos de diversas atenuantes especiais
aplicáveis.
M. Miguez Garcia. 2001
803
IX. Tentativa; tentativa impossível; artigo 23º, nº 3; crime putativo; crime
impossível; impossibilidade do crime; tentativa irreal ou supersticiosa.
• CASO nº 31G: Durante uma caçada, A dispara para uns arbustos, na convicção de que
aí se encontra um outro caçador, seu inimigo, que pretende matar com o disparo.
Afinal, não era uma pessoa que ali se encontrava, mas uma peça de caça.
Artigo 23º, nº 3: “A tentativa não é punível quando for manifesta a inaptidão do meio empregado pelo
agente ou a inexistência do objecto essencial à consumação do crime.”
Este n° 3 soluciona uma das questões mais discutidas na doutrina: a da
punibilidade da tentativa inidónea, dispondo que a tentativa não é punível
quando for manifesta a inaptidão do meio empregado pelo agente ou a
inexistência do objecto essencial à consumação do crime. Assim, a inidoneidade
do meio ou a carência do objecto, salvo nos casos em que são manifestas, não
constituem obstáculo à existência da tentativa. Consagrase legislativamente a
punição do chamado crime impossível, que no regime anterior — como nota
Maia Gonçalves, remetendo para a anotação ao acórdão do STJ de 21 de Março
de 1962, BMJ115263 — a jurisprudência rejeitava.
• Já não estão aqui em causa os limites entre actos preparatórios e actos de execução, mas um
problema de limites qualitativos: existe tentativa inidónea quando, na perspectiva de
um terceiro, e examinada ex post, a actuação do sujeito não podia, desde o início,
chegar à consumação do delito pretendido; todavia, examinada ex ante, do ponto de
vista do autor, o plano deste, racionalmente, podia alcançar a consumação (Barja de
Quiroga, p. 68). Adiantese desde já que a falta de objecto verificase quando o autor
pretende matar quem já está morto ou quando dispara para a cama julgando que um
seu inimigo ali se encontrava, quando na verdade era a almofada que semelhava o
vulto. A inidoneidade do meio aparece quando o autor pretende matar com açúcar,
no convencimento de que era arsénico.
A inidoneidade do meio ou a carência do objecto não devem ser aferidas
através daquilo que o agente se representa, mas objectivamente. “Salientese
no entanto que a lei exige do mesmo modo a prática de algo de objectivo, isto é,
M. Miguez Garcia. 2001
804
de actos de execução; simplesmente estes não contêm um perigo real, mas um
perigo tãosó aparente. Assim a tentativa impossível, também conhecida pela
designação de crime impossível, só não é punível quando a inaptidão do meio
empregado pelo agente ou a inexistência do objecto essencial à consumação do
crime forem manifestas. Esta formulação integrase na orientação expendida
pelos Professores Eduardo Correia e Figueiredo Dias, Direito Criminal, II, 1965,
págs. 233 e segs. e também acompanha de perto o Projecto de 1963. De notar,
porém, que do § único do art. 22° do Projecto constava o texto seguinte: "A
inidoneidade do meio empregado ou a carência do objecto só excluem a
tentativa quando sejam aparentes". A substituição de aparentes por manifesta,
efectuada após discussão na Comissão Revisora, visou significar que a
inidoneidade do meio ou a carência do objecto não devem ser aferidas através
daquilo que o agente se representa, mas sim através das regras da experiência
comum ou da causalidade adequada, portanto objectivamente, segundo o
critério da generalidade das pessoas”. Maia Gonçalves, Código Penal
Português, em anotação ao artigo 23º.
• A perigosidade denotada em relação a um bem jurídico de mera aparência. "O
verdadeiro cerne da punibilidade da tentativa impossível reside na avaliação da
perigosidade referida no bem jurídico, sendo certo que nesta hipótese, em boas
contas, o bem jurídico não existe; o que há é uma aparência de bem jurídico e neste
sentido pareceria que a tentativa impossível, quando não fosse manifesta a
inexistência do objecto, também não deveria ser punível, pois que falta o bem
jurídico. Todavia tem de se fazer apelo, neste ponto, a uma ideia de normalidade —
segundo as aparências — que se baseia num juizo ex ante de prognose póstuma. É
que, entendese, dado o circunstancialismo em que o agente actuou, o desvalor da
acção merece ser punido não obstante não existir o bem jurídico. E mereceo porque
denotou perigosidade em relação a um bem jurídico ainda que este assuma a forma
de mera aparência. Mas mesmo que assim se não entenda é correcto dizerse que o
Direito Penal ao visar primacialmente a protecção de bens jurídicos precipitados no
tipo legal não pode esquecer, do mesmo passo, que a norma incriminadora—na sua
dimensão de determinação— também proíbe as condutas que levam à violação ou
perigo de violação daqueles bens jurídicos.” Faria Costa, Jornadas, p. 165. "Se a
chamada tentativa impossível se afirma como a mais completa e radical manifestação,
M. Miguez Garcia. 2001
805
ao nível do ser causal, de inaptidão de atingir o resultado, isto é, de preencher formal
e materialmente o tipo legal, então, o agente parece que não tenta nada." Faria Costa,
Tentativa e dolo eventual, p. 59.
Nos casos de tentativa impossível punível, que gira no espaço dos
chamados crimes de perigo abstracto, põese em perigo o bem jurídico de forma
abstracta (na tentativa idónea põese em perigo o bem jurídico de modo
concreto) — assim afirmase a punibilidade mesmo onde falta o bem jurídico e,
por isso, inexiste real perigosidade, sendo que o ordenamento penal visa
exclusivamente a protecção (directa) de bens jurídicos; no entanto, a noção de
bem jurídico beneficia ainda de reservas explicativas em ordem a fundamentar
materialmente muitas das situações de, por exemplo, ausência de objecto” (Cf.
Faria Costa, Jornadas, p. 160 e ss.). No caso nº 31G, existe uma discrepância
entre a representação e a a vontade do agente em relação à realidade objectiva:
o caçador queria matar uma pessoa, mas matou um animal, que não era objecto
do seu dolo. Há aqui uma situação oposta à do erro sobre a factualidade típica.
De acordo com o regime do artigo 16º, nº 1, ocorrendo a situação de erro, exclui
se o dolo (ainda que o agente possa ser punido por negligência: artigo 16º, nº 3).
"Nos casos de tentativa impossível (artigo 23º, nº 3) o facto (tentado) subsiste
como um facto doloso (pois o dolo do facto típico não é afectado pela
discrepância entre a representação do agente e a realidade)." Teresa P. Beleza e
Frederico de Lacerda da Costa Pinto, O Regime Legal do Erro e as Normas Penais
em Branco, p. 12.
Tentativa impossível, impossibilidade do crime, tentativa irreal ou
supersticiosa. Inidoneidade absoluta. A referência legal básica, no actual
Direito português, obtémse através da indicação dos limites da punibilidade da
tentativa inidónea, nos termos do nº 3 do artigo 23º do Código Penal. Esta
forma de tratar a matéria é própria da doutrina germânica, mas exige precisões
complementares — a inidoneidade absoluta, quando diz respeito não somente
aos meios, mas ao objecto do delito, conduz, mais do que à noção de tentativa
impossível, ao conceito da própria impossibilidade do crime, sendo que uma
das versões dessa impossibilidade é precisamente constituída pela tentativa
irreal ou supersticiosa. (Cf. Miguel Pedrosa Machado; ainda, Almeida Fonseca,
p. 97). A inidoneidade absoluta dáse perante a impossibilidade, em si e em
todos os casos, de um certo meio empregado, v. g., uso de açúcar em vez de
veneno (Eduardo Correia). Na tentativa impossível — tentativa de um crime
que nunca poderia ser consumado, a não ser na perspectiva do sujeito — o agente
M. Miguez Garcia. 2001
806
figura a existência de um elemento típico que na realidade não existe. Este erro,
como já se observou, constitui o reverso do erro sobre os elementos essenciais
do facto típico (artigo 16º, nº 1), em que o agente ignorou a existência de um
elemento que na realidade existe. Se o agente dispara sobre uma pessoa morta
na cama, pensando ele que a pessoa está apenas a dormir comete uma tentativa
impossível (o objecto não existe mas ele pensa que existe: será um caso de erro
por excesso, punível de acordo com o critério da teoria da impressão, acolhido no
artigo 23º, nº 3, na expressão de Teresa P. Beleza e Frederico de Lacerda da
Costa Pinto, cit., p. 12). Se o agente dispara sobre uma pessoa que está a dormir
na cama, pensando ele que está morta, actua em erro nos termos do artigo 16º,
nº 1, sendo punível nos termos do artigo 16º, nº 3. Se alguém na floresta dispara
contra uma árvore no convencimento de que isso é punível pratica um crime
impossível, a tentativa é irreal. Este último caso não é punível, por imperativo
do princípio nullum crimen sine lege. Quando a descrição típica não existe, tanto
a consumação como a tentativa são impossíveis: a atitude hostil ao direito não é
só por si fundamento da punibilidade.
Quando havia mercadorias tabeladas... A propósito: que é um crime putativo? "Essa palavra
vem do verbo latino putare, que significa julgar, pensar e acreditar. Mas no delito
putativo não existe crime. O exemplo clássico é o do comerciante que, em mercadoria
tabelada, equivocase e cobra menos, pensando cobrar mais do que é permitido. É raro,
mas enfim, elucida... Isso é que é crime putativo, porque a pessoa está julgando
cometer um delito, porém, não o pratica." (Magalhães Noronha, Crimes contra o
património, BMJ13858).
X. Tentativa impossível punível. Meio (in)idóneo.
CASO nº 31H: A quebrou o vidro duma janela do cartório da paróquia
de x, na cidade de Viana do Castelo, correu os fechos que cerravam a janela e
levantou a parte inferior da mesma, que era de guilhotina, com o propósito de
aí se introduzir para se apoderar de dinheiro e objectos existentes no interior,
mas foi surpreendido quando levantava a janela, tendo desistido dos seus
intentos. Dentro da janela havia grades com a mesma configuração daquela, i. e,
os rectângulos ou quadrados têm as mesmas dimensões dos caixilhos dos
M. Miguez Garcia. 2001
807
vidros da janela, de modo a não serem notados do exterior, e disso o arguido só
se apercebeu após ter subido a parte de baixo da janela. Tais grades não lhe
permitiriam a entrada no cartório, atentas as suas dimensões.
O A foi absolvido em 1ª instância do crime de furto qualificado na forma
tentada — artigos 203º, nº 1, 204º, nº 2, alínea c), 22º, 23º, nºs 1 e 2, e 73º, alínea b)
— de que vinha acusado pelo MP. Os factos assentes foram equacionados com o
disposto no artigo 23º, nº 3, que refere não ser punível a tentativa quando for
manifesta a inaptidão do meio empregado pelo agente. O Colectivo, porém,
concluiu que a hipótese configurava precisamente um caso de tentativa não
punível por absoluta inidoneidade do meio utilizado pelo A. Ponderouse em
especial não se ter provado que o A fosse portador de qualquer instrumento
que lhe facultasse ultrapassar o dito obstáculo (como uma serra de metal ou
coisa semelhante), sendo manifesto, em face das circunstâncias — os factos, de
resto, ocorreram por volta das 14 horas — e segundo as regras da experiência
comum que o A não conseguiria realizar os seus intentos. O Supremo (acórdão
de 7 de Janeiro de 1998, CJ 1998, tomo I, p. 151) apreciou o caso na sequência de
recurso do Ministério Público e concluiu que o A cometeu o crime de que vinha
acusado, por tentativa impossível punível: o arguido, quebrando o vidro e
correndo os fechos, e levantando em seguida a parte inferior da janela de
guilhotina, usou meio idóneo ou apto para consumar o tipo de crime que se
propunha levar a cabo. No entanto, tal meio tornouse depois inapto dadas as
circunstâncias, o que redunda em inidoneidade superveniente, portanto:
relativa, e não absoluta, pelo que não é manifesta. Além disso, o A, com a sua
conduta denotou perigosidade em relação ao bem jurídico protegido. Paulo
Saragoça da Matta comenta o acórdão ("comentário breve da solução
jurisprudencial") in Maria Fernanda Palma (coord.) Casos e Materiais de Direito
Penal, p. 341. Começa por colocar a questão de saber se a fundamentação da
punição da tentativa se encontra no dever de censurar a intenção criminosa do
agente ou no reagir contra o atentado ao bem jurídico protegido. Por outro lado,
concorda que não cabe apreciar o facto de ser ou não o A portador de qualquer
instrumento que lhe facultasse ultrapassar o dito obstáculo sem antes analisar a
notoriedade do obstáculo para o agente e para a generalidade das pessoas.
Discorda porém do Supremo quando este remete, como justificação para o
decidido, para a posição doutrinal que distingue a inidoneidade em absoluta ou
relativa, pois, para além de outras considerações que no texto também se
apuram, tal distinção "tem em vista permitir ao intérprete a compreensão do
M. Miguez Garcia. 2001
808
artigo 23º, nº 3 do CP quando refere a "inaptidão do meio empregado", e não
quando utiliza a expressão "manifesta".
XI. Consentimento desconhecido; artigo 38º, nº 4 do Código Penal.
• CASO nº 31I: A, de visita a casa do avô, tentase e tira da gaveta de uma secretária
uma valiosa moeda comemorativa, desconhecendo que o avô, dias antes, lha tinha
oferecido, dizendo para a empregada: "esta moeda já é do meu neto A".
Segundo o artigo 38º, nº 4, Código Penal é punível, com a pena aplicável à
tentativa, o facto praticado sem conhecimento da existência de consentimento
do ofendido susceptível de excluir a responsabilidade criminal.
Na sua interpretação corrente, a solução do Código aplicase ao
consentimento e em todos os outros casos em que o agente actua sem conhecer
uma situação justificadora realmente existente. Segundo o Prof. Figueiredo
Dias, entrarseia em contradição normativa se o Código, que aceita em
princípio a punibilidade da tentativa impossível, “deixasse de punir, também a
título de tentativa, aquele que actuou numa situação efectivamente justificante,
mas sem como tal a conhecer” (Pressupostos da punição, p. 61). Há, porém,
quem sustente que o nº 4 do artigo 38º tem a sua origem num persistente
equívoco. Aí, “o facto não é efectivamente tentativa; o facto também não é ilícito
porque é justificado; e o facto não é culpável” (Cavaleiro de Ferreira). A
divergência de pontos de vista prendese com a questão dos elementos
subjectivos das causas de justificação. Para o Prof. Cavaleiro de Ferreira, que
adoptava uma concepção objectiva da ilicitude, os elementos subjectivos do
crime pertencem à culpabilidade, pelo que as circunstâncias eximentes da
ilicitude têm unicamente natureza objectiva. Consequentemente, não será
punido o agente cuja conduta se integre, objectivamente, numa norma de
justificação. Cf. Raul Soares da Veiga, Sobre o consentimento desconhecido,
RPCC 3 (1991); e Manuel da Costa Andrade, Consentimento e acordo, p. 521 e
ss. e 668.
XII. Indicações de leitura
• Acórdão do STJ de 10 de Dezembro de 1997, BMJ472116: idoneidade do meio; manifesta
inaptidão do meio empregado pelo agente.
M. Miguez Garcia. 2001
809
• Acórdão do STJ de 13 de Março de 1996, BMJ455257: punição do crime tentado; dupla
atenuação especial; na punição da tentativa do que se trata é da fixação de uma moldura penal
abstracta, a qual comporta portanto a atenuação especial do artigo 73º, do que resultaria que no
fundo não se está perante uma dupla atenuação especial.
• Acórdão do STJ de 14 de Abril de 1993, BMJ426180: os arguidos ainda estavam a fazer o
carregamento dos materiais quando chegou a polícia. A situação é seguramente de furto
consumado em relação aos objectos já carregados. No mais, o plano criminoso dos arguidos,
que não foi completado, não passou da tentativa. No final, com todos os objectos que
subtraíram, os arguidos cometeram um crime de furto consumado, independentemente do fim
subjectivo que tinham de levar mais objectos. Portanto, consumado um crime de furto, com a
subtracção de materiais nos termos expostos, não mais se pode falar de tentativa desse mesmo
crime. De tentativa só pode falarse se justamente a consumação do crime não chegou a ter
lugar.
• Acórdão do STJ de 18 de Junho de 1998, processo nº 256/98: no domínio dos crimes de
tráfico de estupefacientes não é possível uma actuação enquadrável na figura da tentativa,
dado que a previsão do respectivo tipo incriminador engloba todos os actos possíveis que
teoricamente lhe podem vir a corresponder.
• Acórdão do STJ de 19 de Setembro de 1990, CJ, ano XV (1990), p. 17: crime tentado, dupla
atenuação especial.
• Acórdão do STJ de 24 de Março de 1999, BMJ485267: Tentativa, Tentativa impossível.
Crime impossível. A acordou com B arranjar alguém que incendiasse uns armazéns, mas nunca
foi intenção deste fazêlo, já que este apenas pretendia receber do A e fazer seu o preço
combinado pelo serviço e com isso ludibriálo. Ora, o comportamento do autor mediato será
punido se ele determinou outro ou outros à prática do facto e desde que haja execução ou
começo de execução do facto criminoso induzido ou praticado por determinação do autor
mediato.
• Acórdão do STJ de 28 de Fevereiro de 1996, CJ, ano IV (1996), tomo 1, p. 219: para a
punibilidade da tentativa há que considerar o carácter externo da conduta e a sua
apreensibilidade para a generalidade das pessoas e que o juízo sobre a existência ou
inexistência do objecto tem que ser, em primeiro lugar, um juízo objectivo, pelo que não releva
M. Miguez Garcia. 2001
810
aquilo que o agente considera existente ou inexistente. Todavia, tem de fazerse apelo, neste
ponto, a uma ideia de normalidade, segundo as aparências, que se baseia num juízo de
prognose póstuma.
• Acórdão do STJ de 4 de Janeiro de 1996, CJ, ano IV (1996), t. II, p. 161: A figura da tentativa
impossível só se verifica quando forem manifestas a inidoneidade do meio empregue pelo
agente ou a inexistência do objecto essencial à consumação do crime. Não se verifica uma
actuação de crime impossível nos casos em que o agente pratica todos os actos necessários para
a prática de um crime (de extorsão), mas o mesmo se não consuma, em resultado da actuação
conjugada dos lesados, das autoridades policiais e de outro coarguido.
• Acórdão do STJ de 7 de Janeiro e 1998, CJ, 1998, tomo I, p. 151: A inidoneidade do meio
pode ser absoluta ou relativa. A primeira existirá quando o meio for, por natureza, inapto para
produzir o resultado. A segunda verificase quando, sendo o meio em si mesmo inidóneo, ou
apto, se torna inapto para produzir o resultado. Ao exigirse no artigo 23º, nº 3, que a inaptidão
do meio seja manifesta, para que a tentativa não seja punível, temse em vista a inidoneidade
absoluta.
• Acórdão do STJ de 7 de Junho de 1995, BMJ448115: Estando provado que os dois
arguidos aprovaram entre si e decidiram apropriarse das quantias monetárias que pudessem
estar no interior do cofre do estabelecimento e, em execução desse projecto conjunto e com esse
objectivo, enquanto um procurava forçar a fechadura da porta de entrada o outro vigiava a
curta distância, tendo sido entretanto surpreendidos e detidos por agentes policiais, não obsta
à verificação do crime de furto, na forma tentada, a circunstância de não terem ficado
demonstrados, em julgamento, a existência e o valor das quantias eventualmente guardadas no
referido cofre, porquanto: a) é inegável que os arguidos praticaram actos de execução; b) a
inexistência dos valores a apropriar não era manifesta; c) segundo as regras da experiência
comum, era previsível que o cofre conteria importâncias monetárias; d) os meios empregues
pelos arguidos, nas exactas circunstâncias em que actuaram, foram adequados a alcançar a
apropriação, isto é, a preencher o tipo legal do crime de furto; e) a falta de prova da existência e
do valor das quantias monetárias eventualmente guardadas no cofre apenas acarreta a
impossibilidade de qualificação do crime de furto tentado.
M. Miguez Garcia. 2001
811
• Acórdão do Tribunal Constitucional de 30 de Maio de 2001, proc. nº 262/2001, DR II série
de 18 de Julho de 2001: qualificação dos factos como crime de tráfico na forma consumada,
sendo que na perspectiva do arguido recorrente a factualidade apurada apenas permitiria a
qualificação como detenção na forma tentada, por não ter havido efectiva disponibilidade
sobre o produto.
• Relazione della Commissione Ministeriale per la Riforma del Codice Penale, in Riv. ital.
dir. proc. penale, 1999, p. 616 e ss.
• Actas das sessões da Comissão revisora do Código Penal, parte geral, vol. 1 e 2, AAFDL, p.
184 .
• B. Petrocelli, Il delito tentato. Studi. Cedam, Padova, 1966.
• Beleza dos Santos, RLJ, ano 66, p. 194 e ss.
• Bernd Heinrich, Die Abgrenzung von untauglichem, grob unverständigem und
abergläubischem Versuch, Jura 1998, p. 393.
• Cavaleiro de Ferreira, Lições de Direito Penal, Parte Geral I, 4ª ed., 1992.
• Claus Roxin, Die Abgrenzung von untauglichem Versuch und Wahndelikt, JZ 1996, p. 981.
• Claus Roxin, Resolução do facto e começo da execução na tentativa, in Problemas
fundamentais de direito penal, p. 295.
• Claus Roxin, Teoria da infracção, Textos de apoio de Direito Penal, tomo I, AAFD, Lisboa,
1983/84.
• Eduardo Correia, Direito Criminal, II, 1965, p. 229 e s.
• Eduardo Correia, Direito Criminal. I Tentativa e Frustração. II Comparticipação
Criminosa. III Pena Conjunta e Pena Unitária, 1953.
• F. Haft, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 6ª ed., 1994.
• Faria Costa, Formas do Crime, in Jornadas de Direito Criminal, CEJ, 1983, p. 152 e ss.
• Faria Costa, O Perigo em Direito Penal, dissertação de doutoramento, 1992.
• Faria Costa, STJ, Acórdão de 3 de Julho de 1991 (Tentativa e dolo eventual revisitados),
RLJ, ano 132º, nº 3903, p. 167.
• Faria Costa, Tentativa e dolo eventual, separata do nº especial do BFD, Coimbra, 1987.
• Ferrando Mantovani, Diritto penale. Parte generale, 1992.
• Franz Streng, Der Irrtum beim Versuch ein Irrtum?, ZStW 109 (1997), 862.
M. Miguez Garcia. 2001
812
• Georges Vigarello, História da violação, séculos XVI—XX, Editorial Estampa, 1998, p. 156.
• Herzberg, Das Wahndelikt in der Rechtsprechung des BGH, JuS 1980, p. 469.
• Ignazio Giacona, L’idoneitá degli atti di tentativo come “probabilitá”?, Riv. Ital. Dir. Proc.
Penale, 4 (1993), p. 1336.
• J. Damião da Cunha, Tentativa e comparticipação nos crimes preterintencionais, RPCC, 2
(1992), p. 561.
• J. López Barja de Quiroga, Derecho Penal, Parte general, III, 2001.
• Jorge de Almeida Fonseca, Crimes de empreendimento e tentativa, Coimbra, 1986.
• Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal, Sumários e notas, 1976.
• José Ramón SerranoPiedecasas Fernández, Fundamentación objectiva del injusto de la
tentativa en el Código Penal, ADPCP, vol. LI, 1998.
• M. Maia Gonçalves, Código Penal Português, 8ª ed., 1995.
• Manuel Augusto Alves Meireis, O regime das provas obtidas pelo agente provocador em
processo penal, 1999.
• M. Isabel Sánchez García de Paz, El moderno derecho penal y la antecipación de la tutela
penal, Valladolid, 1999.
• Miguel Pedrosa Machado, Da tentativa como tipo de crime Um parecer, in Formas do
Crime, Textos Diversos, 1998.
• Miguel Pedrosa Machado, Na fronteira entre o crime impossível e o crime putativo, in
Formas do Crime, Textos Diversos, 1998.
• Muñoz Conde / Mercedes Arán, Derecho Penal, Parte General, 1993, p. 373.
• Raul Soares da Veiga, Sobre o consentimento desconhecido, RPCC 3 (1991).
• René Bloy, Unrechtsgehalt und Strafbarkeit des grob unverständigen Versuchs.
• Siniscalco, La struttura del delitto tentato, Milão, 1959.
• Teresa P. Beleza e Frederico de Lacerda da Costa Pinto, O erro sobre normas penais em
branco.
• Teresa P. Beleza, Direito Penal, II, 1983, p. 396 e ss.
M. Miguez Garcia. 2001
813
§ 33º Imputabilidade. Inimputabilidade.
I. Homicídio; homicídio qualificado; imputabilidade; inimputabilidade;
artigo 20ª do Código Penal; imputabilidade diminuída.
• CASO nº 33: A, médico, estava convencido de que B tinha algo a ver com a morte de um
seu cavalo e levouo consigo numa carrinha de caixa aberta para a sua quinta, onde
começou por amedrontálo. Mas como B nada lhe contasse sobre a morte do animal,
A empurrouo para dentro de casa e começou aos berros e a exibir uma pistola e um
punhal que trazia á cinta, ameaçandoo de morte, após o que o começou a agredir
com as mãos e aos encontrões contra as paredes. A dado passo, A apercebese de que
B jazia inanimado, sem dar acordo de si e a esvairse em sangue. Sem cuidar de, como
médico que é, o examinar e socorrer, se acaso ainda estivesse com vida, A, que já
havia decidido matar B, agarrou no corpo deste e depositouo, dobrandolhe as
pernas, dentro de um baú e sobre este colocou uma mala de viagem. A procedeu
assim com o objectivo de acabar com a vida de B, se acaso tal ainda não tivesse
acontecido, e ainda o de ocultar o seu cadáver. A morte de B foi provocada, de forma
directa e necessária, pelas múltiplas agressões que A lhe infligiu, tendo agido sempre
de modo frio, lento, persistente e indiferente ao sofrimento, ao medo e à dor da
vítima. A padece de doença (psicose maníacodepressiva) que em fases mais agudas
lhe provoca o enfraquecimento da sua capacidade volitiva, mormente quando não se
submete ao adequado tratamento.
O acórdão do STJ de 23 de Setembro de 1992, BMJ419454, reconheceu
que A estava próximo da inimputabilidade em razão da sua doença mental,
mas como o arguido não perdeu a consciência da ilicitude dos actos que
cometeu com a maior barbaridade e crueldade, não se justifica que a
diminuição da imputabilidade conduza à atenuação da culpa e da pena. A foi
condenado pela prática, em concurso real, de um crime de homicídio
M. Miguez Garcia. 2001
814
qualificado (artigo 132º, nºs 1 e 2, g) e de um crime de ocultação de cadáver
(artigo 254º). Escrevese no acórdão:
"Dispõe o artigo 20ª do Código Penal:
• 1—É inimputável quem, por força de uma anomalia psíquica é incapaz, no momento da
prática do facto, de avaliar a ilicitude deste ou de se determinar de acordo com essa
avaliação.
Ora, entre a anomalia mental, cujos efeitos conduzem à inimputabilidade,
e a saúde mental, existe toda uma gama de estados intermédios que, embora
sem o anular, enfraquecem todavia mais ou menos o poder de inibição dos
homens ou a sua capacidade para compreender a ilicitude da própria conduta.
A partir deste postulado discorre o Prof. Eduardo Correia:
• Se o juízo de censura em que se analisa a culpa ética pressupõe a liberdade, e, nessa
medida, a imputabilidade, não pode haver dúvidas de que a menor liberdade
derivada duma anomalia mental (imputabilidade diminuída), quando a não exclua,
háde, nesse plano ético, fazer aumentar ou diminuir a gravidade daquele juízo.
• Mas será compatível com as exigências da protecção e defesa criminal considerar
diminuída a culpa e a pena a aplicar a um delinquente na medida em que uma
especial conformação psicobiológica, por exemplo uma psicopatia ou uma certa
disposição caracteriológica, o arrasta para o crime?
• Seguramente que não. Pode mesmo dizerse que isso seria verdadeiramente catastrófico na
luta contra a criminalidade.
• Com efeito—escreve Mezger—na maior parte dos casos, senão em todos, é precisamente a
psicopatia do agente o motivo da sua criminalidade, e, por isso, também o
fundamento da sua perigosidade criminal.
Do mesmo modo se exprime o Prof. Figueiredo Dias (em «Pressupostos da
Punição», Jornadas de Direito Criminal, ed. do Centro de Estudos Judiciários,
págs. 75 e segs.) quando, a propósito, diz:
M. Miguez Garcia. 2001
815
• Não diz a lei se a imputabilidade diminuída deve por necessidade conduzir a uma pena
atenuada. Não o dizendo parece, porém, não querer obstar à doutrina—também
entre nós defendida por Eduardo Correia e a que eu próprio me tenho ligado—de
que pode haver casos em que a diminuição da imputabilidade conduza à não
atenuação ou até mesmo à agravação da pena. Isto sucederá, do meu ponto de vista,
quando as qualidades pessoais do agente que fundamentam o facto se revelem,
apesar da diminuição da imputabilidade, particularmente desvaliosas e censuráveis,
v. g., em casos como os da brutalidade e da crueldade que acompanham muitos
factos dos psicopatas insensíveis, os da inconstância dos lábeis ou os da pertinácia
dos fanáticos.
Porque assim é, não pode terse como diminuída a culpa do A em razão
dos seus prejuízos mentais. Aquele que é médico e que não quis tratar dos seus
males psíquicos, não perdeu a consciência da ilicitude dos actos que cometeu
com a maior barbaridade e crueldade, não se justificando assim uma atenuação
da culpa em proporção da sua muito diminuída imputabilidade. No entanto,
como não se vê que a anomalia mental do A haja sido provocada por ele nem
que o terse arredado do tratamento médico tenha tido lugar com vista a mantê
la, no propósito determinado de cometer o crime, também não pode tal
anomalia constituir circunstância agravativa considerada só por si."
II. Outras indicações:
• A distinção entre ilicitude e culpa é o legado mais importante da ciência alemã do Direito
Penal na primeira metade do nosso século. Actua ilicitamente quem, sem justificação,
realiza um tipo jurídicopenal e, desse modo, uma acção socialmente danosa. Mas
esse comportamento só é culposo quando for possível censurálo ao seu autor por ter
podido actuar de maneira diferente, isto é, de acordo o com o direito. É igualmente
doutrina absolutamente dominante na ciência alemã do Direito Penal e considerase
isso como uma quase evidência que, a par da distinção entre ilicitude e culpa, se
devem também distinguir as causas de justificação das causas de exclusão da
culpabilidade.
M. Miguez Garcia. 2001
816
• O Código Penal alemão de 1871 não continha esta distinção entre ilicitude e culpa; noutros
países há muitos ordenamentos jurídicos que ainda não a conhecem. Contudo, a nova
parte geral do Código penal da República Federal Alemã, entrado em vigor em 11
1975, acolhe agora esta terminologia científica distinguindo claramente nos §§ 34 e 35
entre estado de necessidade justificante e desculpante. Também se diz no § 32 que
«não é ilícito» o facto realizado em legítima defesa; por outro lado, qualificase
expressamente no § 20 o delito realizado por alguém afectado de doença mental
como cometido «sem culpa». Pouco a pouco foise impondo na legislação alemã o
conceito de culpabilidade. Também o preceito relativo à determinação da pena (§ 46)
faz do grau de culpa o factor decisivo na determinação do quanto da pena.
• Mas ao mesmo tempo que se dava esta vitória do conceito de culpa iase modificando
também de um modo decisivo na ciência alemã do último decénio o conteúdo do que
se entendia por "culpa". Ponto de partida desta transformação foi a mudança operada
nas teorias da pena. Já entrados os anos sessenta dominava ainda na Alemanha a
teoria da retribuição, segundo a qual a pena supõe, por um lado, a culpa, mas, por
outro lado, esta, por sua vez, também deverá ser compensada (retribuída) pela pena.
Assim, por ex., diz o meu colega de Munique Arthur Kaufmann na sua fundamental
monografia «Das Schuldprinzip» (1961, 2ª ed., 1976): «o carácter absoluto da pena
deriva unicamente desta concepção bilateral do princípio da culpa, isto é: a pena tem
que corresponder à culpa mas esta também torna necessária a pena. Não pode
proclamar o princípio da culpa como absoluto quem negar que, em princípio, à culpa
se deve seguir a pena. Quem afirmar o princípio da culpa deve, consequentemente,
afirmar também a necessidade da pena pela culpa, isto é, não pode, com fundamento
em qualquer tipo de considerações utilitárias, negar a necessidade da pena, não
obstante a existência da culpa» (p. 202). Kaufmann chega até a reclamar uma vigência
absoluta, fundada no Direito natural, para a tese segundo a qual «a pena tem que
corresponder à culpa, mas também a culpa exige em princípio pena» (p. 208).
• Esta concepção «bilateral» do princípio da culpa, que corresponde à tradição dominante na
Alemanha desde Kant e Hegel, foi abandonada nos últimos anos tanto pela doutrina
como pela jurisprudência. Existe agora unanimidade: o princípio da culpa não é
M. Miguez Garcia. 2001
817
bilateral, mas sim unilateral. Quer dizer: a doutrina dominante na Alemanha afirma
que a pena supõe culpa e que também é limitada no seu quantum por ela; mas não
aceita já que um comportamento culposo exija sempre uma pena. Pelo contrário,
considera que o comportamento culposo só deve ser castigado quando as razões
preventivas ou seja, a missão do Estado ao garantir a convivência em paz e
liberdade tornam indispensável o castigo. Também Arthur Kauffman diz agora
(«Das Schuldprinzip», 2ª ed., 1976, p. 276) «que a pena justificase não só pela culpa»,
mas deve ser exigida também «pela protecção de bens jurídicos necessária à
comunidade».
• Pareceme indiscutível a exactidão da mais moderna concepção «unilateral» do princípio
da culpa. Talvez possa afirmarse que razões religiosas ou filosóficas exigem uma
compensação da culpa; esta é uma questão que tem o seu lugar nas disciplinas que se
ocupam destes problemas. Mas o que é certo é que esta anulação da culpa não tem
que se produzir através da pena pública, pois esta não é uma instituição divina ou
uma ideia filosófica. Numa democracia pluralista não é missão do Estado decidir de
forma vinculante sobre questões religiosas ou filosóficas. A pena estatal é
exclusivamente uma instituição humana criada com o fim de proteger a sociedade;
não pode, por conseguinte, ser imposta se não for necessária com base em razões
preventivas.
• Na política criminal esta ideia impôsse de forma ampla. Constitui, desde o Projecto
Alternativo (1966), uma exigência fundamental do movimento de reforma a ideia que
uma conduta só pode ser castigada, não já como se escrevia no Projecto oficial de
1962 pela sua imoralidade culposa, mas só quando isso for necessário para a
«protecção de bens jurídicos», isto é, quando represente uma lesão insuportável da
ordem social pacífica. Após muitos anos de discussão, a legislação alemã aderiu a
esta concepção e, ao contrário do que sucedia no direito anteriormente vigente, e do
que se propunha no Projecto de 1962, foram despenalizados comportamentos como a
homossexualidade, a bestialidade, a sodomia, a venda de objectos pornográficos, etc.,
na medida em que esses comportamentos não lesam a comunidade na sua liberdade
nem a prejudicam. Essas acções são certamente consideradas ainda por grandes
M. Miguez Garcia. 2001
818
sectores da população alemã como imorais e culposas; mas na medida em que sejam
realizadas voluntariamente e em privado não prejudicam a paz social e devem
permanecer impunes.
• Mas os problemas da culpa e da protecção da sociedade desempenham também um papel
importante na dogmática da teoria geral do crime e no direito da determinação da
pena. Por isso, a passagem de uma concepção bilateral a uma concepção unilateral do
princípio da culpa deve também incidir nestes sectores. (Claus Roxin, Concepción
bilateral y unilateral del princípio de culpabilidad, in Culpabilidad y prevencción en
derecho penal; cf., ainda, Sentido e limites da pena estatal, em Problemas
fundamentais de Direito Penal, 1986, p. 15 e ss.).
• Pela acção perguntamos de que é o homem capaz. Pelo ilícito perguntamos de que é que o
homem é capaz em determinadas situações e desempenhando certos papéis. Pela
culpa perguntamos de que é que este homem é capaz (Kaufmann, apud Faria Costa, o
Perigo, p. 423).
III. Semiimputabilidade.
• CASO nº 33A: A entrou na taberna de B e apropriouse de 575$00 que lhe subtraiu por
meio de violência física e também por meio de ameaça com uma pistola de alarme,
levandoa a crer tratarse de uma arma de fogo. A perícia médicolegal refere que A
apresenta uma ideação e senso críticos deficitários, sem noção nem extensão das
datas, sendo notória alguma dificuldade apresentada na compreensão, abordagem e
extensão das questões, concluindo da seguinte forma: A apresenta um nível
intelectivo baixo (borderline); deve ser considerado imputável com atenuantes perante
a lei; deve ser conduzido com regularidade à consulta de psiquiatria e assim sendo
não apresentará perigosidade social.
O acórdão do STJ de 4 de Junho de 1997, BMJ468105, concluiu pela
imputabilidade diminuída de A. Considerase que "num sistema penal como o
nosso, estruturado com base na culpa do agente, onde a determinação da
medida da pena é função da culpa, e no qual, em caso algum, a pena pode
M. Miguez Garcia. 2001
819
ultrapassar a medida da culpa (artigo 40º, nº 2), óbvio é que, a não existir
especial perigosidade censurável ao agente, a imputabilidade diminuída deve
conduzir a uma atenuação da pena — cf. Cavaleiro de Ferreira, Lições de
Direito Penal, Parte Greal I, 1992, p. 280." E sendo evidente que a culpa do
agente diminui em função do abaixamento das suas faculdades intelectuais e
volitivas, seguese que, situandose o nível intelectivo do arguido, como se
situa, na linha limite (borderline), a graduação da pena não deverá exceder o
mínimo da respectiva moldura, mas sem que tal diminuição da imputabilidade
dê lugar obrigatoriamente a atenuação especial da pena.
• A lei não diz que a imputabilidade diminuída deva determinar, necessariamente, uma
atenuação da pena e pode haver situações em que essa diminuição conduza à não
atenuação ou até mesmo à agravação da pena, como nos casos em que, apesar da
diminuição da imputabilidade, as qualidades pessoais do agente, que fundamentam
o facto, se revelem particularmente desvaliosas e censuráveis, v. g., por actos de
brutalidade ou crueldade que acompanham muitos factos praticados por psicopatas
insensíveis, ou por fanáticos. Acórdão do STJ de 18 de Abril de 1996, CJ, ano IV
(1996), p. 173.
• “Pressuposto mínimo de aplicação da medida de segurança é a conjugação da prática de
um ilícito típico com outros elementos do crime que não tenham a ver com a culpa do
agente”. Não é legítimo aferir da perigosidade criminal para efeito de aplicação de
uma medida de segurança de internamento, por exemplo, quando o inimputável age
em legítima defesa, em erro sobre a factualidade típica ou quando desiste
validamente da tentativa de cometimento de um crime; mas já é legítimo, por
exemplo, quando a situação for de estado dee necessidade desculpante, de erro sobre
proibições cujo conhecimento seja razoavelmente indispensável para tomar
consciência do ilícito ou de falta de consciência do ilícito não censurável. Nestes
últimos casos estamos perante verdadeiros problemas de culpa e, por conseguinte,
não é possível aferir dos pressupostos de que dependem relativamente ao
M. Miguez Garcia. 2001
820
inimputável em virtude de anomalia psíquica. (Figueiredo Dias; Maria João
Antunes).
IV. O artigo 20º e a embriaguez.
• O artigo 20º tem como pressupostos cumulativos da inimputabilidade em razão de
anomalia psíquica, por um lado, a existência de uma anomalia psíquica (factor
biológico), por outro, a incapacidade de o arguido, em consequência dessa anomalia,
avaliar a ilicitude do facto ou de se determinar de acordo com essa avaliação (factor
de ordem psicológica). É nos parâmetros do artigo 20º, a partir desses pressupostos,
que se avalia a situação de embriaguez. O arguido será inimputável devido a
embriaguez somente se esta provocar a aludida incapacidade de avaliação e de
autodeterminação. Ponderese, a título de exemplo, o acórdão do STJ de 29 de Março
de 2000, BMJ495120: Provandose que o arguido havia ingerido grande quantidade
de bebidas alcoólicas, daí não se infere necessariamente que se encontrava em estado
de embriaguez e, como tal, em situação de inimputabilidade, não sendo assim
contraditório considerarse que em tais circunstâncias o arguido agiu livre, voluntária
e conscientemente.
• A inimputabilidade não é uma causa de exclusão da culpa mas uma "causa impeditiva
fáctica da determinação da culpa" (Jorge de Figueiredo Dias, apud M. Cortes Rosa, La
función de la delimitación de injusto y culpabilidad en el sistema del derecho penal,
in Fundamentos de un sistema europeo del derecho penal, Bosch, 1995.
V. Outras indicações de leitura:
Sentença de 1998, 11.15, caso Silva Rocha vs. Portugal, Tribunal Europeu dos Direitos do
Homem, Sub judice / causas — 18 (2000), p. 37.
Acórdão do STJ de 6 de Dezembro de 2001, CJ 2001, tomo III, p. 231: não consideração da
toxicodependência como atenuante — com justificação do sentido generalizado da
jurisprudência do STJ
M. Miguez Garcia. 2001
821
Acórdão do STJ de 30 de Outubro de 2001, CJ, 2001, ano IX, tomo III, p. 202: limite máximo da
medida de internamento; não aplicação dos perdões; obrigatoriedade da reapreciação da
situação do internado; providência de habeas corpus e medida de segurança.
Acórdão da Relação de Coimbra de 3 de Outubro de 2001, CJ ano XXVI 2001, tomo IV, p. 54:
na acusação para declaração de inimputabilidade do arguido apenas há que lhe imputar
factos objectivos integradores de crime ou crimes, não sendo necessário dela constar
matéria factual susceptível de integrar o elemento subjectivo (dolo) daqueles factos
ilícitos típicos.
Acórdão do STJ de 28 de Outubro de 1998, proc. nº 894/98, BMJ48099: O prazo máximo de
internamento de inimputável perigoso corresponde ao limite máximo da pena
correspondente ao tipo do crime cometido pelo inimputável, referindose pois à pena
abstracta. Sendo o internamento um tratamento a que o internado vai ser submetido,
aquele só deveria terminar quando a perigosidade criminal que lhe deu origem tivesse
cessado. Porém, o legislador fixou, como regra, um prazo máximo de internamento,
findo o qual o internado tem de ser posto em liberdade, tenha ou não cessado o estado
de perigosidade criminal que lhe deu origem, isto em obediência ao princípio
constitucional consignado no art.º 32, da CRP. Apesar de haver um concurso de crimes
cometidos pelo inimputável, não pode o período máximo de internamento ser
determinado de acordo com a punição do concurso, em primeiro lugar porque o Código
Penal, no seu art.º 77, só prevê o cúmulo de penas parcelares concretas, de prisão ou de
multa, e por outro não é possível o recurso à analogia (art.º 1, n.º 3, do CP).
Acórdão do STJ de 22 de Outubro de 1998, proc. nº 652/98: Internamento de inimputável.
Integrando os factos praticados por inimputável a previsão normativa de um crime de
M. Miguez Garcia. 2001
822
tráfico de estupefacientes agravado, o respectivo internamento tem um limite mínimo de
3 anos e máximo de16, devendo o despacho que fixa tais limites, ressalvar o seu termo,
logo que constatada a cessação do estado de perigosidade ou a sua prorrogação, de
harmonia com o disposto no n.º 3 do art.º 92, do CP.
Acórdão do STJ de 20 de Maio de 1998, CJ, ano IV (1998), tomo II, p. 205: A
toxicodependência, por resultar normalmente da sucessiva reiteração de um facto ilícito
penal — o consumo de droga — em princípio, não só não tem efeito desculpabilizante
ou de atenuação geral como indicia falta de preparação para manter conduta lícita: do
mesmo modo, embora essa circunstância possa implicar sempre uam redução da
capacidade de entender e querer do agente, a imputabilidade diminuída daí decorrente
não só não determina, necessariamente, uma atenuação da pena como até pode
constituir fundamento da sua agravação, tudo dependendo do circunstancialismo
específico de cada caso concreto. Cf. a anotação ao ac. do STJ de 24 de Novembro de
1998, BMJ481152.
Acórdão do STJ de 7 de Maio de 1998, processo nº 170/98: A simples "excitação", resultante
da ingestão de bebidas alcoólicas, não implica necessariamente a supressão ou a
afectação da vontade ou do seu controle, nem afasta a possibilidade de uma actuação
livre e consciente do agente ou da capacidade deste para avaliar a ilicitude da sua
conduta e de se determinar de acordo com ela.
Acórdão do STJ de 26 de Fevereiro de 1998, BMJ474184: deficiência mental ligeira.
Acórdão do STJ de 13 de Janeiro de 1998, BMJ47378: inimputabilidade; condenação no
pedido cível do arguido não imputável.
M. Miguez Garcia. 2001
823
Acórdão do STJ de 28 de Junho de 1990, CJ, 1990, tomo 4, p. 92: arguido inimputável e
perigoso: deve ser mantida a sua prisão preventiva, verificandose, no decurso do
inquérito, fortes indícios da prática de crime que a admite e de continuação da
actividade criminosa.
Acórdão do STJ de 26 de Fevereiro de 1998, CJ, 1998, tomo 1, p. 211: ligeira deficiência mental
do arguido; local de cumprimento da pena.
Acórdão de 19 de Outubro de 1995, CJ, ano III (1995), tomo III, p. 210: aceitando o tribunal
colectivo o juízo científico quanto à inimputabilidade do arguido, tem, todavia, o poder
de livre apreciação quanto aos elementos de facto que revelem a sua perigosidade;
perturbações mentais geradoras de inimputabilidade.
Acórdão de 25 de Novembro de 1993 do Tribunal do juri do 4º Juízo Criminal de Lisboa, CJ,
ano XVIII (1993), tomo V, p. 311: imputabilidade, crueldade.
Acórdão do STJ de 19 de Outubro de 1994, BMJ440132: inimputabilidade; medida de
segurança; internamento, homicídio qualificado; responsabilidade civil.
Acórdão do STJ de 20 de Abril de 1994, CJ, ano II (1994), tomo II, p. 190: danos por
inimputável; indemnização.
Acórdão do STJ de 25 de Outubro de 1995, BMJ450333: inimputabilidade; medidas de
segurança; perturbações mentais geradoras de inimputabilidade.
Acórdão do STJ de 27 de Novembro de 1997, BMJ471177: declaração de inimputabilidade
penal; condenação em internamento; suspensão da medida.
Anotação ao acórdão do STJ de 23 de Outubro de 1997, BMJ470234: a toxicodependência não
é motivo para atenuação da responsabilidade. Acórdão do STJ de 26 de Maio de 1994, CJ,
M. Miguez Garcia. 2001
824
ano II (1994), tomo II, p. 238: a toxicodependência, em si e sem mais, não atenua a
responsabilidade dos crimes praticados nesse estado ou por causa dele.
Acórdão do STJ de 13 de Maio de 1998, processo nº 276/98: Um "distúrbio emocional"
resultante do falecimento de um ente querido, ocorrido anos antes da prática dos factos,
também apodado de "destrambelhamento emocional", ainda que tivesse eventualmente
sobrecarregado a "sua grave perturbação psíquica", não basta, segundo as regras da
experiência, para constituir estados de inimputabilidade ou de imputabilidade
diminuída, relevantes em matéria criminal.
Acórdão do STJ de 14 de Maio de 1998, processo nº 7/98: Resultando das conclusões de um
relatório pericial "que a debilidade mental e o alcoolismo crónico conjuntamente com o
primarismo emocional e baixo juízo crítico afectou o arguido impedindoo de ser capaz
de avaliar a ilicitude dos actos praticados" e por outro, que "a doença do arguido implica
uma diminuição na capacidade de avaliar a ilicitude dos factos praticados", isto é,
simultaneamente a sua inimputabilidade e a inexistência dessa inimputabilidade, e
tendo o colectivo se apoiado neste segundo juízo para considerar o recorrente imputável
(posto que com uma imputabilidade diminuída), mas não tendo justificado a
divergência em relação ao primeiro juízo, com fundamentação técnicocientífica, mas
apenas com a valoração da conduta do arguido em audiência, verificase no que
concerne a esta questão, insuficiência para a decisão da matéria de facto provada.
Acórdão do STJ de 30 de Setembro de 1998, proc. nº 720/98: A imputabilidade diminuída,
embora de um modo geral deva logicamente conduzir a uma atenuação da pena
aplicável, não é reconhecida pela lei como situação em si mesma especialmente
atenuante: a lei vigente nem sequer a inclui entre as circunstâncias elencadas no art.º 72,
M. Miguez Garcia. 2001
825
n.º 2, do CP, como exemplos ilustrativos de situações justificativas de atenuação especial
da pena.
Acórdão do STJ de 14 de Outubro de 1998, proc. nº 780/98: A toxicodependência pode ser
atenuante quando, por força dela, preenchendo os requisitos do art.º 20, n.º 2, do CP, a
capacidade para avaliar a ilicitude do facto praticado ou para se determinar de acordo
com essa avaliação se apresenta sensivelmente diminuída. A toxicodependência pode
levar à aplicação ao agente de uma pena indeterminada, conforme dispõe o art.º 88, do
CP, podendo esta situação qualificarse como uma agravante qualificativa. Nos demais
casos, a toxicodependência tem de considerarse uma circunstância que depõe contra o
arguido, pois revela uma defeituosa formação da personalidade deste, ao viver em
permanente estado de violação da lei criminal.
Acórdão da Relação de Évora de 9 de Fevereiro de 1999, CJ, 1999, tomo I, p. 289: O
delinquente é inimputável criminalmente perigoso sempre que, por virtude da anomalia
psíquica de que sofra e do facto típico que tenha praticado, haja receio de que venha a
cometer outros factos da mesma espécie.
Ac. do STJ de 20 de Outubro de 1999, CJ ano VII (1999), tomo 3, p. 196: relatório da perícia
psiquiátrica médico legal, livre apreciação pelo tribunal.
Acórdão do STJ de 12 de Abril de 2000, CJ ano VIII (2000), tomo 2, p. 172: medidas de
segurança; pressupostos da duração mínima do internamento; crime de homicídio
voluntário qualificado; com uma anotação na RPCC 10 (2000). Considerouse incorrecta
a decisão do tribunal a quo em integrar os factos na previsão do artigo 132º do Código
Penal, para o qual relevam somente questões atinentes à culpa — o ilícito típico em
questão para efeitos de aplicação da medida de segurança era o do artigo 131º.
M. Miguez Garcia. 2001
826
Ac. do STJ de 29 de Novembro de 2001, CJ 2001, tomo III, p. 225: Inimputável. Habeas corpus.
Pertinência, relativamente ao internamento ilegal, da providência extraordinária de
habeas corpus.
Acórdão do STJ de 7 de Julho de 1999, BMJ489100: toxicodependência — inimputabilidade e
imputabilidade diminuída.
Acórdão do STJ de 30 de Maio de 2001, CJ, ano IX (2001), tomo II, p. 215: limite máximo do
internamento; homicídio simples e qualificado; desconto da prosão preventiva.
A. Lourenço Martins, Diagnóstico nas intoxicações. Problemática da imputabilidade e da
criminalidade resultante ou ligada ao consumo de droga, RMP ano 8 nº 29.
Carlota Pizarro de Almeida, Modelos de Inimputabilidade. Da teoria à prática, Coimbra, 2000.
Claus Roxin, Culpabilidad y prevención en derecho penal, tradução, introdução e notas de F.
Muñoz Conde, 1981.
Claus Roxin, Sul problema del diritto penale della colpevolezza, Riv. ital. dir. proc. penale,
1984, p. 16.
Cristina Líbano Monteiro, Perigosidade de inimputáveis e "in dubio pro reo", BFD (Studia
Iuridica), 1997.
Cunha Rodrigues, Sobre o estatuto jurídico das pessoas afectadas de anomalia psíquica, in
Lugares do Direito, Coimbra Editora, 1999, p. 51 e ss.
• Frederico de Lacerda da Costa Pinto, Justificação, não punibilidade e dispensa de
pena na revisão do Código Penal, Jornadas sobre a revisão do Código Penal, FDUL,
1998.
• J. Pinto da Costa, Fundamentos da psiquiatria forense, in Ao sabor do tempo –
crónicas médicolegais, volume I, edição IMLP, [2000].
M. Miguez Garcia. 2001
827
J. Seabra Magalhães e F. Correia das Neves, Lições de Direito Criminal, segundo as prelecções
do Prof. Doutor Beleza dos Santos, Coimbra, 1955, p. 97 e ss.
João Paulo Ventura, Toxicodependência, motivação, comportamento delituoso e
responsabilidade criminal: alguns nexos de comprovada causalidade, RPCC, ano 7
(1997), p. 461.
Jorge de Figueiredo Dias, Direito penal português. As consequências jurídicas do crime, 1993.
Jorge de Figueiredo Dias, Homicídio qualificado. Premeditação, imputabilidade, emoção
violenta. Parecer, CJ, (1987).
Jorge de Figueiredo Dias, Le modèle “compréhensif” de la doctrine du manque d’imputabilité
en raison d’anomalie psichique, Studi in memoria di Pietro Nuvolone. vol. 1º, 1991, p.
195.
Jorge de Figueiredo Dias, Pressupostos da punição e causas que excluem a ilicitude e a culpa,
Jornadas de Direito Criminal, CEJ, 1983, p. 39 e ss.
Jorge de Figueiredo Dias, Sobre a inimputabilidade jurídicopenal em razão de anomalia
psíquica: a caminho de um novo paradigma?, in Temas básicos da doutrina penal,
Coimbra Editora, 2001.
Jorge de Figueiredo Dias, Sobre o estado actual da doutrina do crime, 2ª parte, RPCC 1992, p.
7 e ss.
Jorge de Figueiredo Dias, ZStW 95 (1983), p. 220.
José Garcia Marques, Incidência da droga na criminalidade: a imputabilidade do
toxicodependente, Revista do Ministério Público, nº 54 (1993), p. 43 e ss.
José Souto de Moura, Problemática da culpa e droga, Textos 1, CEJ, 199091.
M. Miguez Garcia. 2001
828
M. Cortes Rosa, La función de la delimitación de injusto y culpabilidad en el sistema del
derecho penal, in Fundamentos de un sistema europeo del derecho penal, Bosch, 1995.
Maria Fernanda Palma, Desenvolvimento da pessoa e imputabilidade no Código Penal
português, in Casos e Materiais de Direito Penal, Coimbra, 2000, p. 101.
Maria João Antunes, Alterações ao sistema sancionatório As medidas de segurança, RPCC 8
(1998), p. 51; e Jornadas de Direito Criminal. Revisão do Código Penal, CEJ, vol. II, p.
119.
Maria João Antunes, O Internamento de Imputáveis em Estabelecimentos Destinados a
Inimputáveis, BFD (Studia Iuridica), 1993.
Nuno Brandão, Anotação ao acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 12 de Abril de 2000
(limites de duração da medida de segurança de internamento), RPCC 10 (2000).
Nuria Castelló Nicás, La imputabilidad penal del Drogodependiente, Granada, 1997.
Pedro Polónio, Psiquiatria Forense, 1975.
Rui Abrunhosa Gonçalves, Psicopatia, crime e lei, RPCC 8 (1998), p. 67.
Susana Pereira Bastos, Da cidade e dos seus loucos, in Do desvio à instituição total, Cadernos
do CEJ, 1/90.
M. Miguez Garcia. 2001
829
§ 35º Crimes contra a honra; injúria, difamação
I. Crime de perigo, crime de dano; consumação.
• CASO nº 35: A envia a B pelo correio uma carta em que, entre outras expressões, o
apelida de "ladrão" e de pessoa "sem escrúpulos e capaz de todas as patifarias". B
recebe a carta.
• Variante: A põe a carta no correio, mas B não a recebe por motivo que não vem ao caso.
O problema aqui sugerido é o da consumação do crime. Segundo um certo
sector da doutrina, nos crimes contra a honra a consumação produzse quando
a vítima tem conhecimento directo da ofensa (participação necessária da
própria vítima) ou quando terceiros lha comunicam.
Com efeito, há quem entenda que os crimes contra a honra alinham nos
crimes de perigo: serão crimes de perigo abstracto. Para haver consumação será
então suficiente a idoneidade da ofensa, pois, não só não se exige que a pessoa
se considere ofendida, como também se prescinde de que a afirmação tenha
encontrado crédito perante outras pessoas, podendo até suscitar repulsa. Nem
por isso a honra da pessoa deixou de estar exposta à probabilidade de um dano
(cf. Magalhães Noronha, p. 141). Neste sentido, cf. a opinião recente de Oliveira
Mendes (O direito à honra, p. 56): “os crimes de difamação e de injúrias terão de
ser classificados, quanto a nós, como de perigo abstractoconcreto”. Mas tem
vindo a difundirse a ideia de que a honra alheia não fica simplesmente exposta
a risco de ofensa e que se trata de crimes de dano que se consumam com a lesão
efectiva do bem jurídico — quando a imputação injuriosa ou difamatória é
compreendida ou entendida pelo seu destinatário. Neste caso, a lesão é lesão de
um objecto ideal — não há qualquer modificação de um estado de coisas. Cf.,
por ex., Augusto Silva Dias. Na opção por um ou outro entendimento, pensese
na situação dum doente mental ou de uma criança, que não entendem o
significado ofensivo de uma expressão, ou na do estrangeiro que não domina a
língua do país. A sentença de 4 de Outubro de 1994, comentada in Il Foro
Italiano, 1995, p. 377, apreciou o caso de uma jovem hospitalizada, em estado de
M. Miguez Garcia. 2001
830
coma, que as enfermeiras ofenderam gravemente por palavras, acidentalmente
registadas num gravador colocado à cabeceira da doente.
São dois os crimes contra a honra previstos no Código: a difamação (artigo
180º) e a injúria (artigo 181º), embora na sua diversidade as combinações legais
da tutela da honra irradiem fundamentalmente de quatro possibilidades:
a da imputação de um facto na presença do lesado ou na de um terceiro
na ausência daquele;
a da formulação de um juízo de valor perante o lesado ou perante um
terceiro na ausência daquele.
• No Código actual, a difamação traduz a actuação de quem, dirigindose a terceiro, imputar
a outra pessoa, mesmo sob a forma de suspeita, um facto, ou formular sobre ela um
juízo, ofensivos da sua honra ou consideração, ou reproduzir uma tal imputação ou
juízo. Difamar é assim desacreditar publicamente. Aderese à ideia de que “não há
difamação sem prolação, ou apenas de indivíduo (ofensor) a indivíduo (ofendido)”,
como escreve Bento de Faria (p. 160). Por seu turno, o ilícito previsto no artigo 181º
verificase quando alguém injuria outra pessoa, imputandolhe factos, mesmo sob a
forma de suspeita, ou lhe dirige palavras ofensivas da sua honra ou consideração.
Assim, haverá injúria quando a ofensa à honra é feita na presença do
ofendido e difamação nos outros casos. Adoptouse, no essencial, o sistema
vigente na Itália, onde se acentua que o crime de injúria tutela prevalentemente
a honra no sentido subjectivo; a difamação, pelo contrário, tutela a reputação do
sujeito, e consequentemente a honra em sentido objectivo.
A ideia de que a difamação ocorre na ausência do visado vem já dos tempos antigos. “As
relações da maledicência com os outros pecados da fala são numerosas. Partilha com o
insulto, a maldição e a bajulação ou lisonja servil a classificação de pecado contra o
próximo, mas aparece sempre separada destes outros pecados. S. Tomás retoma o tema
tradicional da comparação maledicência / insulto e fornece a propósito uma formulação
M. Miguez Garcia. 2001
831
definitiva: o insulto, filho da cólera, virase contra a honra de uma pessoa presente mas
pouco considerada, enquanto que a maledicência, filha da inveja, ataca a reputação
duma pessoa ausente. A duplicidade cobarde do difamador que ataca a vítima pelas
costas assemelhase à simulação hipócrita do bajulador, que louva de maneira
injustificada a pessoa que tem à sua frente”. Cf. Carla Casagrande / Silvana Vecchio, Les
péchés de la langue, p. 244.
Objecto específico da tutela penal é a honra. Continuamente exposta a
toda a sorte de atentados, que podem às vezes ser devastadores, a honra é, com
efeito, um bem extremamente vulnerável (H. Pozo), mas é também o “mais
subtil e mais difícil de apreender de todos os bens jurídicos do nosso sistema
jurídicopenal”.
“L’idée de l’honneur est une idée complexe formée nonseulement de plusieurs idées simples,
mais aussi de plusieurs idées complexes ellesmêmes” (Des délits et des peines, par
Beccaria, traduit de l’italien, deuxième édition, Paris, 1823, p. 271).
Essa complexidade espelhase na forma como o conteúdo e os limites do
bem jurídico que é a honra são tradicionalmente analisados, por exemplo, a
partir das duas concepções fundamentais — fácticas ou normativas.
• a) As concepções fácticas da honra revêemse na chamada honra subjectiva (a ideia que
alguém tem das suas próprias qualidades, o sentimento de dignidade e decoro: a
soma dos valores morais que o indivíduo se atribui a si próprio), e na chamada honra
externa (a ideia que têm os restantes membros da comunidade, a estima e a
consideração de que se goza, o património moral que deriva da consideração alheia,
ou seja, a reputação). Procurase apreender a honra na sua existência efectiva, real,
sem o recurso a elementos valorativos. O que é decisivo é o fenómeno psicológico de
ordem individual (a estima que alguém tem de si próprio) ou colectiva (a forma como
M. Miguez Garcia. 2001
832
os outros membros da sociedade encaram uma pessoa em particular). Cf. H. Pozo, p.
8.
• Prevalece actualmente o entendimento de que as concepções fácticas da honra são de
rejeitar, por inadequadas. Assim, a reputação externa, vista nesta perspectiva, pode
levar à negação da tutela jurídica no caso de alguém cuja fama esteja muito por baixo
do verdadeiro valor de uma pessoa ou a quem falte completamente (neste sentido,
dizse, não haveria ofensa da honra de uma prostituta que fosse acusada de lançar
uma filha na prostituição), tudo com ofensa do princípio constitucional da igualdade.
Por outro lado, se o bem jurídico protegido fosse um facto psicológico individual, um
doente mental ou uma criança não estariam a coberto da ofensa, em virtude da sua
incapacidade para a sentirem. Em resumo: as concepções fácticas dificilmente se
compatibilizam com os princípios da igualdade e do pluralismo.
• b) Para as concepções normativas, o respectivo conteúdo aparece vinculado ao efectivo
cumprimento dos deveres éticos, de forma que, afinal, só tem relevo a honra
merecida.
• A estes pontos de vista normativos apontase a desvantagem de remeterem o conteúdo da
honra, como honra merecida (o real valor da pessoa ou a merecida pretensão de
respeito), para o cumprimento de um determinado código moral ou social. Numa
sociedade pluralista, o conceito da honra baseado na infracção de deveres morais ou
éticosociais não pode depender da forma como cada um conduz a sua vida, do seu
comportamento social. Ainda aqui se impõe o princípio da igualdade, que exige um
reconhecimento não diferenciado.
• Com alguma frequência, aparece directamente envolvido no tema o artigo 26º, nº 1, da
Constituição da República que consagra, entre outros direitos da personalidade, o
direito ao bom nome e reputação que emana de outro valor constitucional, axial e
nuclear, que é a dignidade da pessoa humana (artigo 1º), reconhecendose aí o valor
eminente do homem enquanto pessoa, como ser autónomo, livre e (socialmente)
responsável, na sua unidade existencial de sentido. O conteúdo do bem jurídico
M. Miguez Garcia. 2001
833
honra e a extensão com que é protegida têm assim a sua referência essencial no
quadro constitucional. Como direito fundamental, o bom nome e reputação é
pressuposto indispensável para o desenvolvimento da pessoa em comunidade. O
respectivo conteúdo é constituído por uma pretensão de reconhecimento da sua
dignidade e tem como correlativo uma conduta negativa dos outros; é, ao fim e ao
cabo, uma “pretensão a não ser vilipendiado ou depreciado no seu valor aos olhos da
comunidade” (A. Silva Dias, p. 18; ainda, M. P. Gouveia Andrade; Murillo, p. 17).
Ainda assim, há que recordar, com o Prof. Figueiredo Dias, que os
apontados elementos normativos ou simplesmente fácticos, o envolvimento da
personalidade moral ou da respectiva valoração social, ou a distinção entre
opinião subjectiva e opinião objectiva representam restrições que entre nós
nunca tiveram aceitação. Os nosso tribunais nunca julgaram com os olhos
postos na efectiva protecção da honra, nunca se limitou, por ex., o bem jurídico
ao seu sentido moral, à honorabilidade de cada um, negandose, como
acontecia na Suíça, a natureza criminosa das críticas dirigidas a um artista, a um
profissional ou a um político, com o argumento de que a norma incriminadora
protege a honra da pessoa e não a sua reputação de artista, de profissional ou
de político. Usando o mesmo critério, também se chegaria à conclusão de que
não fica afectada a honra daquele a quem alguém afronta chamandolhe
“doente mental”, pela simples razão de que nenhum doente pode ser
responsabilizado pelo seu estado. Em Portugal nunca se negou um atentado à
honra do advogado de quem malevolamente se andou a espalhar que é o único
a tirar proveito de uma determinado acção judicial. E para tanto nunca foi
necessário recorrer a argumentos artificiosos ou ao amparo de critérios de
excepção. As difamações e injúrias têm como objecto jurídico as duas ordens de
interesses que se exprimem pelas palavras honra e consideração, escrevia o Prof.
Beleza dos Santos, e já antes Silva Ferrão explicava que difamação significa
literalmente o facto de se espalhar, aqui e ali, um propósito ou escrito, que diz
respeito assim a favor como contra a reputação de outrem. Difamação quer
dizer desacreditar, dizer alguma coisa contra a boa fama, ou reputação de
alguém (Pereira e Sousa). De forma que "com esta propensão (tradicional) para
estender à consideração (bom nome, reputação, fama) a tutela jurídicopenal da
honra, o direito português acaba por se demarcar face aos ordenamentos legais
que privilegiam um conceito puramente normativo do bem jurídico" (Costa
Andrade, Liberdade de imprensa, p. 86).
M. Miguez Garcia. 2001
834
A doutrina dominante tempera a concepção normativa com uma dimensão fáctica (concepção
dual): “a honra é vista como um bem jurídico complexo que inclui quer o valor pessoal
ou interior de cada indivíduo, radicado na sua dignidade, quer a própria reputação ou
consideração exterior. Sem margens para dúvida, esta é a única concepção compatível
com a nossa lei. Na verdade, e ao contrário do que acontece noutras legislações, o
ordenamento jurídicopenal português, na linha da tradição anterior e, sobretudo, em
inteira consonância com a ordem constitucional, alarga a tutela da honra também à
consideração ou reputações exteriores. Forma de perceber as coisas que é posta em
destaque e salientada por Figueiredo Dias quando escreve: "a jurisprudência e a
doutrina jurídicopenais têm correctamente recusado sempre qualquer tendência para
uma interpretação restritiva do bem jurídico 'honra', que o faça contrastar com o conceito
de 'consideração' (...) ou com os conceitos jurídicoconstitucionais de 'bom nome' e de
'reputação'. Nomeadamente, nunca teve entre nós aceitação a restrição da 'honra' ao
conjunto de qualidades relativas à personalidade moral, ficando de fora a valoração
social dessa mesma personalidade; ou a distinção entre opinião subjectiva e opinião
objectiva sobre o conjunto das qualidades morais e sociais da pessoa; ou a defesa de um
conceito puramente fáctico, quer —no outro extremo— estritamente normativo”. Faria
Costa, RLJ nº 3926.
"Os juristas têm que renunciar a um conceito inequívoco de honra, dada a plurivalência da
expressão. Bem pelo contrário, têm que se limitar a procurar o âmbito da protecção
jurídicopenal da honra." Bajo Fernández.
• A honra (e, por aproximação, o bom nome) está ligada à imagem que cada um tem de si
próprio, construída interiormente mas também a partir de reflexos exteriores,
M. Miguez Garcia. 2001
835
repercutindose no apego a valores de probidade e honestidade; a reputação (e
também a boa fama) representa a visão exterior sobre a dignidade de cada um, o
apreço social, o bom nome de que cada um goza no círculo das suas relações ou, no
que respeita a figuras públicas, no seio da comunidade. Acórdão do STJ de 12 de
Janeiro de 2000, BMJ493156.
A injúria, enquanto expressão puramente afectiva e quase sempre
espontânea da vontade de poder do sujeito, é acto verbal (ou atitude!) atirado à
cara do interlocutor, a quem se nega qualquer valor, que é desprezado e
desdenhado.
• “Palavras e acções são significativas no código da honra porque são expressões de atitude
que reivindicam, concedem, ou não reconhecem honra”. “Qualquer forma de afronta
física implica uma afronta à honra uma vez que a “esfera ideal” à volta da honra de
uma pessoa foi profanada. Além disso a importância da presença pessoal é altamente
relevante em matérias de honra. Aquilo que é uma afronta dito na cara pode não
desonrar dito pelas costas” (Julian PittRivers, Honra e Posição Social, p. 18 e 13).
E assim, a relação transitiva sujeitoobjecto, que é do domínio da
linguística e da psicologia, explica também a preferência da lei: com a injúria o
locutor afronta o adversário fisicamente, atirandoa directamente ao outro, na 2ª
pessoa ou no vocativo; ao contrário, dizer mal de alguém, na 3ª pessoa, será
difamar.
São inúmeros os modos como pode cometerse o crime. Para além da
ofensa verbal, onde as palavras têm um inequívoco significado ofensivo da
consideração (ladrão, gatuno, cornudo, puta, filho de puta), o crime pode
cometerse metendo a ridículo o ofendido, de maneira simbólica, mediante
actos, imagens ou objectos que pelo seu significado, facilmente compreendido
pelos outros, ofendem a honra (gesto de mão com o indicador e o mínimo
espetados, colocação de uns chifres à porta do vizinho; fazer um manguito;
mostrar o traseiro; o expelir de ventosidades anais em postura ofensiva e com
M. Miguez Garcia. 2001
836
desprezo do visado; atirar um balde de água suja contra uma pessoa com o
propósito de a molhar). Fazer troça de alguém, mesmo em jeito de brincadeira,
pode ofender se for expressão de um desvalor: por ex., tratar por “tu” de forma
impertinente — acentuase, por vezes, que a solução deve buscarse
especialmente no lado subjectivo, devendo o comportamento exprimir a
intenção de desvalorizar a pessoa a quem se dirige. Ofende quem cospe no
outro ou lhe lança imundícies. Ofende o puxão de orelha ou a bofetada que se
dá, não para magoar fisicamente mas para rebaixar o adversário.
Mas nem todos concordam em que seja injúria a recusa de apertar a mão
estendida, ou a de corresponder a uma saudação, não passando a atitude de
mera descortesia. Nem o recusarse alguém a dançar com outrem num baile.
Também se discute se certos comportamentos sexuais, especialmente com
pessoas jovens, ou se determinadas conversas (ou escritos) de cariz sexual
podem ser aqui incluídos. A jurisprudência alemã pronunciouse pela negativa
(Blei, p. 98: “com duvidosos fundamentos”) num caso em que alguém recebera
uma oferta de negócio para participar num Eroscentro.
A insolência e a linguagem de sarjeta, o palavrão e a ordinarice, a grosseria
e a máeducação ou a simples descortesia, a adjectivação escatológica ou
coprolálica não têm, só por si, o peso bastante para atingir a honra e a
consideração de outrem, muito embora se trate de comportamentos que
frequentemente andam associados às chamadas injúrias formais, aos gestos
ofensivos ou a ofensas corporais com intenção de injuriar.
“Não há dúvida de que os palavrões existem há tanto tempo como a linguagem. O Antigo
Testamento condenava com severidade os que praguejavam (Lev., XXIV, 10). Os
escritores gregos e romanos quase não deixaram testemunhos escritos sobre este
assunto: encontramos alguns exemplos em Aristófanes e Plauto. Contudo, a avaliar
pelos “graffiti” de Pompeia, o verbo que designava a cópula aparece frequentemente e
M. Miguez Garcia. 2001
837
podemos concluir daí que os palavrões de então eram semelhantes aos de hoje”. “A
veemência meridional introduz, tanto nos palavrões populares como nas blasfémias
puníveis com o inferno, uma parte maior ou menor do corpo, exibindoo ou fingindo
oferecêlo. O digitus impudicus latino ou katapygon grego representam a este respeito
uma espécie de diminutivo”. P. Matvejevitch, Breviário Mediterrânico, Quetzal, 1991, p.
[239] e [62].
“Os ouvidos são mais castos do que os olhos, disse Mário de Andrade. Quer dizer: lêse um
palavrão com mais facilidade do que o escutamos”. Otto Lara Resende, O palavrão do
general, in Bom dia para nascer, S. Paulo, 1993, p. 93.
"O que me ofende mais é "cabrão". Não gosto. Acho que é uma palavra horrível, é um insulto
baixo, ferino, de animais. Prefiro ser chamado "filho de puta". "Cabrão" é que não.
"Cabrão" é mais baixo que "puta". "Puta" é saudável. Sempre é uma actividade exercida
por humanas criaturas. O correspondente de "cabrão", medonho, para as mulheres será
"cabrona", ou mesmo "cabra". A cabra tem dois aspectos: há uma cabra positiva, a da
mitologia clássica — a que oferece as suas têtas para amamentar Júpiter, e uma outra,
negativa, a da nossa tradição cristã — a cabradiabo, de casco dividido e de saliva
venenosa, que pode reduzir a deserto todas as ervas. Com "cabrão" o insulto é duplo:
sendo também o diabo, atinge igualmente a mulher, a que o pariu ou corneou." António
Tabucchi, Pública, 201, 2 de Abril de 2000.
Injuriase alguém ofendendo “a honra subjetiva do sujeito passivo, atingindo seus atributos
morais (dignidade) ou físicos, intelectuais e sociais (decoro). Atingese a dignidade de
M. Miguez Garcia. 2001
838
alguém ao se dizer que é ladrão, estelionário, homossexual etc. e o decoro ao se afirmar
que é estúpido, ignorante, grosseiro etc.” Júlio Mirabete, p. 166.
O exército britânico tem, ou de qualquer forma teve, uma categoria de insulto conhecida como
“insolência silenciosa.” Peter Burke, A arte da conversação, Ed. Unesp, São Paulo, 1995.
A injúria consumase na presença do ofendido, mas esta questão deve ser
entendida em termos hábeis. Em geral, existe a contiguidade física do ofensor
com o ofendido, permitindo que este compreenda o conteúdo da ofensa, mas
entre ambos pode interceder um determinado meio de comunicação, como o
telefone ou a carta. Embora possam estar outras pessoas presentes quando se dá
a afronta — e muitas vezes é isso que acontece —, o que se exclui é que o agente
se dirija “a terceiro”, pois então o crime seria o de difamação, cuja pena é
substancialmente agravada. A presença, neste sentido, do ofendido como
interlocutor imediato parece ser portanto elemento do crime de injúria,
devendo, como tal, ser apercebida pelo dolo do ofensor.
Directamente ligada com a “presença” do ofendido, está a exigência deste
captar esse sentido ofensivo, ou seja, a compreensão por parte do destinatário,
que pode ser uma criança ou um doente mental, do significado injurioso da
ofensa. Saber se se trata então do crime consumado ou da tentativa (não
punível: artigos 23º, nº 1, e 181º) depende, como já se acentuou antes, da posição
que se adopte, acontecendo que para uns basta a percepção material, para
outros a percepção deve ser acompanhada da compreensão da ofensa
(Manzini), pois não basta ouvir, é preciso entender o sentido do que se diz ou
faz. Encarandose a infracção como instantânea e de perigo abstracto, donde se
exclui a relevância da tentativa, pouco importa que o seu destinatário tenha
“captado” o carácter desonroso da ofensa — o crime estará consumado mesmo
sem esse resultado.
M. Miguez Garcia. 2001
839
Tratase de infracção dolosa, mas não é necessário um particular animus
injuriandi. Tanto a doutrina como a jurisprudência concordam agora em que
basta o dolo genérico. É pois suficiente para a realização do tipo de ilícito que o
autor saiba que está a atribuir um facto ou a dirigir palavras cujo significado
ofensivo do bom nome ou consideração alheia ele conhece, e o queira fazer.
Há difamação quando o agente se dirige a terceiro, ofendendo a estima e a
consideração de outrem. É crime cuja moldura penal se destaca pela sua maior
gravidade, entre outras razões, por precludir a possibilidade imediata de defesa
ou a retorsão. Esta fica reservada à injúria, na medida em que a lei prevê que o
ofendido venha a ripostar com uma ofensa a outra ofensa, com possível
dispensa de pena, mas enfatizase a necessidade de isso acontecer "no mesmo
acto". O facto de se acusar alguém, de se lançar uma suspeita ou de reproduzir
a acusação ou a suspeita supõem, no dizer de Hurtado Pozo, uma relação
circunstancial entre o agente e a pessoa a quem ele se dirige. Neste caso, existe
comunicação duma opinião sobre o comportamento de outra pessoa, a vítima.
A expressão “difamar”, que o Código usa na epígrafe do artigo 180º e
chama ao artigo 182º na forma substantivada, reencontra aí, de algum modo, o
seu primitivo significado, o de espalhar, divulgar (Gaffiot, Dict. Latinfrançais,
Hachette; Ovidio, Metamorph., 4236, C. Budé). No tipo legal essa ideia está
impressivamente cunhada no termo “reproduzir”, que significa divulgar, fazer
circular, propalar (termo apropriado ao relato oral e que o Código emprega no
artigo 187º) ou propagar, do latim propagare, verbo de origem agrícola, que
descreve a prática do jardineiro que mete na terra os rebentos de uma planta
para a multiplicar (cf., J. A. C. Brown, Técnicas de persuasión, p. 10; R. L.
Palmer, Introducción al latín, 2ª ed., 1988, p. 80).
A difamação tanto pode consistir na imputação de um facto a outra
pessoa, mesmo sob a forma de suspeita, como em formular sobre ela um juízo.
Pode ainda consistir em reproduzir uma tal imputação ou juízo. Ponto é que o
agente se dirija a terceiro, não sendo necessária a contemporaneidade da
M. Miguez Garcia. 2001
840
comunicação, podendo esta ter lugar em tempo e modo diversos e mesmo com
um intervalo mais ou menos prolongado (Antolisei).
A ofensa à reputação de outrem pode ser um daqueles modos de ofender
que, com as devidas adaptações, se indicaram para a injúria. Com a imputação
de factos afirmase que uma pessoa se comporta de certa forma, que consome
heroína, que furtou um quadro célebre, que, sendo casada, teve relações fora do
casamento. Cabe aí a própria fraude ao fisco, por inexactidão propositada, por
ex., das declarações determinantes do pagamento dum imposto, e cabe o tráfico
de drogas, o tráfico de armas ou os proveitos da prostituição. Ou então que a
pessoa se encontra em determinada situação ou estado, por ex., que foi atingida
pelo vírus da sida. Destas alegações retiramse conclusões que implicam um
atentado à honra da pessoa visada (cf. Stratenwerth, § 11, nº 16), dando lugar a
juízos desonrosos e à multiplicação da afronta. São estes os exemplos mais
claros. Não é todavia necessário que se trate de um comportamento previsto
numa lei penal, há até condutas com essa dimensão que estão longe de desonrar
quem as pratica, basta pensar numa contraordenação de trânsito. Também não
é elemento típico que a afirmação produzida seja verdadeira ou falsa, retendo
se contudo o conhecimento da falsidade da imputação, que constitui calúnia ou
impede a prova da verdade. Nem é preciso, finalmente — na perspectiva dos
crimes de perigo abstracto —, um dano real ou a simples concretização de um
perigo.
Na Idade Média, para alguns escritores, o critério da verdade é que separa a difamação da
correcção: “Dizer a verdade não é difamar”, escreve Jerónimo; “Aquele que diz dum mal
existente que ele existe, não pode ser considerado como denegrindo quem quer que seja,
mas como um amigo da verdade”, afirma Smaragde num comentário à Regra de S.
Bento. Mas alguns fundamentam a distinção entre difamação e correcção no carácter
oculto da primeira e na natureza pública da segunda. Ainda assim, quando a intenção
difamatória é substituída pela necessidade de corrigir ou de prevenir, revelar o “mal” de
M. Miguez Garcia. 2001
841
alguém a outra pessoa, tornase não só permitida como também justa. Nos séculos 12 e
13 era corrente a identificação do pecado da difamação (detractio) com a intenção
difamatória do falante, contrária à intenção virtuosa, própria da denúncia do pecado. Em
Tomás de Aquino pode também encontrarse a observação de que se é difamador não
porque se diminua a verdade mas porque se diminui a reputação. Cf. Carla
Casagrande / Silvana Vecchio, Les péchés de la langue, p. 242.
Com o juízo de valor manifestase o desprezo ou o desdém para com
alguém: fulano é um "cretino", um "porco", um "animal"; sicrano é um "pulha",
um “farsante”; beltrano é um “aldrabão”, um “trafulha”. O autor exprime
assim, de modo concludente, a sua opinião pejorativa sobre a vítima. (Cf.
Stratenwerth, loc. cit.).
O Ministro Aldrabão — titulava o “Expresso” de 24 de Junho de 2000, "indignado" com o
comportamento do responsável da Administração Interna no caso dos touros de morte
de Barrancos. Depois de aludir ao que entende serem a duplicidade e as falsidades do
ministro, o Expresso comenta: “faltou à palavra dada em múltiplas ocasiões, fez
precisamente o oposto do compromisso que assumira perante os cidadãos do país e
ludibriou o Parlamento. A este lamentável modo de agir costuma chamarse, em
português simples e franco, serse aldrabão. E são as palavras mais brandas e menos
ofensivas para qualificar o procedimento de um ministro que mentiu repetida e
intencionalmente ao país, que desrespeitou a Assembleia da República e que pensa ter
resolvido com uma falcatrua de feirante uma questão tão controversa como a dos touros
de morte em Barrancos. (...) Ao contrário do que o ministro pode pensar, os problemas
complexos não se resolvem com este género de habilidades e trafulhices”.
Desconhecemos se o ministro se queixou.
M. Miguez Garcia. 2001
842
A afirmação alheia (ouvida em outro lugar, por ex., um “boato”), que
alguém reproduz — isto é, repete, tornandose eco do que foi dito ou insinuado
— não é, enquanto tal, objecto da própria convicção (Dreher/Tröndler, p. 958;
Volker Krey, p. 180). A indicação da fonte (nominatio auctoris) não desonera,
porém, o agente da sua responsabilidade. Diz, expressivamente, Magalhães
Noronha que o agente não se escusa por citar a fonte, nem por empregar
ressalvas ou ponderações, adrede preparadas e que mal ocultam o dolo com
que age. Vale o mesmo para quem, ao (re)lançar o “boato”, acrescenta que não
acredita naquilo que lhe transmitiram e que, todavia, repete (Stratenwerth, p.
196).
O comportamento descrito na incriminação envolve, como se disse, a
imputação de factos e a formulação de juízos de valor. Neste caso, imputar um
facto, atribuindoo a alguém, ou formular um juízo de valor significa apresentá
los como produto da sua própria convicção (Dreher/Tröndler, p. 957; Volker
Krey, p. 179).
• Facto é o acontecimento, evento ou situação que pertence ao passado ou ao presente e é
susceptível de prova. Podem ser factos interiores (motivos, objectivos, características
do carácter) se estiverem relacionados com determinados eventos externos. O
convencimento sobre o que irá acontecer no futuro não é um facto,
independentemente do grau de certeza que se ponha na afirmação. O facto distingue
se das simples opiniões e do juízo de valor, que se analisa numa afirmação contendo
uma apreciação sobre o carácter da vítima que não está inscrita em factos (cf. A. Silva
Dias, p. 14). No juízo de valor a afirmação é composta por elementos da posição ou
opinião própria — se ela é correcta ou incorrecta é questão de convencimento pessoal
(cf. Lenckner, in S/S, Strafgesetzbuch, 25ª ed., p. 1396 e s.). O que define as opiniões e
as distingue das imputações de facto é o elemento da tomada de posição: ou se é a
favor ou se é contra. “A linguagem dos valores não pode ser reduzida à linguagem
lógica ou à linguagem descritiva. Com uma consequência: para provar um juízo de
valor não se pode recorrer nem à demonstração lógica nem à verificação empírica,
mas apenas a argumentos de carácter subjectivo” (Bobbio, Ragionamento giuridico,
M. Miguez Garcia. 2001
843
cit. por A. Carrata, Rivista de Diritto Processuale, nº 32001). Os contornos entre facto e
juízo de valor são porém fluidos e na prática podem surgir dificuldades, com
importantes repercussões, nomeadamente quanto à prova da verdade (exceptio
veritatis).
A afirmação de facto pode estar condensada, consistindo numa simples
designação do género: “ladrão!” ou “x é um ladrão!”. Algumas vezes aparece
“normativamente colorida” ou ligada ou misturada com um “elemento de
valoração” (gemischtes Werturteil, juízo de valor misto). Nestes casos, entende
se correntemente que prevalece para efeitos de qualificação jurídica a
componente fáctica da afirmação, em atenção à especial perigosidade que
decorre desta forma de lesão da honra. O que é então decisivo é se a valoração
ainda permite que se reconheça a relação com o facto (a situação, o
acontecimento) afirmado, que se trate portanto de uma generalização feita a
partir de uma alegação mais precisa (“raccourci”). No exemplo corrente “A é
um ladrão!”, a frase “consubstancia a imputação de um facto quando
relacionada com um furto concreto até então desconhecido: com isso não se
quer dizer mais do que “A é o autor deste furto concreto”. Ao invés, se alguém,
referindose à prosperidade de um comerciante, afirma que ele “é um ladrão”,
emite um puro juízo de valor pois mais não faz do que apreciar de modo
negativo a personalidade de outrem” (cf. A. Silva Dias, p. 15; ainda, H. Welzel,
p. 312; Stratenwerth, p. 194; Lackner, p. 932; Dreher/Tröndle, p. 956).
A imputação de um facto pode fazerse “mesmo sob a forma de suspeita”.
O legislador prevê uma conduta dissimulada, falsa: lançar a suspeita sobre a
vítima de ter tido um comportamento indevido. O autor não afirma um facto,
limitase a fazer conjecturas sobre a maneira como se comporta a vítima.
Insinua factos que são apropriados para desacreditar o lesado. Ou, dito de outro
modo, exprimindo alegações fundadas sobre probabilidades o autor faz nascer
a aparência de que a vítima não merece o respeito dos outros. (Nestes termos,
H. Pozo, p. 27). Esta maneira de atacar uma pessoa pode ser tão perigosa como
M. Miguez Garcia. 2001
844
qualquer outra forma directa de atentado à honra. “O facto de simplesmente se
lançar a suspeita, mesmo quando o autor reserva prudentemente a
eventualidade duma hipótese favorável à vítima, pode fazer tanto mal como
uma acusação directa” (Logoz, apud H. Pozo, p. 27).
O uso, pela comunicação social, de certa expressão na suposição de que o leitor a entenderá em
sentido diverso ou contrário ao normal, mais desfavorável à pessoa a quem se dirige, ou
o tom desproporcionadamente escandalizado (especialmente nos títulos), ou a
dramatização de notícias neutras permitindo ou sugerindo a insinuação junto do leitor
de ideias em detrimento da reputação de uma pessoa, podem ser considerados modos
ou formas de ofensa à honra ou reputação da pessoa visada. Acórdão do STJ de 12 de
Janeiro de 2000, BMJ493156.
Não é necessário um animus específico. Na difamação basta igualmente
um dolo genérico: o autor tem a consciência de que as suas afirmações têm
carácter ofensivo e não obstante profereas. Na forma mitigada do dolo — que
porventura será a regra nos casos de imprensa —, dirseá que o agente previu,
ao menos como possível, atingir a honra e consideração da vítima, não se
abstendo de fazer as imputações, conformandose ou aceitando o resultado
danoso que, como eventualidade, não podia deixar de representar. Os
partidários da difamação como crime de perigo averiguarão antes se o autor
tem a consciência e a vontade de comunicar um facto (ou de formular um juízo
de valor) dirigindose a terceira pessoa e que o facto ou o juízo de valor é
idóneo para prejudicar a honra da vítima.
• Mas nem sempre as coisas foram assim entendidas. Durante muito tempo, para haver
crime, a jurisprudência exigiu, do lado subjectivo, um dolo específico, um animus
injuriandi vel difamandi. Vejase, para ilustrar, o acórdão do STJ de 25 de Maio de 1948,
BMJ9163 — numa participação criminal, A escreveu a expressão "Guilherme
Madeira Hall, solteiro, maior, sem profissão...". O tribunal entendeu que o uso de tal
M. Miguez Garcia. 2001
845
terminologia, na forma que dos autos consta, não podia considerarse como ofensivo
da honra do queixoso, porquanto lhe faltam os elementos complementares que
denunciem o animus difamandi.
Notese, ainda neste contexto, que o valor ofensivo de uma expressão é
relativo: varia notoriamente “com o tempo, o lugar e as circunstâncias”
(Magalhães Noronha, p. 157). Já anteriormente se chamou a atenção para o
tema, com o "tutuar" outrem de forma impertinente. Recordese agora o
exemplo de Antolisei, a propósito do epíteto “fascista”, que em determinada
época, na Itália, era elogio e depois passou a constituir ofensa.
“Faschist”, “Jungfaschist” já foram julgadas expressões ofensivas da honra por tribunais
alemães (cf. Dreher/Tröndle, p. 951). * “São objectivamente injuriosas as expressões
“fascistas” e “autoridades de merda” dirigidas a um sargento da GNR e duas praças da
mesma corporação” (ac. da Relação do Porto de 4 de Julho de 1976, CJ, ano I (1976), t. 2,
p. 385). * “O epíteto de “fascista” constitui ofensa à honra e à consideração da pessoa a
quem é dirigido, pois retira a boa imagem que todo o indivíduo deseja ter” (ac. da
Relação do Porto de 12 de Dezembro de 1984, in LealHenriques Simas Santos, p. 205).
“O marido enganado é representado simbolicamente por duas formas animais, o bode, ou
qualquer outro animal com cornos, e o cuco. O primeiro é utilizado nos países do sul da
Europa, o segundo nos do norte. Os escandinavos parece que dão pouca importância a
qualquer deles. Os franceses conhecem os dois: “il est cocu le chef de gare”, mas os
cornos têm mais saída que o cuco. Na Inglaterra, os cornos já não são utilizados e o cuco
(cuckold) é geralmente tratado com uma simpatia (escandalosa aos olhos dos espanhóis)
que o transforma mais em objecto de condolências do que de desprezo ou de risota”
(Julian PittRivers, La maladie de l’honneur, p. 29).
M. Miguez Garcia. 2001
846
Um exemplo notável da força activa da língua é o insulto, uma forma de agressão na qual os
adjectivos e substantivos são usados menos para descrever a outra pessoa do que para
atingila. Na Roma do século XVII, como em outras partes do mundo mediterrâneo, era
comum insultar os homens chamandoos de cornos, e as mulheres de prostitutas. É
improvável que tais caracterizações tivessem muito a ver com o comportamento social
de suas vítimas. Eram apenas o melhor meio de arrasar a reputação das vítimas,
ocasionandolhes a destruição social. Peter Burke, A arte da conversação, Editora Unesp,
1995.
Quando Filipe II de Espanha tentava apoios em Portugal, serse rotulado de "castelhano"
constituía "a mor infâmia que pode ter um fidalgo português" — como escreve a
Cristóvão de Moura o antigo bispo de Lamego, D. Jorge de Ataíde (Pilar Vásquez
Cuesta, A Língua e a Cultura Portuguesas no Tempo dos Filipes, p. 11).
Kienapfel (p. 322) aponta uma curiosa expressão que no “milieu” vienense passa por inocente,
mas que suscita a cólera imediata dum estranho. A propósito, alude à vantagem de se
ponderar o conjunto das circunstâncias de cada caso, por ex., as motivações, a maneira
de falar ou de gesticular do agente, a idade, o meio ou a formação tanto deste como do
lesado, o “humor” dos envolvidos ou o “clima” em que as coisas acontecem, bem como
os hábitos específicos do lugar. Deve igualmente estarse atento às mudanças que se vão
dando no nível ou no sentimento de tolerância em círculos ligados à política, à arte, à
crítica, etc., atendendo, por ex., ao correspondente efeito de habituação ou de aceitação.
Falando especificamente da imprensa, ao analisar o carácter ofensivo das afirmações
deverá terse em atenção a apresentação, o modo de escrever, o sentido literal, os
contextos e as possíveis variantes da expressão, e em especial os propósitos críticos do
M. Miguez Garcia. 2001
847
autor: artísticos, literários, científicos ou outros. Será importante conhecer o (mais ou
menos amplo) “horizonte do destinatário” (Empfängerhorizont), a avaliação do específico
círculo de leitores, ouvintes ou espectadores e a natureza da publicação em causa (cf.,
ainda, Blei, p. 99).
"Antes de decidir se os critérios valorativos da ilicitude da injúria justificam a qualificação
como injúria do chamar "corcunda" a um indivíduo, é inevitável compreender o sentido
exacto daquela palavra no contexto linguístico e social em que foi usada — o seu sentido
irónico, amigável, de desprezo, etc." Maria Fernanda Palma, A teoria do crime como
teoria da decisão penal, RPCC 9 (1999), p. 533. Qualquer falante de português destrinça
imediatamente os traços pejorativos da palavra "vaca": mulher de maus costumes,
prostituta, mulher fácil, mulher muito gorda.
II. Honra e liberdade de expressão e de informação; causas especiais de não
punibilidade; realização de interesses legítimos.
• CASO nº 35A: No número 100 da revista “S”, publicado na semana de 26 de Julho a 1
de Agosto de 1991, foi incluído um artigo subscrito pelo jornalista “A” com o título
“Figurões do Norte na mira da polícia espanhola”. Nele se acusa “Q”, familiar de um
conhecido homem de negócios do Norte, de andar fugido à justiça e de estar
envolvido numa rede de falsários, juntamente com indivíduos conhecidos da polícia,
alguns dos quais fazem parte do “Cartel do Porto”, uma organização que controla a
prostituição no Norte de Portugal e em Espanha (sobretudo em Vigo e outras cidades
galegas) e a droga. A moeda falsa é um "negócio lateral" que serve para financiar os
grandes fornecimentos de droga que chegam da América Latina e de Marrocos.” Foi
instaurado processo crime contra “A”, por abuso de liberdade de imprensa (arts.
164º, nº 1, e 167º nº 2, ambos do Código Penal de 1982, conjugados com o artº. 25º do
DecLei 85C/75 de 26 de Fevereiro Lei de imprensa; agora Lei nº 2/99 de 13 de
M. Miguez Garcia. 2001
848
Janeiro). O arguido, que não comprovou as afirmações veiculadas no artigo,
defendeuse dizendo que quando o escreveu nenhuma intenção teve de injuriar ou
difamar. Apenas teve em mente revelar com total verdade alguns dos traços mais
cheios da história triste e deplorável da prostituição, droga e dinheiro falso. Para isso
cuidou escrupulosamente de averiguar todos os factos e todas as imputações que fez
no seu artigo. Essa indagação foi feita pelo arguido junto de fontes policiais e outras
ligadas ao mundo do crime, que o segredo profissional o impede de revelar. Não
obstante as fontes onde colheu as informações serem em absoluto dignas de crédito, o
arguido procurou por todos os meios ao seu alcance ouvir o queixoso. E fez para isso
variadíssimas diligências, tendo telefonado para a sua residência e tendoo procurado
num armazém de Matosinhos, tendo entretanto sabido que o queixoso andava fugido
à polícia pois havia contra ele mandados de captura. Ora, a partir desta informação o
arguido entendeu que a informação que possuía e que veiculou no referido artigo
interessava ao público e era verdadeira. Em seu entender, a sua conduta não teria
sido ilícita, pois cumpriu o dever de informação e procedeu de boa fé.
III. Honra e liberdade de expressão e de informação; direito de crónica;
direito de crítica.
O direito à honra pode entrar em conflito com o direito de expressão e de
livre informação.
• Ambos têm assento, reconhecimento e dignidade constitucional. O direito ao bom nome e
reputação encontrase consagrado a nível constitucional (artigo 26º, nº 1) e na lei
ordinária (por ex., artigo 70º, nº 1, do Código Civil). A liberdade de expressão e
informação é um direito igualmente garantido a nível constitucional (artigos 37º, nº 1,
e 38º, nºs 1 e 2, a) e com lugar na lei ordinária (artigos 1º, nºs 1 e 4, 2º e 3º da Lei de
Imprensa; agora Lei nº 2/99, de 13 de Janeiro).
• Crítica e crónica, opinião e notícia, juízo e facto. Com a liberdade de expressão garante
se a liberdade de exprimir pensamentos, ideias, opiniões ou qualquer outro tipo de
juízos de valor subjectivos. Cabe aqui a caricatura — e a sátira. No dia a dia da
M. Miguez Garcia. 2001
849
imprensa, "espécies opinativas serão o artigo de análise e/ou de opinião; o artigo
de fundo propriamente dito, antecessor do editorial, com o qual pode ir a par; o
comentário do articulista ou editor da página, mas também de colaboradores
regulares ou episódicos. Conforme a mancha gráfica se reduz e ganha em
densidade, pessoalização, crítica e humor, teremos o apontamento, o bilhete, o eco.
No colunismo é mister referir o que desagua em crítica e crónica, com nascimento
muito próximo nas suas origens periodísticas, enquanto devedoras do folhetim.
Uma e outra variam quanto à matéria (desportiva, tauromáquica, teatral, etc.) e sua
formulação. Quanto àquela, e na particularidade literária, falaríamos em mera
impressão ou juízo de valor, em nota, recensão, ensaio, tratado, sistema. Há uma
importância crescente nesta hierarquização, já com foros de revista literária e até
universitária a partir da recensão; o ensaio também chega a ocupar as efémeras
páginas de diário; jamais os últimos. Opinião é, ainda, citar parecer alheio. Ficou
para o fim modalidade forte na tradição nacional: a polémica." Ernesto Rodrigues,
"Literatura & jornalismo ligações perigosas", in LER livros & leitores, nº 39
(1997), p. 40, (adaptado). Com o direito à informação recordese a crónica — e a
notícia, um facto actual com interesse geral. "Vejase que não é um facto
permanentemente actualizado. Pressupõese um facto verdadeiro, novo, facilmente
comunicável segundo critérios de rigor e objectividade; o jornalista informase e
informa, visando preparar mensagem facilmente entendida pelos leitores." Ernesto
Rodrigues, idem. Cf., do mesmo Autor, Mágico Folhetim, literatura e jornalismo em
Portugal, Editorial Notícias, 1998, especialmente, p. 77.
Toda a gente tem pois o direito de informar, de se informar e de ser
informado, exprimindo e divulgando livremente o seu pensamento pela
palavra, pela imagem, ou por qualquer outro meio, sem impedimento nem
discriminação, como se consagra no 37º da Constituição da República. O
respectivo nº 3 acrescenta que as infracções cometidas no exercício destes
direitos ficam submetidas aos princípios gerais de direito criminal, sendo a sua
apreciação da competência dos tribunais judiciais. Com o que o legislador
constitucional quis consagrar uma "quase evidência" — quis consagrar a ideia
M. Miguez Garcia. 2001
850
de que o exercício do direito de liberdade de expressão e de informação "tem
limites e um dos limites a esses direitos reside precisamente naqueles actos que,
ao violarem direitos e valores constitucionais (integridade; honra; dignidade) de
igual valência normativa, integram um ilícitotípico definido pelo ordenamento
penal" (Faria Costa, O Perigo em Direito Penal, 1992, p. 210). No mesmo plano
em que a defesa da dignidade da pessoa humana ocupa um lugar saliente, estão
também consagrados os direitos do cidadão à sua integridade moral (artigo 25º,
nº 1), ao seu bom nome e reputação (artigo 26º, nº 1). A respectiva tutela radica,
portanto, fundamentalmente, nas incriminações constantes da “legislação penal
comum”, aplicável, inclusivamente, por força da Lei de Imprensa, e com
especialidades pontuais nesta previstas, quando os actos ou comportamentos
lesivos do bem jurídico se consumam pela publicação de textos ou imagens
através da imprensa (artigo 25º do DecretoLei nº 85C/75, de 26 de Fevereiro;
cf. agora a Lei nº 2/99 de 13 de Janeiro).
Quando o representante do Ministério Público imputa ao acusado a
prática de factos desonrosos não comete um crime contra a honra, na medida
em que é obrigado por lei a motivar os seus juízos, fazendoo no quadro
funcional que lhe é próprio. Deve considerarse excluída a responsabilidade
penal dos atentados à honra sempre que eles resultem da realização, exercício
ou defesa de direitos. O advogado, por ex., gozaria de uma verdadeira
imunidade, porque as expressões necessárias à defesa do cliente "estão a coberto
de justificação bastante, devendo, por isso, considerarse dirimida a respectiva
ilicitude penal. Isto em nome do exercício de um direito (artigo 31º, nºs 1 e 2, b),
do Código Penal); e um direito com a eminente e singular dignidade jurídico
constitucional do direito de defesa em processo penal cometido ao advogado do
arguido" (António Arnaut, Estatuto da Ordem dos Advogados, 1995, p. 70, citando
um parecer dos professores J. Figueiredo Dias e Costa Andrade). Também no
caso dos jornalistas, prevalecendo o direito de informar livremente, o facto
atentatório da honra de outra pessoa ficará justificado se ele resultar do
exercício legítimo de um direito (artigo 31º, nºs 1 e 2, b), cit.).
M. Miguez Garcia. 2001
851
Se bem compreendo, o problema da concorrência entre diferentes direitos fundamentais não
foi solucionado de maneira satisfatória nem na Alemanha nem nos outros países que
têm um catálogo de direitos fundamentais semelhante. Quais são as fronteiras da
liberdade humana? Durante muito tempo tanto os filósofos como os teólogos e os
sociólogos discutiram esta questão. Temos diversas respostas mais ou menos concretas,
mas nunca apareceu uma solução que se perfile como o modelo perfeito para a
jurisprudência. (Günter Püttner, Les droits fundamentaux en Allemagne, ERPL/REDP
vol.10, nº 3, 1998).
Todavia, como não há direitos absolutos, ou ilimitadamente elásticos
(Jorge Miranda), e porque entre tais direitos não se verifica unicamente a
estrutura própria das causas de justificação, o conflito entre eles deve resolver
se atendendo às diferentes situações concretas, de forma que nuns casos
prevalecerá o direito à honra, noutros a liberdade de expressão e informação.
• Durante muito tempo os tribunais resolveram os conflitos entre o direito à honra e a
liberdade de expressão de maneira inadequada, socorrendose de um específico
elemento subjectivo — o animus injuriandi ou difamandi, i. é, a vontade de ofender,
de desconsiderar outrem: as palavras deviam ser aptas a ofender mas exigiase que
simultaneamente fossem proferidas com esse fim. Todavia, enquanto se entende que
o animus difamandi ou o animus injuriandi constituem elemento dos crimes de
difamação e de injúria e são integrados pelo desejo ou pela consciência de que se
pode difamar ou injuriar, estáse ainda dentro do dolo genérico, que é
necessariamente exigível (cf. Figueiredo Dias, Direito de Informação e Tutela da
Honra, RLJ, ano 115º, p. 133). Por outro lado, esta solução ocultava a verdadeira
dimensão do problema, que não reside na intenção com que se realiza o facto mas na
mútua delimitação do conteúdo objectivo dos direitos que entram em rota de colisão
(Molina Fernández).
M. Miguez Garcia. 2001
852
Historicamente, pode descortinarse a tendência para a preterição da
liberdade de expressão perante exemplos de exacerbada exaltação da honra,
como no caso de países em período prédemocrático (visão "calderoniana",
tradicional em certos sectores da sociedade espanhola).
Nos Estados Unidos, a doutrina das prefered freedoms ("liberdades
preferentes": Cristina Queiroz, p. 293) confere a certos direitos, entre os quais a
liberdade de imprensa — mas também a liberdade religiosa e a liberdade de
reunião e de associação —, uma posição mais forte que aos restantes direitos
fundamentais. Num certo sentido, a liberdade de expressão é aí entendida
como a razão de ser de todas as liberdades, "the matrix, the indispensable
condition of nearly every other form of freedom" (Juiz Cardozo), e a liberdade
de expressão e informação encaradas como direitos fundamentais duplamente
valiosos. Valiosos, por um lado, a nível individual, para qualquer cidadão que
os queira exercer (e até aqui estarão equiparados à honra das pessoas); por
outro, valiosos para o reconhecimento e garantia de uma instituição política
fundamental como é a opinião pública, indissoluvelmente ligada ao pluralismo
político, que é um valor essencial e indispensável numa sociedade aberta e um
requisito do funcionamento do Estado democrático.
Estes pontos de vista foram sendo progressivamente atenuados,
reconhecendose que em caso de conflito entre dois direitos fundamentais não é
lícito sacrificar um em benefício do outro. Concluindose que não existe uma
hierarquia na ordem dos valores constitucionais, nuns casos prevalecerá o
direito à honra, noutros o direito à liberdade de expressão e informação.
"Ainda que a liberdade de expressão seja considerada um valor prioritário na constituição
americana, nem por isso se admite que se possa permitir seu exercício quando constitui
um perigo indubitável e iminente. Quem grita: "fogo" em um teatro repleto, e isso a fim
de provocar pânico, não pode invocar seu direito à liberdade de expressão para subtrair
se aos processos judiciais". Chaïm Perelman, Lógica Jurídica, São Paulo, 2000, p. 130.
M. Miguez Garcia. 2001
853
A via preferentemente adoptada entre nós — teoria da concordância prática
entre os bens ou valores em conflito —, aspirando à optimização máxima de
todos os direitos, reconhece que a forma concreta de resolução do conflito não
pode afectar o conteúdo essencial de nenhum dos bens ou valores em causa —
se isso no caso concreto acontecer teremos de concluir que a situação não era de
conflito de direitos, mas de limite implícito de um dos direitos; por outro lado,
não se exige a realização óptima de nenhum dos valores em conflito,
procurandose antes uma coordenação proporcionada entre eles.
• Em vista da igual hierarquia constitucional dos valores em conflito compreendese que, de
todos os lados, os tribunais e os autores se acolham invariavelmente ao dogma da
inexistência de um princípio de preferência abstracta por qualquer deles. “Tudo terá
pelo contrário de decidirse no contexto de uma ponderação de interesses
mediatizada por um círculo hermenêutico centrado sobre as singularidades do caso
concreto. E, por vias disso, apostada numa solução capaz de assegurar aos dois
valores em conflito a máxima satisfação compatível com a justiça do caso.” (Costa
Andrade). Nas palavras de Konrad Hesse, os bens jurídicos constitucionalmente
protegidos "devem poder coordenarse entre si, de tal sorte que cada um alcance a
sua efectividade", traduzindose numa "optimização" de ambos: "ambos os bens
devem ser limitados para que possam gozar todos eles de uma virtualidade óptima",
de modo que, no resultado, todos possam contribuir para a manutenção da decisão"
(Cf. Cristina Queiroz, p. 275; e Konrad Hesse, Escritos de derecho constitucional, p.
45). Cf., ainda, J. Wolter, Derechos humanos y protección de bienes, in Fundamentos
de un sistema europeo de Derecho Penal, LibroHomenaje a Claus Roxin, 1995;
Cardoso da Costa, A hierarquia das normas constitucionais e a sua função na
protecção dos direitos fundamentais, in BMJ39615; e J. Carlos Vieira Andrade, Os
direitos fundamentais na Constituição da República Portuguesa de 1976, 1987, p. 220.
Obtémse a concordância prática dos dois valores ou direitos em confronto
comprimindo um ou outro conforme as situações. Assim:
M. Miguez Garcia. 2001
854
i) se o facto é verdadeiro e socialmente relevante, comprimese o direito à
honra: o núcleo essencial deste direito (atenta a respectiva função) respeita a
factos desonrosos, mas que são falsos, ou da esfera da vida privada — vale por
dizer que o direito à honra tem como limite imanente que o facto seja falso ou
socialmente irrelevante;
ii) se o facto é falso, socialmente irrelevante, ou da vida íntima ou privada,
comprimese o direito à informação: o núcleo essencial do direito à informação
referese a factos verdadeiros e socialmente relevantes — vale por dizer que o
direito à informação tem como limite imanente que o facto seja verdadeiro e
com relevância social. (Cf. Reis Figueira).
Os critérios que permitem afirmar a prevalência de um direito sobre o
outro têm a ver
i) com o interesse social da informação: é o exercício do direito jurídico
constitucional de informar que, no caso concreto, justifica a ofensa da honra,
por ex., quando a informação tenha por objecto formar a opinião pública em
assuntos de interesse geral;
ii) o meio utilizado háde porém ser o adequado ou o razoável, não deve
exceder o fim informativo, uma vez que a lesão da honra só pode justificarse
quando seja necessária, e não é necessária quando, por ex., a pretexto de
informar se usam expressões formalmente injuriosas ou insinuações torpes;
iii) têm a ver também com a intenção de informar a verdade. Um tal
conceito (de verdade) não tem que traduzir uma verdade absoluta e por inteiro
correspondente ao facto histórico narrado, pois o que importa, em definitivo, é
que a imprensa, no exercício da sua função pública, não publique imputações
que atinjam a honra das pessoas e que saiba inexactas, cuja inexactidão não
tenha podido comprovar ou sobre a qual não tenha podido informarse
suficientemente. (Cf. Figueiredo Dias). Bastam as exigências derivadas das leges
artis dos jornalistas, das suas concepções profissionais sérias para que se possa
M. Miguez Garcia. 2001
855
afirmar a diligência devida no confronto da veracidade das informações. É,
neste sentido, uma verdade putativa, que se transforma em "esimente putativa
del diritto di cronaca" quando é fruto de um trabalho de investigação sério e
diligente dos factos expostos (sentença da Cassazione italiana de 30.6.84).
Tratandose de juízos de valor, de ideias ou opiniões, a margem de liberdade de
expressão (associada ao direito de crítica — artística, histórica, literária, etc.) é
muito mais ampla que a da informação. Isso acontece especialmente com a
crítica política, onde em geral se aceita uma maior liberdade de linguagem.
Ainda assim, a forma empregada pode redundar em lesão da honra, proibindo
se também neste caso a injúria formal ou absoluta.
• Pertinenza, verità e continenza. La giurisprudenza ha elaborato i canoni a cui ispirare il
giudizio di bilanciamento tra libertà d'espressione del pensiero e onore delle
persone, soprattutto con riferimento allo specifico campo del diritto di cronaca e di
critica di matrice eminentemente giornalistica; a tal proposito, ha raggiunto una
sostanziale omogeneità d'indirizzo indicando nella pertinenza, nella verità e nella
continenza i limiti al rispetto dei quali è subordinata la liceità delle affermazione
(Cass. 15 ottobre 1987; il Foro Italiano, 1993, p. 324).
• Consideramse crimes de abuso de liberdade de imprensa os actos ou comportamentos
lesivos de interesse jurídico penalmente protegido que se consumam pela publicação
de textos ou imagens através da imprensa, sendolhes aplicável a legislação penal
comum (artigo 25º, nºs 1 e 2, do DecretoLei nº 85C/75, de 26 de Fevereiro; agora Lei
nº 2/99 de 13 de Janeiro).
• Através deste diploma pretendeuse consagrar a liberdade de expressão de pensamento
pela imprensa, no âmbito do direito à informação.
• Como se viu, o artigo 37º da Constituição da República consagra o direito de liberdade de
expressão e informação, prescrevendo que todos têm o direito de exprimir e divulgar
livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem, ou por qualquer outro meio,
sem impedimento nem discriminação. O respectivo nº 3 acrescenta que as infracções
M. Miguez Garcia. 2001
856
cometidas no exercício destes direitos ficam submetidas aos princípios gerais de
direito criminal, sendo a sua apreciação da competência dos tribunais judiciais.
• No caso nº 35A, as imputações produzidas pelo jornalistas são idóneas para ofender a
honra do visado, a quem, desde logo, envolvem em actos que constituem crimes, e
este sentiuse por elas ofendido. Mostramse preenchidos os elementos objectivos e
subjectivos da difamação, pois o arguido agiu com dolo, pelo menos com dolo na sua
forma mitigada ou eventual. Todavia, nos termos do nº 2 do artigo 180º do Código
Penal, o agente pode provar, com as limitações lá referidas, a verdade da imputação
ou a sua veracidade, o que é extensivo à comunicação social. A conduta não será
punível se a imputação for feita para realizar um interesse legítimo e se prove a
verdade da mesma imputação ou o agente tenha fundamento sério para, em boa fé, a
reputar como verdadeira. No nº 3 do mesmo normativo estabelecese que se exclui a
boa fé quando o agente não tiver cumprido o dever de informação, que as
circunstâncias do caso impunham, sobre a verdade da imputação.
• Não foi feita a prova da verdade das imputações. Por outro lado, o jornalista não logrou a
prova da veracidade, como pretendia. Não pode invocar um interesse legítimo para a
sua descrita actuação. Não se verifica pois qualquer circunstância eximente, sendo a
conduta punível.
IV. A prossecução de interesses legítimos como dirimente da imputação de
factos; prova liberatória; prova da verdade dos factos; prova da veracidade;
artigos 180º, nºs 2 a 4, e 181º, nº 2 do Código Penal.
A ilustrar o alargamento do espectro das derimentes aplicáveis, a
prossecução de interesses legítimos, como dirimente da imputação de factos,
convoca agora, de novo, a nossa atenção.
No direito português não é elemento do tipo de ilícito da difamação ou da
injúria que a afirmação produzida seja falsa, mas a lei penal admite a “exceptio
veritatis” com a consequente exclusão da punibilidade da conduta, isto é,
M. Miguez Garcia. 2001
857
admite que o arguido, em certas circunstâncias, tome a iniciativa de provar que
a imputação que produziu, ofensiva da honra do queixoso, é verdadeira. Deste
modo, deve ser punido tanto aquele que atingiu a honra de outrem com
afirmações falsas, como aquele que, no processo, não logrou a prova da verdade
(ou da simples veracidade, como veremos). Por isso se diz que “quem anda a
propalar coisas” a respeito de outrem chama a si o “risco” da prova da verdade
daquilo que põe a circular. O que, bem entendido, não deve ser confundido
com a inversão de qualquer “ónus da prova”.
• Ideia geral da exceptio veritatis, segundo Murillo, p. 60: a exceptio veritatis reflecte de certo
modo a ideia geral de que as imputações de factos falsos socialmente desvaliosos
representam condutas lesivas da honra. Não será assim se esses mesmos factos forem
verdadeiros. Mas deve notarse, por um lado, que há factos ofensivos da honra que
são insusceptíveis de prova, por outro, que a dignidade de uma pessoa pode ser
afectada, independentemente da verdade ou da falsidade do facto imputado, a partir
da própria forma da imputação ou das circunstâncias em que a mesma se produziu.
A “exceptio veritatis” está directamente relacionada com o exercício da
liberdade de expressão e informação. Contribui para que a opinião pública
possa controlar e censurar comportamentos alheios, ainda que a censura assim
exercida revele contornos privados por isso, a crítica que por vezes se faz ao
sistema, apontando os abusos, é a de que se usurpa a correspondente função
pública. Certo é, porém, que se a lei se abre à prova da verdade das imputações
criamse condições favoráveis à consolidação do Estado democrático, pois se
permitem condutas que de outro modo dificilmente seriam assumidas.
Proibindo, ao invés, a prova da verdade das imputações, isto é, sacrificando a
verdade nas relações sociais, o direito de censura privada como que é
substituído pelo direito ao segredo o segredo da desonra.
Estando em causa o que hoje chamamos a função pública da imprensa, compreendese que já
no século passado houvesse a preocupação de conciliar a protecção devida aos cidadãos
“contra as injúrias e ataques da malevolência” com os direitos de dizer a verdade e de
apreciar livremente os actos de cada um. Silva Ferrão, p. 314: pode entenderse por um
M. Miguez Garcia. 2001
858
lado que a lei não deve punir a difamação como crime senão quando os factos
imputados forem falsos e consequentemente que a prova da verdade exime. O ponto
culminante é a falsidade, a fraude ou a mentira (Mello Freire, Inst. de Jur. Cr., tit. 12º, §
6º). O contrário equivale a adoptar o princípio veritas convicii non liberat ab injuria. Estas
doutrinas opostas influíram poderosamente na confecção dos códigos modernos.
A exclusão da ilicitude penal (ou simplesmente a exclusão da
punibilidade) por via da prova da verdade dos factos é portanto um dado
adquirido nos Estados democráticos, em cujas legislações se encontra
autorizada com maior ou menor latitude.
A lei impõe restrições à prova da verdade, de contrário poderiam derivar
inconvenientes para o próprio queixoso, independentemente do seu resultado
concreto. Se a afirmação desonrosa tem natureza muito geral, a prova pode
estenderse praticamente a todos os aspectos da vida do lesado, mesmo os mais
íntimos. Acresce a hipótese da publicidade (negativa) do processo o strepitus
judicii de tal forma que o perdedor será, ainda e sempre, o lesado. A prova da
verdade é uma espada de dois gumes.
Perante o quadro normativo (artigos 180º, nºs 2 a 4, e 181º, nº 2), a primeira
tarefa do intérprete será a de verificar se no caso é admissível a prova da
verdade (ou a da veracidade), na condição de ter sido requerida.
• Vejase, por ex., o artigo 328º do Código Penal (ofensa à honra do Presidente da República):
“afigurasenos que não é admissível prova das imputações feitas, por razões de
Estado e porque não foi aqui reproduzida disposição correspondente à do artigo 180º,
nº 2, alínea b), sem prejuízo de o dolo poder ser afastado pela boa fé do arguido”
(Maia Gonçalves, Código Penal Português, 8ª ed., 1995, p. 944); e o ac. da Relação de
Lisboa de 30 de Maio de 1989, CJ, ano XIV (1989), t. 3, p. 168. No crime de ofensas à
memória de pessoa falecida do artigo 169º do CP82 não é admissível a prova da
M. Miguez Garcia. 2001
859
veracidade dos factos. Ac. da Relação de Lisboa de 10 de Janeiro de 1994, CJ 1994I
141.
O artigo 180º, nº 2, exige, desde logo, que a imputação tenha sido feita
para realizar interesses legítimos, excluindo a prova nos casos relativos à
intimidade da vida privada e familiar (nº 3). Mas não se exige, necessariamente,
o reconhecimento de um interesse público, por ex., o de informar por meio da
imprensa, cuja missão está justamente relacionada com a formação da opinião
pública. Basta um interesse privado, o do advogado na defesa do seu cliente ou
na sustentação da acusação do assistente, o da parte num processo, o do
cientista que acusa outro de plágio. Na verdade, a noção de “interesse legítimo”
envolve a prossecução de uma finalidade reconhecida pelo Direito como sendo
digna de tutela, independentemente da sua natureza pública ou privada, ideal
ou material (cf. SchönkeSchröder, § 193, nº de margem 9).
Além disso, deve a imputação revelarse necessária à salvaguarda de
interesses legítimos. Reconhecendose, por ex., que a liberdade de imprensa
está, por via de regra, associada à salvaguarda de valores ou à prossecução de
interesses como “a transparência da administração pública, a descoberta e
prevenção de actos de corrupção, a protecção de minorias discriminadas, etc.”,
deve também reconhecerse aí [como já se acentuou] a existência de interesses
“a levar à balança da ponderação, nomeadamente para efeitos de determinação
de manifestações concretas de ilicitude” (cf. Costa Andrade, Sobre a reforma, p.
450).
• “É compreensível e aceitável que não se possam trazer à luz da publicidade factos
ofensivos da honra, ainda que verdadeiros, relativos a “particulares”, quando não
exista qualquer interesse legítimo na divulgação” ou “quando esteja em causa a sua
“vida privada e familiar” (Figueiredo Dias, p. 135). "O desenho normativo reserva à
prossecução de interesses legítimos a força bastante para, só por si, tornar jurídico
penalmente toleráveis tanto as agressões à honra como as agressões à vida privada: já
não será assim em relação às condutas que se projectam ao mesmo tempo sobre
M. Miguez Garcia. 2001
860
ambos os bens jurídicos. Porque então emergirão duas expressões de danosidade
social que reciprocamente se potenciam e amplificam, tornando unívocas a dignidade
penal e a carência de tutela penal das condutas pertinentes” (Costa Andrade, Sobre a
reforma ..., p. 455).
A circunstância de a imputação se referir à intimidade da vida privada e
familiar não exclui pois, eo ipso, a possibilidade de justificação da conduta. Pelo
contrário, e como já se referiu, o que se impõe é que se examine se ocorre um
dos fundamentos das alíneas b), c) e d) do nº 2 do artigo 31º, não sendo ilícito o
facto praticado no exercício de um direito, no cumprimento de um dever
imposto por lei ou por ordem legítima da autoridade ou com o consentimento
do titular do interesse jurídico lesado. “Sempre que um facto for praticado no
exercício de um direito, não será passível de incriminação; o mesmo sucederá
sempre que a ordem jurídica, considerada na sua totalidade, excluir a ilicitude.
Nestes termos, nunca haverá crime se um jornalista se mantiver dentro dos
limites do direito de informação” (Maia Gonçalves, Código Penal Português, 8ª
ed., 1995, p. 656).
A prova da verdade serve unicamente para excluir a punibilidade da
conduta do difamador, não se destina a agravar a posição do queixoso nem
pode ser pretexto para prolongar ou ampliar o processo difamatório. Deve por
isso restringirse ao facto imputado, ao seu conteúdo objectivo, sem se
transformar em instrumento de nova ofensa, beliscando ou agravando, por
exemplo, a vida privada do visado. A jurisprudência suíça insiste em que a
prova da verdade não deve ser utilizada para uma ofensa generalizada à pessoa
do lesado. Nenhum interesse legítimo justifica uma devassa dessa ordem, a
qual pode ser, pelo contrário, ocasião de maiores ressentimentos e de vindicta
ou represália. E isso independentemente de os factos serem verdadeiros ou
falsos. A prova liberatória não pode estenderse, por ex., à capacidade de
delinquir ou à reputação do queixoso. * É vedado ao agente do crime de
difamação a prova da verdade das imputações quando o que se pretende é
M. Miguez Garcia. 2001
861
provar a adequação à pessoa ofendida do uso de certos termos, epítetos e
expressões ofensivas, como: mentiroso, intruso, manhoso, prepotente, vira
casacas e de usar métodos reles e baixos (ac. da Relação do Porto de 29 de Maio
de 1991, CJ, ano XVI (1991), t. III, p. 275).
Por outro lado, a prova admitida é a do facto imputado e não a da sua
notoriedade a prova deve ser a da realidade do facto e não do que dizem outros
(voz pública), a seu respeito (Bento de Faria, p. 157). * A convicção do autor da
imputação tem de assentar numa base objectiva, não lhe bastando louvarse
sobre “o que se dizia”. Se era difícil ou impossível colher dados sobre a
imputação, impunhaselhe que não veiculasse a notícia” (ac. da Relação do
Porto de 20 de Janeiro de 1988, CJ, ano XIII (1988), t. I, p. 231).
A prova restringese pois às afirmações de factos, isto é, ao substracto
factual ou aos correspondentes fundamentos de facto da imputação. Ficam dela
excluídos os juízos de valor.
A prova da verdade fica estabelecida se se puder concluir que a imputação
é substancialmente correcta, independentemente de pormenores sem
significado ou de exageros irrelevantes. Fica apurada a verdade quando se
chega à conclusão que o facto, objecto da afirmação, é exacto na sua textura
essencial. A afirmação é falsa quando não são verdadeiros os seus pontos
essenciais, mas não bastam para a tornar falsa os exageros de pouca monta ou
as incorrecções acidentais ou secundárias (SchönkeSchröder, § 186, nºs de
margem 15 e 2).
No desenrolar das diligências probatórias, o juiz tem portanto o estrito
dever de zelar por que os apontados limites e a identidade da imputação não
fiquem abastardados. Inclusivamente, não deve autorizar a prova da verdade
de factos anteriores ou posteriores, semelhantes ou equivalentes ao que
constitui o núcleo da imputação (cf. Kienapfel, p. 355; Bento de Faria, p. 157).
Ainda assim, pode a diligência apoiarse naquelas circunstâncias que o agente
M. Miguez Garcia. 2001
862
conheceu posteriormente ou que resultaram de uma posterior clarificação da
situação (Stratenwerth, p. 202).
O Código de Processo Penal de 1929 continha um capítulo sobre o
processo por difamação, calúnia e injúria, onde, no artigo 590º, se estabelecia a
tramitação a seguir quando o arguido pretendia provar a verdade das
imputações: “...deduzirá por artigos a sua defesa na contestação...”.
Não existe actualmente semelhante disposição. Ainda assim, a altura
própria para o início da correspondente tramitação será a contestação. O
interessado deve aí anunciar e tornar claro que pretende fazer a prova da
verdade (ou de possibilitar o controle pelo tribunal da simples veracidade dos
factos), para que o imputado, que neste aspecto tem o direito de se defender,
não seja surpreendido. Compreendese por isso que em julgamento se não
admitam a belprazer do interessado testemunhos de última hora que
contribuam para expandir ad nauseam sucessivos momentos probatórios. * A
prova relativa à “exceptio veritatis” tem de ser previamente anunciada e
admitida pelo Juiz da causa, para que possa ser contrariada, sem o que não
pode ser conhecida em recurso (ac. do STJ de 17 de Março de 1994, CJ, acórdãos
do STJ, ano II (1994), t. I, p. 251).
Quanto aos efeitos da prova da verdade da imputação, decorre do artigo
180º, 2, como se viu, que a conduta não é punível, nos limites acima ditos, se,
cumulativamente, a imputação for feita para realizar interesses legítimos.
A lei autoriza também a prova da veracidade: a conduta não será punível
se a imputação for feita para realizar interesses legítimos e (cumulativamente) o
agente tiver fundamento sério para, em boa fé, a reputar verdadeira. A lei
esclarece (pela negativa) que a boa fé se exclui quando o agente não tiver
cumprido o dever de informação, que as circunstâncias do caso impunham,
sobre a verdade da imputação (cf. os artigos 180º, nºs 2 e 4, para a difamação,
M. Miguez Garcia. 2001
863
181º, nº 2, para as injúrias, e 28º da Lei de imprensa (Dec.Lei nº 85C/75, de 26
de Fevereiro; agora Lei nº 2/99, de 13 de Janeiro).
Ainda aqui a admissibilidade da prova está ligada a dois pressupostos: o
de que o agente deve invocar a sua boa fé, e o de que não se trata da imputação
de facto relativo à intimidade da vida privada e familiar.
O objecto da boa fé — conceito de raiz civilística com que o direito penal
normalmente não opera — é aqui o mesmo da prova da verdade: o conteúdo da
imputação. E porque de boa fé se trata, é desde logo necessário que o agente
tenha acreditado na verdade da sua imputação. Se o agente sabe que a suspeita
não tem fundamento ou se entretanto recebeu informações que a desmentem,
não deve fazer a imputação (cf. Stratenwerth, p. 203). Se mesmo assim a fizer,
bem pode dizerse que agiu à margem do dever de lealdade e das específicas
regras de cuidado que as leges artis, típicas do respectivo agrupamento
profissional, porventura lhe imponham.
Por outro lado, só estão em causa factos e circunstâncias que o agente
conhecia ao tempo da imputação. Ao contrário da prova da verdade, não pode
a prova da veracidade apoiarse em circunstâncias que resultem posteriormente
verificadas ou conhecidas.
Deve ser “sério”, no dizer da lei, o fundamento da imputação. Não são
portanto sérias suspeitas infundadas ou conclusões apressadas. A questão
decisiva nesta variante da prova liberatória é a de saber que exigências de
seriedade, no que toca aos fundamentos da boa fé, se devem colocar, já que a lei
se limita a excluíla quando o agente não tiver cumprido o dever de informação
que as circunstâncias do caso impunham sobre a verdade da imputação
(Stratenwerth, p. 203). Fundamentalmente, vale a regra de que o agente
empreendeu os passos exigíveis de acordo com as circunstâncias e as suas
relações pessoais para verificar a correcção da sua imputação e a considerar
como um dado adquirido. O tribunal háde estar ciente dos esforços que o
M. Miguez Garcia. 2001
864
agente diz ter realizado, da credibilidade das suas fontes e do fundamento que
teve para reputar como verídico o conjunto das informações a que teve acesso.
Todos esses dados devem ser controlados pelo tribunal, mas tal exigência ficará
frustrada se o agente (estamos a pensar no jornalista) simplesmente se refugia
no direito, que lhe deve ser reconhecido, de não revelar as suas fontes (cf. o
artigo 8º da Lei nº 62/79, de 20 de Setembro: “1 Os jornalistas têm o direito de
recusar a revelação das suas fontes de informação, não podendo o seu silêncio
sofrer qualquer sanção directa ou indirecta”).
Bem se compreende que se se divulgam certas imputações, v. g., pela
imprensa, mesmo que não tenham um conteúdo marcadamente sensacionalista,
as exigências quanto ao dever de informação serão mais elevadas do que
naqueles outros casos em que, por exemplo, alguém presta declarações como
queixoso e se refere a terceiro.
De qualquer modo, o agente será isento se satisfez o seu dever de
informação nas indicadas condições cumulativas, mas a essa conclusão só se
acede em cada caso concreto.
V. Jus corrigendi?
• CASO nº 35B: A, professor do ensino básico, irritado com B, seu aluno, dirigiuselhe,
em voz alta, chamandoo de imbecil, idiota, estúpido e homossexual. No processo
entretanto instaurado, o professor defendeuse dizendo que actuara com intenção de
corrigir o aluno.
As palavras que o professor dirigiu ao aluno são objectivamente injuriosas
e o agente, que actuou com vontade de empregar expressões ofensivas, sabia
que assim atingia a honra e a consideração do aluno. Basta o dolo genérico.
Ainda que tais expressões tenham sido utilizadas na escola, o professor não
pode prevalecerse dum jus corrigendi exercido arbitrariamente, de que está
ausente qualquer finalidade educativa. Não se pode atribuir qualquer relevo
M. Miguez Garcia. 2001
865
aos fins ou motivos do professor, que, sem justificação, cometeu o crime de
injúrias do artigo 181º do Código Penal.
VI. Honra: alguns modos de usar. Ou do emprego multifacetado que dela
ainda se faz.
• Honra herdada, honra cavaleiresca, honra hereditária, honra suprema, honra alheia, honra
de casta, honra profissional, honra ao mérito, código de honra, comissão de honra,
compromisso de honra, culto da honra, degradação da honra, desfile de honra,
Divisão de Honra, escola de honra, legião de honra, galeria de honra, guarda de
honra, lesão da honra, lugar de honra, marcas da honra, dever de honra, livro de
honra, medalha de honra, ofensa à honra, palavra de honra, pendências de honra,
perigo para a honra, pessoa de honra, hóspede de honra, mesa de honra, ponto de
honra (pundonor), Porto de honra, prémio de honra, lugar de honra, quadro de
honra, questão de honra, tribuna da honra, violação da honra, volta de honra. A
defesa da honra, a dimensão ética da honra, a exigência da honra, a falsa honra, a
honra académica, a honra alheia, a honra aristocrática, a honra burguesa, a honra do
fidalgo, a honra do soldado, a honra doméstica, a honra dum homem, a honra
familiar, a honra feminina, a honra ignóbil, a honra masculina, a honra nacional, a
honra plebeia, a honra popular, a honra do convento, a honra sagrada da pátria, a
honra sexual, a virtude da honra, o paradigma da honra, os valores da honra, as
nódoas da honra, os critérios da honra, o conteúdo da honra, a dimensão da honra, a
essência da honra, a hierarquia da honra. Presidente de honra, convidado de honra,
princípios de honra, representações da honra, sentido da honra, sentimento de honra,
dívida de honra, laços de honra, pergaminhos de honra. Dar a honra, conceder
honras, vender honras, merecer as honras, defender a honra, vingar a honra, denegrir
a honra, fazer as honras, fazer honra à sua fama, garantir a honra, redimir a honra,
responder por sua honra, beber em honra de alguém, prezar a honra, perder a honra.
A honra perdida de Katharina Blum. Honras de horário nobre. As honras do Panteão
(Nacional). Em honra dos princípios. No campo da honra. Refazer a honra, salvar a
honra, renderse com honra, satisfazer a honra, lavar a honra, ter a honra à flor da
M. Miguez Garcia. 2001
866
pele, ter honra, ter a honra, ter a subida honra. Foros de senhores da Honra. Jurar por
sua honra. Prestar honras. Prestar as honras. Dar honras, dar honras de apelido.
Honra militar, honras militares. Honras fúnebres, as últimas honras. Honras da
guerra. Honras de Estado. Em honra de. Por imperativo de honra. Honra merecida,
honra provada, honra reconhecida, honra recusada, honra restaurada, honra sentida,
honra hipotecada. Pagar por honra da firma. Por minha honra. Honrar a camisola,
honrar o nome, honrar compromissos, honrar pai e mãe, honrar a Deus. Honra lhe
seja feita. Vossa honra. Dama de honor. Affaire d’honneur. Honneur oblige. Cursus
honorum. Honoris causa.
VII. Pequeno dicionário auxiliar (não necessariamente jurídico)
• Bibliografia:
• Albino Lapa, Dicionário de Calão, prefácio de Aquilino Ribeiro, 2ª ed., 1974.
• Carla Casagrande / Silvana Vecchio, Les péchés de la langue, Editions du Cerf, Paris, 1991.
• E. Partridge, A dictionary of historical slang, Penguin Books, 1977.
• Eduardo Nobre, Novo calão português, 1979.
• Grande dicionário da língua portuguesa, coord. de J. P. Machado.
• Guilhermina Jorge e Suzete Jorge, Dar à língua, da comunicação às expressões idiomáticas,
Edições Cosmos, Lisboa, 1997.
• L. Knoll, Dicionário de psicologia prática, Círculo de Leitores, 1982.
• Mário Souto Maior, Dicionário do palavrÃo e termos afins, prefácio de Gilberto Freire, 6ª
ed., 1992.
• Melo Freire, Instituições de Direito Criminal Português, BMJ1555.
• Pierre Guiraud, Les Gros Mots, PUF, 1976.
M. Miguez Garcia. 2001
867
• Stephen Burgen, A língua da tua mãe. Um guia de insultos europeus, Atena, 1998.
• Torrinha, Dicionário latinoportuguês, 1945.
Adsetatio e appellatio – acto de acompanhar uma mulher honesta, na via pública, contra sua
vontade, ou ofender o seu pudor por palavras.
Adulatio, laudatio – adulação, bajulação, lisonja, subserviência. A bajulação é mentira e
portanto também engano, lingua dolosa, diz Santo Agostinho.
Afrontar desprezar, ofender.
Atrocitas injuria levada a cabo em lugares públicos, como o foro ou o teatro e por isso punida
mais severamente.
Blasfémia – é, segundo Melo Freire, Instituições, BMJ15596, “a injúria feita por palavras ou
obras a Deus, à Santa Virgem Maria ou aos Santos”
Boato a notícia que corre, sem fundamento ou origem verificável; um facto falso,
incorrectamente descrito ou de validade duvidosa no que respeita ao seu conteúdo; no
respeitante à via de comunicação é, por um lado, imprópria ou indigna de utilização, por
outro, denuncia a informação escondida (João Luis de Moraes Rocha, O boato e a prova
judicial, breves reflexões, Tribuna da Justiça, Agosto/Setembro de 1987, p. 12). É a
notícia que é passada de boca em boca sem que seja possível (nem geralmente desejada)
a verificação da sua verdade. O boato, enquanto é propagado, vai mudando de conteúdo
até se tornar irreconhecível. Acontece muitas vezes que quem o propaga não se lembra
sequer de quem o ouviu ou acha as suas fontes tão pouco dignas de crédito que prefere
M. Miguez Garcia. 2001
868
não as mencionar. O boato passa então a ser um "dizse" (L. Knoll, Dicionário de
psicologia prática, p. 41).
Boato O boato é um vício detestável, sobre ser pecado de arrastar as almas às portas do
inferno. E porquê? Porque gera a calúnia e a calúnia engendra a infâmia e das infâmias
háde Deus pedirnos contas quando chegar a hora. Ver para crer, dizia S. Tomé, e se o
dizia de santíssimas verdades, que razões temos nós para o não dizer da primeira
atoarda que nos murmuram aos ouvidos? Carlos de Oliveira, Uma Abelha na Chuva, 11ª
ed., 1977, p. 177.
Calúnia consiste numa imputação falsa; não existe sem o conhecimento da inocência do
imputado (M. Noronha, p. 146).
Chalaceador indivíduo que exprime os seus pontos de vista pela via do humor, do cómico ou
da graçola. Encontramse indivíduos deste tipo, como pessoas divertidas e que divertem
os outros e como galhofeiros, em quase todas as grandes comunidades. O truão é um
tipo especial no âmbito do tipo geral. Aplicando à letra as regras de conduta do seu
meio, dálhes uma volta que as torna problemáticas e ridículas (L. Knoll, Dicionário de
psicologia prática, p. 53).
Chulo grosseiro, baixo, rústico.
Contumélia afronta, invectiva, sinal de desprezo; tudo o que é dito ou feito com intenção de
ofender alguém, qualquer ofensa à personalidade moral.
Convicium ou maledictum – convício; palavras injuriosas, afronta, doesto.
M. Miguez Garcia. 2001
869
Coprolálico, coprologia emprego de expressões chulas.
Denegrir – infamar, manchar.
Detracção (detractio) – difamação, censura, crítica; murmuração, depreciação, maledicência. O
maledicente retira (detrahit) àquele que o ouve a boa opinião (fama) que este tem do seu
próximo — a pessoa difamada, o outro protagonista que é deixado na ignorância, fica
longe e passivo, é denegrido e caluniado por palavras que lhe não chegam aos ouvidos
(occulta verba), mas que lhe alteram ou destroem a imagem. A detractio é um discurso
mau a respeito de um ausente feito com intenção maléfica: detractio vero est mala de
absente et ex mala intentione facta loquitur. A distinção dos modos de expressão da
detractio em verba, signa, nutus, scripta (libellus famosus), cantilenae remonta ao direito
romano, onde ela se referia contudo à iniuria, que designava qualquer palavra
susceptível de ofender outra pessoa.
Escatológico nauseabundo.
Exceptio veritatis exclusão da ilicitude penal por força da prova da verdade dos factos.
Fescenino burlesco, jocoso; chulo, obsceno.
"Heavy breather" casos de telefonemas indesejados.
Humor O humor é o que faz rir, apesar de tudo (Otto Birnbaum). Vejase o caso do condenado
que era conduzido ao suplício debaixo de um grande aguaceiro e que dizia ao carrasco,
como se a morte lhe fosse indiferente: "E você que tem de voltar para casa com este
tempo horrível" (L. Knoll, Dicionário de psicologia prática, p. 159).
M. Miguez Garcia. 2001
870
Impropério censura, reprovação, vitupério, insulto, acção infamante.
Inconfidência crime de injúrias ao rei ou à rainha reinante.
Injúria “non facto”, isto é, por omissão ou desprezo – também se faz injúria “non facto”, ou
seja, por omissão, quando por exemplo — explica Melo Freire —, por soberba se não
prestam as honras civis a quem são devidas nem as saudações do costume.
Injúrias atrozes eram casos agravados de injúria, por ex., a cometida relativamente aos
eclesiásticos, fidalgos, magistrados, ao amo pelo criado, ao pai pelo filho, ao senhor pelo
escravo (Silva Araújo, p. 21).
Insulto, insultar (lat. insulto, saltar sobre) ofender, ferir, magoar, injuriar, ultrajar, vituperar.
Invectivar (lat. inveho, precipitarse sobre, atacar, investir) atacar, agredir com palavras,
censurar com acrimónia, injuriar.
Irrisão troça, escárnio, zombaria, mofa.
Libelo famoso (libellus famosus) a ofensa feita por escrito ou outro meio permanente. Diz
Melo Freire: chamamos libelo famoso ao escrito anónimo infamante.
Majestas crime de ofensas contra o Chefe do Estado (cf. ac. da Relação de Lisboa de 30 de
Maio de 1989, CJ, ano XIV (1989), t. 3, p. 168).
Motejar fazer troça, escarnecer, zombar; fazer escárnio, satirizar, chasquear.
Murmuração murmúrio, rumor, falatório, málíngua, maledicência, detracção.
M. Miguez Garcia. 2001
871
Nominatio auctoris a indicação da fonte, no que toca a um “boato”, a uma afirmação alheia,
não desonera o agente da sua responsabilidade.
Oblocutio – falatório contra quem está ausente.
Ofensa ou injúria real a que é praticada por violência pessoal, por gestos (bofetada, chicotada,
puxão de orelhas, cuspir em alguém) ou risadas. O próprio beijo pode constituir injúria
real. Exemplo disso temos na peça teatral “Um panorama visto da ponte”, de Arthur
Miller, em que, numa renhida e encarniçada luta corporal, um dos contendores,
dominando o outro, beijao na boca, para humilhálo, espezinhálo na sua condição de
homem ou macho, já que eram rivais no amor pela mesma mulher (E. Magalhães
Noronha, p. 165). Explica Melo Freire, Instituições, BMJ155171: as injúrias reais — “é o
caso de se arrancarem os cabelos ou a barba a alguém, esbofetear, açoitar, bater ou ferir
com a mão, vara ou outro instrumento, ou fazer gestos de desprezo e ódio, como mostrar
a língua, ameaçar com os olhos, fazer visagens, ou pendurar cornos às portas dos
casados”. “Referese a lei à injúria em que há prática de violência (chicotadas, marcação
a fogo ou a ferro em brasa etc.) ou vias de fato. Podem ser elas aviltantes em si mesmas:
“a bofetada, ou corte ou puxão de barba, a apalpação de certas partes do corpo (sem fim
libidinoso), o levantar as saias de uma mulher ou rasgarlhe as vestes, cavalgar o
ofendido ou pintarlhe a cara com pixe, virarlhe o paletó pelo avesso etc. Podem as vias
de fato e a violência ser aviltantes pelo meio empregado: bater com rebenque ou chicote,
atirar excremento ou outra imundície etc. Reconheceuse como injúria real o corte de
cabelo com intenção aviltante, expondo a vítima à humilhação, o atirar objeto ao rosto de
outro e o atirar bebida ao rosto da vítima”. Júlio Mirabete, p. 169.
M. Miguez Garcia. 2001
872
Palinódia retractação do que se disse ou se fez. “A acção de palinódia ou recantatória, que
deve a sua origem aos costumes corruptos dos povos, não é aprovada pelas nossas leis, e
por isso nunca pode ser admitida; de facto, ela contém em si alguma torpeza e de modo
nenhum pode basearse nos princípios gerais das obrigações”, Melo Freire, Instituições,
BMJ155176.
"Peeping Tom" (termo ligado à lenda de Lady Godiva) an inquisitive person, voyeur; cf.
"voyeurismo" .
Propalar termo apropriado ao relato oral e que o Código emprega no artigo 187º: reproduzir,
divulgar, fazer circular.
"Rough shadowing" perseguição feita a alguém por outras pessoas, por ex., por detectives
privados.
Sarcasmo zombaria, afrontra, troça, escárnio, menosprezo, motejo, ironia mordaz.
Strepitus judicii dizse da publicidade, que pode ser negativa, por ex., do processo por
difamação ou injúrias.
Susurratio – murmúrio, maledicência; consiste em semear a discórdia (seminatio discordiae),
destruindo a amizade.
Ultraje (fr. ant. outrage) injúria grave, agravo, menosprezo, irreverência.
Vias de facto é a ofensa física que não produz lesão ou incómodo de saúde e não deixa
vestígios.
Vilipendiar considerar como vil e desprezível, tratar com muito desprezo.
M. Miguez Garcia. 2001
873
Voyeurismo espreitar alguém a olho nú ou com instrumentos ópticos.
Vulgaridade obscenidade, grosseria. Baixeza. Indecente, imoral, pornográfico.
VII. Indicações de leitura
• Qual, em rigor, o bem jurídico protegido pela norma incriminadora do artigo 187º? Esta
norma visa tutelar um bem jurídico mais do que poliédrico, um bem jurídico heterogéneo. Faria
Costa, RLJ ano 134º, nº 3926.
• Tribunal Europeu dos Direitos do Homem: acórdão Perna c. Itália: artigo 10º da Convenção
Europeia dos Direitos do Homem — Liberdade de expressão — Magistrado — Dever de
reserva. RMP 2001, nº 88.
• Acórdão da Rel. de Coimbra de 23 de Abril de 1998, CJ, 1998, tomo II, p. 64: crime de
difamação; crítica caluniosa; justificação do facto.
• Acórdão da Rel. de Coimbra de 25 de Fevereiro de 1998, CJ, 1998, tomo I, p. 57: os crimes
de difamação e de injúria são crimes de perigo; para que exista dolo basta que o agente actue
por forma a violar o dever de abstenção implicitamente imposto nas normas incriminatórias
respectivas, levando a cabo a conduta ou a acção nelas previstas, sabedor da genérica
perigosidade imanente, sem que seja necessária a previsão do perigo (concreto).
• Acórdão da Relação de Coimbra de 13 de Junho de 2001, CJ, ano XXVI (2001), tomo III, p.
53: crime de difamação em requerimento para abertura da instrução.
• Acórdão da Relação de Coimbra de 21 de Outubro de 1998, CJ, ano XXIII (1998), tomo IV,
p. 235: comete o crime de injúrias quem atira um balde de água suja contra uma pessoa com o
propósito de a molhar, o que só não aconteceu porque essa pessoa se desviou.
• Acórdão da Relação de Coimbra de 16 de Janeiro de 2002, CJ 2002, tomo I, p. 42: o Código
Penal, na redacção do DecretoLei nº 48/95, de 15 de Março, ao estabelecer um novo regime
punitivo relativamente aos crimes de difamação e injúria através de meio de comunicação
social, no seu artigo 183º, nº 2, revogou, na parte correspondente, o regime do DecretoLei nº
85C/75, nomeadamente no seu artigo 25º, nº 2. Por isso, é possível agora acusar apenas os
autores da ofensa, não o fazendo contra o jornalista, como autores do crime de injúria através
de meio de comunicação social.
M. Miguez Garcia. 2001
874
• Acórdão da Relação de Évora de 17 de Outubro de 1989, 17101989, CJ, ano IV, p. 275: o
expelir de ventosidades anais em postura ofensiva e com desprezo do visado pode, num caso
concreto, não ser constitutivo de um crime autónomo de injúrias, mas, mesmo em tal hipótese,
não deixa de ser um factor vincadamente demonstrativo do propósito de injuriar o visado,
consubstanciado pelo uso de expressões que, em si mesmas, sejam objectivamente injuriosas.
• Acórdão da Relação de Lisboa de 20 de Janeiro de 2000, CJ ano XXV (2000), tomo I, p. 141:
cumplicidade do director do periódico no domínio da Lei nº 2/99, de 13 de Janeiro.
• Acórdão da Relação de Lisboa de 17 de Janeiro de 2002. CJ 2002, tomo I, p. 134: Crime de
abuso de liberdade de imprensa, limites do direito de informar.
• Acórdão da Relação do Porto de 11 de Janeiro de 1996, CJ, XXI, tomo I, 1996, p. 191: é dever
fundamental do jornalista respeitar escrupulosamente o rigor e a objectividade da informação,
em termos de só noticiar factos verdadeiros e com relevo social. Mas no quadro do direito de
informação não se exige ao jornalista a verdade absoluta, bastando uma crença fundada na
verdade do que noticia, através da utilização de fontes fidedignas e diversificadas.
• Acórdão da Relação do Porto de 14 de Julho de 1999, BMJ489404: publicação num jornal
de uma fotografia a acompanhar o texto em que o marido declara não se responsabilizar por
dívidas contraídas pela mulher.
• Acórdão da Relação do Porto de 2 de Dezembro de 1998, CJ XXIII (1998) tomo V, p. 229: a
prova da verdade dos factos pode ter lugar em qualquer fase do processo, pode ter lugar quer
durante o inquérito, quer durante a instrução; e pode ter lugar também na fase de julgamento,
estando indicada, quanto a esta, o momento da elaboração da contestação, pois aí se aduzirão
os respectivos factos, bem como se indicarão os meios de prova.
• Acórdão do STJ de 10 de Dezembro de 1998, CJ VI (1998), tomo III, p. 238: difamação;
direito de crítica.
• Acórdão do STJ de 12 de Janeiro de 2000, BMJ493156 e CJSTJ 2000, tomo I, p. 169 (Sousa
Franco x O Independente): A expressão “mão na bolsa” usada com destaque em título,
relacionado com uma actividade pretensamente ilegal (ou cuja legitimidade é susceptível de
discussão) tem virtualidade para ofender o visado, ao tempo ministro, na sua honra,
desmerecendoo na consideração do público, constituindo, assim, uma ofensa à sua honra e
reputação. Apesar de a notícia relatar factos verdadeiros, de relevo social, sendo a sua
M. Miguez Garcia. 2001
875
publicação legitimada pelo direito de informação, o título "Mão na bolsa" conjugado com
"Francamente" e o texto "Sousa Franco iludiu a lei" é objectivamente atentatório do bom nome e
reputação do ofendido.
• Acórdão do STJ de 12 de Março de 1998, BMJ475223: imputações sob a forma de suspeita.
• Acórdão do STJ de 19 de Janeiro de 1999, BMJ48357: indivíduo que entra num bar onde
outro jogava matraquilhos e deliberadamente apalpoulhe as nádegas.
• Acórdão do STJ de 2 de Outubro de 1996, CJ IV (1996), tomo III, p. 147: comete um crime
de abuso de liberdade de imprensa o jornalista que, embora no exercício da função pública de
discussão e crítica, deixa de discutir o mérito de uma obra arquitectónica para se passar a
dirigir exclusivamente ao autor do respectivo projecto e passa a tratálo de "pulha", sem
qualquer conexão com aquela.
• Acórdão do STJ de 26 de Setembro de 2000, CJSTJ, ano VII (2000), tomo III, p. 42: direito ao
bem nome e reputação, liberdade de expressão, conflito de direitos, responsabilidade civil por
factos cometidos através de imprensa.
• Acórdão do STJ de 3 de Fevereiro de 1999, BMJ484339 (caso Eduardo Coelho vs.
Vasconcelos Marques): ofensa ao bom nome e reputação de outrem, liberdade de expressão,
dever de indemnizar.
• Acórdão do STJ de 12 de Julho de 2001, CJSTJ 2001, tomo III, p. 21 (caso Maria Subtil vs.
RTP e outros): abuso de liberdade de imprensa, responsabilidade civil.
• Acórdão do Tribunal Constitucional nº 459/2000, publicado no DR 2ª série, de 11 de
Dezembro de 2000: o simples facto de ser submetido a julgamento não pode constituir, só por
si, no nosso ordenamento jurídico, um atentado ao bom nome e reputação.
• Acórdão do Tribunal Constitucional nº 581/2000, publicado no DR 2ª série, de 22 de Março
de 2001; RMP ano 22 (2001) nº 86: ofensa à ProcuradoriaGeral da República. Inquérito e
acusação pelo Ministério Público. Constitucionalidade.
• Acórdão do Tribunal Constitucional nº 113/97, publicado no DR II Série, de 15 de Abril
de 1997; e BMJ464113.
• Acórdão de 28 de Setembro de 2000 do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (Caso
Gomes da Silva contra Portugal): liberdade de imprensa; restrições para protecção do bom
nome e da reputação. Com um comentário de Eduardo Maia Costa. Revista do Ministério
M. Miguez Garcia. 2001
876
Público, ano 21 (2000), nº 84. Cf., também, RPCC 11 (2001) e o comentário de José de Faria
Costa.
• Parecer nº 95/89, de 20 de Dezembro de 1989, da ProcuradoriaGeral da República, BMJ,
3985.
• Parecer nº 69/2003 da PGR, DR II série de 16 de Outubro de 2003. Prisão preventiva.
Estatuto do recluso, liberdade de expressão, violação de correspondência, entrevista,
autorização, conflitos de direitos, princípios da concordância prática, princípio da
proporcionalidade, relações especiais de poder.
• Sentença do Juiz do 9º Juízo Cível do Porto, Dr. Álvaro Reis Figueira, CJ 1990, tomo IV, p.
311.
• A. Borciani, As ofensas à honra (Os crimes de injúria e difamação), Coimbra, 1940.
• A. C. MurilloJ. L. S. Gonzáles de Murillo, Protección penal del honor, 1993.
• Adriano de Cupis, Os direitos da personalidade, Lisboa, 1961.
• Alonso Alamo, Protección penal de honor. Sentido actual y límites constitucionales,
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1983.
• António J. F. de Oliveira Mendes, O direito à honra e a sua tutela penal, 1996.
• AntonioLuis MartínezPujalte, La garantía del contenido esencial de los derechos
fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997.
• Augusto Silva Dias, Alguns aspectos do regime jurídico dos crimes de difamação e de
injúrias, 1989.
• Beleza dos Santos, Algumas considerações jurídicas sobre crimes de difamação e de injúria,
RLJ, ano 92 (1959), nº 3152, p. 164.
• Bento de Faria, Código Penal Brasileiro (comentado), vol. IV.
• Berdugo Gómez de la Torre, Honor y libertad de expresión, Technos, Madrid, 1987.
• Berdugo Gómez de la Torre, La solucion del conflicto entre la libertad de Expresión y
Honor en el derecho Penal Español, BFDUC 1989.
• Berdugo Gómez de la Torre, Revisión del contenido del bien jurídico honor, Anuario de
Derecho Penal y Ciencias Penales, 1984.
• C. Vieira de Andrade, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 1983.
M. Miguez Garcia. 2001
877
• C. Vieira de Andrade, Os Direitos Fundamentais nas Relações entre Particulares, BMJ, Doc.
e Dir. Comp., nº 5 (1981).
• Carla Casagrande / Silvana Vecchio, Les péchés de la langue, Editions du Cerf, Paris, 1991.
• Carlo F. Grosso, Sviluppi recenti del diritto penale della informazione a mezo stampa,
Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, vol. LXV (1989).
• Cristina Queiroz, Interpretação Constitucional e Poder Judicial. Sobre a Epistemologia da
Construção Constitucional, Coimbra, 2000.
• David Garrioch, Insultos verbais na Paris do século XVIII, in P. Burke e Roy Porter (orgs.),
História social da linguagem, UNESP, São Paulo, 1997, p. 121 e ss.
• Denis Barrelet, Droit suisse des mass media, Staempfli & Cie SA, Berna, 1980.
• Dieter Meurer, Wahrnehmung berechtigter Interessen und Meinungsfreiheit, Festschrift
für H. J. Hirsch, 1999, p. 651.
• E. Gimbernat Ordeig, La libertad de expressión está de enhoramala, in Estudios de
Derecho Penal, 3ª ed., 1990, p. 100.
• E. Magalhães Noronha, Direito Penal, 2º vol.
• Eric Barendt, Freedom of Speech, Paperback ed., 1987.
• Ernesto Rodrigues, "Literatura & jornalismo ligações perigosas", in LER livros & leitores,
nº 39 (1997), p. 40.
• Expresso, Revista, nº 1460, de 21 de Outubro de 2000.
• F. Puig Peña, Derecho Penal, Parte especial, vol. IV.
• Fernando Molina Fernández, Delitos contra el honor, in Bajo Fernández, Compendio de
Derecho Penal (Parte Especial), vol. II, 1998, p. 254 e ss.
• Francisco J. Álvarez García, El derecho al honor y las libertades de información y
expresión, Valencia, 1999.
• Fritjof Haft, Strafrecht, Besonderer Teil, 5ª ed., 1995.
• G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 4ª ed., 1993.
• Hans Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11ª ed., 1969.
• Harro Otto, Grundkurs Strafrecht, Die einzelnen Delikte, 3ª ed., 1991.
• Heleno Cláudio Fragoso, Lições de Direito Penal, 1º vol., Parte especial.
• Hermann Blei, Strafrecht II, BT, 12ª ed., 1983.
M. Miguez Garcia. 2001
878
• Ingrid Siebrecht, Der Schutz der Ehre im Zivilrecht, JuS 2001, p. 337.
• Italo Calvino, Os palavrões, in Ponto Final, Teorema, 1995, p. 367.
• J. J. Gomes Canotilho / Jónatas E. M. Machado, “Reality shows” e liberdade de
programação, Coimbra Editora, 2003.
• Jean Larguier/Anne Marie Larguier, Droit pénal spécial, Mémentos Dalloz, 9ª ed., 1996.
• Jean Marie Auby e Robert DucosAder, Droit de l’information, Dalloz, 1977.
• Jorge de Figueiredo Dias, Direito de Informação e Tutela da Honra no Direito Penal da
Imprensa Portuguesa, RLJ, ano 115º, nº 3697, p. 101 e ss.
• José Casalta Nabais, Os Direitos na Constituição Portuguesa, BMJ40015.
• José de Faria Costa, O art. 187º do Código Penal: uma norma incriminadora opaca, RLJ ano
134º, nº 3926.
• José Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale II, Zurich, 1998.
• José Lamego, "Sociedade aberta" e liberdade de consciência — o direito fundamental de
liberdade de consciência, edição AAFDL, 1985.
• José Luís Mendes d'Amaral, Quem não se sente não é filho de boa gente. A Ofensa em
Portugal no Primeiro Terço do Século XX, Cascais, 1997.
• José Manuel Valentim Peixe e Paulo Silva Fernandes, A Lei de Imprensa, comentada e
anotada, Coimbra, 1997.
• José Mattoso, Portugal medieval — novas interpretações, Imprensa NacionalCasa da
Moeda, p. 249 e ss.
• Julian PittRivers, Honra e Posição Social, in J. G. Peristiany, Honra e Vergonha, valores
das sociedades mediterrânicas, 2ª ed., Fundação C. Gulbenkian, p. 13.
• Julian PittRivers, La maladie de l’honneur, in Marie Gautheron (dir.), L’honneur, image de
soi ou don de soi: un idéal équivoque, Éditions Autrement, série Morales, nº 3, 1992, p. 20 e ss.
(há tradução portuguesa desta obra colectiva, com o título A honra, ed. Difel, 1991).
• Júlio Fabbrini Mirabete, Manual de Direito Penal. Parte Especial. Arts. 121 a 234 do CP.
Volume 2. 17ª ed.
• Karl Lackner, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, 20ª ed., 1993.
• Kienapfel, Grundriß des österreichischen Strafrechts, Besonderer Teil, I, Delikte gegen
Personenwerte, 3ª ed., 1990.
M. Miguez Garcia. 2001
879
• Konrad Hesse, Necessidad, significación y cometido de la interpretación constitucional, in
Escritos de derecho constitucional, 1992.
• L. Scopinaro, Internet e delitti contro l'onore, Riv. ital. dir. proc. penale 2000, p. 617.
• Laurentino da Silva Araújo, Crimes contra a honra, 1957.
• Lucien Febvre, “Honneur et Patrie”, Perrin, 1996.
• Luigi Delpino, Diritto penale, parte speciale, 10ª ed., 1998.
• Luis António Noronha Nascimento, Que defesa para o cidadão, in Justiça & Opinião
Pública, VI Congresso dos Juizes Portugueses, Edição especial. Associação Sindical dos Juizes
Portugueses, 2002; publicado igualmente em CJ 2001, tomo III, p. 9.
• Luis Miguel Duarte, Justiça e criminalidade no Portugal medievo (14591481).
• M. Januário Gomes, O Problema da salvaguarda da privacidade antes e depois do
computador, BMJ31921.
• Manuel António Lopes Rocha, Sobre o direito de resposta na legislação portuguesa de
imprensa, BMJ34615.
• Manuel da Costa Andrade e Jorge de Figueiredo Dias, Limites do direito de defesa, ROA,
Abril de 1992.
• Manuel da Costa Andrade, anotação ao acórdão do STJ de 6 de Novembro de 1996, [Sobre
os Crimes de "Devassa da Vida Privada" (artigo 192º CP) e "Fotografias Ilícitas" (artigo 199º
CP)], RLJ, ano 130º, nº 3885, p. 376 e ss.
• Manuel da Costa Andrade, Liberdade de Imprensa e Inviolabilidade Pessoal. Uma
Perspectiva JurídicoCriminal, Coimbra, 1996.
• Manuel da Costa Andrade, Sobre a reforma do Código Penal português Dos crimes
contra as pessoas, em geral, e das gravações e fotografias ilícitas, em particular, RPCC, 3 (1993),
p. 427 e ss.
• Maria da Conceição S. Valdágua, A dirimente da realização de interesses legítimos nos
crimes contra a honra, Jornadas de Direito Criminal, vol. II, CEJ, 1998, p. 227.
• Maria da Glória Carvalho Rebelo, A Responsabilidade Civil pela Informação Transmitida
pela Televisão, Lex, Lisboa, 1998.
• Maria Paula Gouveia Andrade, Da ofensa do crédito e do bom nome, contributo para o
estudo do art. 484º do Código Civil, s/d [1996].
M. Miguez Garcia. 2001
880
• Martine Ract Madoux, Criminalidade, processo penal e meios de comunicação, RPCC 9
(1999).
• Muñoz Conde, Derecho Penal, Parte especial, 8ª ed., 1990.
• Nuno de Sousa, A liberdade de imprensa, sep. do vol. XXVI do suplemento ao BFD, 1984.
• Paulo Mota Pinto, Anteprojecto para a localização do Código Civil em Macau na parte
relativa aos direitos da personalidade, BMJ4485.
• Paulo Videira Henriques, Os “excessos de linguagem” na imprensa, in Estudos de Direito
em Comunicação, Coimbra, 2002.
• Pilar Gómez Pavón, La intimidad como objeto de protección penal, 1989.
• PUBLICO, Livro de Estilo, 1ª ed., 1998.
• Ricardo Pinto Leite, Liberdade de imprensa e vida privada, ROA, ano 54 (1994).
• Rodrigues da Costa, A liberdade de imprensa e as limitações decorrentes da sua função,
Revista do Ministério Público, ano 10º (37), p. 7 e ss.
• Ruiz Antón, La acción como elemento del delito y la teoría de los actos de habla: cometer
delitos con palabras, ADPCP, vol. LI, 1998.
• Simas Santos LealHenriques, O Código Penal de 1982, vol. 2, 1986.
• Udo Branahl, Medienrecht, Westdeutscher Verlag, 2ª ed., 1996.
• Vitorino Nemésio, Cultura da málíngua, in Jornal do Observador, p. 116 e ss.
• Vives Antón, Delitos contra el honor, in M. Cobo del Rosal et alii, Derecho penal, parte
especial, 3ª ed., 1990.
M. Miguez Garcia. 2001
881
§ 36º Direito à privacidade
I. Crimes de indiscrição e devassa.
• CASO nº 36: No dia 1 de Agosto de 1998, Inácia encontrou no bolso das calças de
Jeremias, seu marido, umas chaves que lhe pareceram ser de um apartamento.
Estranhando esse facto, mandou fazer, sem o marido saber, um duplicado dessas
chaves. No dia seguinte, seguiu o marido para ficar a saber o seu destino e, depois de
algum tempo de perseguição, apercebeuse de que ele tinha entrado no 2º andar
direito de um edifício perto do seu local de trabalho. Regressou então a casa. Nessa
noite não conseguiu deixar de pensar que o marido utilizava essa casa para se
encontrar com a sua secretária, Anabela, rapariga nova sobre quem já tinha feito
alguns comentários. Intimamente certa de que assim seria, Inácia logo pensou
deslocarse num outro dia a esse apartamento para comprovar as suas suspeitas, o
que veio a fazer na tarde do dia 3 de Agosto. Depois de se certificar de que ninguém
nele se encontrava, abriu a porta e entrou no apartamento. Tinha aspecto de não ser
habitado. Saiu e, mais uma vez, regressou a sua casa. Nessa mesma noite, após o
jantar, Jeremias saiu. Algum tempo depois de ele sair, Inácia dirigiuse ao
apartamento, certa de que aí encontraria o marido com a secretária. Levou consigo
uma câmara de vídeo. Procurando não ser notada, entrou no apartamento,
verificando que as suas suspeitas eram fundadas. Com a câmara que consigo trazia,
conseguiu captar imagens dos dois enquanto mantinham relações sexuais e registar
mesmo as suas conversas. Indignada com o comportamento do marido, fez duas
cópias dessas gravações, remetendo uma delas ao presidente do Conselho de
Administração da sociedade para que o marido trabalhava e juntando a outra a uma
carta que enviou aos pais da secretária do marido. A Inácia tinha conhecimento de
todos os factos descritos, querendo actuar da forma por que o fez. Sabia que a sua
conduta era proibida pela lei penal. (Da prova escrita de Direito e Processo Penal —
CEJ 1999).
M. Miguez Garcia. 2001
882
Indicações para a solução. Sublinhase o sentido da realização de um
interesse público legítimo e relevante no artigo 192º — em contraste com a
realização de interesses legítimos no artigo 180º, onde se pode incluir um
interesse privado. Os actos de devassa são também, por vezes, ofensivos da
honra alheia.
A privacidade é o bem jurídico protegido com a norma do artigo 192º do
Código Penal, incluído no capítulo dos crimes contra a reserva da vida privada,
expressão que aparece como o denominador comum das duas principais formas
típicas que são a violação (violação de domicílio, de correspondência, de
telecomunicações e de segredo) e a devassa (incluída aqui a devassa por meio de
informática). Mas o termo privacidade não aparece vertido nem na epígrafe nem
no corpo do artigo 192º. Na epígrafe remetese para a devassa da vida privada. A
parte dispositiva referese tanto à devassa da vida privada das pessoas quanto à
da sua parcela íntima, a intimidade, o que, no plano estrutural, exige desde logo
a definição dessas diferentes áreas de tutela, com a consequência mais evidente
de não ser punida a divulgação de factos relativos à vida privada ou a doença
grave de outra pessoa na hipótese do nº 2, quando o facto for praticado como
meio adequado para realizar um interesse público legítimo e relevante.
Recordarseá que a realização de interesses legítimos (assim, na forma plural) é
pressuposto que no artigo 180º, nº 2, alínea a), conduz igualmente à não
punibilidade da conduta difamatória se concorrerem os restantes elementos. Os
autores, para melhor separação das águas, esforçamse por acentuar estes e
outros contactos entre os crimes de devassa e os crimes contra a honra.
• * A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, à capacidade civil, à cidadania,
ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra e à reserva da intimidade da vida
privada e familiar. (Artigo 26º, nº 1, da Constituição da República).
• * ”São poucos os que resistem a espreitar a vida alheia pelo buraco da fechadura”
(“Expresso”, nº 1248, de 28 de Setembro de 1996).
• * “Já se foi o tempo em que ninguém se metia em briga de marido e mulher — nem o
marido. Hoje todo mundo se mete em tudo. Se não me engano, isto começou depois
que definiram o direito à intimidade, também conhecido por privacidade, palavra
que o Morais e o Aulete não registram. Além de feio é um neologismo malformado e
M. Miguez Garcia. 2001
883
inútil. Ou quem sabe não. Afinal, íntimo é uma coisa; privado, outra.” (Otto Lara
Resende, Bom dia para nascer, 1993, p. 30).
• * Le lit n’est pas un meuble ordinaire. Dans l’univers du peuple, c’est le symbole du lien
conjugal, l’ultime retranchement de l’intimité, le seul endroit où l’on peut parler de
“vie privée” (Daniel Roche, Un lit por deux, L’histoire, nº 63, p. 67).
• * Richard Holmes, proprietário de uma pequena loja de molduras em Manhattan, acaba de
desrespeitar a lei e não se importa que o saibam. Na semana passada, devolveu pelo
correio o seu boletim de recenseamento, recusandose a responder a muitas das suas
53 perguntas. "São coisas que um governo não tem o direito de perguntar. Porque é
que havia de lhes dizer quanto ganho? E se tenho autoclismo na casa de banho? É
ridículo. Quantas semanas trabalhei? Não têm nada a ver com isso. Para que é que
lhes iria dizer a que horas saio de casa para o trabalho? Se a informação for parar à
pessoa errada ficará a saber exactamente quando me pode assaltar a casa."
"Expresso", 3º caderno, edição nº 1432, 8 de Abril de 2000.
• * A partir do direito à honra emergiu um direito à privacidade como bem jurídico
autónomo a reivindicar a incriminação de delitos de indiscrição e a partir do direito à
privacidade chegouse à emancipação tanto de um direito à palavra como de um
direito à imagem, a proteger penalmente como tais, independentemente da sua
valência directa do ponto de vista da privacidade (cf. Costa Andrade, Sobre a
reforma, p. 435).
Os crimes de devassa apareceram na sequência de efeitos negativos da
prova da verdade dos factos, admitida nos crimes contra a honra.
Com efeito, se as primeiras manifestações do direito à privacidade (right to
privacy), como um estar livre dos olhares dos outros, “descolaram” da ideia,
cara aos anglosaxónicos, do privacyproperty right (toda a propriedade estava
ligada a uma determinada classe social), também é verdade que noutros
ambientes se abandonou progressivamente a ideia de que “as verdades, em si,
nunca ofendem”.
M. Miguez Garcia. 2001
884
• Foi já no longínquo ano de 1891 que o direito à privacy fez a sua primeira aparição. Num
artigo publicado na Harward Law Revue, dois jovens advogados de Boston, S. D.
Warren e L. S. Brandies, comentavam aspectos das indiscrições e críticas suscitadas
pela vida desregrada e dispendiosa do primeiro, depois do seu casamento com a
filha de um conhecido senador. O alvo dos comentários eram os autores de uma
crónica mundana, publicada para fazer escândalo. Essa invasão da sua vida
privada levou Warren, com a colaboração do antigo companheiro de estudos
universitários, Brandies, a formular uma nova exigência de liberdade individual,
desconhecida na época precedente: "The right to privacy", a qual representa a
primeira reivindicação do direito à reserva da vida privada dos cidadãos,
afirmando a proibição da intromissão indesejada na esfera pessoal. De qualquer
modo, o direito que se afirma em 1891 configuravase em sentido negativo como
"right to be alone", quer dizer, como direito a ser deixado só, privilegiando uma
dimensão fortemente individualista e intimista de um interesse que emerge numa
sociedade de feição liberal como era a daquele tempo. Hoje colocamse outros
problemas, próprios da sociedade actual, e que em geral têm a ver com a
emergência das novas tecnologias. Cf., sobre isto, M. T. Annecca, La privacy; e
Cunha Rodrigues, Perspectiva jurídica da intimidade da pessoa.
Numa época de exacerbada exaltação da honra, compreendese que as
imputações de factos desonrosos estivessem na primeira linha das
preocupações punitivas. Todavia, com a consequência, de há muito admitida,
de que a prova da verdade de tais factos conduzia à inevitável impunidade do
autor da ofensa. Mas se as verdades, em si, nunca ofendem, podem incomodar
muito boa gente. E quando, em certa altura, um jornal sensacionalista (já os
havia no século 19) levantou o escândalo dos militares homossexuais do
entorno do Kaiser Guilherme II, beliscando altas figuras da nomenclatura
militar da época, começaram a ser assinaladas as desvantagens da admissão da
prova da verdade de tais factos. E começou a entenderse que, ao lado dos
crimes contra a honra, certas manifestações da vida ficariam mais eficazmente
tuteladas a partir das ideias de indiscrição e de reserva. Ainda aqui com outra
consequência: a de que se alguém vai participar à polícia uma conduta
indiscreta de outrem, se A, homem maduro e casado, por ex., se vai queixar,
afirmando que B, detective privado, o fotografou na ocasião das suas relações
M. Miguez Garcia. 2001
885
sexuais com uma jovem atraente —a vítima da indiscrição do fotógrafo está a
admitir, naturalmente, a verdade dos factos. A punição da indiscrição surgia,
assim, como uma necessidade que obteve ganho de causa em certas iniciativas
do legislador germânico —à margem da verdade ou da não verdade da
imputação e do carácter desonroso do objecto de devassa. Se a protecção da
privacidade se deveria limitar à exclusão dos mecanismos e consequências da
prova da verdade ou se se deveria construir um tipo autónomo de indiscrição, o
chamado “großes” Indiskretionsdelikt, foi a questão que passou a ocupar então os
estudiosos.
• Separar a propriedade da intimidade. O desenvolvimento da ideia anglosaxónica dum
right of privacy fica a deverse ao artigo daqueles dois advogados, Samuel D. Warren e
Louis D. Brandeis. Defendese aí a evolução da tutela da personalidade física para a
dos “pensamentos, emoções e sensações” da pessoa, em claro contraste com as
primeiras formulações da “privacy”, que apareciam ainda envolvidas na ideia
patrimonial. A “privacy”, concebida como propriedade (“privacyproperty right”),
era mais um bem de que se podia dispor, na órbita da propriedade e do contrato, de
tal modo que a intimidade só podia ser ofendida mediante transgressões de natureza
física. À evolução não será estranha a consolidação da burguesia como classe social a
partir da segunda metade do séc. 19. À medida que, ao longo do século, o sentimento
de identidade individual se acentua e difunde, assim se separa a propriedade da
intimidade. Na pedra tumular inscrevese o progresso da privacy (Alain Corbin, O
segredo do indivíduo, in História da vida privada (sob a dir. de Ph. Ariès e G. Duby),
vol. 4, p. 427), que finalmente se concebe e aceita como própria da natureza humana.
O significado da intimidade, longe de se fixar, vai continuar a variar, mas “já não
pode considerarse como algo pertencente a uma determinada classe social nem com
um sentido patrimonial, mas como algo inerente à própria condição humana, o
direito que todos têm à não intromissão e ingerência na sua vida privada” (Pilar
Gómez Pavón, p. 13, cuja exposição, de resto, seguimos de perto). Quando porém se
chega à conclusão de que todos têm direito ao anonimato, à protecção da sua esfera
íntima contra a ingerência ilegítima e arbitrária, em suma, a ser deixado em paz (the
right to be let alone), passa a imporse também a ideia de que a honra já não deve ser
entendida como simples reputação a que só alguns acedem por via do seu estatuto
M. Miguez Garcia. 2001
886
social. Esta evolução vai determinar também um sensível afastamento: privacidade e
honra já não se sobrepõem, antes se separam e distanciam. Ainda assim, é frequente a
confusão entre ambas, pois há condutas que, não sendo difamatórias, e que portanto
não constituem qualquer ofensa à honra de uma pessoa, podem em concreto implicar
uma gravíssima ameaça à intimidade.
O código português —e já antes, em 1973, a Lei nº 3/73, de 5 de Abril—
optou pela implementação dum tipo de indiscrição como é o artigo 192º, onde
os factos objecto de devassa não são necessariamente desonrosos. Ainda assim,
com uma sensível limitação, a que, aliás, já antes aludíramos: a de que, nos
termos do respectivo nº 2, a divulgação de factos relativos à vida privada ou a
doença grave de outra pessoa não é punível quando o facto for praticado como
meio adequado para realizar um interesse público legítimo e relevante. Perante
tudo isto, ficamos em posição de melhor compreender o alcance dum
dispositivo como o nº 3 do artigo 180º, pois se esses factos da vida privada, por
serem, do mesmo passo, factos desonrosos, puderem integrar simultaneamente
um crime contra a honra, a prova da verdade fica imediatamente excluída se se
projectarem na esfera da intimidade pessoal e familiar. Pensese na história do
político de renome, que é apanhado a “dormir” com a filha de 20 anos de idade:
facto verdadeiro, simultaneamente desonroso. E ponderese como este se
diferencia daquele outro político, ministro da defesa dum governo de Sua
Majestade, que no tempo da guerra fria “dormia” com a amante do adido
militar soviético.
• A realização de um “interesse público legítimo e relevante” (nº 2 do artigo 192º), “vem
alargar o espectro de dirimentes da ilicitude penal no domínio específico dos crimes
contra a reserva da vida privada” (Costa Andrade, Sobre a reforma, p. 456). A sua
leitura deve aproximarse da “prossecução de interesses legítimos” do artigo 180º, nº
2, que, por si só, torna jurídicopenalmente toleráveis tanto as agressões à honra como
as agressões à vida privada. [Mesmo factos da vida íntima tornamse objecto legítimo
de notícia se tiverem relevo público: a esfera da vida íntima é ainda uma
esfera...relativa: a vida privada das pessoas públicas está sujeita ao princípio da
ponderação nº 2 do artigo192º.] ”Já não será assim em relação às condutas que se
projectam ao mesmo tempo (sublinhámos) sobre ambos os bens jurídicos. Porque
então emergirão duas expressões de danosidade social que reciprocamente se
M. Miguez Garcia. 2001
887
potenciam e amplificam, tornando unívocas a dignidade penal e a carência de tutela
penal das condutas pertinentes” (Costa Andrade, Sobre a reforma, p. 455). A leitura
deve ser feita ainda com um olhar sobre o novo fundamento de agravação da alínea
b) do artigo 197º: as penas são elevadas de um terço nos seus limites mínimo e
máximo se o facto for praticado através de meio de comunicação social. Os jornalistas
beneficiam dum leque alargado — como se viu — de tiposjustificadores. Se mesmo
assim se pode em concreto falar da “subsistência do ilícito penal, então nada mais
indicado do que aquela agravação. Isto atento o exponencial e incontrolável potencial
de devassa que a comunicação social empresta aos atentados à reserva da vida
privada, da palavra e da imagem” (Costa Andrade, Sobre a reforma, p. 456).
Por conseguinte: nem toda a indiscrição será castigada. De resto, na vida
de Robinson Crusoe uma norma como o artigo 192º só faz sentido após a
chegada de Sextafeira.
• A noção de intimidade, tal como a da honra e do pudor, é um conceito que foi evoluindo
com o tempo e que está longe de ser definitivo.
Os autores acentuam a relatividade do bem jurídico protegido — lástico,
como pretendia um jurista alemão, sujeito, inclusivamente na sua concretização
processual, à vontade do respectivo portador. As diversas formas de devassa
não chegam a ser típicas onde houver acordo do portador do interesse
protegido. No artigo 192º empregase a expressão "sem consentimento", aliás
comum aos artigos 190º, 191º, 194º, 195º, 196º e 199º, nº 1, reconhecendose a
necessidade vital de o sujeito estar só e de, com o seu acordo, deixar de estar só,
estando com o outro, a seu arbítrio consentindo na devassa, desvelandose aos
olhos do outro. O desenho típico dos crimes de devassa corresponde à
preocupação de cada um de nós ocultar traços da sua personalidade, mas
também responde à possibilidade de cada um, sempre que o desejar, tornar
visível, transparente, a parte que entender da sua própria intimidade. A norma
assegura uma protecção adequada à vida em sociedade, já que, na vida de
relação, indiscreto é só aquele que procura saber, com uma curiosidade chocante,
o que o outro não quer revelar, ou que revela algo que deveria permanecer em
segredo. Discreto, pelo contrário, é quem se afasta para deixar falar outros dois
mais livremente, é aquele que, mantendo as distâncias, usa de circunspecção, de
M. Miguez Garcia. 2001
888
reserva—, quem, nas suas relações com o outro, adopta a medida, a prudência,
o tacto.
A teoria das esferas —onde se fala dos paparazzi e das public figures,
especialmente dum certo presidente americano.
As manifestações da vida dãonos exemplos suficientemente claros de
comportamentos indiscretos e de intromissão na reserva da vida privada. E de
eventos e situações a exigir clarificação, nos limites entre o público e o privado.
Com esta preocupação construiuse a chamada teoria das esferas. O conceito
convoca, mesmo entre os penalistas, uma imagem plástica que se projecta na
esfera da vida íntima (der Geheimbereich), que compreende os gestos e factos que
em absoluto devem ser subtraídos ao conhecimento de outrem; a da vida
privada (der Privatbereich), englobando os acontecimentos que cada indivíduo
partilha com um número restrito de pessoas; e a da vida pública (der
Öffentlichkeitsbereich), que, correspondendo a eventos susceptíveis de ser
conhecidos por todos, respeita à participação de cada um na vida da
colectividade (cf., entre outros, Rodrigo Santiago). O artigo 192º, na devassa da
vida privada das pessoas, preocupase muito especialmente com a intimidade
da vida familiar ou sexual e com a doença grave, que correspondem à área da
vida eminentemente pessoal, no modelo do projecto alternativo alemão; a
protecção justificase aí em medida altamente sensível. No entendimento do
Parecer da ProcuradoriaGeral da República nº 121/80, BMJ309142, "a
intimidade da vida de cada um, que a lei protege, compreende aqueles actos
que, não sendo secretos em si mesmos, devem subtrairse à curiosidade pública
por naturais razões de resguardo e melindre, como os sentimentos e afectos
familiares, os costumes da vida e as vulgares práticas quotidianas, a vergonha
da pobreza e as renúncias que ela impõe e até, por vezes, o amor da
simplicidade, a parecer desconforme com a natureza dos cargos e a elevação
das posições sociais. Em suma, tudo: sentimentos, acções e abstenções”.
A partir daqui também poderemos compreender melhor o sentido instável
e relativo desses conceitos em casos tão conhecidos como o da morte trágica da
Princesa de Gales, que suscitou na opinião pública uma reacção de repulsa
pelos métodos utilizados pelos paparazzi junto das public figures, das pessoas da
história do seu tempo, do mesmo passo que revelava os custos que sofre a
qualidade de vida dessas pessoas quando passam a ser eleitas como figuras de
sensação, sujeitas à indiscrição constante e a pressões de toda a ordem. É uma
história a que pertencem também certas facetas da vida do presidente Clinton,
M. Miguez Garcia. 2001
889
repetidas até à exaustão nos seus mais íntimos pormenores nos jornais e nas
televisões do mundo inteiro e que, envolvidas na discussão pública, só assim se
compreendem (?) em vista do interesse comunitário que a figura do presidente
lhes associa.
• Saber até onde é que deve ir a exposição pública da vida pública das pessoas é outra
questão a que aqui não cabe, naturalmente, tentar responder.
Indicações para a solução: terá Inácia actuado justificadamente? à
sombra dum direito de necessidade? amparada num interesse legítimo? em
legítima defesa da sua honra?
No caso nº 36 os contactos íntimos do marido de Inácia com a secretária
são matéria reservada e como tal não podem ser filmados ou registados em
imagens vídeo, por terceiro, sem consentimento. Fazêlo corresponde a
devassar a vida privada dessas duas pessoas na intimidade da sua vida sexual
(artigo 192º, nº 1, b). Como Inácia actuou fora de qualquer consentimento,
dolosamente e com intenção de devassar, o seu comportamento é ilícito, não lhe
correspondendo qualquer causa de justificação. Não se verificam aqui os
pressupostos do direito de necessidade do artigo 34º. Por outro lado, a
divulgação desses actos não corresponde, manifestamente, a um interesse
público legítimo e relevante (artigo 192º, nºs 1, d), e 2).
É aqui que entramos a discutir os pontos de contacto e o que estabelece a
diferença entre o direito de necessidade (artigo 34º) e a prossecução de
interesses legítimos. E que atentamos em pressupostos da justificação a título de
prossecução de interesses legítimos que passam por exigências de idoneidade,
proporcionalidade e necessidade. Cf. Costa Andrade, Conimbricense, p. 738. "O
direito de necessidade obedece a uma intencionalidade conservadora, estando
preordenado à salvaguarda de um status quo ameaçado por um perigo iminente;
enquanto isto, a prossecução de interesses legítimos está vocacionada para a
inovação, sc., para a revelação e realização de valores novos" (ibidem). A
exclusão da ilicitude por realização de interesses legítimos assenta no princípio
da ponderação de interesses, que também está subjacente à causa de justificação
do direito de necessidade (artigo 34º do C.P.). Isto, no entanto, não impede que
a realização de interesses legítimos tenha autonomia face a essa outra causa de
justificação (cf. Maria da Conceição S. Valdágua, p. 247). Olhando para o direito
alemão, a salvaguarda de interesses legítimos (§193 StGB) é entendida, regra
M. Miguez Garcia. 2001
890
geral, como um caso particular da ponderação de interesses, embora uma
opinião minoritária sustente que se trata antes de um caso especial de estado de
necessidade justificante (direito de necessidade). No sentido de que esta
ponderação de interesses cumpre uma “função evolutiva”, Eser, Strafrecht, III,
caso 15. Arzt é de parecer que há aqui um casoregra caracterizado pelo conflito
entre os interesses do agente e os da vítima, a quem não se reconhece de
antemão uma posição de vantagem.
No caso nº 36 a legítima defesa não é configurável por não haver uma
agressão a interesses juridicamente protegidos do agente (artigo 32º): a
ocorrência de relações sexuais por um dos cônjuges fora do casamento não é
correntemente entendida como um atentado à honra do outro cônjuge. Os
factos criminosos fogem em geral à área de tutela do artigo 192º, supondose
que se deixe intocado o princípio da presunção de inocência, mas o adultério,
como se sabe, mesmo o adultério em flagrante, deixou de ser um facto
penalmente ilícito.
• O crime é evento da Zeitgeschichte, da história do tempo. Mas há crimes que pertencem,
pura e simplesmente, à história (Geschichte) e são hoc sensu historicamente
imprescritíveis, escapando à “lei da morte”, como os crimes contra a paz e a
humanidade (Costa Andrade, Liberdade de imprensa, p. 258). Também há pessoas da
história do tempo em sentido absoluto (as que lideram a vida política, económica,
social, cultural, científica, tecnológica, desportiva); outras são as pessoas da história
do tempo em sentido relativo (as pessoas atingidas por uma catástrofe natural, as
vítimas de um crime). Para os chefes de Estado (reis e presidentes) como pessoas da
Zeitgeschichte em sentido absoluto pode consultarse BGH NJW 1996, 1128 e JZ 1997,
39 (40).
Indicações para a solução: Os problemas de concurso. Quais e quantos
crimes cometeu Inácia? Abstraindo agora de outras possíveis infracções
(violação de domicílio?), a actuação de Inácia integra, sem dúvida, o crime do
artigo 192º, nº 1, a), b), e c). Como o dano é o de um bem jurídico eminentemente
pessoal e são duas as pessoas em causa, o marido e a secretária, são dois os
crimes cometidos. Além disso, numa segunda resolução criminosa, Inácia
decidiu divulgar o que antes captara em imagens vídeo (alínea d) e fêlo
intencionalmente, remetendo cassetes com as imagens do marido e da
M. Miguez Garcia. 2001
891
secretária. Não se sabe se as cassetes vieram a ser recebidas pelos seus
destinatários, mas Inácia terá cometido, pelo menos, mais dois crimes de
devassa, eventualmente na forma de tentativa, mas sempre em concurso
efectivo. Poderá ainda sustentarse que os factos (nomeadamente a divulgação
feita) podem integrar uma ofensa à honra dos visados (na forma de difamação,
artigo 180º), em concurso ideal com o crime de devassa, aplicandose as penas
deste. Saber se nesse caso a conduta difamatória de Inácia está justificada pela
realização de um interesse legítimo que pode ser um interesse do próprio
agente (artigo 180º, nº 2) é tarefa que não deve ser excluída. Recordese que do
âmbito de justificação por realização de interesses legítimos, o que está excluído
(artigo 180º, nº 3) são as imputações de factos (ofensivos da honra e
consideração de outra pessoa) relativos à intimidade da vida privada e familiar;
todavia, a imputação deve ser necessária para a realização do interesse ou
interesses legítimos.
Indicações (indiscretas?) para terminar, e outras curiosidades.
• * O deitar do ReiSol. "A ida do rei para a cama era, como as suas refeições, uma
cerimónia. Mais íntima, contudo: só a ela assistiam aqueles cuja categoria ou
privilégio conferido por alvará a isso autorizava. Era o momento em que o rei se
sentava na sua cadeira a que dava o nome de "cadeira de necessidades"; e a honra de
contemplar esta operação, o "alvará de necessidades", pagavase por sessenta mil
escudos. É preciso dizer, de resto, que era costume, entre pessoas de categoria, não se
recusarem a receber alguém quando estavam a fazer "as suas necessidades". O
Grande Século ignorava as nossas delicadezas, e centenas de "cadeiras de
necessidades", imundícies nas escadas, nas galerias e nos bosquezinhos, não
ofendiam as narinas dos gentishomens, que, a exemplo do rei, só tomavam banho
por receita médica" (Jean Duché, História do mundo, III, A idade da razão, p. 323).
• * Coisas de francesas. As pessoas comuns têm actividades que desenvolvem em público:
exercem uma profissão, saem à rua, vão ao futebol. Admitindose que a vida privada
pode desenrolarse em lugares públicos, a correspondente noção cobre as actividades
estranhas à vida pública. Por isso, em França, a publicação de uma altercação entre
duas mulheres num lugar público “pour les beaux yeux d’un playboy parisien” foi,
há alguns anos, considerada como ofensa à reserva da vida privada.
M. Miguez Garcia. 2001
892
• * Onde se recorda que o prejuízo não representa elemento essencial da tutela da
privacidade. Os crimes de devassa, com as variantes das quatro alíneas do artigo
192º, são crimes de intenção: para além de uma ilegítima intromissão mediante
utilização ou não de meios técnicos, ou do alargamento do círculo de pessoas a ter
conhecimento, o agente actua com intenção de devassar. O abuso de telefone (artigo
190º, nº 2) também é crime de intenção. O “aproveitamento indevido de segredo”
(artigo 196º) é, por seu turno, um estrito crime de lesão, exigindose que o agente
provoque um prejuízo a outra pessoa ou ao Estado. Reparese a propósito que o
prejuízo não representa elemento essencial da tutela da intimidade.
• * E se fala de aparelhos para a montagem de escutas. Boa parte das condutas subsumíveis
às normas de que aqui se trata envolve a utilização de instrumentos ou aparelhagem
especificamente destinados à montagem de escuta telefónica ou à violação de
correspondência ou de telecomunicações. As actividades de compra, fabrico,
importação, etc., fora das condições legais ou em contrário das prescrições da
autoridade competente, destes instrumentos ou aparelhagens, são visadas, enquanto
crime de perigo comum, no artigo 276º, que é preceito introduzido em 1995.
• * E de disposições do Código Penal Suíço, na versão em língua italiana. Art. 179 ter 126:
Chiunque, senza l’assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono
una conversazione non pubblica cui partecipi, chiunque conserva, sfrutta o rende
accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante
un reato secondo il capoverso 1, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino
ad un anno o con la multa. Art. 179 quater 127: Chiunque, con un apparecchio da
presa, osserva o fissa su un supporto d’immagini un fatto rientrante nella sfera
segreta oppure un fatto, non osservabile senz’altro da ognuno, rientrante nella sfera
privata d’una persona, senza l’assenso di quest’ultima, chiunque sfrutta o comunica a
un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d’essere venuto a conoscenza
mediante un reato secondo il capoverso 1, chiunque conserva o rende accessibile a un
terzo una presa d’immagini, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato
secondo il capoverso 1, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.
M. Miguez Garcia. 2001
893
128 Art. 179 quinquies 129: Non è punibile secondo gli articoli 179 bis capoverso 1 e
179 ter capoverso 1 chiunque registra chiamate d'emergenza nell'ambito di servizi
d'assistenza, di salvataggio e di sicurezza.
II. Indicações de leitura
Código Civil — artigo 80º: 1. Todos devem guardar reserva quanto à intimidade da vida
privada de outrem. 2. A extensão da reserva é definida conforme a natureza do caso e a
condição das pessoas.
J. J. Gomes Canotilho / Jónatas E. M. Machado, “Reality shows”, p. 57: “O direito à privacidade
deve centrarse na protecção das decisões individuais em matéria de privacidade e não
na promoção de uma determinada concepção acerca deste bem”.
Lei nº 1/2000, de 16 de Março: autoriza o Governo a transpor para a ordem jurídica interna a
Directiva nº 96/9/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março, relativa à
protecção jurídica das bases de dados.
Lei nº 67/98, de 26 de Outubro e Directiva nº 95/46/CE, de 24 de Outubro: protecção de dados
médicos e genéticos.
Acórdão do Trib. Const. nº 241/2002 de 29 de Maio de 2002, DR II série de 23 de Julho de 2002.
Internet, história. Tecnologias da informação. Telecomunicações. Confidencialidade das
telecomunicações; sigilo das telecomunicações. Dever de cooperação para a descoberta
da verdade (artigo 519º do Código de Processo Civil). Esfera da vida pessoal dos
cidadãos. Garantia da inviolabilidade das telecomunicações.
M. Miguez Garcia. 2001
894
Acórdão do Trib. Const. nº 255/2002 de 12 de Junho de 2002, DR II série de 8 de Julho de 2002.
Permissão de utilização de equipamentos electrónicos de vigilância e controlo por parte
de entidades que prestem serviços de segurança privada. Questões de índole
constitucional que a videovigilância pode suscitar.
Acórdão do Trib. Const. nº 368/2002, de 25 de Setembro de 2002, DR II série de 25 de Outubro
de 2002; e Revista do Ministério Público, ano 23 (2002), nº 92, p. 117: restrições relevantes
ao núcleo essencial do direito à reserva da intimidade da vida privada; exames
obrigatórios; informações e elementos atinentes ao estado de saúde de quem pretende
ser ou é trabalhador de certas empresas.
Acórdão do Trib. Const. de 7 de Maio de 1997, BMJ467107: criação e disciplina de registos
informáticos; utilização da informática; protecção dos dados pessoais informatizados;
reserva da vida privada.
Acórdão do Trib. Const. nº 407/97, de 21 de Maio de 1997, BMJ467199: intercepção ou
gravação de comunicações telefónicas; acompanhamento pelo juiz das escutas
realizadas; proibições de prova; tutela da vida privada e do sigilo nas telecomunicações.
Acórdão do Trib. Const. nº 254/99, de 4 de Maio de 1999, BMJ48745: direitos ao acesso à
informação administrativa; direitos ao segredo comercial ou industrial, de autor ou de
propriedade industrial e o interesse no respeito das regras de leal concorrência.
Acórdão do Tribunal Constitucional nº 207/2003, de 28 de Abril de 2003, publicado no DR II
série, de 30 de Maio de 2003: permissão de utilização de equipamentos de vigilância
M. Miguez Garcia. 2001
895
electrónica nas salas de jogo. Restrição do direito de reserva da intimidade da vida
privada. Artigo 26º, nº 1, da Constituição.
Acórdão do STJ de 20 de Junho de 2001, CJ 2001, tomo II, p. 221: provas obtidas por sistemas de
videogração do local.
Acórdão do STJ de 30 de Março de 2000, BMJ495230 e correspondente anotação: escutas
telefónicas; direito ao respeito da vida privada e familiar; liberdade versus segurança.
Legalidade de intercepção e gravação de conversações ou comunicações telefónicas.
Acórdão do STJ de 6 de Novembro de 1996, CJ, ano IV (1996), tomo 3, p. 187: crime de ofensa à
intimidade, crime de gravações ilícitas; cassete vídeo, com gravações da vida sexual dum
casal, indevidamente obtida.
Acórdão da Relação de Coimbra de 22 de Janeiro de 2003, CJ 2003, tomo I, p. 40: a vigilância da
actividade de tráfico de estupefacientes desenvolvida ao ar livre, em pleno parque
público, pode ser registada em imagem, não consistindo em intromissão da vida privada
nem estando dependente de prévia autorização do juiz.
Acórdão da Relação de Coimbra de 27 de Junho de 2001, CJ, ano XXVI (2001), tomo III, p. 58:
arguido que tendo filmado cenas das práticas sexuais que manteve com a ofendida lhe
exige a entrega de dinheiro sob pena de as fotografias serem divulgadas.
Acórdão da Relação de Coimbra de 5 de Julho de 2000, CJ, ano XXV (2000), tomo 4, p. 43:
segredo médico; situações de conflito; ponderação de valores.
M. Miguez Garcia. 2001
896
• Acórdão da Relação de Lisboa de 28 de Novembro de 2001, CJ, ano XXVI (2001), tomo V, p.
138: fotografias do queixoso em local público, mostrandose e salientandose ele,
exuberantemente, perante todas as pessoas presentes.
• Parecer nº 69/2003 da PGR, DR II série de 16 de Outubro de 2003. Prisão preventiva.
Estatuto do recluso, liberdade de expressão, violação de correspondência, entrevista,
autorização, conflitos de direitos, princípios da concordância prática, princípio da
proporcionalidade, relações especiais de poder.
Tribunale di Roma, sentenza 13 novembre 1985, Il Foro Italiano, 1986, Parte II35, p. 497.
Amadeu Guerra, Privacidade e tratamento automatizado de dados pessoais no sector bancário,
Revista da Banca, 32 (1994), p. 73.
Bernard Beignier, Le Droit de la Personalité, Quesaisje?, PUF, 1992.
Carla Amado Gomes, O direito à privacidade do consumidor. A propósito da Lei 6/99, de 27
de Janeiro, Revista do Ministério Público, ano 20 (1999), nº 77.
Carlos Ruiz Miguel, La configuración constitucional del derecho a la intimidad, Tecnos,
Madrid, 1995.
Cunha Rodrigues, Perspectiva jurídica da intimidade da pessoa, in "JL" Jornal de Letras, Artes
e Ideias, ano XIV, nº 613, de 13 de Abril de 1994.
Cunha Rodrigues, Perspectiva jurídica da intimidade da pessoa, in Lugares do Direito,
Coimbra Editora, 1999.
Dieter Meurer, Wahrnehmung berechtigter Interessen und Meinungsfreiheit, Festschrift für H.
J. Hirsch, 1999, p. 651.
M. Miguez Garcia. 2001
897
Diogo Leite de Campos, Lições de direitos da personalidade, BFD 67 (1991), p. 129.
Diogo Leite de Campos, Os direitos da personalidade: categoria em reapreciação, BMJ4035.
F. Haft, Strafrecht, BT, 5ª ed., 1995.
Guilherme de Oliveira, O Sangue e o Direito — entre o ser e o pertencer, RLJ ano 134º, nº 3924.
Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 4ª ed., 1993.
H. Blei, Strafrecht II, BT, 12ª ed., 1983.
Helena Carvalhão Buescu, A casa e a encenação do mundo: Os Fidalgos da Casa Mourisca de
Júlio Dinis, in “Chiaroscuro. Modernidade e Literatura”, Campo das Letras, 2001.
Helena Moniz, Notas sobre a protecção de dados pessoais perante a informática. (O caso
especial dos dados pessoais relativos à saúde), RPCC, ano 7 (1997), p. 231.
Helena Moniz, Segredo Médico. Acórdão da Relação de Coimbra de 5 de Julho de 2000 e
Acórdão da Relação do Porto de 20 de Setembro de 2000, RPCC 10 (2000).
Isabel Reis Garcia, O controle da legalidade de utilização da informática O MP numa
sociedade democrática, Livros Horizonte.
J. J. Gomes Canotilho / Jónatas E. M. Machado, “Reality shows” e liberdade de programação,
Coimbra Editora, 2003.
J. Pinto da Costa, Segredo Médico, in Responsabilidade médica, Porto, 1996.
J. Wessels, Strafrecht, BT1, 17ª ed., 1993.
M. Miguez Garcia. 2001
898
Jorge Dias Duarte, Lei nº 5/2002, de 11 de Janeiro. Breve comentário aos novos regimes de
segredo profissional e de perda de bens a favor do Estado, RMP 2002, nº 89.
José Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale II, Zurich, 1998.
Klaus Rogall, Beleidigung und Indiskretion, Festschrift für H. J. Hirsch, 1999, p. 665.
Larry Alexander e Kenneth Kress, Contra os princípios jurídicos, in Andrei Marmor, Direito e
Interpretação, Martins Fontes, São Paulo, 2000, p. 438.
Luzon Peña, Protección penal de la intimidad y derecho a la información, Anuario de Derecho
Penal y Ciencias Penales, tomo XLI, Madrid, 1988.
M. Januário Gomes, O problema da salvaguarda da privacidade antes e depois do computador,
BMJ31921.
M. T. Annecca, La privacy: nouve dimensioni del consenso e novitá normative, in Legalità e
giustizia, nº 3/4 1999, p. 348 e ss.
Manuel da Costa Andrade, anotação ao acórdão do STJ de 6 de Novembro de 1996 [Sobre os
Crimes de "Devassa da Vida Privada" (artigo 192º CP) e "Fotografias Ilícitas" (artigo 199º
CP)], RLJ, ano 130º, nº 3885, p. 376 e ss..
Manuel da Costa Andrade, Comentário conimbricense do Código Penal, parte especial, tomo I,
artigos 131º a 201º, Coimbra, 1999, p. 725 e ss.
Manuel da Costa Andrade, Consentimento e Acordo em Direito Penal, p. 371 e ss. e passim.
M. Miguez Garcia. 2001
899
Manuel da Costa Andrade, Sobre a reforma do Código Penal português, RPCC 3 (1993), p. 427
e ss.
Manuel da Costa Andrade, Sobre as proibições de prova em processo penal, 1992.
Maria da Conceição S. Valdágua, A Dirimente da Realização de Interesses Legítimos nos
Crimes contra a Honra, Jornadas de Direito Criminal, vol. II, CEJ, 1998.
Mario Chiavario, O impacto das novas tecnologias: os direitos do indivíduo e o interesse social
no processo penal, RPCC, ano 7 (1997), p. 387.
Mário Raposo, Protecção da intimidade da vida privada, ROA, 1972, IIIIV, p. 572 e ss.
Morales Prats, in Quintero Olivares, Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal.
Parecer nº 26/95, de 25 de Maio de 1995, da ProcuradoriaGeral da República, DRII série de
24.4.97 (4857): robustez física, sida, funcionário, recrutamento, protecção da vida
privada.
Parecer nº 95/87, de 10 de Maio de 1990, da ProcuradoriaGeral da República, BMJ40041.
Pareceres. ProcuradoriaGeral da República. Volume VI. Os Segredos e a sua tutela.
Pareceres. ProcuradoriaGeral da República. Volume VII. Vida privadaUtilização da
informática.
Paulo Mota Pinto, Anteprojecto para a localização do Código Civil em Macau na parte relativa
aos direitos da personalidade, BMJ4485.
M. Miguez Garcia. 2001
900
Paulo Mota Pinto, O direito à reserva sobre a intimidade da vida privada, BFD 69 (1993), p.
479.
Pedrosa Machado, Sigilo bancário e direito penal, in Diogo Leite de Campos et al., Sigilo
bancário, Cosmos, 1997, p. 78;
Pilar Gómez Pavón, La intimidad como objeto de protección penal, Akal, Madrid, 1989.
Raymond F. Rigaux, Liberté de la vie privée, Revue internationale de droit comparé 1991.
Ricardo Pinto Leite, Liberdade de imprensa e vida privada, ROA, ano 54 (1994).
Rita Amaral Cabral, O direito à intimidade da vida privada (Breve reflexão sobre o art. 80º do
Código Civil).
Rodrigo Santiago, Do crime de violação de segredo profissional no Código penal de 1982, 1992,
p. 54.
M. Miguez Garcia. 2001
901
§ 38º Crimes sexuais
I. Crimes sexuais. Liberdade sexual e bluejeans.
• CASO nº 38: As declarações da vítima de violência sexual devem ser alvo de uma
análise rigorosa por parte do julgador, nomeadamente, quando não são conciliáveis
com a versão do arguido. Um bom exemplo disso é o caso da queixosa que envergava
jeans, os quais, todavia, não apresentavam sinais reveladores de uma vigorosa
resistência da vítima ao seu agressor. A experiência comum mostra que é quase
impossível abrir os jeans sem a efectiva colaboração de quem os veste, acontecendo
até que se trata de uma operação difícil mesmo para essa pessoa. Cf. a Cassazione
penale de 6 de Novembro de 1998, in Riv. ital. dir. proc. penale, 1999.
• O arguido protestara a sua inocência, sustentando que a rapariga tinha consentido nas
relações sexuais no intervalo de uma aula de condução automóvel. O tribunal de 1ª
instância dera crédito à queixosa, argumentando que não havia qualquer motivo para
crer numa acusação falsa e caluniosa.
Crimes sexuais. Generalidades. Bem jurídico protegido. Negação de um
papel eticizante ao direito penal. Com a Reforma de 1995, o bem jurídico
protegido — liberdade e autodeterminação sexual — afastouse do conceito de
bons costumes e de moralidade sexual. Eliminouse a referência ao atentado ao
pudor, acto contrário ao pudor ou acto que viola em grau elevado os sentimentos gerais
de moralidade sexual, que figurava nos artigos 205º, 206º, 207º, 209º, 213º e 217º do
Código Penal de 1982. Em lugar dessas expressões, passam a aparecer outras
como acto sexual de relevo, que a Lei nº 65/98 manteve.
Os crimes sexuais começaram por estar directamente comprometidos com
a protecção e salvaguarda de uma conhecida moralidade, mas a aceitação
generalizada do dogma de que “ao legislador falta em absoluto a legitimidade
para punir condutas não lesivas de bens jurídicos, apenas em nome da sua
imoralidade” (Roxin), impôs entretanto uma compreensão radicalmente
distinta. Hoje só se considera legítima a incriminação de condutas do foro
M. Miguez Garcia. 2001
902
sexual se e na medida em que atentem contra um específico bem jurídico
eminentemente pessoal, correspondente à liberdade de expressão sexual. O que
reclama novas categorizações e arrumações sistemáticas. Um movimento de
que (apenas) terá querido distanciarse o novo Código Penal austríaco (1975).
Que continua a incriminar e punir práticas como o Homossexualismo
profissional masculino, o Incesto, a Rufianaria (Costa Andrade, Sobre a
reforma...).
• "O espartilho do bem jurídico, tão eficaz e prestável noutras sedes, afrouxa aqui um tanto.
Pois não é tão indiscutível proteger a vida, a integridade física ou o património como
será decidir da incriminação da pornografia (delimitando com rigor o conceito) ou
mesmo da prostituição. O bem jurídico é aqui mais volátil, e por isso se reconduz
muitas vezes a uma não bem definida "moral pública" ou a um enigmático
"sentimento geral de decência" sempre susceptíveis de comportar vários conteúdos. E
acresce a essa teia de significados a circunstância de ser o mundo da moral sexual
um mundo de tendencial insinceridade, uma terra com zonas de penumbra que não é
simples, nem porventura possível, identificar em muitos dos seus aspectos" (Maria
Margarida Silva Pereira, Rever o Código Penal, Relatório e parecer da Comissão de
assuntos constitucionais, Sub judice / ideias, 11, 1996, p. 7).
Com a revisão de 1995, os crimes sexuais foram deslocados do título
relativo aos Crimes contra valores e interesses da vida em sociedade para o título que
trata dos crimes contra as pessoas. Actas, 24, 246: O direito penal sexual foi o que
revelou uma maior evolução, a qual acarretou mesmo uma alteração quanto à
protecção do bem jurídico. Agora estamos perante a liberdade sexual das
pessoas e já não de um interesse da comunidade. Não é crime qualquer
actividade sexual (qualquer que seja a espécie) praticada por adultos, em
privado e com consentimento (Teresa Beleza: é “o credo” do paradigma
moderno liberal do Direito Penal sexual”; “só o carácter coagido, ou a
publicidade com incómodo de terceiros, ou a imaturidade do parceiro poderão
ser campos de actuação legítima da dissuasão penal em matéria de sexo”). Cf.
ainda K. Natscheradetz, p. 144: permitir o exercício da liberdade sexual, dentro
de parâmetros mais ou menos estreitos, fixados antecipadamente pelas
instâncias sociais, que reflectem uma determinada concepção acerca do
conteúdo da sexualidade, entre outros legitimamente possíveis, sob a capa da
protecção dos bons costumes, da corrupção sexual ou da decadência sexual,
M. Miguez Garcia. 2001
903
supõe precisamente a incapacidade para conceber uma sociedade pluralista e
tolerante, em que coexistem diferentes comportamentos, atitudes e valorações
face à sexualidade, bem como uma profunda desconfiança pelo cidadão adulto,
enquanto ser crítico e responsável, e por uma ordem social baseada na
liberdade e autonomia dos cidadãos.
Para a história dos crimes sexuais em Portugal: beijos do galã à namorada — 14 meses de
prisão. Para exemplificar, recuemos a 1964 e ao acórdão do STJ de 24 de Junho, no BMJ
138271. A viuse pronunciado por dois crimes: um de estupro, outro de atentado ao
pudor. Negou o estupro e a 1ª instância condenouo pelo outro, mas a Relação entendeu
que a espécie — beijos e abraços dele à namorada — não eram acções aptas a atentar
contra o pudor da rapariga. O assistente, pai dela, "indignado com o decidido e os
termos do aresto", continuou a pugnar pela condenação do arguido ("doméstico" da
ofendida...) e o Supremo fezlhe a vontade: 14 meses de prisão. Curiosa, para os dias de
hoje, é a fundamentação. O ilustre relator, que obviamente sabia do que falava,
aproveita, em mau português, para uma extensa excursão (incursão?) pelos domínios do
beijo. Diz ele: "Prodigalizamse beijos, nas telas dos cinemas e demais lugares e
diferentes ocasiões, acompanhados ou não de abraços, se é da peça; e também, na
aliciante descrição da literatura afim, se propagam e propelam exemplos, e tais vícios e
os derivados do natural mimetismo, passam a observarse ali e além; trocados, em vias
de mais ou de menos maus hábitos, ou por esporádicos e furtivos, os olhos descuidados,
senão despertos, surpreendam beijos do galã à namorada; outrossim, e de ordinário, em
repetidos beijos com abraços, se comprazem varões e filhos e os de seu sangue; beijando
lhe vulgarmente a mão, cumprimentam o cavalheiro e o meninobem a dama de
sociedade; e quantos e tantos, por diferentes fins, se dão e recebem — sem esquecer o
tradicional "ósculo da paz" nem o da frequente traição. Manifestação, pois, de
M. Miguez Garcia. 2001
904
heterogéneos sentimentos ou paixões, dentre todos, para a sanção da lei, vivem e
revivem os de patente ou oculto "propósito lascivo" ou "voluptuosos" ou "excitantes da
concupiscência", traduzindo embora alguns o reflexo de desregrado ou incompreendido
"amorlivre" e dissolvente conduta."
• A propósito, falase das Ordenações e dos crimes imorais. E do incesto. Crimes contra a
honestidade — crimes contra os costumes — crimes sexuais — liberdade e
autodeterminação da expressão sexual. Nas Ordenações, o "travesti" era castigado
com açoites ou com degredo, a sodomia e o incesto com a morte pela fogueira. No
Código Penal de 1852 havia os chamados crimes contra a honestidade, mas não se
punia o incesto, a homossexualidade e a prostituição. Atente nas posteriores
mudanças de rubrica: crimes contra os costumes — crimes sexuais — liberdade e
autodeterminação da expressão sexual. O Código de 1982 também não pune o
incesto, o homossexualismo, a prostituição, nem o adultério. "Se pedíssemos a dez
antropólogos modernos que designassem uma instituição humana universal, é
provável que nove deles escolhessem a proibição do incesto; na realidade, muitos
deles já a qualificaram expressamente como a única universal", escreveu Alfred
Kroeber. Para explicarem a proibição do incesto, alguns invocaram causas
exclusivamente naturais. Outros vêem nela apenas um fenómeno de origem
puramente cultural. Hoje em dia a maior parte dos antropólogos concordam em
pensar que esta proibição pode ser considerada como fazendo parte tanto da
natureza como da cultura." (François Jacob, O ratinho, a mosca e o homem, Gradiva,
1997; cf. também Faria Costa, O Perigo em Direito Penal, p. 190 (26). No Código Penal
português não se pune o incesto, mas certos crimes sexuais nele previstos são
agravados se a vítima for ascendente, descendente (...) do agente (cf. o artigo 177º, nº
1, a).
• É em nome da própria moral que deve exigirse que o direito penal só intervenha na
medida reclamada pela protecção dos bens jurídicos. "Perdidas as matrizes de
legitimação teocráticas ou jusnaturalistas clássicas, a necessidade terrena de protecção de
M. Miguez Garcia. 2001
905
bens jurídicos — desenhados por sobre a ordem jurídicoconstitucional dos direitos,
liberdades e garantias — tornase em critério único e inarredável de legitimação do
direito de punir. Sem que com isto, acentuese, se menospreze ou muito menos se
negue a existência de uma ordem metafísica ou moral de determinação e de
julgamento da conduta humana. Bem ao contrário, é precisamente em nome de uma
tal ordem — é em nome da própria "moral", como já em seu tempo proclamou S.
Tomás — que deve exigirse que o direito penal e os seus instrumentos punitivos só
intervenham na medida reclamada pela protecção de bens jurídicos." Figueiredo
Dias, Carrara e o paradigma penal actual, RDE 14 (1988), p. 12. Nota: Sobre o
relacionamento entre o direito penal e a moral, cf. Rui Carlos Pereira, Liberdade
sexual, p. 42. Sobre o conceito de "moral mínima", Maria Fernanda Palma, A
Justificação por legítima defesa, I, p. 556.
• Também vem a propósito falar de liberdade. A liberdade desempenha, no sistema penal,
uma função ambivalente: genericamente restringe o exercício do direito de punir
estatal; mas em casos particulares justifica — e porventura até impõe — esse
exercício. A liberdade restringe o jus puniendi, desde logo, porque não é legítimo
cominar sanções para condutas que se insiram numa esfera estritamente pessoal e
não prejudiquem terceiros. Uma tal cominação violará o princípio da necessidade das
penas e das medidas de segurança e, em última instância, o próprio princípio do
Estado de direito democrático (artigos 18º, nº 2, e 2º da Constituição). Além disso, a
liberdade delimita o âmbito dos ilícitos criminais, determinando a justificação de
condutas abstracta e indiciariamente lesiva de bens jurídicos, que, em concreto,
constituem manifestações da autonomia ética da pessoa: assim sucede,
nomeadamente, quanto a crimes (rectius, tipos criminais) praticados em legítima
defesa ou, quando estão em causa bens jurídicos disponíveis, com o consentimento
do ofendido (artigos 32 e 38 do Código Penal). Porém, a relevância jurídicopenal da
liberdade não se esgota num plano negativo. Positivamente, é a liberdade, concebida
como bem jurídico de primeira grandeza — tutelado pelo artigo 27º nº 1 da
Constituição —, que justifica a criminalização de determinados comportamentos pelo
legislador. Nesta perspectiva, atentados graves contra a liberdade de expressão, de
M. Miguez Garcia. 2001
906
reunião e associação, religiosa e política, de deslocação e sexual podem ser previstos
como crimes. Algumas destas condutas, como por exemplo, a violação e o sequestro,
constituem mesmo "incriminações obrigatórias", no sentido de a sua persistência no
nosso horizonte histórico ser tão intensa como a do próprio direito penal. Rui Carlos
Pereira, Liberdade sexual. A sua tutela na reforma do Código Penal, Sub
judice/ideias 11, 1996, p. 41.
• E por falar em liberdade: o crime de violação e o crime de sequestro protegem bens
jurídicos distintos, sendo diferente a tutela da liberdade sexual e a tutela da liberdade
ambulatória. Interessante, por tratar do conceito de liberdade sexual, relacionandoo
com o conceito geral de liberdade pessoal, nomeadamente a liberdade de deslocação
e movimentos, o acórdão do STJ de 8 de Março de 1995, BMJ445101, aqui
amplamente apreciado (caso nº 38A).
• No Código, após a Reforma de 1995, o tipo fundamental é o abuso sexual (cf. artº 163º,
“coacção sexual”, artº 165º e 166º “abuso sexual...” e artº 172º “abuso sexual de
crianças”), evitandose assim o tradicional atentado ao pudor (o “conceitochave” do
“atentado ao pudor” — um conceito, uma vez mais, de natureza demasiado
indeterminado e de conteúdo inadmissivelmente moralista foi substituído pelo
conceito preciso de “acto sexual de relevo” (Figueiredo Dias). Introduziuse a
expressão acto sexual de relevo / acto(s) homossexua(is) de relevo e deixou de se
falar em atentado ao pudor, a exemplo do § 184c do StGB, que substituira a expressão
Unzucht (acto contrário ao pudor) por acção sexual de algum relevo (sexuelle
Handlungen von einiger Erheblichkeit). Um acto é sexual (em regra por acção, mais
raramente por omissão, como o continuar nú à aproximação de alguém) quando tem
por objecto directo o sexo humano e pelo menos envolve o próprio corpo ou o corpo
de outrem; são desde logo todas as acções que de acordo com a sua aparência externa
permitem reconhecer a sua relação com o sexo. Associado a esta expressão externa,
exigese um elemento subjectivo na forma de uma tendência sexual do agente
(SchönkeSchröder, Strafgesetzbuch (Kommentar), 23ª ed., 1988, § 184c, nº de margem
5), que deve estar consciente dessa relação, não sendo, porém, necessária a intenção
M. Miguez Garcia. 2001
907
de conseguir prazer (em sentido diverso, Maia Gonçalves, que se refere à intenção de
satisfazer apetites sexuais). Excluemse assim, e desde logo, as conversas ou as
cantigas cujo tema seja o sexo, bem como o acto de as escutar, e também a
representação e a contemplação de exposições que envolvam temas sexuais. Há,
porém, acções de natureza complexa, de significação múltipla, como seja um soco no
peito de uma mulher, uma palmada no rabo de uma criança, ou a execução de
exames ginecológicos. Quanto à definição de “relevo”, tratandose de uma
designação indeterminada de quantidade (unbestimmten Mengenbezeichnungen), ela
está em geral associada à quantificação de um resultado. No caso dos actos sexuais, a
quantificação que se lhes pode associar permite pôr de lado, qualificandoos como
impertinências (Aufdringlichkeiten) ou actuações de mau gosto (Geschmacklosigkeiten),
certos actos que ainda não se incluem no âmbito do tolerável (G.Jakobs, Strafrecht,
AT, 2ª ed., 1993, p. 81, nº de margem 31). Deste modo, serão actos sexuais de relevo os
que, não sendo insignificantes, se revelam, quando encarados na sua globalidade e de
acordo com o modo e a intensidade (incluindo a duração) do agir, perigosos para o
correspondente bem jurídico protegido com a incriminação (Otto, Grundkurs,
Strafrecht, p. 309; Dreher/Tröndle, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 47ª ed., Munique,
1995, p. 946).
• * Para o CP de 1995 não podem deixar de ser considerados actos sexuais de relevo, o beijar
na boca uma menor de 9 anos, o passarlhe a mão pelas pernas e pelos órgãos
genitais, tudo com fins libidinosos, tal como esses actos não podiam deixar de ser
havidos como constitutivos do crime de atentado ao pudor, previsto e punido no art.º
205, do CP de 1982. O encostar do pénis à vulva da menor, com posterior emissão de
sémem sobre a mesma vulva e sobre o corpo da ofendida correspondiam, segundo o
CP de 1982, à comissão de um crime de violação (dentro do conceito há muito
formulado e elaborado da chamada cópula vulvar) e são hoje enquadráveis, no crime
de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, praticado com aproveitamento da
sua incapacidade, art.º 165 do CP de 1995, uma vez que é manifesto que uma menor
de 9 anos não tem possibilidade de resistência contra avanços de natureza sexual
como aqueles que foram feitos pelo arguido, pessoa muito mais idosa e por quem ela
M. Miguez Garcia. 2001
908
tinha grande amizade (ac. do Supremo Tribunal de Justiça de 09011997, Processo n.º
712/96 3ª Secção, Internet). * Acto sexual de relevo, para efeitos do artigo 172º, nº 1,
do actual Código Penal, deverá ser aquele que, tendo relação com o sexo (relação
objectiva), se reveste de certa gravidade com a intenção de satisfação de apetites
sexuais (ac. do STJ de 17 de Outubro de 1996, CJ, acs. do STJ, ano IV, t. 3, p. 170).* Um
beijo na boca da ofendida menor de 10 anos por arguido com 50 anos de idade,
agarrandoa pela cintura e depois de lhe ter oferecido dinheiro, tendo aquele agido
com intenção de obter satisfação sexual é um acto sexual de relevo para os efeitos ao
artigo 172º do CP revisto, ac. da Rel. de Lisboa de 28 de maio de 1997, BMJ467612. *
Acto sexual de relevo é todo aquele que viole intensamente a liberdade de expressão
sexual da vítima. Sendo os seios, como são, uma parte do corpo feminino
intimamente relacionada com a sua sexualidade, a apalpação deles, por debaixo da
roupa, contra a vontade da mulher, sobretudo em local público, ofende a sua
liberdade e autodeterminação sexual (ac. da Rel de Coimbra de 12 de Janeiro de 1996,
CJ, 1996, tomo I, p. 37).
Em regra, o acto sexual de relevo não possui a dignidade punitiva da
cópula e do coito anal ou oral (que também são acto sexuais de relevo). Por
outro, distinguese do mero acto exibicionista. A lei refere ainda os actos
homossexuais de relevo (assim, no plural). Em sentido amplo, pode afirmarse
que são exemplos de actos sexuais de relevo, a cópula, o coito anal ou oral
(penetração anal ou bucal). O artº 430º do anterior Código Penal espanhol
agravava a introdução de objectos ou o uso de meios, modos ou instrumentos
brutais, degradantes ou vexatórios. A penetração vaginal ou anal nessas
condições pode ser acto sexual de relevo no sentido antes exposto. No outro
extremo, será unicamente crime contra a integridade física se lhe faltarem os
pressupostos de acto contra a liberdade sexual. Essas actuações podem estar
relacionadas com práticas sexuais sadomasoquistas ou outras do chamado
“sexual underground”. No elenco dos actos típicos figuram a cópula, coito
anal, acto sexual de relevo (cópula, coito anal, coito bucal, manipulação, cópula
vulvar, etc.), acto de procriação artificial em mulher, acto de carácter
exibicionista, actuação por meio de conversa obscena ou de escrito, espectáculo
ou objecto pornográfico, ou utilização em fotografia, filme ou gravação
pornográficos, prática da prostituição, actos sexuais de relevo, actos de carácter
exibicionista, actos homossexuais de relevo.
M. Miguez Garcia. 2001
909
• Falando agora dos escalões etários e de crianças, menores dependentes e adolescentes, a
previsão legal é a seguinte: para o Ministério Público dar início ao processo —
quando a vítima for menor de 16 anos (178º2: veja contudo as inumeráveis alterações
sofridas pelo preceito); menor de 14 anos (172º123; 176º3); menor entre 14 e 16 anos
— adolescente (174º, 175º); menor de 16 anos (176º2); menor dependente entre 14 e 18
anos (173º1, b).
• O sistema de protecção absoluta no domínio sexual: o “consentimento” dos menores —
práticas sexuais levadas a cabo sem violência, coacção, ordem ou fraude. (Cf.
especialmente Maria Margarida Silva Pereira, Rever o Código Penal, Relatório e
parecer da Comissão de assuntos constitucionais, Sub judice / ideias, 11, 1996, p. 21.).
Os crimes sexuais estão divididos em 2 secções: crimes contra a liberdade sexual e
crimes contra a autodeterminação sexual (práticas sexuais com menores). Nos casos,
aí descritos, das práticas sexuais com menores, por um lado, afastase qualquer ideia
de “adequação” das acções, sendo a protecção absoluta, por outro, a característica
comum é que são levadas a cabo sem violência, coacção ou fraude, havendo, nesse
sentido, o “consentimento” do menor. Mas em relação aos menores também valem os
crimes da 1ª secção desde que não se trate de nenhum dos que se especializaram na 2ª
(cf. Actas (nº 24, p. 261: relativamente aos menores valem subsidiariamente os crimes
anteriores, quando não afastados pela especialização). Os tipos legais preordenados à
protecção da juventude são crimes de perigo abstracto de índole especial: ao contrário
do que acontece com os clássicos crimes de perigo abstracto, o perigo é não só em
concreto presumido como nem sequer é, em nenhum caso, susceptível de ser
exactamente avaliado (Maurach). “Ao sacrifício qualificado da liberdade dos agentes
acresce o sacrifício da liberdade do “ofendido” que se visa tutelar como bem jurídico
típico” (Costa Andrade).
• O crime praticado contra menor de 14 anos é sempre punido mais severamente que o
crime praticado contra um adulto. Papel do Ministério Público. No Código Penal
revisto o crime sexual praticado contra menor de 14 anos é sempre punido mais
severamente que o crime praticado contra um adulto, atenta a especial
M. Miguez Garcia. 2001
910
vulnerabilidade da vítima (artigo 177º, nº 4). Uma outra nota que acentua a protecção
do menor é a possibilidade de o Ministério Público, quando a vítima dos crimes
referidos no artigo 178º, nº 1, for menor de 16 anos, poder dar início ao procedimento
criminal se o interesse da vítima o impuser (artigo 178º, nº 4). Com isto, a intervenção
do Ministério Público deixou de ser automática, já não depende apenas da idade,
como acontecia na versão anterior do Código — agora exigese que pondere a
situação e equacione as vantagens e os inconvenientes, apoiado em dados objectivos,
e que os expresse, para que se possa ajuizar se o interesse da vítima aconselha o
desenvolvimento da acção. Ac. do STJ de 7 de Julho de 1999, CJ, ASTJ, ano VII, tomo
2, 1999, p. 248. A solução deve confrontarse com a do artigo 113º, nº 5, “quando o
direito de queixa não puder ser exercido porque a sua titularidade caberia apenas, no
caso, ao agente do crime, pode o Ministério Público dar início ao procedimento se
especiais razões de interesse público o impuserem”. No acórdão do STJ de 7 de Julho
de 1999, acima referido, discutese um interessante problema de aplicação de leis no
tempo, na medida em que o Código Penal, na redacção da Lei nº 65/98, de 2 de
Setembro, faz depender a legitimidade do Ministério Público da ponderação do
"interesse da vítima", ao contrário da redacção anterior, onde se fazia depender essa
legitimidade de "especiais razões de interesse público". Outro caso idêntico de
sucessão de leis no tempo poderá verse no acórdão do STJ de 10 de Fevereiro de
2000, CJ (2000), tomo I, p. 208.
• O género da vítima releva no crime de procriação artificial não consentida (artigo 168º).
• Ainda a propósito do caso nº 38: O tribunal colectivo aprecia livremente a prova e não
está inibido de socorrerse das declarações dos ofendidos, desde que credíveis e
coerentes. Tratandose de crimes sexuais, essas declarações têm especial valor, dado
o ambiente de secretismo que rodeia o seu cometimento. No crime de violação a
vítima não necessita de lutar até ao esgotamento, para haver violência. Há violência
sempre que o acto seja praticado contra ou sem a sua vontade, sendo até irrelevante o
consentimento para a cópula quando este não for livre (ac. da Relação do Porto de 6
de Março de 1991, CJ, 1991, t. II, p. 287). * Os vícios do artº 410º, nº 2, do CPP têm de
M. Miguez Garcia. 2001
911
resultar do texto da decisão recorrida por si só ou conjugada com as regras da
experiência comum. Não há violação do artº 131º, nº 2, do CPP, quando o tribunal
depois de ouvir a ofendida — menor de 15 anos de idade — constata que a mesma é
portadora de algum atraso mental, mas, apesar disso, não tem dúvidas sobre a
credibilidade do seu depoimento em julgamento (ac. do STJ de 25 de Setembro de
1996, processo nº 48328/95 3ª Secção, Internet).
II. Dano, ofensa à integridade física, roubo, sequestro / rapto, violação,
coacção sexual. Concurso. Comparticipação.
• CASO nº 38A: No dia 3 de Setembro de 1993, pelas 2 horas, A e D, tapando os seus
rostos com camisolas, dirigiramse para local onde habitualmente costumam
permanecer casais no interior dos veículos automóveis. Aí chegados, e depois de
voluntariamente causarem danos em dois automóveis e agredirem os respectivos
ocupantes, dirigiramse para junto do veículo onde se encontravam I e sua namorada
J. De imediato, com paus, começaram a bater em diversas partes do automóvel,
partindo os vidros e amolgandoo. Em seguida aproximaramse do I e da J, que se
mantinham dentro do veículo, e de imediato puxaramnos para fora do veículo, ao
mesmo tempo que os sovavam com os paus que traziam. Aí arrastaramnos pelos
cabelos para um local mais isolado. Chegados aí, disseram à J que queriam dinheiro
para ir para Espanha. Esta respondeu que tinha algum dinheiro no veículo
automóvel. O A levoua então para junto da viatura e aí apropriouse de 83 contos.
Ainda junto do veículo, o A arrancou à J todo o ouro que aquela consigo trazia.
Regressados o A e a J para junto do I e do arguido D, os arguidos repartiram entre si
o ouro e o dinheiro, integrandoo no seu património. Enquanto o A se apropriava do
dinheiro, a J tentou tirarlhe a camisola da cara para ver se o conhecia. Como resposta
o arguido deulhe uma paulada na cabeça. Durante o tempo que o A e a J foram ao
veículo, o arguido D "mantinha em respeito" o I, evitando que ele reagisse. Estando
de novo todos juntos, o A, pela força, rasgou todas as roupas da J e com ela manteve
relações de cópula completa. Enquanto isso, o D batia no I, uma vez que estava a
reagir à prática do acto a que estava a assistir. De repente surgiram luzes de veículo
M. Miguez Garcia. 2001
912
automóvel e os dois arguidos agarraram o I e a J pelos cabelos e levaramnos para um
local mais escondido. Aí chegados, obrigaram o I e a J a deitaremse no chão em cima
de arbustos e silvas, dizendo que se deveriam manter calados, senão matariam a J,
afogandoa. Afastou, então, o D a J de perto do seu namorado e com ela manteve
relações sexuais de cópula completa. O A aproximouse dos dois e começou a ferrar
os seios da J. Como a J gritasse, ameaçaramna de que lhe cortariam os seios com uma
navalha. Enquanto isto sucedia, o namorado da J era mantido à distância, sob a
ameaça de que a matariam se ele reagisse. Nesta altura o I não via o que os arguidos
faziam com a J. E sempre que o I tentava reagir os arguidos batiam na J. Após as
relações sexuais mantidas pelo D com a J os arguidos levaramna novamente para
junto do namorado, que se mantinha deitado no solo. Abandonaram então o local. Cf.
o acórdão do STJ de 8 de Março de 1995, BMJ445101.
Punibilidade de A e de D, relativamente às pessoas de I e J?
• 1. Crime de dano (eventualmente agravado): com paus, começaram a bater em diversas
partes do automóvel, partindo os vidros e amolgandoo.
• 2. Crimes de ofensas à integridade física: aproximaramse do I e da J e de imediato
puxaramnos para fora do veículo, ao mesmo tempo que os sovavam com os paus
que traziam; depois arrastaramnos pelos cabelos para um local mais isolado;
paulada na cabeça da J; depois, enquanto o A mantinha relações sexuais com a J, o D
batia no I, uma vez que estava a reagir à prática do acto a que estava a assistir.
Sempre que o I tentava reagir os arguidos batiam na J.
• 3. Crime de roubo: a J foi levada para junto da viatura e aí foramlhe tirados 83 contos,
ficando sem o ouro que trazia consigo.
• 4. Crimes de sequestro / rapto: com paus, começaram a bater em diversas partes do
automóvel, partindo os vidros e amolgandoo; em seguida aproximaramse do I e da
J, que se mantinham dentro do veículo, e de imediato puxaramnos para fora do
veículo, ao mesmo tempo que os sovavam com os paus que traziam; aí arrastaram
M. Miguez Garcia. 2001
913
nos pelos cabelos para um local mais isolado; durante o tempo que o A e a J foram ao
veículo, o arguido D "mantinha em respeito" o I, evitando que ele reagisse.
• 5. Crimes de violação: estando de novo todos juntos, o A, pela força, rasgou todas as
roupas da J e com ela manteve relações de cópula completa. De repente surgiram
luzes de veículo automóvel (...) afastou, então, o D a J de perto do seu namorado e
com ela manteve relações sexuais de cópula completa.
• 6. Crime de coacção sexual: o A aproximouse dos dois e começou a ferrar os seios da J.
Terão os sequestros autonomia em relação aos crimes de violação e de
coacção sexual? A e D serão responsáveis por uma única infracção ou por uma
pluralidade de infracções?
• Indicações para a solução: (seguindose o acórdão de 8 de Março de 1995) no sequestro /
rapto tutelase a chamada "liberdade ambulatória", a capacidade de cada um se fixar
ou movimentar livremente no espaço físico, contra a ilícita restrição, por qualquer
forma ou medida temporal, desse direito. Como diz Nelson Hungria, o sequestro é a
"arbitrária privação ou compressão da liberdade de movimentação no espaço", e "o
que a lei penal protege, na espécie, particularmente é a liberdade pessoal de
movimento da pessoa no âmbito espacial que a lei lhe assegura [...] o direito de ir ou
vir, ou escolher o lugar onde se quer ficar". Bem diferente é a tutela da liberdade
sexual, que apresenta certas especificidades em relação ao conceito geral de liberdade
pessoal, entendido geralmente como a liberdade de deslocação e de movimentos —
tutelada pela incriminação das ameaças, da coacção, do sequestro, entre outros — que
derivam do facto de a sexualidade constituir um dos domínios mais relevantes da
vida dos indivíduos e que melhores perspectivas de autorealização pessoal lhes
possibilita. A plasticidade do instinto sexual faz com que o livre exercício da
sexualidade revista uma importância fundamental para o desenvolvimento da
personalidade individual, justificando assim a sua especificidade no seio dos crimes
contra a liberdade em geral (vd. K. Natscheradetz, O Direito Penal Sexual, Conteúdo
e Limites, p. 156 a 158). Daqui se conclui que se A e D praticam factos integradores do
M. Miguez Garcia. 2001
914
crime de sequestro / rapto (artigo 158º / 160º) e do crime de violação (artigo 164º)
estamos perante uma pluralidade de infracções e não em presença de uma única
infracção — as referidas disposições legais protegem interesses ou bens jurídicos
distintos. Cf. o artigo 30º, nº 1, do Código Penal.
Serão A e D responsáveis, cada um deles, por um só crime de violação?
• Indicações para a solução: (seguindose o acórdão de 8 de Março de 1995) cada um dos
arguidos cometeu dois crimes de violação, em concurso real, pois a relação sexual
violenta pode resultar do constrangimento ao acto em favor de terceiro, que é outra
das modalidades que o crime pode assumir. Reparese que, face à conduta de A e D,
sempre o namorado da J ficou manietado por um dos arguidos enquanto o outro
violava a J, estando assim esta (e aquele) impossibilitada de resistir. Como bem se diz
no acórdão do STJ de l de Julho de 1987, BMJ369325), "tendo A e B mantido cópula,
sucessivamente, com a ofendida, por meio de violência, colocandoa na
impossibilidade de resistir e constrangendoa, cada um deles, e de comum acordo
entre si, a manter cópula com o outro, é cada um autor de dois crimes de violação, em
concurso real". A acção típica desdobrase na dupla modalidade: ter cópula ou
constranger a ter cópula com terceiro, pelo que é autor quem realiza essa acção em
qualquer das duas modalidades apontadas. Tornaramse assim os arguidos "autores"
do referido crime ao manterem em tais circunstâncias cópula sucessiva com a
ofendida. Por outro lado, cada um dos arguidos de comum acordo tomou parte
directa na execução do crime pelo outro cometido, assumindo a qualidade de "co
autor" (artigo 26º do Código Penal). Hoje, porém, perante a redacção do nº 1 do artigo
201º [164º, nº 1] do Código Penal não se faz mister recorrer ao conceito de
comparticipação criminosa para punir, como autor, quem constrange a mulher a ter
cópula com terceiro, mediante os meios descritos nesse número, porquanto esse
constrangimento preenche o tipo de crime em causa.
Será caso de continuação criminosa na actuação de A e D?
• Indicações para a solução: (seguindose o acórdão de 8 de Março de 1995) face às ditas
condutas dos arguidos, estamos em presença não de uma única infracção, mas de
M. Miguez Garcia. 2001
915
uma pluralidade de infracções. De modo algum se pode sufragar a ideia da existência
de um crime continuado. O nº 2 do artigo 30º do Código Penal estabelece que
constitui um só crime continuado a realização plúrima do mesmo tipo de crime ou de
vários tipos de crime, que fundamentalmente protejam o mesmo bem jurídico,
executada por forma essencialmente homogénea e no quadro da solicitação de uma
mesma situação exterior que diminua consideravelmente a culpa do agente. Ora, bem
evidente se torna que no caso presente não se vê que A e D tenham agido por este
último modo, isto é, que cada acto das suas condutas tenha sido precedido da
renovação da respectiva motivação ou resolução criminosa, resultante de uma
situação exterior, que tenha enfraquecido a sua vontade e facilitado a sucessiva
sucumbência, diminuindolhe a capacidade de resistência para se determinarem
conforme ao direito.
Vem a propósito aludir ao conceito de "violência" nos crimes sexuais:
• Há violência "sempre que o crime seja praticado contra ou sem a vontade da vítima". Ac.
da Rel de Coimbra de 12 de Janeiro de 1996, CJ, 1996, tomo I, p. 37]. * A passividade
gerada por um trauma físico ou psíquico ou pelo convencimento da inutilidade do
oferecer ou do prolongar da resistência ao acto sexual que não se quer manter, é
suficiente para a verificação do elemento violência ínsito no crime de violação. 1712
1998 Proc. n.º 1033/98. * Achase preenchido o conceito de violência física para os fins
do artigo 201.°, n.° 1, do Código Penal, quando a ofendida, menor de quinze anos de
idade, foi coagida à prática de cópula pela mãe e por um homem de 32 anos de idade,
agindo concertadamente e não hesitando em recorrer à força para lhe anularem a
vontade, não podendo exigirse ou esperarse da ofendida mais defesa contra um
acto que não queria. Comunicouse ao réu a agravação resultante de a sua coré ser
mãe da ofendida (artigo 208.°, alínea a), do C. Penal) circunstância que ele não
desconhecia—artigo 28.°, n.° 1, do C. Penal (ac. do STJ de 27 de Novembro de 1991,
BMJ411303). * É obtido sob coacção moral o consentimento para a prática de
relações sexuais de uma menor de 12 anos, a quem o arguido, para o conseguir,
ameaça revelar ao pai desta um seu relacionamento sexual anterior, bem como o
M. Miguez Garcia. 2001
916
conteúdo de conversas telefónicas sobre o mesmo assunto, e por si ilicitamente
gravadas, de modo a deixála receosa quanto à possível atitude do progenitor, e de
modo a que a menor só presta aquele consentimento para evitar essa possível atitude
do pai. As relações sexuais obtidas mediante o recurso a essa coacção moral
correspondem à prática do crime de violação, do artigo 201.° do Código Penal, e a
punir nos termos do artigo 208.°, n.° 3, do mesmo diploma se daquelas tiver resultado
a gravidez da ofendida. O crime de gravação ilícita (artigo 179.° do C. Penal) não é
consumido pelo de violação quando as gravações ilicitamente feitas sejam utilizadas
como um dos meios de uso de coacção moral para se conseguir a prestação do
consentimento da ofendida (ac. da Relação de Évora de 2 de Julho de 1991, CJ, 1991, t.
IV, p. 318).
E vem a propósito referir que em certos casos o crime de violação
consome o crime de ofensa à integridade física — quando o uso dessa
violência física não seja desproporcionado ao objectivo da violação.
• * O crime de violação consome o crime de ofensas corporais voluntárias cometido pelo
agente na pessoa da ofendida, mas apenas na medida em que o uso dessa violência
física não seja desproporcionado ao objectivo da violação. Sendo desproporcionado o
uso dessa violência, o crime de ofensas corporais voluntárias autonomizase e existe
concurso real de infracções (ac. da Relação de Coimbra de 18 de Outubro de 1989,
BMJ390474). * Se a valoração da ofensa corporal como meio utilizado de execução
do crime de violação esgotar a sua apreciação jurídica, haverá somente o crime de
violação, ac. do STJ de 8 de Maio de 1997, BMJ467275.
III. Violação. Comparticipação. Agravação.
• CASO nº 38B: Eva trouxe a sua filha A, de 15 anos, até certo lugar, onde a Eva
apresentou a A ao F que ali se encontrava a aguardálas de acordo com plano
previamente concertado com a Eva. De seguida entraram os três para o automóvel do
F. A A ainda tentou resistir às insistências da mãe para entrar no carro mas acabou
por entrar, na sequência de ser sido empurrada pela Eva. Uma vez no interior do
M. Miguez Garcia. 2001
917
automóvel e fechadas as portas pelo F, a Eva disse à A que iria copular com o F e que
por isso iria receber dinheiro. Logo após, a Eva saiu subitamente do carro e o F
imediatamente pôlo em marcha. A A insistiu com o F para que este parasse e a
deixasse sair mas o F prosseguiu sempre a marcha do veículo até um local ermo,
junto a um pinhal. Aí o F, no interior do veículo segurou os braços da A ao mesmo
tempo que lhe disse para estar quietinha que lhe dava 5 contos. Perante a recusa dela
mantevea manietada utilizando a sua força muscular, fazendoa ter a noção da
inutilidade de qualquer resistência, e retiroulhe as cuecas, após o que introduziu o
seu pénis erecto na vagina da A, assim mantendo cópula completa com a menor. Em
seguida regressaram para junto da Eva que os aguardava nas imediações do quartel
desta cidade. Cerca de quatro dias mais tarde a Eva levou de novo a A até ao mesmo
local. Aí chegados a Eva obrigou a A a entrar no veículo do F que no local se
encontrava aguardandoas. Fêlo nomeadamente dando pontapés à A. O F de
seguida conduziu o veículo até terrenos desabitados. Aí chegados e contra a vontade
da A o F tiroulhe as cuecas e retirando o seu pénis erecto das calças introduziuo na
vagina da A, acabando por ejacular no interior do órgão sexual desta. A A tinhalhe
afirmado previamente que não queria ter relações sexuais com ele mas o F não fez
caso de tal propósito e, utilizando a sua força muscular ao tirar as cuecas da A fêla
ter a noção da inutilidade de qualquer resistência. Já há algum tempo que a Eva vinha
a propor à A que esta se dedicasse à prostituição, e como a filha não aceitasse apesar
de a Eva lhe criar a expectativa de largos proventos e de uma vida desafogada, a Eva
espancavaa com frequência com o propósito de a amedrontar e de lhe diminuir a sua
resistência. Os espancamentos referidos repetiramse antes e depois de cada uma das
duas vezes que a menor foi pela mãe conduzida ao Fernando, porquanto a menor
sempre manter repúdio pelos referidos propósitos da mãe e pelas aludidas relações
sexuais. Os encontros do F com a A foram previamente combinados entre o F e a Eva,
com o total desconhecimento da A. O F e a Eva combinaram os dois encontros para
satisfazer as paixões lascivas daquele. Os réus actuaram concertadamente no
propósito de anularem a resistência moral da A e na expectativa de verem facilitados
M. Miguez Garcia. 2001
918
e repetidos os aludidos encontros bem sabendo que empreendiam conduta
penalmente punível.
"A maior parte dos violadores são homens, mas se a vítima é constrangida à cópula "com
terceiro", a autoria do crime pode ser atribuída a uma mulher". Maria Margarida Silva
Pereira, Sub judice / ideias, 11, 1996, p. 22.
Punibilidade de Eva e de F?
Indicações para a solução: Eva e F foram condenados como coautores
materiais, em concurso real, de dois crimes de violação agravados (à data dos
factos: artigos 201º e 208º, nº 1, a), do Código Penal de 1982). Cf. o acórdão do
STJ de 27 de Novembro de 1991, BMJ411303.
Terá havido violência por parte de F?
• Indicações para a solução: (seguindo o acórdão) a violência física pressuposta pode ter
lugar em qualquer momento do iter criminis e apenas se exige que tenha sido
decisiva para anular a vontade do agente passivo e produzirIhe a convicção de que é
inútil oporselhe. Como escreveu o Prof. Beleza dos Santos (RLJ, ano 57.°, p. 317 e
ss.), "Parece poder concluirse que, além de outros casos, há violência ou
constrangimento físico para efeito de subsunção ao preceito do artigo 393º do Código
Penal (de 1986, entendase) quando a mulher cessou a resistência inicial mas foi posta
pelo agente em situação tal que seria inútil continuar a resistir. O consentimento para
a cópula não é relevante, quando não é livre." Além disso, a Eva maltratou a filha
para que ela cedesse à sua vontade e à do F; além disso, os factos ocorreram em lugar
ermo, sem possibilidade de socorro e a ofendida apenas contava quinze anos, o que
tudo bem explica como esta teve de ceder a manter relações sexuais de cópula que
não queria.
• * É obtido sob coacção moral o consentimento para a prática de relações sexuais de uma
menor de 12 anos, a quem o arguido, para o conseguir, ameaça revelar ao pai desta
um seu relacionamento sexual anterior, bem como o conteúdo de conversas
M. Miguez Garcia. 2001
919
telefónicas sobre o mesmo assunto, e por si ilicitamente gravadas, de modo a deixála
receosa quanto à possível atitude do progenitor, e de modo a que a menor só presta
aquele consentimento para evitar essa possível atitude do pai. As relações sexuais
obtidas mediante o recurso a essa coacção moral correspondem à prática do crime de
violação, do artigo 201.° do Código Penal, e a punir nos termos do artigo 208.°, n.° 3,
do mesmo diploma se daquelas tiver resultado a gravidez da ofendida. O crime de
gravação ilícita (artigo 179.° do C. Penal) não é consumido pelo de violação quando
as gravações ilicitamente feitas sejam utilizadas como um dos meios de uso de
coacção moral para se conseguir a prestação do consentimento da ofendida (ac. da
Relação de Évora de 2 de Julho de 1991, CJ, 1991, t. IV, p. 318).
Deverá ser agravada a conduta da mãe?
Indicações para a solução: parece que isso é indiscutível (cf. agora o
disposto no artigo 177º, nº 1, a). A agravação, quando ocorre, é — em função da
relação do agente com a vítima (ascendente, descendente, etc.); — da idade da
vítima (menor de 14 anos, nos casos em que haja violência ou acto equiparado);
— da circunstância de o agente ser portador de doença sexualmente
transmissível, não sendo necessário que haja transmissão, mas exigese a culpa
do agente: cf. com as infracções de perigo; — de um certo resultado dos
comportamentos típicos (gravidez, ofensa à integridade física grave,
transmissão de vírus de SIDA ou de formas de hepatite que criem perigo para a
vida, suicídio ou morte da vítima). Alguns destes casos podem provocar dano
especialmente grave, como no caso da sida. No nº 5 prevêse um regime de
absorção agravada, que só funciona no concurso entre circunstâncias previstas
no artº 177º (Maia Gonçalves: havendo concurso entre circunstâncias previstas
em dispositivos de outros artigos e circunstâncias previstas no artº 177º
funcionará o regime de acumulação entre as primeiras e, seguidamente, o
regime de absorção agravada. Suponhase o caso de o agente praticar cópula
com uma adoptada inconsciente, aproveitandose deste estado e sendo ele
portador consciente de SIDA. Cf. o regime geral do artº 71º.
M. Miguez Garcia. 2001
920
E a agravação deverá comunicarse ao F?
• Indicações para a solução: em situações de comparticipação em factos cuja ilicitude
dependa de qualidades ou relações especiais do agente, como será aqui o caso, basta
que um deles as detenha para que a pena aplicável se estenda a todos os outros. Para
a Profª Teresa Beleza (Ilicitamente comparticipando), no artigo 28º podem ser
abrangidas as situações de coautoria em que só um (só alguns) dos coautores
tenha(m) as qualidades ou relações especiais exigidas no tipo específico (próprio ou
impróprio). Como se sabe, o artigo 28º veio permitir que a punibilidade de qualquer
comparticipante portador de qualidades ou relações especiais se comunique aos
restantes agentes da comparticipação. Mesmo que seja o partícipe (instigador ou
cúmplice) a exibir a circunstância especial, a punição pode transmitirse ao autor
“leigo”.
Haverá dois crimes de violação ou um só crime continuado?
• Indicações para a solução: para que houvesse crime continuado, seria necessário, segundo
o acórdão, que refere o artigo 31.°, n.° 2, do Código Penal, que os factos ilícitos
tivessem sido praticados no quadro de uma mesma solicitação exterior, que
diminuísse a culpa do agente, e a verdade é que nada de exógeno se topa neste caso
como havendo pressionado os protagonistas a cometerem o crime de que vêm
acusados e porque foram condenados. * Se a conduta do agente nos revela que em
cada actuação houve um renovar da sua resolução criminosa, estamos perante a
prática de vários crimes, excepto se esse renovar do propósito criminoso for devido a
uma situação exterior ao agente que facilite a renovação da resolução dentro de uma
certa conexão temporal, tudo a revelar diminuição da culpa, caso em que se perfila a
figura do crime continuado. Tendo sido provado que após ter esfregado o seu pénis
erecto na vagina da ofendida até ejacular o arguido voltou, nas mesmas
circunstâncias, a esfregar o pénis na vulva da menor até, mais uma vez, ejacular, fica
assente uma pluralidade de resoluções criminosa. Não se demonstrando que a
segunda relação tivesse sido determinada por uma situação exterior ao agente que
M. Miguez Garcia. 2001
921
lhe facilitasse a execução, fica afastada a continuação criminosa (ac. do STJ de 12 de
Janeiro de 1994 12/01/94, CJ, Acs. STJ, ano II, t. 1, p. 190).
A Eva terá mesmo cometido (dois) crimes de violação?
• Indicações para a solução: (segundo o acórdão) recordese que, relativamente à execução,
propriamente dita, não é indispensável que, cada um dos agentes intervenha em
todos os actos a praticar para a obtenção do resultado pretendido, bastando que a
actuação de cada um, embora parcial, seja elemento constante do todo e
indispensável à produção do resultado. Na verdade, o que importa, em sede de co
autoria, de acordo com o artigo 26.°, é a "... a existência da consciência e vontade de
colaboração de várias pessoas na realização de um tipo legal de crime juntamente
com outro ou outros, sendo evidente que na sua forma mais nítida tem de existir um
acordo prévio — podendo mesmo ser tácito — que tem igualmente de se traduzir
numa contribuição objectiva conjunta para a realização conjunta". Cf. Faria Costa, em
Jornadas de Direito Criminal, págs. 169; E. Correia, Direito Criminal, vol. II, p. 136, e
Mezger, Tratado, vol. II, p. 306. A Eva, de acordo com o F, apresentou a este a filha
para que ele com ela copulasse; perante a recusa da A bateulhe para que ela entrasse
no carro daquele; recebeu dinheiro — em troca das cópulas que por sua iniciativa a
filha teve, com o seu coréu; incitoua frequentemente a que se prostituísse como
modo de vida; espancou a filha com frequência, antes e depois das cópulas que
aquela manteve com o F e assim procedia no propósito de a amedrontar e de lhe
diminuir a resistência moral; actuou concertadamente com o F no propósito de
anularem a resistência moral da A e na expectativa de verem facilitados e repetidos
os encontros com aquele.
Vejase outro caso aparentado com o caso nº 38B: crimes de mão própria
/ crimes específicos.
• Na sentença decidiuse, acertadamente, que, além de outros, tinham sido cometidos, em
coautoria e na forma continuada, dois crimes de atentado ao pudor. Em sede de
matéria de facto vem assente que a arguida é mãe das menores ofendidas. Portanto é
indiscutível que aqueles crimes por ela praticados são agravados. No nº 1 do artº 28º
M. Miguez Garcia. 2001
922
do CP referese que se “se a ilicitude ou o grau de ilicitude do facto dependerem de
certas qualidades ou relações especiais do agente” basta que estas se verifiquem num
dos comparticipantes para que a pena seja aplicável a todos eles. Maia Gonçalves
salienta que essas qualidades são as exigidas pelo tipo de crime e fazem que o círculo
dos seus possíveis autores seja restrito a quem as possui. Como exemplo de relações
dessa natureza indica as relações familiares entre descendente e ascendente e salienta
que nos casos previstos no artº 28º, nº 1, a prática da factualidade que preenche o tipo
legal de crime pelo detentor dessa qualidade ou relações origina os chamados crimes
específicos próprios ou impróprios consoante fundamentam a ilicitude do facto ou
apenas a fazem variar agravandoa ou atenuandoa. Quer dizer, só as pessoas que
detenham essas qualidades ou relações preenchem o tipo legal de crime. É delas que
depende a ilicitude ou o seu maior ou menor grau e situamse portanto no plano da
ilicitude e não no da culpa. Por isso é que se entende que essas qualidades ou relações
pessoais são comunicáveis. No caso em análise o grau de ilicitude dos crimes de
atentado ao pudor praticados pela coarguida Maria é agravado porque entre ela e as
ofendidas existe a mencionada relação de parentesco. Deste modo e estando apenas
excluídos pela parte final do artigo 28º, nº 1, os chamados “crimes de mão própria” e
não aqueles crimes específicos — a agravante comunicase ao coarguido Fernando.
Cf. o acórdão do STJ de 9 de Fevereiro de 1995, CJ, Acs. do STJ, III, tomo 1, 20. Uma
das questões que aqui se colocam é a de saber se os crimes sexuais serão crimes de
mão própria (crimes de mão própria são aqueles que, em princípio, só podem ser
cometidos em autoria directa e imediata, ex., 405º CP82; cf. o nº 1 do artigo 28º).
Ainda, com indicações sobre o crime de mão própria, cf. o acórdão do STJ de 20 de
Março de 1991, BMJ405209; e o ac.do STJ de 18 de Outubro de 1989, BMJ390142.
IV. Rapto e tentativa de violação. Desistência. Coacção sexual.
• CASO nº 38C: A é vizinho de B. Usando a força, A, com o propósito de manter relações
sexuais completas de cópula com B, agarrou a ofendida, traçoua pelas costas,
empurroua, arrastandoa à força desde a casa dela para o interior da sua. Já no
interior da casa de A, este atirou B para cima da cama do seu quarto de dormir,
M. Miguez Garcia. 2001
923
deitouse sobre ela, desapertou as calças, baixou as cuecas e puxou as saias dela, de
forma a deixar à vista a zona pubiana. Depois apontou o seu pénis erecto na direcção
da vagina da ofendida, roçando com ele na área dos grandes lábios. A deuse então
conta do disparate que estava a fazer e, desistindo do seu plano de manter relações
de cópula completas com B, pediulhe que o desculpasse. B retirouse em pranto e
humilhada com o comportamento do vizinho de quem se queixou.
Punibilidade de A?
Indicações para a solução: A cometeu um crime de rapto (artigo 160º, nº 1,
b), na medida em que, por meio de violência, levou a B da casa desta para a sua
com a intenção de cometer crime contra a liberdade e autodeterminação sexual
da vítima. O comportamento de A integra ainda o crime do artigo 164º, nº 1,
mas na forma tentada. A resolvera manter cópula completa com B por meio de
violência e praticou actos de execução do crime que decidiu cometer (artigo 22º,
nºs 1 e 2). A desistiu relevantemente, pelo que a tentativa de violação deixa de
ser punível (artigo 24º, nº 1). Fica no entanto espaço para a punição pelo crime
de coacção sexual 163º, nº 1, que se consumou. (Outros casos de desistência da
tentativa de violação em Conimbricense, p. 474, cuja leitura vivamente se
recomenda, mesmo para além do que se transcreve a seguir).
Cf. a opinião do Prof. Jorge de Figueiredo Dias, Conimbricense, p. 474, nos
casos de concurso entre tentativa de violação e de coacção sexual: Se a violação
ficar pelo estádio da tentativa a punibilidade por coacção sexual pode persistir
(hipótese de concurso legal, não de concurso efectivo). Em abstracto, a tentativa
de violação é menos punida que a coacção sexual consumada e não existem
razões para que se dê nesta hipótese prevalência ao crime de violação, tanto
mais quanto o crime de coacção sexual funciona aqui como tipo fundamental.
Ao menos em via de princípio deverá o agente ser punido pela coacção sexual
consumada.
E se — ainda no caso nº 38C — B viesse a desistir da sua queixa contra o
vizinho? * Se o rapto for seguido de violação, haverá concurso de crimes. No
caso de ter havido desistência de queixa pela violação, tal concurso não se
verifica, mas nem por isso deixará de haver perseguição criminal pelo rapto (ac.
do STJ de 16 de Maio de 1996, CJ, ano IV (1996), t. II, p. 182).
M. Miguez Garcia. 2001
924
• Outras indicações: Violação: tentativa, consumação. * Comete apenas o crime de tentativa
de violação o arguido que agarrou a ofendida por um braço, tapoulhe a boca para
que não gritasse, ameaçoua com uma navalha e, sem a largar da mão, a encaminhou
para um trilho marginal à estrada, em direcção a uma mata, para ponto afastado 20 a
30 metros e ali a procurou violar (ac. do STJ de 24 de Junho de 1992, CJ, 1992, t. 3, pág.
50). * Já são actos de execução os praticados anteriormente à prática das relações
sexuais que preencham o elemento violência ou sejam idóneos a causar o resultado
típico (ac. do STJ de 18 de Outubro de 1989, CJ, 1989, t. IV, p. 17. * Comete o crime de
violação, na forma tentada, aquele que, com o intuito de manter, pela força, relações
sexuais com a vítima, contra a vontade desta, pratica, em situação de estreita conexão
temporal entre acção e resultado procurado e de acordo com o plano concreto que se
propõe realizar, os seguintes factos: a) força a vítima a deitarse sobre duas cadeiras
sem braços, apalpalhe os seios e puxalhe, violentamente as meias e as cuecas; b) de
seguida, com uma das mãos, esfregalhe a vagina, o ventre e as pernas; c) ao tentar
introduzir um dedo na vagina da vítima, esta consegue libertarse e fugir do
escritório do agente; d) porém, este perseguea e forçaa a entrar, de novo, no
escritório, sem no entanto o conseguir, porque a vítima agarrase à porta e consegue
fugir (ac. do STJ, de 1 de Abril de 1992, BMJ416340). * Actos de execução do crime
de violação: ac. Rel de Lisboa de 22 de Outubro de 1991, CJ 1991IV207.
V. Ainda a violação. Punibilidade dos comparticipantes quando um exerce a
coacção e o outro pratica a cópula ou o coito. Coautoria ou autorias paralelas?
• CASO nº 38D: A e B deram boleia a C e ao companheiro desta, D. Em certa altura do
percurso, A e B declararam à C que queriam manter com ela relações de cópula
completas, o que a C recusou. D aproveitou uma paragem do carro e correu a pedir
socorro, mas o condutor arrancou, levando nele a C. Mais adiante pararam e a C
tentou fugir, mas foi agarrada por A e B, que a impediram, pela força, de se defender,
até que ela se estatelou no chão. O A manteve então relações de cópula completa com
a C, ao mesmo tempo que o B a imobilizava. Depois, o B manteve relações da mesma
natureza com a C, em idênticas circunstâncias.
M. Miguez Garcia. 2001
925
Punibilidade de A e B?
Indicações para a solução: O Tribunal condenou A e B como coautores de
dois crimes de violação. O Supremo (BMJ390147) recordou que a violação não
tem o carácter de mão própria: o facto ilícito "em si" não é a cópula (como será,
por exemplo, em crimes de "fornicação" punidos ainda hoje na legislação de
certos estado americanos, mas o forçar uma mulher a ter cópula (hoje em dia
qualquer pessoa a sofer um dos actos típicos do artigo 164º, nº 1). O caso nº 38
D é de coautoria e não de autorias paralelas: cada um dos dois arguidos
praticou em concurso real dois crimes de violação.
Outras indicações: A violação é hoje crime de "penetração" — artigo 164º,
nº 1, onde se equipara a cópula ao coito anal e ao coito oral. O simples contacto
dum órgão corporal com um orifício corporal doutra pessoa, por ex., contacto
do pénis sem penetração vaginal, pode integrar o conceito de acto sexual de
relevo. A "penetração" através de um qualquer objecto pode ser, quanto muito,
acto sexual de relevo, não é acto típico de violação. O "coito" existe apenas,
como bem acentua o Prof. Jorge de Figueiredo Dias, com a penetração do ânus
ou da boca pelo pénis — consequentemente, a violação exige sempre a
intervenção do órgão sexual masculino: é a natureza puramente física do
contacto que especializa este crime face ao da coacção sexual.
• O Código (1998) não acolheu como violação "qualquer forma de penetração" — "toute
penetration" — assumida pelo legislador francês de 1993. Cf. porém a opinião de Rui Carlos
Pereira, Liberdade sexual. A sua tutela na reforma do Código Penal, Sub judice/ideias 11,
1996, p. 45: "A violação deveria ser definida como qualquer penetração sexual por meio de
violência ou ameaça de violência, à semelhança do que sucede no artigo 222.23 do Código
Penal francês. Ao tipificar a "violação", o legislador equipara o "coito anal" à cópula, alargando
o âmbito da incriminação proposta pela Comissão de Revisão, que apenas abrangia a cópula.
Não se vê, porém, o motivo que justifica a discriminação do "coito oral", que constitui uma
violação da liberdade identicamente intensa". Cf. ainda Maria Margarida Silva Pereira, Rever o
Código Penal, Relatório e parecer da Comissão de assuntos constitucionais, Sub judice / ideias,
11, 1996, p. 22: "a ideia tradicional de violação terá alguma coisa a ver com um "processo
estigmatizador de um dos sexos"? (A maior parte dos violadores são homens, mas se a vítima é
constrangida à cópula "com terceiro", a autoria do crime pode ser atribuída a uma mulher).
M. Miguez Garcia. 2001
926
Deverá acolherse antes como violação "qualquer forma de penetração", como fazem os
franceses? "
• No sistema francês, são actos de violação (...) os de penetração bucal (...) ou anal; a
introdução de corpos estranhos no sexo ou no ânus. Podem, aliás, ser cometidos ou
suportados, indiferentemente, por um homem ou por uma mulher. A Gazette du Palais
1986.1.19 trata de um caso de violação cometido por uma mulher; 1987.6.24 trata de um outro
caso em que a vítima era um homem. Constituem violação os actos de penetração anal,
praticados com o dedo ou com cenouras, infligidos pela mãe à filha, para a iniciar sexualmente
(Crim. 27 de Abril de 1994, Bull. Crim. nº 157). É violação "tout acte de pénétration sexuelle, de
quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou
surprise". No artigo 178º do Código Penal espanhol: "el que atentare contra la libertad sexual
de otra persona, con violencia o intimidación, será castigado como culpable de agresión sexual
con la pena de prisión de uno a cuatro años. Artigo 179º: Cuando la agresión sexual consista en
acceso carnal, introducción de objetos o penetración bucal o anal, la pena será de prisión de seis
a doce años."
• O conceito de cópula ficou assim ao abrigo das discussões anteriores às alterações mais
recentes. Anteriormente, dominava na jurisprudência dos tribunais superiores o
conceito médicolegal — introdução, completa ou incompleta, do membro viril na
vagina da mulher. Por ex., "a penetração peniana, ainda que simplesmente vulvar e
sem ejaculação, integrava o conceito de “cópula” previsto no artigo 202º do Código
Penal (ac. do STJ de 14 de Abril de 1993, BMJ426185, e CJ, 1993, tomo II, p. 199).
Hoje, a cópula é apenas a penetração vaginal pelo pénis.
VI. Outras indicações
• Os crimes sexuais e os crimes sem vítima. A descriminalização e a queda da generalidade
das infracções recondutíveis à categoria dos crimes sem vítima. Consistiriam "na
permuta voluntária de bens ou serviços muito desejados, proibida e sancionada por
leis que normalmente não se aplicam e têm, além disso, um papel promotor de
patologias secundárias ou derivadas (Edwin Schur, Crimes Without Victims, 1965, p.
M. Miguez Garcia. 2001
927
169, apud Rui Carlos Pereira, Liberdade sexual...). Ainda, Manuel da Costa Andrade,
Direito Penal e modernas técnicas biomédicas, RDE, ano XII (1986), p. 99; O Novo
Código Penal e a moderna criminologia, Jornadas. Infracções sem vítima são, por ex.,
as relações homossexuais, com consentimento, entre adultos, a pornografia ou a
prostituição. Na maior parte dos países ocidentais, deuse nessa área uma larga
descriminalização. Ao mesmo tempo, os legisladores foramse mostrando cada vez
mais sensíveis às infracções que põem em causa a liberdade de acção de pessoas
particularmente indefesas, em razão de idade, deficiência, doença ou gravidez. Cf. a
Lei nº 65/98, que alterou a alínea b) do nº 2 do artigo 132º, e introduziu a actual
redacção da alínea b) do nº 1 do artigo 155º, entre outras disposições. Nos países
ocidentais, o denominador comum parece ser agora uma sensibilidade acrescida aos
sofrimentos individuais, sensibilidade que se substitui progressivamente aos valores
morais comuns de outrora (cf. Martin Killias, Précis de droit pénal, 2ª ed., 2001, p. 24).
• Haverá medidas para evitar crimes cometidos por homens com impulsos sexuais
doentios? Castração? Castração química? Esteve agendada para o início do ano de
1997 a entrada em vigor na Califórnia da Lei da “castração química”. A experiência
mostra que não existe uma terapia fácil para evitar crimes cometidos por homens
com impulsos sexuais doentios. A reconhecida falta de domínio dessas pessoas não
pode ser combatida como se fora uma infecção. O tratamento pode, porém, ser
orientado tanto no plano físico como no psíquico. As medidas ao alcance dos
psicólogos e dos psicoterapeutas projectamse em múltiplos sentidos. A outra
vertente tem unicamente à sua disposição o instrumento que é a castração. Os
criminosos sexuais que se decidem pela castração podem conseguíla por meios
cirúrgicos ou “químicos”. A castração consiste numa remoção ou neutralização
glandular. Existem produtos, como o “Androcur” (Cyproteronacetato), cujos efeitos
se exercem sobre as hormonas sexuais, e que se utilizam tanto para a castração
química ou hormonal como para o tratamento do carcinoma da próstata. Segundo os
especialistas, para se conseguir uma neutralização eficaz dos impulsos é necessária
uma dose diária de 100 a 300 miligramas de Androcur, que pode ser tomado na
forma de comprimidos ou injectado. O pretendido “apagamento” da líbido aparece
M. Miguez Garcia. 2001
928
por volta da segunda semana, mas, ao contrário da intervenção cirúrgica, a castração
química não é irreversível. Se se deixa de tomar o produto, as hormonas voltam a
produzir os seus efeitos e a líbido ressurge — ao fim de alguns meses, a função estará
completamente restabelecida. Todavia, a castração, cirúrgica ou química, nunca pode
“curar” um criminoso sexual. Nesse sentido, a “bonança” sexual só lhe pode ser dada
com medidas de alcance psíquico. Na Dinamarca, a castração química tem sido feita
na prisão de Herstedverter, mas está sujeita a critérios muito estritos. Só pode
empregarse com o consentimento do preso que, no caso de se lhe submeter, será
libertado, sem ter que cumprir a pena por inteiro. Em muitos estados americanos há
já programas semelhantes de reabilitação dos criminosos sexuais. No Texas, no
Massachusetts e no Wisconsin apareceram entretanto propostas legislativas que
prevêem a castração compulsiva para os reincidentes sexuais. A nova lei da
Califórnia prescreve que o criminoso que cumpriu a pena deve submeterse ainda a
um ano de tratamento com o “DepoProvera”, que é um produto que também entra
na confecção da pílula anticoncepcional feminina e cujos efeitos colaterias se
assemelham por isso aos da menopausa.
• Falando agora de pornografia. E de erotismo. A punição da pornografia não tem lugar no
Código penal, cf. as Actas (nº 25, p. 271. A pornografia só poderia ser entendida
contra menores, não tendo dignidade criminal a relativa a maiores. A consagrarse no
código uma disposição sobre a matéria, o seu objecto teria que assentar na divulgação
e difusão. Diferente é o comércio de objectos pornográficos, que deve ter uma
resposta, mas ao nível de legislação avulsa. Pode verse o DecretoLei nº 254/76, de 7
de Abril, que estabelece medidas relativas à publicação e comercialização de objectos
e meios de comunicação social de conteúdo pornográfico. O DecretoLei nº 647/76,
de 31 de Julho, estabelece normas relativas á exposição e venda de objectos e meios
de conteúdo pornográfico ou obsceno. O parecer nº 36/75, de 10 de Julho de 1975, da
ProcuradoriaGeral da República, BMJ25477, trata da pornografia em jornais e
revistas.
M. Miguez Garcia. 2001
929
• A pornografia. “Constitui, talvez, a manifestação mais imediata da sexualidade, uma vez
que, ao contrário do erotismo, não estabelece mediação entre o espectador e o objecto
do seu desejo. Nada é sugerido, ou sequer revelado; tudo é exibido” (Kristina Orfali,
Um modelo de transparência: a sociedade sueca, in História da vida privada, p. 599). O
filme pornográfico alimentavase, na sua origem, de um narrativa rudimentar e da
repetição do acto sexual. Depois, mantiveramse, por um lado, essas características,
mas adicionaramselhe variantes sexuais e o exercício explícito da violência, que
satisfazem outras formas de prazer. Com o tempo, acentuamse as passagens de
gosto sádico e a pornografia com crianças. Finalmente, divulgamse imagens
pornográficas nas redes de computadores (cf. Linda Williams, “Hard Core”. Macht,
Lust und die Traditionen des pornographischen Films, Stromfeld, 1995).
• O erotismo. “Pode, é certo, objectarse que Eros [que o erotismo] não tem fixação
definitiva, que é sempre descobrimento, revelação, ou, colhendo estas palavras à
letra, é um levantar dos sete véus do pudor, é um desnudamento, quer assuma a
forma de um jogo de situações afectivas e sociais entre homem e mulher, quer seja
um jogo de corpos nus, porque, precisa e necessariamente, algo se esconde sempre de
muito mais importante quando se pretende ter chegado ao descobrir do último véu,
do último pudor, do segredo aparentemente último e, enfim, desnudado [do último
segredo finalmente desnudado]” (Óscar Lopes, Um lugar de nome Aquilino, in Uma
arte de música e outros ensaios, 1986, p. 60); [Um lugar de nome “Aquilino”, in Cifras
do Tempo, 1990, p. 175]; Um lugar de nome Aquilino, in Colóquio, Letras, nº 85, Maio
de 1985, p. 12.
• Um acórdão do Tribunal Constitucional. Deficientes mentais — castração formal? No
acórdão nº 561/95, de 17 de Outubro de 1995, do Tribunal Constitucional (Diário da
República, II série, de 10 de Fevereiro de 1997), o objecto do recurso era a apreciação
da constitucionalidade da norma do artigo 202º, nº 1, do Código Penal de 1982, na
parte em que incrimina a cópula com mulher portadora de anomalia psíquica.
Sustentavase que a norma seria inconstitucional "na medida em que impede e
descrimina os deficientes mentais, seja qual o grau de deficiência de que padecem, de
M. Miguez Garcia. 2001
930
terem vida sexual, levandoos à castracção formal." O artigo 71º da Constituição
dispõe que "os cidadãos física ou mentalmente deficientes gozam plenamente dos
direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na Constituição, com ressalva do
exercício ou do cumprimento daqueles para os quais se encontrem incapacitados".
Segundo o acórdão, só há crime de violação punível nos termos deste artigo (202º, nº
1, do Código Penal de 1982) se a anomalia psíquica for tal que tire à deficiente a
capacidade para avaliar o sentido moral da cópula ou a capacidade para se
determinar de acordo com essa avaliação. Assim sendo, a norma em causa não visa
— nem tem como consequência — impedir toda e qualquer mulher portadora de
deficiência psíquica de ter uma vida sexual normal (isto é, adequada às suas
condições físicas e psíquicas); pelo contrário, visa justamente as situações em que o
consentimento da mulher não existiu, nem podia existir, ou se revela manifestamente
irrelevante. Cf. agora o artigo 165º.
• Um caso de profanação de cadáver * Comete o crime de profanação de cadáver do artigo
226º, nº 2, do CP82 e não o crime de violação aquele que introduz o seu pénis na
vagina da mulher que acabou de matar, bem sabendo que ela estava morta (ac. do STJ
de 26 de Maio de 1993, Simas SantosLeal Henriques, Jurisprudência Penal, p. 447).
• Uma curiosidade: crimes mistos de dolo e negligência. A propósito do erro. F. Dias, in
Ónus de alegar e de provar, RLJ, ano 105º, p. 125 (redacção adaptada): Nos crimes,
absolutamente dolosos, em que a idade da ofendida é um elemento constitutivo, a
falta de representação desta pelo agente conforma um erro sobre a factualidade
típica, erro sobre o tipo, erro de facto ou como quer que prefiramos exprimirnos. A
doutrina absolutamente unânime corre no sentido de que um tal erro exclui o dolo,
por mais censurável que em concreto ele se revele. E não vemos no direito português
vigente o menor ponto de apoio a permitir que se pretenda que uma tal doutrina não
vale para o âmbito dos crimes sexuais, relativamente à idade da ofendida. Já se
defendeu, com boas razões, uma tal excepção, que teve consagração legislativa no
artigo 210º do CP82, segundo o qual, "quando o tipo legal de crime supuser uma
certa idade da vítima e o agente, censuravelmente, a ignorar, a pena respectiva
M. Miguez Garcia. 2001
931
reduzirseá de metade no seu limite máximo". E isso mesmo fazia o artigo 252º do
Projecto Eduardo Correia, ao estatuir do mesmo modo, com o único acrescento de
que a pena nunca poderia exceder dois anos de prisão. Desta forma construiamse
tipos legais essencialmente dolosos mas em que, relativamente a um seu elemento
constitutivo, se deixa valer a mera negligência (crimes mistos de dolo e negligência).
• Violação, sequestro e rapto. No crime de rapto, actualmente previsto no art.º 160, do
CP/95, nem o sujeito passivo tem de ser, necessariamente, uma mulher, nem o fim
libidinoso tem de estar, necessariamente, presente, nem, finalmente, resulta excluída
a possibilidade de aquele se formalizar no próprio lugar em que a pessoa raptada se
encontrava antes da acção do raptor. Imprescindível é que o rapto se realize através
de violência, ameaça ou astúcia e que o agente o realize para atingir um fim
determinado — um ou vários dos enunciados nas als. a) a d), do n.º 1. Da sua
inclusão no capítulo dos crimes contra a liberdade pessoal retirase que, no rapto, a
agressão da liberdade do movimento pessoal do sujeito passivo é, em última análise,
a base fundamental da incriminação. Para além da exigência de que a privação de
liberdade se faça por um daqueles três meios — violência, ameaça ou astúcia — a
intenção do agente de prosseguir qualquer dos fins enunciados naquele normativo —
submeter a extorsão, cometer crime contra a liberdade e autodeterminação sexual,
obter resgate ou recompensa ou constranger a autoridade pública ou um terceiro a
uma acção ou omissão, ou a suportar uma actividade — constitui, em rigor, a
característica genuína do rapto face ao sequestro. Tendo o arguido privado a
ofendida da sua liberdade ambulatória, por meio de violências e ameaças, para
manter cópula com ela, contra sua vontade, impedindoa sempre de sair da viatura e
levandoa, assim, consigo, para um local isolado — distante cerca de 18 Km daquele
em que iniciou aquela privação — onde, sempre pela mesma forma, obrigou a vítima,
efectivamente, a suportar a cópula, aquele, além do crime de violação, cometeu ainda,
em concurso real, não o crime simples de sequestro por que foi condenado, mas, sim,
o de rapto, p. e p. pelo art.º 160, n.º 1, al. b), do CP. Ac. do STJ de 15 de Abril de 1998,
BMJ47682 (com amplas referências doutrinais).
M. Miguez Garcia. 2001
932
VII. Indicações de leitura.
Artigos 113º, nº 5, e 178º, nº 4, do Código Penal: possibilidade de o MP promover o
procedimento criminal, em crimes dependentes de queixa, quando especiais razões de
interesse público [ou o interesse da vítima] assim o exigirem. A intenção de alargar esta
possibilidade a outros casos inserese num movimento mais geral que visa criar
mecanismos de salvaguarda para crimes dependentes de queixa (Damião da Cunha,
RPCC 8 1998, p. 603, que igualmente trata das razões que estarão subjacentes à admissão
da intervenção do MP nestes dois casos).
Acórdão do STJ de 15 de Junho de 2000, CJ 2000, tomo II, p. 226: por acto sexual de
relevo tem necessariamente de considerarse toda a conduta sexual que ofenda bens
jurídicos fundamentais ou valores essenciais das pessoas no tocante à sua livre expressão
do sexo.
Acórdão do STJ de 5 de Abril de 2001, proc. n.º 489/01 5.ª Secção: Decorrendo do art.º
10.º, n.º 2, do CPC, que "os menores cujo poder paternal compete a ambos os pais são por
estes representados em juízo, sendo necessário o acordo de ambos para a propositura de
acções" e intervindo a autora em nome da filha menor, sem que tenha alegado nem
provado que o poder paternal lhe competia exclusivamente, "deve o juiz, oficiosamente e
a todo o tempo" e logo que se aperceba do vício, "providenciar pela regularização da
instância", determinando a notificação do pai para, "no prazo fixado, ratificar, querendo,
no todo ou em parte, o processado anterior, suspendendose entretanto a instância" (art.º
24.º, n.º 2, do CPC). Daquela questão devia o tribunal conhecer se dela pudesse desde
logo conhecer por ocasião do "saneamento do processo" (art.º 311.º n.º 1 e 312.º, n.º 2, do
CPP) ou, como "questão prévia", no momento processual a que se refere o art.º 338.º, n.º
M. Miguez Garcia. 2001
933
1, do CPP. Tendo sido ulteriormente requisitada a certidão de nascimento da menor, não
poderia o tribunal deixar de dela ter conhecido logo que junta tal certidão ou, o mais
tardar, sob pena de "nulidade" (arts. 668.º, n.º 1, al. d) do CPC e 379.º, n.º 1, al. c), do
CPP), na sentença (arts. 660.º, n.º 2, do CPC e 4.º, do CPP). O art.º 113.º, n.º 3, do CP,
"quando dispõe que o direito de queixa pode ser exercido pelo representante legal do
menor de dezasseis anos, remete para o direito civil a determinação de quem é o
representante e do modo como a representação é exercida". Sendo assim, só poderá
dizerse que a queixa foi feita "depois de os dois progenitores se terem posto de acordo
sobre isso, ou depois de o tribunal ter suprido a falta de acordo entre eles, pois que não
se vê razão para afirmar que o direito penal estabeleceu uma excepção às regras do
direito civil, de tal modo que qualquer dos progenitores possa exercer sozinho o poder
paternal, para este efeito" (Guilherme de Oliveira, RLJ 3911/3912, p. 96). Esta ausência
do pai da ofendida levanta a questão que o tribunal deveria ter oficiosamente apreciado
(omissão que implicará nulidade da sentença art.º 379.º, n.º 1, al. c), do CPP) da
eventual ilegitimidade na promoção do processo (art.º 49.º, n.º 1, do CPP), a menos que,
apesar da ausência do pai, o MP tenha dado início ao processo por "especiais razões de
interesse público" ou por imposição do "interesse da vítima" (art.º 178.º, n.º 2, do CP).
Acórdão da Relação do Porto de 10 de Fevereiro de 1999, RPCC 9 (1999), p. 315: os
crimes sexuais, mesmo quando o ofendido é menor de 12 anos, continuam a ser crimes
semipúblicos. Por isso, é relevante a desistência do procedimento criminal, quando o
MP, por considerar que existem especiais razões de interesse público, inicia o processo.
Acórdão da Relação do Porto de 31 de Janeiro de 2001, CJ, 2001, ano XXVI, tomo I, p.
232: uma vez iniciado o procedimento criminal pelo MP pelo crime de abuso sexual de
M. Miguez Garcia. 2001
934
crianças, em virtude de isso ser imposto pelo interesse da vítima menor de 16 anos, o
prosseguimento desse procedimento deixa de estar na disponibilidade do ofendido ou
de quem o representa. Por isso, reunidas as duas apontadas circunstâncias (idade e
interesse da vítima), o crime passa a não estar dependente de queixa; consequentemente,
a mãe da vítima não pode desistir da que, entretanto, apresentou.
Acórdão de 19 de Março de 1996 do Tribunal Colectivo de Cascais, CJ ano XXII (1997),
tomo II, p. 285 ( não faças isso!).
Acórdão da Relação de Lisboa de 2 de Março de 2000, RLJ nºs 3911 e 3912, p. 94:
existindo desacordo dos pais de um menor de 16 anos, qualquer deles pode,
validamente, apresentar queixa, em seu nome, relativamente a crime semipúblico, de
que o mesmo tenha sido vítima. Tem uma anotação do Prof. Guilherme de Oliveira na
mesma Revista, p. 96: quando o artigo 113º, nº 2, do Código Penal dispõe que o direito
de queixa pode ser exercido pelo representante legal do menor de dezasseis anos, remete
para o direito civil a determinação de quem é o representante e do modo como a
representação é exercida. (…) Não vejo razão para afirmar que o direito penal
estabeleceu uma excepção às regras do direito civil, de tal modo que qualquer dos
progenitores possa exercer sozinho o poder paternal, para este efeito.
Acórdão do STJ de 3 de Fevereiro de 1999, BMJ484147: legitimidade do Ministério
Público; falta de condições de procedibilidade.
Acórdão do STJ de 12 de Janeiro de 1955, BMJ47211 (o marido que obriga a mulher, por
meio de violência física, a ter cópula com outros indivíduos é coautor do crime de
violação).
M. Miguez Garcia. 2001
935
Acórdão do STJ de 7 de Julho de 1999, BMJ48995: legitimidade do Ministério Público
para promover o processo quando o direito de queixa não é exercido por quem, para tal,
possui legitimidade.
Acórdão do STJ de 11 de Julho de 2001, CJ, 2001, ano IX, tomo III, p. 163: abuso sexual de
pessoa incapaz (artigo 163º); incapacidade não equivale a inimputabilidade — pode
haver anomalias psíquicas que não relevam em definitivo para a inimputabilidade, mas
devam relevar para efeito de incapacidade de opor resistência ao acto sexual.
A. Boureau, Le droit de cuissage. La fabrication d'un mythe (13e 20e siècle), Paris, A.
Michel, 1995 (sobre o chamado direito da primeira noite, direito de pernada).
ACTAS (1993) Código Penal, Actas e Projecto da Comissão de Revisão, Ministério da
Justiça.
Beleza dos Santos, O crime de violação, Revista de Legislação e de Jurisprudência, anos
57º e 58º.
Carmona da Mota, Dos crimes sexuais, Rev. do Ministério Público, ano 4º, vol. 14.
E. Gimbernat Ordeig, La violación: presente y futuro de la regulación legal, Estudios de
Derecho Penal, 3ª ed., 1990, p. [88].
E. Gimbernat Ordeig, Sobre algunos aspectos del delito de violación, Estudios de
Derecho Penal, 3ª ed., 1990, p. [287].
Fernando Torrão, A propósito do bem jurídico protegido nos crimes sexuais (mudança
de paradigma no novo Código Penal), BFD 71 (1995), p. 545.
Frederico Isasca, O projecto do novo Código Penal (Fevereiro de 1991) uma primeira
leitura adjectiva, RPCC 1 (1993), p. 67 e ss.
M. Miguez Garcia. 2001
936
Georges Vigarello, Violences sexuelles: violences d'aujourd'hui?, "Esprit", Août
septembre 1997.
J. Pinto da Costa, Abuso sexual em menores, Revista de Investigação Criminal, nº 34
(1990).
J. Pinto da Costa, Aspectos médicolegais da violação, Revista de Investigação Criminal,
nº 16 (1985).
J. Pinto da Costa, Responsabilidade médica, Porto, 1996.
J. Pinto da Costa, Sevícias sexuais em menores, in Ao sabor do tempo – crónicas médico
legais, volume I, edição IMLP, [2000].
J. Pinto da Costa, Sexologia forense, in Ao sabor do tempo – crónicas médicolegais,
volume I, edição IMLP, [2000].
Jean Claude Bologne, História do Pudor, Círculo de Leitores, 1996.
Jean Larguier/AnneMarie Larguier, Droit pénal spécial, 9ª ed., Mémentos Dalloz, 1996.
JeanLouis Flandrin, Un temps pour embrasser. Aux origines de la morale sexuelle
occidentale (VIXI siècle), Le Seuil, 1983.
Jorge de Figueiredo Dias / Pedro Caeiro, Crimes contra a liberdade e autodeterminação
sexual, in Pólis.
Jorge de Figueiredo Dias, Crimes contra os costumes, in Pólis, 1º vol., 1983.
Jorge de Figueiredo Dias, Nótula antes do art. 163º e anotações diversas, Conimbricense,
PE, tomo I, 1999.
Jorge de Figueiredo Dias, O Código Penal Português de 1982 e a sua reforma, RPCC, ano
3 (1993), p. 161.
M. Miguez Garcia. 2001
937
Jorge Dias Duarte, Homossexualidade com menores — Artigo 175º do Código Penal,
Revista do Ministério Público, ano 20 (1999), nº 78.
Jorge Dias Duarte, Tráfico e exploração sexual de mulheres, Revista do Ministério
Público, ano 22 (2001), nº 85.
José Damião da Cunha, A participação dos particulares no exercício da acção penal,
RPCC 8 1998.
José Martins Barra da Costa / Lurdes Barata Alves, Perspectivas teóricas e investigação
no domínio da delinquência sexual em Portugal, RPCC 9 (1999), p. 281.
José Mouraz Lopes, Os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual no Código
Penal, após a revisão de 1995, Coimbra, 1995.
José Souto de Moura, SIDA e responsabilidade penal, Revista do Ministério Público, ano
10º, nº 37 (1989).
Karl P. Natscheradetz, O Direito Penal Sexual, Coimbra, 1985.
L’histoire, nº 63, Janvier 1984.
Linda Williams, “Hard Core”. Macht, Lust und die Traditionen des pornographischen
Films, Stromfeld, 1995.
Manuel da Costa Andrade, A Vítima e o problema criminal, separata do vol. XXI do
Supl. ao BFD, Coimbra, 1980.
Manuel da Costa Andrade, Consentimento e Acordo em Direito Penal, p. 382 e passim.
Manuel da Costa Andrade, Sobre a reforma do Código Penal Português — Dos crimes
contra as pessoas, em geral, e das gravações e fotografias ilícitas, em particular, RPCC 3
(1993), p. 427.
M. Miguez Garcia. 2001
938
Maria da Conceição Ferreira da Cunha, Breve reflexão acerca do tratamento jurídico
penal do incesto, RPCC 12 (2002).
Maria do Carmo Saraiva de Meneses da Silva Dias, A propósito do crime de violação:
ainda faz sentido a sua autonomização?, RMP ano 21, Jan / Mar 2000, nº 81.
Maria João Antunes, Sobre a irrelevância da oposição ou da desistência do titular do
direito de queixa (artigo 178º2 do Código Penal). Anotação ao acórdão da Relação do
Porto de 10 de Fevereiro de 1999, RPCC 9 (1999), p. 323.
Marta Bertolino, Libertà sessuale e bluejeans, nota à Cassazione penale de 6 de
Novembro de 1998, in Riv. ital. dir. proc. penale, 1999, fasc. 2.
Muñoz Conde, Derecho Penal, PE, 8ª ed.
Parecer nº 62/95 da PGR, publicado no DR II Série de 8 de Março de 2002: Sexo,
pornografia, espectáculo público, acto sexual de relevo, moral pública, protecção de
menores, licença.
Roger Doublier, Le nu et la loi, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris,
1977.
Rui Carlos Pereira, Liberdade sexual. A sua tutela na reforma do Código Penal, Sub
judice/ideias11, 1996, p. 41.
Stephen J. Schulhofer, Unwanted Sex. The Culture of Intimidation and the Failure of
Law, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1998.
Teresa Pizarro Beleza, “Como uma manta de Penélope”: sentido e oportunidade da
Revisão do Código Penal (1995), Rev. do Ministério Público, As reformas penais em
Portugal e Espanha, cadernos (7), p. 33.
M. Miguez Garcia. 2001
939
Teresa Pizarro Beleza, A regulação jurídica da sexualidade no Código Penal: da
laicização dos "bons costumes" à ortodoxia da "liberdade", Estudos comemorativos do
150 aniversário do Tribunal da BoaHora.
Teresa Pizarro Beleza, O conceito legal de violação, Rev. do Ministério Público, nº 59
(1994), p. 51.
Teresa Pizarro Beleza, Sem sombra de pecado. O repensar dos crimes sexuais na revisão
do Código Penal, Jornadas de direito criminal. Revisão do Código Penal, CEJ, I vol. 1996,
p. 159.
Yves Mayaud, Code Pénal. Nouveau Code Pénal, ancien Code Pénal, 93ª ed., Dalloz,
199596.
M. Miguez Garcia. 2001
940
§ 40º Falsificação de moeda
A fotocopiadora
• CASO nº 40: A e B, falsificadores muito conhecidos, com largo cadastro na polícia,
acabam de ser libertados, depois de cumprirem pena de prisão por vários anos. Na
cadeia já tinham planeado a compra de um novo modelo de fotocopiadora,
acabadinha de aparecer no mercado, e pôrse com ela a fazer notas de cinquenta
euros. As intenções dos dois amigos chegaram aos ouvidos de P, um importante
funcionário policial, que tinha os seus informadores, e que, com base nisso, conseguiu
autorização judicial para colocar sob escuta os telefones dos dois amigos, logo que
estes foram libertados. Foi assim que P interceptou uma conversa de A para B, a dar
lhe notícias do local onde tinha encomendado a fotocopiadora e da data da entrega.
Logo P se pôs em contacto com o fornecedor F, a quem instou a não vender a
fotocopiadora a A e B, dandolhe conta dos desígnios dos dois atrevidos moedeiros
falsos. F, no entanto, não se mostrou permeável às razões de P e logo ali lhe foi
dizendo que “negócio é negócio” e que não queria perder a oportunidade de ganhar
o “seu”. Aliás, entregando a mercadoria, nada mais tinha a ver com ela, e disso estava
bem convencido, acrescentou. Foi assim que, logo a seguir, mandou entregar a
fotocopiadora na casa do A, recebendo o preço devido, como tinham acertado. E tudo
seguiu o seu caminho. A e B, equipados com a soberba fotocopiadora, fizeram nela
uma quantidade considerável de cópias da nota de cinquenta euros que entregaram a
um seu conhecido, M, para que este as pusesse em circulação, como se fossem
verdadeiras, o que M aceitou, conhecendo a proveniência das notas. Já depois disso,
A e B resolveram obsequiar uma sua conhecida, T, e fotocopiaram um passe dos
serviço de transportes urbanos, que ficou “uma beleza”, e que a T aceitou com
entusiasmo, seduzida, inclusivamente, com a vantagem de não ter de pagar as suas
deslocações em autocarro e no comboio suburbano, e divertida com a ideia de
enganar o revisor sempre que lhe mostrasse o passe. Com efeito, logo que se pôs a
M. Miguez Garcia. 2001
941
viajar, ninguém deu fé de que o passe era afinal uma fotocópia, tão perfeita estava.
Crentes de que estavam ricos, e interessados em não deixar rasto da sua actividade, A
e B resolveram então desfazerse da fotocopiadora. A ideia era mandála pelos ares,
com uma bomba, mas como eram gananciosos e completamente desprovidos de
escrúpulos, depois de lhe montarem o explosivo dentro, ofereceram a máquina a G,
por um preço de amigos, que este lhes pagou, ainda que cientes de que a explosão
que se seguisse podia matar o primeiro que se propusesse tirar fotocópias. A morte
do G eralhes, porém, bem vinda, na medida em que ficavam sem um competidor,
pois também G era um conhecido moedeiro falso. P, entretanto, soube que a máquina
estava na posse do G e dirigiuse a casa deste. Como tinha urgência em conseguir
uma cópia de uma nota de cinquenta euros, para entregar no laboratório, P accionou
a fotocopiadora que logo explodiu, matandoo. Cf. Roland Hefendehl, Jura 1992, p.
374.
Punibilidade de A, B, F, M e T ?
A. O recebimento da máquina e o fabrico das notas de cinquenta euros e do
passe.
I. Punibilidade de A e B.
i ) Artigos 26º, 3ª proposição, e 262º, nº 1 (contrafacção de moeda)
A e B, na execução do plano comum e actuando em conjunto, estão
comprometidos com a prática, em coautoria, de um crime do artigo 262º, nº 1,
já que fotocopiaram o original de uma nota de cinquenta euros, reproduzindoa
na máquina que para isso adquiriram. Tratase de moeda, na forma de papel
moeda, que compreende as notas de banco com curso legal em Portugal (artigo
255º, alínea d).
A lei penal previne qualquer forma de contrafacção, a par de outros actos
fraudulentos de fabrico ou de alteração da moeda, que são casos especiais de
falso documental em que o bem jurídico acautelado é a fé pública e a segurança
M. Miguez Garcia. 2001
942
dos meios de pagamento. No crime de contrafacção de moeda exigese que o
moedeiro falso actue com intenção de a pôr em circulação como legítima. Só
assim se lhe seguirá a eventualidade da aplicação da moldura penal de prisão
de 2 a 12 anos. É no entanto preciso que a moeda fabricada tenha aparência de
legítima, de forma a poder confundirse o dinheiro falso com o autêntico,
aquele que tem curso legal, e desse modo conseguir, na circulação do dia a dia,
defraudar qualquer pessoa desprevenida. Mas não se devem colocar
demasiadas exigências quando a tal semelhança, advertem os autores — pode
darse a aparência de legitimidade mesmo quando os destinatários descubram
com certa facilidade a falsificação. Para a jurisprudência alemã, na interpretação
de preceito idêntico ao nosso, o decisivo é apenas a possibilidade, o perigo de a
moeda falsa se confundir com a verdadeira.
A e B actuaram dolosamente, com intenção de entregarem as notas
fotocopiadas ao M, como acabaram por fazer, e assim colocarem as notas falsas
em circulação como se fossem verdadeiras. Para a consumação do crime basta a
intenção, ainda que esta não venha a ser realizada.
A e B cometeram, em coautoria, um crime dos artigos 26º, 3ª proposição, e
262º, nº 1, do Código Penal.
ii ) Artigos 262º, nº 1, e 271º, nº 1, a ) (actos preparatórios)
A e B adquiriram a fotocopiadora para a usarem na contrafacção de moeda.
Todavia, é duvidoso que a fotocopiadora seja um dos instrumentos a que a lei se reporta
na apontada alínea do nº 1 do artigo 271º, que pune quem preparar a execução dos actos
referidos no artigo 262º e em outros que se lhe seguem na estrutura do código.
De qualquer forma, os artigos 262º, nº 1, e 271º encontramse em relação de
concurso aparente: o artigo 271º nunca seria aplicado a A e B.
iii ) Artigos 26º, 3ª proposição, e 256º, nº 1, a) (falsificação de documento)
A e B podem estar igualmente envolvidos na comissão em coautoria de
um crime do artigo 256º, nº 1, alínea a), na medida em que fotocopiaram o passe
dos serviços de transportes urbanos, com intenção de obterem para outra
pessoa benefício ilegítimo. Terá que se tratar de um documento. Segundo o
artigo 255º, alínea a), documento, para efeitos de falsificação, é a declaração (de
vontade ou de ciência) corporizada ou registada, intelegível para a generalidade
das pessoas ou para um certo círculo de pessoas (com o que se cumpre a sua
função de perpetuação), que, sendo idónea para provar facto juridicamente
M. Miguez Garcia. 2001
943
relevante (com o que se cumpre a sua função e destinação probatória, mesmo
que esta só lhe seja conferida em momento posterior ao da emissão), permite
reconhecer o emitente (com o que se cumpre a sua função de garantia
documental, excluindo os casos de anonimato).
As simples fotocópias não são documentos, nomeadamente porque não se
sabe de quem provêm — faltalhes a função de garantia que se exige para o
documento, na medida em que o autor do original se não comprometa com a
sua correspondência com o original.
O Código Civil tem um conjunto de disposições especiais (artigos 380º e ss.) a respeito de
certidões, certidões de certidões, cópias e fotocópias de documentos. Assim, as fotocópias de
documentos arquivados nas repartições notariais ou noutras repartições públicas têm a força
probatória das certidões de teor, se a conformidade delas com o original for atestada pela
forma dita no artigo 387º. Portanto, a cópia certificada de documento cujo original consta de
um processo judicial ou está depositado em cartório notarial tem o mesmo valor do documento
original.
Mas se alguém fabricar documento falso ou falsificar documento, pondo
em circulação o respectivo conteúdo através de uma cópia, fazendo crer que é o
original, não há dúvida que isso corresponde ao que objectivamente se descreve
no nº 1, alínea a), do artigo 256º. A e B, dolosamente, ao comporem, por
fotocópia, o passe mensal, donde parece resultar que a declaração documental
provém dos serviços de transportes urbanos respectivos, ou seja, que estes
serviços são o seu verdadeiro autor — fabricaram um documento que não era
autêntico: o passe fabricado pelos dois amigos não foi emitido pelos serviços
competentes, embora isso pareça derivar da própria fotocópia. Acresce que A e
B actuaram com intenção de obter benefício ilegítimo para outra pessoa e isso
tornouse evidente com o uso que a beneficiária, conscientemente, acabou por
dar ao passe falsificado.
A e B cometeram em coautoria o crime dos artigos 26º, 3ª proposição, e
256º, nº 1, a).
II. Punibilidade de F.
1. Artigos 27º e 262º, nº 1. Cumplicidade na contrafacção de moeda
através do fornecimento da copiadora.
M. Miguez Garcia. 2001
944
Na medida em que F vendeu a fotocopiadora a A e B, temos que averiguar
se isso corresponde a uma forma de cumplicidade na prática de contrafacção de
moeda, punível nos termos dos artigos 27º e 262º, nº 1.
Já vimos que a cargo de A e B se pode afirmar um facto principal ilícito. A
cumplicidade, como forma de participação, segue a regra da acessoriedade
limitada: supõese que outrem realiza uma actividade executiva, pelo menos
típica e ilícita. F estava consciente de que a fotocopiadora se destinava a servir
numa actividade criminosa. P acentuou isso mesmo, ainda que não tivesse dado
pormenores, nem esses pormenores seriam necessários.
Dispõe o artigo 27º, nº 1, que é punível como cúmplice quem, dolosamente e por qualquer
forma, prestar auxílio material ou moral à prática por outrem de um facto doloso.
Objectivamente, a cumplicidade consiste em, por qualquer forma, prestar
auxílio material ou moral à prática por outrem de um facto doloso. Este auxílio
não pode ser entendido como todo e qualquer contributo em favor do crime ou
de quem o comete. Cúmplice é só aquele que presta um contributo real à
actuação do autor, não basta a simples colocação de certos meios para que a
exigência legal de "prestar auxílio" fique preenchida.
In casu, o fornecimento da fotocopiadora é sem dúvida causal do resultado
que veio a verificarse: a contrafacção das notas de cinquenta euros. O
contributo de F é causal, no sentido da teoria das condições. Todavia, repugnará
ao sentimento jurídico de alguns que o comerciante seja punido por vender
uma coisa do seu comércio a um cliente que dela se serve para cometer um
crime por forma plenamente responsável.
Entendese, por outro lado, que para a afirmação da cumplicidade basta
que o resultado criminoso seja favorecido pela acção do cúmplice. Para os
adeptos da teoria do favorecimento, basta que o resultado criminoso seja
facilitado ou favorecido, por qualquer forma, pelo comportamento do cúmplice.
De facto, no artigo 27º, nº 1, a punibilidade do cúmplice não depende da
comprovação, nesse sentido, de uma qualquer relação causal. A prestação de
auxílio é dirigida "à prática" do crime alheio. Consumandose o ilícito, só se
pune o auxílio prestado à actividade criminosa, sem dependência da sua
repercussão no resultado. Faltando o resultado, a cumplicidade é ainda punível,
embora só como cumplicidade no crime tentado. Em suma, o resultado
criminoso, não sendo "obra" do cúmplice, não pode, enquanto tal, serlhe
M. Miguez Garcia. 2001
945
imputado — a punibilidade do cúmplice não está dependente das relações
causais que se suscitem no âmbito da autoria. Em geral, poderá sustentarse que
o auxílio relevante para a cumplicidade é só aquele que, comprovadamente,
aumentou o risco para a vítima e, consequentemente, as possibilidades de
sucesso do criminoso. Só quem dolosamente melhora as condições de êxito do
criminoso e aumenta o risco da vítima é que participa numa agressão ao bem
jurídico. Consequentemente, só será cúmplice quem com o seu auxílio
possibilitar ou intensificar a lesão do bem jurídico ou facilitar ou assegurar a
prática do crime, desde que esse papel se não integre na (co)autoria ou na
instigação. E esse auxílio pode acontecer "por qualquer forma", dando
conselhos ou actuando, tanto faz — a lei não especifica os meios que podem
constituir um auxílio material (arranjar uma ferramenta, proporcionar uma
ocasião favorável ou o transporte para o local do crime, ou ficar a vigiar,
enquanto esta actuação não signifique uma parcela da execução do crime) ou
moral (o remover dos últimos escrúpulos do ladrão relativamente à planeada
actuação, o dar conselhos sobre a forma de agir no local, a promessa dum álibi,
o cimentar da decisão criminosa, a garantia de ajuda por ocasião da fuga
proporcionando alimentação ou abrigo).
Questão controversa é esta que temos entre mãos, a de saber se um
comportamento corrente, idêntico a tantos outros do dia a dia — por ex., a
venda dum veneno para ratos ou duma faca numa loja comercial, sabendo o
vendedor que o objecto vai ser utilizado num homicídio —, pode constituir
uma cumplicidade punível. Noutros sectores da vida, pensese ainda em acções
de conteúdo aparentemente neutro, como a abertura duma conta bancária para
facilitar o branqueamento de capitais. Ou quando alguém, conscientemente,
fornece gasolina aos assaltantes dum banco que procuram a fuga de carro. Um
dos casos mais antigos deste género foi julgado pelo Tribunal do Reich em 1906,
pondose a questão de saber se o fornecimento de pão ou de vinho a um bordel
favoreceria os comportamentos imorais que ali tinham lugar e que na altura
eram objecto de atenção penal. Decidiuse que o fornecimento do vinho era
uma cumplicidade, mas não o do pão, porque só o vinho tem as qualidades
afrodisíacas capazes de fomentar as actividades próprias duma casa como
aquela. Veja, de resto, um caso destes (i. é, ligado a uma actividade comercial
normal...) na colectânea de pontos de admissão ao CEJ de 15 de Abril de 1993.
• Jakobs nega uma responsabilidade do interveniente quando o contacto social se esgota na
contraprestação de um objecto ou de uma informação e a realização do fim
M. Miguez Garcia. 2001
946
perseguido pelo sujeito só a ele diz respeito. Refere o caso do padeiro que não
responde por participação em homicídio, mesmo que saiba que o comprador dos
pães lhes vai juntar veneno para acabar com a vida dos seus convidados. Quem se
limita a emprestar dinheiro sem perguntar para que fim não é responsável pelos
crimes que com ele venham a ser financiados. Schümann fundamenta a participação
na solidariedade com o ilícito alheio. Faltando esse laço de solididariedade entre o
possível cúmplice e o criminoso, o tipo da cumplicidade não se preenche quando a
actividade que se questiona consistir, simultaneamente, numa prestação da sua
profissão.
Alguns autores transportam para aqui os pressupostos da adequação social
ou da adequação profissional, para limitarem a aplicação da fórmula legal "prestar
auxílio". Outros colocam a solução predominantemente no dolo: ao lado do
saber (momento intelectual do dolo) será necessário, para que haja dolo de
cúmplice, que este queira, também ele, o resultado criminoso (elemento
volitivo), não bastando uma consciência segura da ocorrência desse resultado.
Outros autores ainda exigem a criação dum risco desaprovado pela ordem
jurídica, deslocando o problema para as questões de imputação. Por ex., a
venda do veneno para os ratos tem que, comprovadamente, aumentar o risco
do resultado criminoso e este deverá ser desaprovado pela ordem jurídica. A
nós parecenos que se o vendedor do veneno sabe, de certeza certa, que o
veneno vai servir para matar outra pessoa, então a venda não estará justificada.
Se pelo contrário o vendedor encarar esse resultado apenas como possível, o
interesse posto na venda, de âmbito profissional, sobrepassa o interesse geral de
não facilitar ou tornar possível a prática de um crime.
A ideia de F, de que o destino posterior das mercadorias por si vendidas
não lhe dizia respeito não terá influência a nível do artigo 17º, nºs 1 e 2 (erro
sobre a ilicitude), já que se trataria de um simples erro de subsunção,
irrelevante no contexto em apreço, face ao conhecimento de F e às
circunstâncias do caso, que o polícia lhe transmitiu.
Assim concluindo, F será cúmplice do crime de contrafacção de moeda
(artigos 27º e 262º, nº 1).
Mas o resultado contrário, quando devidamente justificado, também
poderá ser aceite, nomeadamente, se se negar o dolo de cumplicidade.
M. Miguez Garcia. 2001
947
B: O destino posterior das notas de 50 euros
I. Punibilidade de A e B
1. Artigos 26º, 3ª proposição, e 265º, nº 1, a ) (passagem de moeda
falsa)
É duvidoso que o comportamento de A e B integre igualmente o tipo de
crime do artigo 265º, nº 1, a). As notas por eles falsificadas nas circunstâncias já
apreciadas vieram a ser entregues ao M, para que este lhes desse destino. O M,
contudo, estava inteiramente ao corrente da falsidade das notas, quando
recebeu as fotocópias das mãos de A e B sabia que representavam notas falsas
de 50 euros. Ora, o que no artigo 265º, nº 1, a ), se prevê é a passagem de moeda
falsa ou falsificada como legítima ou intacta, o que não era o caso: M, estando no
segredo da falsificação, nunca poderia ser enganado ao receber as notas falsas,
com efeito, nunca as receberia como legítimas ou intactas, sabendoas falsas.
Este modo de ver as cosias não é porém forçoso. Sempre se poderia
argumentar que a entrega das notas ao M representava o primeiro passo na
execução do plano dos moedeiros falsos, que aspiravam a ficar ricos. Nesse
sentido, já as notas falsas seriam postas em circulação como legítimas logo no
momento seguinte, ao saírem das mãos do M — e assim se cumpririam os
elementos objectivos e subjectivos do tipo.
A e B são ainda coautores do crime do artigo 265º, nº 1, a ), mas a norma
não lhes seria aplicada por se encontrara em relação de concurso aparente com
a do artigo 262º, nº 1.
II. Punibilidade de M
1. Artigos 22º, 23º, 73º, 262º e 264º, nºs 1 e 2 (tentativa de passagem
de moeda falsa de concerto com o falsificador)
M prontificouse a pôr em circulação as notas falsas de 50 euros fabricadas
por A e B. No texto não se diz que M chegou, efectivamente, a passar qualquer
dela, mas a tentativa é punível. O plano de M, de concerto com os dois
M. Miguez Garcia. 2001
948
falsificadores, era o de pôr as notas em circulação pelo que pelo menos se
verifica a tentativa do indicado crime.
M cometeu o crime dos artigos 264º, nº 1, e 262, nº 1, pelo menos na forma
de tentativa (nº 2 do artigo 264º).
2. Artigos 22º, 23º, 73º, 266º, a ), (aquisição de moeda falsa para ser
posta em circulação)
M adquiriu as notas de 50 euros para as pôr em circulação, como
legítimas, sabendoas falsas. Todavia, a norma em apreço, mesmo só na forma
de tentativa, está em relação de concurso aparente com a do artigo 264º, pelo
que nunca será aplicada a M.
III. Punibilidade de F
1. Cumplicidade no crime do artigo 265º, nº 1, a ) (passagem de moeda
falsa), eventualmente praticado por A e B.
Reeditamse agora as considerações feitas a propósito da cumplicidade
das actividades profissionais, como as dos comerciantes. Podemos considerar,
como já antes se fez, que F cometeu o crime do artigo 27º e 265º, nº 1, a ).
Todavia, coo o acto de cumplicidade é só um, também as consequências não
poderão exprimirse em concurso efectivo.
C: O que se seguiu depois com o passe
I.Punibilidade de T
1. Artigo 217º, nº 1. Burla de T em prejuízo dos serviços de
transporte
T andou várias vezes, no período de “validade” do passe, nos transportes
que lhe interessavam, fazendoo como os passageiros com título válido. Tratase
de comportamento concludente, na medida em que T induziu em erro o revisor
ao apresentarlhe documento falso que ele interpretou como verdadeiro. T
M. Miguez Garcia. 2001
949
actuou astuciosamente, usando um ardil ao fingir que o título era válido. Houve
prejuízo para os respectivos serviços, que não receberam a paga esperada.
Tudo indica que se trata de um único crime de burla, não obstante as
múltiplas viagens realizadas, por ter havido uma única resolução criminosa. Se
se tratar de várias resoluções criminosas, é indicado verificar se estão presentes
os pressupostos do crime continuado (artigo 30º, nº 2).
T cometeu um único crime de burla (artigo 217º, nº 1).
2. Artigo 220º, nº 1, c ). Burla para obtenção de serviços.
T utilizou meio de transporte sabendo que tal supõe o pagamento de um
preço, mas com intenção de não pagar, pelo que cometeu este crime. A norma,
todavia, por estar em concurso aparente com a do artigo 217º, nº 1, não lhe será
aplicada.
3. Artigo 256º, nº 1, c ). Falsificação, na forma de uso de documento.
T usou o passe e assim praticou o crime indicado, usando documento
fabricado ou falsificado por outra pessoa (passe fabricado por A e B). Fêlo
dolosamente, com intenção de obter para si benefício ilegítimo. Não obstante as
diversas fases de utilização, há uma única resolução criminosa (verificandose
mais do que uma seria caso de averiguar dos pressupostos do crime
continuado: artigo 30º, nº 2).
II. Punibilidade de A e B.
1. Instigação ao uso de documento falso. Artigos 26º, última
proposição, e 256º, nº 1, c ).
A e B, na medida em que aconselharam T a usar a fotocópia do passe,
podem ser indutores do crime por esta praticado, de uso de documento falso, já
que actuaram com dolo de instigação.
2. Instigação ao crime de burla. Artigos 26º, última proposição, e 217º, nº 1.
A e B, na medida em que determinaram T a cometer este crime são
instigadores do mesmo, a punir nos termos indicados.
M. Miguez Garcia. 2001
950
D: O que se passou depois com a fotocopiadora
Punibilidade de A e B.
1. Artigo 217º, nº 1. Burla na venda da copiadora com uma bomba no
interior.
Parece não ser caso de burla, mas só porque falta o elemento subjectivo da
intenção de enriquecimento ilegítimo por parte de A e B.
2. Artigo 131º. Homicídio voluntário.
A e B introduziram uma bomba na fotocopiadora, que veio a explodir
quando P a manejou, provocandolhe a morte. O resultado mortal é
consequência directa e imediata da explosão que resultou conforme o plano de
ambos e por eles posto em prática. Tratase assim de coautoria. Nos planos dos
dois estava a morte do G, que inclusivamente representaram e queriam, por
lhes ser conveniente. Na verdade, com o desaparecimento de G afastavam um
competidor. Como se viu, foi o P quem morreu na explosão. O caso será de erro
na pessoa, mas há quem o qualifique antes como aberratio ictus.
• A situação de aberratio ictus (desvio de golpe) é um erro na execução, corresponde àqueles
casos em que na execução do crime ocorre um desvio causal do resultado sobre um
outro objecto da acção, diferente daquele que o agente queria atingir: A quer matar B,
mas em vez de B o tiro atinge mortalmente C, que se encontrava ali ao lado.
Distinguese do típico error in persona vel objecto. No “error in persona” há uma
confusão e não um erro na execução. Assim, no exemplo de Stratenwerth (Derecho
Penal, parte general, I, Madrid, 1982), o “assassino” profissional mata um terceiro
totalmente alheio, por supor que é a vítima que lhe fora indicada e que só conhece
por fotografia. Ou então, durante a fuga, o ladrão dispara mortalmente contra a
pessoa que hipoteticamente o persegue, quando na realidade se tratava de um seu
cúmplice, que igualmente fugia.
M. Miguez Garcia. 2001
951
A e B dispuseram o sistema de activação da bomba de tal forma que só
havia uma maneira de a fazer explodir — e isso podia ser feito,
indiferentemente, por uma ou outra pessoa que pretendesse tirar fotocópias,
pelo que é indiferente para a punição que tenha morrido P quando podia ter
morrido G ou até um outro qualquer. Na verdade, sempre seria atingida na
explosão a primeira pessoa que tivesse a infelicidade de fotocopiar algo. A e B
cometeram em coautoria material um crime de homicídio voluntário do artigo
131º.
3. Artigo 210º, nº 1. Dano.
Da actuação de A e B resultou ficar destruída a fotocopiadora que nessa
ocasião já era coisa alheia relativamente a ambos. O dano constitui, porém, em
casos destes, um facto típico acompanhante, neste caso do crime de homicídio.
A pena do homicídio já engloba o desvalor da utilização dos meios escolhidos
para dar a morte. A norma do artigo 210º, nº 1, não será aplicada, face à situação
de concurso aparente.
4. Artigos 131º e 132º, nºs 1 e 2, h): meio insidioso; g) meio que se
traduz na prática de crime de perigo comum; f) ter em vista encobrir um outro
crime. Homicídio qualificado.
Convirá averiguar se A e B cometeram ou não um homicídio qualificado,
usando de especial perversidade ou fazendoo de forma especialmente
censurável.
• O conceito de meio insidioso abrange várias situações envolventes de meios ou expedientes
com relevante carga de perfídia bem como os particularmente perigosos que tornam
difícil ou impossível a defesa da vítima. Abrange a espera, a emboscada, o disfarce, a
surpresa, a traição, a aleivosia, o excesso de poder, o abuso de confiança ou qualquer
fraude. (Ac. do STJ de 11 de Junho de 1987, BMJ368312; ac. do STJ de 11 de
Dezembro de 1991, BMJ412183). Entre os meios insidiosos contase a traição,
entendida como ataque súbito e sorrateiro, atingindo a vítima descuidada ou
confiante que, assim, fica praticamente impossibilitada de esboçar qualquer gesto de
defesa, pois não se apercebe de que está a ser objecto de um atentado (ac. do STJ de
M. Miguez Garcia. 2001
952
31 de Outubro de 1996, BMJ460444). Quando a lei fala em meio insidioso não quer
necessariamente abarcar os instrumentos habituais de agressão (o pau, o ferro, a faca,
a pistola, etc.), ainda que manejados de surpresa, mas sim aludir tanto às hipóteses de
utilização de meios ou expedientes com uma relevante carga de perfídia, como aos
que são particularmente perigosos e que, não pondo em risco o agente, do mesmo
passo tornam difícil ou impossível a defesa da vítima (ac. do STJ de13 de Outubro de
1993, BMJ430248; ac. do STJ de 11 de Janeiro de 1995, BMJ44355).
Meio insidioso é o meio dissimulado e isso aconteceu no caso da bomba
que ninguém esperaria que se encontrasse no interior da fotocopiadora.
A bomba, por outro lado, representava um meio de perigo comum —
consequentemente, um perigo para um número indeterminado de outras
pessoas e para bens patrimoniais alheios de valor elevado.
Finalmente, A e B queriam fazer desaparecer a fotocopiadora para que
dela não ficasse rasto e para que as averiguações sobre a moeda falsa não
conduzissem a nenhum deles. Todavia, na medida em que a morte de P não
interessava para esse fim, não se dá a conexão exigida para que se possa afirmar
a operância do exemplo–padrão correspondente.
A e B cometeram um crime de homicído qualificado.
5. Artigo 272º, nº 1, b). Explosão.
A e B provocaram explosão, utilizando para tanto uma bomba. As
circunstâncias apontam para a possibilidade de a explosão provocar situação de
perigo para bens como a vida, a integridade física e para bens patrimoniais de
valor elevado, já que, naturalmente, a máquina se encontrava dentro dum
edifício onde trabalhavam ou residia um número indeterminado de pessoas,
igorandose quem poderia ser atingido. A situação aponta deste modo para o
perigo comum. Ainda que se visasse a pessoa de G, era inevitável que se
atingiriam outros bens indeterminados, atenta a força expansiva
desencandeada com as bombas. A acção é dolosa e é dolosa a criação de perigo.
Ambos, A e B, agiram com dolo, não ignorando que da sua actuação resultaria a
probabilidade de vários interesses jurídicos alheios virem a ser lesados. O
perigo concretizouse. Um homem médio, colocado na situação do agente no
M. Miguez Garcia. 2001
953
início da acção, concluiria pela perigosidade desta. Além disso, era previsível
que do desencadear do perigo correspondente iria resultar a probabilidade de
um dano para bens jurídicos alheios como a vida, a integridade física e
propriedade alheia (bens patrimoniais de valor elevado). O resultado, como já
se esclareceu, concretizouse. O crime consumouse.
6. Artigos 272º, nº 1, b ), 18º e 285º. Explosão agravada.
Tendo resultado da explosão a morte de P, põese a questão da agravação
do crime do artigo 272º, nº 1, b ), nos termos do artigo 18º e 285º.
E. Resta determinar quais as normas a aplicar a cada um dos arguidos.
M. Miguez Garcia. 2001
954
§ 41º Crimes de perigo
I. Incriminações de perigo; crimes de perigo abstracto, presumido; crimes de
perigo concreto; crimes de perigo comum.
• CASO nº 41: A, residente no Porto, desembarca em Santa Apolónia e dirigese ao
estádio da Luz para assistir a um desafio de futebol. No trajecto envolvese em
discussão com um grupo de adeptos do clube da capital e saca da arma com que, à
cautela, se munira, uma pistola de 9 milímetros que conservara como recordação dos
seus tempos de "tropa", mas que já não funciona convenientemente por se lhe ter
avariado o percutor. A, que já há muitos anos deixou o serviço militar, não tem
licença de porte de arma.
• Palavraschave: acaso, acção adequada para lesar o bem jurídico, actuações que
comportam riscos, ambiente, área avançada de tutela, bem jurídico de natureza
imaterial, bem jurídico intermédio espiritualizado, causalidade adequada, comoção
para o bem jurídico, concretização do perigo, crime de condução de veículo em
estado de embriaguez, crime de ameaça, crimes de perigo singular, crimes contra a
segurança das comunicações, crimes de lesão, crimes de mera actividade, crimes de
perigo abstracto, crimes de perigo abstractoconcreto, crimes de perigo comum,
crimes de perigo concreto, crimes de perigo presumido, crimes materiais de lesão,
crimes materiais de perigo, cristalização do perigo, critério generalizante, dano
patrimonial, delitos de aptidão, desvalor da acção, desvalor do resultado,
determinação (judicial) da genérica perigosidade da conduta, dogma do resultado,
idoneidade genérica e abstracta do concreto acto praticado, imputação objectiva do
resultado à acção, lesão do bem jurídico, margens de risco (permitido), perigo
concreto, perigo para a vida ou a integridade física de outrem ou para bens
patrimoniais alheios de valor elevado, perigo real para o objecto protegido, perigo,
possibilidade ou probabilidade de dano, probabilidade da lesão concreta, punição
M. Miguez Garcia. 2001
955
da tentativa, responsabilidade pelo resultado, resultado de perigo, sociedade de
risco, tentativa negligente, tipos mistos de lesão e perigo, tráfego rodoviário,
violação da obrigação de alimentos, violação de deveres específicos.
A detenção, uso e porte de uma pistola de calibre 9 milímetros, fora das
condições legais ou em contrário das prescrições da autoridade competente, constitui o
crime do artigo 275º, nº 3, do Código Penal (cf. também o respectivo nº 1). A
pistola de 9 mm é arma proibida, de acordo com a classificação do DecretoLei
nº 207A/75, de 17 de Abril. No artigo 275º, nºs 1 e 3, desenhase um crime de
perigo abstracto, incluído no capítulo dos "crimes de perigo comum". Para o
caso não faz sentido falar de licença de uso e porte de arma, justamente porque
se trata de arma proibida.
Quando se fala dos crimes de perigo ocorre logo a ideia da criação de uma
área avançada de tutela que significa o adiantamento da consumação. A
punição nessas circunstâncias equivale, de algum modo, à clássica punição da
tentativa (31), que ocorre na forma dolosa dos crimes mais graves (artigo 23º, nº
1), onde o resultado não se chega a produzir, destacandose então o desvalor da
acção como sua nota mais saliente.
31
. À punibilidade dos actos preparatórios de certos crimes, como, por exemplo, da
constituição de uma organização terrorista (artigo 300º, nº 5), corresponde também uma
protecção dos concretos bens jurídicos dimensionada numa protecção duplamente antecipada.
M. Miguez Garcia. 2001
956
• Nas últimas décadas têmse expandido (32) os casos que convocam essa necessidade de
protecção avançada (Vorfeldschutz), antecipando a intervenção preventiva e
repressiva do direito penal para um momento anterior ao da ocorrência do sacrifício
ou dano patrimonial (Figueiredo Dias / Costa Andrade, O crime de fraude fiscal, p. 87).
Acontece em numerosas situações de perigo concreto, mas mesmo aquelas em que
existe um risco geral na acção, que todavia, em concreto, se não desencadeou, os
chamados perigos abstractos, dolosos e culposos, são hoje aceites sem significativa
contestação.
No nosso direito, os capítulos dos crimes de perigo comum (artigos 272º a
286º) e dos crimes contra a segurança das comunicações (artigos 287º a 294º),
que vêm da versão de 1982 do Código, são o espelho desse incremento no que
toca, por exemplo, aos incêndios e às explosões, à infracção de regras de
construção, à corrupção de substâncias alimentares ou medicinais, à
propagação de doença, aos atentados contra a segurança de transporte e à
condução perigosa de veículo. Uns são crimes de perigo concreto, outros
previnem situações de perigo abstracto. Mas no Código localizamse outros
crimes em que a consumação foi antecipada para estádios anteriores à produção
do resultado, no intuito de tornar efectiva a protecção do correspondente bem
jurídico. Alguns deles têm sido fortemente contestados, como o do artigo 139º.
A proibição da propaganda do suicídio, elaborado como crime de perigo
32
. Há cerca de 30 anos, escrevia um jurista alemão que os crimes de perigo se tinham
estendido como uma “mancha de azeite”, convertendose no “filho dilecto do legislador”. Hoje
em dia, em alguns sectores, vemse elegendo a ideia da crise da tutela dos bens jurídicos para
fundamentar a discussão em torno do chamado “direito penal de risco”. Dizse que a
sociedade actual, sucessora da sociedade industrial, é uma sociedade de risco, uma
Risikogesellschaft, devendo a tutela estar virada para a protecção antecipada, para
aVorfeldschutz. Os riscos da vida moderna (desenvolvimentos no campo da energia atómica, da
química, da ecologia, da genética, por ex.) dificilmente se adequam ao instrumentário liberal a
que pertence a noção de bem jurídico. Nessa perspectiva, falase na criação do risco como
critério de imputação (Prittwitz) e na necessidade de um “direito penal de prevenção” em
determinadas áreas (economia, ambiente, impostos, droga, comércio externo), inclusivamente
naqueles ambientes que sejam propícios à “criminalidade organizada” (Escola de Frankfurt:
Hassemer, Nauke, Albrecht). O “direito de intervenção” desempenhará assim um papel entre o
direito penal (erodido e reduzido ao seu núcleo clássico) e o direito penal secundário
(Hassemer). (Sobre isto, cf. Figueiredo Dias, Oportunidade e sentido da Revisão, Jornadas, 1996, p.
32; J. J. Gomes Canotilho, Privatismo, associativismo e publicismo na justiça administrativa do
ambiente (as incertezas do contencioso ambiental), RLJ, ano 128º, p. 232).
M. Miguez Garcia. 2001
957
abstracto num período de cultura da morte, dizse, não corresponde a um bem
jurídico facilmente identificável, não obstante o referente francês de que o
legislador português se serviu.
• Os incêndios, as inundações ou o abandono de crianças foram incorporados logo nos
primeiros códigos penais: o de 1852 tratava da exposição e abandono dos infantes, do
fogo posto e dos danos. Mas na maioria dessas situações, e de poucas mais, tratavase
de tipos mistos de lesão e perigo — "a dogmática causalista tradicional estava
aferrada ao “dogma do resultado” como fundamento iniludível da ilicitude". Com
efeito, “no direito penal tradicional, por influência da ideia da responsabilidade pelo
resultado, faziase recair o centro de gravidade no desvalor do resultado,
especialmente na lesão do bem jurídico” (cf. Muñoz Conde, Derecho Penal, Parte
general, 1993, p. 279). É na segunda metade do século vinte, especialmente a partir dos
anos 60, face à crescente perigosidade da vida nesta “sociedade de risco”, que se
começa a pedir ao direito penal um campo de protecção que não espere pela
produção do resultado mas que castigue as acções perigosas por si mesmas,
desvinculadas de um evento lesivo. Essa necessidade realizavase já através da
punição dos casos mais graves da tentativa, mas com a limitação subjectiva derivada
da acção intencional ou dolosa, como se exige nos artigos 22º e 23º do Código Penal.
A tentativa negligente não é tradicionalmente punida, embora cedo se tivesse
começado a perfilar a ideia de que ao lado dos crimes de resultado doloso ou
simplesmente negligente se podem punir certas formas imprudentes de pôr em
perigo determinados bens jurídicos através de actuações que comportam riscos. O
envolvimento da tentativa com os crimes de perigo pode assemelharse à conexão
destes com as formas de perigo a que estão sujeitos novos círculos de actividades de
risco gerados pela necessidade de progresso e pelo desenvolvimento da vida social. O
Prof. Eduardo Correia, referindose ao assunto, lembrava que em 1938 tinha havido
em Portugal 83 homicídios por imprudência, mas que esse número subira para 272 no
ano de 1959. Acabava de resto por aludir a certos actos que comportam riscos e
observava que, na medida em que a determinadas actividades lícitas se impõem
certas margens de risco (permitido), impõese, do mesmo modo, a estrita observância
M. Miguez Garcia. 2001
958
dos seus limites. As condutas associadas a essas actividades são perigosas em si
mesmas mas permitidas sempre que se respeitem os limites de risco.
• “É a superação de tais limites que determina a ilicitude da conduta. A inobservância dos
limites de risco permitido, das normas de conduta que delimitam o dever de cuidado
objectivamente exigível no tráfico e que estabelecem a conexão dos delitos de perigo
com os delitos imprudentes, fundamenta a ilicitude dos comportamentos. Os delitos
de perigo surgem para castigar a realização das condutas perigosas imprudentes com
referência ao eventual resultado lesivo, mas sem esperar que esse resultado se
produza. Representam portanto um adiantamento das barreiras de protecção no
âmbito do delito imprudente, castigando excepcionalmente a tentativa imprudente —
normalmente impune —, face à importância do bem posto em perigo e a especial
relevância lesiva da forma de ataque ao mesmo, em certos âmbitos em que a natureza
da actividade e a experiência acumulada permitiram “tipificar” a norma de cuidado
com a suficiente precisão, tornando possível a punição dessa conduta perigosa sem
resultado, e tudo isso sem desprezo pela segurança jurídica. Esta estrutura
corresponde à maior parte dos delitos de perigo e esta conexão com a tentativa e o
delito imprudente condicionará em grande medida o seu tipo subjectivo” (T. R.
Montañes).
Considerando as consequências da acção punível, distinguemse
tradicionalmente os crimes de lesão, como o homicídio, as ofensas à
integridade física, etc., também chamados crimes de dano, dos crimes de
perigo, abstracto ou concreto. Nos crimes de dano (de resultado de dano) a
consumação do crime supõe a lesão ou o sacrifício dum objecto concreto: ofensa
à integridade física de uma pessoa (artigo 143º), destruição duma coisa (artigo
212º). Nos crimes de perigo não se requer a efectiva lesão do bem jurídico, mas
como o perigo se identifica com a probabilidade de dano, o legislador previne
o dano com a incriminação de situações de perigo. De perigo concreto, desde
logo, como na violação da obrigação de alimentos (artigo 250º); ou de perigo
abstracto, como na importação, fabrico, guarda, compra, venda, transporte (...)
de armas proibidas (artigo 275º, nº 3). Se relevante a possibilidade de dano,
passase a temer a lesão, porque só se teme aquilo que é provável. Ninguém se
deixa atemorizar pela possibilidade remota de dano (Bettiol).
M. Miguez Garcia. 2001
959
• "O perigo, como momento anterior à lesão que representa, de diversas maneiras, a
probabilidade da sua ocorrência, consubstanciase num juízo valorativo que opera
sobre uma determinada base fáctica". Augusto Silva Dias.
Os crimes de perigo concreto são crimes de resultado, não de resultado de
dano, mas de resultado de perigo: o resultado causado pela acção é a situação
de perigo para um concreto bem jurídico. Exigese que no caso concreto se
produza um perigo real para o objecto protegido pelo correspondente tipo, por
exemplo, se a norma (como no artigo 291º, nº 1), para além da maneira perigosa
de conduzir, nela descrita, exige ainda que se ponha em perigo a vida ou a
integridade física de outrem ou bens patrimoniais alheios de valor elevado. (33)
Se simplesmente ficarem expostos ao perigo bens patrimoniais alheios que não
sejam de valor elevado, a incriminação não se aplica.
Existe, por outro lado, um certo número de ilícitos em que o legislador,
partindo do princípio de que certos factos constituem normalmente um perigo
de lesão, puniuos como crime consumado, independentemente da averiguação
de um perigo efectivo em cada caso concreto: "para fazer nascer a pretensão
punitiva, basta a prática de uma conduta considerada tipicamente perigosa,
segundo a avaliação do legislador" (W. Hassemer, A segurança pública no estado
de direito, p. 67). São os crimes de perigo abstracto. Por ex., punese a condução
de veículo em estado de embriaguez (artigo 292º) pelos perigos que advêm para
os participantes no trânsito de alguém conduzir excedendo os limites toleráveis
de álcool no sangue; ou a detenção de arma proibida (artigo 275º, nºs 1 e 3)
porque o legislador quis evitar os perigos que para as pessoas podem derivar
33
. Só se tratará aqui de uns quantos crimes de perigo concreto, dos muitos em que o
Código abunda. Vejase, por ex., a exposição ou abandono (artigo 138º) e o incitamento ou
ajuda ao suicídio (artigo 135º). Rui Carlos Pereira (O dolo de perigo, p. 27 e passim),
reconhecendo que no âmbito da descrição típica contida no nº 1 do artigo 135º o suicídio
tentado ou consumado deverá qualificarse como condição objectiva de punibilidade, qualifica
este crime como de perigo concreto — "crime de perigo concreto com resultado naturalístico e
dolo de dano": o perigo é descrito naturalisticamente, como sendo o suicídio tentado ou
consumado. A previsão do suicídio pelo menos tentado assume, diz o Autor, um carácter
necessariamente causal em relação à conduta típica. O que nele há de peculiar é a própria
descrição do "evento" perigo, através da exigência mínima da tentativa de suicídio. Vd. ainda
M. M. Silveira, Sobre o crime de incitamento ou ajuda ao suicídio, p. 128, que igualmente se
pronuncia pela incriminação de perigo concreto com dolo de dano, mas acrescenta: só se pode
afirmar a existência desse perigo concreto quando o incitado ou ajudado principia a execução
do seu propósito, antes disso não há evidência de que os pretensos incitamentos ou (e) ajuda
tenham tido eficácia.
M. Miguez Garcia. 2001
960
de alguém se passear com uma arma de guerra. Mas o preceito respectivo fica
preenchido mesmo que no caso concreto se não verifique uma ameaça para a
vida ou para a integridade física de outrem. O artigo 275º, nºs 1 e 3, limitase a
descrever, pormenorizadamente (quem importar, fabricar, guardar, comprar,
vender, ceder ou adquirir a qualquer título, transportar, etc., armas proibidas),
as características típicas de que resulta a perigosidade típica da acção.
Se, por ex., um contabilista — que anda de candeias às avessas com um
seu cunhado, por quem até já foi ameaçado de morte —, conscientemente, se
desloca de casa para o emprego com uma pistola de 9 milímetros (arma
proibida), a correspondência da acção com o tipo legal do artigo 275º, nºs 1 e 3,
fica logo estabelecida. Neste caso, o perigo abstracto é um perigo presumido
pelo legislador: ao juiz fica vedada qualquer averiguação sobre a falta de
perigosidade do facto. "Se o tipo [do artigo 275º, nºs 1 e 3] está redigido de
forma a inviabilizar a apreciação negativa do perigo, se ele se funda numa
presunção inilidível de perigo, o seu desvalor da acção assenta na mera
desobediência e a sua insconstitucionalidade pode ser arguida por violação dos
princípios da ofensividade e da culpa" (Augusto Silva Dias; sublinhámos).
• A qualificação de um crime como de perigo abstracto pode colidir, com efeito, com o
princípio da culpa, mas a discussão dogmática do assunto não conduziu ainda a
resultados definitivos (Roxin, p. 340). Por exemplo, o crime de tráfico de
estupefacientes (34) é de perigo abstracto, porque não pressupõe nem o dano nem o
perigo de um dos concretos bens jurídicos protegidos pela incriminação (entre outros,
a vida, a integridade física e a liberdade dos virtuais consumidores), mas apenas a
perigosidade da acção para as espécies de bens jurídicos que visa proteger. O
Tribunal Constitucional (ac. nº 441/91 de 7 de Junho de 1994, DR., II série, nº 249, de
27.10.94) reconheceu que o princípio da culpa, derivando da essencial dignidade da
pessoa humana, se acha consagrado nos artigos 1º e 25º, nº 1, da Constituição, e se
articula com o direito à integridade moral e física. Além disso, no âmbito do direito
penal, exprimese a diversos níveis: veda a incriminação de condutas destituídas de
qualquer ressonância ética, impede a responsabilização objectiva, obsta à punição
sem culpa e à punição que exceda a medida da culpa. Decidiuse que na situação
34
. Em geral, sobre questões de legitimidade e de eficácia do exercício do poder punitivo
no domínio do consumo e do tráfico de estupefacientes, cf. Rui Carlos Pereira, "O consumo e o
tráfico de droga na lei penal portuguesa".
M. Miguez Garcia. 2001
961
concreta o crime de tráfico de estupefacientes (na altura previsto no artigo 23º, nº 1,
do DecretoLei nº 430/83, agora no artigo 21º, nº 1, do DecretoLei nº 15/93, de 22 de
Janeiro) não põe em causa nenhuma das manifestações do princípio da culpa a que se
aludira, por se tratar, desde logo, de um crime doloso, por força do disposto no artigo
13º do Código Penal, estando excluída, nos termos gerais, a responsabilidade
objectiva do agente. Acresce que o agente só será punido desde que culpado, não
podendo a pena exceder a medida da culpa. Por outro lado, as actividades em que o
tráfico de estupefacientes se traduz possuem uma ressonância ética só comparável,
em intensidade, às incriminações clássicas às quais está associado, historicamente, o
próprio conceito de crime, como o homicídio e o roubo. A condenação do tráfico de
estupefacientes está indelevelmente inscrita na consciência ética das sociedades
contemporâneas.
• Também se coloca com peculiar acuidade nos crimes de perigo abstracto o problema da
eventual violação do princípio da necessidade das penas e das medidas de
segurança, por a sua consumação não depender da criação de um perigo e nem
sequer da concreta perigosidade da acção. Porém, para o Tribunal Constitucional (ac.
nº 426/91, de 6 de Novembro de 1991, BMJ41156), a gravidade, a propagação e a
tendência para o alastramento dos danos causados pelo tráfico dos estupefacientes
justificam suficientemente, do ponto de vista constitucional, uma política criminal tão
restritiva da liberdade. Deste modo, se a incriminação de perigo abstracto é
admissível constitucionalmente, ante os princípios da necessidade e da culpa, então
"não faz sentido referir uma inversão do ónus da prova; o cometimento do crime
deve ser, naturalmente, provado pela acusação, no plano das imputações objectiva e
subjectiva; o que se não requer é a comprovação de que foi criado um perigo ou de
que o meio de cometimento do crime foi perigoso, precisamente porque a
incriminação não se funda no perigo concreto causado mas na perigosidade geral da
acção (35), isto é, na sua aptidão causal para causar perigos de certa espécie,
35
) No acórdão do Tribunal Constitucional nº 246/96, de 29 de Fevereiro de 1996,
entendeuse também que a perigosidade pressuposta pelo legislador não envolve qualquer
inversão da prova contra reo, já que apenas separa a punibilidade da conduta da lesão efectiva
de um bem.
M. Miguez Garcia. 2001
962
abstraindo de outras circunstâncias também necessárias para que algum destes
perigos se produza realmente; e, da mesma sorte, não se exige que o dolo abarque o
perigo” (ac. do Tribunal Constitucional de 6 de Nov. de 1991, BMJ41156).
No caso nº 41, A foi encontrado com uma pistola proibida incapaz de
disparar porque para tanto era necessário um percutor que funcionasse, o que
não acontecia no caso concreto. A detinha a pistola "fora das condições legais"
— "mesmo que a pistola esteja avariada, tanto basta para que o tipo do art. 275º,
nº 3, seja realizado. O desvalor da acção consiste na detenção de arma proibida
em incumprimento de certas exigências de controle administrativo em matéria
de armas. Não encontramos nos elementos típicos quaisquer indícios de
perigosidade que sirvam de critério ao juiz para uma indagação em concreto
acerca da inexistência de perigo. Este é aqui presumido de modo inilidível".
(Augusto Silva Dias).
• Crimes de perigo abstracto são as falsificações documentais e agora, igualmente, os crimes
de corrupção. Nestes, o legislador abandonou o princípio da "participação necessária"
e o que era um crime de resultado passou a ser um crime formal ou de perigo
abstracto, em que a lei não exige a verificação concreta do perigo de lesão resultante
de certos factos, mas supõeo juris et de jure. Daqui resulta que os crimes de corrupção
activa e corrupção passiva são totalmente autónomos, podendo existir um sem o
outro (cf. anotação BMJ448134). As falsificações configuramse, em regra, como
crime de perigo abstracto. Basta a mera probabilidade de prejuízo ou de benefício
ilegítimo. A falsificação é crime mutilado de dois actos ou de resultado cortado ou
imperfeito (unvollkommen oder verkümmert Erfolgsdelikten): punese o agente logo que
este pratica o primeiro acto, que é o meio de levar a cabo um acto posterior, o do uso
do documento. As "associações criminosas” (agora, a verbalização típica
singularizouse, deu "associação criminosa": artigo 299º, na secção dos crimes contra
a paz pública) têm também o seu espaço nos crimes de perigo abstracto. Os
comentadores alemães do § 129 (Bildung krimineller Vereinigungen) do StGB apontam a
"paz pública" como o bem jurídico protegido: basta a simples existência duma
associação criminosa com a dinâmica perigosa que lhe é inerente, para justificar a sua
estrutura de crime de perigo abstracto. O potencial criminoso de uma associação
M. Miguez Garcia. 2001
963
criminosa decorre desde logo da sua fundação e não só quando se atinge a realização
das respectivas finalidades. Em Portugal foram especialmente os estudos do Prof.
Figueiredo Dias que lhes traçaram o rumo, igualmente com o apoio do que seja o bem
jurídico protegido, "a tutela da paz pública: "a mera existência de associações
destinadas à prática de crimes, ligada à dinâmica própria que lhes é inerente, põe
irremissivelmente em causa o sentimento de paz que a ordem jurídica visa criar nos
seus destinatários e a crença na manutenção daquela paz a que os cidadãos têm
direito, substituindoos por um nocivo sentimento de receio generalizado e de medo
do crime. Com o que o tipodeilícito das associações criminosas se assume, nesta
medida, como um verdadeiro crime de perigo abstracto, todavia assente num
substrato irrenunciável: a altíssima perigosidade desta espécie de associações,
derivada do forte poder de ameaça da organização e dos mútuos estímulos e contra
estímulos de natureza criminosa que aquela cria nos seus membros ".
Questão interessante é a da associação entre os crimes de perigo abstracto
e a tentativa impossível.
• Nos casos de tentativa impossível punível, que gira no espaço dos chamados crimes de
perigo abstracto, põese em perigo o bem jurídico de forma abstracta (na tentativa
idónea põese em perigo o bem jurídico de modo concreto) — assim afirmase a
punibilidade mesmo onde falta o bem jurídico e, por isso, inexiste real perigosidade,
sendo que o ordenamento penal visa exclusivamente a protecção (directa) de bens
jurídicos; no entanto, a noção de bem jurídico beneficia ainda de reservas explicativas
em ordem a fundamentar materialmente muitas das situações de, por exemplo,
ausência de objecto. Mas há um ponto para lá do qual é muito difícil, se não mesmo
impossível, chamar o bem jurídico — ou o seu halo, como neste contexto deve ser
defendido — para fundamentar a directa punibilidade penal (pensemos nas situações
de tentativa inidónea punível relativamente a tipos legais de crime sustentados em
bens jurídicos supra individuais) (cf. Faria Costa, Formas do Crime, in Jornadas, p. 160
e ss; O perigo em Direito Penal, p. 42; Tentativa e dolo eventual, p. 69).
M. Miguez Garcia. 2001
964
II. Crimes de perigo abstracto, crimes de perigo concreto, crimes de perigo
comum.
• CASO nº 41A: A fez o serviço militar como sapador e nunca perdeu o gosto pelos
explosivos, que aprendeu a manejar com grande mestria. Por simples acaso, quando
passava pelos campos de Santa Margarida, onde noutros tempos fizera uma parte da
sua "tropa" e em cujas proximidades costumam decorrer exercícios militares da Nato,
A encontrou um cunhete com granadas de mão e, logo ali ao lado, os instrumentos de
percussão correspondentes. Cuidando de não juntar as granadas e os percutores,
ainda assim, A levou tudo para casa, na mala do carro, sabendo da ilicitude da sua
conduta. Considere que, mais tarde, A:
• i ) Cansado das queixas da mulher, que não queria "aquilo" em sua casa, juntou as
granadas e os percutores num campo de couves, bem longe de qualquer edificação e
dos sítios por onde costumavam passar pessoas, e fez rebentar todos esses materiais,
sem que ninguém se tivesse dado conta do ocorrido;
• ii ) A juntouse a um grupo contestatário e resolveu empregar os explosivos ao serviço
"duma boa causa", colocando as granadas, activadas, num supermercado. A explosão
fez vários feridos graves e destruiu parte do edifício que era propriedade de uma
multinacional. Outras pessoas, milagrosamente, não sofreram mais do que o susto.
Como punir A? Quais as molduras penais correspondentes? O que é que
explica a diferença entre as molduras penais aplicáveis num caso e no outro?
Perigo, como já se disse, é a probabilidade socialmente relevante de um
acontecimento danoso. Tratase de uma relação que deverá ser avaliada em
razão das circunstâncias do caso concreto e em face das diversas normas
incriminadoras dispersas pelo Código. Umas representam crimes de perigo
abstracto, outras de perigo concreto. Os casos de perigo comum tanto
correspondem a situações de perigo abstracto como de perigo concreto. Há
graus, por assim dizer intermédios, entre os crimes de perigo abstracto e os
crimes de perigo concreto, como sejam os crimes de perigo abstractoconcreto
M. Miguez Garcia. 2001
965
("criados pela fantasia dos juristas alemães": Giusino). Esta variedade de figuras
torna difícil a sua precisa delimitação.
• Para Binding — e para a sua concepção do perigo como Erschütterung (abalo, choque,
comoção) — os crimes de perigo relevantes são unicamente os de perigo concreto:
sempre que a norma penal proíbe a criação de um perigo, deverá terse unicamente
em conta uma situação real, concreta, em que um bem jurídico é posto em crise no
que toca à sua existência. Se faltar um prejuízo dessa ordem para a segurança do bem
jurídico já não se poderá falar em perigo — aqueles factos que impropriamente se
consideram como perigosos carecem, por si sós, de relevância penal. Binding
rejeitava tanto a teoria do perigo "geral", como então se dizia, e segundo a qual o
legislador punia acções pelo seu carácter genérico de perigosidade, como a teoria do
perigo abstracto, em que o legislador partia de uma presunção juris et de jure da
existência de um perigo — não havia que distinguir entre delitos de perigo abstracto
e delitos de perigo concreto. A Binding repugnava a ideia de que o legislador pusesse
no mesmo plano comportamentos perigosos e acções de todo inócuas. Todavia, os
crimes de perigo abstracto são hoje uma realidade indesmentível — as normas que os
prevêem são constitucionalmente legítimas, não obstante as observações que por
vezes se adiantam de se punirem factos inofensivos e de se não respeitar a presunção
de inocência. Cf. Andreas Meyer, Die Gefährlichkeitsdelikte, p. 155 e ss.
• Numa certa perspectiva, os crimes de perigo concreto são aqueles em que a norma inclui o
perigo entre os seus elementos de facto típicos, exigindo que ele se verifique
realmente para que o crime atinja a consumação. Nestes casos, o juiz deverá
determinar se o perigo efectivamente se realizou. Deste modo, crimes de perigo
abstracto serão aqueles em que o perigo não constitui um elemento típico, de forma
que o juiz não tem que investigar se na situação concreta se verificou um perigo para
o bem jurídico. O perigo permanece então como ratio que levou o legislador a
incriminar uma determinada conduta. Outras opiniões fazem assentar os crimes de
perigo abstracto no simples desvalor da acção, enquanto os de perigo concreto têm,
além do desvalor da acção, necessariamente, um desvalor de resultado. Ainda noutra
perspectiva, os crimes de perigo abstracto prevêem comportamentos a que se associa
M. Miguez Garcia. 2001
966
a ideia de uma perigosidade geral e normal. O legislador, na base da experiência e à
luz dos conhecimentos técnicos, sabe que existem numerosas acções que, pelas
condições em que se desencadeiam, pelos meios adoptados ou pelas dificuldades em
controlar os seus efeitos e as suas consequências são normalmente fontes de perigos
para bens socialmente relevantes. Por isso mesmo, o legislador proíbe tais
comportamentos sem esperar que o perigo se verifique efectivamente, evitando, na
fonte, a possibilidade de surgirem tais perigos.
• A categoria intermédia dos crimes de perigo abstractoconcreto — com alguns requisitos
típicos do perigo concreto e outros do perigo abstracto — apareceu quando se
começou a tratar da questão de saber se o perigo concreto deveria ser ajuizado de
acordo com critérios ex post. Por ex., diziase que no juízo de perigo deveriam ser
incluídas todas as circunstâncias conhecidas no momento desse juízo, mesmo aquelas
que eram desconhecidas no momento do facto e cujo conhecimento só se adquiriu
posteriormente. Partindo deste conceito de perigo é claro que se não podiam incluir
nos crimes de perigo concreto aqueles casos em que a própria lei indica que o juiz
deverá formular o seu juízo na base de certos elementos e não de todos os que existem.
Imputação objectiva do resultado de perigo à acção perigosa nos crimes
de perigo concreto; critério de determinação do juízo de perigo.
Uma vez que os crimes de perigo concreto são crimes de resultado, neles
assume particular importância, por um lado, a questão da imputação objectiva
desse resultado à acção perigosa. Interessa, por outro lado, a exacta
determinação das componentes do juízo de perigo. Ao juiz interessa saber quais
as circunstâncias factuais a partir das quais se comprova a probabilidade de
lesão e quais os conhecimentos de que se poderá servir para avaliar aquelas
circunstâncias de facto. Durante décadas lançouse mão de uma perspectiva ex
ante: o observador colocase na posição do sujeito e no momento em que este
actua, perguntandose se era previsível que o resultado de perigo ocorresse. Se
no momento em que o bombista coloca a bomba era de esperar que na altura da
explosão qualquer pessoa (um funcionário da empresa, um indigente que ali se
acolheu, um assaltante vindo pela madrugada) se encontrava no local, embora
efectivamente e por acaso ninguém lá estivesse, verificouse uma situação de
perigo. Objectouse a esta maneira de ver que ela reduzia os crimes de perigo
M. Miguez Garcia. 2001
967
concreto a crimes potenciais de perigo. Uma outra possibilidade assenta num
critério a posteriori, através do qual se podem ter em conta não só os factos
ocorridos depois da acção e os que eram desconhecidos ao tempo desta como os
verificados só no momento em que o juiz tivesse que exprimir a sua decisão
sobre a existência ou não do perigo. O juiz serviase assim de todos os
conhecimentos (tanto factos como leis científicas) que tivesse à sua disposição.
Augusto Silva Dias opta por um um juízo de prognose (e não de diagnose) ex
post: este juízo de prognose abstrai das circunstâncias que eventualmente
ditaram a não verificação da lesão, não as toma reflexivamente em conta na
hora da determinação do momento (autónomo relativamente à lesão) que é o da
probabilidade. "Este momento dáse, quando se comprovar ex post que alguém
entrou num círculo de perigo, isto é, numa zona de insegurança existencial de
tal monta, que se torna previsível e normal, segundo a experiência da vida
quotidiana, a verificação da lesão".
No caso nº 41A, quanto à hipótese i), destacase o desvalor da acção,
punindose com pena de prisão até 3 anos ou pena de multa.
A hipótese i) integra a prática de um crime de perigo abstracto. A,
conscientemente, guardou, deteve e trouxe consigo engenho explosivo — e quis
isso mesmo. A conduta, sendo em si perigosa — e os perigos que lhe estão em
geral associados são presumidos pelo legislador — corresponde ao desenho
típico do artigo 275º, nº 1, do Código Penal. O legislador limitase aí a proibir a
importação, fabrico, compra, venda, detenção, etc., de engenho ou substância
explosiva, como são as granadas de guerra, "fora das condições legais ou em
contrário das prescrições da autoridade competente", e era este o caso de A, que
já não era militar na altura dos factos. O crime, unicamente doloso, é de mera
desobediência, relevando o desvalor da acção, e é punido com pena de prisão
até 3 anos ou com pena de multa.
No caso nº 41A, quanto à hipótese ii), destacase, para além do desvalor
da acção, o desvalor do resultado (de perigo), punindose o crime com pena
de prisão de 3 a 10 anos.
A hipótese ii) contém todos os ingredientes dos crimes de perigo comum.
Ao colocar a bomba no supermercado, A, que queria lutar "por uma boa causa"
mas não tinha uma vítima prédeterminada, sabia que os efeitos da explosão
inevitavelmente atingiriam qualquer dos empregados ou dos clientes que
tivessem decidido fazer as suas compras naquele local e à hora programada
M. Miguez Garcia. 2001
968
para o engenho explodir. Para A era indiferente que as possíveis vítimas fossem
velhas ou novas, portuguesas ou espanholas, boas ou más, gordas ou magras,
bonitas ou feias. É, além disso, um crime de perigo concreto, que se revê na
tipicidade do artigo 272º, nº 1, b ), punido com pena de prisão de 3 a 10 anos. A
lei não se limita, como no caso anterior, a descrever a acção típica, à qual o
legislador associa um determinado feixe de perigos, que são simplesmente
presumidos: no artigo 272º, para além do desvalor da acção exigese a
ocorrência de um resultado (de um resultado de perigo), na medida em que se
não dispensa a criação de um perigo para a vida ou para a integridade física de
outrem, ou para bens patrimoniais alheios de valor elevado. No caso concreto, o
perigo decorrente da explosão concretizouse. O bombista programou a
explosão para uma hora em que sabia haver pessoas no supermercado: numa
perspectiva ex ante, tratase de uma acção capaz de desencadear perigos vários
para objectos indeterminados. No momento da explosão havia no local pessoas
que poderiam ser por ela atingidas, pondo em perigo a sua vida e integridade
física (além naturalmente, dos perigos para coisas de valor patrimonial elevado,
mas aqui o perigo estaria numa relação directa com a potência do explosivo, o
local onde a bomba foi posta e o modo como a explosão foi orientada). Algumas
dessas pessoas sofreram até ferimentos, outras apenas o susto — ainda que
estando no âmbito do perigo, só por acaso foram poupadas aos estilhaços das
granadas e ao sopro da explosão. O A actuou com a consciência do desencadear
desses perigos, portanto, com dolo de perigo. Como se observou, nem só o
perigo se desencadeou, como houve até pessoas que foram atingidas e lesadas
na sua integridade física. Deverá portanto ponderarse a agravação ditada pelo
artigo 285º (cf., ainda o artigo 18º), que depende da gravidade das lesões.
• O perigo concreto aparece como o resultado típico destes crimes (no confronto com os de
perigo abstracto) e deve ser abarcado pelo dolo ou referido à negligência do agente. A
estes crimes não se aplica, portanto, a estrutura dos crimes qualificados pelo
resultado. Quanto à estrutura do dolo de perigo, embora conceptualmente se possam
distinguir dois elementos: o cognitivo (representação do perigo concreto) e o volitivo
(querer, ou pelo menos conformarse) com esse perigo, as particularidades deste
conceito fazem com que o segundo seja consequência necessária do primeiro. Pode
afirmarse o dolo de perigo se o sujeito representou o perigo concreto e, não obstante
essa representação, decide prosseguir na sua actuação. As exigências mínimas desse
conhecimento ou representação são as seguintes:
M. Miguez Garcia. 2001
969
• 1º Conhecimento fáctico da possibilidade de uma lesão concreta, o que supõe, em primeiro
lugar, a percepção do objecto susceptível de ser lesado e da sua entrada no âmbito de
eficácia da acção perigosa. O concreto perigo exige um concreto objecto de ataque que
o autor deve representar como certo ou como possível. O grau de concretização na
representação desse objecto decorre da redacção da norma em questão. Em segundo
lugar, a percepção das circunstâncias que convertem a acção em perigosa. E em
terceiro certa proximidade física e imediatez temporal da possível lesão.
• 2º Juízo de perigo: face a essas circunstâncias, deverá confirmarse, de acordo com as regras
da experiência, a falta de controlo da situação, que deixa de estar nas mãos do agente.
Incluise no juízo de perigo o conhecimento nomológico. Teresa R. Montañes, p. 183.
III. Crimes de perigo concreto; crimes de perigo singular.
• CASO nº 41B: Amélia dá à luz um filho. Não se sente moralmente diminuída pelo
facto de não ser casada e entende que a sua qualidade de mãe solteira não deve ser
motivo de aviltamento social. No entanto, conhece suficientemente a comunidade em
que vive para saber que esta a rejeitará como seu membro "respeitável". Como apenas
um número muito restrito de vizinhos sabe do nascimento, decide desembaraçarse
do filho para que tal conhecimento não alastre aos restantes elementos da
comunidade. Com esse objectivo vai colocálo, ainda com poucos dias de vida, na
margem de um ribeiro a cerca de 500 metros da povoação, por onde passam algumas
pessoas, na esperança de que alguma delas possa vir a encontrar e recolher a criança.
A chuva, que entretanto começa a cair com grande intensidade, leva Belmiro, dono de
uma barragem situada a cerca de um quilómetro a montante do local, a descarregar a
água acumulada para o ribeiro, sem pensar nos prejuízos que podia causar nas
culturas agrícolas alheias situadas a juzante nem se dar conta do risco em que
colocava os trabalhadores que nelas labutavam. Aqueles prejuízos viriam a cifrarse
em cerca de um milhão de escudos e estes trabalhadores só não foram arrastados na
corrente por se terem refugiado, a custo, em terras mais altas. O aumento do caudal
resultante da chuva e da descarga da barragem fez com que o ribeiro transbordasse
M. Miguez Garcia. 2001
970
do leito para as margens no local em que o recémnascido fora deixado,
aproximandose deste. Camilo, que na altura passa por ali acidentalmente e se
apercebe do risco que a criança corre, aproveita a oportunidade para lhe tirar um fio
de prata que aquela trazia ao pescoço, no valor de mil escudos, ficando com ele e
seguindo o seu caminho. O recémnascido veio a ser alcançado pelas águas do ribeiro
e a perecer nelas por afogamento. Quando, mais tarde, o corpo foi encontrado e
começaram a correr rumores sobre a identidade da mãe, Camilo foi entregar a esta o
cordão de prata antes de ser instaurado qualquer procedimento criminal. Cf. a prova
escrita de direito penal (CEJ) de 16 de Abril de 1993.
• O perigo concreto só ocorre quando, por força do comportamento em questão, se chega a
uma situação crítica em que a segurança de uma pessoa ou de uma coisa é de tal
modo atingida que unicamente dependerá do acaso que a lesão do bem jurídico se
realize ou não.
O recémnascido acabou por perecer por afogamento. A actuação de
Amélia não foi porém acompanhada de dolo homicida, pois agiu na esperança de
que alguma das pessoas que passavam pela margem do ribeiro pudesse vir a encontrar e
e isso não está em contradição com a circunstância de ela ter
recolher a criança
decidido desembaraçarse do filho. Desembaraçarse do filho não quer dizer sem
mais darlhe a morte ou intentar darlhe a morte. Nem mesmo se pode falar de
dolo eventual, pois nada no texto permite afirmar que Amélia previu
(representou a realização: artigo 14º) a morte do recémnascido como possível,
embora, claro, o pudesse ter feito. Não haverá homicídio voluntário (artigo
131º), que aliás suporia, ainda, a adequação entre a acção e o evento realizado.
O que se disse releva, inclusivamente, para o afastamento do tipo de ilícito do
artigo 136º (infanticídio), onde é elemento típico a morte do filho dada pela
mãe, independentemente de isso acontecer por acção ou omissão: o infanticídio
é ainda uma variante do homicídio doloso.
O que aconteceu foi que Amélia, voluntariamente, "expôs" outra pessoa, o
filho. Cabendolhe o dever de a guardar, por ser mãe, deixoua ficar, sem
defesa: foi colocar o filho, ainda com poucos dias de vida, na margem de um ribeiro a cerca
de 500 metros da povoação, por onde passam algumas pessoas. Todavia, a simples
exposição ou o simples abandono de outra pessoa, só por si, não integram o
crime do artigo 138º (exposição ou abandono), onde é necessário que se
M. Miguez Garcia. 2001
971
verifiquem os restantes elementos típicos, em especial que a vida da outra
pessoa, exposta ou abandonada, seja colocada "em perigo".
No artigo 138º desenhase um crime de perigo singular (por oposição a
perigo comum): é desde logo evidente que só uma pessoa — a pessoa que é
exposta — pode ser posta em perigo, só esta é objecto do perigo.
• A especial censurabilidade dos crimes de perigo comum não reside na circunstância de
muitos bens jurídicos serem afectados (como acontece nos delitos em série), mas no
facto de as vítimas, sendo vítimas do acaso e por isso terceiros "inocentes",
aparecerem, nas relações com o criminoso, como representantes da comunidade. De
perigo comum só se poderá falar se, avaliando a acção ex ante, uma multiplicidade
desses indivíduos escolhidos ao acaso (ou o seu património) puder entrar no âmbito
do perigo, mesmo se no final, numa avaliação ex post, só uma pessoa esteve
efectivamente em perigo. Stratenwerth, p. 34 e s.
Tratase, porém, de um crime de perigo concreto. Na alínea b) a estrutura
típica assenta numa actividade delineada sobre a violação de deveres
específicos e um resultado autónomo que se tem de relacionar com esses
deveres. (36) No plano subjectivo, tem que haver dolo quanto à situação de
exposição ou abandono. O próprio perigo tem de ser objecto do dolo (ou, pelo
menos, tem de envolverse na referência subjectiva do agente), pois é um
elemento do tipo de ilícito. É aqui que se dão divergências doutrinárias de
algum vulto. (37). No artigo 138º, enquanto crime de perigo concreto, o perigo
36
. Na descrição típica da exposição ou abandono (artigo 138º) alargouse em 1998 a
âmbito da incriminação a todos os casos em que o agente deixe a vítima indefesa, desde que
sobre ela recaia o dever de a guardar, vigiar ou assistir. É da violação deste dever — e não da
debilidade da vítima — que resulta o carácter desvalioso e censurável da conduta. Assim,
praticará o crime, por exemplo, o montanhista que, guiando uma expedição, abandonar um
turista, criando um perigo para a sua vida.
37
. Discutese se é configurável um dolo de perigo como um momento de dolo eventual
(em que o elemento volitivo do dolo resulta da conformação do agente com o perigo). Dizse
que, se o agente se conforma com a possibilidade de se verificar o perigo, está a conformarse
com a possibilidade de uma possibilidade e, desse modo, com a lesão... e então no nosso caso
haveria homicídio voluntário. Quando alguém aceita o risco está a conformarse com o dano...
Maia Gonçalves, sensível à dificuldade da questão, diz que se o agente, podendo prever o
resultado, actuou com inconsideração, confiando em que ele se não verificava, ou se não se
conformou com a sua verificação, terá praticado este crime. Se pelo contrário ele actuou
conformandose com o resultado, que previra, haverá dolo eventual e, consequentemente, não
M. Miguez Garcia. 2001
972
desempenha a função de “evento”. Tratase então de um crime de resultado, em
que o resultado causado pela acção é a situação de perigo para um concreto
bem jurídico, de perigo para a vida de outra pessoa. À semelhança do que
sucede nos crimes materiais de lesão, o destacamento do evento é uma
exigência normativa no âmbito destes crimes, dos crimes materiais de perigo. A
imputação objectiva deve obedecer a regras comuns às que vigoram nos crimes
materiais de dano: ao relacionamento entre a conduta do agente e a situação
perigosa são aplicáveis pelo menos os critérios restritivos da causalidade
adequada. (Cf. Rui Carlos Pereira, O Dolo de Perigo, p. 97) (38).
No caso nº 41B temos que nos pronunciar desde logo sobre a
perigosidade da acção da mãe, determinando se, ao tempo desta, a lesão reunia
probabilidade de se efectivar. A verdade é que, numa perspectiva ex ante,
sempre que nas ditas condições se deixa um ser humano com poucos dias de vida
na margem de um ribeiro, fica claro que se trata de uma acção perigosa para o bem
jurídico em causa. Fica então para demonstrar:
a) Se o perigo para a vida da criança se concretizou, se realmente se
verificou o resultado de perigo exigido pela norma incriminadora, i. é, se
chegou a darse a probabilidade da lesão da vida, no fundo, se um abalo ao bem
jurídico da vida se materializou (e a resposta só poderá ser afirmativa: a
destruição do bem jurídico vida não só passou pelo horizonte do perigo,
tornando provável a lesão, como até aconteceu, já que a criança veio a morrer);
• E aqui renovase a questão de saber se no juízo de perigo será de empregar ainda uma
perspectiva ex ante, tendendo as respostas para a negativa e afirmandose que se
trata de um juízo de prognose (e não de diagnose) ex post: este juízo de prognose
se verificará este crime, mas o de homicídio voluntário. Mas boa parte da doutrina aceita que é
possível representar o perigo, pretendêlo como tal, para conseguir um objectivo, mas não
aceitar o dano, e até nem o representar (cf. Rui Carlos Pereira; Silva Dias).
38
. Cf., porém, Faria Costa, O perigo, p. 511: por mais maleabilidade ou elasticidade que
se empreste à causalidade adequada, dificilmente esta permite que se consiga estabelecer um
juízo de causação entre a acção e, por ex., um resultado de perigo. O perigo deve ou tem de ser
objectivamente imputado ao agente. Todavia, o perigo não é um estádio que pertença ao
mundo do ser causal. O perigo é intencional e estruturalmente um categoria normativa, sem
que com isso perca a qualidade de se poder apreender de maneira objectivável. Nesta
perspectiva, por conseguinte, o perigo não é tanto causado pelo agente, antes o perigo é “obra”
intencionada do agente, não se concretiza, como acontece no dano/violação, em uma alteração
do real verdadeiro, configura antes uma situação com um pequeno, quantas vezes
pequeníssimo arco de tempo.
M. Miguez Garcia. 2001
973
abstrai das circunstâncias que eventualmente ditaram a não verificação da lesão, não
as toma reflexivamente em conta na hora da determinação do momento (autónomo
relativamente à lesão) que é o da probabilidade. "Este momento dáse, quando se
comprovar ex post que alguém entrou num círculo de perigo, isto é, numa zona de
insegurança existencial de tal monta, que se torna previsível e normal, segundo a
experiência da vida quotidiana, a verificação da lesão" (Augusto Silva Dias, p. 574)
(39);
b) se este resultado de perigo é consequência adequada da actuação de
Amélia (causalidade adequada); e se a resposta continuar a ser afirmativa (o
perigo é consequência do comportamento de Amélia?, ou consequência da
abertura da barragem?, ou dos dois? ou de nenhum deles?) cabe então
perguntar:
c) se subjectivamente o perigo para a vida pode ser imputado a Amélia
(que sem dúvida actuou com dolo quanto ao acto de exposição ou abandono do
filho). No crime de exposição ou abandono é sempre necessário um dolo de
perigo para a vida da vítima.
• Se se concluir, no caso nº 41B, que a mãe actuou ilícita e culposamente, excluindose
qualquer causa de justificação ou de desculpa, fica ainda para resolver se a morte da
criança é de imputar — objectiva e subjectivamente: artigo 18º — à autora do crime
de exposição ou abandono, que assim veria a sua pena agravada nos termos do artigo
138º, nºs 1, b ), e 3, b ), levandose em conta a agravação ditada pelo nº 2.
Nos crimes de resultado, sejam de lesão ou de perigo (concreto), colocase,
inevitavelmente, a questão da imputação objectiva do resultado à acção. Não
assim nos crimes de mera actividade com que liminarmente se podem
identificar os crimes de perigo abstracto. Os crimes de perigo concreto,
39
. E acrescenta em nota que assim se não faz retroagir a prognose ao tempo da acção
nem o intérprete se ocupa da diagnose, maior ou menor, das causas da ausência de lesão.
Consequentemente, no exemplo do carro que avança contra o polícia a uma velocidade
contrária às regras de trânsito, haverá uma crise aguda para o bem jurídico e portanto um
perigo juridicamente relevante, "quando o veículo descontrolado entra em rota de colisão com
o polícia, ou penetra num círculo de proximidade que torna o choque possível,
independentemente da existência ou não de leis científicas que expliquem a ausência de lesão
ou do carácter normal ou extraordinário da medida de salvamento".
M. Miguez Garcia. 2001
974
enquanto crimes de resultado, distinguemse dos crimes de lesão, não por se
desviarem dos critérios de imputação mas porque em lugar de um resultado de
dano (resultado de lesão) o correspondente tipo exprime um resultado de
perigo. Como acontece com o dano, "o perigo deve ou tem de ser
objectivamente imputado ao agente", é necessário que se produza um
“resultado de perigo” concreto, no sentido de um risco de dano, adequado e
proibido, à semelhança do que acontece nos crimes de dano ou de lesão. O
perigo concreto caracterizase por uma situação crítica aguda que tende para a
produção do resultado danoso. É costume dizerse que a segurança de um
determinado bem jurídico tem de ser tão fortemente afectada que a
circunstância de se dar ou não a lesão do bem jurídico depende inteiramente do
acaso. (Cf. Cramer, in S/S, 25ª ed., p. 2092). A noção de acaso ficará então
envolvida com a impossibilidade de dominar o desenvolvimento do perigo.
• Para o aplicador do direito não será indiferente operar com um resultado de lesão ou com
um resultado de perigo, pois, como já se terá compreendido, “enquanto o dano
permanece, o perigo, por sua natureza, ocupa sempre um lapso de tempo, mais ou
menos duradoiro, mas nunca por nunca, permanece. O perigo acontece; o dano
permanece” (Faria Costa, p. 323). São palavras expressivas, que completam a imagem
plástica dos crimes de perigo concreto como aqueles em que a probabilidade da lesão
concreta, real, implica de algum modo "uma comoção" para o bem jurídico" (40), o que
torna indispensável a prova de que um bem jurídico foi posto em perigo, tarefa
naturalmente bem mais difícil numa situação de perigo, que "nunca por nunca
permanece", do que num resultado de dano, que deixa vestígios materiais,
possibilitando exames e facilitando as perícias.
Em resumo, quando nos debruçamos sobre o tipo de ilícito devemos
verificar se foi produzido um dano ou um perigo concreto e se, in casu, existe
40
. “Son delitos de peligro concreto aquellos en que la probabilidad de la lesión concreta
implica de algún modo una conmoción para el bien jurídico, es decir, que temporal y
espacialmente el bien jurídico probablemente afectado ha estado en relación inmediata con la
puesta en peligro; esto tiene importancia desde el punto de vista procesalpenal, pues es
necesario entonces probar que un bien jurídico fue puesto en peligro, que hubo una relación
entre el comportamiento típico del sujeto y el bien jurídico” (Juan Bustos Ramírez, Manual de
Derecho Penal Español, parte general, 1984, p. 191). Para Binding — e para a sua concepção do
perigo como Erschütterung (comoção, abalo, choque) — os crimes de perigo relevantes são
unicamente os de perigo concreto.
M. Miguez Garcia. 2001
975
um nexo de causalidade entre a actuação do agente e o correspondente
resultado de dano ou de perigo. Em comparação com o dano, o perigo é o
resultado menos grave. Ao contrário do dano, o perigo não se olha ao espelho,
porque não há nada para ver — o perigo não se revê no próprio objecto típico.
Ameaçao todavia de lesão pelo menos durante um instante. Nisto consiste a
sua concretização. (Cf. O. Triffterer, Österreichisches Strafrecht, AT, 2ª ed., 1985,
p. 63).
• Exante. Expost. Através de que tipo de juízo se afere a existência do perigo? Quando
numa determinada situação concreta emitimos um juízo sobre o que irá acontecer,
especialmente sobre o que irá acontecer se fizermos isto ou aquilo, estamos a ajuizar
sobre o futuro dum ponto de vista exante. Quer isto dizer que avaliamos
acontecimentos futuros a partir dum momento temporal em que esses
acontecimentos ainda se encontram no futuro. Mas também pode acontecer
formularmos um juízo quando esses acontecimentos já se encontram no passado.
Neste caso, ajuizamos sobre esses acontecimentos numa perspectiva expost, tomando
em consideração todos os conhecimentos de que o intérprete dispõe, incluindo os que
só são acessíveis ao agente posteriormente à sua conduta. Fazemos um juízo exante
quando dizemos: se eu agora atirasse esta pedra naquela direcção, o homem que além
está ficaria com um buraco na cabeça. Fazemos um juízo expost se dissermos: foi
porque atirei a pedra nesta direcção, que o homem que além está ficou com um
buraco na cabeça. Cf. Hruschka, p. 411 e s.
• O apuramento da perigosidade da conduta deverá levarse a cabo num momento anterior
à sua realização (exante) ou posteriormente à ocorrência da mesma? Ex. de Mir Puig:
B, que tem graves problemas cardíacos, cai morto, fulminado, quando ouve da boca
de A a notícia da morte do seu próprio filho. O facto verificouse e não restam
dúvidas que A foi o causador da morte de B. Exante, porém, no momento de dar a
notícia, a conduta de A não se apresenta como perigosa para a vida de B. Terá A
infringido a proibição de matar outra pessoa? Se se adoptar a perspectiva expost, a
resposta só poderá ser afirmativa, mas se a proibição se referir ao momento da acção
(exante), e se pergunta se naquele instante o Direito proibia que o A desse a B a notícia
da morte de filho, a resposta deverá ser negativa.
M. Miguez Garcia. 2001
976
• Juízo de probabilidade. Juízo de certeza. Probabilidade é um conceito distinto de
aleatoriedade. Esta traduz o carácter incerto dos acontecimentos futuros, enquanto a
probabilidade é o conceito que, embora partindo da incerteza dos acontecimentos
futuros, realiza um juízo de certeza sobre a constante de frequência desses mesmos
acontecimentos. Faria Costa, O Perigo, p. 480, e Cristina Líbano Monteiro, Perigosidade
de inimputáveis, p. 92.
IV. Crimes de perigo abstractoconcreto; crimes de aptidão, adequação.
• CASO nº 41C: Numa tarde de futebol, A e B, adeptos dum clube da capital, eterno
perdedor, aliviam as suas frustrações mandando umas pedras contra o autocarro
encarnado onde viajam os jogadores da vitoriosa equipa adversária.
No artigo 293º punese quem arremessar projéctil contra veículo em
movimento, de transporte por ar, água ou terra.
Como escreve Augusto Silva Dias, também aqui se não exige que o juiz
aprecie "se foi arremessado contra veículo projéctil perigoso, se era ou não
elevada a velocidade do arremesso, se as condições de deslocação do veículo
eram propícias à ocorrência de acidente, nem tão pouco se foi posta em crise a
vida ou a integridade física de algum tripulante, mas a exigência típica de que o
veículo esteja em movimento permitenos descortinar um modelo de
perigosidade e arvorálo em critério de averiguação da impossibilidade do
dano. Assim, por exemplo, não realiza o tipo alguém que apedreja um
automóvel que viaja sobre um comboio de mercadorias ou está a ser içado por
um guindaste para o convés de um navio portacontentores, porque este não é o
género de movimento que a norma visa abranger. O modo como o veículo
atingido se desloca, torna impossível a lesão da vida ou da integridade física de
alguém pelo comportamento referido".
Estas situações aproximamse dos chamados crimes de perigo abstracto
concreto: o legislador apoiase numa genérica aptidão da acção para produzir o
evento danoso. "Em tais situações, embora não seja requerida a verificação
casuística da criação de um perigo, há lugar à determinação (judicial) da
genérica perigosidade da conduta, com base em critérios de experiência (cf.,
neste sentido, Rui Carlos Pereira, O dolo de perigo, p. 25). Com efeito, o perigo
M. Miguez Garcia. 2001
977
não está abstractamente contido na razão de ser da norma — nem surge
tipicamente exposto como evento, mas apresentase como uma qualidade
intrínseca à acção. "Produzse desta forma uma combinação na acção de
elementos abstractos e concretos de perigo, concentrados na acção." (Augusto
Silva Dias).
Há quem sustente que no nosso direito os crimes de difamação e de
injúrias (41) terão de ser classificados como de perigo abstractoconcreto (A.
Oliveira Mendes, O direito à honra e a sua tutela penal, 1996, p. 56): "o
legislador apoiase na genérica aptidão da acção para produzir o evento
danoso, qual seja a imputação de factos, juízos ou palavras ofensivos da honra
ou da consideração alheias, razão porque não é exigível ao julgador um juízo
sobre as circunstâncias concretas de cada caso que lhe é submetido a
julgamento, em ordem a determinar se o perigo se verificou, isto é, se ocorre,
pelo menos, uma forte probabilidade de o resultado desvalioso se vir a
desencadear ou a acontecer (já que o perigo não está incluído na norma como
efeito do facto típico), no entanto, não se dispensa que o julgador averigue se a
acção desencadeada pelo agente é genericamente perigosa, para o que se deverá
socorrer, tão só, de critérios de experiência (determinação judicial da genérica
perigosidade da acção)."
• No direito alemão, o juiz, tratandose do crime contra a honra previsto no § 186 do StGB
(üble Nachrede), deve verificar a existência dos elementos típicos e, além disso,
fazendo uso dum critério generalizante, decidirá se a acção é adequada (idónea:
"geeignet") para lesar o bem jurídico. Segundo uma parte da doutrina, estes casos de
concretização parcial distinguemse dos autênticos delitos de perigo abstracto por
serem "delitos de aptidão" (Eignungsdelikte"). Todavia, são ainda crimes de perigo
abstracto: não obstante a comprovação da perigosidade geral da acção, fica ao critério
41
. Quanto à natureza jurídica destas infracções, houve sempre quem sustentasse que se
trata de crimes de perigo, por não se exigir dano efectivo à honra. Nessa corrente, que foi
seguida pelos italianos Antolisei e Manzini, incluise também a opinião do Prof. Beleza dos
Santos. Para haver consumação, será suficiente a idoneidade da ofensa, pois, não só não se
exige que a pessoa se considere ofendida, como também se prescinde de que a afirmação tenha
encontrado crédito perante outras pessoas, podendo até suscitar repulsa. Nem por isso a honra
da pessoa deixou de estar exposta à probabilidade de um dano (Magalhães Noronha). Na
Suíça, a jurisprudência continua a entender que se trata de crimes de crimes de perigo
abstracto: “üble Nachrede und Verleumdung “sind abstrakte Gefährdungsdelikte” (BGE 103
IV 22).
M. Miguez Garcia. 2001
978
do juiz a apreciação do requisito da idoneidade para a produção dum resultado
determinado (Jescheck, Strafrecht, AT, p. 238).
O crime de ameaça (artigo 153º) é igualmente de perigo abstracto: o ilícito
exige a verificação da idoneidade genérica e abstracta do concreto acto
praticado para causar medo ou inquietação; todavia, não tem que se averiguar
se a vontade do ameaçado chegou a ser influenciada ou se foi influenciada em
determinado sentido (42).
• Um gesto com a mão direita apontada na direcção da assistente, simulando uma pistola,
tendo para o efeito esticado o indicador e polegar e dobrado para a palma os
restantes três dedos, desacompanhado de qualquer palavra, apesar de ela ficar
perturbada, carece de idoneidade objectiva para ser considerado uma ameaça
penalmente relevante. Acórdão do STJ de 24 de Março de 1999, CJ, 1999, tomo I, p.
250
O requisito da "idoneidade", ou expressão semelhante, é também
empregue em outros tipos de ilícito, por exemplo, no artigo 251º (ultraje por
motivo de crença religiosa): punese quem publicamente ofender outra pessoa
(...), por forma adequada a perturbar a paz pública.
Finalmente, anotarseá que em certos crimes, como o de corrupção, em
que está em causa a pureza da administração pública e um bem jurídico de
natureza imaterial (bem jurídico intermédio espiritualizado, "vergeistigtes
Zwischenrechtsgut", cf. Roxin, p. 344; Jakobs, Strafrecht, AT, p. 175), bastará o
desvalor da acção, não se justificando a averiguação de qualquer perigo. (Cf.,
também sobre isto, o citado Entre "comes e bebes", de Augusto Silva Dias, cuja
leitura vivamente se recomenda).
42
. O que se exige para o preenchimento do tipo é que a acção reuna certas circunstâncias,
não sendo necessário que em concreto se chegue a provocar o medo ou a inquietação. Por ex.,
preenche o tipo o indivíduo que ameaça outro com uma arma, embora este último esteja no
interior de uma casa perfeitamente defendido da acção, pois tal acção é normalmente
adequada quer do ponto de vista do agente quer do que é geralmente reconhecido (Actas, nº
45, p. 500).
M. Miguez Garcia. 2001
979
V. Crimes de perigo comum.
• CASO nº 41D: A, que tem graves desavenças com o dono de uma pequena pensão de
três andares duma vila da província, pegada a outros edifícios, lança fogo a um dos
quartos de hóspedes, depois de se ter assegurado que mais ninguém, além dele
próprio, se encontrava no interior do edifício. Quando, tomando todas as cautelas
para não ser visto, saía por uma das portas das traseiras, A apercebeuse, estupefacto,
que a cozinha da pensão já se encontrava a arder. Mais tarde soubese que a
cozinheira, propositadamente, por causa de ordenados em atraso, para se vingar do
patrão, derramou uma boa porção de gasolina no chão da cozinha, a qual, a breve
trecho, alcançou o fogão, que envolveu em chamas.
“O terramoto de Lisboa foi uma catástrofe natural. O que os soviéticos chamaram “avaria”
do reactor nº 4 da central de Chernobil, na Ucrânia, foi uma catástrofe civilizacional,
foi obra do homem. Aconteceu com um tipo de reactor produzido em quantidade, mas
em que as normas de segurança foram relegadas para lugar secundário por razões
económicas. No planeamento houve coisas irrealistas e nos pormenores de construção
um desmazelo inimaginável. O próprio acidente resultou de uma reacção em cadeia de
erros e negligências do pessoal numa altura em que se fazia uma experiência donde
poderiam ter resultado elementos para melhorar a segurança da central. (...).
Catástrofes civilizacionais são a consequência natural da ruptura de relações naturais
provocada pelo homem.” Günther Nonnenmacher, Lissabon und Tshernobyl, in
Frankfurter Allgemeiner Zeitung, de 26 de Abril de 1996.
• A categoria do perigo comum parece ser fruto de um intento de racionalização e
sistematização por parte da doutrina iluminista alemã com vista a unificar sob um
único conceito uma multiplicidade de factos diversos e de amplo espectro de
potencialidade lesiva que tinham diferentes objectos de tutela. A ideia de "gemeine
M. Miguez Garcia. 2001
980
Gefahr", onde se envolviam dano e perigo para pessoas e coisas, passou para as
legislações, incluindo a italiana (Giusino).
O artigo 272º (incêndios, explosões e outras condutas especialmente
perigosas) integra um crime de perigo comum, concreto. Pôr fogo num objecto
significa que este é envolvido de tal forma que o fogo pode propagarse
unicamente pelas suas próprias forças. A queima de umas silvas ou de uns
desperdícios não basta para integrar o ilícito, onde é elemento típico a
provocação de incêndio de relevo. Já será suficiente o fogo posto na escadaria de
um edifício se houver a possibilidade de o fogo se propagar, desde que haja
concretização do perigo. Pôr fogo em outra parte de um edifício que já está a
arder integrará assim o desenho objectivo do tipo. Mas é discutível se assim se
deve entender quando o agente se limita a atiçar o fogo posto por outro. A
questão pode prenderse com a da autoria e da participação (cf. Maria
Margarida Silva Pereira, Da autonomia do facto de participação, O Direito, ano 126
(1994), IIIIV, p. 611). Especialmente visados, de acordo com o artigo 272º, são
os edifícios ou construções, meios de transporte, florestas, matas, arvoredo ou
seara, sem se distinguir se são próprios ou alheios. Está em causa a criação de
perigo para a vida ou para a integridade física de outrem ou para bens
patrimoniais de valor elevado que, estes sim, devem ser alheios. São casos em
que o perigo tem que ser concretizado, mas se se provoca incêndio com danos
em edifício alheio, deverá terse igualmente em atenção o disposto no artigo
212º, que é crime material de dano (lesão) e protege a propriedade.
O artigo 272º segue o esquema subjectivo, que adopta a técnica própria
destes crimes de perigo comum: no nº 1 acção dolosa e criação de perigo
doloso; no nº 2 acção dolosa e criação de perigo negligente; no nº 3 acção
negligente e criação de perigo negligente.
• * O nº 1 do artigo 253º do CP82 prevê um crime de perigo comum e com o atear do fogo,
que consiste num risco incontrolável ou de difícil controlo para a segurança de outras
pessoas ou para bens patrimoniais alheios de grande valor, devendo o dolo estar
incluído no risco. A destruição de uma viatura por fogo posto, sem que o incêndio
possa atingir terceiro ou outros bens valiosos, por não se encontrar recolhido dentro
do edifício, ou junto de mata ou em local de passagem de outros veículos ou pessoas,
integra o crime de dano agravado do artigo 309º, nº 1 (CP82) (ac. do STJ de 1 de
Março de 1995, BMJ44573).
M. Miguez Garcia. 2001
981
A ideia que em geral preside ao capítulo dos crimes de perigo comum
(artigos 272º a 286º), que é a despensa do Código Penal (os respectivos crimes
são, em geral, tidos por delitos vagabundos), é a de que o agente não domina a
expansão do perigo e que existe o risco de atingir um número indeterminado de
pessoas ou coisas: “uma vez libertadas, as forças da natureza seguem o seu
rumo de forma imparável” (v. Hippel). São crimes que se caracterizam
sobretudo pelo modo de acção (Handlungsweisen). Reparese nos verbos de
resultado (Erfolgsverben) que se seguem: “provocar incêndio”, “provocar
explosão por qualquer forma”, “fabricar”, “dissimular”, “destruir”, “danificar”,
“poluir”... Neste capítulo, o Código trata, ao lado de autênticos crimes de
perigo comum, outros casos claramente identificados como crimes de dano, por
exemplo, o crime de “danos contra a natureza” (artigo 278º). Há um crime de
“poluição” (artigo 279º), seguido de um crime de “poluição com perigo
comum” (artigo 280º). Nestes crimes, como na generalidade dos crimes de
perigo, a natureza da actividade desenvolvida e a experiência acumulada
permitiram "tipificar" a norma de cuidado, a descrição legal da acção típica é
expressão da valoração do risco por ela criado como risco não permitido: a
descrição da acção, na sua dimensão tipicamente relevante, dános a referência
ou padrão normativo, e o dever objectivo de cuidado. Conduzir com manifesta
temeridade, infringir as normas estabelecidas para o transportes de exposivos
ou de armas, pôr produtos à venda sem os requisitos de qualidade ... são
condutas perigosas exante, cuja realização supõe a realização de um risco já
não permitido. O dever de cuidado exige do agente que se abstenha de as
realizar; a sua realização supõe portanto a infracção do cuidado objectivamente
devido, salvo se se tomarem excepcionais medidas de segurança que as façam
em concreto não perigosas (Cf. T. Montañes, p. 199).
• O ponto crucial destes crimes, escrevese na "Introdução" ao Código Penal, reside no facto
de que condutas cujo desvalor de acção é de pequena monta se repercutem amiúde
num desvalor de resultado de efeitos não poucas vezes catastróficos. O que está
primacialmente em causa não é o dano, mas sim o perigo. A lei penal, relativamente a
certas condutas que envolvem grandes riscos, bastase com a produção do perigo
(concreto ou abstracto) para que dessa forma o tipo legal esteja preenchido. O dano
que se possa vir a desencadear não tem interesse dogmático imediato. Punese logo o
perigo, porque tais condutas são de tal modo reprováveis que merecem
imediatamente censura éticosocial. Adiantese que devido à natureza dos efeitos
M. Miguez Garcia. 2001
982
altamente danosos que estas condutas ilícitas podem desencadear o legislador penal
não pode esperar que o dano se produza para que o tipo legal de crime se preencha.
Ele tem de fazer recuar a protecção para momentos anteriores, isto é, para o momento
em que o perigo se manifesta.
No Código, a expressão perigo comum tende a designar crimes que
atentam contra uma pluralidade de bens jurídicos (Actas, 1979, p. 11), diferentes
de norma para norma, conforme o conteúdo desta: por ex., nos artigos 272º, 277º
e 280º, a norma incriminadora exige que o perigo se concretize ou no bem
jurídico vida de outrem, ou na integridade física de outrem ou em bens
patrimoniais alheios de valor elevado. Mas no artigo 281º elemento do tipo é a
criação de perigo de dano a número considerável de animais alheios,
domésticos ou úteis ao homem, ou culturas, plantações ou florestas alheias; no
artigo 282º estará em causa unicamente a criação de perigo para a vida ou para
a integridade física de outrem. Nos artigos 283º e 284º, háde ser grave o perigo
para a integridade física de outrem, sem o que a agravação não se dá.
A primeira projecção indicadora do sentido interpretativo [do perigo comum] deve ser a
de surpreender a distinção entre o perigo que ameaça singularmente a vida de A, B. ou C e o
perigo que ameace simultaneamente a vida de A, B e C. (Faria Costa, O Perigo em Direito Penal,
p. 533).
São crimes que, como já se observou, se caracterizam sobretudo pelo modo
de acção. A imprimir carácter às condutas puníveis, fazse uso, como também se
observou, de diferentes verbos de resultado, de que são exemplo as expressões
“provocar incêndio”, “provocar explosão por qualquer forma”, “fabricar”,
“dissimular”, “destruir”, “danificar”, “poluir”, etc., as quais andam associadas
à ideia da sua susceptibilidade de causar uma dano não controlável (difuso),
com potência expansiva e aptidão para causar alarme social (cf. Marques
Borges).
• Esta dificuldade de controlar os efeitos do emprego de certos meios é que caracteriza o
desvalor da acção dos crimes de perigo comum a que faz apelo a alínea f ) do nº 2 do
artigo 132º como indício de especial perversidade ou censurabilidade do agente,
recorda Augusto Silva Dias, Entre "comes e bebes", p. 545, que acrescenta: "Não se
trata de um regra especial de punição do concurso entre o homicídio e os crimes de
perigo comum, pois a al. f ) apenas alude aos meios que se traduzem na prática de
crime de perigo comum, independentemente do modo como o crime de perigo
M. Miguez Garcia. 2001
983
comum se estrutura em cada um dos preceitos incriminadores do art. 272 e ss. Meio
de perigo comum significa na al. f ) um meio tipificado no art. 272 e ss. (não basta um
meio em geral perigoso, como, por exemplo, um automóvel descontrolado) cuja força
expansiva é utilizada de modo a ameaçar, incontrolavelmente, uma variedade de
bens jurídicos de uma série indeterminada de pessoas". (...) "Na perigosidade do
meio, assim caracterizada, reside o "plus" que agrava especialmente o desvalor da
acção do homicídio e constitui, por essa via, indício de uma atitude acentuadamente
censurável ou perversa. As concretas incriminações de perigo ou ficam aquém do
conteúdo desse indício, como sucede no crime de perigo presumido do art. 275, que
não requer a comprovação da perigosidade do meio, nem admite a averiguação da
sua total falta de nocividade, ou situamse além dele, como é o caso dos crimes de
perigo comum concreto que exigem, além da prova da perigosidade do meio, a
confirmação de que pelo menos um representante da comunidade tipicamente
relevante foi posto em perigo. Este diferente posicionamento perante a circunstância
qualificadora da al. f ) tem repercussões práticas ao nível do concurso. Entre a
detenção ou uso de armas proibidas "fora das condições legais ou em contrário das
prescrições da autoridade competente" (art. 275, nº 2) e o homicídio qualificado (art.
132, nº 2, al, f ), não nos parece adequado falar em concurso efectivo, pois a
perigosidade geral do meio já é tida em conta na contabilidade punitiva da última
incriminação". Em idêntico sentido, apontase Pinto de Albuquerque, Crimes de
perigo comum, p. 280.
Perigo comum tem ainda a ver com a indeterminação do titular dos bens
jurídicos ameaçados. Atentese na uniformização, justificada pelo Prof.
Figueiredo Dias, pelo emprego generalizado do termo "outrem" nas diversas
incriminações do artigo 272º e ss., designando os ofendidos com a prática destes
crimes, e exprimindo a ideia de que o perigo surge para uma pessoa
indeterminada e não para uma certa pessoa (ainda as Actas, p. 355 e ss.).
"Outrem" significa, assim, acrescenta Augusto Silva Dias, uma vítima indistinta,
alguém que pertence a um conjunto de pessoas que se encontra num
determinado círculo de perigo causado pela acção praticada através de meios
incontroláveis — ainda que o perigo se possa concretizar quando uma pessoa,
escolhida ao acaso, é colocada em perigo.
M. Miguez Garcia. 2001
984
Perigo comum defineo Welzel como sendo o perigo que tem a ver com a colectividade,
consistindo esta na multiplicidade de indivíduos (objectos), mas também na indeterminação da
individualidade. Portanto, perigo comum é não só o perigo para uma multiplicidade de
objectos, sendo indiferente que o seu número seja determinado ou indeterminado, mas
também o perigo para um deles, sendo este um objecto indeterminado enquanto parte da
colectividade” (Das Deutsche Strafrecht, 11ª ed., p. 452).
Não falta quem afirme, de forma aliás acertada (Stratenwerth e Augusto
Silva Dias), que a essência do perigo comum, "mais do que na pluralidade,
reside na indeterminabilidade dos objectos do perigo: esta indeterminabilidade
depende, não do número de bens jurídicos afectados, mas do modo como são
afectados; eles têm de ser escolhidos ao acaso, mesmo se no instante da
agressão é seguro quem pode ela atingir". Numa boa parte das incriminações, a
situação perigosa apresenta a particularidade de estar referida, em alternativa, a
uma multiplicidade de bens jurídicos: vida, ofensa corporal de alguém ou bens
patrimoniais alheios de valor elevado.
Na estrutura do Código, a "situação de perigo comum" é elemento do tipo
do artigo 200º (omissão de auxílio) e circunstância agravante do artigo 204º, nº
1, d ) (furto qualificado); a "utilização de meio que se traduza na prática de
crime de perigo comum" é “exemplopadrão” do artigo 132º, nº 2, alínea f)
(homicídio qualificado). No artigo 91º, nº 2, referente ao internamento de
inimputáveis, a duração mínima do internamento está relacionada com a
prática de um crime de perigo comum. O conceito de "meio de perigo comum"
é fácil de alcançar quando o agente, por ex., emprega uma bomba. Mas se
utiliza uma faca com uma lâmina de 13 por 11,5 cm, como no caso do ac. do STJ
de 13 de Maio de 1992, BMJ417348, é duvidoso que se trate de meio de perigo
comum, "antes parecendo apenas a arma adequada a, quando manejada com
força, causar a morte". Com o emprego de uma bomba, o agente não pode em
geral determinar nem limitar os efeitos das forças que ele próprio desencadeia,
não pode avaliar antecipadamente o número de pessoas que irão morrer, as
que, sobrevivendo, ficarão feridas, o montante dos estragos em propriedade
alheia: a bomba é portanto um instrumento dessa natureza. Por seu turno, os
"crimes de perigo comum" começam por se justificar, no plano das ideias, na
forma de crimes de perigo abstracto, é este o seu fundamento. Como norma
incriminadora, moldamse em geral na forma concreta, exigida para a
consumação. No momento desta, transformamse em crimes de perigo singular.
Vejase o artigo 272º: é concebível punir o fogo como perigo abstracto que
normalmente acompanha a acção de provocar incêndio de relevo — o
legislador português, no entanto, exigiu a criação do perigo concreto para a
M. Miguez Garcia. 2001
985
punição. Não se chegando a criar perigo para a vida, etc., a norma não se aplica,
ainda que haja incêndio de relevo, por não se alcançar a consumação com o
simples perigo presumido. Criandose o perigo, por ex., para a vida de A e B, ou
para o prédio contíguo de C, que vale 50 mil contos, o crime de perigo concreto
estará consumado como acontece com os crimes de perigo singular. É assim
proveitosa a comparação com um crime de perigo singular na sua origem e
consumação, concreto no seu desenho típico, o do artigo 138º (exposição ou
abandono), em que se visa tutelar um único bem jurídico, a vida humana.
Particularmente interessantes, a propósito desta distinção, são as considerações do Prof. Faria
Costa, sobre uma parcela do crime de perigo comum do artigo 263º (infracção de regras de
construção, dano em instalações e perturbação de serviços) do Código Penal de 1982, que não
resistimos a transcrever: "No nº 2 do artigo 263º CP82 constróise um tipo legal de crime de
resultado de perigo negligente. Resultado este que está intimamente conexionado com a
violação das específicas regras de construção. Regras essas que, por outro lado, podem estar
positivadas em disposições legais ou regulamentares ou ainda contidas em “normas
geralmente respeitadas ou reconhecidas” (o que parece inculcar que também aqui se podem
detectar umas leges artis aedificandi). De sorte que o tipo legal do nº 2 do artº 263º fica, em
nosso entender, preenchido quando se viola dolosamente, por exemplo, as normas de
construção geralmente respeitadas ou reconhecidas e se cria um perigo negligente para a vida
ou para a integridade física ou ainda para bens patrimoniais de grande valor de outrem.
Perante esta construção, fácil é de reconhecer uma clara identidade entre a presente estrutura
dogmáticoincriminadora e aquela que o artº 150º, nº 2, espelha. Todavia, a construção
ordenativa em que se integra o artº 263º, nº 2, faz parte de uma arquitectura dogmática cujo
estilo é definido pelo legislador como sendo de “crimes de perigo comum”. (Faria Costa, O
Perigo em Direito Penal, p. 533).
No capítulo dos "crimes de perigo comum", o artigo 286º concede, para
certos casos, uma atenuação especial e dispensa de pena. Por sua vez, o artigo
285º tem o dano como motivo de agravação. Resultando morte ou ofensa à
integridade física grave de outra pessoa (na previsão dos artigos 272º, 273º, 277º,
280º e 282º a 284º), o agente é punido com pena agravada. Não restam agora
dúvidas de que há primeiramente a estabelecer qual a moldura penal
correspondente aos crimes referidos no texto legal, supondo que não resultou a
morte ou ofensa à integridade física grave de outra pessoa. Seguidamente, para
encontrar os limites agravados segundo este artigo, acrescentarseá um terço a
cada um dos limites mínimo e máximo (Maia Gonçalves, p. 875). A agravação
da pena pelo resultado é sempre condicionada pela possibilidade de imputação
desse resultado ao agente a título de negligência (artigo 18º).
Sobre o conceito de "valor elevado" como elemento de diversas
incriminações de perigo comum, cf. o ac. da Relação de Évora de 4 de Março de
M. Miguez Garcia. 2001
986
1997, BMJ465661: uma casa de habitação, por mais modesta que seja, é um
bem de valor elevado em termos sociais.
Quanto ao concurso entre os crimes de perigo e os respectivos crimes de
dano, a regra básica é a da subsidiaridade. Pensese na relação entre o crime de
perigo do artigo 138º (exposição ou abandono) e o crime de lesão do artigo 131º
(homicídio); ou na que desenha entre a condução perigosa de veículo (artigo
291º) e os diversos crimes involuntários, como o homicídio (artigo 137º) ou a
ofensa à integridade física (artigo 148º). "Só assim será, porém, na medida em
que o perigo não ultrapasse o concreto dano verificado (como muitas vezes
sucederá com os chamados "crimes de perigo comum": cf. Projecto, artigo 301º e
ss.)" (Prof. Figueiredo Dias, Direito Penal, sumários e notas, 1976, p. 108). No que
respeita mais especificamente à questão do concurso entre o crime de incêndio
(artigo 272º) e o de dano (artigo 212º), já se defendeu, no Supremo, a tese da
unidade criminosa (consunção impura): * cf. o ac. de 9 de Fevereiro de 1983,
BMJ324432, onde se concluiu que visando ambos (incêndio e dano) a
protecção do mesmo interesse jurídico, aquele, mais fortemente sancionador,
exclui este, segundo a regra da consunção. Do mesmo modo,
• comete um só crime, o do artº 253º, nº 1, o réu que lança voluntariamente fogo ao
compartimento de um prédio urbano, habitado por outros inquilinos, e não também
o crime de dano, por ser aquele preceito o que melhor protecção confere ao interesse
jurídico violado (acórdão do STJ de 10 de Julho de 1984, BMJ339251). Porém, * no
acórdão do STJ de 19 de Maio de 1993, BMJ427256, partese da natureza de crime de
perigo concreto para vários bens jurídicos do crime de incêndio (na altura o do artigo
253º) para se concluir pelo concurso efectivo , se os bens danificados não foram os
únicos bens postos em perigo. Cf., na mesma linha de orientação, * o ac. da Relação
do Porto de 7 de Março de 1984, CJ, ano IX, t. 2, p. 247: verificase um concurso de
infracções quando, com a sua conduta, o agente viola o disposto no artigo 253º
crime de incêndio e 308º crime de dano do CP. Cf., ainda, o * ac. da Relação de
Lisboa de 27 de Março de 1996, CJ, ano XXI (1996), t. 2, p. 149, acerca das relações
entre o dano e o lançamento de projéctil contra veículo (artigo 293º).
Os princípios fundamentais da punição do concurso de crimes de perigo
concreto com crimes de dano são assim resumidos por Pinto de Albuquerque,
Jornadas, p. 279: 1. A punição do crime de dano não consome a punição do
M. Miguez Garcia. 2001
987
crime de perigo concreto se o perigo se verificou em outros bens além daquele
objecto do dano, uma vez que então o bem tutelado pela incriminação de perigo
não se encontra integralmente tutelado pela punição através do crime de dano.
2. A punição do crime de perigo concreto consome a punição do perigo
abstracto e abstractoconcreto, uma vez que não faz sentido duplicar a tutela do
perigo com a dupla punição de estádios de perigo mais ou menos próximos do
resultado de perigo, tratandose em muitos casos na incriminação de perigo
abstracto da previsão de actos de preparação do crime de perigo concreto (por
que razão punir o agente que deteve e transportou o engenho explosivo que
usou parta provocar uma explosão, com vista a pôr em perigo a vida de outrem,
o que conseguiu, com os arts. 273º e 275º do CP?). 3. A punição do crime de
dano não consome, em princípio, a punição a título de crime de perigo
abstracto, já que o bem tutelado pela incriminação de perigo não se reduz ao
bem tutelado pela incriminação do dano, excepto se a incriminação do dano já é
especialmente agravada com uma previsão da ocorrência de um crime de
perigo abstracto (como no homicídio com armas proibidas) e, portanto, a
ocorrência do crime de perigo abstracto é uma circunstância de uma forma
qualificada do crime de dano. Contudo, se estas são as regras básicas que
decorrem dos princípios gerais, o artigo 285º afasta, em princípio, as regras do
concurso entre os crimes de perigo e os crimes de homicídio e ofensas corporais
graves. O artigo 285º vale seja qual for a estrutura subjectiva dos crimes de
perigo em causa e deve ser aplicado só enquanto permite uma punição mais
grave do concurso de crimes do que a resultante do regular funcionamento das
regras gerais do concurso de crimes, uma vez que o legislador pretendeu com a
estatuição desta norma especial criar um regime mais gravoso do que o que
resulta do funcionamento daquelas regras.
VI. Crimes de perigo comum
• CASO nº 41E: A sociedade comercial António Rodrigues, Lda., iniciou, em Janeiro de
1999, a construção de um prédio de 10 andares, que incluía 2 caves para
parqueamento e arrecadações, num terreno de que era proprietária, o lote 17 da Rua
B da Urbanização dos Moinhos, no Porto. José António é sócio e o único gerente
dessa sociedade e seu exclusivo responsável pela segurança no trabalho. Luis
Albuquerque é, desde há cerca de 20 anos, trabalhador dessa sociedade de construção
civil, sendo o encarregado daquela obra. Essas funções de Luis Albuquerque não
M. Miguez Garcia. 2001
988
abrangiam os aspectos de segurança no trabalho, reservados a José António. No dia
11 de Fevereiro de 1999, quando se procedia a trabalhos de escavação, ocorreu a
derrocada dos terrenos que, do lado traseiro, circundavam a área escavada. A terra e
pedras que caíram vieram a soterrar Manuel da Silva, carpinteiro, de cofragens, Raúl
Augusto, armador de ferro, e Rui Varela, servente, todos operários da sociedade
António Rodrigues, Lda. Os três trabalhadores permaneceram soterrados desde as 14
até cerca das 23 horas desse dia, altura em que os bombeiros os conseguiram localizar
e retirar. Manuel da Silva foi encontrado já sem vida, tendo falecido devido a
síndroma de esmagamento. Raul Augusto, para além de profundamente combalido,
apresentava esmagamento da perna direita. Foi de imediato conduzido ao hospital,
onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica para amputação da perna direita.
Permaneceu internado até ao dia 20 de Fevereiro, data em que regressou a sua casa.
Mantevese em tratamento médico até do dia 11 de Abril de 1999. Devido à
amputação, ficou incapacitado para o exercício da sua profissão. Raul Varela, para
além da profunda angústia que sentiu no período em que esteve soterrado, apenas
sofreu alguns hematomas e escoriações dispersos pelo corpo. A derrocada teria sido
evitada se, após a escavação, as paredes tivessem sido escoradas. José António,
embora sabendo estar legalmente obrigado a tal, decidiu não mandar proceder ao
referido escoramento por considerar que, dessa forma, a obra prosseguiria mais
rápida e economicamente. Procedimento a que Luís Albuquerque não levantou
qualquer objecção. Dada a sua experiência, tanto José António como Luís
Albuquerque poderiam ter previsto o que veio a acontecer. Na altura da derrocada,
José António não se encontrava presente, porque tinha ido a um dos Bancos com que
a sociedade trabalha tratar da concessão de um crédito intercalar. Da prova escrita de
direito e processo penal, CEJ, 2000.
Responsabilidade jurídicopenal de José António e de Luís Albuquerque ?
Morreu um dos trabalhadores e outro ficou gravemente ferido. Um
terceiro apenas sofreu alguns hematomas e escoriações dispersos pelo corpo.
Mas nem da parte de José António nem da parte de Luís Albuquerque se pode
dizer que houve dolo quanto a qualquer desses resultados, o que desde logo
M. Miguez Garcia. 2001
989
elimina a aplicação dos artigos 131º (homicídio) e 143º (ofensa à integridade
física simples) ou 144º (ofensa à integridade física grave). Ficam assim em
confronto os artigos 137º (homicídio por negligência) e 148º (ofensa à
integridade física por negligência) e, de modo ainda mais vincado, os artigos
152º, nºs, 1, 3 e 4, alíneas a) e b), (infracção de regras de segurança com resultado
morte) e 277º, nºs 1, alínea a), e 2, e 285º (infracção de regras de construção,
sendo o crime agravado pelo resultado). Qualquer destas duas últimas
disposições penais representa o modo mais eficaz de tutela penal, como se pode
ver, desde logo, pelo nível das respectivas sanções.
Acontece, por outro lado, que a situação fáctica que nos é proposta integra,
provavelmente, a prática de um crime de perigo comum, e não, simplesmente,
a prática de um crime de lesão ou de um crime de perigo singular. Nos crimes
de perigo singular — e um caso destes pode ser encontrado no desenho típico
do artigo 152º, nº 3 — o portador do bem jurídico é uma pessoa determinada.
Mas aqui o que prende a nossa atenção é a probabilidade da lesão da vida ou da
integridade física de uma pluralidade de trabalhadores. De resto, com a
iminência da derrocada ficaram afectados um número não determinado de bens
jurídicos e é nesta indeterminabilidade dos objectos do perigo que reside a
essência do perigo comum. Dentre os que trabalhavam no local — não sabemos
quantos, mas sabemos que a construção de um prédio de 10 andares demanda,
logo na fase das escavações, a participação, no local, dum número elevado de
pessoas — acabaram por ser "escolhidos" como vítimas o Manuel da Silva, o
Raul Augusto e o Rui Varela, e isso aconteceu por puro acaso. Só no instante da
derrocada é que se soube a identidade dos atingidos, como é característico do
perigo comum; e só nessa altura é que se soube que um deles perdeu a vida,
que outro ficou gravemente ferido e que um terceiro apenas sofreu uns
hematomas. Não se tratou portanto do perigo que ameaçava singularmente a
vida de A, B ou C (como é próprio dos crimes de perigo singular, do tipo do
artigo 152º, nº 3), mas do perigo que ameaçava simultaneamente a vida de A, B
e C, como é característico dos crimes de perigo comum.
O Código dispõe da norma do artigo 277º, nº 1, aplicável às infracções de
regras de construção, como prima facie parece ser o caso, pois, quem no âmbito
da sua actividade profissional infringir regras legais, regulamentares ou
técnicas que devam ser observadas no planeamento, direcção ou execução de
construção, demolição ou instalação, ou na sua modificação, e criar perigo para
a vida ou para a integridade física de outrem (...) é punido com pena de prisão
até 5 anos se esse perigo for criado por negligência.
M. Miguez Garcia. 2001
990
O crime é de natureza complexa, enquanto respeita a construção (...), com
referência ao planeamento, direcção ou execução desta com violação das regras
legais, regulamentares ou técnicas. A conduta, levada a efeito num âmbito
profissional, de planeamento, direcção ou execução de construção — háde criar
um perigo para a vida ou para a integridade física de outrem, o que mostra
tratarse de um crime de perigo concreto, exigindose para a perfeição típica a
ocorrência de um resultado de perigo (crime de resultado). Entre a acção perigosa
e este resultado de perigo háde interceder um nexo de causalidade. O elemento
subjectivo, no nosso caso, poderá desde logo ficar limitado a uma acção dolosa
criadora de um perigo negligente para a vida e a integridade física de outrem —
consequentemente, à hipótese típica dos nºs 1 e 2. Mas não se dispensa um dolo
de perigo, que nos parece inteiramente desenhado, já que quem procede assim
não pode deixar de reflectir no perigo, ainda que afastando a possibilidade de o
dano ocorrer.
No artigo 277º o autor deverá ter uma determinada qualificação (crime
específico). Supõese a qualificação do agente, a “qualificação de autor”, na
medida em que apenas é autor quem, no âmbito da sua actividade profissional,
infringir regras legais, regulamentares ou técnicas que devam ser observadas no
planeamento, direcção, etc., de construção, o que desde logo coloca a questão de
saber se tanto José António como Luís Albuquerque possuem essa qualidade
profissional — se ambos se encontram entre aquelas pessoas portadoras do
dever de cumprir as regras legais, regulamentares ou técnicas que devam ser
observadas no planeamento, direcção ou execução da construção. Tratase
portanto de averiguar se ambos — ou só algum deles, e qual — têm um
determinado estatuto, se se encontram numa determinada posição de tipo
profissional ou numa relação funcional que lhes imponha um cuidado
particular, ou como dono da obra ou como encarregado da sua construção.
Uma coisa é certa: a conduta de José António e de Luís Albuquerque é de tipo
doloso: José António, embora sabendo estar legalmente obrigado a tal, decidiu não mandar
proceder ao escoramento por considerar que, dessa forma, a obra prosseguiria mais rápida e
economicamente. Procedimento a que Luís Albuquerque não levantou qualquer objecção .
Também já concluímos pela inevitabilidade do dolo de perigo.
E tudo isto terá repercussão no âmbito da autoria, pois, concluindose,
como nos parece que deve ser, que tanto José António como Luís Albuquerque
deverão ser responsabilizados pelo crime, não se poderá falar de coautoria, que
não é possível configurarse relativamente à parte negligente (artigo 26º), nem
M. Miguez Garcia. 2001
991
mesmo à parte dolosa por se tratar, como também pensamos, de crime de
violação de dever.
A referência normativa à violação de regras legais, regulamentares ou
técnicas projectase naquilo que correntemente se designa por norma penal em
branco, uma vez que tais regras têm assento e a sua origem em outras leis e em
outros espaços do direito diferentes do penal. Estão aqui implicadas disposições
do Regulamento Geral das Edificações Urbanas e do Regulamento da
Segurança no Trabalho da Construção Civil e outras, eventualmente (cf., quanto
a isto, tanto o Conimbricense, parte especial, tomo II, no comentário de Paula
Ribeiro de Faria, p. 917, como os Apontamentos de Rui Patrício na RMP, p. 115).
Seguramente que tanto José António como Luís Albuquerque, no âmbito
da respectiva actividade profissional, infringiram regras legais, regulamentares
ou técnicas que deveriam ter observado, um deles, no planeamento e direcção,
o outro, na direcção da obra. A conduta de um e de outro é dolosa, bem se
podendo afirmar a sua perigosidade objectiva, de acordo com um critério de
apreciação ex ante, em termos de tornar provável a lesão de bens jurídicos
indeterminados. Ambos actuaram com falta de cuidado no que respeita à
criação do perigo, que. numa perspectiva ex post (prognose), realmente se
concretizou, em termos de se poder concluir pela conexão entre este resultado e
a conduta descrita. Cada um dos indicados José António e Luís Albuquerque
cometeu um crime do artigo 277º, nºs 1, a), e 2.
E já que, dada a sua experiência, tanto José António como Luís
Albuquerque poderiam ter previsto o que veio a acontecer, i. e, tanto a morte
dum dos trabalhadores como as lesões nos outros dois, dúvidas não restam de
que, nos termos dos artigos 18º e 285º lhes é imputável a agravação pelo
resultado, ainda que só em relação à morte e às ofensas à integridade física
graves. A ofensa à integridade física do 3º trabalhador, por não ser grave, como
se exige no artigo que determina a agravação, não poderá intervir na
qualificação do crime.
Deverá, por outro lado, entenderse que da parte de José António como da
parte de Luís Albuquerque só se consumou um crime de perigo agravado pelo
resultado, não obstante ter ocorrido um resultado múltiplo, de morte e de
ofensa á integridade física grave. Como diz Paulo Albuquerque, Jornadas, p. 280,
"se o crime de perigo tiver por resultado a morte de várias pessoas ou ofensas
corporais graves em várias pessoas ou ambos os resultados, deve considerarse
que se consumou um só crime de perigo agravado pelo resultado, uma vez que
M. Miguez Garcia. 2001
992
a imputação negligente assenta na violação de regras de cuidado que são
idênticas quer esteja em causa o resultado de morte quer esteja em causa o
resultado de ofensa corporal grave".
VII. A propósito da tentativa nos crimes de perigo
• CASO nº 41F: A é dono de uma pequena fábrica, das poucas que ainda se localizam
dentro ao espaço urbano de Ermesinde, com casas a toda a volta, onde residem
pessoas, a maioria de idade avançada. Mas os negócios, devido à conjuntura, não vão
nada bem e A teme o pior, sabendo que dentro de dois ou três meses já não terá
capacidade para pagar aos trabalhadores. Beneficia de um seguro de incêndio, que
cobre as instalações e assim, A decide deitar fogo à fábrica, para receber o seguro e
não ter outros incómodos. Certo dia, depois da saída dos trabalhadores, incluindo o
pessoal do escritório, A acumulou na entrada das instalações, junto ao quadro
eléctrico — um decrépito quadro eléctrico com várias décadas — uma porção de
materiais inflamáveis e fez uma derivação para o quadro. Imaginava que o fogo
deitado aos materiais inflamáveis depressa se propagaria ao sistema eléctrico, e deste
ao edifício, fazendo crer que se tratara de um curto circuito que o não
comprometesse. Para iniciar as chamas, que deveriam eclodir cerca da uma da
manhã, quando nas proximidades já todos dormiam, A depôs, junto aos materiais
inflamáveis que reunira, uma vela de cera que logo acendeu, contando que a vela se
não apagaria até que A chegasse a sua casa, a uns quilómetros dali. Assim
procedendo, A sabia que tanto as casas ao redor da fábrica como as pessoas que ali
poderiam ser atingidas pelas chamas, causando danos em coisa alheia de valor
elevado e até mortes, mas não se conformou com qualquer destes resultados. Nada
disso, felizmente, veio a acontecer, pois um passante nocturno, curioso, cheirandolhe
a queimado, assomou a uma entrada do edifício e, deparando com a marosca
montada, logo deu o alarme. A PJ interveio antes de a vela ter chegado ao fim.
Punibilidade de A ?
Não chegou a ocorrer incêndio de relevo de modo a criar perigo para a
vida ou a integridade física dos moradores das casas que entestavam com a
M. Miguez Garcia. 2001
993
fábrica, nem para estas. O resultado típico do artigo 272º (crime de perigo
comum, concreto) não chegou a ocorrer, o crime não se consumou. Mas A
planeou deitar fogo à fábrica, sua propriedade, com dolo de lesar a seguradora,
sabendo que tanto as casas ao redor da fábrica como as pessoas que ali viviam
poderiam ser atingidas durante o sono pelas chamas provenientes da sua acção,
causando danos e até mortes, portanto com dolo de perigo, pois não se terá
conformado com qualquer desses resultados; a mais disso, A acumulou
materiais inflamáveis e dispôs as coisas de modo a ser atingido o quadro
eléctrico e a partir deste todo o edifício.
Só se poderá falar de tentativa. Mas será a tentativa admissível neste tipo
de crimes?
Há quem sustente que sim. Por ex., o Prof. Faria Costa, Conimbricense,
Parte especial, II, p. 879, que ilustra assim a sua exposição: se A arrasta para a
beira do edifício X dois bidões de gasolina e com eles as respectivas mechas
incendiárias que até já introduzira para dentro do edifício e se é, então,
apanhado, dúvidas não temos de que A praticou actos tentados de realização da
norma incriminadora prevista no art. 272º. "Com esta forma de perceber os
crimes de perigo concreto — crimes "estruturalmente perfeitos" de resultado de
perigoviolação — não tem pertinência, em nosso juízo, convocar a
impossibilidade de determinação concreta do perigo para, no caso de tentativa,
se dizer, então, que se não conseguiu determinar um elemento fundamental do
tipo e, desse jeito, sustentar que a tentativa não é punível. Quem assim raciocina
parece não se dar conta que se está perante um indesmentível crime de
resultado e de que se as coisas andassem do jeito que se critica, então, também a
tentativa de homicídio não poderia ser punida porque o resultado de dano
violação (a morte de outrem) não se verificou. A estrutura normativa dos
crimes dos crimes de resultado, sejam eles de danoviolação, sejam de perigo
violação, é intrinsecamente conatural aos chamados crimes tentados ou, como
tradicionalmente é designada, à sua tentativa".
Há quem, porém, sustente que não, recordando que, na fundamentação da
tentativa, a doutrina portuguesa se inclina para uma perspectiva material
objectiva assente na ideia de perigo para o bem jurídico, embora mitigada pela
valoração do plano do agente. Deste modo, o ilícito material do facto tentado
comporta, ao lado do desvalor da acção, um momento de desvalor do
resultado, traduzido na colocação em perigo (perigo real no caso da tentativa
possível, aparência de perigo no caso de tentativa impossível punível) de bens
M. Miguez Garcia. 2001
994
jurídicos, reconduzindose ao fundamento geral da intervenção penal. Mas se
assim é, então, do ponto de vista da tipicidade objectiva pouco se distingue o
perigo da tentativa do perigo dos crimes de perigo concreto, pelo que, admitir
neste quadro a tentativa nos crimes de perigo significa forçosamente aceitar a
punibilidade da colocação em perigo da colocação em perigo. Cf. Augusto Silva
Dias, p. 587, que explica: "De um lado, objectivamente, os crimes de perigo
concreto assemelhamse a tentativas de dano; do outro, a teoria material
objectiva subjacente à construção da tentativa no Código Penal, configuraa
como um perigo para o bem jurídico. Ligados estes dois aspectos, a tentativa do
perigo significaria, como adverte Figueiredo Dias, uma "tentativa da tentativa",
na prática, "um verdadeiro acto preparatório, em princípio não punível". Com
efeito, a colocação em perigo da colocação em perigo atiranos para o campo do
perigo abstracto ou do perigo presumido, qualidades de que os actos
preparatórios partilham. É certo que a tentativa de um crime de perigo concreto
conteria já um elemento de ligação ao perigo concreto constituído pelo dolo de
perigo, mas para uma concepção não puramente subjectivista da punibilidade
do facto tentado, um tal elemento é insuficiente para fundar aquele elemento de
séria ameaça ao bem jurídico, indispensável para a existência da tentativa.
Também o facto de o acto preparatório, como fase do "iter criminis", ser
acompanhado pelo dolo de lesão não autoriza a ver nele a efectiva colocação em
perigo de um bem jurídico".
VIII. A difteria
• CASO nº 41G: A foi de Lisboa a TrásosMontes visitar a família e aproveitou para
levar consigo o neto, N, com quase 3 anos de idade. Faltando ainda uns dias para o
regresso, dois dos primos de N, com quem este tinha andado a brincar, apareceram
com sintomas de difteria, uma doença infecciosa e de fácil contágio, que se transmite
através do ar expirado quer por doentes quer por portadores, a qual ainda em época
muito recente vitimava um terço dos indivíduos que a contraíam, segundo a
explicação dada pelo médico assistente das crianças. Os primos de N foram logo
hospitalizados e A, queixandose da sua pouca sorte e dos trabalhos que tudo isto lhe
dava, resolveu regressar com ele imediatamente a Lisboa. No caminho de regresso N
começou a queixarse de dores na garganta e de dificuldades de deglutição, ficando
com a vozita nasalada e com evidentes sinais de febre. A sabia que esses eram
M. Miguez Garcia. 2001
995
sintomas da difteria — e sabia que esta se transmite facilmente e que, em doentes não
imunizados, o prognóstico é sempre grave. Mesmo assim, chegados a Lisboa, A nada
fez para levar o neto ao médico. E como queria ir às compras, pois vinha farta
daquela pasmaceira da província e "já não aguentava mais", no dia seguinte levou o
neto ao infantário, sem nada dizer aos responsáveis sobre o estado de saúde da
criança. A doença do menino foi logo detectada e identificada no infantário. N foi
transportado ao hospital, mas ainda nesse dia seis das vinte e duas crianças com que
N estivera em contacto começaram a revelar sinais idênticos, correspondentes aos da
difteria, que acabou por serlhes diagnosticada. Graças aos esforços e à dedicação do
pessoal do infantário, nenhuma das crianças sofreu mais do que uns dias de
internamento. A, de tão "necessitada" de ir às compras, nem sequer pensou que as
crianças do infantário pudessem ser contagiadas.
Punibilidade de A ?
"Quem propagar doença contagiosa e criar deste modo perigo para a vida
ou perigo grave para a integridade física de outrem é punido com pena de
prisão de 1 a 8 anos. Se o perigo referido no número anterior for criado por
negligência, o agente é punido com pena de prisão até 5 anos": artigo 283º, nºs 1,
a ), e 2.
A propagação de doença contagiosa (alínea a)) é elemento do tipo
objectivo deste crime de perigo comum (perigo concreto). A, com a sua
actuação, fez com que a difteria que, manifestamente, é uma grave doença
contagiosa e adequada a produzir perigo até para a vida do infectado, se tivesse
propagado às crianças do infantário. A actuou conscientemente, com bons
motivos para saber que o neto sofria da mesma doença que já tinha atingido os
primos em TrásosMontes. Ainda assim, A nem sequer representou o perigo de
contágio para as crianças do infantário, pelo que só se lhe aplicará a hipótese do
nº 2 do artigo 283º (acção dolosa, criação de perigo negligente). Deixar,
conscientemente, uma criança atingida pela difetria num ambiente onde há
inúmeras outras crianças é, valorandoa ex ante, uma conduta sem dúvida
perigosa. Por outro lado, não parece que possam legitimamente surgir dúvidas
quanto à conexão (causalidade adequada; imputação objectiva) entre essa
conduta e a doença que veio a atingir, em acto quase seguido, as seis crianças.
Mais duvidoso é que dum juízo de probabilidade ex post decorra a afirmação
M. Miguez Garcia. 2001
996
que, com essa conduta, se criou um perigo para a vida de qualquer das crianças.
E só as conclusões periciais dos médicos (que o texto não nos fornece) é que
poderiam valer para sustentar que se concretizou um perigo para a integridade
física de qualquer delas, que, como decorre do preceito incriminador, sempre
teria que ser grave: "... ou perigo grave para a integridade física de outrem ...".
Conclusão: parece não haver elementos para responsabilizar penalmente
A pelo ilícito em apreço.
IX. Exercícios
1º exercício: Colmatar as insuficiências da solução proposta para o caso nº
41E. A circunstância de no momento da derrocada José António se encontrar
ausente do local determinará a sua irresponsabilidade? Cf., para um caso com
evidentes semelhanças, o acórdão do STJ de 8 de Julho de 1998, CJ 1998, ano VI,
tomo II, p. 237. O Supremo considerou que a conduta era subsumível à previsão
do crime culposo de violação de regras de construção (artigo 277º, nº 2) e
subsumível, por duas vezes (eram duas as vítimas), ao tipo do homicídio por
negligência grosseira do artigo 137º, nº 2, concluindo que em matéria de crimes
involuntários praticados com negligência consciente o agente comete tantos
crimes quantos os resultados que previu.
2º exercício: Para comentar: À ideia da incerteza está hoje associada a transição da
sociedade industrial para a sociedade de risco. O autor alemão N. Beck, em várias obras sobre a
sociedade de risco, tem salientado que nesta sociedade, para além da incerteza e da
incontrolabilidade, deparamos com a possibilidade de catástrofes e resultados invisíveis e
imprevisíveis que elevam o “poder do perigo” a dimensão estruturante desta mesma sociedade
(J. J. Gomes Canotilho, Privatismo, associativismo e publicismo na justiça administrativa do ambiente
(as incertezas do contencioso ambiental), RLJ, ano 128º, p. 232).
3º exercício: Recordar que o artigo 286º consagra um regime especial para
os casos em que, tendose verificado a consumação típica, o agente impede a
verificação do dano que o tipo de crime visa precisamente impedir. E que o
artigo 24º, nº 1, parte final, regula as situações de desistência nos crimes de
consumação antecipada, entre os quais se encontram os crimes de perigo.
Quais as formas de conciliação do disposto nestes dois artigos? Responde Pinto
de Albuquerque, Jornadas, p. 275.
4º exercício: No caso nº 41G, como tratar sistematicamente a questão se
A, em vez de deixar o neto infectado no infantário, o tivesse levado para casa de
um outro primo, cujos pais estavam imunizados contra a difteria, o que não
acontecia com o filho, como A muito bem sabia?
M. Miguez Garcia. 2001
997
X. Indicações de leitura
• Lei nº 104/99, de 26 de Julho: autoriza o Governo a legislar sobre o regime de utilização
das armas de fogo ou explosivos pelas forças e serviços de segurança. O DecretoLei nº 457/99,
de 5 de Novembro de 1999, aprova o regime de utilização de armas de fogo e explosivos pelas
forças e serviços de segurança.
• Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro: estabelece as bases da política e do regime de protecção
e valorização do património cultural. Prevê os crimes de deslocamento de bem imóvel
classificado (artigo 101º), de exportação ilícita de um bem classificado de interesse nacional
(artigo 102º) e de destruição de vestígios, de bens ou outros indícios arqueológicos (artigo 103º).
O artigo 100º manda aplicar aos crimes praticados contra bens culturais as disposições
previstas no Código Penal, com as especificidades da presente lei.
• DecretoLei nº 164/2001, de 23 de Maio: aprova o regime jurídico da prevenção e controlo
dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas. Portaria nº
193/2002, de 4 de Março: estabelece os códigos e os modelos dos relatórios de informação de
acidentes graves.
• DecretoLei nº 154A/2002, de 11 de Junho: altera o Regulamento para a Notificação de
Substâncias Químicas e para a Classificação, Embalagem e Rotulagem de Substâncias
Perigosas.
• Decretolei nº 227C/2000, de 22 de Setembro: regula o transporte ferroviário de
mercadorias perigosas.
• DecretoLei nº 139/2002, de 17 de Maio: aprova o Regulamento de Segurança dos
Estabelecimentos de Fabrico e de Armazenagem de Produtos Explosivos.
• DecretoLei nº 267A/2003, de 27 de Outubro: transpõe para a ordem jurídica nacional
Directivas relativas à aproximação das legislações dos Estados membros respeitantes ao
transporte rodoviário de mercadorias perigosas e a procedimentos uniformes de controlo do
transporte rodoviário de mercadorias perigosas.
• Acórdão da Relação de Guimarães de 5 de Maio de 2003, CJ 2003, tomo III, p. 297: crime de
condução perigosa.
• Acórdão da Relação do Porto de 23 de Junho de 1999, BMJ488411; crime de poluição;
ruído propagado pela actividade do arguido que atinge os apartamentos vizinhos em grau
M. Miguez Garcia. 2001
998
suficientemente intenso para perturbar o sossego, a tranquilidade e o equilíbrio psicológico dos
respectivos moradores, afectando a sua saúde, ruído que excede o máximo legalmente
permitido.
• Acórdão da Relação de Coimbra de 29 de Janeiro de 2003, CJ 2003, tomo I, p. 45: crimes de
perigo e de resultado, dolo e negligência, crime de infracção das regras de construção.
• Acórdão da Relação de Coimbra de 15 de Novembro de 2000, CJ ano XXV, tomo V, 2000, p.
46: A Lei nº 19/86, que prevê crime de incêndio florestal, não foi revogada pela redacção do
artigo 272º do Código Penal, introduzida pelo DecretoLei nº 49/95, de 15 de Março.
• Acórdão da Relação de Lisboa de 9 de Fevereiro de 2000, CJ ano XXV (2000), tomo I, p. 149:
crime de ameaça; disparo de tiro para o ar.
• Acórdão do STJ de 18 de Outubro de 2000, CJ 2000, tomo III, p. 207: o bem jurídico
protegido com a punição do crime de condução perigosa de veículo rodoviário do artigo 291º
do CP é a segurança do tráfico rodoviário; verificase concurso real dos crimes de condução
perigosa de veículo rodoviário e de homicídio por negligência, quando o arguido conduz com
violação grosseira das regras de circulação automóvel, resultando um perigo para a vida de
outrem e, com essa conduta, provoca a morte de outra pessoa.
• Acórdão da Relação do Porto de 3 de Abril de 2002, CJ 2002, tomo II, p. 235: o crime de
poluição sonora (artigo 279º) como crime de desobediência; poluição em medida inadmissível.
• A. Leones Dantas, Crime de poluição (Artigo 279º do Código Penal). Acórdão da Relação
de Évora de 7 de Novembro de 2000. RPCC 11 (2001).
• Alberto Silva Franco, Globalização e criminalidade dos poderosos, RPCC, ano 10 (2000).
• António Leones Dantas, Os factos como matriz do objecto do processo, Rev. do Ministério
Público, ano 18º (1997), p. 111.
• Augusto Silva Dias, A estrutura dos direitos ao ambiente e à qualidade dos bens de
consumo e sua repercussão na teoria do bem jurídico e na das causas de justificação, in
Jornadas de homenagem ao Professor Doutor Cavaleiro de Ferreira, Lisboa, 1995.
• Augusto Silva Dias, Entre "comes e bebes": debate de algumas questões polémicas no
âmbito da protecção jurídicopenal do consumidor (a propósito do Acórdão da Relação de
Coimbra de 10 de Julho de 1996), RPCC 8 (1998).
• Beleza dos Santos, Crimes de Moeda Falsa, RLJ, ano 66, nº 2484, p. 18.
M. Miguez Garcia. 2001
999
• Bockelmann / Volk, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 4ª ed., 1987.
• Claus Roxin, Strafrecht, AT, 2ª ed., 1994.
• Constantin Vouyoucas, Defesa social, protecção do ambiente e direitos fundamentais,
RPCC, ano 2 (1992), p. 207.
• Cramer, in Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 25ª ed., 1997.
• Eduardo Correia, Les problemes posés, en droit pénal moderne, par le développement des
infractions non intentionnelles (par faute), BMJ10919.
• Fiandaca/Musco, Diritto penale, Parte generale, 2ª ed., 1989.
• Francesco Angioni, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura
oggetiva. 2ª ed.
• François Ost, A natureza à margem da lei. A ecologia à prova do direito, Instituto Piaget,
1997.
• Frederico de Lacerda da Costa Pinto, Sentido e limites da protecção penal do ambiente,
RPCC 10 (2000).
• G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 4ª ed., 1995.
• Germano Marques da Silva, Crimes rodoviários. Pena acessória e medida de segurança,
1996.
• Giovanni Grasso, L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato,
Riv. ital. dir. proc. penale, 1986, p. 689.
• Giuseppe Bettiol, Direito Penal, Parte geral, t. III, 1973.
• H. Blei, Strafrecht I, AT, 18ª ed., 1983.
• Helmut Fuchs, Österreichisches Strafrecht, AT I, 1995.
• Irene SternbergLieben/Christian Fisch, Der neue Tatbestand der (Gefahr) Aussetzung (§
221 StGB n. F.), Jura 1999, p. 45.
• J. C. de Almeida Fonseca, Crimes de empreendimento e tentativa, 1986.
• J. Damião da Cunha, Tentativa e comparticipação nos crimes preterintencionais, RPCC, 2
(1992), p. 561.
• J. Marques Borges, Dos crimes de perigo comum e dos crimes contra a segurança das
comunicações, notas ao Código Penal, artigos 253º a 281º.
M. Miguez Garcia. 2001
1000
• J. Seabra Magalhães e F. Correia das Neves, Lições de Direito Criminal, segundo as
prelecções do Prof. Doutor Beleza dos Santos, Coimbra, 1955, p. 65 e s.
• João Curado Neves, Intenção e dolo no envenenamento, 1984.
• João Pereira Reis, Lei de Bases do Ambiente, anotada e comentada, Almedina, 1992
• Johannes Wessels, Strafrecht, A. T., 1, 17ª ed., 1993.
• Jorge de Figueiredo Dias, "Associações criminosas", Colectânea de Jurisprudência, ano X,
tomo IV.
• Jorge de Figueiredo Dias, As "associações criminosas” no Código Penal Português de 1982
(artigos 287º e 288º), 1988.
• Jorge de Figueiredo Dias, O Direito Penal na "Sociedade do Risco", in Temas básicos da
doutrina penal, Coimbra Editora, 2001.
• Jorge de Figueiredo Dias, Sobre o papel do direito penal na protecção do ambiente, RDE 4
(1978).
• Jorge Dias Duarte, O crime de exposição ou abandono, Maia Jurídica, Revista de Direito,
ano I, nº 1 (JaneiroJunho 2003), p. 125.
• Jorge dos Reis Bravo, A Tutela Penal dos Interesses Difusos, 1997.
• José Cerezo Mir, Curso de Derecho Penal Español, Parte general, II, Teoría jurídica del
delito 1, 5ª ed., 1997.
• José Cerezo Mir, Problemas fundamentales de los delitos contra la seguridad del tráfico, in
Problemas fundamentales de derecho penal, 1982, p. 274 e ss.
• José de Faria Costa, Conimbricense, Parte especial, tomo II, p. 865 e ss.
• José Francisco de Faria Costa, O perigo em direito penal, dissertação de doutoramento,
1991.
• José Joaquim Gomes Canotilho, O Caso da Quinta do Taipal (Protecção do ambiente e
direito de propriedade), RLJ, ano 128º, p. 13 e ss.
• José Joaquim Gomes Canotilho, Privatismo, associativismo e publicismo na justiça
administrativa do ambiente (as incertezas do contencioso ambiental), RLJ, ano 128º, p. 232 e ss.
• José Souto de Moura, O crime de poluição. A propósito do artigo 279º do Projecto de
Reforma do Código Penal, Rev. do Ministério Público, ano 13, 1992, nº 50.
M. Miguez Garcia. 2001
1001
• José Souto de Moura, Tutela Penal e Contraordenacional em matéria de ambiente, Textos,
Ambiente, Centro de Estudos Judiciários, p. 175.
• Juan Bustos Ramírez, Manual de Derecho Penal español, Parte general, 1984.
• Klaus Geppert, Die Brandstiftungsdelikte (§§ 306 bis 306 f StGB) nach dem Sechsten
Strafrechtsreformgesetz, Jura 1998, p. 597.
• Klaus Tiedemann, Das neue deutsche Umweltstrafrecht im internationalen
Zusammenhang, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Eduardo Correia, BFD, 1984.
• M. Parodi Giusino, I reati de pericolo tra dogmatica e politica criminale, Milão, 1990.
• Manuel António Lopes Rocha, A revisão do Código Penal. Soluções de neocriminalização.
Jornadas de direito criminal, revisão do Código Penal, CEJ, I vol., 1996, p. 73 e ss.
• Manuel António Lopes Rocha, Delitos contra a ecologia (no direito português), RDE 13
(1987), p. 235.
• Maria Fernanda Palma, Direito Penal do Ambiente uma primeira abordagem, Direito do
Ambiente, 1994, p. 431
• Maria Isabel Sánchez García de Paz, El moderno derecho penal y la anticipación de la
tutela penal, Valladolid, 1999.
• Mário Torres, Ambiente, Bem Jurídico/Legitimidade, Textos, Ambiente, Centro de Estudos
Judiciários, p. 447.
• Mirentxu Corcoy Bidasolo, El delito imprudente. Criterios de imputación del resultado,
PPU, Barcelona, 1989.
• Paulo de Sousa Mendes, Vale a pena o direito penal do ambiente? AAFDL, Lisboa, 2000.
• Paulo José da Costa Jr., Comentários ao Código Penal, 6ª ed. actual. Saraiva, 2000.
• Paulo Sérgio Pinto de Albuquerque, Alguns problemas sobre a neocriminalização no
âmbito dos crimes de perigo comum e contra a segurança das comunicações na Reforma Penal
de 1995, Rev. do Ministério Público, As reformas penais em Portugal, cadernos (7).
• Paulo Sérgio Pinto de Albuquerque, Crimes de perigo comum e contra a segurança das
comunicações em face da revisão do Código Penal, Jornadas de Direito Criminal. Revisão do
Código Penal, vol. II, CEJ, 1998, p. 252.
• Paulo Sérgio Pinto de Albuquerque, O conceito de perigo nos crimes de perigo concreto,
Direito e Justiça, vol. VI (1992), p. 351.
M. Miguez Garcia. 2001
1002
• Paulo Silva Fernandes, Globalização, "Sociedade de Risco" e o futuro do Direito Penal,
Coimbra, 2001.
• Pedro Marchão Marques, Crimes Ambientais e Comportamento Omissivo, Revista do
Ministério Público, ano 20 (1999), nº 77.
• Pedro Soares de Albergaria / Pedro Mendes Lima, Condução em estado de embriaguez.
Aspectos processuais e substantivos do regime vigente, in sub judice / ideias —17 (2000).
• R. Schmidt/H. Müller, Einführung in das Umweltrecht, 4ª ed., 1995.
• Ricardo M. Mata y Martín, Bienes jurídicos intermedios y delitos de peligro, Granada,
1997.
• Rüdiger Wolfrum, Die Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt. Neue Ansätze
und Mechanismen des internationalen Umweltrechts, FAZ, 19.3.1997, nº 66.
• Rui Carlos Pereira, Crimes de mera actividade, Revista Jurídica, nº 1 (1982).
• Rui Carlos Pereira, O dolo de perigo, 1995.
• Rui Patrício, Apontamentos sobre um crime de perigo comum e concreto complexo (Art.
277º do CP), RMP, ano 21, Jan / Mar 2000, nº 81.
• Rui Patrício, Erro sobre regras legais, regulamentares ou técnicas nos crimes de perigo
comum no actual direito português (Um caso de infracção de regras de construção e algumas
interrogações no nosso sistema penal), Lisboa, AAFDL, 2000.
• Tereza Rodriguez Montañes, Delitos de perigo, dolo e imprudencia, Centro de Estudios
Judiciales, Ministerio de Justicia, Madrid, 1994.
• W. Hassemer, História das ideias penais na Alemanha do pósguerra, seguido de A
segurança pública no estado de direito, AAFDL, Lisboa, 1995.
• Wolfgang Naucke, Strafrecht. Eine Einführung, 7ª ed., 1995.
M. Miguez Garcia. 2001
1003
§ 44º As consequências jurídicas do crime
I. O sistema de sanções. As penas e as medidas de segurança
• CASO nº 44: A dirigiuse ao Instituto de Reinserção Social do Porto, com o intuito de
assaltar as respectivas instalações, de forma a fazer seus quaisquer objectos ou
valores que aí encontrasse. No piso inferior do edifício escondeuse debaixo de um
móvel e deixouse ficar até ao encerramento do serviço. A dado momento, A
abandonou o seu esconderijo e lançou mão de uma máquina de filmar vídeo, com o
valor de 278.500$00, e um computador no valor de 359.600$00, assim como o
respectivo cabo de ligação à impressora, no valor de 7.000$00, objectos estes que fez
seus, como pretendia, após o que saiu com eles. A actuou voluntária e
conscientemente, com intenção de se apropriar das referidas coisas, a que deu
sumiço. A foi já condenado em diversas penas de prisão, que cumpriu, pela prática
de outros ilícitos criminais, designadamente crimes dirigidos contra o património e a
propriedade alheios. A foi submetido a exame às faculdades mentais. Ouvido em
audiência, o perito concluiu que na data dos factos A era inimputável por força de
atraso mental e de distúrbio da personalidade, sendo então incapaz de avaliar a
ilicitude da conduta e de se determinar de acordo com tal avaliação. Ao A, que é de
condição social modesta, foi aplicada pela 2ª Vara Criminal a medida de segurança de
internamento em anexo psiquiátrico, para segurança e tratamento, pelo período
mínimo de dezoito meses, encontrandose o mesmo ainda internado. Não resultou
provado que o A sabia que com a conduta descrita praticava actos proibidos e
punidos por lei.
Produzida a prova e discutida a causa, com a alegação final do arguido, o
juiz profere a decisão.
Se a matéria de facto provada não implicar, desde logo, a absolvição, o
julgador fica com a tarefa de decidir qual a sanção a aplicar ao agente de um
M. Miguez Garcia. 2001
1004
facto praticado ilícita e culposamente (agente imputável). Normalmente,
aplicarlheá uma pena, (muito) excepcionalmente, uma medida de segurança.
Encontrandose perante um inimputável, autor de um facto típico e ilícito, cabe
ao julgador decidir se é caso de lhe aplicar, com base na sua perigosidade, uma
medida de segurança (artigo 91º do Código Penal), ou se, simplesmente, deverá
decretar a absolvição (artigo 376º, nº 3, do Código de Processo Penal).
• Se com o teor actual do artigo 91º, nº 1, "se esclareceu o conteúdo mínimo do facto do
inimputável para aplicação de uma medida de segurança de internamento, à
doutrina e à jurisprudência são deixadas ainda, por um lado, a questão de saber se
este facto ilícito típico tem o mesmo conteúdo dogmático do facto do imputável —
que o facto preencha um tipo objectivo de ilícito e o tipo subjectivo respectivo e não
haja a intervenção de qualquer causa de justificação; e, por outro, a questão de saber
se ao pressuposto da prática de um ilícitotípico acrescem ou não exigências
adicionais — se relevam ou não, para efeito de aplicação de uma medida de
segurança de internamento, as causas de inexigibilidade (artigos 32º, nº 2, 35º, nº 1, e
37º, do Código Penal), a falta de consciência do ilícito não censurável (artigo 17º, nº 1,
do Código Penal) e as situações de falta de pressupostos de punibilidade (v. g. arts.
24º e 135º do Código Penal)". Cf. Maria João Antunes, p. 122 e s. Vejase a seguir a
solução proposta para o caso nº 44A.
No caso nº 44, as declarações periciais prestadas em complemento do
relatório médico legal não deixam dúvidas de que no momento da prática dos
factos A era inimputável por força de atraso mental e de distúrbio da
personalidade, que o perito caracterizou, sendo então incapaz de avaliar a
ilicitude da sua conduta e de se determinar em consonância com isso. A
actuação do A, acima descrita, preenche os elementos objectivos do ilícito
previsto nos artigos 296º e 297º, nºs 1, a), e 2, d), do Código Penal de 1982, e
202º, a), 203º, nº 1, e 204º, nº 1, a), e f), do Código Penal revisto. O A sabia o que
fazia, nomeadamente, sabia que retirava coisas alheias do interior do edifício do
Instituto de Reinserção Social, onde voluntariamente entrou pela descrita
forma, para se apropriar delas. Com o que também ficam preenchidos os
momentos subjectivos do ilícito. Não se descortina qualquer causa de
justificação. Como o facto se consumou e foi cometido de forma dolosa é ilícito.
Todavia, o A procedeu em situação de anomalia psíquica, a qual o tornava
M. Miguez Garcia. 2001
1005
incapaz de avaliar a correspondente ilicitude. Mostramse assim preenchidos os
pressupostos do artigo 20º, nº 1, do Código Penal, pois "é inimputável quem, por
força de uma anomalia psíquica, for incapaz, no momento da prática do facto, de avaliar a
Como o A actuou sem
ilicitude deste ou de se determinar de acordo com essa avaliação."
culpa e se encontra internado em razão da sua perigosidade verificada em
processo da 2ª Vara, decidese, sem mais, absolvêlo da acusação formulada
(artigo 376º, nº 3, do Código de Processo Penal), extinguindose a medida
coactiva entretanto decretada (artigo 214º, nº 1, d), do Código de Processo
Penal).
O sistema vigente de reacções criminais assenta nas penas e nas medidas
de segurança. Enquanto a pena tem o seu fundamento irrenunciável na culpa,
as medidas de segurança, por um lado, incidem sobre os inimputáveis,
incapazes de culpa — e que por isso nunca poderiam ser sancionados com uma
pena —, que cometem um facto ilícito típico (cf. o artigo 91º, nº 1); as medidas
de segurança dirigemse à especial perigosidade do agente, a qual pode resultar
das particulares circunstâncias do facto e (ou) da sua personalidade.
• Tenhase ainda em atenção os artigos 83º, 84º e 86º, relativos aos pressupostos de aplicação
da pena relativamente indeterminada. Para o Prof. Cavaleiro de Ferreira, a
prorrogação da pena concreta imposta aos delinquentes por tendência [cf. os outros
casos previstos nos artigos 84º e 86º] tem o seu directo fundamento na perigosidade,
pelo que tal prorrogação é uma medida de segurança. A tendência, após a reforma de
1995, é a de distinguir o regime do instituto da pena relativamente indeterminada por
referência à pena de prisão que concretamente caberia ao crime cometido, caso não
fosse aplicada a pena relativamente indeterminada: até ser atingido esse momento,
tratase, verdadeiramente, da execução de uma pena, remetendo o artigo 90º, nº 1,
para o regime da liberdade condicional; a partir dele tratase, claramente, da
execução de uma medida de segurança, remetendo o nº 2 do mesmo artigo para o
regime dessa medida. Cf. Maria João Antunes, p. 134; e José de Sousa Brito, p. 571.
Veja o artigo 509º do Código de Processo Penal.
M. Miguez Garcia. 2001
1006
II. A noção de crime identificase com a de ilícito típico? Pedido de
indemnização civil (artigos 71º e ss. do CPP).
No caso nº 44, o Instituto de Reinserção Social deduziu pedido de
indemnização civil contra o A (artigo 71º e ss. do Código de Processo Penal).
O demandado, ainda que absolvido em razão de anomalia psíquica,
preencheu com a sua conduta o ilícito típico do furto na medida em que se
apoderou ilegitimamente das coisas que subtraíra e que, desse modo e
adequadamente, provocou danos na esfera patrimonial da entidade
demandante, que nunca mais recuperou o que lhe fora furtado. De acordo com
o disposto no artigo 489º do Código Civil os não imputáveis podem ser
responsabilizados pelos danos, desde que a reparação não possa ser exigida às
pessoas a quem incumbe a sua vigilância. Neste quadro legal, o A, sendo
inimputável, responde nos termos em que responderia na ausência de anomalia
psíquica, caso praticasse o mesmo facto. No entanto, a fixação da indemnização
fazse somente por critérios de equidade, sem o recurso a elementos de estrita
responsabilidade.
Ainda assim, face à impossibilidade de sancionar penalmente o
comportamento do demandado, bem se pode sustentar que lhe não assenta o
disposto no artigo 74º, nº 1, do Código de Processo Penal, que ao autorizar a
dedução do pedido pelo lesado supõe justamente a prática de um crime. Como
se sabe, a noção de crime nem sempre se identifica com a de ilícito típico. Como
estes dois momentos analíticos da teoria do facto punível se encontram
delimitados em razão da punibilidade da conduta, contam igualmente com
diferentes destinatários, existindo em geral a preocupação dogmática de não
associar os inimputáveis à noção ampla de crime. Nesta perspectiva, seria
contrário à lógica que aqui se acolhesse o pedido, concedendo a indemnização,
ainda que nos termos limitados antes referidos, i. e, pela consideração
ponderada e acomodatícia do caso, que é a fórmula corrente com que se define
a equidade. Uma tal conclusão não nos parece todavia forçosa mesmo só
perante a letra da lei sabendose que tanto os elementos do tipo penal como os
da punibilidade têm características fungíveis. (Cf. Enrique Bacigalupo, Delito y
punibilidad, Civitas, 1983, p. 106). Atentese, por outro lado, em que, nesta área
e com incidência no Código Penal, se pode surpreender um recente esforço de
clarificação. Disso nos dá notícia desenvolvida Frederico de Lacerda da Costa
Pinto ("Justificação, não punibilidade e dispensa de pena na revisão do Código
M. Miguez Garcia. 2001
1007
Penal", in Jornadas sobre a revisão do Código Penal, FDUL, 1998). Vejase como,
por exemplo, antes da revisão de 1995 se encontrava redigido o artigo 91º
(pressupostos e limites do internamento de inimputáveis): "quando um facto
descrito num tipo penal de crime..."; e como o mesmo dispositivo aparece depois
da revisão: "quem tiver praticado um facto ilícito típico...". O legislador penal,
numa atitude de maior rigor conceitual, substituiu a expressão "crime" pela de
"facto ilícito típico" e este surge, mas só agora, como pressuposto das medidas
de segurança aplicáveis a inimputáveis. No Código de Processo Penal o
elemento valorativo continua porém a coincidir com "o conjunto de
pressupostos de que depende a aplicação ao agente de uma pena ou de uma
medida de segurança criminais", i. e, com a noção de crime dada pela alínea a)
do correspondente artigo 1º. Acolhendose na lei adjectiva um conceito assim
alargado que tanto se aplica às situações de imputabilidade como às de não
imputabilidade, não pode deixar de se identificar a regra do artigo 74º, nº 1, do
mesmo Código — enquanto remete para a prática de um crime — com os casos de
ilícito (penal) tipificado, aplicandoa também aos não imputáveis que, actuando
sem culpa, preenchem, ainda assim, um conjunto preciso de elementos
normativos, como é a hipótese do caso nº 44 relativamente ao furto. Como, por
último, a indemnização de perdas e danos emergentes de crime é regulada pela
lei civil (artigo 129º do Código Penal), nada obstará à aplicação do disposto no
artigo 489º do Código Civil. O montante da indemnização será fixado
equitativamente pelo tribunal, confiandose no prudente arbitrium boni viri
encarnado pelo juiz, que terá em conta a gravidade da ofensa e demais
circunstâncias susceptíveis de personalizar o dano e, assim, realizar a justiça do
caso concreto, a equidade. Ora, como vem provado, o demandado é de modesta
condição e encontrase internado em anexo psiquiátrico. Bem pode invocar uma
penúria desamparada, que ninguém estranhará. Foi, porém, por sua acção e no
seu exclusivo proveito que o Instituto de Reinserção Social ficou
irremediavelmente desapossado de uma máquina de filmar e de um
computador, cujo valor anda por x.
Tudo ponderado, em julgamento de equidade, fixase a indemnização
devida ao Instituto de Reinserção Social pelo demandado A em y, sendo as
custas da acção enxertada integralmente da responsabilidade deste (artigo 520º,
a), do Código de Processo Penal).
• Cf., a propósito da responsabilização de inimputável não interditado, o acórdão do STJ de
2 de Abril de 1994, BMJ436168: independentemente de culpa está prevista a
M. Miguez Garcia. 2001
1008
responsabilidade directa do inimputável quando há ausência de culpa in vigilando e
falta de bens do vigilante. Também a inexistência de encarregado legal de maior não
imputável, por não se encontrar interditado, leva à responsabilização deste, por
razões de equidade (artigo 489º do Código Civil) e com recurso à analogia. Não
havendo a mínima culpa dos lesados que sofreram graves danos físicos e morais, por
especialmente grave actuação do inimputável, deve este ser condenado, por “motivos
de equidade” a reparar os danos, ainda que de acordo com a sua precária situação
económica à data da sentença.
III. Reacções criminais. Penas e medidas de segurança
No Código encontramos penas principais, as que, estando expressamente
previstas para sancionamento dos tipos de crime, podem ser fixadas na
sentença independentemente de quaisquer outras; e penas acessórias, cuja
aplicação pressupõe que o juiz na sentença fixe uma pena principal. São penas
principais as penas de prisão, que são penas privativas da liberdade, e as penas
de multa, que são penas pecuniárias.
A pena de multa configurase, num elevado número de disposições
penais, como pena principal alternativa à pena de prisão, mas há tipos penais
que são punidos unicamente com multa (cf. artigos 265º, nº 2, a) e b), 268º, nº 3, e
366º, nº 2). (43)
Diferentes das penas de prisão e de multa são a suspensão da execução da
pena, a prestação de trabalho a favor da comunidades e a admoestação (artigo
60º), que constituem verdadeiras penas — “dotadas, como tal, de um conteúdo
autónomo de censura, medida à luz dos critérios gerais de determinação da
pena” (artigo 71º). À pena de multa reservase ainda o papel de pena de
substituição (artigo 44º), ao lado das penas de suspensão da execução da pena
de prisão e de prestação de trabalho a favor da comunidade (artigos 50º e 58º).
A prisão por dias livres e a prisão e o regime de semidetenção (artigos 45º e 46º)
43) O que poderá relevar, por ex., para a detenção em flagrante delito, que só está
autorizada sendo o crime punível com pena de prisão (artigo 255º, nº 1, do Código de Processo
Penal). Já agora, atentese no respectivo nº 4: tratandose de crime cujo procedimento dependa
de acusação particular (cf., por ex., os artigo 180º, 181º e 188º, nº 1, e o artigo 207º, a), do Código
Penal), não há lugar a detenção em flagrante delito, mas apenas à identificação do infractor.
M. Miguez Garcia. 2001
1009
são modos de cumprimento das penas curtas de prisão. Tenhase ainda em
conta o instituto da dispensa de pena (artigos 74º, 35º, nº 2, 186º, 286º, 294º, 364º,
372º, nº 3, 373º, nº 2, 374º, nº 3). E o que se dispõe no artigo 521º do Código de
Processo Penal: A dispensa da pena não liberta o arguido da obrigação de pagar custas.
Sobre o princípio unilateral da culpa e a dispensa de pena, vd. Faria Costa, O
perigo, p. 373.
• "Louvandonos no ensino de Figueiredo Dias [Direito Penal 2, 1988, p. 413] , podemos
dizer que na dispensa de pena o que existe "verdadeiramente é uma pena de
declaração de culpa ou, se se preferir, uma espécie de admoestação em que esta
resulta sem mais da declaração de culpa", se bem que depois se afirme que é
"preferível a colocação e o estudo sistemáticos do instituto entre os casos especiais de
determinação da pena". Faria Costa, O perigo, p. 380.
Penas acessórias estão no Código acompanhadas dos efeitos das penas
(artigos 66º e ss.), discriminandose a proibição do exercício de função, a
suspensão do exercício de função e a proibição de conduzir veículos
motorizados que poderão decretarse na sentença conjuntamente com uma
pena principal, de acordo com os critérios do artigo 71º. A sua aplicação só se
justifica quando a pena principal aplicada for de prisão e de duração
relativamente longa, excepto no caso da pena acessória de proibição de
conduzir veículos motorizados. A pena acessória do artigo 69º é igualmente
aplicável aos que não são titulares de licença de condução, “para obviar a um
tratamento desigual que adviria da sua não punição”.
• As penas acessórias distinguemse portanto dos chamados efeitos das penas, onde se trata
de consequências, necessárias, ou pendentes de apreciação judicial, determinadas
pela aplicação de uma pena, principal ou acessória, que não assumem a natureza de
verdadeiras penas, não obstante o seu carácter penal. Tanto as penas acessórias como
os efeitos das penas encontramse historicamente adstritos à “infâmia” da legislação
medieval e às suas penas de honra; ligandose, deste modo, a incapacidades,
inabilitações ou restrições de outra e diversa natureza (cf. Prof. Figueiredo Dias, p.
94).
Actualmente, os artigos 67º e 68º referemse a efeitos das penas; os artigos
66º e 69º prevêem penas acessórias, estabelecendose uma clara distinção entre
M. Miguez Garcia. 2001
1010
uns e outras. No artigo 179º a inibição do poder paternal é efeito de um crime e
não uma pena acessória (Actas, nº 24, p. 268). Na redacção do artigo 152º, nº 6,
do Código Penal, introduzida pela Lei nº 7/2000, de 27 de Maio, prevêse a
possibilidade de imposição da pena acessória de proibição de contacto com a
vítima. (1)
A pena de prisão é encarada como a ultima ratio da política social, vendo
se nela um mal, ainda que necessário. Por isso, é preocupação do legislador que
o tribunal dê preferência à pena não detentiva da liberdade (artigo 70º). Em
regra, a sua duração mínima é de um mês e a duração máxima de 20 anos
(artigo 41º). O limite (excepcional) de duração de 25 anos não pode em caso
algum ser excedido, ainda que seja só para encontrar a pena única no concurso
de crimes. São puníveis com a pena máxima de 25 anos de prisão o homicídio
qualificado do artigo 132º, nº 1, e o genocídio, do artigo 239º, º 1.
Prevêse, como regime regra (artigos 44º e 45º), a substituição da pena curta
de prisão (pena aplicada em medida não superior a 6 meses) por penas não
detentivas: multa, prestação de trabalho a favor da comunidade, suspensão da
execução da pena de prisão. A pena curta de prisão (pena aplicada em medida
não superior a 3 meses) que, por razões preventivas, não deva ser substituída
por outra pena (por pena não detentiva, multa ou outra) poderá ser cumprida
por dias livres (correspondentes a fins de semana, incluindo os feriados que os
antecederem ou se lhes seguirem imediatamente) ou em regime de
semidetenção. Tratase então de dar ao condenado a possibilidade de
prosseguir a sua actividade profissional normal, os seus estudos, etc. Há no
Código diversas incriminações que apenas prevêem pena de prisão — se esta
for aplicada em medida não superior a 6 meses, poderá ser substituída por
multa (excepto se a execução da prisão for exigida pela necessidade de prevenir
o cometimento de futuros crimes: 44º, nº 1). Cf. os artigos 134º, 135º, nº 1, 245º,
311º, nº 2, 316º, nº 4, 318º, nº 2, 321º, 333º, nºs 3 e 4, b) e c), 334º e 344º.
1
. No domínio do Código de processo penal de 1929, a reparação arbitrada em processo
penal era entendida como um efeito penal da condenação (cf. J. Figueiredo Dias, Sobre a
reparação de perdas e danos arbitrada em Processo Penal, Coimbra, 1966, p. 14 e s.). Sobre o assunto
dispõe agora o artigo 129º do Código Penal, segundo o qual a indemnização de perdas e danos
emergentes de crime é regulada pela lei civil. O princípio de adesão foi acolhido no artigo 71º do
actual código de processo, onde se preceitua que “o pedido de indemnização fundado na
prática de um crime é deduzido no processo penal respectivo, só o podendo ser em separado,
perante o tribunal civil, nos casos previstos na lei”.
M. Miguez Garcia. 2001
1011
A pena de multa deixou de ser complementar da pena de prisão.
Abandonouse a prescrição de pena de prisão e multa, como acontecia
anteriormente à revisão de 1995. Passouse para um sistema de alternatividade
(pena de prisão ou multa), “sempre que, relativamente ao mesmo tipo de crime,
a pena de multa haja de articularse com a pena privativa de liberdade”.
Pretendeuse valorizar a pena de multa e outras reacções não detentivas na
punição da pequena e média baixa criminalidade, de modo a optimizar vias de
reinserção social do delinquente. A pena de multa não pode deixar de ter uma
natureza de pena a que se deu uma amplitude capaz de proporcionar uma certa
proporção entre a quantia fixada para cada dia e a situação económica e
financeira do condenado e dos seus encargos pessoais, tendo em vista cumprir
o princípio da igualdade material ou relativa. Com efeito, cada dia de multa
corresponde a uma quantia entre duzentos escudos e cem contos, que o tribunal
fixa em função daqueles elementos. O limite mínimo é de 10 dias, o máximo de
360 dias (artigo 47º). Mas há excepções, como no primeiro grau de agravação do
furto (artigo 204º, nº 1), em que a pena de multa alternativa à de prisão é até 600
dias. Em caso de concurso (artigo 77, nº 2), o máximo da multa é de 900 dias. Cf.
Agora, por outro lado, os limites das penas de multa previstos para os crimes
tributários e fiscais.
• Em geral, no Código, a relação entre a pena de prisão e a de multa fixada em alternativa no
tipo penal é de 3 / 1 — a equivalência entre as duas penas é de 1 ano de prisão / 120
dias de multa: o furto punese com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa
até 360 dias (artigo 203º, nº 1). Mas, por ex., nos crimes contra a honra seguese um
modelo diferente — a injúria é punida com prisão até 3 meses ou multa até 120 dias
(artigo 181º).
Os critérios da determinação concreta da pena de multa fixada em dias são
os mesmos que se usam para a pena de prisão. A conversão da multa não paga
em prisão subsidiária é feita à razão de 2/3, fazendo corresponder a 3 dias de
multa 2 de prisão (artigo 49º). O não cumprimento da multa, de forma
voluntária ou coerciva, importa, com efeito, o cumprimento de prisão subsidiária
reduzida a 2/3. A conversão da multa em prisão verificase mesmo que ao tipo
de crime não caiba pena de prisão. O sistema é o seguinte (Actas, p. 25): 1º
Condenação em multa; 2º Execução dos bens no caso de não pagamento. 3ª Prestação de dias
de trabalho, a requerimento do condenado. 4º Cumprimento da prisão (prisão subsidiária pelo
tempo correspondente reduzido a dois terços), evitável, pagando a multa em dívida; se o
condenado provar — ónus do condenado — que a razão do não pagamento da multa lhe não é
M. Miguez Garcia. 2001
1012
imputável, pode a execução da prisão subsidiária ser suspensa. A prisão subsidiária deve ser
fixada pelo juiz na sentença, ou posteriormente, quando for caso disso, o que significa que não
basta a própria lei (artigo 49º, nº 1) indicar o tempo de prisão subsidiária por referência ao
tempo da multa não paga. A substituição da multa por prestação de trabalho
depende de requerimento do condenado logo no momento da condenação.
Quando se aplicar uma pena de multa não há lugar à aplicação de uma pena de
substituição, como acontece com a pena de prisão de curta duração. Por outro
lado, não se permite, em geral, a suspensão da execução de uma pena de multa
no momento da condenação. Todavia, havendo incumprimento não imputável
ao condenado, pode a execução da pena subsidiária ser suspensa por um
período de 1 a 3 anos, sendo a suspensão subordinada ao cumprimento de
deveres de conteúdo não económico ou financeiro. Por outro lado, sempre que
a situação económica e financeira do arguido o justificar, pode ocorrer o
pagamento diferido da multa, ou permitirse o pagamento em prestações, com
limite temporal prescrito. Sobre o prazo para o pagamento da multa, após o
trânsito da decisão condenatória, vejase o artigo 489º do Código de Processo
Penal.
No artigo 80º, nº 2, quando for aplicada pena de multa, prevêse o
desconto à razão de um dia de privação da liberdade que o condenado tenha
sofrido (por ter sido detido, por ter sofrido prisão preventiva, etc.) por, pelo
menos, um dia de multa.
A substituição da multa por trabalho fazse em função de considerações
exclusivamente preventivas e não em função de considerações retiradas da
medida da culpa. A substituição da multa por trabalho é uma alternativa à
própria multa. A correspondência deve ser feita de acordo com os critérios do
artigo 58º, nº 4: 1 dia de multa não pode exceder, por dia, o permitido segundo
o regime das horas extraordinárias aplicáveis, em princípio 2 horas (Maia
Gonçalves).
A pena de admoestação consiste numa solene censura oral feita ao agente,
em audiência, pelo tribunal. Só pode aplicarse a quem for condenado em multa
não superior a 120 dias e só tem lugar se o dano tiver sido reparado e o tribunal
concluir que, por esse meio, se realizam, de forma adequada e suficiente, as
finalidades da punição (artigo 60º). A admoestação não se aplica à pena de
multa que substituir a pena de prisão. O juiz pode, no entanto, aplicar, nesse
caso, a dispensa de pena, atentos os pressupostos deste instituto (artigo 74º, nº
1): “quando o crime for punível com pena de prisão não superior a 6 meses, ou
só com multa não superior a 120 dias, pode o tribunal declarar o réu culpado
M. Miguez Garcia. 2001
1013
mas não aplicar qualquer pena”. Ponto é que à dispensa de pena se não
oponham razões de prevenção, o dano tenha sido reparado e a ilicitude do facto
e a culpa do agente forem diminutas. Tenhase em conta, na aplicação da
admoestação, o que se diz no artigo 497º do Código de Processo Penal,
nomeadamente, a possibilidade de a proferir de imediato (antes do trânsito em
julgado da decisão) se o Ministério Público, o arguido e o assistente declararem
para a acta que renunciam à interposição de recurso.
• "A admoestação, que é vista como a concessão mais importante que foi feita à prevenção
especial, à custa do princípio da culpabilidade, é, depois da dispensa de pena (art.
74º) a sanção mais leve do direito penal actual, expressandose o seu carácter
sancionatório na declaração de culpabilidade, na determinação de uma pena
adequada e na admoestação em si. Tratase, pois, de uma sanção "quasepenal":
declarandose a culpabilidade, determinase a pena e desaprovase publicamente o
crime cometido, mas não se impõe a pena". Manuel Simas Santos / Leal Henriques,
Noções elementares, p. 143.
A prestação de trabalho a favor da comunidade deixou de ser considerada
como pena de substituição da multa (nº 1 do artigo 58º). A pena de multa
continua a poder ser substituída por prestação de trabalho, mas como meio de
cumprimento e a requerimento do condenado (artigos 48º e 49º, nº 4). A
tramitação da prestação de trabalho vem no artigo 496º do Código de Processo
Penal, onde se prevê a intervenção dos serviços de reinserção social.
Há um limite da pena concreta até ao qual é permitida a suspensão da
execução da pena de prisão — o tribunal suspende a execução da pena aplicada em
medida não superior a 3 anos. Mas já não se diz que a suficiência da censura do
facto e da ameaça da pena se referem ao afastamento do delinquente da
criminalidade e à satisfação das necessidades de reprovação e prevenção do
crime: a conclusão agora é que elas realizem de forma adequada e suficiente as
finalidades da punição, que são as indicadas no artigo 40º. Não se fala mais de
reprovação, como no artigo 48º, nº 2, do Código Penal de 1982, mas a
reprovação háde continuar “a ser um dos objectivos da aplicação das penas,
não no sentido de pura retribuição ou castigo, antes como censura e
responsabilização do agente pelo seu acto” (Cons. Gonçalves da Costa). “Uma
vez verificados os pressupostos da suspensão da execução da pena, o juiz tem o
M. Miguez Garcia. 2001
1014
poderdever de a decretar”; na verdade, ao contrário da formulação anterior, a
lei diz agora que “o tribunal suspende...”.
O instituto da suspensão da execução da pena de prisão passa a ter 3
espécies diferentes: 1ª Suspensão simples. 2ª Suspensão com imposição de
deveres e regras de condutas ou só estas (os deveres destinamse agora apenas
a reparar “o mal do crime”; as regras de conduta são “destinadas a facilitar a
reintegração na sociedade”. Obtido o consentimento prévio do condenado, o
tribunal pode ainda determinar a sua sujeição a tratamento médico ou a cura
em instituição adequada. 3ª Suspensão com regime de prova: artigo 53º. Os
deveres, as regras de conduta e o regime de prova podem ser impostos
cumulativamente (nº 3 do artigo 50º). Da revogação da suspensão trata o artigo
56º: já não se exige a prática de crime doloso. A revogação determina o
cumprimento da pena de prisão fixada na sentença, sem que o condenado possa
exigir a restituição de prestações que haja efectuado. Se não houver motivos que
possam conduzir à revogação a pena é declarada extinta (artigo 57º, nº 1). “Que
pena é declarada extinta? O texto da norma parece inculcar que a pena que se
extingue é a “fixada na sentença” (cf. o nº 2 do artigo 56º), isto é, a pena de
prisão.” Mas já no CP82, “e assim também no projecto, a própria suspensão é
classificada e tratada como pena (substitutiva da prisão). Como tal a considera,
assim a denominando no título desse estudo, Figueiredo Dias, em “Velhas e
novas questões sobre a pena de suspensão de execução da prisão” RLJ, 124. p.
65 e ss. (cf. Cons. G. da Costa). Mas só o incumprimento culposo pode dar lugar
à revogação, tendose abandonado o sistema em que o incumprimento gerava
sem mais, de forma automática, a revogação. Agora determinase que o
cometimento de outro crime, ainda que doloso, durante o período de
suspensão, não basta, só por si, para conduzir à revogação da suspensão.
O Código referese às finalidades da punição em diferentes ocasiões, nos
artigos 50º (suspensão da execução da pena de prisão), 58º (prestação de
trabalho) e 60º (admoestação). A expressão ganha os seus mais exactos
contornos por vir acompanhada do complemento da adequação e da suficiência.
Facto é que, através da pena de substituição, se pretende que o condenado
alcance a socialização, cuidando de que se não ponham em risco as faladas
expectativas comunitárias.
M. Miguez Garcia. 2001
1015
Resta alinhar alguns tópicos sobre as medidas de segurança. Foi Carl
Stoos (44) quem, em 1894, propôs na Suíça um sistema de consequências
jurídicas do crime de dupla natureza por ficarem umas condicionadas pela
culpa do agente e as outras por não pressuporem a mesma culpa. Explica
Bacigalupo, Princípios, p. 25, que a existência de um sistema dualista, de penas e
medidas de segurança, só é compreensível numa perspectiva histórica que
pressuponha uma ampliação do direito penal moderno face ao que podemos
chamar de clássico. O direito penal clássico só admitia a legitimação da pena na
medida em que o autor tivesse actuado culposamente, quer dizer, que tivesse
actuado de tal maneira que o exercício impróprio da liberdade por parte do
autor do delito fundamentava a censura expressa na pena. A extensão do poder
penal do Estado a outras situações que se caracterizavam precisamente por não
serem censuráveis e que procuravam simplesmente “ou a adaptação do indivíduo
à sociedade ou que se excluíssem da mesma os que não eram susceptíveis de tal
adaptação” — não podia ter o mesmo fundamento que a pena. Enquanto a pena
encontrava o seu fundamento na culpa, as medidas fundamentavamse na
perigosidade do autor. Dizendo por outras palavras: para um direito penal
fundado na ideia das “teorias” absolutas da pena, a “outra via” só era possível
se se reconhecesse que, a acompanhar o princípio legitimador da justiça, era
possível admitir outras intervenções do Estado baseadas na ideia de utilidade.
Uma separação estrita entre penas e medidas só é possível se se entender a pena
do ponto de vista das teorias absolutas, mas os fundamentos tornamse
discutíveis quando nos afastamos dessas teorias e nos propomos enveredar pelo
entendimento que actualmente predomina. Com efeito, ensina ainda
Bacigalupo, as “teorias” relativas da prevenção especial a partir de v. Liszt
careciam da possibilidade conceptual de distinção, porque pena e medida
tinham o mesmo fim: incidir sobre o autor para evitar a reincidência. Vendo as
coisas assim, compreendese que v. Liszt afirmasse que “se a medida de
segurança se liga à comissão de uma acção punível, é possível que assuma a
essência da pena (um mal vinculado a um juízo de desvalor), e isto mesmo do
ponto de vista da teoria da retribuição. Uma vez que esta teoria admite, ainda
que só em medida secundária, que as reacções se dirijam à correcção e à
segurança, é justo afirmar que a pena penetra no terreno da medida de
segurança”. Esta mesma passagem de v. Liszt explica o motivo porque as
teorias actuais encontram dificuldades conceptuais em fundamentar uma
44
Carl Stoos (18491934), nascido na Suiça, era em 1916 professor na Universidade de
Viena, onde viveu as perturbações políticas que acompanharam a ruína do império austro
húngaro.
M. Miguez Garcia. 2001
1016
distinção entre penas e medidas. Na teoria moderna, só se podem estabelecer
diferenças entre ambos os conceitos mediante o critério limitador: “chamamos
pena à sanção que reprime comportamentos socialmente insuportáveis,
limitandoa através do princípio da culpa; chamamos medida à reacção
limitada pelo princípio da proporcionalidade” (Roxin).
A propósito, ocorremnos as palavras do Prof. Figueiredo Dias,
considerando que em matéria de finalidades das reacções criminais não existem
diferenças fundamentais entre penas e medidas de segurança. Diferente é
apenas a forma de relacionamento entre as finalidades de prevenção geral e
especial: nas penas, a finalidade de prevenção geral de integração assume o
primeiro e indisputável lugar, enquanto finalidades de prevenção especial de
qualquer espécie actuam só no interior da moldura construída dentro do limite
da culpa, mas na base exclusiva daquelas finalidades de prevenção de
integração; nas medidas de segurança, diferentemente, as finalidades de
prevenção especial (de socialização e de segurança) assumem lugar
absolutamente predominante, não ficando todavia excluídas considerações de
prevenção geral de integração.
• As medidas são necessárias porque a pena imposta em razão da culpa pessoal não é
suficiente, em todos os casos, para satisfazer as necessidades de protecção da
comunidade. Deste modo, as medidas têm, ao contrário das penas, um único e
exclusivo fim de prevenção especial. Devem actuar apenas sobre a pessoa individual,
para evitar que cometa novos delitos. A sua finalidade consiste, em parte, na
segurança do próprio autor (interdição da concessão da licença de condução de
veículo motorizado), em parte, sobretudo, na cura pelo tratamento (internamento de
inimputáveis). Roxin, Introducción, p. 68).
1. Ainda fará sentido distinguir entre pena e medida de segurança? O sistema
de vicariato na execução (artigo 99º).
A base do sistema dualista (ou dupla via), assente na distinção entre penas
e medidas de segurança, tende a perder sustentáculo legal nas legislações
modernas, onde está cada vez mais difundido o sistema vicarial.
M. Miguez Garcia. 2001
1017
• A questão é a de saber se o sistema de reacções face ao delito cometido deverá ser um
sistema monista de sanção única (pena ou medida de segurança) ou um sistema
dualista diferenciado de penas e medidas de segurança. A distinção clássica entre
pena e medida de segurança, entre retribuição e prevenção, entre culpa e
perigosidade serviu de base ao sistema dualista vigente em muitos ordenamentos
jurídicos. Hoje em dia, na prática, ao serem executadas, ambas têm a mesma
finalidade, de forma que a distinção entre pena e medida carece de sentido — tanto a
pena como a medida de segurança tendem à reinserção e readaptação social do
delinquente.
• “O nosso sistema é decerto monista no sentido de não permitir a aplicação ao mesmo
agente, pelo mesmo facto, de uma pena e de uma medida de segurança
complementar privativa de liberdade. Ele é, todavia, dualista não só no sentido de
conhecer a existência de penas e de medidas de segurança não detentivas a
imputáveis (art. 100º ss.), como ainda no de aplicar cumulativamente no mesmo
processo, ao mesmo agente embora por factos diversos, penas e medidas de
segurança” (Jorge de Figueiredo Dias /Costa Andrade, p. 135).
• Um sistema dualista em que, ao lado da pena limitada pela culpa, exista outro tipo de
sanções não limitadas ou limitadas por princípios e ideias diferentes, constitui um
perigo para as garantias e a liberdade do indivíduo face ao poder sancionatório do
Estado. Da "Introdução" de Francisco Muñoz Conde ao livro de Claus Roxin,
Culpabilidad y prevención en derecho penal.
• "A crise actual do dualismo manifestase numa série de aspectos fundamentais, como os
seguintes: a) Questionase não só a legitimidade das medidas de segurança, mas
também a sua justificação; b) A progressiva aproximação e crescente assimilação
entre a pena e a medida de segurança, como sucede, por exemplo, com o fim
ressocializador que informa a execução de ambas as sanções e com a similitude no
seu regime de execução, que se torna evidente em certos casos de penas e medidas
privativas da liberdade. A aproximação e a falta de uma distinção clara entre as
penas e as medidas manifestase também no reconhecimento e consagração no
M. Miguez Garcia. 2001
1018
direito comparado do sistema de vicariato ou de substituição da pena pela medida de
segurança; c) A crise do modelo de tratamento e da própria ideia de ressocialização,
que eram característicos das medidas de segurança; d) Põese em questão a
legitimidade do sistema dualista, sobretudo a partir da perspectiva e exigências do
Estado de Direito, e chega a falarse na crise do chamado "Direito de medidas". Sob esta
perspectiva, constitucional e do Estado de Direito, questionamse especialmente os
limites de duração das medidas de segurança e o seu pressuposto fundamental que é a
perigosidade criminal, relacionada com o problema da prognose criminal e as
dificuldades inerentes à sua concretização. No fundo está em causa a questão dos
limites do poder punitivo do Estado e da defesa dos direitos fundamentais do
cidadão, que no âmbito da pena se garantem, de certa forma, através do princípio da
culpa, e na moderna regulamentação das medidas de segurança por intermédio do
princípio da proporcionalidade; e e) uma outra prova da crise do dualismo verificase
na tendência actual de propiciar uma terceira via, que é a de reparação do dano a
favor da vítima". Agustín Jorge Barreiro, A crise actual, p. 536.
Falase no princípio de vicariato fundamentalmente quando a medida de
segurança de internamento é executada antes da pena de prisão a que o agente
tiver sido condenado, descontandose a duração da medida privativa da
liberdade na da pena, ficando a execução do eventual resto da pena sujeita a um
regime especial (nº 2 do artigo 99º). Neste artigo 99º acolhese o regime da
execução da pena e da medida de segurança privativas da liberdade.
Lembrando, com Maria João Antunes, as palavras do Prof. Eduardo Correia,
não se pense que o (actual) carácter monista do sistema afasta a necessidade de
disposições como o artigo 99º. “O artigo 20º, nº 1, do Código Penal, ao exigir um
juízo de inimputabilidade em concreto, ou seja, em relação ao facto concreto
praticado pelo delinquente autoriza que ao indivíduo que, num momento dado,
comete um furto e um crime sexual possa ser aplicada uma pena e uma medida
de segurança, por em relação ao primeiro crime ele ser declarado imputável e
inimputável perigoso quanto ao segundo” (Direito Criminal, I, p. 346). Este
sistema de imbrincação de medida de segurança e pena, na fase da sua
execução, pode ter nuances diferentes da actual lei portuguesa, mas no essencial
é nisto que consiste o chamado princípio de vicariato, “onde a distinção entre
pena e medida de segurança no momento da execução é praticamente
M. Miguez Garcia. 2001
1019
inexistente”. Para melhor compreensão, resta explicar que no sistema do nosso
Código ao agente da prática de um mesmo facto não se poderá aplicar,
cumulativamente, uma pena e uma medida de segurança privativa da liberdade
— é a visão correspondente ao sistema monista de reacções criminais (M. J.
Antunes).
Pressuposto mínimo de aplicação da medida de segurança é, segundo o
Prof. Figueiredo Dias, “a conjugação” da prática de um ilícito típico com outros
elementos do crime que não tenham a ver com a culpa do agente.
Consequentemente, não é legítimo partir para a aplicação de uma medida de
segurança de internamento, afirmando a perigosidade, no caso do inimputável
que agiu em legítima defesa, ou em situações semelhantes — casos e que,
realmente, estaremos perante verdadeiros problemas de culpa. Cf., a propósito,
Cortes Rosa, p. 260. Para a aplicação da medida de segurança é também necessário
que haja fundado receio de que o agente venha a cometer outros factos da
mesma espécie, o que legitima aqui uma ideia de perigosidade específica, diz M. J.
Antunes.
Reparese, por outro lado, que as medidas de segurança não podem ser
aplicadas em medida desproporcionada à gravidade do facto e à perigosidade
do agente. É a regra do artigo 40º, nº 3. Quer dizer, no nosso actual sistema, as
medidas de segurança não poderão, na sua duração, exceder, por razões
exclusivamente preventivas (ou ultrapassar desproporcionadamente), as penas
de culpa correspondentes a ilícitos de idêntica gravidade. Cf. ainda o artigo 92º,
nº 2. Dando expressão, segundo a Profª. Fernanda Palma, “a um princípio geral
de orientação da prevenção especial e da prevenção geral pela gravidade do
ilícito, também relevante em matéria de exclusão da responsabilidade. Assim,
se um inimputável não fosse susceptível de uma responsabilidade por culpa,
devido à existência de certas circunstâncias condicionantes da acção, como o
medo de certas ameaças, não poderia o inimputável, vítima das mesmas
circunstâncias, ser sujeito a uma medida de segurança”.
A acompanhar estas ideias vejase a consagração do carácter subsidiário
do internamento dos inimputáveis perigosos. O agente a quem for suspensa a
execução do internamento fica sujeito às regras de conduta necessárias à
prevenção da perigosidade, sujeito ao dever de se submeter a tratamentos e
outros. A suspensão finda quando findar a perigosidade criminal que é a sua
razão de ser. Vejase, por outro lado, o limite máximo de duração do
M. Miguez Garcia. 2001
1020
internamento, no artigo 92º, nº 2, a par de casos de uma duração mínima
decorrente do artigo anterior.
No que respeita à pena relativamente indeterminada, ponderese o
regime dos artigos 83º e ss. E cf. o ac. do STJ de 19 de Abril de 1995, BMJ44646:
Ao arguido só pode ser aplicada uma pena relativamente indeterminada, nos
termos do artigo 83º do Código Penal, se da acusação constar que os factos e a
sua personalidade revelam acentuada inclinação para o crime—cfr. o acórdão
da Relação do Porto de 13 de Março de 1985, Colectânea de Jurisprudência ano
X, tomo 11, pág. 241, e Boletim do Ministério da Justiça nº 345, pág. 451. Com
efeito, a aplicação da pena relativamente indeterminada não deriva
automaticamente da verificação de determinadas condenações anteriores, mas
assenta em juízos de valor que têm de ser feitos com base em factos provados,
que já têm de constar da acusação—cfr., neste sentido, verbi gratia o acórdão da
Relação de Coimbra de 16 de Outubro de 1985 (processo n." 11 911), sumariado
no Boletim nº 350, pág. 397. Relativamente à temática do "delinquente por
tendência" e da "pena relativamente indeterminada", podem verse, entre as
decisões, em número de certo modo reduzido, do Supremo Tribunal de Justiça,
os acórdãos de 21 de Novembro de 1984, de 13 de Novembro de 1985, de 12 de
Novembro de 1986 e de 22 de Maio de 1991, Boletim nº 341, pág. 247, nº 351,
pág. 211, nº 361, pág. 259, e nº 407, pág. 198.
Quanto a medidas de segurança não privativas da liberdade, vejase o
que se dispõe nos artigos 100º e ss. Com especial incidência sobre a cassação da
licença e interdição da concessão da licença de condução de veículo motorizado.
Nalguns casos de crimes contra a segurança das comunicações,
especialmente dos crimes de condução perigosa de veículo rodoviário (artigo
291º) e de condução de veículo em estado de embriaguez (artigo 292º) ocorre,
com frequência, uma aplicação conjunta da pena e da medida de segurança. Se
alguém conduz um veículo em estado de embriaguez (sem ser caso de aplicar o
disposto no artigo 20º, nº 1) é sancionado de acordo com o artigo 292º com pena
de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias, mas podelhe ser
cassada a licença se se encontrarem reunidos os pressupostos previstos no
artigo 101º. A pena fica então vinculada à culpa do agente, mas a cassação que a
acompanha é orientada para a perigosidade do sujeito.
M. Miguez Garcia. 2001
1021
Como efeito da condenação por crimes cometidos no exercício da
condução a lei prevê ainda a proibição de conduzir veículos motorizados
(artigo 69º).
IV. Revogação da suspensão.
CASO nº 56A. A foi condenado por acórdão de 19 de Maio de 1998 pela
prática de um crime de roubo do artigo 210º, nº 1, na pena de 20 meses de
prisão. Nos termos do artigo 50º, o Tribunal, considerando os motivos que
ditaram a prática dos factos pelo arguido, a personalidade deste, não
manifestamente criminosa, sendo ele delinquente primário, suspendeulhe a
execução da pena por 2 anos. A conduta do condenado foi motivada — lêse no
ponto 4 da matéria provada — por a sua companheira S ter trabalhado no
estabelecimento onde se deu o roubo até data recente e reivindicar quantias
monetárias da entidade patronal cujo pagamento não tinha sido efectuado.
Acontece que por decisão de 31 de Maio de 2000 do Círculo de Matosinhos, A
voltou a ser condenado como autor de 2 crimes de burla do artigo 217º, nº 1, em
3 meses de prisão por cada um deles; e como autor de 2 crimes de falsificação
documental do artigo 256º, nºs 1, a ), e 3, em 7 meses de prisão, também por
cada um deles. E por isso na pena única de um ano de prisão, que o Tribunal
declarou suspensa pelo período de 18 meses. Para a condenação foi
determinante que o arguido, por volta de 20 de Setembro de 1998 obteve alguns
cheques da conta de outrem e vários documentos de identificação, entre os
quais um bilhete de identidade, igualmente de terceira pessoa. Em 18 e 20 de
Setembro de 1998, o condenado, usando alguns desses cheques e identificando
se com o bilhete de identidade alheio, fez compras em supermercados que
acabaram por não ser pagas, no valor de 17.446$00 e 19.802$00, sublinhando o
acórdão que o arguido era toxicodependente, de modesta condição sócio
económica, tem o 9º ano de escolaridade, está desempregado e vive com os pais,
tendo confessado os factos, de que se mostrou arrependido. Foi na sequência
deste acórdão que o Ministério Público pediu a revogação da suspensão da
execução da pena de prisão decretada em 19 de Maio de 1998 por entender que
com a sua conduta mais recente, no decurso da suspensão, o condenado em
burla e falsificação documental demonstrou que os fins que se visavam com a
suspensão não foram atingidos (artigo 56º, nº 1, b ).
Na versão actual do Código, se no decurso da suspensão da execução da
pena de prisão o condenado cometer crime pelo qual venha a ser condenado a
M. Miguez Garcia. 2001
1022
suspensão é revogada sempre que, cumulativamente, revelar que as finalidades
que estavam na base da suspensão não puderam, por meio dela, ser alcançadas
(artigo 56º, nº 1, b). Com efeito, e de acordo com o artigo 50º, seria de esperar
que a simples censura do facto e a ameaça da prisão realizassem de forma
adequada e suficiente as finalidades da punição, seria, em suma, de esperar que
o agente não voltasse a delinquir. O não cometimento de crime no decurso da
suspensão e a consequente extinção da pena (artigo 57º) mostram que o
programa de ressocialização teve êxito — o incumprimento desse programa e a
consequente revogação da pena de suspensão (artigo 56º) mostram, pelo
contrário, o fracasso da prognose que justificara a suspensão. De qualquer
forma, os pressupostos da revogação da pena de suspensão da execução da
pena de prisão terão que ser apurados pela positiva. Se o condenado cometer
um crime no decurso da suspensão, vindo por ele a ser condenado, a revogação
só poderá ser decretada se se comprovar que as finalidades que estavam na
base da suspensão não puderam, por meio dela, ser alcançadas.
In casu, a revogação só poderá decretarse com base na alínea b) do nº 1 do
artigo 56º.
O condenado cometeu novos crimes (factos ilícitos, típicos e culposos), de
burla e falsificação, pelos quais veio a ser condenado em pena de prisão, tendo
as correspondentes condutas ocorrido no decurso da suspensão. Todavia, esta
só será revogada se o condenado revelar que as finalidades que estavam na
base da suspensão não puderam, por meio delas, ser alcançadas — que,
portanto, a prognose anterior se revelou falsa. Os pressupostos da revogação, já
acima o dissemos, terão que ser apurados pela positiva.
No domínio da versão primitiva do Código, a revogação só seria
automática se o condenado viesse a ser punido com pena de prisão efectiva. No
Código Penal revisto também só um incumprimento culposo pode acarretar a
revogação da pena de substituição. O cometimento de outro crime, ainda que
doloso, durante o período de suspensão, não é suficiente, só por si, para
conduzir à revogação da pena de substituição — a revogação não é automática.
De forma que o acento tónico passa a estar colocado não no cometimento do
crime doloso durante o período de duração da suspensão e correspondente
condenação em pena de prisão, mas no facto de o cometimento de um crime e
respectiva condenação revelarem a inadequação da suspensão para através dela
serem ainda alcançadas as finalidades da punição (Odete Oliveira, Penas de
Substituição, in Jornadas de Direito Criminal, vol. II, 1998, p. 104). A prática do
M. Miguez Garcia. 2001
1023
novo crime deverá portanto mostrar que a advertência contida na decisão de
suspensão foi desatendida. Ora, isso dificilmente se poderá sustentar quando o
conteúdo de ilícito do novo crime e a censura correspondentes são de pequena
monta (princípio de bagatelas) ou mesmo quando a pena que lhe corresponda
ficou, também ela, suspensa na sua execução. Neste mesmo sentido, cf. K.
Lackner, StGB, 20ª ed., 1993, p. 418, comentando o § 56 f (Widerruf der
Strafaussetzung) do código alemão, segundo o qual, o tribunal revoga a
suspensão da pena se o condenado, no período da suspensão, cometer um
crime e com isso mostrar que a advertência contida na suspensão da pena não
foi alcançada (não se cumpriu).
No caso presente, os novos factos são de Setembro de 1998, ocorreram,
portanto, cerca de cinco meses após a publicação do acórdão que inicialmente
decretou a suspensão, sendo o período desta fixado em dois anos, os quais,
entretanto, já decorreram, sem que ao condenado seja de apontar outro ou
outros comportamentos ilícitos. O acórdão que julgou os novos factos,
ponderando — ainda que na forma tabelar — a personalidade do arguido, as
suas condutas anteriores aos factos e, sobretudo, as condições de vida actual,
suspendeu, também ele, a correspondente pena pelo período de 3 anos. De
forma que, analisando estes elementos, e não havendo outros, de sinal
contrário, que os contrariem, cremos que o comportamento global do
condenado, inserido no tempo entretanto decorrido desde que foi decretada a
suspensão da pena agora em causa, ainda permite formular um juízo que lhe é
favorável, sem pôr em causa a eficácia da ameaça da pena. É esta a solução justa
e ainda eficaz. E está em consonância — não deixaremos, novamente, de o
acentuar — com a decisão, em data muito recente, do Tribunal da segunda
condenação, que não encontrou objecções à suspensão da respectiva pena. Não
se justificando uma exigência éticojurídica de retribuição, mas preocupações de
reeducação e de reinserção social, e não sendo caso de impor a pena para
demonstrar a seriedade da ameaça face à colectividade (prevenção geral), esta
posição é, com efeito, a única que responde à necessidade de a comprovação
dos pressupostos da suspensão se fazer pela positiva, sendo também a única
adequada às finalidades contidas no artigo 56º, desde que interpretadas na sua
articulação com o futuro e não só como resposta ao passado.
V. Outras indicações
A taxa de conversão em euros prevista no artigo 1º do Regulamento CE nº
2866/98, do Conselho, a todas as referências feitas anteriormente em escudos, é aplicada
M. Miguez Garcia. 2001
1024
automaticamente, como decorre do artigo 1º, nº 2, do DecretoLei nº 323/2001, de 17 de
Dezembro. Veja, porém, a nova redacção do artigo 47º, nº 2: cada dia de multa
corresponde a uma quantia entre € 1 e € 498,80, que o tribunal fixa em função
da situação económica e financeira do condenado e dos seus encargos pessoais.
VI. Outras indicações de leitura
Princípio da humanidade das penas; a recusa da prisão perpétua; preservação do legado
humanista do sistema sancionatório português: Pedro Caeiro, RPCC 11 (2001), p. 40.
DecretoLei nº 375/97, de 24 de Dezembro: aplicação e execução da pena de prestação de
trabalho a favor da comunidade.
Despacho Normativo nº 12/2002, de 7 de Março: estabelece as acções de formação em casos de
suspensão de execução da sanção de inibição de conduzir.
Assento nº 1/2002, de 14 de Março de 2002, publicado no DR IA de 21 de Maio de 2002: sobre
recurso ordinário da decisão final da Relação relativa à indemnização civil.
Acórdão do STJ de 21 de Março de 2001, CJ 2001, p. 251: cassação da licença de condução
(artigo 101º).
Acórdão da Relação do Porto de 16 de Janeiro de 2002, CJ 2002 tomo I, p. 232: medida de
segurança não penal, internamento compulsivo de doente pulmonar.
Acórdão para fixação de jurisprudência nº 5/99, de 17 de Junho de 1999, publicado no DR I
sérieA de 20 de Julho de 1999: o agente do crime de condução em estado de embriaguez,
previsto e punido pelo artigo 292º do Código Penal, deve ser sancionado, a título de
pena acessória, com a proibição de conduzir prevista no artigo 69º, nº 1, alínea a), do
Código Penal. [Vejase agora a nova redacção do artigo 69º].
M. Miguez Garcia. 2001
1025
Acórdão do Tribunal Constitucional nº 521/2000, de 29 de Novembro de 2000, DR IIsérie, de
31 de Janeiro de 2001: pena acessória da publicação da decisão condenatória de um
crime contra a saúde pública. Aplicação automática ou por mero efeito ope legis.
Acórdão do Tribunal Constitucional nº 42/2002, de 31 de Janeiro de 2002, DR II, de 18 de Julho
de 2002: às medidas de segurança deverão ser aplicados os perdões concedidos por
sucessivas leis de amnistia?
Acórdão do Tribunal Constitucional de 10 de Janeiro de 2001, DR IIsérie, de 8 de Fevereiro de
2001: Fins das penas; pena fixa; pena de prisão perpétua.
Acórdão do Tribunal Constitucional nº 95/2001 de 13 de Março de 2001, publicado no DRIA
de 24 de Abril de 2002: pena fixa, penas tendencialmente fixas; pesca em época de
defeso; direito penal da culpa; necessidade da pena.
Acórdão da Relação de Coimbra de 7 de Fevereiro de 2001, CJ, ano XXVI 2001, tomo I, p. 59:
crime cometido durante a suspensão da execução da pena.
Acórdão do STJ de 23 de Abril de 1987, processo 38853, 3ª Secção: a suspensão da pena
representa a aplicação de uma nova pena de carácter psicológico, que, além de preencher
o fim de reprovação do crime, se mostra atinente a evitar a repetição de crimes.
Acórdão do STJ de 2 de Março de 2000, CJ 2000, ano VIII, tomo I, p. 223: Pena de multa, prisão
subsidiária da multa. O Código Penal de 1995 deixou de impor que na sentença se fixe a
prisão subsidiária que corresponderá à multa não paga.
Acórdão do STJ de 14 de Dezembro de 2000, CJ 2000, ano VIII, tomo III, p. 256: a admoestação
prevista como medida de correcção no artigo 6º, nº 2, alínea a), do DecretoLei nº 401/82,
coexiste com a pena de admoestação do artigo 60º do Código Penal, não estando por isso
M. Miguez Garcia. 2001
1026
a sua aplicação sujeita aos requisitos impostos neste último normativo, mas apenas
dependente da verificação dos pressupostos legais expressos naquele outro preceito.
Acórdão do STJ de 18 de Maio de 2000, processo n.º 140/2000 5.ª Secção: O instituto da
suspensão da execução da pena tem, hoje, de entenderse como uma autêntica medida
penal, susceptível de servir tão bem (ou tão eficazmente) quanto a efectividade das
sanções aos desideratos da prevenção geral positiva, com a acrescida vantagem de, do
mesmo passo, satisfazer aos da prevenção especial.
Acórdão do STJ de 12 de Abril de 2000, CJ ano VIII (2000), tomo 2, p. 172: medidas de
segurança; pressupostos da duração mínima do internamento; crime de homicídio
voluntário qualificado), com uma anotação na RPCC 10 (2000). Considerouse incorrecta
a decisão do tribunal a quo em integrar os factos na previsão do artigo 132º do Código
Penal, para o qual relevam somente questões atinentes à culpa — o ilícito típico em
questão para efeitos de aplicação da medida de segurança era o do artigo 131º.
Agustín Jorge Barreiro, A crise actual do dualismo no Estado Social e Democrático de Direito,
RPCC 11 (2001).
AlbertPeter Rethmann, Der Umstrittene Nutzen der Strafe, in Rechtstheorie, 2000, Heft 1, p.
114.
Álvaro da Cunha Gomes Rodrigues, As consequências jurídicas do crime nos delitos anti
económicos, Revista da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, vol.
XIII, 1999, tomo 2 (separata).
Américo A. Taipa de Carvalho, Condicionalidade sóciocultural do Direito Penal, Estudos em
homenagem aos Profs. Doutores M. Paulo Merêa e G. Braga da Cruz, II, BFD, 1982.
Américo A. Taipa de Carvalho, Direito Penal. Parte Geral. Questões fundamentais, Porto, 2003.
M. Miguez Garcia. 2001
1027
Américo Taipa de Carvalho, As Penas no Direito Português após a Revisão de 1995, in Jornadas
de Direito Criminal — Revisão do Código Penal. Alterações ao Sistema Sancionatório e
Parte Especial. Vol. II, CEJ, 1998.
Anabela Miranda Rodrigues, A determinação da medida da pena privativa da liberdade (os
critérios da culpa e da prevenção), dissertação de doutoramento, Coimbra, 1995.
Anabela Miranda Rodrigues, A pena relativamente indeterminada na perspectiva da
reinserção social do recluso, in Jornadas de Direito Criminal. O Novo Código Penal
Português e Legislação Complementar. Fase I. CEJ, 1983.
Anabela Miranda Rodrigues, Pena de prisão substituída por pena de prestação de trabalho a
favor da comunidade (Prática de um crime de receptação dolosa), RPCC9 (1999).
Anabela Miranda Rodrigues, Sistema punitivo português. Principais alterações no Código
Penal revisto, Sub judice / ideias, 11, 1996, p. 39.
Andreas Meyer, Die Gefährlichkeitsdelikte, p. 34.
Antonio Beristain, L'amende pénale et l'amende administrative par rapport aux sanctions
privatives de liberté, RIPC (Interpol) 1976, nºs 302 e 303.
António Carlos DuarteFonseca, Interactividade entre penas e medidas tutelares — contributo
para a (re)definição da política criminal relativamente a jovens adultos, RPCC 11 (2001).
António João Latas, A pena acessória de proibição de conduzir veículos automóveis, in sub
judice / ideias —17 (2000).
Augusto Silva Dias, Direito Penal, Parte Geral, 19921993.
Beccaria, Des délits et des peines, par Beccaria, traduit de l’italien, deuxième édition, Paris,
1823.
M. Miguez Garcia. 2001
1028
Eduardo Correia, Estudos sobre a evolução das penas no direito português, vol. I (separata do
vol. LIII do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra).
Emilio Dolcini, Problemi della commisurazione della pena in Italia e in Portugallo, BFD 71
(1995), p. 261.
Enrique Bacigalupo, Principios de derecho penal, parte general, 2ª ed., 1990.
Frederico de Lacerda da Costa Pinto, Justificação, não punibilidade e dispensa de pena na
revisão do Código Penal, Jornadas sobre a revisão do Código Penal, FDUL, 1998.
G. Stratenwerth, Derecho Penal, PG, 1976.
Germano Marques da Silva, Crimes rodoviários. Pena acessória e medida de segurança, 1996.
Jorge de Figueiredo Dias / Manuel da Costa Andrade, Direito Penal. Questões fundamentais.
A doutrina geral do crime. 1996.
Jorge de Figueiredo Dias, Direito penal português. Parte geral. II. As consequências jurídicas
do crime, 1993.
Jorge de Figueiredo Dias, Fundamento, Sentido e finalidades da medida de segurança criminal,
in Temas básicos da doutrina penal, Coimbra Editora, 2001.
Jorge de Figueiredo Dias, Fundamento, Sentido e finalidades da pena criminal, in Temas
básicos da doutrina penal, Coimbra Editora, 2001.
Jorge de Figueiredo Dias, O sistema sancionatório do direito penal português no contexto dos
modelos da política criminal, Estudos em Homenagem ao Prof. Dr. Eduardo Correia,
separata, Coimbra, 1984.
Jorge de Figueiredo Dias, Oportunidade e sentido da Revisão, in Jornadas de Direito Criminal
— Revisão do Código Penal. Vol. I, CEJ, 1996.
M. Miguez Garcia. 2001
1029
Jorge de Figueiredo Dias, Pressupostos da punição e causas que excluem a ilicitude e a culpa,
Jornadas de Direito Criminal, CEJ, 1983, p. 39 e ss.
Jorge de Figueiredo Dias, Sobre o estado actual da doutrina do crime, 2ª parte, RPCC 1992, p. 7
e ss.
José António Veloso, Pena criminal, ROA, ano 59, Abril de 1999.
José Beleza dos Santos, O fim da prevenção especial das sanções criminais — valor e limite,
BMJ735.
José Cerezo Mir, Curso de Derecho Penal Español, PG, III Teoría jurídica del delito/2, 2001.
José de Faria Costa, Um olhar doloroso sobre o Direiro Penal, in Mal, Símbolo e Justiça,
Faculdade de Letras, Coimbra, 2001.
José de Sousa Brito, A medida da pena no novo Código Penal, BFD, Estudos em Homenagem
ao Prof. Doutor E. Correia, III, 1984, p. 555.
José de Sousa Brito, a medida da pena no novo Código Penal, in Textos de apoio de Direito
Penal, tomo II, AAFD, Lisboa, 1983/84.
José de Sousa Brito, Para fundamentação do direito criminal, Textos de apoio de Direito Penal,
tomo I, AAFD, Lisboa, 1983/84.
José de Sousa Brito, Os fins das penas no Código Penal, in Problemas fundamentais de Direito
Penal. Homenagem a Claus Roxin, Lisboa, 2002.
José Gonçalves da Costa, A Parte Geral no Projecto de Reforma do Código Penal Português,
RPCC 3 (1993).
MansoPreto, Algumas considerações sobre a suspensão condicional da pena, Textos do CEJ, 1
(199091), p. 173.
M. Miguez Garcia. 2001
1030
Manuel António Lopes Rocha, O Novo Código Penal Português Algumas Considerações Sobre
o Sistema Monista das Reacções Criminais, BMJ3239.
Manuel Cortes Rosa, La función de la delimitación de injusto y culpabilidad, in Fundamentos
de un sistema europeo de Derecho Penal, LibroHomenaje a Claus Roxin, 1995.
Manuel Cortes Rosa, Natureza jurídica das penas fiscais, in Direito Penal Económico e
Europeu: Textos Doutrinários, volume II, 1999, p. 1 e ss.
Manuel Simas Santos / Manuel LealHenriques, Noções elementares de Direito Penal, 1999.
Maria Fernanda Palma, As alterações reformadoras da Parte Geral do Código Penal na revisão
de 1995: Desmantelamento, reforço e paralisia da sociedade punitiva, AAFDL, 1998.
Maria Fernanda Palma, Desenvolvimento da pessoa e imputabilidade no Código Penal
português, in Casos e Materiais de Direito Penal, Coimbra, 2000, p. 101.
Maria Fernanda Palma, "Fins das Penas" e "As antinomias entre os fins das penas e os modelos
de política criminal", in "Direito Penal, Parte Geral", AAFDL, 1994.
Maria João Antunes, Alterações ao sistema sancionatório — As medidas de segurança, RPCC 8
(1998), p. 51; e in Jornadas de Direito Criminal — Revisão do Código Penal. Alterações
ao Sistema Sancionatório e Parte Especial. Vol. II, CEJ, 1998.
Maria João Antunes, Concurso de crimes e pena relativamente indeterminada: determinação
da medida da pena. Acórdão do STJ de 19 de Abril de 1995, RPCC 6 (1996).
Maria Margarida Silva Pereira, Rever o Código Penal, Relatório e parecer da Comissão de
assuntos constitucionais, Sub judice / ideias, 11, 1996, p. 7.
Mário Ferreira Monte, Multa — Fixação de quantitativo diário, RPCC 9 (1999).
Mário Pedro Meireles, Sanções das (e para as) pessoas colectivas, RPCC 10 (2000).
M. Miguez Garcia. 2001
1031
Miguel Nuno Pedrosa Machado, Circunstâncias das Infracções e Sistema do Direito Penal
Português, Lisboa, 1989.
Nuno Brandão, Anotação ao acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 12 de Abril de 2000
(limites de duração da medida de segurança de internamento), RPCC 10 (2000).
Odete Maria de Oliveira, Penas de Substituição, in Jornadas de Direito Criminal — Revisão do
Código Penal. Alterações ao Sistema Sancionatório e Parte Especial. Vol. II, CEJ, 1998.
Pedro Caeiro, "Ut puras servaret manus", RPCC 11 (2001).
Santiago Mir Puig, El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho, Barcelona,
1994.
Wilfried Bottke, La actual discusión sobre las finalidades de la pena, in Política criminal y
nuevo Derecho Penal. Libro Homenaje a Claus Roxin, 1997.
Winfried Hassemer, História das ideias penais na Alemanha do pósguerra, AAFDL, 1995.
Winfried Hassemer/F. Muñoz Conde, Introducción a la Criminología y al Derecho Penal, 1989.
M. Miguez Garcia. 2001
1032
§ 45º A determinação da pena
I. Indicação da pena abstracta. Escolha da pena. Individualização da pena
concreta.
• CASO nº 45: A, B e C decidiram entre si começar a fabricar notas de 10 contos, em casa
do primeiro, imitando as que se encontravam em circulação com a efígie do Infante
Dom Henrique. Para a produção das notas usaram o computador do próprio A, um
scanner, uma impressora "Hewlett Packard" 690 C e a uma resma de papel de 80 grs.
Os três, entreajudandose e utilizando o scanner e o computador, digitalizaram uma
nota de 10 contos, apondolhe um número de série, procederam à afinação da cor e
acabaram por imprimir diversos exemplares das referidas notas. Dias depois, o B
entregou ao D cinco dessas notas de 10 contos, sabendo ambos que eram falsas.O D
recebeu essas notas do B com intenção de as pôr em circulação. Tempos depois,
apareceram em circulação reproduções de notas de 10 contos, das que tinham sido
fabricadas pelos três amigos. A, B e C tinham conhecimento de que as notas que
confeccionaram eram produzidas fora dos circuitos legalmente autorizados para
produção e lançamento em circulação de moeda. Estavam cientes de que não lhes era
permitido usar as ditas notas como meio de pagamento, nem pôlas em circulação e
sabiam que as notas que fabricavam eram idóneas a serem tomadas como boas pela
generalidade das pessoas e foi por isso que decidiram utilizálas. D estava ciente de
que, devido às semelhanças com as notas autênticas, não lhe era permitido pôr em
circulação as notas que recebera. D tem 19 anos de idade. É o quarto de oito filhos
nascidos de agregado familiar estável. Frequentou o 6º ano de escolaridade. A partir
dos 15 anos passou por actividades variadas, nomeadamente empregado de balcão,
ajudante de serralheiro e numa firma de ar condicionado. No estabelecimento
prisional frequenta o 3º ciclo e tem tido visitas regulares. A família dispõese a ajudá
lo, inclusivamente, no domínio laboral. A tem 20 anos de idade. Ficou cedo entregue
M. Miguez Garcia. 2001
1033
aos cuidados de uma avó, quando a mãe faleceu e o pai seguiu outros rumos.
Completou o 9º ano de escolaridade e encontravase a frequentar um curso de
contabilidade e gestão. O relatório social sublinha que em meio livre conta com apoio
incondicional de familiares e que tem projectos para futuro. B tem 22 anos de idade. É
oriundo de família de condição equilibrada, sendo os pais operários fabris. Em
criança foi acompanhado por psicólogos, mas fez o 6º ano aos 14 anos, tendo
começado a trabalhar aos 16, como empregado de balcão e tarefeiro, até que foi preso.
Na prisão tem revelado conduta adequada às normas e está ocupado com trabalho.
Conta com o apoio da família e o relatório social sublinha que o arguido conta com
trabalho assegurado na firma onde sempre trabalhou e está bem relacionado com os
vizinhos. C tem 20 anos de idade. Um de 11 irmãos, o pai faleceu há cerca de 6 anos,
sendo a mãe vendedora ambulante. Abandonou a escola com 16 anos e com a 4ª
classe concluída. Começou a trabalhar como padeiro, actividade que desempenhou
durante vários anos, tendo trabalhado como tarefeiro num Banco. Cumpre agora o
serviço militar. É descrito como tendo forte ligação à família, reservado e algo
introvertido, alheio a conflitos, não havendo referências negativas quanto ao grupo
de amigos que frequentava. Na casa de reclusão vem mantendo comportamento
adequado às normas, embora revelando dificuldades de adaptação. Tem o apoio
afectivo e material da mãe, com quem tem vivido. O relatório social apresentao como
indivíduo com hábitos de trabalho, confiante e interessado na obtenção de emprego,
logo que recupere a liberdade. São todos solteiros e nenhum tem antecedentes
criminais. As declarações em audiência de A e B coincidiram, no essencial, com o que
fica relatado quanto à imitação das notas de dez e a intencionada destinação das
mesmas. Ambos disseram do seu arrependimento. B esclareceu ainda como entregou
as cinco notas ao D.
Qual a pena a aplicar a cada um dos intervenientes?
M. Miguez Garcia. 2001
1034
1. Indicação do crime cometido e da respectiva moldura penal abstracta.
A, B e C, de comum acordo, praticaram contrafacção de moeda, com
intenção de a pôr em circulação. O crime é o do artigo 262º, nº 1, cuja moldura
penal aponta prisão de 2 a 12 anos.
D recebeu notas do B com intenção de as pôr em circulação, sabendoas
falsas. Encontrandose presentes os restantes elementos do ilícito do artigo 266º,
alínea a), D mostrase comprometido com o respectivo crime, cuja moldura
penal aponta para pena de prisão até 3 anos ou multa (=360 dias: artigo 47º, nº
1). Isto posto, passemos à determinação concreta das penas.
2. Linhas gerais da problemática que envolve a determinação concreta das
penas. O modelo preventivo limitado pela culpa.
No direito vigente, a aplicação de penas visa a protecção de bens jurídicos,
entendida como tutela da crença e confiança da comunidade na sua ordem
jurídicopenal, e a reintegração social do agente (artigo 40º, nº 1, do Código
Penal). A pena não pode ultrapassar em caso algum a medida da culpa (artigo
40º, cit., nº 2), ou seja, não há pena sem culpa e a culpa decide da medida da
pena. O nosso Supremo Tribunal resume assim a sua interpretação dos fins das
penas (cf. o acórdão do STJ de 12 de Março de 1997, no processo nº 1057/96; cf.
ainda Figueiredo Dias, Os novos rumos da política criminal, separata da Revista da
Ordem dos Advogados, 1983, p. 27):
a) A prevenção geral positiva ou de integração é a finalidade primordial a prosseguir.
b) Deste modo, a prevenção especial positiva nunca pode pôr em causa o mínimo de pena
imprescindível à estabilização das expectativas comunitárias na validade da norma
violada.
c) Por sua vez, porém, a defesa da ordem jurídicopenal, tal como é interiorizada pela
consciência colectiva, também nunca pode pôr em causa a própria dignidade humana do
agente, que o princípio da culpa justamente salvaguarda.
M. Miguez Garcia. 2001
1035
d) Por isso, a pena jamais pode ultrapassar a medida da culpa ou o máximo que a culpa do
agente consente, independentemente de, assim, se conseguir ou não atingir o grau
óptimo da protecção dos bens jurídicos.
e) Desta forma, o espaço possível de resposta às necessidades de reintegração social do
agente é o que se define entre aquele mínimo imprescindível à prevenção geral positiva e
o máximo consentido pela sua culpa.
• “A finalidade primeira das penas é a de restaurar e estabelecer a paz jurídica abalada pelo
crime, procurandose assim dar resposta às exigências da prevenção e satisfazer o
sentimento de reprovação que a prática do crime reclama. No entanto, há que
equacionar e conjugar as exigências da prevenção geral com a necessidade de
ressocialização do agente (prevenção especial positiva ou de integração) e de
advertência pessoalizada ao mesmo agente (prevenção especial negativa), dentro dos
limites da sua culpa”. Acórdão do STJ de 5 de Dezembro de 2001. Proc. n.º 3436/01
3.ª Secção.
• Domina a ideia de que a prevenção geral assume o primeiro lugar como finalidade da
pena, não a "prevenção geral negativa ou de intimidação, mas a prevenção geral
positiva, de integração ou reforço da consciência jurídica comunitária e do seu
sentimento de confiança no direito" (Figueiredo Dias, O Código Penal Português de
1982 e a sua reforma, RPCC 3 (1993), p. 169; Luís Miranda Pereira, O primado da
prevenção como objectivo de uma nova política criminal, RPCC 5 (1995), p. 91). Mas
do Estado, titular do jus puniendi, reclamase "a obrigação de ajuda e de solidariedade
para com o condenado, proporcionandolhe o máximo de condições para prevenir a
reincidência e prosseguir a vida no futuro sem cometer crimes" (Figueiredo Dias, ob.
cit., p. 174).
O critério legal que servirá de guia da medida da pena é o do artigo 71º,
nºs 1 e 2, do Código Penal, onde se explicita que a medida da pena se determina
em função da culpa do agente e das exigências de prevenção, atendendose, no
M. Miguez Garcia. 2001
1036
caso concreto, a todas as circunstâncias que, não fazendo parte do tipo de crime,
deponham a seu favor ou contra ele.
• Considerando que a ilicitude e a culpa pelo facto "são conceitos graduáveis" (Mezger,
Derecho Penal, PG, Libro de estudio, 1958, p. 384), terseá em atenção o catálogo aberto
das circunstâncias (nº 2 do artigo 71º) que entram em consideração como elementos
fácticos da individualização da pena e que, desde logo, revelam o "peso" do desvalor
da acção e do desvalor do resultado e a intensidade da realização típica (Blei, StrafR,
AT, 18ª ed., 1983, p. 426). E entre essas circunstâncias, "no que toca à ilicitude, o grau
de violação ou o perigo de violação do interesse ofendido, o número dos interesses
ofendidos e suas consequências, a eficácia dos meios de agressão utilizados; no que
toca à culpa, o grau de violação dos deveres impostos ao agente, o grau de
intensidade da vontade criminosa, os sentimentos manifestados no cometimento do
crime, os fins ou motivos determinantes, a conduta anterior e posterior, a
personalidade do agente; no que toca à influência da pena sobre o agente, as suas
condições pessoais e a sua situação económica" (Manuel Simas Santos / Manuel Leal
Henriques, Noções elementares de Direito Penal).
Há quem tenha tomado posição contra a opção legislativa consagrada no
artigo 40º. Por ex., o Conselheiro José de Sousa Brito, como se relata na Acta nº
40 dos trabalhos de revisão do Código Penal. Por outro lado, há quem afirme
que com a adopção do apontado artigo 40º "estiveram no pensamento
legislativo somente razões pragmáticas", por forma a "dar ao intérprete e ao
aplicador do direito criminal critérios de escolha e de medida das penas e das
medidas de segurança", não tendo havido "o propósito de solucionar por via
legislativa a questão dogmática dos fins das reacções criminais" (Maia
Gonçalves, Código Penal Português Anotado, 8ª ed., em anotação ao artigo 40º).
Certo é que a maioria está de acordo em, por um lado, rejeitar a concepção
retributiva da pena (45), e, por outro, em aceitar que a chave para a compreensão
45
) Para o Conselheiro José de Sousa Brito a pena visa retribuir a culpa, mas a culpa só é
retribuída na medida necessária à protecção dos bens jurídicos. Tratase de uma teoria
retributiva que entronca directamente em Platão, como uma teoria material e relativa, como
reparação da culpa pela reintegração do criminoso. É uma reparação jurídica e proporcional à
culpa que pressupõe uma prévia determinação das espécies e da gravidade das penas segundo
critérios da necessidade de protecção subsidiária de bens jurídicos, a qual, em nome da própria
economia de meios implicada pela prevenção geral, de per si implica a máxima eficácia
M. Miguez Garcia. 2001
1037
da doutrina da medida da pena está na clara distinção entre culpa e prevenção.
Ponto é qual destas — culpa, entendida como uma censura dirigida ao agente
em virtude da atitude desvaliosa documentada no facto, e prevenção — deverá
ter o lugar cimeiro. O Supremo Tribunal, como anteriormente se viu, tende a
afirmar que "a prevenção geral positiva ou de integração é a finalidade
primordial a prosseguir". Consequentemente, conclui que a prevenção especial
positiva nunca pode pôr em causa as exigências de defesa do ordenamento
jurídico e que estas também nunca poderão pôr em causa a própria dignidade
humana do agente, conforme se deduz do princípio da culpa.
A chamada teoria do espaço de liberdade é seguida pela jurisprudência alemã por forma a
conferir à culpa o primeiro lugar na decisão da medida da pena. Os fundamentos da
individualização da pena são, por um lado, a gravidade do facto e o seu significado para o
ordenamento jurídico e, por outro, o grau da culpa do autor. Tendo em conta estes dois pontos
de vista heterogéneos, e ponderandoos, o juiz deverá encontrar a pena justa, ou seja, a pena
adequada à culpa. Esta Spielraumtheorie baseiase na ideia de que a pena não pode ultrapassar a
medida da culpa. Na prática, porém, em razão da complexidade da avaliação da culpa e da
insuficiência do conhecimento humano, não se poderá alcançar uma grandeza exacta para a
culpa, a partir da qual se possa chegar a uma grandeza exacta para a pena. As dificuldades
superamse com uma "moldura da culpa" construída num espaço nuclear, dentro do qual não se
colocam dúvidas quanto à adequação da pena à culpa. Consequentemente, formase uma zona
de fronteira que delimita aquele espaço da moldura penal abstracta onde já não haverá lugar
para a consideração da culpa pelo facto. Esse quantum concreto da pena medido pela culpa, não
sendo inteiramente fixo, como se observou, contém uma margem maior ou menor de variação.
É no interior deste espaço de variação que as diversas finalidades preventivas logram
encontrar a sua validade, participando dessa forma na graduação concreta da pena. No interior
desta moldura da culpa — oscilando entre um máximo e um mínimo — avaliando o juiz a
medida da culpa e ponderando os diversos fins das penas, se encontrará a pena para o facto
concreto. Cf. Otto Triffterer, Öst. StrafR, AT, 2ª ed., 1994, p. 509; K. Lackner, StGB, 20ª ed., 1993,
p. 317.
• Por outras palavras: "Não se pode determinar com precisão a pena que corresponde à
culpa. Existe aqui uma margem de liberdade (Spielraum) limitada, no máximo, pela
pena ainda adequada à culpa. O juiz não pode ultrapassar o limite máximo. Não
pode, portanto, impor uma pena que na sua medida ou natureza seja tão grave que já
não seja, por isso, sentida como adequada à culpa. Mas o juiz poderá decidir até onde
pode chegar dentro desta margem de liberdade". Claus Roxin, La determinacion de la
pena a la luz de la teoria de los fines de la pena, in Culpabilidad y prevención en derecho
penal, p. 96.
preventiva possível. Cf. RPCC 10 (2000), p. 493.
M. Miguez Garcia. 2001
1038
• Entendendo que a medida da pena deve ser dada essencialmente através da medida da
culpa, vejase, por ex., o acórdão da Relação de Coimbra de 17 de Janeiro de 1996, CJ
1996, ano XXI, tomo I, p. 38, decorrendo do correspondente sumário o entendimento
de que "a medida da pena tem como primeira referência a culpa, funcionando depois,
num segundo momento mas ao mesmo nível, a prevenção".
No presente caso de moeda falsa, e no que toca à prevenção geral positiva,
as exigências são particularmente intensas e medidas pelo alarme social que
acompanha a prática destes crimes. Dum modo geral, as pessoas confiam na
moeda, mesmo quando se trata de simples pedaços de papel, embora isso não
passe de um milagre psicológico, ainda assim tão importante que, sem ele, a
nota de banco “would be an impossibility” (Gunnar Andersen, Banknotes,
Principles and Aesthetics in Security Graphics, Copenhagen, 1975, p. 7). A perda da
confiança no valor do dinheiro gera, no entanto, uma desconfiança profunda e
generalizada na capacidade do Estado cumprir as garantias assumidas. Háde
repararse que aqueles que são enganados com a moeda falsa não se vêem
apenas como vítimas do embuste dum terceiro, i. e., como se fossem burlados,
mas ao mesmo tempo como vítimas da incapacidade do próprio Estado solver
as suas obrigações (assim, H. Otto, Grundkurs, BT, 3ª ed., p. 355).
A, B e C, para alcançarem os seus desígnios, lançaram mão de processos
informáticos modernos, os quais, por se terem tornado acessíveis e o seu uso se
encontrar vulgarizado, consentem uma rápida e expedita actuação, com a
vantagem de se ficar a coberto de olhares indiscretos e se poder operar em
espaços minguados e com economia de meios. O grau da ilicitude ligada à
actuação destes arguidos é assim elevado e tem a ver, também, com a
quantidade de notas falsas conseguidas e com a respectiva qualidade, a reflectir
imitações meticulosas, a partir do emprego das cores, semelhanças que só com
muita atenção se detectam. Mas não se descortina aqui uma significativa
indústria de moeda falsa, com especialistas a dividir tarefas, com os tentáculos
do crime organizado, como tantas vezes tem acontecido, a fazer lembrar
malfeitores com actividades complementares ou paralelas à da moeda falsa, que
quase sempre passam pelo tráfico de drogas, a exploração da prostituição e o
branqueamento de capitais. Os três amigos, todos eles jovens e sem cadastro,
lançaramse num empreendimento clandestino, quase artesanal e de estrutura
incipiente, mas cuja dinâmica se adivinha capaz de gerar maiores perigos —
ainda que se não tivesse apurado o real alcance da difusão das notas por
passadores. O dolo, em todos os casos, é directo — e plena a consciência da
M. Miguez Garcia. 2001
1039
ilicitude. Mas não nos parece haver elementos que apontem para um potencial
energético particularmente intenso na preparação e no cometimento do delito.
O D, ao receber as notas que sabia serem falsas, agiu com dolo directo e
intenso e com plena consciência da ilicitude da sua conduta. Tratase — no caso
a ganhar relevo para aferir da quantidade do ilícito — de cinco notas para pôr
em circulação.
Os dados pessoais de A, B, C e D — todos sob detenção preventiva — são
lhes sem dúvida favoráveis. O A tem 20 anos de idade. Ficou cedo entregue aos
cuidados de uma avó, quando a mãe faleceu e o pai seguiu outros rumos.
Completou o 9º ano de escolaridade e encontravase a frequentar um curso de
contabilidade e gestão. O relatório social sublinha que em meio livre o arguido
conta com apoio incondicional de familiares e que tem projectos para futuro. O
B tem agora 22 anos de idade. É oriundo de família de condição equilibrada,
sendo os pais operários fabris. Em criança foi acompanhado por psicólogos,
mas fez o 6º ano aos 14 anos, tendo começado a trabalhar aos 16, como
empregado de balcão e tarefeiro, até que foi preso. Na prisão tem revelado
conduta adequada às normas e está ocupado com trabalho. Conta com o apoio
da família e o relatório social sublinha que o arguido conta com trabalho
assegurado na firma onde sempre trabalhou e está bem relacionado com os
vizinhos. O C tem 20 anos de idade. Sendo um de 11 irmãos, o pai faleceu há
cerca de 6 anos, sendo a mãe vendedora ambulante. Abandonou a escola com
16 anos e com a 4ª classe concluída. Começou a trabalhar como padeiro,
actividade que desempenhou durante vários anos, tendo trabalhado como
tarefeiro num Banco. Cumpre agora o serviço militar. É descrito como tendo
forte ligação à família, reservado e algo introvertido, alheio a conflitos, não
havendo referências negativas quanto ao grupo de amigos que frequentava. Na
casa de reclusão vem mantendo comportamento adequado às normas, embora
revelando dificuldades de adaptação. Tem o apoio afectivo e material da mãe,
com quem tem vivido. O relatório social apresentao como indivíduo com
hábitos de trabalho, confiante e interessado na obtenção de emprego, logo que
recupere a liberdade. D, que tem agora 19 anos de idade, era primário à data
dos factos. É o quarto de oito filhos nascidos de agregado familiar estável.
Frequentou o 6º ano de escolaridade e a partir dos 15 anos passou por
actividades variadas, nomeadamente empregado de balcão, ajudante de
serralheiro e numa firma de ar condicionado. No estabelecimento prisional
frequenta o 3º ciclo e tem tido visitas regulares. A família dispõese a ajudálo,
inclusivamente, no domínio laboral. Mas não se confirma que este arguido tem
M. Miguez Garcia. 2001
1040
bom comportamento, anterior e posterior aos factos, sendo considerado na zona
da sua residência, e que tem trabalho garantido.
Por fim, notarseá que as declarações em audiência do A e do B ganham
algum relevo para o esclarecimento dos factos. O B contou ainda como entregou
as notas ao D.
3. Espécie da pena a aplicar: prisão ou multa? Medida judicial da pena (pena
concreta). Atenuação especial para jovens? Desconto.
No que respeita ao D, o que se disse anteriormente aponta para a pena,
que se julga adequada, de 120 dias de multa. E isso, não obstante estar à
disposição igualmente a pena de prisão. Na verdade, manda o artigo 70º do
Código Penal que, em princípio, se opte pela pena não privativa da liberdade. O
D não tem antecedentes criminais — não há necessidade de especiais
necessidades de prevenção geral ou especial. Face aos restantes parâmetros
legais, estando o D desempregado, e detido já há algum tempo, fixase o
montante diário da multa em 200$00. Atenderseá oportunamente ao tempo de
detenção preventiva sofrido pelo D e ao que se dispõe, quanto ao desconto, no
artigo 80º, nºs 1 e 2.
Quanto ao A, B e C as razões preventivas (prevenção especial) não
parecem instantes. Por tudo isso se julga ajustada a pena de 3 anos de prisão
para cada um deles. Todavia, a benefício destes não parece que seja caso de
introduzir aqui, para a resolver pela afirmativa, a questão da atenuação especial
prevista no DecretoLei nº 401/82, de 23 de Setembro. Tratase de diploma que
tem como preocupação a instituição de um direito mais reeducador que
sancionador, com a adopção preferencial de medidas correctivas desprovidas
de efeitos estigmatizantes e cujo artigo 4º prevê a atenuação especial da pena de
prisão nos termos dos actuais artigos 72º e 73º do Código Penal ao jovem
condenado. Mas a atenuação especial não é automática — e só em casos
extraordinários ou excepcionais pode ter lugar, escrevese, por ex., no acórdão
do STJ de 1 de Outubro de 1997, BMJ470145, e isso não acontece num caso
como o presente (46).
46
) A conclusão não é forçosa e serve apenas fins didácticos, para fomentar a discussão,
como tudo o mais que agora está em apreciação. Como mais adiante se dirá, a atenuação
especial deve ser entendida como um regime penal normal para os jovens de idade
compreendida entre os 16 e os 21 anos. De carácter excepcional é a atenuação especial prevista
no artigo 72º do Código Penal.
M. Miguez Garcia. 2001
1041
4. Suspensão da execução da pena.
Em geral, quando, como neste caso acontece com A, B e C, se aplicar pena
de prisão não superior a três anos, deve o tribunal suspender a sua execução
sempre que, reportandose ao momento da decisão, o julgador possa fazer um
juízo de prognose favorável relativamente ao seu comportamento futuro (artigo
50º do Código Penal), juízo este não necessariamente assente numa certeza,
bastando uma expectativa fundada de que a simples ameaça da pena seja
suficiente para realizar as finalidades da punição e consequentemente a
ressocialização.
No caso de A, B e C, entendese que a pena deve ser suspensa, por estarem
reunidos os referidos pressupostos. Como já se disse, as declarações em
audiência de A e B tiveram algum relevo para a reconstituição do que aconteceu
— ainda que o juiz tivesse ficado a saber uma porção do acontecido, não o todo.
Ambos disseram do seu arrependimento e da pretensão — simpática — de
reinaugurar a vida. Todos os três são primários e jovens, sem nada de negativo
que se lhes possa apontar antes e depois dos factos. Têm todos perspectivas de
ficar inseridos socialmente: fazem parte de famílias que cultivam os afectos,
mesmo tendo apertos de dinheiro. As condutas parecem aliás condizer com
circunstâncias episódicas da vida destes três jovens e não com personalidades
deformadas e avessas ao Direito. Estão detidos, dois deles há mais de um ano, o
outro há já alguns meses — e em qualquer dos casos a pena merece a redução
oferecida por recente lei de clemência. O prognóstico feito quanto à
ressocialização não tem que ficar acertado de pedra e cal. Mas confiase em que
essa recuperação se irá processar de forma harmoniosa e sem rupturas — sem
que voltem a andar de candeias às avessas com a lei e a sociedade. Por isso
suspendese por quatro anos a pena em que cada um dos indicados A, B e C
aqui foi condenado, sem prejuízo da oportuna aplicação do que decorre da
falada lei de amnistia, se a suspensão vier a ser, em qualquer caso, revogada.
• Tem o Supremo entendido que o pressuposto material da suspensão da execução da pena é
limitado por duas coordenadas: a salvaguarda das exigências mínimas essenciais de
defesa do ordenamento jurídico (prevenção geral) e o afastamento do agente da
criminalidade (prevenção especial), sendo indispensável que o tribunal possa fazer
um juízo de prognose favorável relativamente ao comportamento futuro do arguido,
M. Miguez Garcia. 2001
1042
assente numa expectativa fundada de que a simples ameaça da pena seja suficiente
para realizar as finalidades da punição.
II. Indicação da pena abstracta. Escolha da pena. Individualização da pena
concreta.
• CASO nº 45A: Em 2 de Outubro de 1998, A assinou e entregou a M os dois cheques
junto aos autos com a queixa, sobre o Banco X, preenchidos mecanicamente,
mediante o seu acordo, com a mesma data, para pagamento de produtos que então
lhe foram fornecidos. A sabia que não tinha provisão na conta sacada suficiente para
pagar o valor dos cheques, um de 82590$00 e outro de 66454$00 e, inclusivamente,
que a mesma conta tinha sido bloqueada. Sabia igualmente que causava um prejuízo
M, que se viu privada daquelas quantias, que contava logo receber. Com efeito,
ambos os cheques foram apresentados a pagamento, mas foram devolvidos em 7 de
Outubro de 1998, com a indicação, aposta no verso de cada um deles pelo Banco
sacado, de que a conta se encontrava bloqueada. A, que actuou na execução de uma
única resolução criminosa, fêlo consciente e voluntariamente, sabendo que isso era
contra a lei. Não tem antecedentes criminais. É casada, doméstica, de 46 anos de
idade; o marido ganha 104 contos e pagam renda de casa. Tem dois filhos e alegou
dificuldades económicas que motivaram a sua actuação. A.confessou os apontados
factos, integralmente e sem reservas.
Qual a pena a aplicar ?
1. Indicação do crime cometido e da respectiva moldura penal abstracta.
Mostramse preenchidos todos os elementos constitutivos do tipo de crime
de emissão de cheque sem provisão no enquadramento do ilícito do artigo 11º,
nº 1, a ), do DecretoLei nº 454/91. Os cheques foram emitidos para pagar o
preço de mercadorias fornecidas no acto da sua entrega ao beneficiário e o seu
não pagamento, devido à conta estar bloqueada, gerou um prejuízo
patrimonial, correspondente, pelo menos, ao somatório dos valores titulados. À
resolução criminosa única corresponde um único crime a cargo de A. Na
M. Miguez Garcia. 2001
1043
moldura penal abstracta a pena cominada é a de prisão até 3 anos ou multa (até
360 dias).
2. Linhas gerais da problemática que envolve a determinação concreta das
penas. Espécie da pena a aplicar: prisão ou multa? Medida judicial da
pena (pena concreta).
Retomase o modelo preventivo limitado pela culpa, no fundo, a ideia de
que a medida da pena háde ser dada pela medida da necessidade da tutela dos
bens jurídicos face ao caso concreto. Elegese assim, como comando da medida
da pena, a ideia de prevenção geral positiva ou de integração, com a qual hão
de então interrelacionarse objectivos de prevenção especial de ressocialização
e considerações de culpa. Esta, desde logo enquanto "limite inultrapassável de
todas e quaisquer considerações preventivas", aqueles enquanto caminho para a
concretização da própria teleologia do citado artigo 40º, quando aponta também
para a "reintegração do agente na sociedade".
A agiu com dolo cujo grau não excede a média, mas com plena consciência
da ilicitude da sua conduta. Os cheques são dois, um de 82590$00, o outro de
66454$00 e foram dados em pagamento de artigos fornecidos. Os dados
pessoais da A são de molde a favorecêla, nomeadamente, não tem antecedentes
criminais. Tudo ponderado, fazendo apelo aos critérios do artigo 71º do Código
Penal, e sendo certo que se ao crime forem aplicáveis, como é o caso, pena
privativa e pena não privativa da liberdade o tribunal deve dar preferência à
segunda sempre que esta realizar de forma adequada e suficiente as finalidades
da punição (artigo 70º), o que quer dizer que a pena de prisão é encarada como
ultima ratio, julgase adequada a pena de cento e vinte dias de multa à taxa
diária de quinhentos escudos.
Nos procedimentos para a determinação concreta da pena segundo o
sistema dos dias de multa, o primeiro acto do juiz visa fixar, dentro dos limites
legais, o número de dias de multa, em função dos critérios gerais de
determinação concreta (medida) da pena. Significa isto que a fixação concreta
do número de dias de multa ocorre em função da culpa do agente e das
exigências de prevenção, nos termos do artigo 71º, nº 1, do Código Penal,
concretizados no nº 2 do mesmo preceito. O segundo acto do juiz na
determinação da pena segundo o sistema dos dias de multa visa fixar, dentro
dos limites legais, o quantitativo de cada dia de multa em função da situação
M. Miguez Garcia. 2001
1044
económica do condenado e dos seus encargos pessoais. No caso, considerando
que o arguido aufere por mês cerca de 60 contos, com os quais tem de fazer face
às despesas do seu agregado familiar composto por quatro pessoas, o que dá
um rendimento per capita de cerca de 500$ diários e os actuais níveis do custo
de vida, não se afigura benevolente a quantia de 600$ fixada para cada dia de
multa. Acórdão da Relação de Lisboa de 2 de Dezembro de 1999, BMJ492481.
III. Como é que se legitima a aplicação duma pena? Finalidades da punição.
Para as teorias absolutas, a pena será legítima se for a retribuição duma
lesão praticada de modo censurável. Escrevia Maurach (apud Beleza dos Santos,
p. 7) que “a pena, pela sua própria natureza, apenas pode ser retribuição
(Vergeltung) e nada mais. Não importa se esta retribuição é eficaz como
prevenção. Pelo contrário, o fim de prevenção implica uma utilização ilegítima do
delinquente no interesse dos outros.” Mas só se legitima a pena se esta for justa.
A pena necessária será a que produza um mal ao autor do crime, compensando o
mal que livremente causou. Não se recorre, portanto, à ideia de utilidade da
pena: só será legítima a pena justa, mesmo que não seja útil. Para as teorias
relativas, o critério de legitimação assenta na utilidade da pena. As teorias
relativas procuram legitimar a pena pela obtenção de um determinado fim.
• “Abandonada, quase por toda a parte, uma justificação factualretributiva ou objectivo
expiatória da pena, a doutrina surgianos, até há não muito tempo, claramente
bipolarizada. De um lado, deparavase com o pensamento — subsidiário da escola
neoclássica e largamente dominante, por exemplo, na doutrina alemãocidental —
que reconduzia a justificação da pena à fórmula “prevenção especial através de justa
retribuição”, enquanto a prevenção especial constituiria uma exigência de segunda
ordem e teria o seu campo de eleição no domínio das medidas de segurança. Do
outro lado encontravase a ideia — tão cara aos corifeus da défense sociale, em
qualquer das suas manifestações — de que a finalidade de ressocialização do
delinquente, ligada ao pensamento da prevenção especial, constitui o primeiro e
decisivo fundamento da pena, sem prejuízo de esta dever continuar a distinguirse da
medida de segurança por outras vias, nomeadamente através da coactuação do fim
retributivo em relação àquela e não a esta. Mas a situação evoluiu sensivelmente nos
últimos anos, tornandose extremamente complexa”. (…) É hoje geralmente
M. Miguez Garcia. 2001
1045
reconhecido, na verdade, que a pena só pode ter por fundamento não a retribuição do
mal do crime ou a sua expiação pelo agente, mas considerações de pura prevenção.
(…) Assinalar à pena uma qualquer função retributiva significaria desligála por
completo da função do direito penal como ordem de protecção de bens jurídicos.
Pode ainda, netes contexto, continuar a defenderse a exigência de culpa como
conditio sine qua non da aplicação da pena e limite inultrapassável da sua medida:
aquela será então pressuposto da pena, radicando a sua indispensabilidade em razões
de limitação do poder punitivo do Estado, ligadas à necessidade de garantia dos
direitos e liberdades do cidadão e impostas pela vertente liberal e democrática do
Estado de Direito. A função da culpa não mais residirá todavia em fundamentar a
aplicação da pena, mas unicamente em evitar — até por razões ligadas à desejável
eficácia da prevenção — que uma tal aplicação possa ter lugar onde não exista culpa
ou numa medida superior à suposta por esta. Aceite este ponto de vista fica sópara
discutir se a primazia na fundamentação da pena deve ser conferida à ideia da
prevenção geral ou antes à da prevenção especial”. Jorge de Figueiredo Dias, RPCC
1991, p. 26.
• Restabelecimento, através da punição, da paz jurídica comunitária. A ideia da prevenção
geral positiva ou de integração é hoje entendida como finalidade básica da aplicação
da pena. A pena é sempre reacção à infracção de uma norma. Com a reacção, tornase
óbvio que a norma é para ser observada —e a reacção demonstrativa tem sempre
lugar à custa do responsável pela infracção da norma. A finalidade da pena coincide
com a reafirmação das normas e do ordenamento (prevenção geral positiva), o que se
inscreve no exercício da confiança, da fidelidade ao direito e da aceitação das
consequências jurídicas do delito.
• A aplicação de penas e de medidas de segurança é comandada exclusivaemnte por
finalidades de prevenção, nomeadamente de prevenção geral positiva ou de
integração e de prevenção especial positiva ou de socialização, como de resto
expressamente dispõe o artigo 40º do Código Penal. A culpa, segundo a função que
lhe é políticocriminalmente determinada, constitui condição necessária de
M. Miguez Garcia. 2001
1046
aplicação da pena e limite inultrapassável da sua medida. Dentro do limite
máximo permitido pela culpa, a pena deve ser determinada no interior de uma
“moldura de prevenção geral positiva”, cujo limite superior é oferecido pelo ponto
óptimo de tutela dos bens jurídicos e cujo limite inferior é constituído pelas
exigências mínimas de defesa do ordenamento jurídico; dentro desta moldura de
prevenção geral positiva a medida da pena será encontrada em função de
exigências de prevenção especial, maxime, de socialização. (Figueiredo Dias).
1. Na escolha da pena (e na decisão de punir) temse em vista as finalidades
da punição. Está excluída a retribuição.
As finalidades da punição estão apontadas no artigo 40º do Código Penal:
protecção de bens jurídicos e reintegração do agente na sociedade. A protecção
de bens jurídicos implica tanto prevenção geral como prevenção especial, esta
para dissuadir o próprio delinquente potencial. A reintegração do agente requer
que se adoptem critérios próprios da prevenção especial no momento da
escolha da pena e posteriormente, na sua execução. Temse como adquirido que
a retribuição não é exigida necessariamente pela protecção de bens jurídicos. “A
pena como censura da vontade ou da decisão contrária ao direito pode ser
desnecessária, segundo critérios preventivos especiais, ou ineficaz para a
realização da prevenção geral” (Prof. Fernanda Palma).
• Ao contrário da nossa tradição penal, a pena assumese agora, decididamente, utilitarista e
antikantiana: visa (apenas) a protecção dos bens jurídicos e a reintegração do agente
(Américo Marcelino, Código Penal revisto, Expresso, 3.6.95). Com efeito, escreveu
Kant (apud Beleza dos Santos): “A pena judiciária (“poena forensis”) nunca pode
empregarse apenas como um meio para o bem do delinquente ou da sociedade. Ela
deve ser aplicada apenas porque o condenado cometeu um crime. É que o homem
nunca pode ser utilizado como simples meio para servir fins alheios”.
Hoje em dia temse como certo que só finalidades relativas de prevenção,
geral e especial — e não finalidades absolutas de retribuição e expiação —,
podem justificar a intervenção do sistema penal e conferir fundamento e
sentido às suas reacções específicas “A prevenção geral assume, com isto, o
M. Miguez Garcia. 2001
1047
primeiro lugar como finalidade da pena. Prevenção geral, porém, não como
prevenção geral negativa, de intimidação do delinquente e de outros potenciais
criminosos, mas como prevenção positiva ou de integração, isto é, de reforço da
consciência jurídica comunitária e do seu sentimento de segurança face à
violação da norma ocorrida; em suma, na expressão de Jakobs, como
estabilização contrafáctica das expectativas comunitárias na validade e vigência
da norma infringida” (Prof. Figueiredo Dias, Direito penal português, II, p. 72;
RPCC I 1991, p. 22 e ss.).
De qualquer forma, em caso algum pode haver pena sem culpa — a
medida da pena, aliás, não pode ultrapassar a medida da culpa. Os artigos 40º,
nº 2, e 70º (a contrario) apontam para a função (meramente restritiva) da culpa.
A culpa como censura da pessoa (da sua vontade ou da sua orientação de
conduta) não justifica a pena nem a sua medida judicial, mas apenas impede
que razões preventivas justifiquem uma pena não proporcionada (superior) à
da culpa do agente (Prof. F. Palma, As alterações reformadoras).
IV. Sentido unilateral de relacionamento da culpa com a pena. A pena supõe
culpa e também é limitada no seu quantum por ela; mas não se aceita já que
um comportamento culposo exija sempre uma pena. Pelo contrário,
considerase que o comportamento culposo só deverá punirse quando razões
preventivas tornem indispensável o castigo.
• “A distinção entre ilicitude e culpa é o legado mais importante da ciência alemã do Direito
Penal na primeira metade do nosso século. Actua ilicitamente quem, sem estar
autorizado, realiza um tipo jurídicopenal e, desse modo, uma acção socialmente
danosa. Mas esse comportamento só é culposo quando for possível censurálo ao seu
autor por ter podido actuar de maneira diferente, isto é, de acordo o com o direito. É
igualmente doutrina absolutamente dominante na ciência alemã do Direito Penal — e
considerase isso como uma quase evidência — que, a par da distinção entre ilicitude
e culpa, se devem também distinguir as causas de justificação das causas de exclusão
da culpa.
M. Miguez Garcia. 2001
1048
• O Código Penal alemão de 1871 não continha esta distinção entre ilicitude e culpa; noutros
países há muitos ordenamentos jurídicos que ainda não a conhecem. Contudo, a nova
parte geral do Código penal da República Federal Alemã, entrado em vigor em 1 de
Janeiro de 1975, acolhe agora esta terminologia científica distinguindo claramente nos
§§ 34 e 35 entre estado de necessidade justificante e desculpante. Também se diz no §
32 que "não é ilícito" o facto realizado em legítima defesa; por outro lado, qualificase
expressamente no § 20 o delito realizado por alguém afectado de doença mental
como cometido "sem culpa". Pouco a pouco foise impondo na legislação alemã o
conceito de culpabilidade. Também o preceito relativo à determinação da pena (§ 46)
faz do grau de culpa o factor decisivo na determinação do quanto da pena.
• Mas ao mesmo tendo que se dava esta vitória do conceito de culpa iase modificando
também de um modo decisivo na ciência alemã do último decénio o conteúdo do que
se entendia por "culpa". Ponto de partida desta transformação foi a mudança operada
nas teorias da pena. Já entrados os anos sessenta dominava ainda na Alemanha a
teoria da retribuição, segundo a qual a pena supõe, por um lado, a culpa, mas, por
outro lado, esta, por sua vez, também deverá ser compensada (retribuída) pela pena.
Assim, por ex., diz o meu colega de Munique Arthur Kaufmann na sua fundamental
monografia "Das Schuldprinzip" (1961, 2ª ed., 1976): "o carácter absoluto da pena
deriva unicamente desta concepção bilateral do princípio da culpa, isto é: a pena tem
que corresponder à culpa mas esta também torna necessária a pena. Não pode
proclamar o princípio da culpa como absoluto quem negar que, em princípio, à culpa
se deve seguir a pena. Quem afirmar o princípio da culpa deve, consequentemente,
afirmar também a necessidade da pena pela culpa, isto é, não pode, com fundamento
em qualquer tipo de considerações utilitárias, negar a necessidade da pena, não
obstante a existência da culpa" (p. 202). Kaufmann chega até a reclamar uma vigência
absoluta, fundada no Direito natural, para a tese segundo a qual "a pena tem que
corresponder à culpa, mas também a culpa exige em princípio pena" (p. 208).
• Esta concepção "bilateral" do princípio da culpa, que corresponde à tradição dominante na
Alemanha desde Kant e Hegel, foi abandonada nos últimos anos tanto pela doutrina
M. Miguez Garcia. 2001
1049
como pela jurisprudência. Existe agora unanimidade: o princípio da culpa não é
bilateral, mas sim unilateral. Quer dizer: a doutrina dominante na Alemanha afirma
que a pena supõe culpa e que também é limitada no seu quantum por ela; mas não
aceita já que um comportamento culposo exija sempre uma pena. Pelo contrário,
considera que o comportamento culposo só deve ser castigado quando as razões
preventivas — ou seja, a missão do Estado ao garantir a convivência em paz e
liberdade — tornam indispensável o castigo. Também Arthur Kauffman diz agora
("Das Schuldprinzip», 2ª ed., 1976, p. 276) "que a pena não só se justifica pela culpa",
mas também deve ser exigida "pela protecção de bens jurídicos necessária à
comunidade".
• Pareceme indiscutível a exactidão da mais moderna concepção "unilateral" do princípio da
culpa. Talvez possa afirmarse que razões religiosas ou filosóficas exigem uma
compensação da culpa; esta é uma questão que tem o seu lugar nas disciplinas que se
ocupam destes problemas. Mas o que é certo é que esta anulação da culpa não tem
que se produzir através da pena pública, pois esta não é uma instituição divina ou
uma ideia filosófica. Numa democracia pluralista não é missão do Estado decidir de
forma vinculante sobre questões religiosas ou filosóficas. A pena estatal é
exclusivamente uma instituição humana criada com o fim de proteger a sociedade;
não pode, por conseguinte, ser imposta se não for necessária com base em razões
preventivas.
• Na política criminal esta ideia impôsse de forma ampla. Constitui, desde o Projecto
Alternativo (1966), uma exigência fundamental do movimento de reforma a ideia que
uma conduta só pode ser castigada, não já — como se escrevia no Projecto oficial de
1962 — pela sua imoralidade culposa, mas só quando isso for necessário para a
"protecção de bens jurídicos", isto é, quando represente uma lesão insuportável da
ordem social pacífica. Após muitos anos de discussão, a legislação alemã aderiu a
esta concepção e, ao contrário do que sucedia no direito anteriormente vigente, e do
que se propunha no Projecto de 1962, foram despenalizados comportamentos como a
homossexualidade, a bestialidade, a sodomia, a venda de objectos pornográficos, etc.,
M. Miguez Garcia. 2001
1050
na medida em que esses comportamentos não lesam a comunidade na sua liberdade
nem a prejudicam. Essas acções são certamente consideradas ainda por grandes
sectores da população alemã como imorais e culposas; mas na medida em que sejam
realizadas voluntariamente e em privado não prejudicam a paz social e devem
permanecer impunes.
• Mas os problemas da culpa e da protecção da sociedade desempenham também um papel
importante na dogmática da teoria geral do crime e no direito da determinação da
pena. Por isso, a passagem de uma concepção bilateral a uma concepção unilateral do
princípio da culpa deve também incidir nestes sectores". Claus Roxin, Concepción
bilateral y unilateral del princípio de culpabilidad, in Culpabilidad y prevencción en
derecho penal. Cf., ainda, Sentido e limites da pena estatal, em Problemas fundamentais do
Direito Penal, 1986, p. 15 e ss.). E Faria Costa, O perigo, p. 373 e s.
V. O sistema de determinação da pena
Tratamos agora, em linhas muito gerais, do procedimento através do qual
o aplicador do direito fixa a espécie e a medida da pena no caso concreto. Deverá
o juiz, olhando ao quadro legal, determinar: Primeiro, a moldura penal
abstracta cabida aos factos dados como provados no processo. Em seguida,
encontrar, dentro desta moldura penal, o quantum concreto de pena em que o
arguido deve ser condenado. Ao lado destas operações — ou em seguida a elas
—, escolher a espécie ou o tipo de pena a aplicar concretamente, sempre que o
legislador tenha posto mais do que uma à disposição do juiz. (Cf.,
especialmente, Prof. Figueiredo Dias, Direito penal português, II, p. 185 e ss.)
1. A pena aplicável.
Tanto no caso nº 45 como no caso nº 45A, o ponto de partida é o tipo legal
de crime cometido. A, B e C praticaram em coautoria o crime do artigo 262º, nº
1, cuja moldura penal aponta prisão de 2 a 12 anos. Esta moldura penal entra
imediatamente em aplicação.
Todavia, o acórdão identificou a possibilidade de aplicar a qualquer um
dos arguidos, atenta a sua idade, uma circunstância atenuante, susceptível de
M. Miguez Garcia. 2001
1051
alterar a medida penal indicada de 2 a 12 anos de prisão, baixandoa, nos seus
limites máximo e mínimo. Com efeito, para o crime em causa, a menoridade de
imputáveis, por aplicação dos artigos 4º do DecretoLei nº 401/82, de 23 de
Setembro, e 73º, do Código Penal, pode (não é de aplicação automática)
conduzir à moldura penal em que o limite máximo de prisão é reduzido de um
terço (12 anos — 1/3 = 8 anos) e o limite mínimo é reduzido ao mínimo legal (2
anos passa para 30 dias de prisão: artigo 73º, nº 1, b), in fine, e 41º, nº 1). A
moldura penal aplicável seria então a de 30 dias de prisão a 8 anos de prisão.
O caso de sinal inverso poderia ser, por ex., o de tratar como reincidente
qualquer dos arguido A, B ou C. Supondo que o tribunal declarava A
reincidente, para o que teria de atender aos pressupostos do artigo 75º, e
sabendose que, em caso de reincidência, o limite mínimo da pena aplicável ao
crime é elevado de um terço (ainda que a agravação não possa exceder a
medida da pena mais grave aplicada nas condenações anteriores) e o limite
máximo permanece inalterado, teríamos a moldura penal abstracta, aplicável ao
reincidente de (2 anos + 1/3 = 2 anos e 8 meses) 2 anos e 8 meses de prisão a 12
anos de prisão.
Como, porém, no caso nº 45, nem o Tribunal aplicou a reincidência nem
encontrou motivos para conceder a atenuação especial da pena a qualquer dos
arguidos, a moldura penal aplicável é afinal aquela de 2 anos de prisão a 12
anos de prisão.
2. A pena aplicada
O juiz passa agora à tarefa de encontrar a pena concretamente cabida ao
caso, o quantum da pena que vai constar da condenação. O juiz valese do
critério legal do artigo 71º, nºs 1 e 2, do Código Penal, onde se explicita que a
medida da pena se determina em função da culpa do agente e das exigências de
prevenção, atendendose, no caso concreto, a todas as circunstâncias que, não
fazendo parte do tipo de crime, deponham a seu favor ou contra ele.
A determinação da medida da pena será feita pelo juiz em função da culpa
e da prevenção. São estas categorias que determinarão se, por ex., dentro da
moldura penal aplicável de 2 a 12 anos de prisão, cada um dos arguidos A, B e
C deverá ser condenado a 2, a 3, a 4 anos e 6 meses, a 8 anos e 5 meses, ou a 12
anos de prisão.
M. Miguez Garcia. 2001
1052
Mas “como se entendem ou conceitualizam a culpa e a prevenção para
efeitos de medida da pena? Como se relacionam uma e outra entre si? E, dentro
do campo da prevenção, como se relaciona a prevenção individual ou especial,
por um lado, com a prevenção geral, por outro? Eis as questões fulcrais sobre as
quais não é possível emitir respostas unívocas; sendo certo que tais questões
não assumem apenas — longe disso — o mais decidido interesse teórico e
doutrinal, mas antes das respostas que se lhes der depende, em último termo, a
medida da pena que concretamente irá ser aplicada ao agente”. Cf.
especialmente Prof. Figueiredo Dias, p. 214 e ss., Dr. Robalo Cordeiro, Escolha e
medida da pena, 1983, p. 269 e ss., Profª Fernanda Palma, As alterações
reformadoras, p. 25 e ss.
De acordo com o artigo 71º, nº 2, não devem ser tomadas em consideração,
na medida da pena, as circunstâncias que façam já parte do tipo de crime
(proibição de dupla valoração), na medida em que já terão sido levadas em conta
pelo legislador na determinação da moldura legal. Circunstâncias que não
fazem parte do tipo de crime são, desde logo, as que o legislador não
considerou ao tipificar a infracção. Hãode, naturalmente, estar de algum modo
relacionadas com ela, directamente ou através do seu agente. Lembra o Dr.
Robalo Cordeiro a indicação do autor do projecto de que a infidelidade ou os
maus tratos do ladrão para com a sua mulher, se bem que integrando a sua
conduta anterior ao facto são em princípio irrelevantes para a medida da
punição do furto. Mas não está proibido “que a medida da pena seja elevada ou
baixada em função da intensidade ou dos efeitos do preenchimento de um
elemento típico e, portanto, da concretização deste, segundo as especiais
circunstâncias do caso”.
Quanto aos factores concretos de medida da pena, são eles os relativos à
execução do facto, os relativos à personalidade do agente e os relativos à
conduta do agente anterior e posterior ao facto. Fora ficam, entre muitos outros,
factores relativos à vítima (personalidade, concorrência de culpa, consentimento
não relevante, etc.) — e que podem relevar tanto pela via da culpa como da
prevenção — bem como factores especificamente relacionados com a
necessidade da pena (v. g., ter decorrido, em certas condições, já bastante tempo
sobre a prática do facto).
M. Miguez Garcia. 2001
1053
3. A escolha da pena
Se no tipo legal a pena for cominada em alternativa, como é o caso do
furto ou do crime de emissão de cheque sem provisão (veja o caso nº 45A: pena
de prisão até 3 anos ou pena de multa), o juiz fica vinculado ao critério do artigo
70º, que manda dar preferência à pena não privativa da liberdade sempre que
esta realizar de forma adequada e suficiente as finalidades da prevenção.
Também pode acontecer que, sendo o crime punido unicamente com pena
de prisão, o juiz se decida, por exemplo, pela pena de 6 meses de prisão, a que
chegou pela consideração dos factores do artigo 71º, nºs 1 e 2. Neste caso,
manda a lei (artigo 44º) substituíla por pena de multa ou por outra pena não
privativa da liberdade aplicável, excepto se a execução da prisão for exigida
pele necessidade de prevenir o cometimento de futuros crimes. Havendo lugar
à substituição, o juiz, depois de justificar a medida da pena, dirá na sentença:
• Como autor material de um crime de homicídio a pedido da vítima do artigo 134º, nº 1, do
Código Penal, condenase A na pena de 6 meses de prisão que todavia se substitui
por idêntico tempo de multa à taxa diária de 5000 escudos.
A pena pode aliás ser substituída por admoestação (artigo 60º), se for de
multa, ou por prestação de trabalho a favor da comunidade (artigos 58º e 59º),
se for de prisão. Tenhase ainda em atenção o que se dispõe sobre a suspensão
da execução da pena de prisão, o regime de cumprimento por dias livres e o
regime de semidetenção.
O critério geral é o de que a pena escolhida háde realizar de forma
adequada e suficiente as finalidades da punição — exigências de prevenção
geral positiva e de prevenção especial. “São puras razões ou exigências de
prevenção que dominam a operação de escolha da pena, portanto a aplicação
das penas de substituição; a culpa esgotou as suas virtualidades na
determinação da pena principal” (Dr. Robalo Cordeiro). Cf. o que se diz nos
artigos 40º, nº 1, 70º e nos diversos artigos que permitem a aplicação das penas
de substituição: 44º, nº 1, 45º, nº 1, 48º, nº 1, 50º, nº 1, 58º, nº 1, 59º, nº 6, 60º, nº 2.
• "Considerações de culpa não devem ser levadas em conta no momento de escolha da pena.
Na verdade, o juízo de culpa já foi feito: antes de se colocar a questão da escolha da
pena importou já decidir, é sabido, sobre a aplicação da pena de prisão e sobre a sua
M. Miguez Garcia. 2001
1054
medida concreta, para o que foi decisivo um juízo (concreto) sobre a culpa do agente.
Ora, esse juízo não importa agora referílo, sendo completamente irrelevante para
decidir da escolha da pena" (Anabela Rodrigues).
O tribunal pode não aplicar a pena quando o crime for punível com pena
de prisão não superior a 6 meses ou só com pena de multa não superior a 120
dias (artigo 74º, nº 1). A dispensa de pena só terá porém lugar se se mostrarem
preenchidos os requisitos do artigo 74º, nº 1. Da dispensa de pena ocupamse os
artigos 35º, nº 2, 186º, 286º, 294º, 364º, 372º, nº 3, 373º, nº 2, 374º, nº 3.
No caso nº 45, o tribunal, que fixou a pena de cada um dos arguidos A, B e
C em 3 anos de prisão, declaroua suspensa na sua execução (artigo 50º), ainda
que sem subordinação ao cumprimento de certos deveres ou sem a fazer
acompanhar da observância de certas regras de conduta. A pena de 120 dias de
multa foi aplicada ao arguido D, mas logo se preveniu a aplicação das regras do
desconto, no artigo 80º do Código Penal. Anotese que não há permissão para
suspender a pena quando esta for de multa (artigo 50º, nº 1). Vejase, porém, o
que se dispõe no artigo 49º, nº 3: se o condenado provar que a razão do não
pagamento da multa lhe não é imputável, pode a execução da prisão
subsidiária ser suspensa nos termos ali referidos.
• "Louvandonos no ensino de Figueiredo Dias [Direito Penal 2, 1988, p. 413] , podemos
dizer que na dispensa de pena o que existe "verdadeiramente é uma pena de declaração
de culpa ou, se se preferir, uma espécie de admoestação em que esta resulta sem mais da
declaração de culpa", se bem que depois se afirme que é "preferível a colocação e o
estudo sistemáticos do instituto entre os casos especiais de determinação da pena.
Ora, se em verdadeiro rigor há uma pena, então a toda a culpa corresponde uma
pena e o art. 75 do CP expressa verdadeiramente o princípio da bilateralidade da
culpa. O que só vem demonstrar a enorme fluidez dogmática — em nossa opinião
não indesejável, desde que correctamente entendida — que envolve a problemática
da dispensa de pena". Faria Costa, O perigo, p. 380.
M. Miguez Garcia. 2001
1055
VI. A jurisprudência, os acidentes de viação e outros crimes involuntários
• No domínio do artigo 59º do anterior Código da Estrada e da versão de 1982 do Código
Penal, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça foi, predominantemente, no
sentido de impor pena de prisão efectiva no caso de crime de homicídio involuntário
com culpa grave e exclusiva. Consideravase desaconselhável tanto a suspensão da
pena como a sua substituição por multa: entre os mais significativos, podem
consultarse os acórdãos de 2 de Março de 1983, BMJ325365; de 24 de Março de
1983, BMJ325413; de 8 de Maio de 1985, BMJ347214; de 9 de Julho de 1986, BMJ
359358; de 9 de Julho de 1986, BMJ359367; de 12 de Junho de 1987, BMJ368322 e
de 23 de Março de 1988, BMJ375223. Todavia, parece terse notado uma inflexão já
nos anos seguintes, como se põe em evidência na anotação do Boletim (nº 395, p. 292)
ao acórdão de 21 de Março de 1990, ali publicado, "na esteira, aliás, dos acórdãos de
12 de Julho de 1989 (Processo nº 40.144) e de 6 de Dezembro de 1989 (Processo nº
40.523) (...) já que em todos eles se optou pela substituição da pena de prisão". Passou
assim a acentuarse que o recurso às penas privativas da liberdade só será legítimo
quando, face às circunstâncias do caso, se não mostrarem adequadas as reacções
penais não detentivas. Ver agora o acórdão do STJ de 5 de Fevereiro de 1997, BMJ
464176, que apela às finalidades de prevenção geral para negar a suspensão da pena
em casos de culpa grave e exclusiva do delinquente. Vejase, a este propósito,
Anabela Miranda Rodrigues, A determinação da medida concreta da pena privativa de
liberdade e a escolha da pena — Acórdão do STJ de 21 de Março de 1990 (BMJ395286),
anotação, RPCC, ano I (1991), p. 243; e o apontamento de Fernanda Palma, As
alterações reformadoras, p. 42. Já do ano de 2000, pode lerse um detalhado estudo do
Juiz Mário Mendes Serrano sobre a jurisprudência dos tribunais superiores quanto à
medida das penas aplicadas nos homicídios negligentes estradais, publicado in sub
judice / ideias 17 (2000).
• Cf. o acórdão do STJ de 8 de Julho de 1998, CJ 1998, ano VI, tomo II, p. 237. O Supremo
considerou que a conduta era subsumível à previsão do crime culposo de violação de
regras de construção (artigo 277º, nº 2) e subsumível, por duas vezes (eram duas as
M. Miguez Garcia. 2001
1056
vítimas), ao tipo do homicídio por negligência grosseira do artigo 137º, nº 2,
afirmando que é de há décadas jurisprudência firme, ditada manifestamente por
razões de prevenção geral, não se justificar a suspensão da execução da pena nos
homicídios resultantes de acidentes produzidos com culpa grave do agente.
• Cf. o acórdão da Relação de Lisboa de 16 de Junho de 1999, BMJ488402: condutor com
emprego certo que com culpa grave e exclusiva colhe mortalmente um peão na
passadeira. As exigências de ressocialização são muito escassas; as de prevenção
geral da sinistralidade rodoviária impõem fortissima censura — é adequado punir o
arguido com prisão por dias livres.
• Cf. ainda o acórdão da Relação de Coimbra de 7 de Fevereiro de 2001, CJ, ano XXVI 2001,
tomo I, p. 59: mesmo no âmbito do direito estradal, só em situações muito
excepcionais é de aplicar uma pena curta de prisão efectiva, devendo dissuadirse o
infractor através de outros meios, menos agressivos, mas altamente punitivos, como
sejam a aplicação da pena acessória de inibição de conduzir e das medidas de
cassação de licença ou de interdição da sua concessão.
VII. A atenuação especial prevista nos artigos 9º do Código Penal e 4º do
DecretoLei nº 401/82, de 23 de Setembro.
Pode surgir como pertinente a questão da juventude imputável do arguido
com idade entre os 16 e os 21 anos, para quem a atenuação especial está
expressamente prevista nos artigos 9º do Código Penal e 4º do DecretoLei nº
401/82, de 23 de Setembro. As medidas decretadas neste diploma não afastam a
aplicação — como ultima ratio — da pena de prisão aos imputáveis maiores de
16 anos, quando isso se torne necessário, para adequada e firme defesa da
sociedade e prevenção da criminalidade, e esse será o caso de a pena aplicada
ser a de prisão superior a dois anos: nº 7 do preâmbulo. Mas se for aplicável
pena de prisão, deve o juiz atenuar especialmente a pena quando tiver sérias
razões para crer que da atenuação resultem vantagens para a reinserção social
do jovem condenado (artigo 4º). Sem que isso, naturalmente, aponte para a
aplicação automática da atenuação especial e das demais medidas consagradas
como especiais para os jovens (cf., como expressão de uma jurisprudência
M. Miguez Garcia. 2001
1057
uniforme, o acórdão do STJ de 3 de Março de 1999, no processo nº 198/99). São
medidas que têm como limite a firme defesa da sociedade e a prevenção da
criminalidade. Por conseguinte, poderemos também concluir que a medida
concreta da pena não deve baixar para além do que for indispensável para que
se não ponha irremediavelmente em causa a afirmação da validade do direito
(defesa da ordem jurídica). A medida mínima da chamada moldura de prevenção
"em nada pode ser influenciada por considerações seja de culpa seja de
prevenção especial" (Jorge de Figueiredo Dias, Direito penal português. As
consequências jurídicas do crime, p. 242 e ss.).
Reivindicando um bom sentido para o artigo 4º do diploma especial para
jovens, já vimos defender, mesmo em processo de tráfico de drogas, (47) que "a
interpretação que melhor corresponde ao espírito do legislador do DecretoLei
nº 401/82 vai no sentido de, reconhecendo embora o carácter não automático da
aplicação do regime especial para jovens, admitir que só um juízo de prognose
negativo poderá afastar a aplicação da atenuação especial, pois só então as
exigências preventivas podem fazer valer os seus direitos sobre as
preocupações ressocializadoras do legislador".
Não será assim difícil chamar ao compromisso, rompendo com certa
rigidez anterior, de se entender a atenuação especial como um regime penal
normal para os jovens de idade compreendida entre os 16 e os 21 anos — e não
revestida de carácter excepcional, como a atenuação especial prevista no artigo
72º do Código Penal. É nesta perspectiva que se move, por ex., o acórdão do STJ
de 29 de Março de 2001, acentuando por um lado a flexibilidade do julgador (48),
que é mesmo preconizada e incentivada no preâmbulo do DecretoLei nº
401/82, e por outro a inconveniência dos efeitos estigmatizantes das penas. Cf.
ainda o acórdão da Relação de Lisboa de 7 de Fevereiro de 2001, CJ, ano XXVI
2001, tomo I, p. 150.
47
) É a posição do ProcuradorGeral Adjunto, transcrita no acórdão do STJ de 29 de
Março de 2001, processo 261/01.
) A flexibilidade do julgador é expressamente chamada à colação no caso, tratado pelo
48
acórdão do STJ de 7 de Outubro de 1999, BMJ49048, do homem de 86 anos, delinquente
ocasional, que se envolveu em discussão com a mulher com quem estava casado há mais de 40
anos por suspeitar que ela lhe seria infiel e que o andaria a envenenar — e que a matou a tiro.
O Supremo atenuou especialmente a pena da 1ª instância de 8 anos de prisão pelo crime de
homicídio do artigo 131º e fixoua em 4 anos de prisão.
M. Miguez Garcia. 2001
1058
VIII. Outras indicações
A taxa de conversão em euros prevista no artigo 1º do Regulamento CE nº
2866/98, do Conselho, a todas as referências feitas anteriormente em escudos, é aplicada
automaticamente, como decorre do artigo 1º, nº 2, do DecretoLei nº 323/2001, de 17 de
Dezembro. Veja, porém, a nova redacção do artigo 47º, nº 2: cada dia de multa
corresponde a uma quantia entre € 1 e € 498,80, que o tribunal fixa em função
da situação económica e financeira do condenado e dos seus encargos pessoais.
IX. Indicações de leitura
O n° 1 do artigo 6º do DecretoLei n° 48/95, de 15 de Março, estabelece que "enquanto
vigorarem normas que prevejam pena cumulativas de prisão e multa, sempre que a pena
de prisão for substituída por multa será aplicada uma só pena equivalente à soma da
multa directamente imposta e da que resultar da substituição da prisão”.
Despacho Normativo nº 12/2002, de 7 de Março: estabelece as acções de formação em casos de
suspensão de execução da sanção de inibição de conduzir.
Sentença de 1998, 11.15, caso Silva Rocha vs. Portugal, Tribunal Europeu dos Direitos do
Homem, Sub judice / causas — 18 (2000), p. 37.
Acórdão do Tribunal Constitucional nº 42/2002, de 31 de Janeiro de 2002, DR II, de 18 de Julho
de 2002: às medidas de segurança deverão ser aplicados os perdões concedidos por
sucessivas leis de amnistia?
Acórdão para fixação de jurisprudência nº 5/99, de 17 de Junho de 1999, publicado no DR I série
A de 20 de Julho de 1999: o agente do crime de condução em estado de embriaguez,
previsto e punido pelo artigo 292º do Código Penal, deve ser sancionado, a título de
pena acessória, com a proibição de conduzir prevista no artigo 69º, nº 1, alínea a), do
Código Penal. [Vejase agora a nova redacção do artigo 69º].
M. Miguez Garcia. 2001
1059
Acórdão da Relação de Coimbra de 23 de Janeiro de 2002, CJ 2002, tomo I, p. 43: pena acessória
de proibição de conduzir, âmbito de aplicação após a entrada em vigor da Lei nº
77/2001, de 13 de Julho.
Acórdão da Relação de Coimbra de 6 de Novembro de 2002, CJ 2002, tomo V, p. 41: desconto
da prisão preventiva e da detenção. Tendo o arguido estado detido das 18 horas de um
dia às 12 horas do dia seguinte, e uma vez que face ao artigo 479º, nº 1, c), do CPP o dia é
equivalente a um período de 24 horas, mostrase correcto contabilizar tão só como um
dia daquele tempo de detenção.
Acórdão da Relação do Porto de 4 de Junho de 2003, CJ 2003, tomo III, p. 210: internamento em
estabelecimento psiquiátrico; desconto da medida de coacção da privação da liberdade.
Acórdão do STJ de 3 de Abril de 2003, CJ 2003, tomo II, p. 157: regime dos jovens delinquentes;
não sendo o regime especial para jovens delinquentes, consagrado pelo DL nº 401/82,
de 23 de Fevereiro, de aplicação automática, constitui todavia obrigação do tribunal
equacionar a possibilidade da sua aplicação ao caso concreto, apreciando a
personalidade do jovem, a sua conduta anterior e posterior ao crime, a natureza e o
modo de execução do crime e os seus motivos determinantes; mas não é de fazer uso da
atenuação especial prevista no artigo 4º daquele diploma quando for grande o grau de
ilicitude dos factos praticados pelo arguido e for grave a sua culpa.
Acórdão do STJ de 17 de Maio de 2000, BMJ497150: arguido, que empunhando um pau de 3,
45 metros desferiu uma pancada na cabeça da vítima, provocandolhe uma lesão grave
também no seu resultado (provocação de perigo concreto para a vida da vítima). O peso
específico das exigências de prevenção geral da integração de valores (com especial
significado no caso para a tranquilidade que se deseja no ambiente de estabelecimento
M. Miguez Garcia. 2001
1060
de educação) é o limite irrenunciável de defesa do ordenamento jurídico, prevalecendo
sobre a prevenção especial, dentro da medida da pena, e assim impedindo de decretar a
suspensão da execução da pena de prisão.
Acórdão do STJ de 12 de Julho de 2000, BMJ499199: a atenuação especial do artigo 4º do
DecretoLei nº 401/82, de 23 de Setembro, justificase quando, no juízo global sobre os
factos, se puder concluir que é vantajosa para o menor, sem constituir desvantagem para
a defesa do ordenamento jurídico.
Acórdão do STJ de 10 de Outubro de 2001, CJ, 2001, ano IX, tomo III, p. 189: apesar de ter
transitado em julgado o despacho que revogou a suspensão da execução de uma pena, é
admissível suspenderse a execução da pena única resultante da reformulação de
cúmulo jurídico em que aquela se integre.
Acórdão da Relação de Coimbra de 7 de Novembro de 2001, CJ, ano XXVI (2001), tomo V, p.
47: dispensa de pena; pressupostos do artigo 143º, nº 3.
Acórdão da Relação de Coimbra de 17 de Janeiro de 2001, CJ, ano XXVI (2001), tomo I, p. 50:
determinação da medida da pena acessória de inibição de conduzir: a sanção em causa
tem em vista tão só prevenir a perigosidade do agente, muito embora se lhe assinale um
efeito de prevenção geral. Impossibilidade de substituição.
Acórdão da Relação de Coimbra de 29 de Novembro de 2000, CJ ano XXV, tomo V, 2000, p. 50:
A pena acessória de inibição de conduzir não pode ser substituída por caução de boa
conduta, hipótese apenas prevista para o domínio contraordenacional do Código da
Estrada, ou suspensa na sua execução condicionada a pagamento da prestação de
caução se a pena principal é de multa.
M. Miguez Garcia. 2001
1061
Acórdão da Relação de Lisboa de 9 de Dezembro de 1999, BMJ492476: condução em estado de
embriaguez, suspensão da pena de prisão: arguido que já fora condenado por idêntico
crime de condução em estado de embriaguez, em pena de multa relativamente elevada,
considerando a sua situação económica, pena que se mostrou ineficaz para o afastar do
cometimento de novo crime. Cf., igualmente, o acórdão da mesma Relação de 2 de
Dezembro de 1999, BMJ492478.
Acórdão da Relação de Lisboa de 20 de Dezembro de 2001, CJ, ano XXVI (2001), tomo V, p. 149:
é admissível oficiosamente condicionar a suspensão da pena ao pagamento de uma
quantia compensatória ao ofendido.
Acórdão da Relação de Lisboa de 4 de Dezembro de 2002, CJ 2002, tomo V, p. 134: conversão
em multa do remanescente da pena de prisão não perdoada na sequência de lei de
clemência.
Acórdão do STJ de 1 de Março de 2000, BMJ49559: contém uma operação de cúmulo
sucessivo dos efeitos de diversas atenuantes especiais aplicáveis ao agente, num caso de
jovem imputável.
Acórdão do STJ de 1 de Março de 2000, CJ, ano VIII (2000), tomo I, p. 216: arguido que
beneficia de atenuante especial nos termos do artigo 4º do DecretoLei nº 401/82, por
haver razões sérias para crer que dessa atenuação resultarão vantagens para a reinserção
social do jovem condenado derivadas da consideração de uma moldura penal abstracta
permitindo pena concreta que, ajustada ao limite da culpa e às concretas exigências
razoáveis da prevenção geral positiva ou de integração, permitirá uma mais provável e
adequada reinserção social.
M. Miguez Garcia. 2001
1062
Acórdão do STJ de 12 de Abril de 2000, CJ ano VIII (2000), tomo 2, p. 172: medidas de
segurança; pressupostos da duração mínima do internamento — artigo 91º, nº 2, do
Código Penal; crime de homicídio voluntário qualificado, com uma anotação na RPCC
10 (2000). Considerouse incorrecta a decisão do tribunal a quo em integrar os factos na
previsão do artigo 132º do Código Penal, para o qual relevam somente questões
atinentes à culpa — o ilícito típico em questão para efeitos de aplicação da medida de
segurança era o do artigo 131º. Cf. também o acórdão do STJ de 30 de Maio de 2001, CJ
2001, tomo II, p. 215.
Acórdão do STJ de 29 de Setembro de 1999, BMJ489109: no crime de tráfico de estupefacientes
são acentuadamente relevantes as exigências de prevenção geral e especial, tendo em
conta as consequências extraordinariamente danosas do consumo de drogas, quer a
nível pessoal e familiar quer a nível social, não existindo discrepâncias relevante nas
diversas manifestações da comunidade, formais e informais, quanto à necessidade de
reprimir a difusão do tráfico de drogas, pelo que acarreta de perigos sanitários,
económicos e sociais.
Acórdão do STJ de 31 de Maio de 2000, CJ ano VIII (2000), tomo 2, p. 208: suspensão da pena;
obrigação de indemnizar mesmo que não tenha sido deduzido pedido cível. Tem voto de
vencido.
Acórdão do STJ, de 17 de Fevereiro de 2000, BMJ494236: regime de prova como sistema que
melhor pode garantir, num justo e eficaz equilíbrio, a sintonía entre as prevenções geral
e especial; esquema de liberdade controlada relativamente a condenado reincidente;
juízo de prognose como juízo de risco.
M. Miguez Garcia. 2001
1063
Acórdão do STJ, de 1 de Março de 2000, BMJ49587: arguido toxicodependente que, com
intenção de matar, atinge o próprio pai com um tijolo e com um banco na cabeça, em
situação de conflito familiar. Na fixação da pena, ponderamse as exigências de
prevenção geral da protecção da vida humana, merecedora ainda de respeito especial,
por ser a vítima o próprio progenitor, em tensão com a expectativa de protecção da
própria vida do arguido, concedendolhe uma oportunidade para se libertar da droga e
passar a uma vida digna. O acórdão valorou ainda (“sobremaneira”) o “crédito de
complacência” adiantado pelos pais ao arguido, reconhecendo que é de manter a carga
de confiança que o colectivo depositara na sua restituição a uma vida sem dependência de
drogas. Resultado: 3 anos de prisão, como autor de um crime de homicídio qualificado
na forma tentada (artigos 131º, 132º, nº s 1 e 2, a), 22º e 23º), cuja execução se suspendeu
por 5 anos acompanhada do regime de prova (artigos 53º e 54º).
Acórdão do STJ de 5 de Abril de 2001, CJ, ano IX (2001), tomo II, p. 178: atenuação especial;
arrependimento; crime de abuso sexual de menores. Não deve esquecerse que a solução
de consagrar legislativamente uma “cláusula geral de atenuação especial” como
“válvula de segurança”, dificilmente se pode ter como apropriada para um código como
o nosso, “moderno e impregnado pelo princípio da humanização e dotado de molduras
penais suficientemente amplas”. Ou seja, é uma solução antiquada. Daí o bem fundado
da nossa jurisprudência, quando pressupõe que “tal sistema só se torna político
criminalmente suportável se a atenuação especial, decorrente da cláusula geral
apontada, entrar em consideração apenas em casos relativamente extraordinários ou
mesmo excepcionais”.
M. Miguez Garcia. 2001
1064
Acórdão do STJ de 14 de Fevereiro de 2002, CJ 2002, tomo I, p. 213: apesar da aplicação da
atenuação especial constante do DL nº 401/82, de 23 de Novembro não ser obrigatória, o
tribunal, quando se trate de arguidos menores de 21 anos, tem sempre de considerar, na
sentença, a pertinência, ou inconveniência, da aplicação de tal regime, e justificar a sua
opção, ainda que o considere inaplicável.
Acórdão do STJ, de 17 de Maio de 2000, BMJ497150: agressão à paulada, às portas de
estabelecimento de educação, pondo em perigo a vida da vítima. Peso das exigências de
prevenção geral. Suspensão da execução da pena de prisão.
A. Castanheira Neves, Entre o "legislador", a "sociedade" e o "juiz" ou entre "sistema", "função"
e "problema" — os modelos actualmente alternativos da realização jurisdicional do
Direito, RLJ, 130º, nº 3883 e ss.
Adelino Robalo Cordeiro, A Determinação da Pena, in Jornadas de Direito Criminal — Revisão
do Código Penal. Alterações ao Sistema Sancionatório e Parte Especial. Vol. II, CEJ, 1998.
Adelino Robalo Cordeiro, Escolha e Medida da Pena, in Jornadas de Direito Criminal. O Novo
Código Penal Português e Legislação Complementar. Fase I. CEJ, 1983.
Adelino Robalo Cordeiro, Moldura penal abstracta, pena concreta, escolha da pena, Textos do
CEJ, 1 (199091), p. 161.
Américo A. Taipa de Carvalho, Condicionalidade sóciocultural do Direito Penal, Estudos em
homenagem aos Profs. Doutores M. Paulo Merêa e G. Braga da Cruz, II, BFD, 1982.
Américo A. Taipa de Carvalho, Direito Penal. Parte Geral. Questões fundamentais, Porto, 2003.
Américo Taipa de Carvalho, As Penas no Direito Português após a Revisão de 1995, in Jornadas
de Direito Criminal — Revisão do Código Penal. Alterações ao Sistema Sancionatório e
Parte Especial. Vol. II, CEJ, 1998.
M. Miguez Garcia. 2001
1065
Anabela Miranda Rodrigues, A determinação da medida concreta da pena privativa de
liberdade e a escolha da pena — Acórdão do STJ de 21 de Março de 1990 (BMJ395286),
anotação, RPCC, ano I (1991), p. 243.
Anabela Miranda Rodrigues, A determinação da medida da pena privativa da liberdade (os
critérios da culpa e da prevenção), dissertação de doutoramento, Coimbra, 1995.
Anabela Miranda Rodrigues, A pena relativamente indeterminada na perspectiva da
reinserção social do recluso, in Jornadas de Direito Criminal. O Novo Código Penal
Português e Legislação Complementar. Fase I. CEJ, 1983.
Anabela Miranda Rodrigues, Pena de prisão substituída por pena de prestação de trabalho a
favor da comunidade (Prática de um crime de receptação dolosa), RPCC9 (1999).
Anabela Miranda Rodrigues, Sistema punitivo português. Principais alterações no Código
Penal revisto, Sub judice / ideias, 11, 1996, p. 27.
Augusto Silva Dias, Direito Penal, Parte Geral, 19921993.
Bernd Schünemann, Sobre la crítica a la teoría de la prevención general positiva, in Política
criminal y nuevo Derecho Penal. Libro Homenaje a Claus Roxin, 1997.
Bockelmann / Volk, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 4ª ed., 1987.
Claus Roxin, Culpabilidad y prevención en derecho penal, tradução, introdução e notas de F.
Muñoz Conde, 1981.
Claus Roxin, Sul problema del diritto penale della colpevolezza, Riv. ital. dir. proc. penale,
1984, p. 16.
Eduardo Correia, Direito Criminal, II, 1965.
Eduardo Correia, Le Travail au Profit de la Communauté et le Nouveau Code Pénal Portugais,
BFD, LXIV (1988), p. 159.
M. Miguez Garcia. 2001
1066
Emilio Dolcini, Problemi della commisurazione della pena in Italia e in Portugallo, BFD 71
(1995), p. 261.
Enrique Bacigalupo, Principios de derecho penal, parte general, 2ª ed., 1990.
Frederico de Lacerda da Costa Pinto, Justificação, não punibilidade e dispensa de pena na
revisão do Código Penal, Jornadas sobre a revisão do Código Penal, FDUL, 1998.
G. Stratenwerth, Derecho Penal, PG, 1976.
Jorge de Figueiredo Dias, A reforma da parte geral do Código Penal de 1982, Estudos
comemorativos do 150º aniversário do Tribunal da BoaHora, Ministério da Justiça, 1995.
Jorge de Figueiredo Dias, Direito penal português. Parte geral. II. As consequências jurídicas
do crime, 1993.
Jorge de Figueiredo Dias, Oportunidade e sentido da Revisão, in Jornadas de Direito Criminal
— Revisão do Código Penal. Vol. I, CEJ, 1996.
Jorge de Figueiredo Dias, Pressupostos da punição e causas que excluem a ilicitude e a culpa,
Jornadas de Direito Criminal, CEJ, 1983, p. 39 e ss.
Jorge de Figueiredo Dias, Sobre o estado actual da doutrina do crime, 1ª parte, RPCC 1991, p. 9
e ss.
Jorge de Figueiredo Dias, Sobre o estado actual da doutrina do crime, 2ª parte, RPCC 1992, p. 7
e ss.
Jorge de Figueiredo Dias, Velhas e novas questões sobre a pena de suspensão de execução da
prisão, RLJ, 124.
Jorge de Figueiredo Dias, ZStW 95 (1983), p. 220.
José Adriano Souto de Moura, A tutela educativa: factores de legitimação e objectivos. Revista
do Ministério Público, ano 21 (2000), nº 83, p. 121.
M. Miguez Garcia. 2001
1067
José Beleza dos Santos, O fim da prevenção especial das sanções criminais — valor e limites,
BMJ735.
José de Sousa Brito, A medida da pena no novo Código Penal, BFD, Estudos em Homenagem
ao Prof. Doutor E. Correia, III, 1984, p. 555;
José Gonçalves da Costa, A Parte Geral no Projecto de Reforma do Código Penal Português,
RPCC 3 (1993).
José Souto de Moura, Problemática da culpa e droga, Textos 1, CEJ, 199091.
MansoPreto, Algumas considerações sobre a suspensão condicional da pena, Textos do CEJ, 1
(199091), p. 173.
Manuel Simas Santos / Manuel LealHenriques, Noções elementares de Direito Penal, 1999.
Manuel Simas Santos e Marcelo Correia Ribeiro, Medida Concreta da Pena, Disparidades,
Lisboa, 1998.
Manuel Simas Santos, anotação ao acórdão do STJ de 29 de Fevereiro de 1996, RPCC 6 (1996).
Maria Fernanda Palma, As alterações reformadoras da Parte Geral do Código Penal na revisão
de 1995: Desmantelamento, reforço e paralisia da sociedade punitiva, in Maria Fernanda
Palma e Teresa Pizarro Beleza (organizadoras), AAFDL, 1998.
Maria Fernanda Palma, "Fins das Penas" e "As antinomias entre os fins das penas e os modelos
de política criminal", in "Direito Penal, Parte Geral", AAFDL, 1994.
Maria Fernanda Palma, Desenvolvimento da pessoa e imputabilidade no Código Penal
português, in Casos e Materiais de Direito Penal, Coimbra, 2000, p. 101.
Maria João Antunes, Alterações ao sistema sancionatório — As medidas de segurança, RPCC 8
(1998), p. 51; e in Jornadas de Direito Criminal — Revisão do Código Penal. Alterações
ao Sistema Sancionatório e Parte Especial. Vol. II, CEJ, 1998.
M. Miguez Garcia. 2001
1068
Maria João Antunes, Concurso de crimes e pena relativamente indeterminada: determinação
da medida da pena. Acórdão do STJ de 19 de Abril de 1995, RPCC 6 (1996).
Maria João Antunes, Substituição da prisão por prestação de trabalho a favor da comunidade
— anotação, RPCC 11 (2001).
Maria Margarida Silva Pereira, Rever o Código Penal, Relatório e parecer da Comissão de
assuntos constitucionais, Sub judice / ideias, 11, 1996, p. 7.
Mário Ferreira Monte, Multa — Fixação de quantitativo diário, RPCC 9 (1999).
Mário Mendes Serrano, Medida da pena nos homicídios negligentes estradais, in sub judice /
ideias 17 (2000).
Mercedes Pérez Manzano, Aportaciones de la prevención general positiva a la resolución de las
antinomias de los fines de la pena, in Política criminal y nuevo Derecho Penal. Libro
Homenaje a Claus Roxin, 1997.
Nuno Brandão, Anotação ao acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 12 de Abril de 2000
(limites de duração da medida de segurança de internamento), RPCC 10 (2000).
Odete Maria de Oliveira, Penas de Substituição, in Jornadas de Direito Criminal — Revisão do
Código Penal. Alterações ao Sistema Sancionatório e Parte Especial. Vol. II, CEJ, 1998.
Pedro Soares de Albergaria / Pedro Mendes Lima, Condução em estado de embriaguez.
Aspectos processuais e substantivos do regime vigente, in sub judice / ideias —17
(2000).
Wilfried Bottke, La actual discusión sobre las finalidades de la pena, in Política criminal y
nuevo Derecho Penal. Libro Homenaje a Claus Roxin, 1997.
Winfried Hassemer/F. Muñoz Conde, Introducción a la Criminología y al Derecho Penal, 1989.
Winfried Hassemer, História das ideias penais na Alemanha do pósguerra, AAFDL, 1995.
M. Miguez Garcia. 2001
1069
§ 46º Unidade e pluralidade de infracções
I. Unidade e pluralidade de infracções; concorrência, no mesmo sujeito, de
várias práticas delituosas. Concurso efectivo; crime continuado; artigo 30º,
nºs 1 e 2, do Código Penal.
Caso nº 46: 1. Pode acontecer — e acontece frequentemente — que a conduta dum
único agente preencha os elementos típicos de vários crimes, os quais são apreciados num
mesmo processo.
A faz deflagrar uma bomba no quarto de hotel onde sabe que pernoitam B e C, que quer matar,
o que vem a acontecer — 2 crimes de homicídio (artigo 131º), eventualmente qualificados.
A mata a vítima, B, vibrandolhe diversas facadas, que também inutilizam o casaco de
couro que B vestia e lhe tinha custado umas centenas de contos — um crime do artigo 131º e
um crime de dano do artigo 212º.
A comete um roubo no metropolitano e dias depois conduz uma viatura até Cascais, em
estado de embriaguez — artigos 210º e 292º.
A atinge mortalmente B, que quer matar, e no dia seguinte atinge C de raspão, querendo
apenas provocarlhe um arranhão numa perna, o que vem a acontecer — um crime do artigo
131º e um crime do artigo 143º.
Nos casos indicados, A pode vir a ser absolvido de algum ou de todos os
crimes pelos quais vinha acusado. Sendo inteiramente absolvido, a sentença
absolutória (artigo 376º do Código de Processo Penal) declara a extinção de
qualquer medida de coacção e a imediata libertação do arguido que estiver
preso preventivamente. Se, pelo contrário, a decisão for condenatória (artigos
374º e 375º do Código de Processo Penal), deverá especificar os fundamentos da
sanção aplicada.
• Quando for condenado, o arguido é igualmente condenado em taxa de justiça e paga os
encargos a que a sua actividade houver dado lugar (artigos 513º e 514º do Código de
Processo Penal).
A escolha e a determinação da medida da pena fazemse de acordo com os
critérios estabelecidos nos artigos 70º e 71º do Código Penal. A cada crime
cometido caberá uma pena, havendo concurso sempre que o agente pratica
vários crimes antes de transitar em julgado a condenação por qualquer deles.
Para que se verifique o concurso, exige o nº 1 do artigo 30º a efectiva violação de
várias normas incriminadoras. Nos casos de concurso efectivo, o juiz determina
M. Miguez Garcia. 2001
1070
na sentença a pena que cabe a cada crime — pena parcelar — e em seguida
submete a punição do concurso às regras dos artigos 77º e 78º do Código Penal,
estabelecendo uma pena única, a qual se alcança considerando, em conjunto, os
factos e a personalidade do agente. A moldura penal do concurso tem como
limite máximo a soma das penas concretamente aplicadas aos vários crimes,
não podendo ultrapassar os 25 anos, tratandose de pena de prisão, como se diz
no nº 2 do artigo 77º; e como limite mínimo a mais elevada das penas
concretamente aplicadas aos vários crimes. Se no caso em que A está acusado
da morte, a tiro de espingarda, de dois dos seus inimigos a prova saída do
julgamento for de molde a demonstrar a culpabilidade de A, que quis matar as
duas vítimas, o tribunal estabelece uma pena para cada um dos dois crimes,
determinandoa como manda o artigo 71º, a partir da moldura penal do
homicídio: pena de prisão de 8 a 16 anos (artigo 131º). A será então condenado
como autor material, por cada um de dois crimes de homicídio voluntário do
artigo 131º do Código Penal, praticados em concurso efectivo, na pena (vamos
supor...) de 10 anos de prisão. A moldura penal do concurso destas duas penas
será, então, no máximo de 20 anos de prisão (10+10) e no mínimo de 10 anos de
prisão (regra do nº 2 do artigo 77º). A pena única, em cuja medida serão
considerados, em conjunto, os factos e a personalidade do agente (regra do nº 1
do artigo 77º), poderá fixarse (vamos supor...) nos 13 anos de prisão.
• Concluirá então o acórdão (49): A é autor material, em concurso efectivo, de dois crimes do
artigo 131º do Código Penal, pelo que, por cada um deles, os Juizes que compõem o
Tribunal Colectivo o condenam na pena de 10 anos de prisão; procedendo ao cúmulo
jurídico destas duas penas, nos termos do artigo 77º do Código Penal, vistos os factos
e a personalidade do arguido, como antes pormenorizadamente se referiu, condenam
A na pena única de 13 anos de prisão.
2. Acabámos de apresentar nos seus traços mais gerais o concurso de
crimes, que tem expressão no artigo 30º, nº 1, e o concurso de penas, que os
artigos 77º e 78º regulam. Como se viu, o concurso de crimes corresponde a
uma pluralidade de crimes, não necessariamente a uma pluralidade de actos: o
49
Tomam a forma de acórdão os actos decisórios dos juizes de um tribunal colegial, por
ex., um tribunal colectivo, a quem compete julgar, entre outros, os processos que respeitarem a
crimes dolosos ou agravados pelo resultado, quando for elemento do tipo a morte de uma
pessoa, ou cuja pena máxima, abstractamente aplicável, seja superior a cinco anos de prisão,
mesmo quando, no caso de concurso de infracções, seja inferior o limite máximo
correspondente a cada crime (artigos 14º, nº 2, a) e b), e 97º, c), do Código de Processo Penal.
M. Miguez Garcia. 2001
1071
critério do concurso efectivo de crimes assenta na pluralidade de tipos
violados pela conduta do agente, equiparandose na lei os casos de concurso
real, em que a conduta se desdobra numa pluralidade de actos, aos de concurso
ideal, em que a conduta se analisa num único acto. Nas palavras do Professor
Cavaleiro de Ferreira, "os crimes em concurso, na fórmula legislativa, consistem
na realização de vários tipos legais, fórmula que, mais claramente, corresponde
à violação plúrima por um só ou por vários factos de diferentes normas
incriminadoras ou da mesma norma incriminadora".
• É no tipo que se focaliza o núcleo do juízo de ilicitude que tem como seu suporte material o
bem jurídico. Daí que não possa deixar de ser visto como uma referência essencial
para a determinação do número de crimes praticados. Prof. Faria Costa, Jornadas, p.
181.
Na definição de concurso efectivo de crimes não basta o elemento da
pluralidade de bens jurídicos violados — exigese a pluralidade de juízos de
censura.
Os tribunais portugueses seguem o critério proposto pelo Prof. Eduardo
Correia da pluralidade de juízos de censura, traduzido por uma pluralidade
de resoluções autónomas (de resoluções de cometimento dos crimes, em caso
de dolo; de resoluções donde derivaram as violações do dever de cuidado, em
caso de negligência). Com um só acto, o agente pode ofender vários interesses
jurídicos ou repetidamente o mesmo interesse jurídico. Se a tais ofensas
corresponderem outros tantos juízos de censura, verificase o concurso efectivo
de crimes — real ou ideal.
Portanto, o número de juízos de censura determinase pelo número de
decisões de vontade do agente: uma só resolução, um só acto de vontade, é
insusceptível de provocar vários juízos de censura sem desrespeito do princípio
ne bis in idem. Por isso, no concurso ideal, sendo a acção exterior uma só, a
manifestação da vontade do agente, quer sob a forma de intenção quer de
negligência, tem de ser plúrima: tantas manifestações de vontade, tantos juízos
de censura, tantos crimes que correspondem a outros tantos bens jurídicos
violados.
• A queria matar B e para isso, a uns dez metros de distância deste, disparou um tiro de
arma caçadeira que lhe acertou na zona torácica, dandolhe morte quase instantânea.
Alguns projécteis foram igualmente atingir C, que estava logo ali. A não tinha
M. Miguez Garcia. 2001
1072
previsto que, com a dispersão do tiro, também a integridade física de C podia ser
atingida, como aconteceu, pois C ficou ferido.
Neste exemplo, A disparou um único tiro e com ele atingiu duas pessoas. A
tomara a resolução de matar B, o que veio a acontecer, preenchendo a sua
conduta, desde logo, o crime de homicídio doloso (artigo 131º), pelo qual pode
ser censurado. A não previu que C poderia ser atingido; não actuou quanto a
ele com dolo homicida nem com dolo de ofensa à sua integridade física. Ainda
assim, A pode ser censurado pela sua falta de cuidado: não previu, mas devia e
podia ter previsto que C iria ser atingido, tornandose responsável por um crime
de ofensa à integridade física por negligência (artigo 148º, nº 1) — em concurso
efectivo com o anterior: um único disparo produziu os dois eventos, a morte de
um e as lesões corporais no outro, ofendendo interesses jurídicos de B e de C. A
essa actuação corresponde um juízo de censura na forma de dolo, outro na
forma de negligência inconsciente —por isso se verifica o concurso efectivo de
crimes (concurso ideal).
3. Para a teoria naturalista, o número de crimes cometidos determinase
pelo número de acções em sentido físico. Mas nem sempre é fácil, a partir de
critérios naturalísticos, saber quando se está perante uma só ou várias condutas,
pelo que geralmente se não opera com tais critérios. Assim é que, no artigo 30º,
nº 1, se adopta o chamado critério teleológico para a determinação do número
de crimes —não se parte simplesmente de bases naturalísticas. No plano
doutrinal, a norma coincide com a posição do Prof. Eduardo Correia, que
escrevia em 1965 (Eduardo Correia, Direito Criminal II, 1965, p. 200): "o número
de infracções determinarseá pelo número de valorações que, no mundo jurídico
criminal, correspondem a uma certa actividade. Pelo que, se diversos valores ou
bens jurídicos são negados, outros tantos crimes haverão de ser contados,
independentemente de, no plano naturalístico, lhes corresponder uma só
actividade, isto é, de estarmos perante um concurso ideal. Inversamente, se um
só valor é negado, só um crime existirá, já que a específica negação de valor que
no crime se surpreende reúne em uma só actividade todos os elementos que o
constituem"
Todavia, e uma vez que a conduta, o comportamento do agente, não deixa
de consistir num só facto ou em vários factos naturais, a anterior referência a "um
só acto", a "uma só acção exterior", à "unidade do facto", à "unidade de acção", a
"vários actos" ou a expressões semelhantes, merece, ainda assim, alguns
desenvolvimentos, por lhes estarem ligadas certas qualificações ou
determinadas consequências penais. Aliada à sua projecção temporal e
envolvida no correspondente elemento subjectivo do ilícito, a conduta
M. Miguez Garcia. 2001
1073
naturalística funciona, desde logo, como índice de uma unidade ou pluralidade
de resoluções criminosas. Quando A mata B com um só tiro de pistola comete
um único crime: a uma decisão de vontade de A corresponde a unidade natural
da conduta, um único movimento corpóreo, o de disparar a pistola na direcção
de B —à unidade de acção dolosa seguese a da norma jurídica violada. Mas
quando A mata B e C com a explosão de uma granada serão dois os homicídios
da responsabilidade de A se este, não obstante a unidade natural da conduta
(um único movimento corpóreo, o de arremessar a granada para o local onde
estavam as duas vítimas), quis matar um e outro: à unidade de acção seguese a
subsunção da conduta, por duas vezes, ao mesmo preceito incriminador —
hipótese de concurso ideal homogéneo—, e em ambos os casos a título de dolo.
Se porém a morte de uma das vítimas nem chegou a ser prevista —e vimos isso
em exemplo anterior—, a imputação, nessa parte, só poderá ocorrer na base
dum juízo negligente, supondo que no caso convergem os correspondentes
elementos. Num outro exemplo, se A mata B com um tiro e na semana seguinte
dá uma violenta bofetada em C, serão dois os crimes a cargo de A: a uma
pluralidade de manifestações de vontade com uma pluralidade de movimentos
corpóreos correspondem duas normas incriminadoras violadas — hipótese de
concurso real —, sendo também plúrimo o juízo de censura a título de dolo.
A chamada unidade natural de acção revelase pela realização reiterada
do mesmo tipo penal, em sucessão ininterrupta, acompanhada por uma decisão
unitária de vontade. As várias actividades homogéneas aumentam o quantum
de ilicitude do facto (Wessels), como no caso em que A, conscientemente e com
intenção de apropriação, subtrai um relógio a B cometendo um furto, mas que
continua a ser um só furto se em vez de um subtrair cinco ou dez ou cinquenta
relógios na mesma ocasião. Ou então: se A ofende B, voluntária e
corporalmente, com um murro, comete um crime do artigo 143º, nº 1, mas se lhe
propinar meia dúzia de murros seguidos, o crime contra a integridade física
continua a ser único. Haverá, por outro lado, unidade de conduta típica se o
crime tiver a estrutura da violação (artigo 164º, nº 1) —ou a do roubo (artigo
210º), que atende à designação de crime complexo, em que a unidade de
infracções é estabelecida pela própria lei. O roubo é um crime especial em que
se juntam, numa unidade jurídica, o furto (crimefim) e o atentado contra a
liberdade ou a integridade física das pessoas (crimemeio). Outro exemplo de
unidade de conduta típica será o das falsificações documentais (artigo 256º). As
falsificações são crime mutilado de dois actos ou de resultado cortado ou
imperfeito (unvollkommen oder verkümmert Erfolgsdelikten). São crime de
dois actos atrofiados, em expressão brasileira, com ressonâncias em Binding: "o
M. Miguez Garcia. 2001
1074
legislador, impaciente, temendo que o agente alcance seu desideratum, ou
finalidade, não espera que o consiga" (Magalhães Noronha, Crimes contra o
património, BMJ13851) — punese o agente logo que este pratica o primeiro
acto, que é o meio de levar a cabo um acto posterior, o do uso do documento
falso. A principal consequência é que aquele que se envolve nos dois actos só
virá a ser punido por um deles. Por isso, alguns autores vêm neste desenho
típico uma unidade delitiva. Do mesmo modo, o crime permanente é constituído
por uma única conduta. Esta incide sobre um bem jurídico susceptível de
"compressão", como serão todos os atentados à honra e à liberdade — não de
"destruição", como será o caso da lesão da vida. Por ex., no sequestro (artigo
158º) o ilícito é de duração, uma vez que o facto se prolonga no tempo,
perdurando do mesmo modo a conduta ofensiva (privação da liberdade). Com
o seu comportamento, o agente não só cria a situação típica antijurídica como a
deixa voluntariamente subsistir. Deste modo, os crimes permanentes
consumamse com a realização típica, mas só ficam exauridos quando o agente,
por sua vontade ou por intervenção de terceiro (pensese no caso da violação de
domicílio), põe termo à situação antijurídica. Numa perspectiva bifásica, existe
neles uma acção e a subsequente omissão do dever de fazer cessar o estado
antijurídico provocado, que faz protrair a consumação do delito. Além do
sequestro e da violação de domicílio podem também alinharse nos crimes
permanentes a condução de veículo em estado de embriaguez (artigo 292º) e a
associação criminosa (artigo 299º). Há outros casos porém em que o agente cria
uma situação antijurídica, mas a sua manutenção já não tem qualquer
significado típico. Nestes crimes de efeitos permanentes, como a bigamia (artigo
247º) ou a ofensa à integridade física grave (artigo 144º), o agente, uma vez
criada a situação, que a seguir lhe foge das mãos, fica sem qualquer capacidade
para lhe pôr termo.
• O acórdão da Relação de Lisboa de 16 de Março de 1999, BMJ485477, qualifica o crime de
bigamia como um "delito instantâneo": a celebração de segundo casamento antes da
dissolução do primeiro consuma o crime de bigamia (artigo 247º do Código Penal) e o
seu dia marca o ponto de partida do prazo de prescrição do respectivo procedimento
criminal (artigo 119º, nº 1).
Os manuais alemães fazem ainda referência ao chamado delito colectivo
(Sammelstraftat: facto penal conjunto), por ex., Welzel: os delitos de
habitualidade, profissionalidade e comercialidade constituem uma unidade de
condução da vida punível. Castigase o "empreender" determinados delitos por
M. Miguez Garcia. 2001
1075
forma comercial, profissional, habitual (geschäfts, gewerbs und
gewohnheitsmäßigen Verbrechen). O empreendimento criminoso pode ser
fundamento do crime ou motivo de agravação. O facto de se colocar o acento
tónico destas infracções no tipo de agente tornaas, porém, de duvidosa
legitimidade à luz de um direito penal do facto (Cf., a propósito, Pedro Caeiro,
Conimbricense, PE, tomo II, p. 500). No nosso direito, o artigo 170º, nº 1
(lenocínio) exige que o agente do crime faça do seu comportamento profissão
[ou que tenha intenção lucrativa]: temse em vista uma actividade permanente,
ainda que não exclusiva — o agente faz dessa actividade o seu principal modo
de vida. Na alínea h) do artigo 204º prevêse a qualificação do furto fazendo o
agente da prática de furtos "modo de vida" (cf. o § 243. 1. 3 do StGB:
Gewerbsmäßiger Diebstahl, e o artigo 218º, nº 2, b). Pratica furtos como modo
de vida quem tem a intenção de conseguir uma fonte contínua de rendimentos
com a repetição mais ou menos regular de factos dessa natureza. Não tem
aplicação no caso do ladrão ocasional, ainda que determinado à prática repetida
de furtos, mas a lei não contém elementos para avaliar o tempo necessário à
definição do que seja o modo de vida. O rendimento do crime não tem que ser a
única fonte nem a maior fatia dos proventos do ladrão que, com sorte, pode até
viver do produto dum só furto durante uma larga temporada sem que isso
constitua caso de agravação. Também aqui o modo de vida criminoso acarreta o
perigo da especialização e do domínio de certas "artes" e inculca a ideia de
vadiagem e de marginalidade, aproximandose duma característica pessoal de
pendor subjectivo. Está mais perto da noção de "profissionalidade" do que da
"habitualidade" ou da simples "dedicação".
A habitualidade é diferente, assenta numa inclinação para a prática do
correspondente delito adquirida com a repetição (Jescheck, AT, 4ª ed., p. 651). *
O acórdão do STJ de 9 de Janeiro de 1992, BMJ413182, oferece pertinentes
informações sobre os conceitos de "habitualidade", "profissionalidade", "modo
de vida", "plurirreincidência", "delinquência por tendência", etc. * A
habitualidade nos crimes essencialmente patrimoniais, incluindo o de burla,
verificase não só quando o agente faz da sua prática um modo de vida habitual
ou principal, mas também quando as circunstâncias do caso convencem de que
aquele se habituou a praticar determinado género de condutas em que de certa
forma se especializou e passou a adoptar em termos de repetição e
multiplicidade demonstrativa de que a sua prática é por ele olhada como
normal, expressão de uma segunda natureza, e assumida sem a contenção
psicológica resultante das proibições legais, por isso reveladora de maior
perigosidade da sua parte (acórdão do STJ de 7 de Outubro de 1991, BMJ410
M. Miguez Garcia. 2001
1076
305). * Se não se descortina na reiteração o hábito de delinquir, uma propensão
para o crime radicada na personalidade do delinquente, estáse perante um
delinquente pluriocasional (acórdão do STJ de 17 de Junho de 1992, BMJ418
513).
4. Há quem sustente ser o crime continuado uma forma especial de
manifestação da unidade jurídica de acção — por ex., Wessels. No artigo 30º, nº
2, dizse que "constitui um só crime continuado a realização do mesmo tipo de
crime ou de vários tipos de crime que fundamentalmente protejam o mesmo
bem jurídico, executada por forma essencialmente homogénea e no quadro da
solicitação de uma mesma situação exterior que diminua consideravelmente a
culpa do agente." Numa visão material das coisas, o crime continuado é uma
unidade jurídica construída sobre uma pluralidade efectiva de crimes (Prof.
Figueiredo Dias; Jung, JuS 1989, p. 291).
• Exemplo: B furta a A um berbequim e um pé de cabra e no dia seguinte servese deles para
entrar por arrombamento na moradia de C. Terá B praticado 2 crimes de furto (artigo
203º, nº 1) ou apenas um crime de furto (artigo 203º, nº 1) ou só um crime de furto
continuado (artigos 30º, nº 2, e 203º, nº 1)?
• Parece haver um só crime de furto no exemplo de Geppert do mordomo que, quando entra
ao serviço de A, toma a resolução de todos os sábados deitar a mão a um "havana",
dos mais caros, e que dois anos mais tarde é descoberto.
A ideia do crime continuado —recordam os autores alemães (cf., por ex.,
Timpe, JA 1991, p. 12; Rüping, GA 1985, p. 437 e ss.; Jung, JuS 1989, p. 289; v. H
Heinegg, JA 1993, p. 136; cf. também Eduardo Correia, A Teoria do Concurso,
p. 163; e Franz von Liszt, Tratado de Derecho Penal, tomo terceiro, 3ª ed., p.
150)— desenvolveuse como forma de evitar os rigores do princípio da
acumulação e na base da humanização do sistema penal. Segundo o sistema de
acumulação material o juiz deve aplicar ao culpado tantas penas quantas as que
correspondem aos crimes cometidos —quot crimina tot poena. As dificuldades
surgem quando se trata de executar um tal sistema e isso foi intuído já nos
começos do século 19: havia ladrões que tinham às costas dezenas de furtos, de
forma que, adicionandose materialmente as penas de cada crime, chegavase
ao resultado risível de ter que executar para cima de duzentos anos de prisão,
numa estranha progressão que conduzia a níveis de desmedida severidade que
nada tinham em comum com as ideias generosas da ressocialização. A
conversão da soma das diversas penas concorrentes numa pena conjunta, com
M. Miguez Garcia. 2001
1077
limites que não podiam ser excedidos, foi um dos caminhos propostos para
fugir aos rigores do concurso real. A especial acuidade do concurso real da
mesma espécie e particularmente de furtos é sublinhada no âmbito do direito
estatutário "que mandava enforcar o autor de três desses crimes" (Prof. Eduardo
Correia, A teoria do Concurso, p. 164), de forma que —dizse— o crime
continuado foi elaborado com base no favor rei, para permitir àqueles que
tivessem recaído no terceiro furto escapassem à pena de morte (Paulo José da
Costa Jr., p. 134).
Os statuta foram “inventados” (cf. Martin Killias, Précis de droit pénal, 2ª ed., 2001, p. 4) pelas
cidades italianas. Puniam os atentados à paz pública, incluindo certas infracções sexuais.
A economia de trabalho está igualmente na origem do crime continuado:
se numa sucessão de crimes idênticos o réu é julgado e só depois se descobre
que a série era ainda mais longa, o caso julgado impede que se conheça dessas
outras condutas não incluídas na acusação, o que significa que processualmente
se poupa aos operadores judiciários uma quantidade de tarefas árduas, inúteis
e fastidiosas.
Outra saída, que correspondia certamente às "necessidades da vida", foi a
de tratar unitariamente as séries delituosas, sem violar as regras legais então
vigentes.
Mas como explicar aquela unidade "construída sobre uma pluralidade
efectiva de crimes"? Como explicar a perda da autonomia de acções que no
crime continuado significam, naturalmente, uma pluralidade?
Para resolver o problema — escreve o Prof. Eduardo Correia (Direito
Criminal II, p. 208) — "duas vias fundamentais de solução podem ser trilhadas:
ou, a partir dos princípios gerais da teoria do crime, procurar deduzir os
elementos que poderiam explicar a unidade inscrita no crime continuado — e
teremos então uma construção lógicojurídica do conceito; ou atender antes à
gravidade diminuída que uma tal situação revela em face do concurso real de
infracções e procurar, assim, encontrar no menor grau de culpa do agente a chave
do problema — intentando, desta forma, uma construção teleológica do
conceito."
Na primeira via indicada podem distinguirse ainda as soluções que
deduzem o conceito da acção continuada dos elementos constitutivos exteriores
da homogeneidade: crimes da mesma espécie, praticados em tais condições de
tempo, lugar e modo de execução que os subsequentes são havidos como
continuação dos precedentes; e outras, que exigem, para a identificação do
M. Miguez Garcia. 2001
1078
crime continuado, além de determinados elementos de natureza objectiva,
outro de índole subjectiva, que é expresso de maneiras diferentes: unidade de
dolo, unidade de resolução, unidade de desígnio.
Para os tribunais alemães, a realização do ilícito só representa uma
sequência homogénea, em termos de ser possível afirmar a continuação
criminosa:
i) se os vários tipos violados se dirigem à protecção do mesmo bem
jurídico — a justificação está na continuação de uma simples intensificação
quantitativa da realização típica já levada a efeito (cf. G. Jakobs, Strafrecht AT,
2ª ed., 1993, p. 901);
ii) se se viola a mesma proibição — de forma que haverá identidade entre
a tentativa e a consumação da mesma infracção, mas a identidade já não será
suficiente nos casos em que o mesmo bem jurídico é tutelado de formas
diferentes, como o furto e o abuso de confiança;
iii) se houver semelhança externa na realização dos vários tipos — aponta
se o exemplo do furto de instrumentos para praticar furtos e o furto praticado
com esses instrumentos (BGH MDR 1978, p. 623) e afirmase a identidade entre
acção e omissão;
iv) se houver um nexo temporal e espacial entre as várias actividades;
v) e se essas actividades estiverem unificadas por um dolo global ou dolo
de conjunto (Gesamtvorsatz), de forma a abranger, ab initio, a totalidade dos
actos individuais que integram o crime continuado, abarcandoa nas suas
manifestações essenciais — o nexo de continuação só existirá portanto se o
sujeito age com esse dolo global que constitui uma "nova unidade de sentido":
não basta que o agente decida cometer no futuro, em termos gerais
(allgemeinen Entschluß), um facto semelhante, caso se lhe ofereça a
oportunidade.
• Exemplos de dolo global, segundo v. H.Heinegg: o gatuno, em noites seguidas, vai
subtraindo peças do mesmo automóvel, até que o dono, com os nervos em franja, lhe
vende o que resta. Ou o contabilista duma firma que, com falsos lançamentos, vai
juntando pequenas quantias à sua conta pessoal.
Com a exigência do dolo global, a relação de continuação perde o seu
relevo prático — rezam as críticas. Tomado a sério e fora de quaisquer ficções, o
requisito faz com que na prática o nexo de continuação só exista naqueles casos
em que o ladrão vai esvaziando sucessivamente um armazém de mercadorias,
escreve Jakobs com alguma ironia (Timpe, JA 1991, p. 15; e G. Jakobs, p. 1094).
Os autores têm renunciado à necessidade de um dolo global e em lugar dele
M. Miguez Garcia. 2001
1079
atendem a um dolo de continuação (Fortsetzungsvorsatz), que existirá quando
"qualquer decisão posterior se manifesta como continuação da precedente,
formando todas como que uma "linha de continuidade psíquica" (Stree, in S/S,
Strafgesetzbuch, 25ª ed., p. 683; referido também em Faria Costa, Formas do
crime, p. 117).
• Exemplo de dolo de continuação: a empregada doméstica começou por tirar uma toalha de
rosto e inicialmente só queria tirar essa toalha —todavia, depois, fortalecida pela
circunstância de não ter sido descoberta, subtrai outras toalhas.
Para as soluções assentes no lado objectivo da infracção as vantagens da
continuação face ao concurso real justificam que se renuncie à combinação de
elementos objectivos com elementos subjectivos: para quem assim pretenda
simplificar a questão, a unidade de resolução não pode ser um elemento apto
para fundamentar o conceito da continuação criminosa, um seu quid unificador.
Para a unidade delitiva concorrem exclusivamente factores de homogeneidade
externa, congregados à luz do critério decisivo que são as "concepções naturais
da vida" (Edmund Mezger, Derecho Penal, p. 341). O elemento aglutinador
residirá então na identidade das condutas, exigindose a violação de idêntica
proibição e a lesão ou colocação em perigo do mesmo bem jurídico. Tratando
se, porém, de bens jurídicos eminentemente pessoais, como a vida, a
integridade física, a honra, a liberdade, as diversas actividades não podem
unificarse, a menos que se trate da mesma vítima.
Como se disse atrás, um outro caminho pondera a equação entre o
conceito de crime continuado e o pensamento da gravidade penal, que é menos
intensa que no concurso real na medida em que a execução das diversas
actividades aparece no primeiro caso altamente "facilitada". O exemplo clássico
era o do adultério, com o que ele significava de tentações e de cedências.
• Ou talvez este não seja um bom exemplo, talvez socialmente se trate de uma situação de
adultério e não uma série de actos adúlteros, como pondera o Prof. Beleza dos Santos.
Sobre alguns problemas específicos do crime de adultério pode verse, por ex., o
acórdão do STJ de 25 de Maio de 1955, BMJ49196. O exemplo do adultério da
mulher cujo marido vai à guerra é também oferecido por Welzel, para ilustrar uma
situação de crime continuado. Também von Liszt se refere ao adultério como
exemplo do delito continuado, "es decir, la realización interrumpida, y en veces reiterada,
del mismo hecho delictivo; una pluralidad de actos hasta entonces no punibles,
M. Miguez Garcia. 2001
1080
jurídicamente reunidos por su homogeneidad, que no sólo debe fundarse en el
contenido del dolo que existe cada vez y en la tendencia contra el mismo bien
jurídico, sino, ante todo, en la similitud del modo de comisión". O adultério ocorre
"bajo el aprovechamiento de la misma ocasión o de la misma circunstancia
permanente".
Nesta visão das coisas, o segredo da conexão das actividades que formam
o chamado crime continuado vai ancorar na considerável diminuição da culpa do
agente que lhe anda ligada — e o fundamento desse menor grau de culpa deve
ser encontrado no momento exógeno das condutas, na disposição exterior das
coisas para o facto. "Pelo que o pressuposto da continuação criminosa será,
verdadeiramente, a existência de uma relação que, de fora, e de maneira
considerável, facilitou a repetição da actividade criminosa, tornando cada vez
menos exigível ao agente que se comporte de maneira diferente, isto é, de
acordo com o direito" (Prof. Eduardo Correia, A Teoria do Concurso, p. 205 e
ss.; Direito Criminal II, p. 209).
O Código Penal português consagrou no artigo 30º, nº 2, a figura do crime
continuado, na sequência dos ensinamentos do Prof. Eduardo Correia, expostos
pela primeira vez num dos dois estudos — Unidade e Pluralidade de Infracções
— que agora fazem parte do volume com o título A Teoria do Concurso em
Direito Criminal.
• Em 1945 apareceu A teoria do Concurso em Direito Penal —Unidade e pluralidade de
infracções; em 1948 foi publicada a Teoria do concurso em Direito Criminal — Caso
julgado e poderes de cognição do juiz. Vd. notícia no BMJ9287.
Colocado sistematicamente no preceito cujo nº 1 trata do concurso de
crimes, o crime continuado não fica envolvido, enquanto tal, nos problemas do
concurso. O juiz, ao elaborar a sentença, não tem que fixar a pena de cada uma
das condutas. Com o crime continuado só uma norma se mostra, por fim,
violada: consequentemente, só se aplicará uma pena, seguindose a regra do
artigo 79º, que manda punir o crime continuado com a pena aplicável à conduta
mais grave que integra a continuação.
• Concluirá então a sentença: A é autor material de um crime continuado de furto previsto e
punido nos artigos 30º, nº 2, 79º e 203º, nº 1, do Código Penal, pelo que o condeno na
pena de sete meses de prisão.
M. Miguez Garcia. 2001
1081
Tratase, como repetidamente se acentuou, de "um só crime", não obstante
a plúrima violação do mesmo tipo legal ou a violação plúrima de vários tipos
legais de crime (que fundamentalmente protejam o mesmo bem jurídico), a que
presidiu uma pluralidade de resoluções (que, portanto, atiraria a situação para
o campo da pluralidade de infracções). Esse repetido ataque deverá dirigirse
contra o mesmo bem jurídico, mas o nexo de continuação pode ainda afirmarse
quando o agente viola bens jurídicos fundamentalmente idênticos. Ao acentuar
que se trata do "mesmo" bem jurídico, o preceito revela em primeira linha o seu
carácter excludente, negando a continuação quando são violados bens jurídicos
inerentes à pessoa, salvo tratandose da mesma vítima. Se estiverem em causa
bens de outra natureza —sem os elementos de pessoalidade que existem, por
ex., no roubo— tanto faz uma vítima como várias, o número destas é
indiferente: o crime continuado não será excluído pelo facto de as vítimas do
furto ou da burla serem diversas. A razão está em que os bens das pessoas não
são equiparáveis a esses outros interesses — na verdade, não lhes são
funcionalmente equivalentes: por ex., nos crimes patrimoniais, a quantidade do
ilícito vaise dissolvendo à medida que o agente renova o seu ataque e isso
acontece mesmo quando o titular do direito afectado é diferente de qualquer
outro anteriormente atingido, mas a lesão de bens jurídicos eminentemente
pessoais de que são titulares várias pessoas não pode ser adicionada a um dano
que já é total, como se fosse um simples alargamento quantitativo da primeira
infracção. Essa violação será sempre qualitativamente autónoma. Por isso
mesmo, a linha divisória tem que passar pelas formas de ilícito que contêm
elementos pessoais com esse peso — sendo o roubo, como já se disse, um desses
crimes, o ladrão que subtrai algo usando da violência contra o detentor da coisa
pratica dois crimes em concurso efectivo se logo a seguir, ou até na mesma
altura, se apropria, pela mesma forma violenta, de coisa pertencente a outra
pessoa. Com efeito, temse vindo a entender que a violência será causa do
cometimento do roubo quando serviu de meio para a apropriação e que o
número de crimes de roubo depende do número de pessoas que foram
directamente alvo da violência usada como meio de conseguir a apropriação, de
forma que, se assim não suceder, a violência caracterizará outra infracção que
não o roubo (acórdãos do STJ de 14 de Abril de 1983, BMJ326422, e de 14 de
Abril de 1999, BMJ486123). O crime continuado só poderá então existir se
existir identidade da vítima. Sirva para ilustrar, no capítulo dos crimes contra a
liberdade sexual, o acórdão do STJ de 12 de Março de 1998, no processo nº
1429/97, onde se decidiu que comete o crime de abuso sexual de criança, na
forma continuada, dos artigos 172º, nº 1 e 30º, nº 2, do Código Penal, o arguido
M. Miguez Garcia. 2001
1082
que ao se aperceber da presença de uma menor de 10 anos de idade, a segue, a
agarra, a deita no chão, começando a beijála na cara e na boca, tirandolhe de
seguida as calças e as cuecas, deitandose em cima dela, encostandolhe o pénis
erecto às coxas e aí o esfregou até ejacular sobre a menor, sendo certo que nos
quinze dias seguintes, o arguido voltou a encontrar a menor naquele local e, por
duas vezes, reiterou os actos supra descrito.
• No caso do acórdão do STJ de 15 de Junho de 1955, BMJ49225, levantarase a questão da
prescrição de algumas condutas do padrasto que atentara de forma repetida contra o
pudor da enteada. O Supremo entendeu que se tratava de crime continuado dessa
natureza que é constituído pela pluralidade de acções praticadas, e embora revelem o
mesmo desejo ou propósito, realizadas seguidamente, com violação do mesmo
preceito legal, umas não absorvem as outras, e somente se atende à sua unidade para
a punição, pelo que a prescrição de umas não envolve necessariamente a das
restantes. Outros aspectos do crime continuado podiam já ser apreciados em vários
arestos de meados do século 20. Vd., por ex., a anotação no BMJ27138.
A realização plúrima, atentos os indicados pressupostos, deverá ainda ser
"executada por forma essencialmente homogénea e no quadro da solicitação de
uma mesma situação exterior que diminua consideravelmente a culpa do
agente". Entre as várias actividades não se pode deixar de fora um certo nexo de
identidade, uma certa homogeneidade, pelo menos no que respeita aos aspectos
temporais e espaciais, mas não é necessária a identidade do objecto do crime,
por ex., do produto dos furtos. As repetidas actividades são aglutinadas numa
única infracção na medida em que revelam uma considerável diminuição da
culpa do agente — circunstancialismo exógeno, de menor exigibilidade, a cujos
termos já antes fizemos referência.
Outra é a questão de saber se a exigência da execução "por forma
essencialmente homogénea" representa um simples indicador da unidade do
dolo. No aspecto subjectivo, bastará uma "linha psicológica continuada", a
apontar para um dolo de continuação, que ocorre quando a nova resolução
renova a anterior.
Mas se assim se parte do princípio de que há "uma cadeia de resoluções",
como a interpretação do artigo 30º parece inculcar, fica de fora do crime
continuado o caso do médico que, por inadvertência, por falta de cuidado, em
dias seguidos, vai injectando o seu doente com um medicamento deteriorado,
afectando continuadamente a saúde deste. Com efeito, não se pode falar de
M. Miguez Garcia. 2001
1083
"resolução criminosa" nos crimes negligentes (sobretudo em caso de negligência
inconsciente) — "a punição nos quadros do crime continuado só tem sentido,
por força do seu próprio fundamento, quando existam várias resoluções
criminosas cuja censurabilidade é cada vez menor por força de um particular
condicionalismo exterior ao agente" (nestes termos, Pedro Caeiro/Cláudia
Santos, in RPCC 6 (1996), p. 141).
O Prof. Eduardo Correia põe em evidência algumas das hipóteses mais
prováveis de crime continuado (por ex., em Direito Criminal II, p. 210; também
em A Teoria do Concurso, p. 246 e ss.) Será o caso de, através da primeira
actividade criminosa, se ter criado uma certa relação ou um certo acordo entre
os sujeitos, dandose o ex. do adultério, que na época se punia em determinadas
circunstâncias. Ou o facto de se voltar a verificar uma oportunidade favorável à
prática do crime, que já foi aproveitada ou que arrastou o agente para a
primeira conduta criminosa (como na descoberta de uma porta falsa que se
aproveita várias vezes para furtar objectos do espaço a que por ela se acede). Ou
a circunstância da perduração do meio apto para realizar um delito, que se
criou ou adquiriu com vista a executar a primeira conduta criminosa (o gatuno
conseguiu a chave do cofre e a fechadura não foi mudada depois do primeiro
furto). Por último, o agente, depois de executar a resolução criminosa, verifica
que se lhe oferece a possibilidade de alargar o âmbito de actividade (o ladrão
que só queria a pasta que se encontrava na gaveta leva também o relógio de
ouro que o dono ali guardara).
Como já se disse, os actos que fazem parte da continuação constituem um
único crime, ficando o tribunal dispensado de encontrar a pena parcelar de cada
um deles. De qualquer forma, a sentença tem que enumerar esses diversos
actos. O limite temporal da actividade do agente tem importância para a
prescrição (artigo 119º, nºs 1 e 2, b), do Código Penal) e para a aplicação da
amnistia. No âmbito processual, os efeitos traduzemse em que "o crime
continuado constituirá um único "objecto processual". Daqui resultará a
consequência de que o caso julgado se forma sobre toda a relação de
continuação, mesmo sobre aqueles factos que não tenham sido levados à
cognição do tribunal ou que este não tenha efectivamente conhecido" (G.
Stratenwerth, Derecho Penal, Parte general, I, p. 356; Prof. Figueiredo Dias,
Sumários, p. 130).
M. Miguez Garcia. 2001
1084
II. Unidade e pluralidade de infracções; concorrência, no mesmo sujeito, de
várias práticas delituosas. Concurso aparente; concurso efectivo; artigo 30º, nº
1, do Código Penal.
CASO nº 46: A encontrase desempregado há mais de um ano e sem dinheiro. A
última esperança de A é um tio, de quem é o único herdeiro, mas que continua de boa saúde e
a gerir os seus negócios com sucesso crescente. O tio acha que já fez tudo por A. Diz aos
amigos que o sobrinho não tem emenda e recusase a darlhe mais dinheiro. A deambula pelas
ruas da cidade, furioso com o mundo. Tem em mente até livrarse do tio, para lhe ficar com a
herança. Entretanto, para "descontrair", apanha uma pedra e dum lugar elevado, visando um
autocarro de passageiros que por ali circulava, atiraa com ganas de fazer estragos, sejam eles
quais forem. Com fragor, a pedra vai estilhaçar um dos vidros do autocarro e atinge um dos
passageiros na cara, que começa a sangrar abundantemente. Transportado de imediato ao
hospital mais próximo, o ferido veio a ficar irremediavelmente cego do olho esquerdo,
circunstância que A representou como possível quando largou a pedra. Ainda que perseguido,
A consegue fugir. No dia seguinte, em desespero, entra numa ourivesaria de pistola na mão e a
cara tapada com uma meia de senhora. Grita, como viu fazer nos filmes: "isto é um assalto,
venha para cá todo o dinheiro!". O proprietário da ourivesaria, persuadido com o inesperado
da situação e a exibição da pistola, dálhe todo o dinheiro de que dispõe: 50 contos em notas; o
empregado, também aterrorizado e a ver as coisas mal paradas, a um gesto enérgico e
significativo do assaltante, entregalhe um valioso relógio de pulso, que transporta consigo e
lhe foi dado em dia de aniversário. Duas horas mais tarde, com medo de vir a ser reconhecido,
por ser portador do relógio, A rebentao a golpes de martelo e lança o que dele sobra para o rio
que ali passa perto. Na semana seguinte toma a grande decisão da sua vida: levando uma
granada de mão comprada a um antigo soldado, entra no escritório do tio, quando tudo está
sossegado por ser hora de almoço, e lançaa, depois de se ter certificado de que pairava no ar o
cheiro dos charutos preferidos do tio. Na explosão vem a morrer o tio e a secretária deste, que
ficara para analisar com o patrão a correspondência recebida, como aliás costumava acontecer
e era do conhecimento de A.
III. Unidade do facto e pluralidade de normas; concurso de normas ou
concurso aparente de crimes; concurso de crimes.
Como já anteriormente se disse, os problemas de que agora tratamos
podem analisarse fundamentalmente nas seguintes combinações, postas a
cargo dum único sujeito:
i) Uma única conduta preenche um único tipo de crime: A dá um (ou
vários) murro(s) ou vários murros e pontapés em B — um crime do artigo 143º.
ii) Várias condutas preenchem um único tipo de crime: A subtrai a
carteira de B apontandolhe para tanto uma pistola, com que o ameaça — um
M. Miguez Garcia. 2001
1085
crime do artigo 210º, ficando afastada a aplicação das normas dos artigos 203º e
153º.
iii) Uma única conduta preenche várias vezes o mesmo tipo de crime: A
faz deflagrar uma bomba no quarto de hotel onde sabe que pernoitam B e C,
que quer matar — 2 crimes do artigo 131º.
iv) Várias condutas preenchem vários tipos de crime: A atinge
mortalmente B, que quer matar, e no dia seguinte atinge C de raspão, querendo
apenas provocarlhe um arranhão numa perna — um crime do artigo 131º, um
crime do artigo 143º.
v) Várias condutas preenchem vários tipos de crime, mas só uma das
normas violadas se aplica: A penetra por arrombamento na habitação de B e
leva todas as jóias do cofre: um crime de furto qualificado do artigo 204º, nº 2,
e), ficando afastada a aplicação das normas dos artigos 204º, nº 1, f), 190º e 212º.
• Recapitulando. O número de crimes determinase, segundo os critérios do artigo 30º, nº 1:
pelo número de tipos de crime efectivamente cometidos [pela conduta do agente], ou
pelo número de vezes que o mesmo tipo de crime for preenchido pela conduta do
agente. Os problemas do concurso têm a ver com a pluralidade de crimes, que não
existe nas duas primeiras hipóteses antes apresentadas. O artigo 30º, nº 1, contempla
o concurso efectivo (real ou ideal), que é um concurso verdadeiro. O chamado
concurso de normas intervém quando das diversas normas aparentemente aplicáveis
só uma delas acaba por ser aplicada na situação concreta, ficando excluída a aplicação
das restantes, como pode ser, de algum modo, a segunda hipótese acima apresentada,
e é seguramente a última.
1. Findo um processo, pode na verdade acontecer que o comportamento
do arguido se analise numa única conduta —numa unidade de facto— e
preencha um único tipo penal, por ex., o agente, com intenção de apropriação,
deitou a mão a um livro que sabia alheio, o que integra um crime de furto
(artigo 203º, nº 1, do Código Penal).
2. Mas pode acontecer também que uma mesma unidade de facto realize
vários tipos penais, dois, por exemplo. E então haverá que distinguir:
a) Uma das disposições abstractamente aplicáveis faz recuar a outra, por
aplicação das regras da especialidade, da subsidiaridade ou da consunção
(concurso aparente de crimes, impróprio ou concurso de normas). Neste caso,
em que a uma unidade de facto são aplicáveis várias normas, só uma delas virá
a ser aplicada, em razão dos indicados critérios. O arguido será punido
M. Miguez Garcia. 2001
1086
unicamente pela norma que não for afastada. Nesta hipótese, em que só uma
das normas se aplica, esta abrange "o âmbito e o sentido de protecção da outra
norma" (Pedrosa Machado).
• Exemplo: A, para se divertir e divertir os amigos, lança várias pedras na direcção de um
autocarro que naquele momento passa na autoestrada, divertindoo até a ideia de
atingir e mandar para o hospital qualquer dos passageiros que possa atingir, o que
vem a acontecer — as normas aplicáveis são a do artigo 293º (lançamento de projéctil
contra veículo) e a do artigo 143º (ofensa à integridade física), mas só esta última
acaba por ser aplicada.
b) Não sendo caso de concurso aparente, à situação concreta aplicamse as
duas normas, por ambas se encontrarem em relação de concurso efectivo
(verdadeiro ou genuíno, como também se lhe chama), na forma de concurso
ideal, homogéneo ou heterogéneo.
• Exemplo de concurso efectivo ideal homogéneo: A faz deflagrar uma bomba que vai matar
os dois inimigos que A quer ver mortos com a explosão do engenho.
• Exemplo de concurso efectivo ideal heterogéneo: A lança as pedras contra o autocarro que
passa na autoestrada sabendo que vai produzir estragos na viatura e ferimentos no
motorista, como vem a acontecer, e querendo isso mesmo.
E é de concurso efectivo que então se trata, pois só há concurso de crimes
quando ele for efectivo (vejase no artigo 30º, nº 1, o advérbio "efectivamente").
Cairemos nesta hipótese — de concurso ideal efectivo, em que de um mesmo
agente, cuja conduta se analisa numa unidade de facto, se pode dizer que
cometeu vários crimes — sempre que os interesses jurídicos protegidos pelas
diferentes normas "sejam de tal modo distintos entre si que a aplicação de uma
dessas normas não conseguiria garantir a totalidade da censura objectiva que a
esse facto deve ser dirigida pela ordem jurídica" (Pedrosa Machado).
3. Se à pluralidade de actos corresponder uma pluralidade de tipos penais
violados, dois, por ex., então:
a) Um dos crimes é de mera garantia ou aproveitamento (aqueles que são
dominados por uma vontade de garantir ou aproveitar a impunidade de outros
crimes) e deve recuar perante o respectivo crime de fim lucrativo ou de
apropriação que constitui o verdadeiro cerne da conduta criminosa. Não se
M. Miguez Garcia. 2001
1087
aplicará então a norma secundária, que é um facto posterior não punível ou um
acto posterior copunido.
• Exemplo: A deita ao rio a bicicleta que furtara uns dias antes, por se ver assediado pela
polícia que dele desconfia: ao crime de furto seguese a destruição da coisa
apropriada (dano).
b) O agente será punido em concurso efectivo pelos dois crimes
realizados, na forma de concurso real. Pode suceder que os crimes cometidos
sejam iguais entre si (por ex., dois roubos), ou diferentes (por ex., um roubo e
uma violação). No primeiro caso haverá concurso real homogéneo, no segundo
o concurso real será heterogéneo. Mas é outra vez o concurso efectivo, porque o
mesmo agente cometeu vários crimes e vai ser punido por esses crimes.
• Exemplo: A, voluntariamente, mata B de manhã e à tarde atinge C a tiro, sem lhe provocar
a morte.
No caso nº 46, tendo presente o que dispõe o artigo 30º, nº 1, do Código
Penal (o número de crimes determinase pelo número de tipos de crime efectivamente
cometidos [pela conduta do agente], ou pelo número de vezes que o mesmo tipo de crime for
preenchido pela conduta do agente), poderemos começar por enquadrar a conduta de
A pela seguinte forma:
i) o que aconteceu com o autocarro: artigos 293º (lançamento de projéctil
contra veículo), 212º, nº 1 (dano), 213º, nº 1, c) (dano qualificado pela destinação
da coisa), 143º (ofensa à integridade física simples), 144º (ofensa à integridade
física grave), 18º e 145º (agravação pelo resultado);
ii) o que aconteceu na ourivesaria: artigos 153º, nº 1 (ameaça), 154º, nº 1
(coacção), 203º, nº 1 (furto), 210º, nºs 1 e 2, b), e 204º, nº 2, f) (roubo agravado),
212º, nº 1 (dano);
iii) o que aconteceu no escritório: artigos 275º, nºs 1 e 3 (armas), 144º
(ofensa à integridade física grave), 131º (homicídio), 132º, nºs 1 e 2, c) (homicídio
qualificado).
Quais os crimes por que A deverá ser sancionado? A unidade ou
pluralidade de tipos violados pela conduta é o critério acolhido na lei para
distinguir entre a unidade e a pluralidade de crimes. Mas não basta o elemento
da pluralidade de bens jurídicos violados — exigese a pluralidade de juízos
de censura, como anteriormente se viu: pluralidade de juízos de censura,
traduzido por uma pluralidade de resoluções autónomas. O número de juízos
de censura determinase pelo número de decisões de vontade do agente: tantas
M. Miguez Garcia. 2001
1088
manifestações de vontade, tantos juízos de censura, tantos crimes que
correspondem a outros tantos bens jurídicos violados.
• Questão de método: Nos casos práticos, a apreciação do concurso aparente precede
sempre a do concurso efectivo.
No caso de se mostrar violado mais do que um tipo de crime, importa
começar por perguntar se porventura nos encontramos perante um concurso de
normas ou concurso aparente de crimes, o qual se alcança pela negativa, na
medida em que o artigo 30º, nº 1, como já se viu, exige a "efectiva" violação de
várias normas incriminadoras para que de verifique o verdadeiro concurso de
crimes. Só quando se concluir que uma das disposições abstractamente
aplicáveis não faz recuar a outra ou outras é que surge a questão da aplicação
de todas ao caso concreto, por todas se encontrarem em relação de concurso
"efectivo". Tratase, no fundo, de distinguir entre as normas aplicáveis (várias) e
a norma ou normas aplicadas à situação concreta.
• Recapitulando. Pluralidade de bens jurídicos violados. Pluralidade de resoluções.
Pluralidade de juízos de censura. Quando se poderá dizer, face ao artigo 30º, nº 1,
onde se perfilha o chamado critério teleológico, que estamos perante uma violação
plúrima do mesmo tipo abstracto? Recordese que o concurso de crimes corresponde
a uma pluralidade de crimes, não necessariamente a uma pluralidade de actos: o
critério do concurso efectivo de crimes assenta na pluralidade de tipos violados pela
conduta do agente, equiparandose na lei os casos de concurso real, em que a conduta
se desdobra numa pluralidade de actos, com os de concurso ideal, em que a conduta
se analisa num único acto.
Os tribunais portugueses seguem normalmente o critério proposto pelo
Prof. Eduardo Correia da pluralidade de juízos de censura, traduzido por uma
pluralidade de resoluções autónomas (de resoluções de cometimento dos
crimes, em caso de dolo; de resoluções donde derivaram as violações do dever
de cuidado, em caso de negligência). Com um só acto, o agente pode ofender
vários interesses jurídicos ou repetidamente o mesmo interesse jurídico. Se a
tais ofensas corresponderem outros tantos juízos de censura, verificase o
concurso efectivo de crimes real ou ideal. Portanto, na definição de concurso
efectivo de crimes, não basta o elemento da pluralidade de bens jurídicos
violados; exigese a pluralidade de juízos de censura. Ora, o número de juízos
de censura determinase pelo número de decisões de vontade do agente: uma
M. Miguez Garcia. 2001
1089
só resolução, um só acto de vontade, é insusceptível de provocar vários juízos
de censura sem desrespeito do princípio ne bis in idem. Por isso, no concurso
ideal, sendo a acção exterior uma só, a manifestação da vontade do agente, quer
sob a forma de intenção quer de negligência, tem de ser plúrima: tantas
manifestações de vontade, tantos juízos de censura, tantos crimes. Leiase com
proveito, a este respeito, o acórdão do STJ de 17 de Dezembro de 1997, no
processo nº 1195/97.
No caso do autocarro, o atirar a pedra corresponde à unidade factual,
corresponde a uma só conduta, mas o artigo 293º só se aplica ao arremesso de
projéctil contra veículo "se pena mais grave lhe não couber por força de outra
disposição legal". Se o projéctil, ao atingir o veículo, causar danos ou ofensa à
integridade física, este artigo 293º recua, deixa de se aplicar por força da própria
lei (subsidiaridade expressa): o concurso —concurso de normas— é meramente
aparente. As normas aplicadas são as que punem as ofensas corporais e o dano:
concurso efectivo, na forma de concurso ideal heterogéneo — a acção é só uma,
mas é plúrima a manifestação de vontade de A, ao atirar a pedra "com ganas de
fazer estragos, quaisquer que eles fossem", e representando, inclusivamente, o
resultado irremediável que acabou por se verificar — é a vontade de provocar
danos no autocarro e a de atingir qualquer passageiro, ainda que do texto não
decorra a intenção homicida. Em resumo: uma acção, duas manifestações de
vontade, dois juízos de censura, dois crimes: um de dano, outro de ofensa à
integridade física.
No caso da ourivesaria: há vários actos de execução (o de ameaçar duas
pessoas com a arma, o de subtrair o dinheiro a um e o relógio ao outro...), mas o
critério continua a ser o da unidade ou pluralidade de tipos violados. A
subtraiu tanto o dinheiro como o relógio, utilizando um dos meios de coacção
previstos na norma incriminadora do roubo (artigo 210, nº 1), assim
neutralizando qualquer reacção eficaz do proprietário e do empregado. Ora, o
roubo é um crime complexo, na medida em que o seu autor viola não só um
bem jurídico de carácter patrimonial, mas também um bem jurídico
eminentemente pessoal, na parte em que se põe em causa a liberdade,
integridade física ou até a própria vida da pessoa do ofendido. O roubo, embora
se apresente juridicamente uno, integra na sua estrutura vários factos que
podem constituir, em si mesmos, outros crimes, conjugando a norma,
intimamente, a defesa da propriedade e a liberdade da pessoa. Essa estrutura
complexa faz recuar (novamente a fórmula do concurso de normas) a aplicação
dessas outras normas. O agente será punido pelo crime de roubo —que decidiu
cometer—, e que é mais grave do que os crimes que lhe serviram de meio.
M. Miguez Garcia. 2001
1090
Todavia, ao agente são imputáveis tantos crimes dessa espécie quantas as
pessoas ofendidas, pelo que será sempre necessário, para a determinação do
número de crimes de roubo efectivamente praticados, determinarse
previamente se, e em que medida, o crime contra as pessoas foi meio para
atingir o crimefim (furto). A violência exercida por A, mediante ameaça com a
pistola sobre a pessoa do dono da ourivesaria e sobre a pessoa do empregado
foi crimemeio em relação ao crimefim (furto), podendo concluirse que A
praticou, em concurso efectivo, dois crimes de roubo, não sendo subsumível à
figura do crime continuado a comissão de diversos crimes de roubo em que são
violados não só bens patrimoniais como bens eminentemente pessoais e em que
são ofendidas pessoas distintas.
• Recapitulando. O crime continuado. Medida da pena. Natureza do bem jurídico. A
figura do crime continuado nasce de uma pluralidade de resoluções criminosas que
individualmente contempladas podem ser catalogadas como infracções autónomas
mas que o artigo 30º, nº 2, encara como um único crime. A continuação criminosa é aí
tratada como uma unidade de infracções e tem o regime sancionatório (mais
favorável do que a situação do concurso real que doutro modo lhe corresponderia) do
artigo 79º. O crime continuado excluise quando se trata de bens eminentemente
pessoais, estando em causa mais do que uma vítima. Esta é outra regra que o
intérprete deverá ter sempre presente. A figura do crime continuado representa uma
excepção ao princípio segundo o qual a pluralidade de tipos violados determina a
pluralidade de crimes. Relativamente a bens eminentemente pessoais, a situação de
continuação só se verifica em casos excepcionais.
A mais disso, A inutilizou o relógio, estragandoo e fazendoo desaparecer
nas águas do rio. Alguns autores vêem nisso uma das expressões da consunção:
o dano do proprietário já foi ocasionado com a apropriação bem sucedida e não
se viola um novo bem jurídico com o facto posterior. Assim sendo, tratase de
outra manifestação de concurso aparente. A será punido por dois crimes de
roubo, em concurso efectivo.
Quanto ao que aconteceu no escritório, a detonação da granada bastou
para matar duas pessoas. Estamos novamente perante a unidade do facto. As
vítimas ficaram certamente feridas com a detonação da granada, mas a ofensa à
integridade física representa, relativamente ao homicídio, um estádio
intermédio: de novo o concurso aparente. A norma que pune a ofensa corporal
M. Miguez Garcia. 2001
1091
é afastada pelo desenvolvimento posterior da lesão da vida, submetendose a
situação à categoria da subsidiaridade. Mas se para além disso se puder
concluir que o dolo homicida de A abarcou também a pessoa da secretária, ao
menos como dolo eventual, então será caso de se afirmar outra vez o concurso
efectivo (concurso efectivo ideal), pois são dois os homicídios, na forma de
concurso ideal homogéneo.
Em resumo. Se o comportamento do agente viola vários tipos de crime,
podem distinguirse duas hipóteses: Na primeira, só se aplica um dos tipos
violados, ficando excluída a aplicação dos restantes. A concorrência é então
apenas aparente, imprópria ou impura: ao caso concreto aplicase a norma
primária e a correspondente sanção, ficando excluída a outra ou outras
disposições violadas. Ainda assim, chamaselhe correntemente concurso legal
ou concurso de normas. O artigo 30º, nº 1, não abrange esta forma de
"concurso", na medida em que ali se avalia "o número de crimes" pelo número
de tipos efectivamente cometidos, e "com esta noção de efectividade, tornase
claro que fica ressalvado o caso do concurso aparente" (Faria Costa). Na
segunda hipótese, as várias disposições que no caso se mostram violadas
devem ser aplicadas de forma paralela ou concorrente. É a situação de concurso
próprio ou puro, a que correntemente se chama concurso efectivo, genuíno ou
verdadeiro, previsto no artigo 30º, nº 1. Equiparamse aí os casos de concurso
ideal aos de concurso real. Por último, deve terse sempre presente a principal
questão de método: mostrandose violado mais do que um tipo de crime,
importa começar por perguntar se nos encontramos perante um concurso de
normas. Só quando se concluir que uma das disposições abstractamente
aplicáveis não faz recuar a outra ou outras é que surge a questão da aplicação
de todas ao caso concreto, por todas se encontrarem em relação de concurso
efectivo.
Outros exemplos de concurso efectivo:
• i) haverá concurso efectivo entre o homicídio negligente (artigo 137º) e a omissão de auxílio
(artigo 200º):
• ii) haverá concurso efectivo quando a duração da privação de movimentos (artigo 158º:
sequestro) ultrapassar o objectivo da subtracção com violência sobre a pessoa (artigo
210º: roubo);
• iii) haverá concurso efectivo quando a duração da privação de movimentos (artigo 158º:
sequestro/rapto) for desproporcionada ao objectivo da violação (artigo 164º:
M. Miguez Garcia. 2001
1092
violação). Por exemplo, comete um crime de sequestro o arguido que aprisionou a
ofendida na sua própria casa, durante cerca de uma hora, fechandoa à chave e
impedindoa, contra a sua vontade, de sair (ac. do STJ de 21 de Junho de 1995, BMJ
448152). E comete um crime de rapto o arguido que, sem conhecer a ofendida, de 11
anos, a leva no seu automóvel, com a promessa de a levar ao local que ela desejava, e,
no percurso para uma praia, não obstante os protestos e choros da ofendida, a retém
dentro do veículo durante hora e meia, e, para satisfazer as suas paixões lascivas (...)
(acórdão do STJ de 30 de Abril de 1997, CJ, V (1997), p. 189;
• iv) o artigo 143º (ofensa à integridade física simples) é norma subsidiária relativamente à
norma do artigo 164º (violação) mas apenas na medida em que o uso da violência
física não seja desproporcionado ao objectivo da violação. Se a valoração da ofensa
corporal como meio utilizado de execução do crime de violação esgotar a sua
apreciação jurídica, haverá somente o crime de violação, ac. do STJ de 8 de Maio de
1997, BMJ467275. Se ultrapassar a medida já considerada na punição da violação,
haverá concurso efectivo entre os dois crimes;
• v) haverá pluralidade de infracções se, a par da violação de domicílio, subsistirem outras
circunstâncias qualificativas do furto. Assim, verificase um concurso real de crimes
entre o crime de furto qualificado do artigo 297º, nº 2, h), do Código Penal de 1982, e
o crime de introdução em casa alheia do artigo 176º, nº 2, do mesmo Código, pois que
violam interesses ou valores distintos, protegidos pelas citadas normas
incriminadoras — o património e a reserva da vida privada (artigo 30º, nº 1, do
Código Penal). E não se dá a consunção da introdução em casa alheia pelo furto, em
virtude daquela constituir um facto que, no caso concreto, não faz parte integrante do
crime de furto, que já é qualificado por outra circunstância (duas pessoas): acórdão
do STJ de 1 de Abril de 1987, BMJ366256. Cf., no mesmo sentido, os acórdãos do STJ
de 11 de Maio de 1983, BMJ327427; de 10 de Outubro de 1984, BMJ340230; e de 25
de Junho de 1986, BMJ358292. No Código Penal de 1982 era punido com prisão de 1
a 10 anos quem cometesse o furto com o concurso de 2 ou mais pessoas (alínea h) do
M. Miguez Garcia. 2001
1093
nº 2 do artigo 297º. Na vigência do Código Penal de 1886, pronunciandose pelo
concurso de infracções, cf. Prof. Eduardo Correia, Direito Criminal II, p. 366.
• vi) a ratio do art. 200º é a preservação dos bens jurídicos vida, integridade física e liberdade
substanciais, mediante a imposição da prática da acção adequada a neutralizar a
respectiva situação de perigo. Daqui imporse a conclusão de que haverá um
concurso efectivo de crimes de omissão de auxílio, quando estiverem várias pessoas
em situação de perigo para um dos bens jurídicos tutelados pelo art. 200º (50)
• vii) o acórdão do STJ de 19 de Fevereiro de 1992, BMJ41473, fixou jurisprudência no
sentido de resolver segundo as regras do concurso efectivo os casos em que o
comportamento realiza as previsões da falsificação e da da burla — “são diversos e
autónomos, entre si, o bem jurídico violado pela burla e o bem jurídico protegido pela
falsificação (...), ou sejam, respectivamente, o património do burlado e a fé pública
dos documentos necessária à normalização das relações sociais” (51).
50
Assim, Prof. Taipa de Carvalho, Conimbricense, parte especial, I, p. 862. Cf., também,
por ex., Molina Fernández, in Bajo Fernández e outros, Compendio de Derecho Penal (Parte
Especial), vol. II, p. 176: "sendo várias as pessoas deixadas ao desamparo estaremos perante um
concurso de crimes, o qual será ideal se o socorro contemplar uma única actuação do omitente
e real se cada pessoa requer uma actuação própria. Do mesmo modo, parte da jurisprudência
entende que se verificam dois crimes, em concurso real, quando o arguido abandona
criminosamente duas pessoas sinistradas, uma vez que a vida humana e a integridade física
das pessoas aí protegidas são bens eminentemente pessoais (acórdão do STJ de 28 de Abril de
1994, cit. por Simas Santos — Leal Henriques, Jurisprudência Penal, p. 113). Mas a justificação
está longe de poder convencer.
51
Cf., a propósito, Miguel Pedrosa Machado, Nótula sobre a relação de concurso ideal
entre burla e falsificação, Direito e Justiça, vol. IX (1995), t. 1, p. 251. Valle Muñiz, in El
delito de estafa, p. 110, cita as palavras de Pacheco, El Código Penal concordado y
comentado, Madrid, 1881, tomo III, p. 350: "é muito comum que para preparar a burla
se cometam outros delitos — especialmente falsificações — mas neste caso estas
deverão ser castigadas com as penas correspondentes. Helena Moniz, Conimbricense,
parte especial II, p. 690, distingue conforme haja ou não unidade de resolução
criminosa: se o agente falsifica para burlar será caso de concurso aparente; se as
resoluções forem autónomas (uma de falsificar e uma posterior de burlar, por acaso
M. Miguez Garcia. 2001
1094
• viii) no crime preterintencional do artº 145º, nº 1, do Código Penal, o crime base, só por si já
punível, é doloso, e o resultado é imputado a título de negligência, do que resulta
uma punição substancialmente mais grave, em atenção à especial perigosidade
inerente à acção praticada que conduziu àquele resultado. Esta punição mais grave
não obsta, porém, a que o agente do respectivo crime cometa também em concurso
real o crime de omissão do dever de auxílio (acórdão do STJ de 7 de Março de 1990);
utilizando o anterior documento falsificado) será caso de concurso real. A
jurisprudência portuguesa anterior ao "assento" de 1992 aparece dividida; aplicando
apenas a norma que incrimina a burla, sustentando a existência de concurso aparente,
o acórdão do STJ de 24 de Fevereiro de 1988, BMJ387222; no domínio do Código
Penal de 1886, vejase, entre outros, o acórdão do STJ de 8 de Junho de 1955, BMJ49
200, com o entendimento de que a falsidade não tem punição autónoma (concurso
aparente), pois o falso documento, no seu todo, foi o meio fraudulento de que o réu
se serviu para convencer o assistente da existência de um projecto real, o que
constituiu um crime de burla. Posição semelhante foi retomada nos acórdãos do STJ
de 3 de Dezembro de 1998, processo nº 728/98, e de 13 de Maio de 1999, BMJ487216,
posteriores, portanto, à revisão de 1995 (Relator, Cons. Sá Nogueira, com votos de
vencido): porque o uso de artifício ou meio fraudulento exigido pela figura criminal da
burla, compreende a prática de uma falsificação — que em si mesma traduz o recurso
a um meio fraudulento — pese embora a redacção do art.º 217, n.º 1, do Código
actual, ser idêntica à do correspondente artigo do Código de 1982, deve regressarse
ao entendimento de que o crime de burla consome o crime de falsificação, quando
cometido através desta. Finalmente, o “Assento” nº 8/2000, de 4 de Maio de 2000,
publicado no DR., IA de 23 de Maio de 2000, veio confirmar o entendimento de que
no caso de a conduta do agente preencher as previsões de falsificação e de burla do
artigo 256º, nº 1, alínea a), e do artigo 217º, nº 1, respectivamente, do Código Penal,
revisto pelo DecretoLei nº 48/95, de 15 de Março, verificase concurso real ou
efectivo de crimes. Cf., mais recentemente, o acórdão do STJ de 27 de Junho de 2002,
CJ 2002, tomo II, p. 231.
M. Miguez Garcia. 2001
1095
• ix) no que respeita à questão do concurso entre o crime de incêndio (artigo 272º) e o de
dano (artigo 212º), já se defendeu, no Supremo, a tese da unidade criminosa
(concurso aparente): cf. o acórdão de 9 de Fevereiro de 1983, BMJ324432, onde se
concluiu que visando ambos (incêndio e dano) a protecção do mesmo interesse
jurídico, aquele, mais fortemente sancionador, exclui este. Do mesmo modo, * comete
um só crime, o do artº 253º, nº 1, o réu que lança voluntariamente fogo ao
compartimento de um prédio urbano, habitado por outros inquilinos, e não também
o crime de dano, por ser aquele preceito o que melhor protecção confere ao interesse
jurídico violado (acórdão do STJ de 10 de Julho de 1984, BMJ339251). Porém, no ac.
do STJ de 19 de Maio de 1993, BMJ427256, partese da natureza de crime de perigo
concreto para vários bens jurídicos do crime de incêndio (na altura o do artigo 253º)
para se concluir pelo concurso efectivo, se os bens danificados não foram os únicos
bens postos em perigo;
• x) o crime de uso de arma proibida (artigo 260º do Código Penal de 1982) concorre, em
concurso efectivo, com o de homicídio voluntário, uma vez que os interesses
protegidos são diversos, não se verificando consunção (acórdão do STJ de 5 de
Dezembro de 1990, Simas Santos Leal Henriques, Jurisprudência Penal, p. 106). O
crime de uso e porte de arma proibida consumase logo que o agente detém a arma;
em consequência, o crime de detenção de arma proibida não é consumido pela
punição do crime de ofensas corporais cometido com essa arma (acórdão do STJ de 13
de Abril de 1994, CJ, ano II (1994), tomo 1, p. 255). Mas, entre a detenção ou uso de
armas proibidas "fora das condições legais ou em contrário das prescrições da
autoridade competente" (art. 275, nº 2) e o homicídio qualificado (art. 132, nº 2, al, f ),
não nos parece adequado falar em concurso efectivo, pois a perigosidade geral do
meio já é tida em conta na contabilidade punitiva da última incriminação". Augusto
Silva Dias, Entre "Comes e bebes", RPCC 8 (1998), p. 545. Em idêntido sentido,
apontase Pinto de Albuquerque, Crimes de perigo comum, p. 280;
• xi) artigo 299º (associação criminosa): em princípio, representará pluralidade de infracções
(concurso efectivo) a concorrência entre o crime de organização (de associação
M. Miguez Garcia. 2001
1096
criminosa) e os crimes da organização (Prof. Figueiredo Dias, As "Associações
criminosas" no Código Penal Português de 1982 (arts. 287º e 288º), p. 73). Não viola o
princípio ne bis in idem, constante do nº 5 do artigo 29º da Constituição, a
interpretação das normas dos artigos 21º, 24º e 28º do DL nº 15/93, de 22 de Janeiro,
em termos de concluir que os crimes de tráfico ilícito de estupefacientes e de
associação criminosa se encontram numa relação de concurso real, por serem
diferentes os bens jurídicos tutelados por cada um desses normativos (acórdão do
Trib. Const. nº 102/99, de 10 de Fevereiro de 1999, publicado no DRII série de 1 de
Abril de 1999, e BMJ484119);
• xii) no processo da hemodiálise de Évora, o acórdão do STJ de 7 de Outubro de 1998, na
linha do que "tem decidido o Supremo Tribunal de Justiça", condenou o arguido por
um único crime de homicídio negligente. Na 1ª instância, perante uma pluralidade de
eventos mortais — oito —, o Colectivo decidirase pelo concurso efectivo de crimes.
Transcrevese a seguir o sumário do acórdão do Supremo (52). Sendo oito as mortes
verificadas (por negligência), estáse perante um concurso de crimes, já que por oito
vezes se encontra violado o mesmo dispositivo legal: art.º 136, nº 1, do CP de 1982 ou
artº 137, nº 1, do CP de 1995. Tendo as oito mortes resultado como consequência
necessária, directa e única da conduta negligente — omissão dos deveres de
fiscalização da qualidade da água tratada para diálise — do arguido, que se
prolongou de meados de 1992 a 22 de Março de 1993, verificase uma situação de
concurso ideal. Estandose perante uma negligência inconsciente — o arguido não
chegou a representar a possibilidade de morte dos insuficientes renais crónicos por
não proceder com o cuidado a que estava obrigado —, não havendo manifestação de
vontade de praticar actos ou omissões de que saísse tal resultado, não pode falarse
de falta de consciência de ilicitude ou em erro sobre a ilicitude. Na negligência
inconsciente a ilicitude está intimamente ligada tão só ao não proceder o agente com
o cuidado a que está obrigado;
52
O texto integral pode ser encontrado na Revista do Ministério Público, ano 19 (1998), nº
76 e ss., com anotação de Paulo Dá Mesquita. Cf., ainda, o texto parcial do mesmo acórdão em
CJ, ano VI (1998), tomo III, p. 183 e ss. Sobre os problemas do concurso no âmbito dos delitos
negligentes, Pedro Caeiro/Cláudia Santos, in RPCC 6 (1996).
M. Miguez Garcia. 2001
1097
• xiii) há acumulação de crimes — ensina o Prof. Dr. Cavaleiro de Ferreira, Lições, p. 625 — se
o gatuno consegue burlar terceira pessoa com o objecto do furto. Acórdão do STJ de
15 de Junho de 1955, BMJ49217;
• xiv) a realização plúrima do mesmo tipo de crime constitui um concurso de infracções, e
não um crime continuado, quando os vários crimes foram praticados na execução de
planos distintos em que o arguido interveio, e não por pressão das circunstâncias
exteriores que o levassem a um repetido sucumbir e a reiterar a sua acção delituosa.
Ac do STJ de 1 de Outubro de 1991, BMJ410268.
• xv) os crimes de peculato e de falsificação de documento encontramse numa relação de
concurso real. Acórdão do STJ de 18 de Janeiro de 2001, CJ 2001, tomo I, p. 218.
• xvi) o bem jurídico protegido com a punição do crime de condução perigosa de veículo
rodoviário do artigo 291º do CP é a segurança do tráfico rodoviário; verificase
concurso real dos crimes de condução perigosa de veículo rodoviário e de homicídio
por negligência, quando o arguido conduz com violação grosseira das regras de
circulação automóvel, resultando um perigo para a vida de outrem e, com essa
conduta, provoca a morte de outra pessoa. Ac. do STJ de 18 de Outubro de 2000, CJ
2000, tomo III, p. 207.
• xvii) ainda que consumados através da mesma acção, existe uma situação de concurso real
entre os crimes de passagem de moeda falsa e de burla. Acórdão do STJ de 14 de
Março de 2002, CJ 2002, tomo I, p. 229.
• xviii) o autor de um crime de tráfico de estupefacientes pode cometer, em concurso
efectivo com esse crime base também um crime de branqueamento de capitais,
obtidos em consequência daquela actividade. Acórdão do STJ de 29 de Junho de 2002,
CJ 2002, tomo II, p. 225.
• xix) os crimes de difamação agravada e de denúncia caluniosa não se encontram entre si
numa relação de especialidade, mas de concurso efectivo.
M. Miguez Garcia. 2001
1098
IV. O concurso legal, aparente ou impuro; desenvolvimentos.
Nalguns casos, parecerá, à primeira vista, que a subsunção de um facto
terá que ser feita em vários tipos de crime, mas uma valoração posterior
obrigará a aplicar somente uma das várias normas em presença, excluindo as
restantes. Em tais hipóteses entendese que a aplicação de um preceito criminal
abarca o comportamento ilícito na sua totalidade: a infracção mais gravosa
esgota o desvalor contido na infracção mais leve. Se no caso nº 30 fizéssemos
convergir os efeitos de todas as normas da parte especial do Código aplicáveis
resultaria uma múltipla e repetida valoração da mesma situação concreta. Os
penalistas socorremse do instituto a que se deu o nome de concurso aparente
—legal ou concurso de normas— para em último termo evitar a repetição
insustentável da sanção. O fundamento do concurso aparente reside assim no
princípio ne bis in idem: "os tipos em conflito cobrem, todos eles, total ou
parcialmente, um mesmo segmento da realidade desvalorada" (Gimbernat,
Ensayos penales, 1999, p. 382).
A jurisprudência portuguesa faz passar a distinção entre o concurso
efectivo e o concurso aparente pelo critério da identidade ou diferença dos bens
jurídicos — observa Augusto Silva Dias, Entre "comes e bebes", RPCC 9 (1999),
p. 84, referindo como paradigma desta orientação o assento de 19 de Fevereiro
de 1992, onde se faz apelo, para se apurar a distinção entre unidade e
pluralidade de crimes, à protecção do mesmo interesse ou de interesses
diversos.
Já se viu que o concurso legal foge às autênticas malhas do concurso de
crimes. Há quem por isso o situe em sede de interpretação, negandolhe
inclusão sistemática na unidade e pluralidade de acções (cf., por ex., Rodriguez
Devesa, p. 194; e Juan Bustos Ramírez, p. 92). Também quanto à sistematização,
ao número e à designação das formas aparentes não há unanimidade entre os
autores, e nem todos estão sequer de acordo quando se trata de integrar os
casos concretos num dos diversos grupos que vamos descrever a seguir, a
especialidade, a subsidiaridade e a consunção. Pretendendo ressalvar o caso do
concurso aparente já no Projecto se continha o termo "efectivamente", que veio a
ser transposto para o artigo 30º, nº 1, do Código, mas não se julgou oportuno
explicitar na lei regras como a consunção e a especialidade, por serem simples
regras doutrinais ou de interpretação do tipo legal de crime (Acta da 13ª
sessão). Na mesma linha, o projecto alemão de 1962 renunciava a dar directrizes
precisas para o tratamento do concurso de normas, deixandoas para a praxis
jurídica, consciente da riqueza e da multiplicidade das relações que a vida nos
pode oferecer. As várias categorias do concurso de normas têm mais valor
M. Miguez Garcia. 2001
1099
classificatório do que prático. Falta aqui uma regra geral, pelo que são
especialmente numerosas as questões duvidosas e discutíveis (Stratenwerth).
• Escrevese no acórdão do STJ de 18 de Novembro de 1994, in Simas Santos Leal
Henriques, Jurisprudência Penal, p. 97: O concurso aparente pressupõe que sobre a
mesma situação possa convergir mais do que uma norma, verificandose entre elas
uma relação de especialidade, de subsidiaridade ou de consunção. Uma delas
prevalecerá então sobre a outra, só formalmente aplicável, e excluilaá.
• Recentemente, o Código Penal espanhol (de 1995) passou a dispor, no artigo 8º, que "los
hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este
Código, y no comprendidos en los artículos 73º a 77º, se castigarán observando las
siguientes reglas:
• 1.ª El precepto especial se aplicará con preferencia al general.
• 2.ª El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare
expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible.
• 3.ª El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones
consumidas en aquél.
• 4.ª En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que
castiguen el hecho con pena menor."
Vejamos então, com mais pormenor, as diversas formas do concurso legal.
1. Existe relação de especialidade quando uma norma penal se nos
apresenta com todos os elementos de uma outra, distinguindose desta
unicamente por conter pelo menos um elemento adicional que abarca a situação
concreta a partir duma perspectiva especial (Jescheck, AT, p. 666). Dito doutra
maneira: é o caso duma lei (a lex specialis) que contém todos os pressupostos
típicos duma outra (a lex generalis) e, para além destes, pelo menos mais uma
característica específica (cf., por ex., Samson, SK, nº de margem 60 antes do § 52)
que a especializa. Ambos os tipos são abstractamente aplicáveis, mas como na
sua aplicação a norma especial derroga a norma geral (é a velha regra de
direito: lex specialis derogat legi generali) só um deles, o que contém elementos
especializadores, se aplica à situação concreta. Rodriguez Devesa explica que,
M. Miguez Garcia. 2001
1100
sendo a+b os elementos da lei geral e a+b+e os da lei especial, resulta ser e o
elemento especializador. Assim se compreende que, neste contexto, o
intérprete não tenha que olhar aos comportamentos que se lhe apresentam, mas
somente aos preceitos abstractamente aplicáveis, sendo indiferente a natureza
— privilegiante ou, conforme os casos, qualificante — do elemento típico
especializador: há sempre especialidade — diz Jescheck — na relação entre o
tipo fundamental (Grundtatbestand) e as suas variantes (Abwandlungen)
qualificadas ou privilegiadas.
• Exemplo da praxis jurisprudencial: O arguido destruiu a fechadura da porta de entrada de
uma residência e do interior desta retirou diversos bens, ficando preenchida a
previsão do artigo 204º, nº 1, alínea f), do Código Penal, e igualmente a da alínea e) do
nº 2 do mesmo artigo. Para o Supremo, na situação descrita as normas concorrentes
apresentamse numa relação de especialidade — a punição de uma engloba a da
outra e a matéria de facto é subsumível a ambas as normas — prevalecendo a
qualificação do crime punido com a pena mais grave sobre o da punição mais leve.
Cf. o acórdão do STJ de 15 de Dezembro de 1998, proc. nº 1005/98.
Outros exemplos:
• i) o artigo 134º (homicídio a pedido da vítima) é norma especial relativamente à norma do
artigo 131º (homicídio);
• ii) o artigo 144º (ofensa à integridade física grave) é norma especial relativamente à norma
do artigo 143º (ofensa à integridade física simples);
• iii) o artigo 152º, nº 1, a) (maus tratos físicos ou psíquicos ou tratamento cruel) é norma
especial relativamente à norma do artigo 143º (ofensa à integridade física simples);
• iv) o artigo 160º (rapto) é norma especial relativamente à norma do artigo 158º (sequestro);
• v) o artigo 163º, nº 1 (coacção sexual) é norma especial relativamente à norma do artigo
154º (coacção);
• vi) o artigo 163º, nº 2 (coacção sexual) é norma especial relativamente à norma do artigo
153º (ameaça);
M. Miguez Garcia. 2001
1101
• vii) o artigo 164º (violação) é norma especial relativamente à norma do artigo 163º (coacção
sexual);
• viii) o artigo 223º (extorsão) é norma especial relativamente à norma do artigo 153º
(ameaça) e do artigo 154º (coacção);
• ix) o artigo 225º (abuso de cartão de garantia ou de crédito) é norma especial relativamente
à norma do artigo 217º (burla);
• x) o artigo 242º (destruição de monumentos) é norma especial relativamente à norma do
artigo 212º (dano);
• xi) o artigo 259º (danificação ou subtracção de documentos) é norma especial relativamente
à norma do artigo 203º (furto) e do artigo 212º (dano);
• xii) o artigo 278º (danos contra a natureza) é norma especial relativamente à norma do
artigo 212º (dano).
Alguns autores apresentam a ideia da exclusão como o contraponto da
especialidade (assim, Jescheck, AT, p. 667). Será o caso do furto e do abuso de
confiança, entre os quais intercedem relações de heterogeneidade: a mesma
conduta não pode preencher ao mesmo tempo os dois indicados tipos de ilícito.
Os tipos dos artigos 210º (roubo) e 223º (extorsão) e os dos artigos 203º (furto) e
205º (abuso de confiança) têm formas de execução diferentes, são tipos
heterogéneos, excluindose reciprocamente — não poderá haver furto se a coisa
(alheia) foi entregue ao agente, não poderá haver abuso de confiança quando a
coisa (alheia) tiver sido subtraída pelo agente. Havendo concurso, será sempre
concurso real.
2. A subsidiaridade expressa ou formal é fácil de reconhecer quando se
atende às relações que entre certos preceitos se estabelecem pelo facto de uns
condicionarem expressamente a sua eficácia à não aplicação de outro ou outros.
Já vimos que o lançamento de projéctil contra veículo é punido com pena de
prisão até 6 meses ou com pena de multa até 60 dias, se pena mais grave lhe não
couber por força de outra disposição legal. O preceito do artigo 293º é subsidiário se
o projéctil atingir o veículo e dolosamente aí causar danos ou lesões corporais
num passageiro: as disposições aplicáveis passam a ser as que previnem o dano
ou sancionam os atentados à integridade física, com exclusão daquela outra
infracção.
M. Miguez Garcia. 2001
1102
Outros exemplos:
• i) artigo 150º, nº 2 (intervenções e tratamentos médicocirúrgicos);
• ii) artigo 208º. nº 1 (furto de uso de veículo);
• iii) artigo 215º, nº 1 (usurpação de coisa imóvel);
• iv) artigo 292º (condução de veículo em estado de embriaguez);
• v) artigo 297º, nº 1 (instigação pública a um crime);
• vi) artigo 298º, nº 1 (apologia pública de um crime);
• vii) artigo 302º, nº 1 (participação em motim);
• viii) artigo 355º (descaminho ou destruição de objectos colocados sob o poder público);
• ix) artigo 375º, nºs 1 e 3 (peculato);
• x) artigo 379º, nºs 1 e 2 (concussão);
• xi) artigo 382º (abuso de poder).
Em casos destes, as diversas normas têm uma direcção de protecção
idêntica ou semelhante, a qual preside também às constelações de casos
conhecidos como de subsidiaridade tácita ou material, derivada exclusivamente
da sistematização legal. Atendese então a uma certa relação lógica entre os
preceitos criminais, aos fins que os determinam ou aos elos que os suportam,
podendo falarse de subsidiaridade quando as normas descrevem diferentes
estádios ofensivos de um mesmo bem jurídico. Assim, se uma norma descreve a
colocação em perigo e a outra inclui nos seus pressupostos típicos a lesão de um
determinado bem jurídico, de tal forma que um concreto comportamento caia
no âmbito de aplicação de ambas, será caso de subsidiaridade — são diferentes
as formas de ataque do bem jurídico, num caso menos intenso, no outro mais
intenso. (K. Kühl, AT, p. 732; Samson, SK, nº de margem 68 antes do § 52)
Os actos preparatórios puníveis representam, relativamente à
correspondente tentativa punível (e esta em relação à correspondente infracção
consumada), uma forma de desenvolvimento desigual do mesmo ataque
delitivo, sendo a primeira a forma menos grave. Havendo identidade de dolo, a
M. Miguez Garcia. 2001
1103
forma preparatória excluise e aplicase a forma tentada ou a consumada,
conforme os casos. A cumplicidade é a forma mais leve de comparticipação,
portanto subsidiária quando concorre com a forma de protecção mais intensa
que é a instigação. Quando, noutro exemplo, duas normas se dirigem à
protecção do mesmo bem jurídico, a forma mais enérgica de protecção (por ex.,
a dolosa) faz recuar a menos enérgica (por ex., a negligente).
• Quem por inadvertência incendeia a habitação onde mora será punido unicamente por
crime de incêndio doloso se, depois de ter descoberto as chamas, não trata de as
extinguir a tempo de evitar pôr em perigo a vida de outrem.
• A jantou com os amigos e aproveitou para beber do seu vinho tinto preferido. Sabe que no
estado em que se encontra lhe é absolutamente vedado conduzir, mas mesmo assim
arriscase a seguir para casa ao volante do seu automóvel porque já são duas da
manhã e a mulher não lhe costuma perdoar tais atrasos. Numa passagem para peões
A não consegue travar e atropela B, na altura em que este se encontrava a um metro
de completar a travessia. A apercebese que B sofreu lesões graves e que perde muito
sangue, mas, como não quer ficar sem a carta, como inevitavelmente acontecerá se a
polícia o mandar soprar no balão, ausentase do local com a consciência de que o
homem vai morrer se não for conduzido ao hospital de imediato. B acaba por morrer
nessa mesma noite.
Nestes dois exemplos, as formas dolosa e negligente envolvemse no
mesmo objecto de protecção (outra pessoa, uma pessoa), de maneira que não
surgem particulares dificuldades na afirmação da subsidiaridade.
As coisas serão menos nítidas quando se trata de bens jurídicos que não
coincidem inteiramente. Em geral, o crime de perigo é afastado pelo
correspondente crime de dano ou de lesão efectiva, como no caso da exposição
ou abandono (artigo 138º) face ao homicídio do artigo 131º. Adverte, porém, o
Prof. Figueiredo Dias, que só assim será na medida em que o perigo não
ultrapasse o concreto dano verificado, como muitas vezes sucederá com os
chamados "crimes de perigo comum".
• Pôr fogo a uma coisa pode integrar, concomitantemente, o crime de dano [artigo 309º, nº 1,
do CP82] e o de perigo comum [artigo 253º, nº 1, do CP82]. Neste caso, as regras
M. Miguez Garcia. 2001
1104
deste excluem as daquele, por mais fortemente sancionadoras da violação do mesmo
bem jurídico. Acórdão do STJ de 9 de Fevereiro de 1983, BMJ324432.
• Do mesmo modo, quase todos estão de acordo em que a norma do artigo 200º cede
relativamente à do homicídio cometido por omissão (artigos 10º, nºs 1 a 3, e 131º).
Falase até da sua função de reserva (Seier, Jura 1983, p. 223). A omissão de auxílio só
entra em questão onde não exista um dever de garante do agente pela não verificação
de um resultado típico. A interpretação do artigo 10º do Código Penal deve fazerse
em si mesma e por si mesma, independentemente da interpretação que se faça do
artigo 200º. E se deste modo os âmbitos dos dois preceitos em alguma área se
cobrirem, deve aí darse decidida prevalência ao artigo 10º sobre o artigo 200º (cf.
Figueiredo Dias; e Wessels; também Haft, AT, p. 266, aludindo à circunstância de se
tratar de bens jurídicos que não são inteiramente idênticos). Certos estádios
intermédios, por ex., as ofensas corporais (consumadas) relativamente ao estádio de
desenvolvimento posterior da lesão da vida, que é o homicídio (consumado), cabem
também na categoria da subsidiaridade. A ofensa à integridade física significa um
prejuízo menos intenso do que a perda da vida.
Outros exemplos:
• i) o artigo 148º (ofensa à integridade física por negligência) é norma subsidiária
relativamente à norma do artigo 143º (ofensa à integridade física simples);
• ii) o artigo 158º (sequestro) é norma subsidiária relativamente à norma do artigo 210º
(roubo) quando a duração da privação de movimentos não ultrapassar o objectivo da
subtracção com violência sobre a pessoa;
• iii) o artigo 158º (sequestro) é norma subsidiária relativamente à norma do artigo 164º
(violação) sempre que a duração da privação de movimentos não seja
desproporcionada ao objectivo da violação;
• iv) o artigo 143º (ofensa à integridade física simples) é norma subsidiária relativamente à
norma do artigo 164º (violação) mas apenas na medida em que o uso da violência
física não seja desproporcionado ao objectivo da violação.
M. Miguez Garcia. 2001
1105
Fará sentido falar de relação de subsidiaridade entre tentativa de um
crime e a sua consumação? Os arguidos ainda estavam a fazer o carregamento
dos materiais quando chegou a polícia. A situação é seguramente de furto
consumado em relação aos objectos já carregados. No mais, o plano criminoso
dos arguidos, que não foi completado, não passou da tentativa. No final, com
todos os objectos que subtraíram, os arguidos cometeram um crime de furto
consumado, independentemente do fim subjectivo que tinham de levar mais
objectos. Portanto, consumado um crime de furto, com a subtracção de
materiais nos termos expostos, não mais se pode falar de tentativa desse mesmo
crime. De tentativa só pode falarse se justamente a consumação do crime não
chegou a ter lugar. Acórdão do STJ de 14 de Abril de 1993, BMJ426180. Cf.
também Faria Costa, Conimbricense II, p. 52.
3. Como modalidade da consunção, alguns autores alinham em primeiro
lugar as constelações de factos acompanhantes (facto típico acompanhante de
outros delitos). Nestes casos, não chega a suceder, como na especialidade, que o
acto realiza necessariamente a descrição típica de vários preceitos: o que acontece
é que normalmente a realização de um facto típico arrasta consigo a de outro, de
tal forma que o legislador, ao estabelecer uma norma penal qualificada, já terá
levado em conta a circunstância de que o facto costuma aparecer associado a
outro com um conteúdo de ilícito essencialmente menor, como acontecerá
quando um gatuno entra numa moradia por arrombamento. (Cf. Santiago Mir
Puig, p. 740; e Jescheck, AT, p. 669). A realização do furto qualificado em
habitação vai normalmente acompanhada da penetração por arrombamento
(facto típico acompanhante). Para encontrar a moldura penal do furto assim
sobrequalificado (artigo 204ª, nº 2, e): pena de prisão de 2 a 8 anos) o legislador
atendeu ao conjunto delitivo que supõe a subtracção, a violação de domicílio e o
dano, de forma que a aplicação concreta da norma que prevê o crime menos
grave deve considerarse excluída, de acordo com o princípio "lex consumens
derogat legi consuntae".
Mas já assim não será se, por força do nº 4 do artigo 204º, não houver lugar
à qualificação do furto. Em casos destes, a infracção pelo dano ganhará
autonomia: hipótese de concurso efectivo, proposta pelo Prof. Costa Andrade,
referindo opinião coincidente dos autores alemães que cita.
• A utilização de um automóvel sem autorização (artigo 208º, nº 1) vai geralmente
acompanhada da apropriação da gasolina do depósito, facto que, por direitas contas,
se dissolve no desvalor do furto do uso da viatura. Outro exemplo sugestivo (cf.
Geppert, p. 426) é o da violação de correspondência: para abrir uma carta fechada, ou
M. Miguez Garcia. 2001
1106
uma encomenda, que lhe não seja dirigida, o agente, por via de regra, produz
estragos em coisa alheia (artigos 194º, nº 1, e 212º, nº 1), mas se o fizer para tomar
conhecimento do conteúdo da carta o sujeito indiscreto será unicamente sancionado
pelo atentado à privacidade (artigo 194º, nº 1: facto principal), que só pode ser
realizado produzindo danos no envelope, i. é, mediante a realização do facto
acompanhante.
• Caso paralelo: o da falsificação material por rasura ou por um processo semelhante que
implique um dano no suporte documental. O artigo 256º, nº 1, a), consome a norma
do artigo 212º, nº 1.
Uma boa parte dos casos práticos envolve o dano produzido, por ex.,
quando da violação de domicílio. Se o crime for cometido por meio de
arrombamento, a previsão é a qualificada do nº 3 do artigo 190º, mas pode
acontecer que o intruso produza apenas uns riscos nas portas ou paredes
(exemplo do Prof. Costa Andrade, Conimbricense II, p. 234), sem que se possa
falar em arrombamento, o dano será então facto típico acompanhante do crime
contra a reserva da vida privada. Jescheck adverte, porém, que não se deve ter
como consumido o dano quando o ladrão aniquila algo particularmente
valioso, por ex., uma janela da igreja, para aí poder cometer um furto. Com
efeito, a infracção acessória distanciase do que é corrente e apresentase com
um conteúdo de ilícito próprio.
Como os autores frequentemente advertem, lançamos mão do princípio da
consunção quando não existe uma modalidade mais específica para solucionar
o concurso de leis, de forma que, nos trabalhos práticos, o método que se
recomenda é o seguinte: primeiro analisamos a questão sob o ponto de vista da
especilidade; se esta não for aplicável, procuramos fazêlo dentro da
subsidiaridade; por último, abordamos o assunto na perspectiva da consunção.
Cf., por ex., Geppert, p. 425, e Mir Puig, p. 740.
• Tem razão Rodriguez Devesa quando escreve (p. 209): Nunca vi nenhuma sentença que
condenasse por homicídio e ao mesmo tempo pelos danos causados na roupa pelo
disparo que provocou a morte ou pela facada que provocou feridas mortais na
vítima. A pena do homicídio já engloba o desvalor da utilização dos meios escolhidos
para dar a morte. Reparese, por outro lado, que na relação de consunção estamos
perante condutas heterogéneas: são diferentes os bens jurídicos protegidos no
M. Miguez Garcia. 2001
1107
homicídio e no dano, num é a vida, no outro a propriedade. Nas relações de
especialidade e de subsidiaridade tratase em todos os casos dos mesmos bens
jurídicos. São relações que se estabelecem em abstracto. A relação de consunção, pelo
contrário, depende de características concretas.
No que toca ao âmbito e aos pressupostos do facto posterior não punível
(facto posterior copunido): como escreve Jescheck (AT, p. 669; cf., também,
Geppert, p. 428; Prof. Eduardo Correia, Unidade e Pluralidade, p. 142), a acção
típica que se segue ao crime e que tem unicamente em vista assegurar,
aproveitar ou garantir a vantagem conseguida com o primeiro acto, é
consumida: i) quando se não viola qualquer outro bem jurídico e ii) o dano não
se amplia quantitativamente para lá do já ocasionado. Neste caso, a relação
típica entre a infracção primária e o acto posterior que com ela concorre consiste
em que, regra geral, o agente tem que realizar também a acção posterior caso
pretenda que o facto principal tenha para si algum sentido. Por isso, a
apropriação da coisa furtada por parte do ladrão não constitui uma apropriação
indevida (abuso de confiança) que deva ser vista autonomamente. Com esta
solução pretendese evitar que o mesmo ilícito seja sancionado duas vezes.
Aceite geralmente como acto posterior não punido é o caso do ladrão que
queima a coisa que furtara, quando chega à conclusão que afinal não lhe serve
para o que pretendia. Do mesmo modo, se alguém furta uma bicicleta e mais
tarde, para afastar de si as suspeitas de furto, a deita ao rio, fazendo com que aí
desapareça, não se poderá falar de um concurso efectivo de crime de furto e de
dano: o prejuízo objectivamente causado não aumenta para além do já
ocasionado pelo furto e o conteúdo criminal do dano achase já consumido pela
punição do furto.
É claro que nestas situações também há quem defenda o concurso real
entre furto e dano. Se o ladrão atira a bicicleta para o rio, amplia com isso o
dano do proprietário, acentuam alguns autores. O Prof. Eduardo Correia, p.
143, admite o concurso aparente pelo menos quando a intenção de apropriação
que presidiu à subtracção do objecto corresponde à vontade de alcançar sobre
ele todos os poderes, como se proprietário fosse, e, portanto, também o poder
de o destruir, danificar. etc. No sentido do concurso aparente (furto seguido da
destruição da coisa), pode verse o acórdão do STJ de 14 de Abril de 1999, BMJ
486126, que se ocupou do dano do rádio dum táxi furtado e faz considerações
sobre a redacção da norma do artigo 212º, nº 1, onde se aditou a expressão "no
todo ou em parte", e o acórdão do STJ de 1 de Março de 1995: há que relacionar
a destruição da viatura com o anterior furto dela, pois os dois crimes respeitam
M. Miguez Garcia. 2001
1108
ao mesmo interesse jurídico nuclear, como delitos contra a propriedade alheia,
nessa medida havendo consunção entre ambos. A intenção do agente de se
apropriar da coisa que é objecto de furto já abrange a sua posterior destruição,
pois esta cabe nos poderes do proprietário. E a regra "ne bis in idem" obsta que
se trate a destruição de coisa anteriormente subtraída como crime distinto e
independente do furto dela. Impõese, sim, a aplicação da pena relativa ao mais
grave e abrangente dos dois crimes.
Do que não há dúvida é que se alguém furta um quadro valioso, não
comete depois um crime de apropriação indevida (i. é, de abuso de confiança:
artigo 205º, nº 1) quando o vende a terceiro de boa fé, ainda que esta venda
possa integrar, em concurso real, um crime de burla (artigo 217º, nº 1), por
resultar afectado o património deste outro portador do bem jurídico que é
simultaneamente enganado pela actuação de quem se lhe apresenta como
proprietário do quadro. É a orientação de há muito dominante. Cf., no domínio
do Código Penal de 1886, o acórdão do STJ de 15 de Junho de 1955, BMJ49213:
"o ladrão que, fingindose senhor da coisa furtada, a vende a outrem comete,
além do furto, o crime de burla". Por vezes é a própria previsão legal que se
antecipa ao juízo de consunção, como na alínea c) do nº 1 do artigo 256º que se
restringe ao uso de documento falsificado ou fabricado por outra pessoa. Quem
usar documento que ele próprio falsificou é punido apenas pela falsificação, já
não pelo uso. A lei limitase a consagrar o que resultaria da aplicação das regras
gerais. Sendo a falsificação um crime de perigo abstracto, ela antecipa a punição
relativamente ao uso que o próprio agente, concretizando o perigo, venha a
fazer do objecto da primeira acção. Noutro exemplo, se ao furto se segue a
venda da coisa furtada pelo próprio autor da subtracção dela, não será o ladrão
instigador de uma posterior receptação dolosa (artigo 231º, nº 1) do produto do
furto: para que o crime de receptação exista é necessário que o agente do facto
prévio seja pessoa diversa do receptador — na expressão legal, objecto da
receptação é a coisa que foi obtida "por outrem" mediante facto ilícito típico
contra o património.
• Exemplo dum acto anterior não punido: A, a quem foram confiadas as chaves de uma
viatura, apropriase delas por forma ilegítima. Mais tarde, servese das chaves para
furtar o carro quando este se encontrava na garagem do seu proprietário. Os actos
anteriores não puníveis têm um significado prático pouco acentuado. Assim, por ex.,
Blei, Strafrecht I. AT, 1983, p. 361, que refere os actos preparatórios e a tentativa nas
suas relações com o crime consumado que na maior parte das vezes são tratados
M. Miguez Garcia. 2001
1109
como casos de subsidiaridade. No nosso exemplo, a apropriação ilegítima das chaves
aparece, no conjunto dos factos, com as características de um acto preparatório e num
estádio intermédio do ilícito; na medida em que se dirige ao mesmo objecto da acção
não deve ser punido autonomamente, já que o peso decisivo radica no furto da
viatura.
Entre nós fez carreira a noção de consunção impura. O Prof. Eduardo
Correia aponta o exemplo de Binding em que a lei descreve um tipo de crime
que só se distingue de outro por uma circunstância tal que apenas se pode
admitir têla querido o legislador como circunstância qualificativa agravante —
verificandose todavia que a pena para ele cominada é inferior à do tipo
fundamental. Nas relações entre a violação e a coacção sexual podem verificar
se casos que encaixam na consunção impura assim definida. Se A decidiu
violar B, mantendo com ela relações sexuais de cópula, e tudo faz nesse sentido,
empregando inclusivamente a força, sem que, contudo, chegue a haver
penetração peniana por circunstâncias alheias à vontade de A, o
comportamento proibido preenche ao mesmo tempo o ilícito do artigo 163º, nº 1
(crime de coacção sexual consumada) e o dos artigos 22º, nºs 1 e 2, 23º, nºs 1 e 2,
73º, nº 1, a) e b), e 264º, nº 1 (tentativa de violação). A aplicação de ambas as
normas equivaleria a sancionar duplamente a mesma situação concreta. Qual
das duas deverá então ceder, excluindose a sua aplicação ao caso? A coacção
sexual é punida com pena de prisão de 1 a 8 anos; para a tentativa de violação, a
lei oferece a moldura penal de prisão de 7 meses e 6 dias a 6 anos e 8 meses. A
moldura do crime tentado é inferior à do tipo fundamental que é a coacção
sexual, de forma que o agente deverá ser punido "pela coacção sexual
consumada" (assim, a opinião do Prof. Figueiredo Dias, Conimbricense, PE, tomo
I, p. 474). A noção de consunção impura aplicaa o Prof. Eduardo Correia a
casos de interferência, que na nossa exposição caem no conceito de
subsidiaridade (cf., supra, as relações que medeiam entre o furto e o roubo). E
justificaa como a válvula de segurança de todo o sistema de concurso aparente,
atenta a necessidade de atender a casoslimite "que a construção naturalística do
concurso só arbitrariamente considera" (Direito Criminal, II, p. 207)
Outros casos de concurso aparente:
• i) o homicídio doloso (artigo 131º) afasta a punição por homicídio por negligência (artigo
137º):
• ii) o homicídio doloso (artigo 131º) afasta a exposição ou abandono (artigo 138º);
M. Miguez Garcia. 2001
1110
• iii) o infanticídio (artigo 136º) afasta a exposição ou abandono (artigo 138º);
• iv) a ofensa corporal agravada pelo resultado morte (artigos 18º e 145º) afasta a punição do
homicídio por negligência (artigo 137º);
• v) o homicídio tentado (artigos 22º, nºs 1 e 2, 23º, nºs 1 e 2, e 131º) afasta a punição das
ofensas à integridade física provocadas pelo agente que actua com intenção de matar
(artigo 143º);
• vi) a punição do homicídio doloso (artigo 131º) abrange a omissão de auxílio (artigo 200º)
imputável a quem actuou com intenção de matar;
• vii) o ilícito do artigo 143º (ofensa à integridade física simples) é tipo de recolha ou de
intercepção, actuando por via residual, relativamente aos demais tipos dolosos de
ofensa à integridade física (artigos 144º, 146º, 147º);
• viii) as ofensas corporais graves (artigo 144º) afastam a punição pelo crime de maus tratos
do artigo 152º;
• ix) a punição do agente pelo crime de violação de domicílio qualificado nos termos do
artigo 190º, nº 3, consome o crime de dano. Cf. a anotação do Prof. Costa Andrade,
Conimbricense, parte especial, I, p. 713, que refere, no mesmo sentido, o acórdão do
STJ de 21 de Julho de 1987, BMJ369317.
• x) o autor de um crime de ofensas corporais voluntárias não comete o crime de omissão de
auxílio (artigo 219º do Código Penal de 1982) se, em seguida, deixar de prestar ao
ofendido o auxílio que se mostre necessário para afastar o perigo em que se
encontrem a sua vida, saúde ou integridade física (acórdão do STJ de 8 de Julho de
1987, BMJ369614);
• xi) existe uma relação de consunção entre os crimes de burla e de apropriação ilegítima de
bens do sector cooperativo, já que este último contém a protecção do mesmo interesse
jurídico que o crime de burla, mas mais valorado e daí que se lhe sobreponha,
consumindoo. Ac. do STJ de 11021998 Processo n.º 1191/97 3.ª Secção;
M. Miguez Garcia. 2001
1111
• xii) é punido unicamente como homicida (artigo 131º) quem, para ocultar o seu crime,
oculta o cadáver da sua vítima, não concorrendo no caso a sanção pelo crime de
profanação de cadáver do artigo 254º, nº 1, a) (53)
V. Efeitos do concurso efectivo; regras da punição; artigo 77º, nºs 1 e 2;
concurso de penas; conhecimento superveniente do concurso: artigo 78º;
sucessão de crimes e sucessão de penas; reincidência.
A sentença condenatória indica a pena correspondente a cada crime. A
pena do concurso é uma pena única, a que o juiz chega pela consideração da
"moldura penal do concurso" que tem como limite máximo a soma das penas
concretamente aplicadas aos vários crimes (não podendo ultrapassar 25 anos
tratandose de pena de prisão e 900 dias tratandose de pena de multa) e como
limite mínimo a mais elevada das penas concretamente aplicadas aos vários
crimes. Na determinação concreta da pena correspondente ao concurso de
infracções são considerados em conjunto os factos e a personalidade do agente.
Com efeito, a determinação da pena do concurso, segundo o que se dispõe nos
artigos 77º e 78º do Código Penal, comporta duas fases distintas, servidas por
critérios diferentes. Na primeira, o tribunal determina cada uma das penas
parcelares concretamente correspondentes a cada crime, utilizando
relativamente a cada um deles os critérios estabelecidos no artigo 71º do Código
Penal. Na segunda fase cabe então fixar a pena única, na medida da qual a lei
estabelece que se considerem, em conjunto, os factos e a personalidade do
agente — artigo 77º, n.º 1, cit., — tendo igualmente em conta as exigências
gerais da culpa e da prevenção — artigo 71º, n.º 1, do mesmo Código — bem
como os factores mencionados no nº 2 do mesmo artigo, referidos agora à
globalidade dos crimes.
Frequentemente, os não iniciados sentem dificuldades na aplicação dos
artigos 77º e 78º (conhecimento superveniente do concurso).
53
São relativamente frequentes os casos de homicídio acompanhado da ocultação ou
destruição do cadáver. No acórdão do STJ de 8 de Junho de 1955, BMJ49208, um tal Rafael
dos Anjos Cristão, ao ver passar José Pimentel "Pé de Cão", na suposição de que ele andava a
requestar a sua mulher, descarregoulhe repetidas e violentíssimas pancadas, matandoo, como
era sua intenção. O Cristão comunicou depois o facto a um seu cunhado e ambos levaram o
cadáver do "Pé de Cão" para o meio de uma seara de centeio, onde o deixaram ficar. Discutiu
se no processo se havia, por banda do cunhado, encobrimento (cf., agora, o artigo 367º) ou
ocultação de cadáver.
M. Miguez Garcia. 2001
1112
Os casos de concurso de penas aparecem quase exclusivamente ligados à
pequena e média criminalidade, configurandose numa série de delitos que se
estendem por curtos períodos de tempo. Como os processos são demorados,
pode acontecer que o Ministério Público acabe por dirigir uma única acusação
contra o mesmo sujeito pelos factos que integram essa série de crimes — o juiz
irá depois apreciálos na sentença e, sendo caso disso, aplicará uma pena a cada
crime; por fim, a sentença encontrará a pena única, em obediência às regras do
concurso. O mesmo pode vir a darse por força das regras da conexão (artigos
24º e ss. do Código de Processo Penal): juntamse os diversos processos contra o
mesmo sujeito, cada um com a sua acusação, e todos são julgados como se fosse
um único processo. Num caso como no outro só terá havido um julgamento.
Por exemplo: A cometeu sucessivamente o crime 1, o crime 2, e o crime 3.
Organizaramse outros tantos inquéritos, mas por aplicação das regras da
conexão acaba por haver um só julgamento. A sentença condena A pelo crime 1,
pelo crime 2 e pelo crime 3, vamos supor, respectivamente, nas penas de 7
meses de prisão, 9 meses de prisão e 12 meses de prisão (artigo 71º). Na
sentença será fixada a pena única (nº 1 do artigo 77º) dentro da moldura penal
do concurso, que terá como limite máximo a soma das indicadas penas
concretas (7+9+12=28 meses de prisão), e como limite mínimo a mais elevada
das penas concretas, 12 meses de prisão (nº 2 do artigo 77º). A pena única
poderá andar pelos 17 meses de prisão, considerandose nesta, em conjunto, os
factos e a personalidade do agente (nº 1 do artigo 77º). Neste exemplo, o agente
praticou mais do que um crime antes de transitar em julgado a condenação por
qualquer deles.
Pode no entanto acontecer que estando o arguido condenado
definitivamente por um (ou mais) crimes —sem que a pena esteja totalmente
expiada— se descubram infracções anteriores que formam uma acumulação
com a já julgada. Pode até acontecer que o arguido foi julgado e definitivamente
condenado por todos os seus crimes e que não se lhe fixou uma pena única,
sendo caso de concurso. Intervém então o artigo 78º, nºs 1 e 2.
O que se disse não deixa ver claramente onde estão as situações de
acumulação de infracções. Se A praticou sucessivamente o crime 1 e o crime 2 e
em seguida é condenado pelo crime 1 e depois pelo crime 2, há manifestamente
concurso e o juiz do segundo julgamento deve aplicar a A uma pena única que
engloba as duas penas parcelares. Mas se A pratica o crime 1 pelo qual é
definitivamente condenado, e só depois (estando definitivamente condenado)
comete o crime 2, não há concurso de penas: o segundo crime não foi praticado
antes da primeira condenação (nº 1 do artigo 78º).
M. Miguez Garcia. 2001
1113
Como regra prática, convém alinhar por ordem cronológica os crimes (cr.)
e as condenações definitivas, transitadas em julgado (cond.). Assim,
i) cr.1, cr. 2, cond. 1, cond. 2;
ii) cr. 1, cond. 1, cr. 2, cond. 2;
iii) cr. 1, cr. 2, cr. 3, cond. 1, cr. 4, cr. 5, cond. 2;
iv) cr. 1, cr, 2, cond. 1, cond. 2, cr. 3, cr. 4, cond. 3, cond. 4.
A hipótese i) é de concurso, mas não a hipótese ii), que é de sucessão de
penas, podendo haver reincidência (artigos 75º e 76º). Na hipótese iii) devem ser
aplicadas ao arguido duas penas conjuntas, a primeira engloba as penas
parcelares aplicadas aos cr. 1 e cr. 2, a outra engloba as dos cr. 3 e cr. 4. Também
na hipótese iv) se devem aplicar duas penas conjuntas, uma relativamente aos
cr. 1 e cr. 2, que o arguido cometeu antes do trânsito em julgado da condenação
por qualquer deles; outra relativamente aos cr. 3 e cr. 4, que foram cometidos
depois do trânsito em julgado da cond. 2. Entre estes dois grupos de crimes
interpôsse a cond. 2, verificandose assim o desrespeito pela solene advertência
nela contida. Por essa razão, e porque o contrário é abertamente rejeitado pelo
disposto nos artigos 77º e 78º, é que o Supremo, por acórdão de 4 de Dezembro
de 1997, CJ, 1997III, p. 246, negou o cúmulo jurídico "por arrastamento", e
portanto a formação de uma pena conjunta dos cr. 1 a 4., devendo antes aplicar
se duas penas únicas (conjuntas), como se disse. No acórdão aludese,
incidentalmente, à sucessão de crimes e à reincidência específica.
O cúmulo dito "por arrastamento" contraria os pressupostos substantivos
previstos no artigo 77º, n.º 1, do Código Penal de 1995, e artigo 78º, n.º 1, do
Código Penal de 1982, designadamente por nele se ignorar a relevância de uma
condenação transitada em julgado como solene advertência ao arguido,
quando, relativamente aos crimes que se pretende abranger nesse cúmulo, uns
são anteriores e outros posteriores a essa condenação. 21051998 Processo n.º
1548/97 3.ª Secção. Cf. também o acórdão do STJ de 7 de Fevereiro de 2002, CJ
2002, tomo I, p. 202.
O concurso de crimes, intervindo uma pena relativamente indeterminada
e outra determinada (cf. CJ 1995, I, p. 168, e BMJ44646), suscita problemas
específicos, que se podem pôr igualmente com a aplicação de disposições de
clemência (leis de amnistia), quando algumas penas parcelares são abrangidas
pelo perdão e outras não.
Temse vindo, por outro lado, a entender que o tribunal que proceder ao
cúmulo pode revogar a suspensão da execução de uma ou mais penas
parcelares em concurso ou da anterior pena única, ainda que aplicada em
decisão transitada em julgado, se chegar à conclusão que é injustificada a
M. Miguez Garcia. 2001
1114
manutenção da suspensão face à reapreciação global dos factos e à
personalidade do agente (ac. do STJ de 24de Março de 1999, BMJ485143). Por
outro lado, quando, por cessar a responsabilidade criminal relativamente a um
ou mais crimes cujas penas estavam englobadas na pena única sancionatória de
um concurso de crimes em que aquele ou aqueles estavam abarcados, só as
restantes penas devem ser tidas em consideração. E se restou, no fim, uma só
pena, esta readquiriu toda a sua autonomia, o que, além de outros efeitos, se
repercute na aplicação do artigo 470º, nº 1, e não do nº 2 do artigo 471º do
Código de Processo Penal (cf. acórdão do STJ de 4 de Fevereiro de 1999,
processo nº 1263, e a anotação no BMJ485123).
Em geral, temse vindo a reconhecer que, no momento da realização do
cúmulo, o tribunal deve ter em conta a personalidade do arguido e a sua
conduta posterior aos factos, devendo, para o efeito, efectuar as diligências que
entender necessárias (acórdão do STJ de 17 de Março de 1999, BMJ485121).
Neste processo, o condenado alegara factos posteriores a uma série de crimes
que em seu entender o favoreceriam, de forma a poder serlhe suspensa a pena
única. O tribunal, todavia, procedeu a cúmulo de penas sem atender à matéria
alegada, suscitandose no recurso a questão da omissão de pronúncia.
Tudo deverá passarse "como se o conjunto dos factos fornecesse a
gravidade do ilícito global perpetrado, sendo decisiva para a sua avaliação a
conexão e o tipo de conexão que entre os factos concorrentes se verifique. Na
avaliação da personalidade — unitária — do agente relevará, sobretudo, a
questão de saber se o conjunto dos factos é reconduzível a uma tendência (ou
eventualmente mesmo a uma "carreira") criminosa, ou tão só a uma
ocasionalidade que não radica na personalidade" (Prof. Figueiredo Dias, As
Consequências Jurídicas do Crime, p. 27).
Como se viu, em caso de conhecimento superveniente de concurso, a
unificação das respectivas penas pressupõe que o crime de que só agora se teve
conhecimento tenha sido praticado antes da condenação anteriormente
proferida; o momento decisivo a atender para se saber se o crime agora
conhecido foi ou não anterior a tal condenação é a data em que esta foi
proferida e não a data do seu trânsito. Acórdão do STJ de 17 de Janeiro de 2002,
CJ 2002, tomo I, p. 180.
Na reincidência — matéria conexa, que justifica estas observações — deve
atenderse ao que dispõem os artigos 75º e 76º: só as condenações em prisão
efectiva (e não suspensa ...) e superiores a 6 meses são de ter em conta, mas não
é necessário que a pena de prisão tenha sido cumprida, total ou parcialmente
(nº 1 do artigo 75º). Na reincidência, o fundamento da agravação “radica no
M. Miguez Garcia. 2001
1115
desrespeito pela advertência ínsita na condenação anterior” (Figueiredo Dias).
“Mas a influência da prevenção que havia de ter sido proporcionada pela
condenação ou condenações anteriores só relevará para os efeitos a que se alude
se por ela dever ser censurado o agente. A exigência que assim se coloca
desdobrase, afinal, em duas: há que apurar, primeiro, se a recidiva se deveu a
insuficiência daquela prevenção; segundo, no caso afirmativo, se é de censurar
o agente “por a condenação ou as condenações anteriores não lhe terem servido
de suficiente advertência contra o crime” (Cons. G. da Costa).
A pena da reincidência alcançase obtendo uma moldura penal, só depois
passando o juiz à determinação da pena concreta (artigo 76º). O mecanismo é o
seguinte (Actas, 9, 83):
— num primeiro momento o juiz determinou a medida concreta da pena
como se não houvesse reincidência; — num segundo momento, verificada a
reincidência, o juiz retoma a moldura abstracta, construindo uma nova moldura
penal agravada de um terço no mínimo; — em terceiro lugar, ele fixa uma pena
dentro da moldura encontrada; — por último, ele procede à comparação das
duas penas concretas, indo ver se a agravação é superior à pena concreta mais
grave anteriormente fixada.
• * Para a verificação dos pressupostos da reincidência é essencial que se indague o modo de
ser do arguido, a sua personalidade e o seu posicionamento quanto aos ilícitos
cometidos, de modo a decidirse se a condenação ou condenações anteriores lhe
serviram de suficiente advertência contra o crime. Importará saberse ainda, no
entanto, sob pena de a decisão poder vir a padecer do vício de insuficiência da
matéria de facto provada, a data ou datas do cometimento dos respectivos factos, e
bem assim, para os efeitos do n.º 2, do artº 75, do CP, o tempo em que o agente tenha
cumprido medida processual, pena ou medida de segurança privativa da liberdade.
Ac. do STJ 12031998 Processo n.º 1404/97 3.ª Secção
VI. De novo o crime continuado; artigo 30º, nº 2; nexo de continuação; aspecto
subjectivo do nexo de continuação.
CASO nº 46A: A e B entram por arrombamento numa moradia cujos donos estão
ausentes, de férias, no estrangeiro. Tanto procuram que acabam por descobrir o sítio do cofre,
implantado numa das paredes da sala, mas não conseguem abrilo com as ferramentas que
transportam. Antes de abandonarem a moradia pela porta das traseiras, aproveitam e enchem
uma mala de viagem com roupas e jóias. Logo ali, porém, A e B decidem voltar na manhã
M. Miguez Garcia. 2001
1116
seguinte e entrar pela mesma porta, para então abrirem o cofre. E acautelamse, levando com
eles a chave da porta, que se encontra ali à mão. No dia seguinte, conforme tinham planeado,
regressam à moradia. Mas também não foi desta vez que conseguiram abrir o cofre. A e B
contentamse com mais umas roupas com que enchem outra mala.
Nos casos de crime continuado existe um só crime. Numa visão material
das coisas, o crime continuado é uma unidade jurídica construída sobre uma
pluralidade efectiva de crimes (Prof. Figueiredo Dias), punível com a pena
correspondente à conduta mais grave que integra a continuação. Na medida em
que o agente deixa de ser punido por cada um desses crimes, a continuação
criminosa aparece como que limitando o campo de aplicação do concurso
efectivo, encontrando a medida da pena a sua razão de ser numa diminuição
considerável da culpa no caso concreto (artigos 30º, nº 2, e 79º). Deve excluirse
contudo a possibilidade de continuação criminosa das condutas que violam
bens jurídicos inerentes às pessoas, salvo tratandose da mesma vítima. Se A,
repetidamente, em dias seguidos, consegue registar em vídeo as cenas da vida
sexual de B e C na intimidade da casa destes, violando de forma plúrima o tipo
de crime do artigo 192º, serão tantos os crimes quantos os sucessivos registos da
imagem de B e de C. Convergindo, porém, no caso os pressupostos da
continuação criminosa, A é autor de dois crimes continuados de devassa, por
serem duas as pessoas atingidas.
1º Deve ser plúrima a realização do mesmo tipo de crime ou de vários
tipos de crime que fundamentalmente protejam o mesmo bem jurídico.
Se tiver havido um só desígnio criminoso, o crime háde ser
necessariamente único, já que subsumível a um mesmo tipo criminal, ou seja,
ofensivo de idêntico bem jurídico. Ao invés, se o comportamento do réu revelar
uma pluralidade de resoluções poderseão pôr — e só então — as hipóteses de
pluralidade de infracções ou de crime continuado. Tendo havido mais do que
uma resolução, a regra será o concurso real de crimes, constituindo a
continuação criminosa uma excepção a aceitar quando a culpa se mostre
“consideravelmente diminuída, mercê de factores exógenos que facilitaram a
recaída ou recaídas”. Acórdão do STJ de 30 de Janeiro de 1986, BMJ353240.
Não se trata de uma resolução mas de várias. Pode existir relação de
continuação, por ex., quando as actividades se realizam em parte como
tentativa e em parte na forma consumada ou entre o furto simples e o furto
agravado, mas não entre o furto e a burla. Tratandose de bens eminentemente
pessoais (vida, integridade física, liberdade, honra), excluise igualmente a
forma continuada sempre que sejam afectados diferentes titulares: ex., a morte
de várias pessoas (afirmação que, por desnecessária e resultar da doutrina, não
vem expressa na lei). Deste modo, os casos mais frequentes de continuação
M. Miguez Garcia. 2001
1117
criminosa acontecem nos crimes contra a propriedade e contra o património,
que não têm características pessoais e por isso podem incluir a ofensa, por ex.,
ao património de mais do que uma pessoa.
2º A realização criminosa deve ser executada por forma essencialmente
homogénea.
Entendese normalmente que, para este efeito, não há identidade entre a
autoria e a participação, i. é, se num caso o agente actua no papel principal e no
outro como simples auxiliar ou cúmplice. A homogeneidade das diversas
formas de comissão só acontece em regra quando se preenche o mesmo tipo de
ilícito, incluindose porém as correspondentes formas qualificadas. Por outro
lado, deve poder reconhecerse uma certa conexão temporal e espacial entre as
diversas actividades criminosas. Por ex., o gatuno aproveitou duas ou três
noites seguidas para se abastecer num mesmo armazém.
3º A realização criminosa deve ser executada no quadro da solicitação de
uma mesma situação exterior que diminua consideravelmente e culpa do
agente.
Na Alemanha ainda não terminou a controvérsia em torno dos elementos
subjectivos da continuação criminosa. Subjectivamente, exigese também a
homogeneidade do dolo do agente. Discutese no entanto se se trata de um dolo
de conjunto, abrangendo o dolo, ab initio, a totalidade dos actos individuais que
integram o crime continuado e abarcandoa nas suas manifestações essenciais
de tempo, lugar, pessoa lesada e forma de comissão; ou se se trata de um dolo de
continuação, aquele que existe quando a nova resolução renova a anterior, como
que numa "linha de continuidade psíquica" (Stree, in S/S, Strafgesetzbuch, 25ª
ed., p. 683).
No caso nº 46A, no momento em que o facto se inicia o dolo dos agentes
não se manifesta como dolo conjunto (ou dolo global) — só depois, quando A e
B abandonam a moradia e decidem voltar, portanto, já na fase da sua
realização, é que a resolução se renova; e como a nova resolução está para a
anterior como que numa linha ininterrupta, nenhuma razão se antolha válida
para negar o crime continuado. A maioria dos autores contentase com este
dolo de continuação, bastando para a homogeneidade do dolo que qualquer
resolução posterior de cometer o facto se apresente na continuação da anterior.
Mas já não seria assim se o gatuno se bastasse com a decisão genérica de
aproveitar as oportunidades que lhe fossem aparecendo. A jurisprudência
alemã tem vindo a entender, já desde o Tribunal do Reich, que quem toma a
resolução genérica de cometer quantas burlas de uma determinada classe lhe
forem possíveis não actua na forma continuada — não é suficiente a mera
M. Miguez Garcia. 2001
1118
"decisão genérica" de realizar crimes de determinada natureza na oportunidade
conveniente, não bastando o plano de efectuar furtos "cuja execução seja ainda
incerta quanto ao modo, tempo e lugar" (notas jurisprudenciais referidas por
Welzel, p. 227).
• Uma grande separação temporal entre os diversos crimes e a falta de diminuição da culpa
apreciada no “dolo global”, são factores que podem afastar a continuação criminosa.
Acórdão do STJ de 24 de Maio de 2000, CJ 2000, tomo II, p. 202.
A nossa jurisprudência, para a afirmação do crime continuado, exige uma
proximidade temporal entre as sucessivas condutas, bem como a manutenção da
mesma situação externa, apta a proporcionar as subsequentes repetições e a
sugerir a menor censurabilidade do agente (cf. o acórdão do STJ de 8 de
Fevereiro de 1995, BMJ444178). De forma que não constitui crime continuado
a realização plúrima do mesmo tipo de crime se não forem as circunstâncias
exteriores que levaram o agente a um repetido sucumbir, mas sim o desígnio
inicialmente formado de, através de actos sucessivos, defraudar o ofendido. Cf.,
entre outros, o acórdão do STJ de 4 de Maio de 1983, BMJ327447.
• "É justamente em homenagem a uma ideia de menor exigibilidade que o crime continuado
ganha solidez dogmática, mesmo que só se admita, no plano subjectivo, uma "linha
psicológica continuada" (Faria Costa).
• O acórdão do STJ de 8 de Fevereiro, antes citado, rejeita o crime continuado naquela
situação em que A, B e C combinaram apoderarse, em conjunto, de quantias
entregues à guarda de F, de que o primeiro era empregado há cerca de 10 anos.
Perante a matéria provada, aceitouse que podia ter havido unidade de resolução,
mas o mesmo não aconteceu com a exigível proximidade temporal entre as concretas
condutas em que se traduziu a execução daquele propósito e ainda com o requisito
legal da mesma situação exterior, a constituir solicitação para a prática continuada dos
crimes, em termos de poder concluirse, razoavelmente, que diminuira
consideravelmente a sua culpa (palavras do acórdão, cuja leitura integral se recomenda,
e onde se observa que o advérbio consideravelmente tem uma carga normativa que não
pode ignorarse). A ideia de que a execução se operou num quadro de solicitação que
dispensaria uma revisão ou reformulação do projecto inicialmente gizado por A, B e
M. Miguez Garcia. 2001
1119
C foi contrariada pela evidente diferenciação dos locais dos crimes, e das pessoas que
ali se encontravam e a quem os executores materiais tinham de dirigirse para obter a
entrega dos valores pretendidos.
VII. Ainda o crime continuado: pluralidade de resoluções; o entendimento do
Prof. Eduardo Correia vertido no Código.
No crime continuado, às diversas condutas correspondem diversas
resoluções. "Simplesmente, estas resoluções não são entre si autónomas, mas,
pelo contrário, estão numa dependência tal que nunca se pode considerar uma
delas sem necessariamente ter de se tomar em conta a anterior" (Eduardo
Correia, p. 277; ainda, Beleza dos Santos, p. 17 e ss.). Ou, como escreve o Prof.
Figueiredo Dias (Ónus de alegar e de provar em processo penal?, RLJ, ano 105º,
p. 125 e ss.): "Quando de autêntico crime continuado se trate, costuma apontar
se com boa razão, entre as notas constitutivas do conceito teleologicamente
construído, a da pluralidade de resoluções: só aí surge o verdadeiro problema da
continuação, que outro não é senão o de obstar à pluralidade de infracções que
aquela pluralidade de resoluções indiciaria, lançando a hipótese, apesar disto,
para o âmbito da unidade de infracção. Por outro lado — e isto é o mais
importante — a aglutinação das diversas actividades em uma só infracção terá o
seu irrenunciável fundamento em uma considerável diminuição da culpa do
agente e de nenhum modo em uma intensificação do seu dolo."
O crime continuado caracterizase por duas ideias: a primeira é a de que
no crime continuado há pluralidade de desígnios, de tal forma que cada crime
que o integra caracterizase por ter todos os elementos inerentes do facto típico
e que são essenciais para a sua definição como crime autónomo e a segunda é a
de que a punição do crime continuado, por se verificar uma diminuição da
culpa, envolve em si uma atenuação correspondente, pelo menos relativamente
à situação derivada do concurso real (ac. do STJ referido na anotação, in BMJ
47895).
VIII. Concurso de infracções; concorrência, no mesmo sujeito, de várias
práticas delituosas; unidade e pluralidade; roubo; homicídio.
CASO nº 46B: J saiu de casa, dizendo que ia trabalhar, mas munido da espingarda
de caça, calibre 9 mm, devidamente municiada. Com intenção de assaltar alguém, a fim de
obter dinheiro, dirigiuse para uma mata, perto da localidade onde habitava, aguardando que
alguém passasse. Cerca de meia hora mais tarde viu passar E, rapariga que conhecia, mas
M. Miguez Garcia. 2001
1120
deixoua seguir, por acreditar que ela voltaria a passar por ali mais tarde, de regresso a casa,
altura em que certamente traria dinheiro de vendas que ia realizar. Cerca de 3 horas mais
tarde, J apercebeuse da chegada de E ao local, e interceptoua. Acercandose dela, apontoulhe
a espingarda e disselhe para lhe dar a carteira. E, incrédula, procurou minimizar a ameaça da
arma, retorquiulhe que ele estava a brincar e que inclusive tinha vindo da feira com o pai dele.
Porém, J persistiu na ameaça, com a arma, dizendolhe que lhe desse a carteira, pois estava a
falar a sério. E ficou assustada e começou a gritar, enquanto J se aproximava dela, até cerca de
um metro. Nesse momento disparou a arma, atingindo E na cabeça, derrubandoa
instantaneamente. De seguida, J, julgandoa morta, até porque se notava já perda de massa
encefálica, arrastou a vítima, pegandolhe pelos braços, e deslocoua para fora da estrada, até
bem dentro da mata. Aí, tiroulhe a carteira, que somente tinha 600 escudos em dinheiro, que
guardou para si, um fio de ouro, avaliado em 50 contos, e um relógio de pulso, avaliado em
7500$00. Da mesma forma, saíu de casa dois dias depois, com a arma, com intenção de assaltar
alguém para obter dinheiro. Aproximouse do automóvel onde estava F e, quando este o
avistou, logo disparou. Estando o F ferido, ordenoulhe que lançasse para o chão o dinheiro
que trazia, para se apoderar dele. Mais tarde voltou a disparar, por se convencer que viria a ser
descoberto quando a vítima fosse receber tratamento. (Acórdão do STJ de 29 de Maio de
1991, BMJ407205).
J cometeu por duas vezes o crime de roubo do artigo 210º. Para se
apropriar do dinheiro, como pretendia, utilizou violência, ameaçando com o
emprego da arma de fogo que levava consigo para o efeito. Mas a punição do
roubo não consome o homicídio: o artigo 210º bastase com a simples violência.
Reparese que se qualquer dos agentes produzir perigo para a vida da vítima
ou lhe infligir, pelo menos por negligência, ofensa à integridade física grave, a
pena é substancialmente agravada nos termos do respectivo nº 2, a). Por outro
lado, no nº 3 prevêse a morte de “outra pessoa” (e o crime punese então com a
pena do homicídio: artigo 131º), mas nem neste número nem no anterior se
prevê a morte da vítima do roubo. Ao provocar a morte daquelas duas pessoas
com dolo homicida, J cometeu, com o emprego de arma de fogo, dois crimes de
homicídio qualificado: é patente a especial perversidade e censurabilidade,
reveladas pela forma como ambos os crimes foram preparados e executados,
com avidez, e para preparar, facilitar e executar o roubo (alíneas c) e e) do nº 2
do artigo 132º).
• No Código actual não se reeditou a figura do roubo concorrendo com o crime de
homicídio, o chamado "latrocínio", que era um crime complexo, resultante da fusão
dos dois crimes, previsto no artigo 433º do Código Penal de 1886 e aí punido com
prisão maior de 20 a 24 anos. Como se sabe, existe um crime complexo quando o
legislador une ou funde numa só figura criminosa dois ou mais tipos de crimes
diversos, criando uma disposição complexa de normas penais mais simples (Eduardo
M. Miguez Garcia. 2001
1121
Correia, Unidade e Pluralidade de Infracções, p. 16). O latrocínio: * desapareceu do
Código actual a figura criminal complexa do latrocínio, pelo que as situações em que
o roubo é acompanhado de homicídio voluntário da vítima passaram a constituir a
comissão, em concurso real, de 2 crimes autónomos, o de roubo e o de homicídio
(Acórdão STJ de 16 de Março de 1994, CJ do STJ, ano II, 1º tomo, p. 247).
A jurisprudência dos nossos tribunais, acentuando que o roubo é um
crime complexo, na medida em que o seu autor viola não só um bem jurídico de
carácter patrimonial, mas também um bem jurídico eminentemente pessoal,
vem entendendo que, cometido tal crime por um determinado agente
relativamente a várias pessoas, sãolhe imputáveis tantos crimes dessa espécie
quantas as pessoas ofendidas. Na verdade, no crime de roubo, o elemento
pessoal assume um relevo particular, na medida em que ficam postas em causa
a liberdade, a integridade física e até a vida do visado. Por outro lado, ainda
que se verifiquem na conduta do agente os requisitos do crime continuado não
se poderá falar em tal instituição jurídica quando houver diversidade de
sujeitos ofendidos. (Acs. do STJ de 14 de Abril de 1983, BMJ326422; de 30 de
Novembro de 1983, BMJ331345; de 30 de Julho de 1986, BMJ359411; e de 15
de Novembro de 1989, BMJ391239). "A consideração da defesa da liberdade,
da integridade física ou da própria vida das pessoas bens jurídicos
eminentemente pessoais aparece como elemento essencial do respectivo tipo
legal de crime", não se podendo falar por isso de um "crime continuado de
roubo cometido com violência ou ameaça contra várias pessoas". (Eduardo
Correia, Unidade e Pluralidade de Infracções, p. 356).
• Resenha jurisprudencial): * O crime de roubo é um crime complexo, que contém, como
elemento essencial, a lesão de um bem jurídico eminentemente pessoal, pelo que ao
respectivo agente são imputáveis tantos crimes dessa espécie quantas as pessoas
ofendidas (Acórdão do STJ de 30 de Novembro de 1983, BMJ331345; cf. também, o
Acórdão do STJ de 14 de Abril de 1983, BMJ326322); * “Cometido o crime de roubo
por um determinado agente relativamente a várias pessoas, sãolhe imputáveis tantos
crimes dessa espécie qauntas as pessoas ofendidas” (Acórdão do STJ de 17 de
Novembro de 1993, BMJ431240). * “O roubo encerra, fundidos numa unidade
jurídica, o furto (que é o crimefim) e o atentado contra a liberdade ou a integridade
física das pessoas (crimemeio). Será sempre necessário, para a determinação do
número de crimes de roubo efectivamente praticados, determinarse previamente se,
M. Miguez Garcia. 2001
1122
e em que medida, o crime contra as pessoas foi meio para atingir o crimefim (furto),
sendo certo que, se o não foi, pode esse crime ganhar autonomia (como crime de
ameaças, de ofensas corporais, etc.) sem que faça parte do crime de roubo. Por isso é
que, no caso em que um ou mais agentes que irrompem num banco de metralhadoras
em punho e de cara tapada e ameaçam de morte não só os empregados como os
clientes que na altura ali se encontram, a todos criando um forte estado de pavor, não
se considera terem sido cometidos tantos crimes de roubo quantas as pessoas
ameaçadas, pois que, designadamente os clientes (a não ser que sejam
individualmente despojados de bens ou que a violência sobre algum deles exercida
seja essencialmente determinante da entrega ou da impossibilidade de resistir à
apropriação dos bens objecto da subtracção) nem detêm as coisas objecto do furto
(crimefim), nem têm interesse directo em resistir à subtracção das coisas, nem os
agentes precisam de vencer essa resistência para atingir o seu objectivo. No caso dos
autos, tanto a empregada do estabelecimento como a dona deste tinham à sua guarda
o dinheiro contido na caixa registadora; qualquer delas tinha interesse legítimo em
oporse a qualquer acto de subtracção de tal dinheiro; e a resistência de qualquer
delas tinha de ser vencida para o arguido conseguir fazer entrar na sua esfera
patrimonial o respectivo valor. Portanto, a violência exercida (mediante ameaça de
inoculação do vírus da sida) sobre qualquer delas foi crimemeio em relação ao
crimefim (furto), podendo concluirse que o arguido praticou, em concurso real, dois
crimes de roubo” (Acórdão do STJ de 16 de Junho de 1994, CJ, acórdãos do STJ, ano
II (1994), t. II, p. 253; BMJ431254); * Não é subsumível à figura do crime continuado
a comissão de diversos crimes de roubo em que são violados não só bens
patrimoniais como bens eminentemente pessoais e em que são ofendidas pessoas
distintas (Acórdão do STJ de 1 de Fevereiro de 1996, CJ, ano IV, t. 1 (1996), p. 198).
IX. Unidade e pluralidade de infracções; homicídio; furto.
CASO nº 46C: Por volta das 2 horas, A quis que lhe vendessem cigarros no bar da
estação do caminho de ferro. Bateu à porta e apareceu L, que, apesar da insistência, se recusou
a atendêlo, por já estar fechado o bar, e que tratou logo de telefonar para a polícia com o
intuito de a alertar. A, não levando a bem a atitude do outro, pegou então num banco com que
desferiu duas violentas pancadas na cabeça de L. Este sofreu fractura da coluna cervical e a
M. Miguez Garcia. 2001
1123
secção da carótida direita, que foram causa directa e necessária da sua morte. A seguir, A
partiu a porta do bar e retirou do interior 10 maços de cigarros, com o valor de 3 contos. A agiu
livre e voluntariamente, representando a morte de L como consequência necessária das
descritas agressões. E com intenção de se apropriar dos maços de cigarros, sabendo que lhe não
pertenciam e que agia contra a vontade do dono.
O * acórdão do STJ de 20 de Março de 1991, BMJ405220, entendeu que A
cometeu o crime de homicídio do artigo 131º — e não do artigo 132º, nºs 1 e 2, e)
— e o crime de furto, em concurso real. Considerouse que a matéria factual não
permitia concluir que o homicídio fora realizado com intenção de preparar,
facilitar, executar ou encobrir o crime de furto. Quanto a este, entendeuse que o
valor diminuto da coisa furtada impedia a agravação. * Se o homicídio é perpetrado
antes da apropriação, visando executála, não deve a violência qualificar a última como roubo,
pois está consumida no primeiro, havendo assim concurso de homicídio e furto (Acórdão da
Relação de Coimbra de 11 de Fevereiro de 1987, CJ, ano XII, t. 1, p. 71). No ac. do STJ de 6 de
Junho de 1990, CJ, 1990, tomo III, p. 17, o arguido furtou a pistola de B e depois disparou contra
B com a mesma pistola, produzindolhe lesões graves: furto e ofensas corporais.
X. Unidade e pluralidade de infracções; furto.
CASO nº 46D: A é empregado num banco e está à frente de duas caixas. Um dia
subtrai de uma delas determinada importância, com a intenção de a repor alguns dias depois.
Porque não consegue, todavia, haver o dinheiro a tempo, encontra como único expediente de
se salvar o de subtrair da outra caixa a mesma importância, pois sabe que esta última só mais
tarde será verificada. Chegado o momento desta ser conferida, como não conseguiu ainda
juntar o dinheiro, faz o inverso, voltando de novo a desfalcar a primeira caixa. Embora sempre
com intenção de repor o dinheiro e procurando de cada vez só ganhar tempo, certo é que
repete o estratagema inúmeras vezes (ex. do Prof. Eduardo Correia, Unidade e
pluralidade de infracções, p. 188).
Nos crimes contra a propriedade (furto, abuso de confiança, etc.) a
actuação do agente pode constituir:
a) um só crime, se ao longo de toda a realização tiver persistido o dolo ou
resolução inicial;
b) um só crime, na forma continuada, se o dolo estiver interligado por
factores externos que arrastam o agente para a reiteração das condutas;
c) um concurso de infracções — em que o número de crimes se determina
nos termos do artigo 30º, nº 1.
• No Código Penal de 1886, o § único do artigo 421º considerava como um só furto o total
das diferentes parcelas subtraídas pelo mesmo indivíduo à mesma pessoa, embora
em épocas distintas. Podia entenderse, e assim aconteceu, que a solução era a oposta
da continuação criminosa. Era um critério de determinação do valor do furto, que não
M. Miguez Garcia. 2001
1124
se aplicava sendo vários os ofendidos. No Código actual não existe semelhante
disposição, mas o crime continuado está previsto, como se viu, na parte geral, no nº 2
do artigo 30º.
• Resenha jurisprudencial:
• * "...se o comportamento do autor do furto revelar uma pluralidade de resoluções, poder
seão pôr as hipóteses de pluralidade de infracções ou de crime continuado"
(Acórdão do STJ de 30 de Janeiro de 1986, BMJ35324=; Acórdão do STJ de 10 de
Julho de 1991, BMJ409387).
• * Por ter desaparecido do Código Penal de 1982 disposição equivalente à do § único do
artigo 421º do Código anterior, as diversas subtracções de que seja vítima o mesmo
ofendido constituirão, conforme os casos, ou uma acumulação de crimes, ou um
crime continuado (Acórdão da Relação de Lisboa de 21 de Dezembro de 19873, CJ,
ano XII, t. 5, p. 164).
• * Existe unidade de resolução criminosa, quando, segundo o senso comum sobre a
normalidade dos fenómenos psicológicos, se puder concluir que os vários actos são o
resultado de um só processo de deliberação, sem serem determinadas por nova
motivação (Acórdão do STJ de 11 de Maio de 1988, Boletim 377431).
• * A realização plúrima do mesmo tipo de crime constitui um concurso de infracções e não
um crime continuado quando os vários crimes foram praticados na execução de
planos distintos em que o arguido interveio, e não por pressão de circunstâncias
exteriores que o levassem a um repetido sucumbir e a reiterar a sua acção delituosa
(Acórdão do STJ de 1 de Outubro de 1991, BMJ410268).
• * Integram o crime continuado de furto qualificado, previsto nos artigos 30º, nº 2, e 297º, nº
1, a), do CP82, os seguintes factos: a) a reiterada apropriação de diversas quantias em
dinheiro que totalizavam dois mil contos; b) praticada sempre no mesmo lugar e do
mesmo modo (introdução em farmácia alheia, à mesma hora e pela mesma porta,
seguida de subtracção, da caixa registadora aberta, de parte da receita diária); c)
M. Miguez Garcia. 2001
1125
dentro de um curto espaço de tempo (cerca de quatro meses); d) mediante a
utilização do mesmo meio (chave falsa, mandada fabricar pelo arguido, a partir da
chave verdadeira, à aqual teve acesso por virtude das funções que exercia) (Acórdão
do STJ de 13 de Março de 1991, BMJ405194).
• * A unidade ou pluralidade de infracções dependerá de a actividade do agente ser passível
de um juízo de censura uno ou plúrimo; o juízo de censura será plúrimo sempre que
possa constatarse uma pluralidade de resoluções, no sentido de determinações de
vontade, de realização do projecto criminoso; então o juízo de censura será plúrimo.
Tendo o agente assaltado várias arrecadações e subtraído os objectos nelas existentes,
em execução do mesmo desígnio ou projecto criminoso, cometeu um só crime de
furto, embora aqueles objectos pertencessem a ofendidos diferentes, já que neste tipo
legal de crime é irrelevante a pessoa do ofendido (Acórdão da Relação do Porto de 26
de Novembro de 1986, BMJ361605).
• * Comete um só furto e não três o réu que, no âmbito da mesma resolução criminosa e
nas mesmas circunstâncias espaçotemporais, subtrai 3 bicicletas pertencentes a
donos diferentes (Acórdão da Relação do Porto de 7 de Outubro de 1987, BMJ370
615).
• * Se a conduta do agente nos revela que em cada actuação houve um renovar da sua
resolução criminosa, estamos perante a prática de vários crimes, excepto se esse
renovar do propósito criminoso for devida a uma situação exterior ao agente que
facilite a renovação da resolução dentro de uma certa conexão temporal, tudo a
revelar diminuição da culpa, caso em que se perfila a figura do crime continuado
(Acórdão do STJ de 12 de Janeiro de 1994, CJ, ano II, p. 190).
• * Estando provado que os arguidos subtraíram, no mesmo dia, sucessivamente, de três
estabelecimentos comerciais, existentes em outras tantas localidades, diversas peças
de vestuário que se encontravam expostas no interior dos mesmos, nenhum dos
factos permite que se considere consideravelmente diminuída a culpa daqueles, uma
vez que os objectos estavam normalmente expostos e não ofereciam qualquer espécie
M. Miguez Garcia. 2001
1126
de facilidade para serem furtados, e, assim, impõese a qualificação jurídica dos factos
praticados como concurso real de crimes de furto e não como continuação criminosa.
24061998 Processo n.º 1528/97.
• * Provandose que o arguido entrou num parque de estacionamento, com o propósito de
furtar objectos deixados ou colocados em qualquer dos veículos nele estacionados,
terá, assim, formado um único propósito de furto e não diversas resoluções
criminosas, pelo que se verificará apenas um crime, ainda que com pluralidade de
vítimas, no caso de apropriação de bens deixados em mais do que um veículo.
Acórdão do STJ de 29 de Outubro de 1998 Proc. n.º 852/98.
No domínio do Código anterior ao de 1982, depois de alguma controvérsia
e decisões judiciais divergentes, “fixouse a jurisprudência (que tem vindo a
dominar) de que quem furta e, em seguida, vende ou empenha a coisa furtada,
fingindose senhor dela, comete não só o crime de furto, mas também o de
burla” (Carlos Alegre, p. 36; ainda, Eduardo Correia, Responderá o ladrão que
vende a coisa furtada simultaneamente pelos crimes de furto e burla?, RDES,
ano I (19451946), p. 375).
XI. Unidade e pluralidade de infracções; furto; concurso de circunstâncias
agravativas do furto; o caso específico do artigo 204º, nº 3.
CASO nº 46E: A dirigiuse, na noite de 13, ao estabelecimento X, onde partiu o vidro
da montra e penetrou, aí se apoderando de vários objectos. No dia 16, A dirigiuse ao
estabelecimento X1, partiu o vidro, e aí apoderouse de dinheiro e cassetes. Nessa mesma noite,
partiu o vidro do estabelecimento X2 e do seu interior retirou notas do Banco de Portugal, que
fez suas. Na noite de 26, A dirigiuse ao estabelecimento X3, onde partiu o vidro da montra e
penetrou, apoderandose de vários maços de tabaco. A agiu livre e conscientemente, com
intenção de tornar seus os objectos e dinheiro de que se apoderou, sabia que os mesmos lhe
não pertenciam e que as suas condutas lhe eram legalmente vedadas.
O Supremo, por * acórdão de 9 de Maio de 1991, BMJ407135, entendeu
que não se verifica no caso o crime continuado de furto — muito embora possa
considerarse a existência de execução por forma essencialmente homogénea da
realização plúrima do mesmo tipo de crime, já o mesmo se não pode concluir,
por falta de prova, quanto ao quadro da solicitação de uma mesma situação,
exterior, a despeito da proximidade havida entre as datas e locais da prática dos
factos cometidos por A.
M. Miguez Garcia. 2001
1127
No caso 46E, o agente entrou no interior das lojas por arrombamento,
circunstância que agrava o crime. De acordo com o artigo 204º, nº 3, se na
mesma conduta concorrerem mais do que um dos requisitos referidos nos
números anteriores, só é considerado para efeito de determinação da pena
aplicável o que tiver efeito agravante mais forte, sendo o outro ou outros
valorados na medida da pena (cf. o lugar paralelo do artigo 177º, nº 5).
"Consagrouse para o furto qualificado o sistema de absorção agravada quando
concorrem várias qualificativas, afastandose, neste caso particular, o regime
geral que se nos afigura ter sido perfilhado no artº 71º: Assim, concorrendo no
mesmo crime qualquer das qualificativas do nº 2 com qualquer das do nº 1
funcionará com o efeito qualificativo somente a do nº 2, valorandose a do nº 1
só para efeito de fixação da pena dentro da medida legal de 1 a 10 anos de
prisão. Estando as várias qualificativas em concurso previstas só no nº 1 ou só
no nº 2 operará qualquer delas, indiferentemente, com o efeito qualificativo,
sendo as restantes valoradas na medida da pena" (Maia Gonçalves).
Na vigência do CP de 1982, constituía jurisprudência maioritária o
entendimento de que sendo o furto qualificado por qualquer outra
circunstância, a introdução em casa alheia através de arrombamento,
escalamento ou chave falsa, deixava de ser qualificativa do furto e passava a ser
punida autonomamente. De forma semelhante, no caso tratado pelo * ac. do STJ
de 5 de Fevereiro de 1992, BMJ414171, entendeuse que o crime de introdução
em lugar vedado ao público concorre, em concurso real, com o crime de furto,
salvo nos casos em que a entrada em lugar ou espaço vedado for elemento
constitutivo de um crime de furto qualificado. Já acontecia assim no domínio do
Código Penal de 1886. Cf. ainda, no mesmo sentido e com abundante material
informativo, o ac. do STJ de 18 de Novembro de 1992, BMJ421216. Todavia,
em face da actual redacção do artº 204 nº 3, "haverá apenas um crime de furto
qualificado" (ac. do STJ de 17 de Janeiro de 1996, processo nº 48578 3ª Secção,
Internet). "Face ao actual Código, apenas é aproveitada a circunstância de efeito
agravativo mais forte para qualificar o furto, funcionando as restantes, como
agravantes, na determinação da medida da pena. Com efeito, resulta do nº 3 do
artigo 204º que nenhuma circunstância qualificativa adquire autonomia sendo
punida como crime autónomo." (Ac. do STJ de 28 de Fevereiro de 1996, BMJ
454385).
Parece não haver agora lugar para a corrente jurisprudencial que apontava
para o concurso real entre o crime de furto qualificado e o de violação de
domicílio ou introdução em casa alheia (artigo 176º da primeira versão do
Código), desde que concorresse outra circunstância capaz de qualificar o furto.
M. Miguez Garcia. 2001
1128
Perante o actual nº 3 do artigo 204º, como não se dá dupla agravação no furto,
tratarseia de um concurso meramente aparente, já que o tipo qualificado de
furto tutela todos os bens jurídicos em causa (cf. Simas SantosLeal Henriques,
Código Penal anotado, 2ª ed, p. 445). Reparese, com efeito, que o dano e a
introdução em casa alheia estão, "não por necessidade lógica mas em regra",
ligados ao arrombamento, no sentido de que se contêm neste e de que assim a
sua punição se inclui na deste (Figueiredo Dias; Stratenwerth).
XII. Unidade e pluralidade de infracções; crimes "sexuais"; violação; sequestro;
rapto; roubo; ofensas corporais.
CASO nº 46F: * A continuação criminosa não se verifica quando são violados bens
jurídicos inerentes à pessoa, salvo tratandose da mesma vítima (ac. da Relação do Porto
de 9 de Abril de 1986, BMJ356446).
• * Tendo A, em período de tempo relativamente curto, e aproveitando um quadro de
circunstâncias exteriores que lhe facilitavam a reiteração das suas condutas, mantido
relações de cópula, por três vezes, com a ofendida, então menor de treze anos de
idade, bem sabendo a idade da mesma e que a sua conduta era proibida por lei,
praticou um crime de violação, na forma continuada (artigo 202º, nº 1, do CP82).
(Acórdão do STJ de 6 de Março de 1991, BMJ405178).
• * Havendo o arguido actuado, ab initio, com o propósito de manter relações sexuais de
cópula com a vítima, menor de sete anos de idade, a qual violou por duas vezes,
criando ele próprio o condicionalismo favorável à concretização desse propósito, é de
concluir por um concurso real de crimes; na verdade, as circunstâncias "exógenas ou
exteriores" não surgiram por acaso em termos de facilitarem o objectivo tido em vista,
de modo a "arrastarem" o arguido para a reiteração das suas condutas, antes foram
conscientemente procuradas para concretizar tal intenção (ac. do STJ de 10 de
Janeirode 1996, BMJ553157). O mesmo Supremo Tribunal, por acórdão de 12 de
Janeiro de 1994, BMJ433225, entendeu que constituem dois crimes de violação o
facto de o agente esfregar o pénis erecto na vulva e coxas da vítima, então com seis
anos de idade, e ejacular, voltando a fazêlo nas mesmas circunstâncias após tal acto.
Neste caso, o crime continuado só seria possível se a segunda resolução tivesse sido
M. Miguez Garcia. 2001
1129
determinada por uma situação exterior ao agente que facilitasse a execução e
diminuísse consideravelmente a culpa, e isso não terá ocorrido, segundo o acórdão.
• * São coautores de cinco crimes de violação os três arguidos que, ao aperceberemse da
presença de duas menores, formularam o propósito de as obrigarem a entrar numa
viatura contra a vontade delas, as transportarem e de com elas manterem relações
sexuais, o que vieram a fazer, sucessivamente, e por cinco vezes (Acórdão do STJ de
22 de Março de 1994, BMJ435530).
• * O crime de violação consome o crime de ofensas corporais voluntárias cometido pelo
agente na pessoa da ofendida, mas apenas na medida em que o uso dessa violência
física não seja desproporcionado ao objectivo da violação. Sendo desproporcionado o
uso dessa violência, o crime de ofensas corporais voluntárias autonomizase e existe
concurso real de infracções (ac. da Relação de Coimbra de 18 de Outubro de 1989,
BMJ390474). * Se a valoração da ofensa corporal como meio utilizado de execução
do crime de violação esgotar a sua apreciação jurídica, haverá somente o crime de
violação, ac. do STJ de 8 de Maio de 1997, BMJ467275.
• * Comete os crimes de sequestro e de tentativa de violação o agente que fecha a ofendida
num compartimento e, usando de força, tenta com ela manter relações sexuais (ac. do
STJ, de 13 de Dezembro de 1991, CJ, 1991, t. 1, p. 21.
• * Os actos de prática de acto sexual de relevo ou de cópula e de actos de carácter
exibicionista perante uma criança integram um concurso real de crimes (ac. do STJ de
1 de Abril de 1998, CJ, ano IV (1998), tomo II, p. 175).
• * Com a publicação do Código Penal de 1982, verificase o abandono do tipo complexo de
roubo com violação, pelo que agora cada um dos componentes receberá autonomia
(ac. do STJ de 25 de Maio de 1983, Simas SantosLeal Henriques, Jurisprudência
Penal, p. 439).
• * Se o rapto for seguido de violação, haverá concurso de crimes. No caso de ter havido
desistência de queixa pela violação, tal concurso não se verifica, mas nem por isso
M. Miguez Garcia. 2001
1130
deixará de haver perseguição criminal pelo rapto (ac. do STJ de 16 de Maio de 1996,
CJ, ano IV (1996), t. II, p. 182). Cf., ainda, o acórdão do STJ de 10 de Janeiro de 1996,
BMJ453157 (rapto e violação de menor).
• * Sobre situações de concurso real entre os crimes de violação, de atentado ao pudor e de
sequestro, cf., ainda, os acórdãos do STJ de 21 de Junho de 1995, BMJ448148, e de 20
de Fevereiro de 1997, BMJ464190, onde se distinguem os actos ofensivos do pudor
sexual que são meros preliminares da cópula ou meios de excitação sexual que a
preparam de outros, que são autonomamente levados em conta, não se verificando a
consumação.
• * Comete o crime de abuso sexual de criança, na forma continuada, p. e p. pelos art.ºs
172, n.º 1 e 30, n.º 2, do CP, o arguido que ao se aperceber da presença de uma menor
de 10 anos de idade, a segue, a agarra, a deita no chão, começando a beijála na cara e
na boca, tirandolhe de seguida as calças e as cuecas, deitandose em cima dela,
encostandolhe o pénis erecto às coxas e aí o esfregou até ejacular sobre a menor,
sendo certo que nos quinze dias seguintes, o arguido voltou a encontrar a menor
naquele local e, por duas vezes, reiterou os actos supra descritos. 12031998 Processo
n.º 1429/97 3.ª Secção
• * Cada um dos três arguidos que conduziram a ofendida, por meio do uso da força física,
para um determinado local, onde cada um deles teve duas vezes relações sexuais com
aquela, contra a vontade da mesma, agindo em comunhão de esforços e identidade
de fins, concretizando um plano previamente traçado, a que todos aderiram, cometeu
três crimes de violação na forma continuada, p. p. pelo art. 164, n.º 1, do CP um que
executou materialmente e os outros dois em que tomou parte directa, em coautoria
e não seis crimes de violação, porquanto se verificou a realização plúrima do mesmo
tipo de crime, de forma homogénea, com conexão temporal e no quadro de uma
solicitação exterior (o ambiente em que os crimes se deram) que diminuiu
consideravelmente a sua culpa. 18031998 Processo n.º 1544/97 3.ª Secção
M. Miguez Garcia. 2001
1131
XIII. Negligência; resultado; unidade de conduta e pluralidade de eventos.
CASO nº 46G: A segue conduzindo o seu veículo automóvel, levando B e C como
passageiros. Em certa altura do percurso distraise, invade a meia faixa contrária da via e o
carro vai colidir violentamente com outro que vinha em sentido contrário pela sua mão de
trânsito. B morre e C fica gravemente ferido.
A definição de culpa inconsciente tem estado ligada à corrente
jurisprudencial que entende que, em regra, só é possível formular um juízo de
censura por cada comportamento negligente a pluralidade de eventos
delituosos (por ex., no mesmo acidente verificouse a morte de uma pessoa e
ferimentos em mais duas) não pode ter a virtualidade para desdobrar as
infracções (cf. o Acórdão anotado por Pedro Caeiro/Cláudia Santos, in RPCC 6
(1996); Acórdão do STJ, BMJ374214; 387320; 395258; 403150; CJ 1990, II, 11).
Oa anotadores discordam: o resultado não é irrelevante para o preenchimento
do ilícito nos crimes negligentes; a punição do concurso ideal no quadro da
unidade criminosa não poderia fundamentar a decisão do tribunal (artigo 30º,
nº 1); ainda que a decisão se baseie como parece na unicidade do juízo de
censura, em razões impostas pelo princípio da culpa, não é curial distinguir
entre negligência consciente e inconsciente: a maior falta de respeito pelo outro
reside precisamente na negligência inconsciente (Stratenwerth, p. 326). E
havendo uma pluralidade de tipos preenchidos, imprescindível seria mostrar
que a falta de representação dos factos só permite a formulação de um juízo de
censura. Por outro lado, está excluída a continuação criminosa, visto tratarse
de bens eminentemente pessoais. A punição do crime continuado só tem
sentido quando existem várias resoluções criminosas cuja censurabilidade é
cada vez menor por força de um particular condicionalismo exterior ao agente.
Não é possível estabelecer uma analogia com a diminuição da culpa que
fundamenta as regras da punição do crime continuado. O caso enquadrase na
figura do concurso ideal heterogéneo (30º, nº 1, e 77º). Cumpriria então
encontrar a pena única aplicável, de acordo com o princípio do cúmulo jurídico,
começando por determinar a pena concreta cabida a cada um dos três crimes
cometidos, nos termos do artigo 71º do CP; seguidamente, construirseia a
moldura do concurso (artigo 77º. nº 2, do CP) que teria como limite máximo a
soma das três penas parcelares e como limite mínimo a pena concreta mais
grave; finalmente, considerando conjuntamente os factos e a personalidade do
agente, encontrarseia a pena única a aplicar.
• * O Acórdão da Relação de Évora de 7 de Dezembro de 1993, BMJ432446, entendeu que
num acidente de viação que tem como consequência a morte de duas pessoas o
M. Miguez Garcia. 2001
1132
agente causador do acidente comete, em concurso, dois crimes de homicídio
involuntário.
• * O acórdão do STJ de 17121997, no Processo nº 1195/97, entendeu, porém, que "O
concurso de crimes corresponde a uma pluralidade de crimes, não necessariamente a
uma pluralidade de factos. Um só facto pode bastar para desenhar a figura do
concurso ideal, que o código equipara ao concurso real, perfilhando o critério
teleológico. Um só facto pode ofender vários interesses jurídicos ou repetidamente o
mesmo interesse jurídico. Se a tais ofensas corresponderem outros tantos juízos de
censura, verificase o concurso efectivo de crimes real ou ideal. Portanto, na
definição de concurso efectivo de crimes, não basta o elemento da pluralidade de
bens jurídicos violados; exigese a pluralidade de juízos de censura. Ora, o número de
juízos de censura é igual ao número de decisões de vontade do agente dos crimes.
Uma só resolução, um só acto de vontade, é insusceptível de provocar vários juízos
de censura sem desrespeito do princípio ne bis in idem. Por isso, no concurso ideal,
sendo a acção exterior uma só, a manifestação da vontade do agente, quer sob a
forma de intenção quer de negligência, tem de ser plúrima: tantas manifestações de
vontade, tantos juízos de censura, tantos crimes. Nos termos do art. 15º do CP, o
autor material de um crime culposo viola um dever de cuidado ou diligência,
objectiva e subjectivamente. A manifestação de vontade do agente do crime culposo
consiste, pois, na omissão voluntária de um dever; não tem por conteúdo o facto e as
suas consequências. Num acidente de viação culposo, a acção voluntária do agente
traduzse no exercício de condução incorrecta, de consequências não previstas mas
que se deviam prever. Sendo uma só a manifestação da vontade e um só o facto
ilícito, ainda que de evento plúrimo, o número de juízos de censura não pode
ultrapassar a unidade. A acção negligente do arguido, que com culpa grave deu
causa ao acidente de que resultou a morte de uma pessoa e ofensas corporais noutras
quatro, dirigiuse exclusivamente à forma de condução. Sobre ele recai, portanto, um
só juízo de censura como autor de um crime de homicídio por negligência grosseira.
As ofensas à integridade física, porque não fazem parte do tipo de crime, são
M. Miguez Garcia. 2001
1133
consideradas para efeitos do disposto na alínea a), do n. 2, do art. 71, do CP,
aumentando o grau de ilicitude do facto."
• * O ac. do STJ de 8 de Janeiro de 1998, CJ 1998, tomo I, p. 173, considera que se não verifica
concurso de infracções quando, do mesmo acidente e do mesmo comportamento
negligente, resultar a morte de uma pessoa e ofensas corporais em outras tratase de
crime de resultado múltiplo, em que se pune o mais grave, funcionando os outros
como agravantes a ter em conta na fixação concreta da pena. Mas no acórdão do STJ
de 8 de Julho de 1998, CJ 1998, ano VI, tomo II, p. 237, o Supremo considerou que a
conduta era subsumível à previsão do crime culposo de violação de regras de
construção (artigo 277º, nº 2) e subsumível, por duas vezes (eram duas as vítimas), ao
tipo do homicídio por negligência grosseira do artigo 137º, nº 2, concluindo que em
matéria de crimes involuntários praticados com negligência consciente o agente
comete tantos crimes quantos os resultados que previu.
• * Optando pelo concurso ideal de crimes, num caso de pluralidade de eventos — morte de
uma pessoa e ferimentos noutra — resultantes directa e necessariamente da mesma
conduta negligente, cf. o acórdão do STJ de 7 de Janeiro de 1959, BMJ83309, com a
curiosidade de se referir a um acidente com um tractor numa mina sita em Malém, no
"Estado Português da Índia". Quarenta anos depois, no processo da hemodiálise de
Évora, o acórdão do STJ de 7 de Outubro de 1998, no processo nº 131/98, da 3ª secção,
na linha do que "tem decidido o Supremo Tribunal de Justiça", condenou o arguido
por um único crime de homicídio negligente. Na 1ª instância, perante uma
pluralidade de eventos mortais — oito —, o Colectivo decidirase pelo concurso
efectivo de crimes. Transcrevese a seguir o sumário do acórdão do Supremo, cujo
texto integral se pode ler na Revista do Ministério Público, ano 19 (1998), nº 76, com
anotação de Paulo Dá Mesquita. Cf., ainda, o texto parcial do mesmo acórdão em CJ,
acórdãos do STJ, ano VI (1998), tomo III, p. 183 e ss. * Sendo oito as mortes verificadas
(por negligência), estáse perante um concurso de crimes, já que por oito vezes se
encontra violado o mesmo dispositivo legal: art.º 136, n.º 1, do CP de 1982 ou art.º
137, n.º 1, do CP de 1995. Tendo as oito mortes resultado como consequência
M. Miguez Garcia. 2001
1134
necessária, directa e única da conduta negligente omissão dos deveres de
fiscalização da qualidade da água tratada para diálise do arguido, que se prolongou
de meados de 1992 a 22 de Março de 1993, verificase uma situação de concurso ideal.
Estandose perante uma negligência inconsciente o arguido não chegou a
representar a possibilidade de morte dos insuficientes renais crónicos por não
proceder com o cuidado a que estava obrigado , não havendo manifestação de
vontade de praticar actos ou omissões de que saísse tal resultado, não pode falarse
de falta de consciência de ilicitude ou em erro sobre a ilicitude. Na negligência
inconsciente a ilicitude está intimamente ligada tão só ao não proceder o agente com
o cuidado a que está obrigado.
Recordese aqui que o Prof. Eduardo Correia, Unidade e Pluralidade, p.
114 e ss., apela para o criterio da pluralidade de juízos de censura, traduzido
por uma pluralidade de resoluções autónomas: de resoluções de cometimento
dos crimes, em caso de dolo; de resoluções donde derivaram as violações do
dever de cuidado, em caso de negligência. Mas, como se viu, pode antes falarse
de uma pluralidade de resoluções no sentido de nexos finais; de uma
pluralidade de violações do próprio dever de cuidado conexionado com um
resultado típico concreto o que teria a vantagem de desta forma não fazer
ainda apelo aos juízos de censura (culpa) mas manter o critério dentro de
parâmetros de relevância do ilícitotípico.
• Leiase, com proveito: Pedro Soares de Albergaria / Pedro Mendes Lima, Condução em
estado de embriaguez. Aspectos processuais e substantivos do regime vigente, in sub
judice / ideias —17 (2000).
XIV. Tráfico de estupefacientes; trato sucessivo; crime exaurido; continuação
criminosa.
CASO nº 46H: O crime de tráfico de estupefacientes é um crime de actividade ou de
trato sucessivo, pelo que se tem por unificada a prática repetida de actos do tipo dos indicados
no art.º 21 do DL 15/93, de 22 de Janeiro.
• Comete o crime de tráfico de estupefacientes do art.º 21, n.º 1, do DL 15/93, de 22 de
Janeiro, o arguido que vinha exercendo, há largos anos, até à sua detenção, uma
vastíssima actividade de compra e venda de heroína, sem que se provasse que ele
M. Miguez Garcia. 2001
1135
tivesse por finalidade exclusiva conseguir droga para o seu consumo, se bem que
fosse consumidor de heroína, ainda que a única droga que lhe fosse apreendida
tivesse um peso bruto de 1,115 gr, e se destinasse exclusivamente à obtenção de meios
para aquisição de droga, dado que esta quantidade excede a necessária para o
consumo médio individual durante o período de 5 dias. De acordo com o disposto
no art.º 9 da Portaria 94/96, de 2603 e respectivo mapa anexo, o limite máximo para
cada dose média individual diária, para a heroína é de 0,1 gr. Ac. do STJ de 15 de
Maio de 1997. Processo nº 9/97.
• Cf., ainda, o acórdão do STJ de 18 de Abril de 1996, CJ, ano IV (1996), p. 170; sumariado no
BMJ469207 (tráfico de estupefacientes; crime exaurido; unidade e pluralidade de
crimes; crime continuado). Escrevese no acórdão: “O crime exaurido é uma figura
criminal em que a incriminação da conduta do agente se esgota nos primeiros actos
de execução, independentemente de os mesmos corresponderem a uma execução
completa, e em que a repetição dos actos, com produção de sucessivos resultados, é
ou pode ser imputada a uma realização única, e desta forma aquele em que o
resultado típico se obtem logo pela realização da conduta ilícita, de modo que a
continuação da mesma, mesmo que com propósitos diversos do originário, se não
traduz necessariamente na comissão de novas violações do respectivo tipo legal. Tem
voto de vencido, a incidir sobre a noção de crime continuado e a situação de concurso
real.
• Ac. do STJ de 29 de Setembro de 1999, BMJ489109: crime de tráfico de estupefacientes;
autoria; crime continuado — crime de trato sucessivo: é o agente que cria ou fomenta
as oportunidades, tendo como móbil principal o lucro a todo o custo.
XV. Unidade de resolução; unidade de infracções; caso julgado; preclusão
definitiva de novo e ulterior conhecimento judicial de qualquer das
infracções.
CASO nº 46I: Quando o cheque, mesmo emitido prédatado, podia constituir ilícito
penal se não obtivesse provisão (antes, portanto, da publicação do DecretoLei nº 316/97, de 11
de Novembro), A procedeu ao preenchimento e entrega de vários cheques, ao mesmo tomador
M. Miguez Garcia. 2001
1136
B , no mesmo dia e local, para pagamento de um único débito. B, que apresentou os cheques
a pagamento, mas sem êxito, fez queixas sucessivas contra A. Por sentença transitada em
julgado, decidiuse que A agiu sem dolo na emissão de quatro desses cheques, que não foram
pagos por falta de provisão, e foi absolvido. Num outro processo, julgado posteriormente,
onde estava em causa o preenchimento, assinatura e entrega de mais quatro daqueles cheques,
concluiuse que a questão estava definitivamente prejudicada pela existência daquele caso
julgado: "o caso julgado constitui excepção que obsta ao conhecimento do mérito da causa e dá
lugar à absolvição da instância artigos 288º, nº 1, e), 493º, nº 2, e 494º, i), do Código de
Processo Civil, aplicáveis ex vi do artigo 4º do Código de Processo Penal" (acórdão do STJ
de 17 de Setembro de 1997, BMJ469189).
O tribunal entendeu que, de acordo com o critério de normalidade, tendo
em conta a estreita conexão temporal em que se verificou o preenchimento e
entrega dos cheques, todos ao mesmo tomador e para pagamento de um único
débito, impõese concluir que à conduta de A, fraccionada nos vários actos de
emissão, correspondeu um único processo de determinação ou uma só
resolução. Consequentemente, a verificaremse todos os elementos típicos do
crime em questão, A teria cometido, não tantos quantos os cheques, mas apenas
um único crime de emissão de cheque sem provisão. Em virtude da existência
de uma única resolução e do carácter essencialmente doloso do crime, A só é
passível de um único juízo de censura, a título de dolo. Isso significa que, sendo
aquele juízo de censura (tal como a resolução) incindível, não é lícito excluir o
dolo de A em relação à emissão de algum ou alguns dos cheques e,
simultaneamente, afirmálo quanto aos demais.
Os factos apontados já não integrarão um ilícito penal, como se disse, mas
pode bem acontecer que, noutro qualquer domínio, uma conduta se tenha
naturalisticamente desdobrado em sucessivos actos que encontram a sua
unidade no plano normativo pelas razões apontadas.
A preclusão definitiva de novo e ulterior conhecimento judicial de
qualquer das infracções pode também acudir nos casos em que todas elas se
encontram em relação de continuação. Cf. a anotação no BMJ47895.
• Julgado o arguido por factos integrados numa continuação criminosa, por sentença
transitada em julgado, ficou consumido o direito de acusação relativamente a
quaisquer outros factos integrados nesse crime, mesmo que por eles o arguido não
tenha efectivamente sido julgado. E o mesmo acontece quanto aos factos
naturalisticamente subsumíveis a uma mesma e única resolução criminosa que já foi
objecto de conhecimento e decisão. Acórdão da Relação do Porto de 28 de Abril de
1999, CJ, 1999, tomo II, p. 235.
M. Miguez Garcia. 2001
1137
XVI. O concurso de crimes pela negativa (outra vez o sistema 2 em 1 aplicado
ao Direito Penal)
No artigo 145º consta um dos vários crimes preterintencionais ou
qualificados pelo resultado previstos no Código. Quem voluntariamente mas
sem dolo homicida ofende outrem corporalmente e lhe produz a morte comete
um só crime, um crime qualificado pelo evento, embora o facto seja subsumível
a duas normas incriminadoras. Não funcionando as regras do concurso de
crimes, o crime preterintencional revela então a "íntima fusão" de um facto
doloso, que é já um crime, e um resultado negligente, que determina a
agravação da responsabilidade.
XVII. Outras indicações de leitura
• Código da Estrada (DecretoLei nº 114/94, de 3 de Maio, na redacção do DecretoLei nº
2/98, de 3 de Janeiro): artigo 136º, nº 2 — "As sanções aplicadas às contraordenações em
concurso são sempre cumuladas materialmente". O regime do concurso material está
igualmente consagrado no artigo 25º do RGIT (Regime geral das infracções tributárias,
aprovado pela Lei nº 15/2001, de 5 de Junho) para as sanções aplicadas às contraordenações.
• Acórdão nº 212/2002 do Tribunal Constitucional de 22 de Maio de 2002, publicado no DR
II série de 27 de Setembro de 2001: artigo 77º, nº 1, do Código Penal; entendimento quanto a ser
o momento decisivo para a aplicabilidade da figura do cúmulo jurídico e da consequente
unificação das penas o trânsito em julgado da decisão condenatória — com a consequência de
que a prática de novos crimes, posteriormente ao trânsito de uma determinada condenação,
dará origem à aplicação de penas autonomizadas.
• Acórdão de fixação de jurisprudência nº 3/2003, de 7 de Maio de 2003, publicado no DR I
A. de 10 de Julho. Na vigência do RGIFNA, aprovado pelo DL nº 20A/90, de 15 de Janeiro,
com a redacção original que lhe foi dada pelo DL nº 394/93, de 24 de Novembro, não se
verifica concurso real entre o crime de fraude fiscal, p. e p. pelo artigo 23º daquele RGIFNA, e
os crimes de falsificação e de burla, previstos no Código Penal, sempre que estejam em causa
apenas interesses fiscais do Estado, mas somente concurso aparente de normas, com
prevalência das que prevêem o crime de natureza fiscal.
• Acórdão do STJ de 24 de Maio de 2000, BMJ497310: reformulação de cúmulo anterior e
princípio ne bis in idem.
M. Miguez Garcia. 2001
1138
• Acórdão do STJ de 6 de Março de 2002, CJ 2002, tomo I, p. 220: a pena de prisão, resultante
da conversão da pena de multa, pode ser cumulada com pena de prisão, mas mantém a sua
autonomia como pena parcelar e, por isso, nada obsta a que o condenado efectue o respectivo
pagamento, em qualquer momento, reformandose depois o cúmulo, se for caso disso.
• Acórdão do STJ de 10 de Outubro de 2001, CJ, 2001, ano IX, tomo III, p. 189: apesar de ter
transitado em julgado o despacho que revogou a suspensão da execução de uma pena, é
admissível suspenderse a execução da pena única resultante da reformulação de cúmulo
jurídico em que aquela se integre.
• Acórdão do STJ de 3 de Maio de 2000, BMJ497118: O sequestro pode concorrer com o
crime complexo de roubo. O concurso será aparente, por uma relação de subsidiariedade,
sempre que a duração da privação da liberdade de locomoção não ultrapasse a medida
naturalmente associada à prática do crime de roubo, como crimefim. Constitui, pelo contrário,
concurso efectivo quando essa privação da liberdade se prolongue ou se desenvolva para além
daquela medida, apresentandose a violação desse bem jurídico em extensão ou grau tais que a
sua protecção não pode considerarse abrangida pela incriminação pelo crime de roubo.
• Acórdão do STJ de 29032001 proc. nº 128/01 5.ª Secção: Nada obsta a que num cúmulo
jurídico realizado sob a égide do art. 78.º do CP, se não aplique (ou se suprima) uma medida de
suspensão de execução da pena que haja sido determinada em decisão anterior. Mesmo que
razões legítimas de economia processual conduzam a não obstacular que na própria sentença
que culmine a audiência de julgamento destinada a conhecer de determinado crime, o tribunal
julgador realize, para efeito do n.º 2 do art.º 78 do CP, uma operação de cúmulo jurídico, ainda
assim e no concernente a esta particular incidência, terá de proceder de forma a que a dita
incidência seja encarada de maneira autónoma e, em termos de homenagem a um
contraditório autónomo, propiciar nesse individualizado aspecto, uma defesa autónoma. Se
não se proceder assim, ficará padecendo de nulidade a decisão consubstanciadora da operação
de cúmulo jurídico, de algum modo pela mesma ratio em que se radica a nulidade
contemplada na al. b) do n.º 1 do art.º 379.º do CPP (também ela ligada à garantia de uma
defesa integral), e sob outro prisma, pela circunstância de ajuizar de questão de que o tribunal
não poderia tomar conhecimento sem observância prévia do formalismo normativamente
exigido (cfr. artigos 472º e 379º, nº 1, al. c), do Código de Processo Penal.
M. Miguez Garcia. 2001
1139
• Acórdão da Relação de Coimbra de 10 de Janeiro de 2001, CJ, ano XXVI (2001), tomo I, p.
47: concurso de crimes: burla informática e furto, artigos 203º e 221º — A apropriouse
ilicitamente de um cartão multibanco e do respectivo código; depois, sem autorização do
titular, durante uns 20 dias foi retirando dinheiro das caixas bancárias respectivas.
• Acórdão da Relação de Coimbra de 21 de Novembro de 1996, CJ, ano XXI (1996), tomo V,
p. 52: pratica dois crimes de difamação, por ofender a honra e consideração de dois ofendidos,
aquele que, dirigindose a outras pessoas, afirmou que "o A e o B andam a sair todos os dias
logo pela manhã, se calhar andamse a papar um ao outro".
• Acórdão da Relação de Coimbra de 8 de Novembro de 1995, CJ, ano XX (1995), tomo V, p.
65: pratica dois crimes de omissão de assistência material à família (197º CP82) e não apenas
um, o arguido que tendo sido condenado a pagar alimentos a duas filhas menores,
intencionalmente não cumpre tal obrigação.
• Acórdão da Relação de Lisboa de 24 de Janeiro de 2001, CJ, ano XXVI 2001, tomo I, p. 142:
A preenche e assina 10 cheques de que se apropriara, com o propósito de receber os respectivos
montantes: unidade de desígnio criminoso — um único crime de falsificação do artigo 256º, nºs
1, a), e 3.
• Acórdão da Relação de Lisboa de 24 de Novembro de 1992, CJ, ano XVII (1992), tomo V, p.
167: concurso aparente de infracções; facto posterior não punível.
• Acórdão da Relação de Lisboa de 25 de Fevereiro de 1997, BMJ464607: no crime de
omissão de auxílio cometemse tantos ilícitos quantas as vítimas deixadas sem socorro.
• Acórdão da Relação do Porto de 11 de Dezembro de 1996, CJ, ano XXI (1996), tomo V, p.
242: comete um só crime e não dois o arguido encontrado com duas navalhas no bolso das
calças. Havendo uma só resolução criminosa e estando em causa o mesmo tipo legal de crime,
este háde ser necessariamente único, qualquer que seja a configuração naturalística da acção.
• Acórdão da Relação do Porto de 15 de Dezembro de 1999, CJ ano XXIV (1999), tomo V, p.
239: o crime de fraude fiscal artigo 23º, nº 3, e), do RJIFNA, na redacção do DL nº 394/93, de
24 de Novembro , consome o crime de falsificação.
• Acórdão da Relação do Porto de 29 de Março de 2000, CJ ano XXV (2000), tomo II, p. 238:
crime continuado. Factos ainda não julgados.
M. Miguez Garcia. 2001
1140
• Acórdão do STJ de 4 de Novembro de 1992, CJ, ano XVII (1992), tomo V, p. 5: descoberta
da prática de actos ilícitos idênticos a outros pelos quais o agente já tenha sido julgado;
hipóteses diversas tratadas no voto do vencido.
• Acórdão do STJ de 10 de Maio de 2000, CJ ano VIII (2000), tomo 2, p. 184: havendo perdões
previstos em várias leis, aplicáveis apenas a algum ou alguns dos crimes, na determinação da
pena única há que proceder a cúmulos parciais sobre os quais se aplicará o perdão, entrando os
remanescentes, a final, com as penas dos crimes a que se não aplicou o perdão. Tem voto de
vencido .
• Acórdão do STJ de 10 de Novembro de 1999, BMJ49171: vigora uma relação de
especialidade e consunção entre o direito tributário e o direito penal, consagrando o artigo 13º
do RJIF não Aduaneiras o princípio de não verificação de concurso real com incriminações e
penas do Código Penal, quando as condutas põem em causa apenas os interesses do Fisco.
• Acórdão do STJ de 11 de Dezembro de 1997, BMJ472361: crime continuado: pressupostos;
descoberta da comissão de outros factos que, eventualmente poderiam estar na continuação
depois de julgado o agente por factos constitutivos de um crime continuado; caso julgado.
• Acórdão do STJ de 12 de Outubro de 1995, BMJ450314: à verificação do crime continuado
é inerente a existência de uma pluralidade de resoluções ou desígnios criminosos a presidir aos
sucessivos actos ilícitos praticados. Se em lugar de uma pluralidade de resoluções há uma
única resolução que se mantém e preside à prática de todos esses actos, o crime é
necessariamente único. O Acórdão aborda ainda a questão dos poderes de cognição do juiz em
sede de crime único e não como é normal em sede de crime continuado.
• Acórdão do STJ de 1 de Março de 2000, BMJ49559: contém uma operação de cúmulo
sucessivo dos efeitos de diversas atenuantes especiais aplicáveis ao agente, num caso de
menoridade imputável.
• Acórdão do STJ de 2 de Março de 2000, BMJ49593: crime continuado, pressupostos, caso
julgado, novos factos.
• Acórdão do STJ de 13 de Fevereiro de 1997, BMJ464359: ulterior conhecimento judicial de
qualquer das infracções pertinentes à relação de continuação; princípio ne bis in idem.
• Acórdão do STJ de 14 de Abril de 1999, CJ, acórdãos do STJ, ano VII, tomo 2, p. 174:
verificase concurso real de um crime de homicídio e de dois de roubo quando os arguidos,
M. Miguez Garcia. 2001
1141
para se apoderarem do dinheiro que levava, matam o motorista do taxi e depois o conduzem
para local ermo, onde lhe retiram o dinheiro.
• Acórdão do STJ de 14 de Fevereiro de 1951, BMJ23161: a doutrina, mesmo antes do
Decreto nº 20.146, sempre admitiu tal categoria de infracções (crime contínuo ou continuado),
sem a restringir ao furto (por exemplo, Navarro de Paiva, Estudos de Direito Penal, pág. 59;
Caeiro da Mata, Direito Criminal Português, vol. 2º, pág. 208; sem qualquer reserva, jà Pereira e
Sousa dividia os crimes, quanto ao objecto, em simples e continuados, repetidos e concorrentes
(Classe de Crimes, ed. de 1803, pág. 8, nota 12).
• Acórdão do STJ de 16 de Junho de 1994, CJ de Acórdão do STJ, ano II, tomo 2, p. 253: é
sempre necessário, para a determinação do número de crimes de roubo efectivamente
praticados, determinar previamente se e em que medida o crime contra as pessoas foi meio
para atingir o crimefim.
• Acórdão do STJ de 17 de Abril de 1997, BMJ466228: a questão do crime continuado, com
desenvolvimentos.
• Acórdão do STJ de 17 de Dezembro de 1999, BMJ492183: na determinação da pena
resultante do concurso de crimes é afastada desde logo a possibilidade de aplicação das penas
de substituição às penas parcelares e tem como limite máximo as somas destas e no limite
mínimo a mais elevada das penas parcelares. Uma vez encontrada esta moldura penal, então a
pena única tem de ser determinada com base nos factos e na personalidade do agente, tendo
em conta também as exigências gerais de culpa e de prevenção, podendo, com estes
fundamentos, ser revogada a suspensão de uma ou mais penas parcelares em concurso, ainda
que aplicada em decisão transitada em julgado. Configurando a actividade desenvolvida pelo
arguido uma “carreira criminosa”, pode ser atribuído à pluralidade de crimes um efeito
agravante dentro da moldura penal.
• Acórdão do STJ de 17 de Março de 1999, BMJ485121: na operação do cúmulo jurídico não
deve ser considerada a pena declarada extinta pelo decurso do prazo da suspensão. No
momento da sua realização, o tribunal deve ter em conta a personalidade do arguido e a sua
conduta posterior aos factos, devendo, para o efeito, efectuar as diligências que entender
necessárias.
M. Miguez Garcia. 2001
1142
• Acórdão do STJ de 17 de Novembro de 1993, BMJ431240: cometido o crime de roubo por
determinado indivíduo relativamente a várias pessoas, sãolhe imputáveis tantos crimes dessa
espécie quantas as pessoas ofendidas.
• Acórdão do STJ de 18 de Outubro de 2000, CJSTJ, ano VIII (2000), tomo III, p. 205: cúmulo
jurídico com penas que não beneficiam de perdão. Concorrendo no mesmo cúmulo jurídico
penas beneficiárias de perdão com penas não beneficiárias de perdão, deve procederse
previamente e com o único objectivo da determinação da extensão do perdão a subcúmulo
jurídico das penas beneficiárias de perdão, o qual perdão só será aplicado, depois e a final, à
pena única que resultar do cúmulo da totalidade das penas parcelares; não se procederá assim,
porém, quando o perdão exceder a pena única resultante do subcúmulo das penas parcelares
abrangidas pelo perdão; em tal hipótese, o perdão deve ser aplicado de imediato, uma vez que
extingue tal pena, restando então a pena ou penas que não beneficiam do perdão.
• Acórdão do STJ de 19 de Outubro de 1994, BMJ440142: concurso de infracções, furto e
burla; resumo das teses do Prof. Eduardo Correia.
• Acórdão do STJ de 2 de Junho de 1999, BMJ488181: burla e falsificação de documento;
concurso de infracções.
• Acórdão do STJ de 2 de Março de 1995, BMJ44580: sobre o princípio ne bis in idem;
falsificação e burla.
• Acórdão do STJ de 5 de Julho de 2000, CJ 2000, tomo II, p. 234: deve continuar a seguirse o
entendimento contido no ac. para fixação de jurisprudência de 19 de Fevereiro de 1992,
segundo o qual “no caso de a conduta do agente preencher as previsões de falsificação e de
burla do artigo 228º, nº 1, alínea a) e do artigo 313º, nº 1, do CP, verificase concurso real ou
efectivo de crimes”.
• Acórdão do STJ de 22 de Janeiro de 1992, BMJ413217: invoca o chamado critério
teleológico para distinguir entre unidade e pluralidade de infracções, atendendo ao número de
tipos legais de crime efectivamente preenchidos pela actuação do agente ou ao número de
vezes que essa conduta desenhou o mesmo tipo legal de crime; falsificação e burla.
• Acórdão do STJ de 23 de Novembro de 2000, CJSTJ, ano VIII (2000), tomo III, p. 217:
quando o arguido tenha sido condenado em pena de prisão por crime que não beneficia de
perdão, nos termos da Lei nº 29/99, e doutro que dela beneficia, o cúmulo jurídico só se faz
M. Miguez Garcia. 2001
1143
depois de aplicado o perdão à pena do crime que dela beneficia; tendo o arguido sido
condenado por um crime de roubo de 18 meses de prisão, a que é aplicável perdão, e em 16
meses por um crime de tráfico, que dele não beneficia, há que perdoar um ano ao crime de
roubo e fazer o cúmulo do remanescente (6 meses) com a pena de 16 meses do tráfico. Tem um
voto de vencido). Para o entendimento da divergência de opiniões quanto ao modo de elaborar o
cúmulo parcelar: acórdão do STJ de 26 de Janeiro de 2000. BMJ493299 e a correspondente
anotação.
• Acórdão do STJ de 24 de Junho de 1999, BMJ488194: concurso de crimes; pena única e
penas parcelares; critérios legais de fixação.
• Acórdão do STJ de 24 de Maio de 2000, CJ ano VIII (2000), tomo 2, p. 204: no caso de
conhecimento superveniente de concurso de crimes, o cúmulo final a efectuar deve abranger
também as penas que foram consideradas em cúmulo anterior, mesmo que extintas, total ou
parcialmente, por perdão, já que o trânsito em julgado das condenações parcelares,
anteriormente proferidas, não representa obstáculo à realização do cúmulo a que o
conhecimento superveniente do concurso obriga.
• Acórdão do STJ de 24 de Novembro de 1993, BMJ431255: ocupase dos pressupostos do
crime continuado, transcrevendo as quatro situações exteriores referidas pelo Prof. Eduardo
Correia, in Teoria do Concurso em Direito Criminal, 1967, p. 246.
• Acórdão do STJ de 24 de Novembro de 1999, CJ ano VII (1999), tomo 3, p. 206: cúmulos
parciais por existência de perdões previstos em várias leis, aplicáveis apenas a algum ou alguns
dos crimes; concurso dos remanescentes com as penas dos crimes a que se não aplicou o
perdão.
• Acórdão do STJ de 24 de Setembro de 1992, BMJ419469: parcelas da continuação
criminosa não apreciadas em anterior julgamento.
• Acórdão do STJ de 28 de Abril de 1999, Revista do Ministério Público, ano 20 (1999), nº 79,
p. 153: fraude fiscal, burla: relação de especialidade.
• Acórdão do STJ de 3 de Dezembro de 1998, processo nº 728/98: porque o uso de artifício
ou meio fraudulento exigido pela figura criminal da burla compreende a prática de uma
falsificação que em si mesma traduz o recurso a um meio fraudulento pese embora a
redacção do art.º 217, n.º 1, do Código actual, ser idêntica à do correspondente artigo do
M. Miguez Garcia. 2001
1144
Código de 1982, deve regressarse ao entendimento de que o crime de burla consome o crime
de falsificação, quando cometido através desta. Relator: Cons. Sá Nogueira. Tem voto de
vencido).
• Acórdão do STJ de 3 de Julho de 1996, CJ, ano IV (1996), tomo II, p. 210: A e B ataram as
mãos de C atrás das costas, obrigaramno a sentarse no carro e apoderaramse de diversos
valores que fizeram seus, abandonando depois o local e ficando C amarrado no interior da
viatura roubo e sequestro). Cf. também o acórdão da Relação de Coimbra de 14 de Novembro
de 2001, CJ, ano XXVI (2001), tomo V, p. 132 (automobilista que dá boleia aos ladrões que se
apropriam de valores e do veículo, forçando a vítima a nele permanecer enquanto a conduziam
para outro local, contra a sua vontade. Acórdão do STJ de 6 de Março de 2002, CJ 2002, tomo I,
p. 222: com o entendimento de que o sequestro necessário à execução do roubo no ATM não se
manteve para além do necessário à consumação do roubo e, como tal, não concorreu
efectivamente para ele (tem voto de vencido). Acórdão do STJ de 18 de Abril de 2002, CJ 2002,
tomo II, p. 178: podem coexistir, em concurso real, os crimes de roubo e de sequestro, quando o
agente, para subtrair bens ao lesado, antes ou depois de a subtracção ser consumada, para além
da agressão física, se socorre de violenta privação da sua liberdade.
• Acórdão do STJ de 4 de Junho de 1997, BMJ46879: bens jurídicos essencialmente pessoais;
ameaças.
• Acórdão do STJ de 4 de Junho de 1998, BMJ478183: crime de falsificação de cartões de
crédito e crime de burla informática; há concurso real, verdadeiro ou puro, quando os tipos
penais preenchidos pela conduta do agente, não estando em relação de hierarquia, surgem
como concorrentes na aplicação concreta da punição e verificandose independência entre si
dos bens, valores e interesses jurídicos protegidos e autonomia perante cada ilícito praticado.
• Acórdão do STJ de 8 de Janeiro de 1998, CJ 1998, tomo I, p. 185: conduta que preenche os
elementos integrantes dos crimes de uso de documento de identificação alheia e de burla:
concurso real e efectivo de crimes.
• Acórdão do STJ, de 13 de Dezembro de 1991, CJ, 1991, t. 1, p. 21 (comete os crimes de
sequestro e de tentativa de violação o agente que fecha a ofendida num compartimento e,
usando de força, tenta com ela manter relações sexuais).
• Anotação ao Acórdão do STJ de 6 de Maio de 1993, BMJ427241.
M. Miguez Garcia. 2001
1145
• Anotação ao Acórdão do STJ de 16 de Junho de 1994, BMJ438250 (sobre crimes sexuais).
• Anotação ao acórdão do STJ de 17 de Setembro de 1997, BMJ469189 (numerosas
referências sobre a unidade de resolução criminosa e a unidade de infracções).
• Assento de 19 de Fevereiro de 1992, BMJ41473, com o Parecer do MP (falsificação, burla,
concurso real).
• Assento do STJ de 19 de Fevereiro de 1992, BMJ41473 (fixa jurisprudência no sentido de
resolver segundo as regras do concurso efectivo os casos em que o comportamento realiza as
previsões da falsificação e da da burla — “são diversos e autónomos, entre si, o bem jurídico
violado pela burla e o bem jurídico protegido pela falsificação (...), ou sejam, respectivamente, o
património do burlado e a fé pública dos documentos necessária à normalização das relações
sociais”.
• Assento nº 8/2000, de 4 de Maio de 2000, publicado no DR I A de 23 de Maio de 2000: No
caso de a conduta do agente preencher as previsões de falsificação e de burla do artigo 256º, nº
1, alínea a), e do artigo 217º, nº 1, respectivamente, do Código Penal, revisto pelo DecretoLei nº
48/95, de 15 de Março, verificase concurso real ou efectivo de crimes.
• A. Harald Greib, Verblüffend einfach: Die nachträgliche Bildung der Gesamtstrafe nach §§
55 StGB, 460 StPO, JuS 1994, p. 690.
• Adelino Robalo Cordeiro, A determinação da pena, Jornadas de Direito Criminal, Vol. II,
CEJ, 1998.
• Beleza dos Santos, Crime Continuado, Revista de Legislação e de Jurisprudência, ano 75
(1943), p. 337.
• Cuello Calón, Derecho Penal, tomo I (Parte General), vol. 2º, 16ª ed., p. 648 e ss.
• Edmund Mezger, Derecho Penal, Parte General, Libro de estudio, 1958,
• Eduardo Correia, Direito Criminal, II, p. 208 e ss.
• Eduardo Correia, Unidade e Pluralidade de Infracções, 1963.
• Faria Costa, Formas do crime, Jornadas de direito criminal, CEJ, p. 177.
• Furtado dos Santos, O Crime continuado Elementos, BMJ42407.
• Furtado dos Santos, O Crime continuado Origem, evolução, conceito, natureza,
fundamento e delimitação, BMJ39359.
• Furtado dos Santos, O Crime continuado, BMJ47497.
M. Miguez Garcia. 2001
1146
• Gerhard Timpe, Fortsetzungszusammenhang und Gesamtvorsatz, JA 1991, p. 12.
• Germano Marques da Silva, Notas sobre o regime geral das infracções tributárias, Direito e
Justiça, 2001, tomo 2.
• Gimbernat Ordeig, La responsabilidad por el resultado, in Delitos cualificados por el
resultado y causalidad, 1990, p. 165.
• Gomes da Silva, Direito Penal, 2º vol. Teoria da infracção criminal. Segundo os
apontamentos das Lições, coligidos pelo aluno Vítor Hugo Fortes Rocha, AAFD, Lisboa, 1952.
• H.H. Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts, Allg. Teil, 4ª ed., 1988.
• Hans Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11ª ed., 1969, parcialmente traduzido para espanhol
por Juan Bustos Ramírez e Sergio Yáñez Pérez com o título Derecho Penal Aleman, Editorial
Jurídica de Chile, 4ª ed., 1997.
• Helena Moniz, Burla e falsificação de documentos: concurso real ou aparente? Assento nº
8/2000 do Supremo Tribunal de Justiça de 4 de Maio de 2000. RPCC 10 (2000), p. 457.
• Hermann Blei, Strafrecht I, Allg. Teil, 18ª ed., 1983.
• Johannes Wessels, Derecho Penal. Parte General. 1980.
• Jorge de Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade, O crime de fraude fiscal no novo
direito penal tributário português (Considerações sobre a Factualidade Típica e o Concurso de
Infracções), RPCC 6 (1996).
• Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal Português, as Consequências Jurídicas do Crime,
1993, p. 276.
• Klaus Geppert, Grundzüge der Konkurrenzlehre (§§ 52 bis 55 StGB), Jura 1982, p. 358 e ss.
e 418 e ss.
• Klaus Geppert, Grundzüge der Konkurrenzlehre (§§ 52 bis 55 StGB), Jura 2000, p. 598 e ss.;
e p. 651 e ss.
• K. Tiedemann, Die Anfängerübung im Strafrecht, 2ª ed., 1993.
• Manuel Cavaleiro de Ferreira, Direito Penal Português, Parte geral, II, Ed. Verbo, 1982.
• Manuel Cavaleiro de Ferreira, Lições de Direito Penal, I, Ed. Verbo, 1985.
• Manuel Cavaleiro de Ferreira, Lições de Direito Penal, Parte geral, I, Ed. Verbo, 1992.
• Maria Fernanda Palma, Problema do concurso de circunstâncias qualificativas do furto,
RPCC, 2 (1991).
M. Miguez Garcia. 2001
1147
• Maria T. Castiñeira, El delito continuado, Bosh, Barcelona.
• Matthias Wolff, Grundfälle zur Gesamtstrafe, JuS 1999, p. 800.
• Miguel Pedrosa Machado, Formas do Crime, 1998.
• Nuno Sá Gomes, Evasão fiscal, infracção fiscal e processo penal fiscal, Centro de Estudos
Fiscais, Lisboa, 1997.
• Otto, Grundkurs Strafrecht, AT, 1996.
• Parecer do Ministério Público, BMJ41460.
• Parecer nº 54/98 da PGR de 23 de Outubro de 1998, DR II série de 28 de Abril de 1999
(6351) relator António Silva Henriques Gaspar (crime permanente; crime de deserção).
• Paulo Dá Mesquita, O concurso de penas, Revista do Ministério Público, ano 16º, nº 63, p.
21.
• Pedro Caeiro/Cláudia Santos, Negligência inconsciente e pluralidade de eventos: tipode
ilícito negligente unidade criminosa e concurso de crimes princípio da culpa. RPCC 6 (1996).
• Rodriguez Devesa, Derecho Penal Español, PG, 15ª ed., 1992.
• Santiago Mir Puig, Derecho Penal, parte general, 1990.
• Simas SantosLeal Henriques, Código Penal anotado, 2ª ed, p. 445.
• Teresa Pizarro Beleza, Direito Penal, 2º vol., p. 994.
• v. H.Heinegg, Der Fortsetzungszusammenhang, JA 1993, p. 136.
• v. H.Heinegg, Prüfungstraining Strafrecht, Bd. 1, 1992, p. 413.
M. Miguez Garcia. 2001
1148
PROBLEMAS DE ÂMBITO DE APLICAÇÃO TEMPORAL
1. A proibição de retroactividade: "… cujos pressupostos não estejam fixados
em lei anterior"; "… expressamente cominadas em lei anterior"; "… por lei
anterior ao momento da sua prática" (artigo 29º, nºs 1 e 3, da CRP; artigo 1º,
nº 1, do CP).
Uma lei vigora desde o momento temporal em que entra em vigor até ao
momento temporal em que deixa de estar em vigor, tem um início e um termo
de vigência formal. Todavia, a eficácia normativa da lei penal, por força do
princípio constitucional da lei favorável, estendese, muito frequentemente, para
aquém (retroactividade) e para além (ultraactividade) da sua vigência formal
(Taipa de Carvalho).
A proibição da aplicação retroactiva da lei penal significa que a pena é
determinada pela lei que vigora no tempo do delito (tempus delicti artigo 3º do
CP). Como ninguém pode ser sentenciado criminalmente senão em virtude de
lei anterior que declare punível a acção ou omissão (artigo 29º, nº1, da
Constituição da República), a norma incriminadora háde ter sido editada antes
do cometimento do facto incriminado e háde encontrarse em vigor nesse
momento.
A irretroactividade da lei penal está directamente ligada a um dos
corolários normativos do princípio da legalidade, que se exprime no nullum
crimen sine lege, e ao seu fundamento de garantia dos cidadãos. O princípio da
não retroactividade da penalização significa fundamentalmente: a) que a lei não
pode qualificar como crimes factos passados (id est: a irretroactividade alcança a
lei nova que cria uma figura de delito até então inexistente) nem aplicar a
crimes anteriores penas mais graves (id est: a irretroactividade alcança a lei nova
que agrava a pena já existente; b) que deixa de ser considerado crime o facto que
a lei posterior venha despenalizar, ou que passa a ser menos severamente
penalizado se a lei posterior o sancionar com pena mais leve (princípio da
aplicação retroactiva da lei penal mais favorável). A lei nova mais favorável não
só beneficia o arguido como, além disso, mostra que a valoração jurídica de
M. Miguez Garcia. 2001
1149
crime também se alterou, pelo que seria injusto castigar com uma pena, ou com
uma pena mais grave, que já não convence no momento em que deveria impor
se (Cobo del Rosal / Vives Antón).
A Constituição atribui tal importância ao princípio da não retroactividade da
lei criminal penalizadora que o inclui entre os direitos que não podem ser
suspensos por efeito de estado de sítio (artigos 29º e 19º, nº 6, da Constituição da
República Portuguesa), cf. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da
República Portuguesa Anotada, 3ª ed. revista, Coimbra Editora, 1993, p. 193)
O crime é cometido no momento da actividade realizada, no momento em
que o autor ou o partícipe actua, levando a cabo a sua conduta, ou, no caso de
omissão, no momento da actividade devida, em que ele podia ter actuado. Não
é decisivo o momento da produção do resultado (mas já não é assim com
referência, por ex., ao início da prescrição). “Ponto de conexão temporal do
princípio da legalidade é o momento da prática do facto (artºs 1º, nº 1, e 3º), não
o momento da consumação. Ora, tratandose, na generalidade das modalidades
de acção do crime de organizações criminosas, de um crime permanente (artº
118º, nº 2, a)), importa considerar que a lei nova é aplicável, sem retroactividade,
durante todo o tempo em que a consumação persiste, ou, dito de outro modo,
quando a consumação já teve lugar mas a prática do crime não foi ainda
abandonada ou impedida e, neste sentido, se mantém.” (Figueiredo Dias, As
“associações criminosas”).
Se a lei é modificada durante o cometimento do crime, de forma que (não é
o tipodeilícito penal, mas) a moldura penal, que resulta agravada, (como nos
casos de crime continuado e de crime permanente), então aplicase a lei que
vigorar no momento em que o cometimento cessa (Bockelmann/Volk), mas há
outras propostas de solução.
2. O artigo 2º do Código Penal.
Neste preceito estabelecese como corolário lógico do princípio da
legalidade (artigos 29º, nº 1, da CRP e 1º do CP) a máxima basilar de que os
comportamentos devem ser julgados e punidos de acordo com o direito em
vigor no momento da sua prática (artigo 2º, nº 1, do Código Penal; cf., também o
artigo 29º, nº 3, da CRP).
M. Miguez Garcia. 2001
1150
Entre nós, e assim como na generalidade das legislações modernas, a regra
comporta, todavia, uma excepção. A saber, o caso de um diploma posterior
contemplar uma disciplina mais favorável ao arguido. Semelhante regime
logrou, inclusive, consagração expressa no artigo 29º, nº 4 (in fine), da CRP. O
artigo 2º do Código Penal distingue, contudo, duas situações, consoante a nova
lei descriminaliza a conduta ou, pelo contrário, se limita a atenuar a
correspondente sanção. Dispõe esse artigo que:
• “1. As penas e as medidas de segurança são determinadas pela lei vigente no momento da
prática do facto ou do preenchimento dos pressupostos de que dependem.
• 2. O facto punível segundo a lei vigente no momento da sua prática deixa de o ser se uma
lei o eliminar do número das infracções; neste caso e se tiver havido condenação, ainda que
transitada em julgado, cessam a respectiva execução e os seus efeitos penais.
• 4. Quando as disposições penais vigentes no momento da prática do facto punível forem
diferentes das estabelecidas em leis posteriores, será sempre aplicado o regime que
concretamente se mostra mais favorável ao agente, salvo se este já tiver sido condenado por
sentença transitada em julgado”.
3. Casos em que se aplica o artigo 2º nº 2: (Prof. Figueiredo Dias)
a) de “total” descriminalização
ou
b) em que a lei nova continua a punir o comportamento, mas com base
num fundamento não coincidente com o que subjazia ao direito anterior ou
seja, quando a sua qualificação como crime tenha em vista a tutela de outro bem
jurídico.
De harmonia com o nº 2, nas hipóteses de descriminalização, a lei nova
aplicase mesmo às situações que se encontrem cobertas por condenação
definitiva (desrespeito do caso julgado).
Só se pode falar de descriminalização ou, nas palavras do artigo 2º, nº 2,
do Código Penal, da eliminação do “facto punível” (...) do número de infracções
(...)” quando a lei nova passa a entender como lícita (ou, pelo menos, como
“indiferente para o direito penal” uma conduta que, de acordo com a legislação
vigente ao tempo da respectiva prática, se qualificava de ilícita e, portanto, se
considerava punível. Dito de modo mais explícito: o que, para efeito do artigo
M. Miguez Garcia. 2001
1151
2º, nº 2, do Código Penal, importa saber é se a lei nova continua a atribuir ao
concreto comportamento o mesmo conteúdo ou espécie (não necessariamente o
mesmo grau) de ilícito que lhe conferia a lei anterior. As possíveis diferenças
formais ou de técnica legislativa entre os dois diplomas não assumem, neste
contexto, qualquer relevância. O que está em causa não é a comparação, em
abstracto, do campo de incidência de duas normas, mas, tãosó, o problema de
determinar se aquela concreta conduta integra, no âmbito da lei nova, um ilícito
punível de espécie análoga (quer dizer, atentatória do mesmo bem jurídico) à
que revestia no direito vigente ao tempo em que foi cometida.
Para além dos casos de “total” descriminalização, assim não acontece,
apenas, quando a lei nova continua a punir o comportamento, mas com base
num fundamento não coincidente com o que subjazia ao direito anterior ou
seja, quando a sua qualificação como crime tenha em vista a tutela de outro bem
jurídico. Ainda que assumindo uma idêntica configuração externa, a conduta
adquire, então, um distinto significado jurídicopenal, encarnando um ilícito
substancialmente diverso do que se encontrava previsto na lei antiga.
Só nessa situação se pode falar de uma descriminalização seguida de uma
neocriminalização, havendo lugar à aplicação do disposto no artigo 2º, nº 2, do
Código Penal. E isto porque, ao depararse com uma incriminação “nova”, a
subsunção à lei de factos ocorridos antes da sua entrada em vigor comportaria
uma violação do princípio da irretroactividade das normas penais, plasmado no
artigo 2º, nº 1, do Código Penal.
4. Casos em que se aplica o artigo 2º nº 4:
Por razões óbvias, semelhante conclusão não vale para os casos em que a
lei nova, continuando a proteger o mesmo bem jurídico, se limita a converter
um crime de perigo (concreto ou abstracto) num crime de dano. Nesta hipótese,
a respeito das condutas perpretadas durante a vigência do direito anterior, que
se apresentam subsumíveis na lei actual, não se verifica qualquer
descriminalização, passando a observarse o disposto no nº 4 do artigo 2º do
Código Penal.
Semelhante concepção apresentase como a única que se harmoniza com a
estrutura do regime português da sucessão de leis penais no tempo. Conforme
se referiu, vigora aí a regra geral de que os comportamentos devem ser julgados
e punidos segundo a lei vigente ao tempo da respectiva prática (artigo 2º, nº 1,
M. Miguez Garcia. 2001
1152
do Código Penal). Enquanto corolário lógico do princípio da legalidade (artigo
1º do Código Penal), aquela máxima pretende satisfazer as exigências de certeza
e de segurança que, de modo intensificado, se manifestam na esfera jurídico
criminal.
Ora, em relação ao exposto, o ordenamento português apenas consagra a
excepção de uma lei posterior estabelecer um regime mais favorável ao arguido.
E isto porque se entende que, se o legislador, a uma nova (e, presumese,
melhor) ponderação das coisas, chegou à conclusão de que a regulamentação de
certo sector se bastava com uma disciplina menos severa, deixa de justificarse, à
luz de qualquer dos fins normalmente atribuídos às reacções criminais, a
aplicação do direito anterior.
Notese, porém, que a determinação do regime mais favorável se tem de
fazer em concreto, o que, no tocante às situações do artigo 2º, nº 2, do Código
Penal, equivale a dizer que só se depara com uma descriminalização quando o
concreto comportamento — entendido como violação ou colocação em perigo
de certo bem jurídico — deixe de integrar, nos termos da lei nova, um ilícito
criminal punível. Como de assinalou, no presente contexto, afigurase
irrelevante que aquela lei nova haja alterado a “forma” da incriminação
(maxime, convertido o delito de perigo do direito anterior num delito de dano).
Para efeito da questão em apreço, apenas importa saber se a concreta conduta,
enquanto lesão ou colocação em perigo daquele específico bem jurídico
continua ou não a constituir crime. Neste sentido, a letra do citado artigo 2º, nº
2, da CP é, aliás, inequívoca, uma vez que se limita a afirmar que o concreto
“facto punível segundo a lei vigente no momento da sua prática deixa de o ser
se uma lei nova o eliminar do número das infracções (...)”.
De acordo com o nº 2 do artigo 2º do Código Penal, o que está em causa
não é a comparação, em abstracto, do âmbito de aplicação da lei antiga e da lei
nova, mas, tãosó, a questão de saber se a concreta conduta, considerada
criminosa pela lei antiga, continua a constituir um ilícito punível nos quadros
da lei nova. Desde que se verifique o pressuposto da dupla incriminação, pelas
leis antiga e nova, do concreto comportamento (com referência ao mesmo bem
jurídico) deixa de ter aplicação o disposto no artigo 2º, nº 2, do Código Penl —
com indiferença para o facto de entre os dois diplomas, se observar, em
abstracto, uma relação de especialidade ou de especificação.
M. Miguez Garcia. 2001
1153
Quer dizer, no caso de sucessão de leis sobre o mesmo tipodeilícito,
verificandose a continuidade do tipodeilícito, deve aplicarse a lei
concretamente mais favorável ao delinquente (artigo 2º, nº 4, do CP).
Por ex., a lei nova não alterou o tipo legal, mas modificou a pena: a lei mais
favorável é a que possibilita a sanção mais suave no caso concreto (método de
consideração concreta).
5. Modelo jurisprudencial de aplicação do regime concreto mais favorável.
Após o julgamento a que se procedeu, foram considerados provados todos os factos
constantes da acusação deduzida pelo MP contra A. O processo subiu em recurso, tendo o
Supremo adiantado o seguinte, já no que toca à fixação da pena:
A reacção criminal que julgamos adequada à estigmatização do
comportamento criminal da arguida é a de dois anos de prisão e dezoito dias de
multa, à taxa diária de quinhentos escudos, multa essa na alternativa de doze
dias de prisão. Nos termos do artigo 48.° do Código Penal, declarase suspensa
a execução da pena imposta, pelo período de dois anos.
Acontece, porém, que em 28 de Dezembro de 1991 foi publicado o Decreto
Lei n.° 454/91 que entrou em vigor, exvi, do seu artigo 16.°, três meses depois
da data da sua publicação.
O referido decretolei estabelece normas relativas ao uso do cheque. E no
seu artigo 11.° prescreve deste modo:
• “I —Será condenado nas penas previstas para o crime de burla, observandose o regime
geral de punição deste crime, quem causando prejuízo patrimonial: a) Emitir e entregar a
outrem cheque de valor superior ao indicado no artigo 8.° que não foi integralmente pago por
falta de provisão, verificada nos termos e prazos da Lei Uniforme relativa ao cheque; b)
Levantar, após a entrega do cheque, os fundos necessários ao seu pagamento integral; c)
Proibir à instituição sacada o pagamento de cheque emitido e entregue...”
Fazendo incidir a nossa atenção sobre este preceito penal, somos forçados
a concluir que, se os factos constantes do presente processo tivessem deflagrado
após a entrada em vigor do decretolei em questão, a conduta da A enquadraria
o drama estatuído no artigo 11º, nº 1, alínea b), e punido pelas disposições
combinadas dos artigos 313º, nº 1, e 314º, alínea c), do Código Penal.
M. Miguez Garcia. 2001
1154
Daí que se torne necessário chamar à colação alguns outros preceitos
Iegais.
A nova Lei Fundamental— Constituição da República Portuguesa —no
seu attigo 29.° prescreve:
• 4—Ninguém pode sofrer pena ou medida de segurança mais graves do que as previstas no
momento da correspondente conduta ou da verificação dos respectivos pressupostos,
aplicandose retroactivamente as Ieis penais de conteúdo mais favorável ao arguido...”.
No desenvolvimento de tal preceito constitucional, que, aliás, já era
respeitado no domínio do Código Penal de 1886 (confira artigo 6.°), determina
expressis litteris o n.° 4 do artigo 2º do Código Penal, que presentemente nos
rege:
• ...”Quando as disposições penais vigentes no momento da prática do facto forem diferentes
das estabelecidas em leis posteriores, será sempre aplicado o regime que concretamente se
mostre mais favorável ao agente, salvo se este já tiver sido condenado por sentença transitada
em julgado.»
Como não nos achamos em face da excepção consignada na parte final do
transcrito mandamento penal, cumprenos averiguar, pois, qual das leis —artigo
228º, nºs 1, alínea b), e 2, do Código Penal e o referenciado regime penal do
cheque (artigos 11º, nº 1, alínea a), do DecretoLei nº 454/91, de 28 de Dezembro
e 313º, n.” 1, e 314º, alínea c) — estabelece o regime que concretamente (e não em
abstracto, sublinhese) se apresenta mais favorável ao agente.
Tal escopo implica, assim, uma indagação junto de cada uma das
disposições legais citadas.
Procedendo a tal operação, temos que salientar o seguinte:
No que concerne ao crime de falsificação p. e p. pelo artigo 228º, nºs 1, b), e
2, do Código Penal82, decidimos aplicar à arguida a pena de 2 anos de prisão e
18 dias de multa à texa diária de 500$00, pena essa declarada suspensa na sua
execução, pelo período de 2 anos.
Relativamente ao crime p. e p. pelas disposições conjugadas dos artigos
11º, nº 1, alínea a), do DecretoLei nº 454/91, de 28 de Dezembro e 313º, n.” 1, e
314º, alínea c), do Código Penal, considerando: Tudo quanto acima sublinhámos
—quer no aspecto agravativo, quer no ponto atenuativo; e as circunstâncias da
M. Miguez Garcia. 2001
1155
necessidade de prevenção de situações como a dos autos, que se estão a
observar com grande frequência, com graves transtornos para os cidadãos
honestos e para o descrédito do cheque como meio de pagamento, bem como
para os tribunais que se vêem confrontados com uma quantidade enorme de
casos de emissão de cheques, em detrimenlo da sua desejável disponibilidade
para se ocuparem de outros tipos de criminalidade (cfr. relatório preambular do
mencionado DecretoLei n.° 454/91).
Somos de parecer que a pena que melhor se ajusta ao procedimento
criminoso da A é a de dois anos e seis meses de prisão, embora decretandose a
suspensão da execução da pena, pelo período de dois anos.
Ora, cotejando seguidamente as duas aludidas penas —quer à face da lei
vigente ao tempo da conflagração dos factos, quer de harmonia com a nova lei
— somos forçados a concluir que é aquela primeira lei —a que vigorava ao
tempo dos factos —que tipifica o regime mais benigno, em concreto, repitase, a
favor da A. E daí que, por força do decreto constitucional do artigo 29º, nº 4, e
do nº 4 do artigo 2º do Código Penal de 1982, se haja de optar pela pena que lhe
foi aplicada nos termos do artigo 228º, nº s1, alínea b) e 2, do Código Penal.
Fica, assim, a A condenada na pena de dois anos de prisão e dezoito dias
de multa à taxa diária de 500$00, multa na alternativa de doze dias de prisão.
A pena decretada será declarada suspensa na sua execução, pelo periodo
de dois anos.
Pode verse a aplicação do artigo 2º, nº 4, num caso semelhante tratado
pelo acórdão do STJ de 26 de Janeiro de 2000, BMJ493272.
6. Ainda a aplicação retroactiva da lei penal mais favorável.
• Os arguidos foram condenados na 1ª instância como coautores de um crime de burla
agravada previsto e punido pelos artigos 313.° e 314.°, alínea c), do Código Penal de 1982.
Actualmente, em face do Código Penal revisto de 1995, tendo em atenção o valor do prejuízo e
o valor da unidade de conta à altura dos factos, o comportamento dos arguidos é previsto e
punível pelas disposições combinadas dos artigos 202.°, alínea b), 217.°, n.° 1, e 218.°, n.° 2,
alínea a), havendo, no entanto, quanto ao C, a quem é extensivo o recurso, de ser tomado em
consideração o que agora se dispõe nos artigos 218.°, n.° 3, e 206.° do citado Código revisto.
Relativamente ao anterior acórdão deste Supremo Tribunal, proferido com base no Código
M. Miguez Garcia. 2001
1156
Penal de 1982, pode afirmarse que, nessa base, ficou esgotado o poder jurisdicional, não
podendo modificarse o que foi decidido. O tipo de burla agravada, com que lidou o anterior
acórdão, sofreu alterações na sua passagem para o Código Penal revisto de 1982, ao nível das
penalidades, da qualificativa do prejuízo e bem assim do efeito jurídico decorrente da
reparação desse prejuízo, mantendose a acção típica do tipo legal de burla do Código
posterior no restante e não havendo modificações na definição da auto ria constante do artigo
26.° de ambos os Códigos. Cf. o acórdão do STJ de 9 de Outubro de 1996, BMJ420557.
Dando cumprimento ao que se prescreve no artigo 2.°, n.° 4, do Código
Penal, há, pois, que decidir se o novo regime jurídico é ou não mais favorável
aos arguidos e, sendoo, determinar as novas penas tendo presente a valoração
concreta efectuada pelo anterior acórdão ao abrigo do Código de 1982.
A pena aplicável ao crime de burla agravada do artigo 314.°, alínea c), do
Código Penal anterior era de um a dez anos de prisão e a actual,
correspondente aos factos e à sua subsunção legal no artigo 218.°, n.° 2, alínea
a), é de dois a oito anos, havendo ainda que ter em consideração o disposto no
n.° 3 do artigo 218.° a remeter para o artigo 206.°, normativo que, no entanto,
perante a situação de facto, só interessa ao C na medida em que restitui 8 mil
contos.
O n.° 1 daquele artigo 206.° manda atenuar especialmente a pena quando
tiver lugar a reparação integral do prejuízo causado, concedendose, no seu n.°
2, a faculdade de atenuação se a reparação for parcial. Os termos da atenuação
especial, na parte que agora interessa, são os do artigo 73.° do Código vigente: o
limite máximo da pena de prisão é reduzida de um terço [n.° 1, alínea a)]; o
limite mínimo da pena de prisão é reduzido ao mínimo legal [n.° 1, alínea b),
última parte].
Seja para a atenuação imposta, seja para a atenuação facultativa, o que
releva é a medida da reparação. O C restituiu, de um prejuízo de 13.250 contos,
a quantia de 8 mil contos, situação que permite o benefício da atenuação
especial (artigo 206.°, n.° 2), reforçada até pelo valor dos factos provados que o
beneficiam.
Quanto ao arguido A, há que ponderar que a nova medida legal da pena
se encontra, face à anterior, mais comprimida, o que se traduz numa
valorização do tempo de prisão aplicável em face da medida legal anterior e
M. Miguez Garcia. 2001
1157
numa consequente menor necessidade legal de prisão aplicada, pelo que o novo
regime jurídico lhe é mais favorável em concreto.
Assim, quanto ao C, na consideração da medida legal decorrente da
atenuação especial e tendo sido ele condenado na pena de dois anos de prisão, a
pena a aplicar, segundo o novo regime, será a de um ano de prisão, enquanto
que a pena a aplicar ao A será a de dois anos e meio de prisão, assim se dando
satisfação ao comando do n.° 4 do artigo 2.° do Código Penal.
Em consequência, nesse aspecto se altera a anterior condenação, ficando o
arguido C condenado na pena de um ano de prisão e o arguido A em dois anos
e meio de prisão, no restante se mantendo o anteriormente decidido.
7. Para se aplicar o regime que concretamente se mostrar mais favorável ao
arguido, o tribunal deve verificar quais as penas que lhe caberiam pelos
factos praticados em face de cada regime em concorrência, comparar os
resultados concretos e decidir em conformidade
O crime de burla ofende a boa fé do enganado e o interesse patrimonial do
lesado. Donde se conclui que, pelo critério do artigo 30.°, n.° 1, do Código
Penal, o crime de passagem de moeda falsa concorre efectivamente com o crime
de burla, ainda que consumados através da mesma acção. O arguido,
entregando as notas de 5000$00, que sabia serem falsas, como meio de
pagamento de mercadorias que comprava, recebendo, além disso, dos
vendedores, o troco respectivo em moeda corrente, cometeu dois crimes em
concurso real, e na forma continuada, previstos e punidos um pelo artigo 241.°,
alínea a), e o outro pelo artigo 313.°, n.° 1, ambos do Código Penal de 1982.
Importa agora determinar a medida concreta da pena.
Notese, porém, que a consumação dos crimes ocorreu no domínio do
Código Penal de 1982 e, em 1 de Outubro de 1995, entrou em vigor o Código
Penal revisto pelo DecretoLei n.° 48/95, de 15 de Março.
Assim, para efeitos do disposto no artigo 2.°, n.° 4, há que apurar qual dos
regimes é o concretamente mais favorável ao arguido.
M. Miguez Garcia. 2001
1158
Conforme decidiu o STJ em seu acórdão de 25 de Março de 1993 (BMJ425
315), «para se aplicar o regime que concretamente se mostrar mais favorável ao
arguido, o tribunal deve verificar quais as penas que lhe caberiam pelos factos
praticados em face de cada regime em concorrência, comparar os resultados
concretos e decidir em conformidade». Por vezes, porém, as diferentes
molduras penais abstractas dos dois regimes dispensam tais operações. Nos
termos do artigo 72.° do Código Penal de 1982 (artigo 71.° actual), a
determinação da medida concreta da pena é feita dentro dos limites definidos
na lei em função da culpa do agente, sem olvidar as exigências da prevenção e
as circunstâncias que, não fazendo parte do tipo de crime, deponham a favor do
agente ou contra ele.
O crime de passagem de moeda falsa era punido no Código Penal de 1982
com a pena de um a cinco anos de prisão [artigo 241.°, alínea a)]. A elevada
ilicitude e o intenso grau do dolo, bem como a ausência de circunstâncias
atenuantes de relevo, convencem de que a pena de três anos de prisão aplicada
pelo tribunal a quo é justa e adequada.
No Código de 1995, o mesmo crime é punido com prisão até cinco anos
[artigo 265.°, n.° 1, alínea a)]. Como o circunstancialismo provado não faz
aproximar a medida da pena do mínimo legal, a medida concreta da pena não
se altera. Tem, pois, aplicação ao crime de passagem de moeda falsa o Código
Penal de 1982.
Relativamente ao crime de burla simples, o Código Penal de 1995
introduziu uma alteração importante, ao estabelecer, no n.° 3 do artigo 217.°,
que o procedimento criminal depende de queixa.
• No ensinamento de Alimena, citado por Américo A. Taipa de Carvalho (Sucessão de Leis
Penais, pág. 218), a queixa é uma condição de punibilidade, pois só com a sua ocorrência o
legislador entende necessária a pena. O facto de a exigência da condição de punibilidade não
ser posta para favorecer o réu não impede que a situação que objectivamente dela resulta seja
uma situação mais favorável para o transgressor da norma penal.
O princípio constitucional da obrigatoriedade da aplicação retroactiva da
lei penal de conteúdo mais favorável ao arguido, expresso no n.° 4 do artigo
29.° da Constituição da República Portuguesa, e regulado no artigo 2.° do
Código Penal, vale para todas as normas penais, sejam materiais ou
processuais, pois não há razão para distinguir. Notese que o citado artigo 2.°
M. Miguez Garcia. 2001
1159
tem a sua fonte no artigo 2.° do Código Penal italiano o qual, no entender de M.
Leone (ob. cit. de T. de Carvalho, pág. 220) se aplica «não apenas à norma
substantiva mas também a toda a larga esfera de normas processuais que toca o
interesse do arguido». Portanto, em abstracto, uma lei que transforma um crime
público em crime semipúblico é mais favorável ao arguido que a anterior. E sê
loá em concreto se queixa não houve. Foi o que aconteceu in casu. Os ofendidos
não apresentaram queixa. O MP deduziu a acusação sem prévia dedução de
queixa dos ofendidos e tinha legitimidade para tal porque a lei ao tempo
vigente tratava o crime de burla simples como crime público. Acontece, porém,
que, com a entrada em vigor das alterações de 1995, a queixa passou a ser
obrigatória, pelo que a mesma devia ter sido formulada no prazo de seis meses
a contar da data da entrada em vigor da lei nova —1 de Outubro de 1995 (artigo
115.° do Código Penal). Não o tendo sido, o direito de queixa dos ofendidos
extinguiuse por caducidade, e, automaticamente, o MP perdeu a legitimidade
para acompanhar o procedimento criminal e, retroactivamente, perdeu a
legitimidade para deduzir a acusação.
• Não se diga que, sendo a acusação um acto de natureza processual, se encontra abrangida
pelo regime do artigo 5.°, n.° 1, do CPP, segundo o qual a lei processual penal é de aplicação
imediata mas não se aplica aos actos processuais validamente celebrados anteriormente. Como
refere A. Taipa de Carvalho (ob. cit., pág. 226), aquele artigo 5.° só se refere às normas
processuais penais formais. Por isso, em concurso aparente da norma daquele artigo 5.° com a
do n.° 4 do artigo 2.° do Código Penal, esta sempre prevalecerá, por constituir um instrumento
de garantia de direitos fundamentais consagrados no artigo 29.° da Constituição da República
Portuguesa.
• Reconhecer que a transformação do crime público em semipúblico introduz
um regime mais favorável ao arguido mas fazendo permanecer a acusação do
MP sem se encontrar legitimada pelo exercício de queixa do ofendido
equivaleria a tirar com uma das mãos aquilo que se dera com a outra.
Em conclusão. Ao crime de burla simples aplicase o regime do Código
Penal de 1995. Nos termos do n.° 3 do artigo 217.°, o procedimento criminal por
aquele crime depende de queixa. O direito de queixa não foi exercido no prazo
de seis meses após a entrada em vigor do actual Código (1 de Outubro de 1995)
e, portanto, encontrase extinto por caducidade. Em consequência, o MP perdeu
M. Miguez Garcia. 2001
1160
a legitimidade para a respectiva acção penal, pelo que tudo se passa como se o
arguido não tivesse sido acusado pelos crime de burla. Ac. do STJ de 9 de
outubro de 1996, BMJ420564.
8. A determinação do regime aplicável como sendo o concretamente aplicável,
tem de ser feita em bloco e não como recurso aos aspectos parcelares mais
favoráveis de cada um dos regimes que se tenham sucedido no tempo.
A A é imputada a prática de um crime de administração danosa em unidade económica
do sector público, na forma continuada, dos artigos 30º, nº 2, e 333º, nºs 1 e 3, do Código Penal
de 1982 — cuja pena é de prisão de 2 a 6 anos. Os factos ocorreram no ano de 1983, sendo certo
que o último acto ilícito teve lugar em 30 de Setembro de 1983. O réu (tratase do antigo
processo de querela) foi notificado para prestar as primeiras declarações, como arguido, em
instrução preparatória, em 9 de Junho de 1987, ocorrendo o interrogatório em 26 de Fevereiro
de 1988. O réu foi pronunciado por despacho de 4 de Abril de 1994, tendo sido notificado do
respectivo despacho de pronúncia em 4 de Maio de 1994 . Cf. o acórdão do STJ de 15 de
Junho de 2000, CJ 2000, tomo II, p. 218.
“Perante o regime de prescrição que resulta do CP82, o prazo
prescricional do indicado ilícito é de 10 anos (artigo 117º, nº 1, alínea b), uma
vez que o limite máximo da pena é superior a 5 anos.
• Sendo certo que, depois de cada interrupção, começa a correr novo prazo prescricional
(art.º 120.°, n.º 2) e que o mesmo foi interrompido com a notificação para as primeiras
declarações, como arguido, em instrução preparatória, ou seja, em 9/06/87 e com a notificação
do despacho de pronúncia (4/05/94), considerando que a partir desta última data o referido
prazo esteve suspenso durante três anos art.º 119.º, n.º s 1 al. b), 2 e 3 em momento algum se
completou o referido prazo de dez anos. Também não decorreu o prazo que resulta da regra do
n.º 3 do art.º 120.º prazo normal da prescrição, acrescido de metade e ressalvado o tempo de
suspensão contado desde a data dos factos (30/09/83), prazo que se completará apenas em
30/09/2001.
Consequentemente, face à lei vigente à data dos factos (CP/82), não
ocorreu a prescrição.
Manda, porém, o art.º 2.º, n.º 4, do Código Penal: Quando as disposições
penais vigentes no momento da prática do facto punível forem deferentes das
estabelecidas em leis posteriores, é sempre aplicado o regime que
M. Miguez Garcia. 2001
1161
concretamente se mostrar mais favorável ao agente, salvo se este já tiver sido
condenado por sentença transitada em julgado.
Com a publicação do DL 48/95, de 15/3, foi dada nova redacção a muitas
normas do Código Penal, entrando em vigor a nova redacção, bem como aquele
decretolei, em 1/10/95 (art. 13.º). Nomeadamente: Foi alterada a norma
incriminadora, que passou a ser o art.º 235.º, com a epígrafe "Administração
danosa”, dispondo da seguinte forma: Quem, infringindo intencionalmente normas
de controlo ou regras económicas de uma gestão racional, provocar dano patrimonial
importante em unidade económica do sector público ou cooperativo é punido com pena
de prisão até 5 anos ou com pena de multa até 600 dias. Foi alterada a alínea c) do
n.º 1 do art.º 117.º, que passou a art.º 118.º na nova redacção, substituindose a
expressão "mas que não exceda 5 anos" por "mas inferior a 5 anos".
Mantiveramse os actos interruptivos da prescrição previstos no art.º 120.º, n.º
1, da redacção original de 1982, para os processos iniciados anteriormente a
31/12/87 (caso dos autos), agora previstos no art.º 11º do referido DL 48/ /95,
de 15/03. Mantevese igualmente a causa de suspensão do prazo
prescricional, a partir da notificação do despacho de pronúncia, conforme
resulta do art.º 10.º, deste último diploma, não podendo deixar de se lhe aplicar
o limite de três anos acima referido, agora previsto no art.9 120.º n.º 2 do CP.
Consequentemente, perante o novo regime jurídico introduzido pelo DL
48/95, apesar de a pena correspondente ao crime imputado ter descido de seis
para cinco anos de prisão, o prazo prescricional mantémse em dez anos,
continuando a concluirse que, face ao mesmo regime, a prescrição só ocorrerá
na referida data de 30/09/2001.
Pretende, porém, o recorrente que, por força do princípio da aplicação do
regime mais favorável, que decorre do já citado art.º 2.º, n.º 4 do CP, seja
conjugada a nova incriminação de 5 anos de prisão, com as normas respeitantes
à prescrição do Código Penal na redacção original de 1982, argumentando que,
a ser assim, o prazo de prescrição seria de 5 anos em vez de 10 anos, uma vez
que, da conjugação das alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 117.º do CP/82, terá de
concluirse, por força do princípio in dubio pro libertatem, que a pena de 5 anos
terá de enquadrarse na alínea c) e não na b). Pretende, como ele próprio afirma,
para usar uma expressão sua, uma "miscigenação" de ambos os regimes em
confronto. Será tal pretensão legítima?”
“A resposta só pode ser negativa, aderindose à jurisprudência que é
unânime neste ponto. Citamse, a título de exemplo, as seguintes decisões do
M. Miguez Garcia. 2001
1162
STJ: Acórdão de 19/09/96, Proc. 48440, 3' Secção: A determinação do regime
aplicável como sendo o concretamente aplicável, tem de ser feita em bloco e
não como recurso aos aspectos parcelares mais favoráveis de cada um dos
regimes que se tenham sucedido no tempo; Acórdão de 7/11/96,
Proc.601/96,3.' Secção: «A escolha dos regimes penais em confronto para
determinar qual o regime concretamente mais favorável para o agente, tem de
ser feita em bloco”. [E ainda]:
• Acórdão de 2/10/97, Proc. 386/97, 3.ª Secção: “A interpretação do n.º 4, do art.º 2.º do CP é
no sentido de aplica ao condenado o regime que se mostre, em concreto, mais favorável, face às
circunstâncias do caso, devendo optarse por tal regime penal em bloco e não pela combinação
de normas do regime anterior com normas do regime penal novo". Acrescentase ainda no
mesmo acórdão: “Designadamente, é claramente violador do espírito do art.º 2.º, n.º 4, do CP, o
procedimento de se determinarem as penas segundo o regime de um dado Código e ir depois
buscar os pressupostos da suspensão da execução das penas a um novo Código”.
• Acórdão de 11/02/98, Proc. 1339/98, 3.ª Secção: «Verificado que o regime do Código Penal
de 1982, é o concretamente mais favorável ao agente, deve o mesmo ser aplicado na sua
totalidade, pelo que os critérios de suspensão da execução da pena e suas condições devem
buscarse nos art.ºs 48.º, n.ºs 1 e 2 e 49.º, do mesmo Diploma”.
• Acórdão de 1/04/98, Proc. 22/98, 3.ª Secção “Também no que respeita à prescrição do
procedimento criminal o regime concretamente mais favorável tem de entenderse como de
aplicação global ou em bloco: será um único regime para a prescrição e quanto à medida das
penas”.
• Acórdão de 07/05/86, Proc. 38329, 3.ª Secção: “A opção pelo regime mais favorável art.º
2.º, n.º 4, do CP/82 significa aplicação de toda a nova estrutura de normas conexas com a da
incriminação, nomeadamente, as que versam os prazos de prescrição. Isto porque, quando se
fala em executoriedade da lei mais benigna tem de entender–se que a reformatio in melius só
pode inteiramente efectivarse através de um bloco normativo constituído pelo preceito
incriminador e pelas suas infraestruturas, em que avultam os pressupostos, entre os quais, o
da prescrição do procedimento criminal”.
“Mesmo para o caso de concurso real de crimes, tem vindo sempre a
jurisprudência do STJ a defender que, relativamente a cada um dos crimes,
M. Miguez Garcia. 2001
1163
deve ser aplicado em bloco o regime que em concreto se apresenta mais
favorável. Vejase, exemplificativamente”:
• Acórdão de 26/04/97, Proc.129/97, 3.ªSecção: “...perante dois crimes distintos, como no
caso em apreço, deve em relação a cada um deles aplicarse o CP/82 e o CP/95, em bloco,
desde que daí resulte o aludido benefício para o agente”.
• Acórdão de 08/02/96, Proc. 48863, 3.ª Secção: «...tem sido jurisprudência pacífica que na
aplicação da Lei Penal mais favorável, deve escolherse em bloco um dos regimes, não sendo
lícito respigar deles disposições isoladas. Todavia, nada obsta a que a um crime se aplique o
regime do Código Penal revisto e a outro se aplique antes o regime do Código Penal anterior,
dado tratarse de crimes em concurso real. Tal como já se decidiu, a determinação da lei como
regime concretamente mais favorável para o réu deve ser feita em relação a cada uma das
infracções cometidas por este, o que pode implicar a aplicação, quanto a crimes da mesma
natureza, da lei antiga quanto a um e da lei nova quanto a outros».
• Acórdão de 05/96, Proc. 41/96, 3.ª Secçâo: «Para adequada obediência ao comando do art.º
2.º, n.º 4, do CP, o regime concretamente mais favorável ao agente é apreciado, antes de mais,
em relação a cada um dos factos punívels”. Ac. de 10/10/96, Proc. 436/96, 3ª Secção: “A
aplicação da lei mais favorável é feita em relação a cada uma das infracções cometidas pelo
arguido".
“Mas mesmo para esta jurisprudência, como se realça nalguns dos arestos
citados, a determinação do regime em concreto mais favorável, quanto a cada
um dos ilícitos cometidos em concurso real, terá de ser aplicado em bloco,
abrangendo não só a questão da medida da pena, mas também o modo de
execução desta, bem como todos os pressupostos da punibilidade, condições de
procedibilidade ou modos de extinção do procedimento criminal
nomeadamente no que concerne à prescrição. Nunca, até ao presente momento,
se admitiu nos tribunais portugueses a ideia defendida pelo recorrente, da
"miscigenação" de regimes, aproveitando de cada um deles o que mais
conviesse aos interesses do agente do crime. Isso seria criar novos regimes, e
não aplicar o mais favorável de entre os vigentes desde a prática do ilícito até à
decisão E o intérprete, ou o aplicador do direito, não se podem substituir ao
legislador, criando novos regimes punitivos, em matéria sujeita a reserva de Lei
da Assembleia da República.
M. Miguez Garcia. 2001
1164
Conclusão: “é irrelevante a discussão quanto à questão de se saber se a
pena com limite máximo de cinco anos de prisão é enquadrável na alínea b) ou
na alínea c), do n.º 1 do art.º 117.º, do CP de 1982, pois nesse Código, a pena
correspondente ao ilícito imputado era de 6 anos de prisão enquadrável, por
isso na alínea b) e, no Código Penal de 1995, em que a pena é de 5 anos, não há
quaisquer dúvidas de que o prazo de prescrição respectivo é o da alínea b) do
n.º 1 do art.° 118.º, ou seja, de dez anos de prisão”.
9. Descriminalização ou despenalização? A descriminalização e o problema
da aplicação da lei no tempo, vd. Cristina Líbano Monteiro, RPCC 11 (2001).
Comparando agora a Lei n.° 30/2000 com a norma que anteriormente
regia o consumo de drogas e a sua aquisição e detenção para consumo (art. 40.°
do DL n.° 15/93, de 22 de Janeiro), havemos de dizer que, em termos de
classificação dogmática do fenómeno, estamos em presença de uma verdadeira
e própria descriminalização (1).
Para que as coisas fiquem claras, definamos conceitos:
Há descriminalização quando uma lei nova deixa de incriminar certos
factos previstos numa lei anterior. O que antes era crime deixa agora de o ser.
A despenalização dáse nos casos em que uma lei nova continua a
considerar uma conduta como crime, mas submetea a uma punição mais leve
do que aquela que resultava da lei anterior.
A degradação de um crime em contraordenação inserese na primeira
hipótese. O que à face da lei “velha” era crime deixa de o ser, passa a constituir
outra coisa, um aliud e não apenas um minus em relação à anterior realidade
normativa. Sai do sistema jurídicopenal para entrar num outro ramo
sancionatório da ordem jurídica. Aliás, mal se compreenderia que assim não
fosse, uma vez que o direito de mera ordenação social surge historicamente
enquadrado num movimento de descriminalização, de purificação do direito
penal, para que este recupere o seu carácter de ultima ratio sancionatória, como
convém à extrema gravosidade que podem alcançar as sanções que aplica (…).
Não se pode, (…), chamar despenalização a este fenómeno, uma vez que a
despenalização supõe a permanência da natureza criminosa da conduta e, neste
1
. Diferentemente, defendendo que se trata de uma despenalização, J. Faria Costa, Noções
fundamentais de Direito Penal (1999), § 32, e já na nota (5) da Separata do Vol. LXII (1986) do BFD.
M. Miguez Garcia. 2001
1165
caso, ela desapareceu. É certo que não passou de crime a acto lícito, se
considerarmos a globalidade da ordem jurídica sancionatória. Mas, partindo da
premissa da especificidade do ilícito criminal—afastando portanto a velha ideia
da unicidade da ilicitude, combatida por diversidade de modos, o mais grave
dos quais seria o penal—, o que verdadeiramente importa para a questão que
nos ocupa não é o que a conduta passou a ser, mas sim o que deixou de ser. O
facto de se ter dado uma degradação de um ilícito de uma natureza a outro de
outra natureza e de ambos pertencerem ao género sancionatório terá relevância
para a questão que se passa a analisar. A nova lei da droga cria um problema
delicado—não original, mas sempre difícil: o de saber como tratar o agente que
praticou a conduta proibida quando ela se considerava crime e vai ser julgado
numa altura em que o legislador a vê como contraordenação. O intérprete
parece, em hipóteses como esta, ficar aprisionado por uma dupla corrente: a das
normas garantísticas—princípio da legalidade—que impõem, tanto para o
crime como para a contraordenação, que ninguém sofra pena ou coima se estas
não forem determinadas pela lei vigente no momento da prática do facto e a das
normas de equidade que procuram que todos os culpados beneficiem das
mudanças de valoração do legislador, nos termos do princípio da aplicação
retroactiva do regime mais favorável ao agente (artigos. 1.° e 2.° do CP e artigos.
2.° e 3.° da leiquadro das contraordenações). Aprisionado, dizíamos, porque o
sentido da justa solução do caso concreto gritarlheá, com certeza, que o jogo
desses princípios em situações de conversão de crimes em contraordenações
dará lugar a flagrantes injustiças materiais. Com efeito, por que razão deverá
passar sem punição alguém que praticou um facto que a ordem jurídica
continua a reprovar, embora de outra forma? Se o legislador tivesse diminuído a
pena, o agente seria punido por essa mais leve. Se a lei diminuísse o montante
da coima, o condenado pagaria menos, mas pagaria. Mais e tornando ao
problema concreto: quem consumir droga a partir de 1 de Julho praticará um
ilícito de mera ordenação social e aplicarlheão uma coima; quem a tiver
consumido no dia anterior, terá cometido ainda um crime e por isso mesmo não
conhecerá qualquer sanção! Julgamos que é possível, sem necessidade de torcer
conceitos, encontrar saída para a prisão dogmática em que parece estar metido
o intérprete. Para tal, convém adentrarmonos não tanto na letra quanto na
lógica, na teleologia do regime resultante dos artigos acima citados. Com toda a
certeza, late neles uma ideia garantística e têm como finalidade óbvia obstar à
arbitrariedade punitiva, por um lado, e à injustiça relativa, por outro. O
legislador não quer que o factor tempo (tantas vezes aliado ao factor sorte ou
azar) distorça a relação punitiva, obrigue o agente a sofrer mais do que em cada
M. Miguez Garcia. 2001
1166
momento a ordem jurídica quer que sofra pelo ilícito cometido. Nalguns casos,
por impraticabilidade de uma outra solução, a lei tolera mesmo alguma
excepção a este princípio: nas hipóteses do art. 2.°, n.° 4, do CP, o condenado
por sentença passada em julgado não beneficia de uma mudança de regime
sancionatório. Parece estar bem longe do espírito (da teleologia) da norma a
ideia (a suspeita sequer) de que a teia garantística que forja dê lugar a vazios de
punição. Perante isto, está o intérprete obrigado a “buscar o direito através da
lei” (2), a encontrar na linguagem do texto a forma de não trair o seu significado.
No caso que nos ocupa, julgamos poder dizer que a reserva de lei anterior,
exigida para as contraordenações, deve ser observada sempre que antes dessa
lei existisse o “nada” sancionatório; já não—por evidente ausência de
necessidades garantísticas—nas hipóteses em que, em momento anterior, sem
qualquer solução de continuidade, a mesma conduta estivesse proibida pelo
direito sancionatório de ultima ratio, o direito penal. Melhor dizendo: a reserva
de lei anterior rege sem excepção; só que umas vezes—a quase totalidade—essa
lei tem natureza contraordenacional, outras—muito poucas—carácter criminal,
i.é, força proibitória acrescida. Cremos poder afirmar ainda que o n.° 2 do art.
2.° do CP vale para os casos em que a conduta desapareceu de qualquer ramo
do direito sancionatório (foi “eliminada do número das infracções”) e o n.° 4
para aqueles outros em que o regime sancionatório se tornou mais favorável ao
arguido, quer por se ter operado uma despenalização (crime, mas pena
inferior), quer por o ilícito ter sido degradado, mudado de ramo sancionatório
(de delito para contraordenação). Também neste caso “as disposições penais
vigentes no momento da prática do facto punível são diferentes das
[disposições, o código não diz que tenham de ser necessariamente penais]
estabelecidas em leis posteriores”. Na prática, isto quer dizer que quem
consumiu droga ainda na vigência da lei incriminadora verá a sua sanção
converterse em coima, a não ser que tenha já passado em julgado a sentença
que o condenou. Poderseia perguntar se não seria mais fácil aderir à tese de
quem não vê diferença substancial, já ao nível do ilícito, entre crime e contra
ordenação e entende, por conseguinte, que estamos, com a nova lei da droga,
em face de uma mera despenalização. Sempre pensámos que uma facilidade de
solução num campo concreto não justifica uma distorsão da boa teoria. A
2
. A expressão é de Manuel de Cavaleiro Ferreira e encontra-se no Prefácio ao seu Direito Penal
Português, Verbo, 1982, no seguinte contexto: “A lei não é a essência, a quididade do Direito. Uma
concepção normativa do Direito não deve confundir-se com um entendimento normativista do Direito. Há
que pensar o Direito antes da lei, buscar o direito através da lei. Autonomizar a lei, limitando-a à expressão
da vontade do Poder, é absolutizar o Estado, relativizando o Direito”. (Notas da Autora do texto a que se
recorre).
M. Miguez Garcia. 2001
1167
distinção entre crime e contraordenação, se bem que de fronteiras práticas
movediças e de difícil traçado, tem a fundamentála uma ideia forte do que é ou
deve ser o direito penal e traduzse em consequências sancionatórias e
procedimentais que excedem em muito um problema de aplicação de leis no
tempo.
10. Aplicação da lei mais favorável em matéria de direito processual penal.
Acórdão do Trib. Const. nº 183/2001, de 18 de Abril de 2001, publicado no
DRIA, de 8 de Junho de 2001: sistema de recursos em matéria cível no processo
penal. Sistema de adesão. Existem normas processuais penais materiais que,
assim como as normas de direito penal, também afectam os direitos
fundamentais. É o caso paradigmático das normas relativas à prisão preventiva,
mas é também, segundo alguma doutrina, o caso das normas referentes aos
graus de recurso, na medida em que conferem (ou não) possibilidades
acrescidas de o arguido ver o seu caso reapreciado e decidido em sentido
favorável (cf., quanto a este aspecto, Taipa de Carvalho, Sucessão de leis penais,
1977, p. 260, onde esse autor autonomiza as normas processuais penais
materiais; e Figueiredo Dias, Direito processual penal, 1988, p. 80 e s.), em que o
autor afasta a possibilidade de recurso à analogia no direito processual penal
“na medida imposta pelo conteúdo de sentido do princípio da legalidade e,
portanto, sempre que o recurso venha a traduzirse num enfraquecimento da
posição ou numa diminuição dos direitos processuais do arguido”).
Relativamente às normas processuais penais que afectam (ou que são
susceptíveis de afectar) direitos fundamentais, poderá existir, assim, justificação
para a aplicação do princípio de imposição da retroactividade da lei penal mais
favorável. Os princípios da necessidade e da intervenção mínima do direito, no
que respeita à limitação dos direitos, liberdades e garantias (artigo 18º, nº 2, da
Constituição), decorrente do princípio geral da liberdade e ainda do princípio
da igualdade, subjacente à solução da aplicação retroactiva da lei penal mais
favorável, poderão justificar, também, a aplicação de tal regra constitucional no
âmbito das denominadas normas processuais penais materiais, uma vez que aí
está igualmente em causa a tutela de direitos, liberdades e garantias.
11. Jurisprudência
• Acórdão do STJ de 16 de Outubro de 2002, CJ 2002, tomo III, p. 201: crime de
abuso de confiança (simples ou agravado?), valor elevado, lei interpretativa,
aplicação retroactiva: a norma penal interpretativa só se aplica
M. Miguez Garcia. 2001
1168
retroactivamente se for mais favorável ao arguido. Os factos ocorreram
durante o ano de 1992, importando proceder à comparação entre o regime
do Código Penal de 1982, na sua versão originária e na de 1995, em que se
fez a concretização de valores dos crimes contra o património.
• Acórdão da Relação de Coimbra de 17 de Abril de 2002, CJ 2002, tomo II, p.
57: face à redacção actual do artigo 69º do Código Penal, introduzida pela
Lei nº 77/2001, de 13 de Julho, o crime de condução sem habilitação legal
deixou de ser punido com a pena acessória de inibição da faculdade de
conduzir.
• Acórdão da Relação de Évora de 15 de Março de 2002, CJ 2002, tomo II, p.
279: natureza processual do direito de queixa.
• Acórdão do STJ de 9 de Maio de 2002, CJ 2002, tomo II, p. 193:
Descriminalização de condutas, regime dos jovens delinquentes. Acções
relativas ao consumo de estupefacientes que com a entrada em vigor da Lei
nº 30/2000, de 29 de Novembro, passaram somente e integrar a prática de
uma contraordenação.
95. Acórdão da Relação de Coimbra de 14 de Março de 1984, BMJ335249: No
confronto entre uma pena de 10 dias de prisão e 17500$00 de multa e uma
pena de 56000$00 de multa, deve entenderse que é aquela a mais grave (por
ser a pena de prisão mais grave do que a pena patrimonial)”.
96. Acórdão da Relação de Lisboa de 29 de Abril de 1997, CJ, ano XXII (1997), t.
II, p. 155: Sucessão de leis penais no tempo. Natureza da desistência da
queixa.
97. Acórdão do STJ de 11021998 Processo n.º 1191/97 3.ª Secção: Prolongando
se a acção delituosa no tempo, é a lei em vigor no momento em que teve
lugar o último acto ou fragmento da acção a aplicável. Assim, iniciandose a
acção em 29/9/89 e terminando em 31/8/92, não pode o agente beneficiar
do perdão da Lei 23/91, de 4/7.
98. Acórdão do STJ de 14 de Outubro de 1987, BMJ370303: “A lei mais favorável
aos réus encontrase pela consideração dos regimes, em bloco, tendo em
conta a pena principal (prisão) prevista, e pela sua aplicação no caso
concreto”.
99. Acórdão do STJ de 17 de Julho de 1985, BMJ349274: “Comparando as penas
resultantes da aplicação em concreto da lei antiga e da lei moderna, embora
as daquela sejam mais leves quanto à multa e à alternativa de prisão,
considerase mais favorável o regime da lei nova, na medida em que permite
a substituição da pena efectiva de prisão por multa.
M. Miguez Garcia. 2001
1169
100. Acórdão do STJ de 19 de Dezembro de 1984, BMJ342306: “A
determinação do regime mais favorável ao agente tem de fazerse em
concreto (artigo 2º, nº 4), isto é, através de uma avaliação completa dos factos
provados, das circunstâncias da culpa do agente e da definição da pena
efectivamente aplicável — o que postula, em regra, a espera pelo julgamento.
101. Acórdão do STJ de 19 de Fevereiro de 1997, BMJ464393: Aplicação da lei
penal no tempo. Passagem de crime público a semipúblico
102. Acórdão do STJ de 2 de Fevereiro de 2000, CJ 2000, tomo I, p. 195: lei
nova: elevação do prazo de prisão preventiva; regime mais gravoso para o
arguido.
103. Acórdão do STJ de 21 de Março de 1990, BMJ395297: “A determinação
do regime global mais favorável ao agente pressupõe a dupla operação de
averiguação prévia da pena concreta aplicável à luz de cada uma das leis
penais que se sucederam no tempo”.
104. Acórdão do STJ de 28 de Fevereiro de 1985, BMJ344340 “Para a
determinação da lei mais favorável, o juiz deve verificar qual a pena que
caberia ao agente do acto praticado em cada um dos sistemas concorrentes e
comparar os resultados concretos assim obtidos”.
105. Acórdão do STJ de 29 de Setembro de 1999, BMJ489247: Criminalidade
relacionada com o cheque sem provisão. Recurso de revisão em processo
penal; sucessão de leis no tempo; sentenças penais condenatórias transitadas
em julgado; descriminalização de determinados factos; efeitos penais sobre a
sentença.
106. Acórdão do STJ de 5 de Abril de 2001, CJ 2001, tomo II, p. 176: Queixa.
Crime público. Lei nova. Se, quando entra em vigor uma lei que converte um
crime de público em semipúblico ou particular, o procedimento criminal já
foi iniciado, não é necessária a queixa do ofendido, mas pode este extinguir
o processo, desistindo.
107. Acórdão do STJ de 5 de Abril de 2001, CJ, ano IX (2001), tomo II, p. 176:
Queixa. Legitimidade do MP. Lei nova.
108. Acórdão do STJ de 5 de Dezembro de 1984, BMJ342207: “Para se apurar
qual a lei mais favorável ao infractor, nos termos do artigo 2º, nº 4, do
Código Penal, há que determinar quais as penas que lhe caberiam segundo
cada um dos regimes, aplicados globalmente, e indagar qual deles, em
concreto, mais o favorece. É mais favorável ao réu, autor de um crime de
especulação na forma tentada, a pena de 6 meses e meio de prisão e 110 dias
de multa a 200$00 por dia, esta com a legal alternativa de prisão, em que a
pena de prisão deva ser suspensa, do que a pena de 10 dias de prisão e
M. Miguez Garcia. 2001
1170
10.000$00 de multa, aquela não substituível por multa e ambas
insusceptíveis de suspensão na sua execução”.
109. Acórdão do STJ de 8 de Fevereiro de 1996, BMJ454376. Cf. a ampla
anotação no Boletim com refª, nomeadamente, ao ac. do STJ de 15 de Junho
de 1983, BMJ328348.
110. Acórdão do STJ de 8 de Maio de 1985, BMJ347159: Na determinação das
penas mais favoráveis deve o tribunal reportarse às parcelares e não às
unitárias resultantes da aplicação do cúmulo jurídico.
111. Acórdão do Trib. Const. de 28 de Setembro de 1999, DR II série de 6 de
Março de 2000, p. 4462: Direito de queixa. Transformação de um crime
público em semipúblico, Condições de procedibilidade. Prazo a quo para
exercer o dtº de queixa. Aplicação retroactiva da lei mais favorável. Tempus
delicti como critério definidor da existência de um conflito de leis.
112. Acórdão nº 150/94 do Tribunal Constitucional, de 8 de Fevereiro de 1994,
Diário da República, I série A, de 30.3.94.
113. Acórdão nº 59/95 do Tribunal Constitucional, de 16 de Fevereiro de 1995,
Diário da República, I série A, de 10.3.95.
114. Assento do STJ de 27 de Janeiro de 1993, in DRep., série IA, de 7 de Abril
de 1993: o artigo 11º, nº 1, alínea a), do DecretoLei nº 454/91, de 28 de
Dezembro, não criou um novo tipo legal de crime de cheque sem provisão
nem teve o efeito de despenalizar as condutas anteriormente previstas e
puníveis pelo artigo 24º do Decreto nº 13004, de 12 de Janeiro de 1927.
12. Alterações ao Código Penal aprovado pelo DecretoLei nº 400/82, de
23 de Setembro.
1. Primeira alteração: Lei nº 6/84, de 11 de Maio.
2. Segunda alteração: DecretoLei nº 132/93, de 23 de Abril.
3. Terceira alteração: DecretoLei nº 48/95, de 15 de Março. É a chamada Revisão
de 1995. O Código Penal revisto entrou em vigor em 1 de Outubro de 1995
(artigo 13º do DecretoLei nº 48/95).
M. Miguez Garcia. 2001
1171
4. Quarta alteração: Lei nº 65/98, de 2 de Setembro: altera, além do mais, a
redacção dos seguintes artigos: 5.”, 7.°, 10.°, 83.°, 84.°, 86.°, 101.°, 102.°, 113.”,
120.”, 121.°, 132.°, 138.°, 150.°, 152.°, 155º, 158.°, 160.°, 161.°, 163.°, 164.°, 165.°,
166.°, 167.°, 169.°, 170.°, 172.°, 173.°, 174º, 175.°, 176.°, 177.°, 178.°, 179.°, 180.°,
181.”, 184.”, 185.”, 221º, 222.°, 223.°, 227.°, 228.°, 229.”, 240.”, 275º, 287.°, 320.°,
321.°, 335º, 344º, 358º e 364.° do Código Penal, aprovado pelo DecretoLei nº
400/82, de 23 de Setembro, e alterado pelo DecretoLei nº 48/95, de 15 de
Março. Não tem a indicação da data de entrada em vigor. Destacase o
alargamento da atribuição de jurisdição aos tribunais portugueses por factos
cometidos no estrangeiro por estrangeiro desde que o mesmo seja encontrado
em Portugal e não possa ser extraditado (artigo 5.°), sobre os limites mínimo e
máximo da pena relativamente indeterminada (artigos 83.°, 84.° e 85.°), sobre
suspensão e interrupção do procedimento criminal (artigos 120.° e 121.°), sobre
a reformulação e aditamento de circunstâncias qualificativas ao homicídio
(artigo 132.°), o alargamento do âmbito da previsão do tipo penal de maus
tratos e infracção de regras de segurança e a atribuição ao Ministério Público da
legitimidade para iniciar o procedimento se o interesse da vítima o impuser e
não houver oposição do ofendido antes de ser deduzida acusação (artigo 152.°),
a criminalização de comportamentos anteriormente não punidos, bem como a
agravação de crimes contra a liberdade e a auto determinação sexual (Capítulo
V), a criminalização da burla nas comunicações (artigo 221.°) e da burla relativa
a trabalho e emprego (artigo 222.°), a reformulação do tipo de falência não
intencional, agora designada de insolvência negligente (artigo 228.°) e do crime
de substâncias explosivas ou análogas e armas (artigos 275.°). Pela mesma Lei é
dada nova redacção ao artigo 2.° do DecretoLei n.° 325/95, de 2 de Dezembro,
relativo a branqueamento de capitais.
M. Miguez Garcia. 2001
1172
5. Quinta alteração: Lei nº 7/2000, de 27 de Maio. Introduziu alterações com vista a
reforçar as medidas de protecção a pessoas vítimas de violência, dando nova redacção ao
artigo 152.° do Código Penal, através da qual foi atribuída natureza pública ao crime (n.° 2), se
alargou a previsão normativa ao progenitor de descendente comum em 1.° grau que seja
vítima de maus tratos físicos ou psíquicos (n.° 3), e se prevê a possibilidade de imposição de
pena acessória de proibição de contacto com a vítima (n.° 6).
6. Sexta alteração: Lei nº 77/2001, de 13 de Julho: altera a redacção dos seguintes artigos:69.°,
101.°, 291.°, 292.° e 294.° do Código Penal. Não tem indicação da data da entrada em vigor.
7. Sétima alteração: Lei nº 97/2001, de 25 de Agosto: altera a redacção dos
seguintes artigos: 255º, 265º e 266º. Não tem indicação da data da entrada em
vigor.
8. Oitava alteração: Lei nº 98/2001, de 25 de Agosto: altera a redacção do artigo
275º. Não tem indicação da data da entrada em vigor.
9. Nona alteração: Lei nº 99/2001, de 25 de Agosto: altera a redacção dos
seguintes artigos: 169º, 170º, 172º, 176º e 178º. Não tem indicação da data da
entrada em vigor.
10. Décima alteração: Lei nº 100/2001, de 25 de Agosto: altera a redacção do
artigo 143º. Não tem indicação da data da entrada em vigor.
11. Décima primeira alteração: Lei nº 108/2001, de 28 de Novembro: altera a
redacção dos artigos 335º, 372º, 373º e 386º [e introduz alterações à Lei nº 34/87,
de 16 de Julho, e ao DL nº 28/84, de 20 de Janeiro]. Entrou em vigor em 1 de
Janeiro de 2002.
Adenda: O artigo 8º do DecretoLei nº 323/2001, de 17 de Dezembro, deu nova redacção
ao artigo 47º, nº 2, do Código de Processo Penal: “Cada dia de multa corresponde a uma
quantia entre € 1 e € 498,80, que o tribunal fixa em função da situação económica e financeira
do condenado e dos seus encargos pessoais”.
M. Miguez Garcia. 2001
1173
13. Outras indicações de leitura
Américo Taipa de Carvalho, Sucessão de Leis Penais, Coimbra, 1990.
Américo A. Taipa de Carvalho, Direito Penal. Parte Geral. Questões
fundamentais, Porto, 2003.
Carlota Pizarro de Almeida, Caso Julgado, in Casos e Materiais de Direito Penal,
Coimbra, 2000, p. 229.
Castanheira Neves, O princípio da legalidade criminal, Digesta, vol. 1º,
Coimbra, 1995
Cobo del Rosal/Vives Antón, Derecho Penal, Parte General, Valencia, 1984
Cristina Líbano Monteiro, O consumo de droga na política e na técnica
legislativa, RPCC 11 (2001).
Der Spiegel. Sobre a irretroactividade da lei penal e a DDR: Thomas Darnstädt,
“Zurück nach Nürnberg”, Der Spiegel, nº 51, 16.12.96
Eduardo Correia, Direito Criminal, I, Coimbra, 1971
Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa
Anotada, 3ª ed. revista, Coimbra Editora, 1993.
Joaquín Cuello Contreras, El derecho penal español, Civitas, 1993.
Jorge de Figueiredo Dias / Manuel da Costa Andrade, Direito Penal. Questões
fundamentais. A doutrina geral do crime. 1996, p. 183.
M. Miguez Garcia. 2001
1174
Jorge de Figueiredo Dias, As associações criminosas no Código Penal português
de 1982 (arts 287º e 288º), Coimbra, 1988, p. 75
Jorge de Figueiredo Dias, Crime de emissão de cheque sem provisão,
Colectânea de Jurisprudência, ano XVII, 1992, p. 71
Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal, sumários das Lições.
Jorge de Figueiredo Dias/Costa Andrade, Problemas de especulação e sucessão
de leis penais no contexto dos regimes de preços controlados e declarados, Rev.
de Direito e Economia, VIVII, 1980/81
José António Veloso, Questões hermenêuticas e de sucessão de leis nas sanções
do regime geral das instituições de crédito — em especial a inibição de direitos
de voto por violação de deveres de revelar participações qualificadas, Revista da
Banca, nº 48, Julho / Dezembro 1999.
José Lobo Moutinho, A aplicação da lei penal no tempo segundo o Direito
português, Direito e Justiça, vol. VIII, tomo 2, p. 77.
Larry Alexander e Kenneth Kress, Contra os princípios jurídicos, in Andrei
Marmor, Direito e Interpretação, Martins Fontes, São Paulo, 2000, p. 445; sobre a
retroactividade dos princípios jurídicos.
Leal Henriques e Simas Santos Código Penal anotado, lº vol. p. 48
M. Lopes Rocha, Aplicação da lei criminal no tempo e no espaço, in Jornadas de
Direito Criminal, CEJ, 1983.
Maria Fernanda Palma, A aplicação da lei no tempo: a proibição da
retroactividade in pejus, Jornadas sobre a revisão do Código Penal, FDUL, 1998.
M. Miguez Garcia. 2001
1175
Maria Fernanda Palma, Direito Penal, PG., ed. AAFDL.
Pereira Teotónio, Interpretação da Lei Criminal e sua Aplicação no Tempo,
Revista do Ministério Público, ano 3º, vol. 12, p. 48.
Raul Soares da Veiga, Os crimes contra o património na revisão do Código
Penal, Jornadas sobre a revisão do Código Penal, FDUL, 1998, especialmente, p.
221 e ss. Vd., em especial, a questão da conversão de crimes patrimoniais
públicos em semipúblicos e sua relevância em termos de sucessão de leis no
tempo.
Sousa e Brito, A Lei Penal na Constituição, Estudos sobre a Constituição, vol. 2,
1978.
Teresa Beleza, Direito Penal, I, Lisboa, AAFDL, 1985.
M. Miguez Garcia. 2001
1176
Alterações ao Código Penal aprovado pelo DecretoLei nº 400/82, de 23
de Setembro.
1. Primeira alteração: Lei nº 6/84, de 11 de Maio.
2. Segunda alteração: DecretoLei nº 132/93, de 23 de Abril.
3. Terceira alteração: DecretoLei nº 48/95, de 15 de Março. É a chamada Revisão
de 1995. O Código Penal revisto entrou em vigor em 1 de Outubro de 1995
(artigo 13º do DecretoLei nº 48/95).
4. Quarta alteração: Lei nº 65/98, de 2 de Setembro: altera, além do mais, a
redacção dos seguintes artigos: 5.”, 7.°, 10.°, 83.°, 84.°, 86.°, 101.°, 102.°, 113.”,
120.”, 121.°, 132.°, 138.°, 150.°, 152.°, 155º, 158.°, 160.°, 161.°, 163.°, 164.°, 165.°,
166.°, 167.°, 169.°, 170.°, 172.°, 173.°, 174º, 175.°, 176.°, 177.°, 178.°, 179.°, 180.°,
181.”, 184.”, 185.”, 221º, 222.°, 223.°, 227.°, 228.°, 229.”, 240.”, 275º, 287.°, 320.°,
321.°, 335º, 344º, 358º e 364.° do Código Penal, aprovado pelo DecretoLei nº
400/82, de 23 de Setembro, e alterado pelo DecretoLei nº 48/95, de 15 de
Março. Não tem a indicação da data de entrada em vigor. Destacase o alargamento
da atribuição de jurisdição aos tribunais portugueses por factos cometidos no estrangeiro por
estrangeiro desde que o mesmo seja encontrado em Portugal e não possa ser extraditado
(artigo 5.°), sobre os limites mínimo e máximo da pena relativamente indeterminada (artigos
83.°, 84.° e 85.°), sobre suspensão e interrupção do procedimento criminal (artigos 120.° e 121.°),
M. Miguez Garcia. 2001
1177
sobre a reformulação e aditamento de circunstâncias qualificativas ao homicídio (artigo 132.°),
o alargamento do âmbito da previsão do tipo penal de maus tratos e infracção de regras de
segurança e a atribuição ao Ministério Público da legitimidade para iniciar o procedimento se o
interesse da vítima o impuser e não houver oposição do ofendido antes de ser deduzida
acusação (artigo 152.°), a criminalização de comportamentos anteriormente não punidos, bem
como a agravação de crimes contra a liberdade e a auto determinação sexual (Capítulo V), a
criminalização da burla nas comunicações (artigo 221.°) e da burla relativa a trabalho e
emprego (artigo 222.°), a reformulação do tipo de falência não intencional, agora designada de
insolvência negligente (artigo 228.°) e do crime de substâncias explosivas ou análogas e armas
(artigos 275.°). Pela mesma Lei é dada nova redacção ao artigo 2.° do DecretoLei n.° 325/95, de
2 de Dezembro, relativo a branqueamento de capitais.
5. Quinta alteração: Lei nº 7/2000, de 27 de Maio. Introduziu alterações
com vista a reforçar as medidas de protecção a pessoas vítimas de violência,
dando nova redacção ao artigo 152.° do Código Penal, através da qual foi
atribuída natureza pública ao crime (n.° 2), se alargou a previsão normativa ao
progenitor de descendente comum em 1.° grau que seja vítima de maus tratos
físicos ou psíquicos (n.° 3), e se prevê a possibilidade de imposição de pena
acessória de proibição de contacto com a vítima (n.° 6).
6. Sexta alteração: Lei nº 77/2001, de 13 de Julho: altera a redacção dos seguintes artigos:69.°,
101.°, 291.°, 292.° e 294.° do Código Penal. Não tem indicação da data da entrada em vigor.
7. Sétima alteração: Lei nº 97/2001, de 25 de Agosto: altera a redacção dos
seguintes artigos: 255º, 265º e 266º. Não tem indicação da data da entrada em vigor.
8. Oitava alteração: Lei nº 98/2001, de 25 de Agosto: altera a redacção do artigo
275º. Não tem indicação da data da entrada em vigor.
9. Nona alteração: Lei nº 99/2001, de 25 de Agosto: altera a redacção dos
seguintes artigos: 169º, 170º, 172º, 176º e 178º. Não tem indicação da data da entrada
em vigor.
M. Miguez Garcia. 2001
1178
10. Décima alteração: Lei nº 100/2001, de 25 de Agosto: altera a redacção do
artigo 143º. Não tem indicação da data da entrada em vigor.
11. Décima primeira alteração: Lei nº 108/2001, de 28 de Novembro: altera
a redacção dos artigos 335º, 372º, 373º e 386º [e introduz alterações à Lei nº
34/87, de 16 de Julho, e ao DL nº 28/84, de 20 de Janeiro]. Entrou em vigor em 1 de
Janeiro de 2002.
12. O artigo 8º do DecretoLei nº 323/2001, de 17 de Dezembro, deu nova
redacção ao artigo 47º, nº 2, do Código de Processo Penal: “Cada dia de multa
corresponde a uma quantia entre € 1 e € 498,80, que o tribunal fixa em função
da situação económica e financeira do condenado e dos seus encargos
pessoais”.
13. O artigo 12º do DecretoLei nº 38/2003, de 8 de Março, aditou ao
Código Penal o artigo 227ºA (Frustração de créditos), com a seguinte redacção:
1 — O devedor que, após prolação de sentença condenatória exequível,
destruir, danificar, fizer desaparecer, ocultar ou sonegar parte do seu
património, para dessa forma intencionalmente frustar, total ou parcialmente, a
satisfação de um crédito de outrem, é punido, se, inataurada a acção executiva,
nela não se conseguir satisfazer inteiramente os direitos do credor, com pena de
prisão até 3 anos ou com pena de multa. 2 — É correspondentemente aplicável
o disposto nos nºs 3 e 5 do artigo anterior. Entrada em vigor: 15 de Setembro de
2003.
14. Lei nº 52/2003, de 22 de Agosto (Lei de combate ao terrorismo, em
cumprimento da Decisão Quadro nº 2002/475/JAI, do Conselho, de 13 de
Julho, 12ª alteração ao Código de Processo Penal e 14ª alteração ao Código
Penal). Altera o artigo 5º do CP, passando a alínea a) do nº 1 a ter a seguinte
redacção: “Quando constituírem os crimes previstos nos artigos 221º, 262º e
271º, 308º a 321º, e 325º a 345º. Revoga os artigos 300º e 301º do CP.
M. Miguez Garcia. 2001
1179
ARMAS
1. CASO nº 1.
A foi condenado pela prática de um crime de roubo qualificado, na forma tentada, praticado
com um cutelo, com uma lâmina de cerca de 10,5 cm de comprimento e 3,5 cm de largura, de
natureza cortante e perfurante, com um potencial de agressão letal (artigos 210º, nºs 1 e 2,
alínea b), 22º, 23º, e 73º, e 204º, nº 2, alínea f), do Código Penal), em concurso real com um crime
de detenção de arma proibida dos artigos 275º, nºs 1 e 3, do CP, e 3º, nº 1, alínea f), do Decreto
Lei nº 207A/75, de 17 de Abril). A foi, na sua vida profissional activa, vendedor, encontrando
se actualmente reformado.
Pretendese saber se a posse não justificada do cutelo, integra,
efectivamente, um crime de detenção de arma proibida.
Lêse no acórdão do STJ de 7 de Novembro de 2001, CJ 2001, tomo III, p.
205: “O regime de controlo do fabrico, importação, exportação, comércio,
detenção, manifesto, uso e porte de armas e suas munições, ainda continua, em
boa parte, a ser objecto do Regulamento aprovado pelo Dec.Lei nº 37.313, de 21
de Fevereiro de 1949, embora seja de atender a vários outros diplomas,
nomeadamente, ao Dec.Lei n° 207A/75, de 17 de Abril e, mais recentemente, à
Lei n° 22/97, de 27 de Junho [alterada pelo art. 2° da Lei n° 98/01, citada a
seguir] (54).
O art. 275º (55) do Cód. Penal foi objecto de alteração pela Lei n° 98/01, de
25 de Agosto, através da qual se alarga o âmbito do tipo legal e se agravam
54
Para uma enumeração detalhada v. Maia Gonçalves, Código Penal Português, 13ª ed.,
1999, p. 813; e Parecer da PGR, n° 62/97, de 26/02/98, publicado no DR nº 193, de 31/07/98;
Paula Ribeiro de Faria, Comentário Conimbricense, Tomo II, 1999, p. 893/4. Cfr. também a Lei
n' 6/97, de 12 de Abril (armas e explosivos em recintos públicos).
552
Na sua redacção anterior: 1. Quem importar, fabricar, guardar, comprar, vender,
ceder ou adquirir a qualquer título, transportar, distribuir, detiver, usar ou trouxer consigo
engenho ou substância explosiva, radioactiva ou própria para a fabricação de gases tóxicos ou
asfixiantes, fora das condições legais ou em contrário das prescrições da autoridade
competente, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. 2. Se as condutas
referidas no número anterior disserem respeito a engenho ou substância capaz de produzir
explosão nuclear, o agente é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. 3. Se as condutas
referidas no nº 1 disserem respeito a armas proibidas, nestas se incluindo as que se destinem a
projectar substâncias tóxicas, asfixiantes ou corrosivas, o agente é punido com pena de prisão
até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias.
M. Miguez Garcia. 2001
1180
algumas penas. Todavia, a remissão para as condições legais fixadas extra Cód.
Penal e para as prescrições administrativas mantémse. Uma parte das armas
proibidas passou a estar incluída no n° 1 desse art. 275°, sujeitandose as
condutas elencadas a penas mais graves, continuando as outras sob alçada da
legislação extravagante, mas sendo as infracções puníveis com a mesma pena
que no regime anterior (56)
Das armas de defesa distinguemse, além do mais, certo tipo de utensílios
com lâmina, destinados ao uso doméstico, venatório ou outros, bem como as
que constituem material de guerra e as designadas armas proibidas, ora em
foco. O que de momento se indaga é se o cutelo descrito com uma lâmina de
cerca de 10,5 cm de comprimento e 3,5 cm de largura , constitui ou não uma
arma proibida, matéria que o n° 3 do art. 275° (na anterior como na actual
redacção) remete implicitamente para a legislação avulsa. Nesta, dispõe a al. f)
do nº 1 do art. 3° do mencionado Dec.Lei n° 207A/75, como sendo proibida a
detenção, uso e porte das seguintes armas ou engenhos: "Armas brancas ou de
fogo com disfarce ou ainda outros instrumentos sem aplicação definida, que
possam ser usados como arma letal de agressão, não justificando o portador a
sua posse". Texto que encontra grande similitude com a al. c) do art. 10' do
citado Dec.Lei nº 37.313, de 21/02/49, que terá substituído. A jurisprudência
que parece dominante vai no sentido de, contrariamente à posição do MP,
entender que a arma branca só pode ser considerada proibida se tiver disfarce.
Dizse no Acórdão de 12/03/98, Proc. 1.469/97(9): A expressão "arma
branca" abrange todo um conjunto de instrumentos cortantes ou perfurantes,
normalmente de aço, a maioria deles utilizados habitualmente nos usos diários
da vida, mas também podendo sêlo para ferir ou matar. Arma com disfarce é
aquela que encobre ou dissimula o seu real poder vulnerante. Por não ser arma
com disfarce, não integra o crime de arma proibida uma navalha, com mola
563
A redacção actual do art. 275º é a seguinte: 1. Quem importar, fabricar ou obtiver por
transformação, guardar, comprar, vender, ceder ou adquirir a qualquer título ou por qualquer
meio, transportar, distribuir, detiver, usar ou trouxer consigo arma classificada como material
de guerra, arma proibida de fogo ou destinada a projectar substâncias tóxicas, asfixiantes,
radioactivas ou corrosivas, ou engenho ou substância explosiva, radioactiva ou própria para
fabricação de gases tóxicos ou asfixiantes, fora das condições legais ou em contrário das
prescrições da autoridade competente, é punido com pena de prisão de 2 a 5 anos. 2. Se as
condutas referidas no número anterior disserem respeito a engenho ou substância capaz de
produzir explosão nuclear, o agente é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. 3. Se as
condutas referidas no nº 1 disserem respeito a armas proibidas, não incluídas nesse número, o
agente é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias.
M. Miguez Garcia. 2001
1181
fixadora com lâmina de 9 cm e cabo de 12,5 cm" (57). Particularmente impressivo
se mostra o acórdão de 02/ /10/96, onde se disse (BMJ460525): (Há que) saber
se a arma utilizada (faca de cozinha pontiaguda e com serrilha, de 8 cm de
comprimento) pode considerarse "arma proibida" para os efeitos do referido
art.275, n2. Esta disposição não define "armas proibidas", pelo que o intérprete
tem inevitavelmente de socorrerse de outra legislação que contemple a
hipótese. Ora, o art. 3 do Dec.Lei n. 207A/75, de 17 de Abril, considera
proibidas a detenção, uso e porte, entre outras, de «armas brancas (ou de fogo)
com disfarce ou ainda outros instrumentos sem aplicação definida, que possam
ser usados como arma letal ou agressão, não justificando o portador a sua
posse" n° 1, al. f).
Não suscita grandes dúvidas que uma faca como a descrita é uma “arma
branca", no sentido de que se confecciona a partir do aço polido e que ferem
com a ponta ou com o gume, impulsionadas unicamente pela força do braço
(...). Mas aquela norma exige que tal espécie de arma seja acompanhada de
"disfarce", o que significa deva apresentar artifício que a dissimule de modo a
não se mostrar como tal. Pode pensarse deste modo, que a razão do carácter
proibido de tal arma reside na sua particular capacidade ou potencialidade
ofensiva, avaliada em termos objectivos. Não pode estenderse esta solução
de política criminal a outros casos, sob pena de entrarem no conceito de "arma
proibida" os instrumentos mais diversos desde que susceptíveis de utilização
para cometer crimes contra as pessoas ou mesmo contra a propriedade, como
martelos, torquêses, navalhas, formões, etc. O art. 275° do Cód. Penal consagra
57
O acórdão de 12 de Março de 1997 no BMJ465313; o de de 24 de Janeiro de 1996
Proc. 048593, assim sumariado na Internet: "Uma navalha com cerca de 7,5 cm de lâmina,
embora seja arma branca, não cai no conceito de arma branca com disfarce e, não sendo arma
de fogo com disfarce, nem caindo no conceito de "outro instrumento" que apenas abrange os
diferentes de armas brancas ou de fogo não pode ser considerada como arma proibida, nem
caber na previsão do art. 260° do CP. O acórdão de 12 de Março de 1997 Proc. 1.165/96: Não
cabe no crime de detenção de arma proibida toda e qualquer arma, mas tãosó as que sejam
pela lei consideradas como proibidas. É irrelevante para a classificação de uma arma como
proibida a destinação que em concreto o agente lhe dê (nomeadamente a sua utilização na
perpetração de crime). Determinante da natureza proibida é, por conseguinte, tãosó a
perigosidade inerente e imanente à própria arma. Só as armas brancas com disfarce cabem na
previsão de armas proibidas. Assim não é arma proibida uma faca com duas lâminas e com um
comprimento de 22 cm, sendo uma de 10 cm de comprimento e outra, tipo serra, de 9,5 cm.
Acórdão de 16 de Outubro de 1997, Proc. 394/97 (Uma navalha de ponta e mola, com lâmina e
cabo, respectivamente, de 8,5 e 12,5 centímetros de comprimento, é uma arma branca, sem
disfarce, que só pode ser classificada como "arma proibida" nos termos do art. 3º, n° 1, do DL
207A/75, de 17 de Abril, se for entendido que é um instrumento sem aplicação definida,
susceptível de ser usada como arma letal de agressão, não justificando o portador a sua posse).
M. Miguez Garcia. 2001
1182
crimes de perigo, não podendo abranger situações de posse ou detenção de
instrumentos que objectivamente não encerram o perigo que se quer evitar. O
que não quer dizer que a lei penal se demita de considerar o seu emprego ou a
sua utilização como circunstância agravante de certos crimes como justamente
sucede no furto qualificado (art. 204°2, al. f). E pode pensarse que é essa a
razão da definição do art. 4° do Dec.Lei n° 48/95, de 15 de Março, aliás, sem
qualquer alusão à categoria de "arma proibida". Também a jurisprudência se
tem manifestado particularmente cautelosa nesta matéria (citase o ac. do STJ de
7/7/93, quando exige, relativamente às “armas brancas”, que as mesmas o
sejam com disfarce). Concluiu pela exclusão do facto do âmbito da previsão do
citado art. 3° por procederem as mesmas razões.
O instrumento em causa, sem dúvida uma arma branca, é descrito no
exame, para o qual o acórdão remete, como "um pequeno cutelo com cabo em
madeira, com uma lamina com cerca de 10,5 cm de comprimento e 3,5 cm de
largura, medindo de comprimento total 19,5 cm". Recordese que o art. 9° do
mencionado Dec.Lei nº 37.313, de 21/02/49, excluía das armas proibidas "os
canivetes com mola fixadora, quando a lâmina não exceda 15 centímetros
medidos do rebordo do cabo". O cutelo tinha a lâmina acondicionada numa
protecção de cabedal, mas aquando do roubo foi exibido já sem a protecção.
Entendemos que tal arma branca não reúne as características de arma proibida,
desde logo, por não se apresentar com disfarce, mas também porque não entra
na categoria de "outro instrumento sem aplicação definida", que pudesse ser
usado como arma letal de agressão, se bem que o portador não justificasse a sua
posse. Sendo o bem jurídico protegido o da segurança comunitária face aos
riscos da circulação livre de armas e outros engenhos, não cabe na previsão
legal qualquer arma ou instrumento. Não quer isto dizer que o direito penal,
como bem se disse no acórdão, se demita de atender à posse ou uso de tais
instrumentos na prática de certos crimes, nomeadamente, integrando a
violência no próprio crime de roubo.
2. Notícia de um vazio legal.
Acórdão nº 3/97 do STJ, de 6 de Fevereiro de 1997, publicado no DRep. I
sérieA nº 55, de 6 de Março de 1997: Resulta nítido que na redacção do artigo 275.° do
Código Penal o legislador teve presente: a) O principio da subsidiariedade do direito criminal,
que está implícito nas considerações feitas pelo Presidente da Cornissão Revisora do Código
Penal, ao referir que uma arma indocumentada (falta de manifesto, não regístada) mas
permitida deve receber uma protecção contraordenacional e não penal; b) A distinção entre
M. Miguez Garcia. 2001
1183
armas de fogo permitidas e armas de fogo proibidas de acordo com a distinção feita pelo
DecretoLei nº 207A/75, de 1 7 de Abril (conceitos que não vierarn a ser redefinidos por
legislação posterior, facto que era do conhecimento do legislador); c) Que pretendia reacção
criminal apenas para as armas de fogo proibidas (o que é expressamente referido pelo
Presidente da Comissão Revisora do Código Penal como acima se viu); d) Que a norma a
formular não devia ser idêntica à do artigo 260º do Código Penal de 1982 (o que se extrai das
considerações feitas pelo Presidente da Comissão Revisora do Código Penal ao criticar o
aludido artigo 260º). E do exame da norma em questão—artigo 275º do Código Penal—vêse,
com segurança, que a intenção do legislador foi conseguida, atenta a redacção do referido
preceito legal, ou seja, o legislador atingiu os seus objectivos. Com efeito, tendo presente o já
aludido preceito legal, do mesmo resulta: O seu nº 1 referese a engenhos ou substâncias
explosivas ou capazes de produzir explosão nuclear, radioactivas ou próprias para fabricação
de gases tóxicos ou asfixiantes; O seu nº 2 referese a armas proibidas. As armas proibidas a
que este nº 2 se reporta, além da ampliação feita do tipo, são as armas absolutamente proibidas
referidas nos artigos 2º e 3º do DecretoLei nº 207A/75, de 17 de Abril, e não também as
permitidas ou relativamente proibidas (por se encontrarem fora das condições legais)
constantes daquele decretolei. (...) Esta posição é reforçada pelo facto de na proposta de lei n.°
58/VII, do Governo, inserta no Diário da Assembleia da República, 2ª sérieA, nº 65, de 4 de
Outubro de 1996, que visa criminalizar condutas susceptíveis de criar perigo para a vida e
integridade física, decorrente do uso e porte de armas e substâncias ou engenhos explosivos ou
pirotécnicos, no âmbito de realizações cívicas, políticas, religiosas, artísticas, culturais ou
desportivas, constar expressamente na respectiva exposição de motivos a p. 1532, quarto
parágrafo, daquele "Diário". "É certo que o uso e o porte de armas e substâncias explosivas ou
análogas já são incriminados nos termos do artigo 275º do Código Penal. Tal disposição,
porém, apenas respeita a armas proibidas, excluindo nomeadamente pistolas e revólveres cujo
calibre não exceda 6,35 mm e 7, 65 mm, respectivamente." Vêse que é o próprio "legislador" a
reconhecer que, presentemente, se está perante um vazio legal nesta matéria, não podendo o
juiz substituirse à lei. Pelo exposto, decidese estabelecer, com carácter obrigatório para os
tribunais judiciais, a seguinte jurisprudência: * A detenção, uso ou porte de uma pistola de
calibre 6,35 mm não manifestada nem registada não constitui o crime previsto e punível pelo
artigo 275º, nº 2, do Código Penal revisto pelo DecretoLei nº 48/95 de 15 de Março, norma que
fez caducar o assento do Supremo Tribunal de Justiça de 5 de Abril de 1989.
2. Legislação.
(Actas, nº 30, p. 357): é necessária um boa legislação sobre armas. No
entanto, uma arma indocumentada (falta de manifesto, não registada) mas
permitida deve receber uma protecção contraordenacional e não penal. Só as
armas proibidas devem ser alvo de reacções criminais.
A Lei nº 22/97, de 27 de Junho, alterou o regime de uso e porte de arma.
De acordo com o artigo 6º (detenção ilegal de arma de defesa), "quem detiver,
M. Miguez Garcia. 2001
1184
usar ou trouxer consigo arma de defesa não manifestada ou registada, ou sem a
necessária licença nos termos da presente lei, é punido com pena de prisão até
dois anos ou com pena de multa até 240 dias." A Lei nº 93A/97, de 22 de
Agosto introduziu alterações na Lei nº 22/97; a Lei nº 29/98, de 26 de Junho,
introduziu alterações aos artigos 2º e 5º da Lei nº 22/97.
O DecretoLei nº 399/93, de 3 de Dezembro, transpôs para a ordem
jurídica portuguesa a Directiva n.º 91/477/CEE, do Conselho de 18 de Junho,
relativa ao controlo da aquisição e da detenção de armas. A referida Directiva
consagra no seu artigo 6.º uma proibição de aquisição e detenção de armas de
fogo. Cf., ainda, o artigo 90.º do Acordo de Schengen de 14.6.85, relativo à
supressão gradual dos controlos fronteiriços.
A Lei nº 8/97, de 12 de Abril, criminalizou condutas susceptíveis de criar
perigo para a vida e integridade física decorrentes do uso e porte de armas e
substâncias ou engenhos explosivos ou pirotécnicos no âmbito de realizações
cívicas, políticas, religiosas, artísticas, culturais ou desportivas.
Lei nº 104/99, de 26 de Julho: autoriza o Governo a legislar sobre o regime
de utilização das armas de fogo ou explosivos pelas forças e serviços de
segurança.
Para uma enumeração detalhada dos diplomas sobre armas: Parecer da
PGR nº 62/97 de 26 de Fevereiro de 1998, DR nº 193, de 31 de Julho de 1998 e
acórdão do STJ de 7 de Dezembro de 1999, BMJ492168.
3. Diversos.
Assento nº 2/98, publicado no DRep. I série A de 17.12.98, BMJ48195:
"Uma arma de fogo, com calibre 6,35 mm, resultante de uma adaptação ou
transformação clandestina de uma arma de gás ou de alarme, constitui uma
arma proibida, a ser abrangida pela previsão do nº 2 do artigo 275º do CP 95,
antes da alteração pela Lei nº 65/98, de 2 de Setembro.
Acórdão do STJ de 16 de Outubro de 2002: Uma arma de fogo com 6,35
mm de calibre resultante de adaptação ou transformação, mesmo que
clandestina, de uma arma de gás ou de alarme não constitui uma arma
proibida, para efeito de poder considerarse abrangida pela previsão do artigo
275º, nº 2, do Código Penal, na versão de 1995.
M. Miguez Garcia. 2001
1185
Ver sobre “arma transformada”: para além do acórdão (assento) do STJ nº 2/98, de 4 de
Novembro, BMJ48195, o acórdão do STJ de 27 de Setembro de 2000, CJ 2000, tomo III, p. 179,
relacionada com circunstâncias do nº 2 do artigo 132º (homicídio qualificado).
* O crime de uso e porte de arma proibida consumase logo que o agente
detém a arma. Em consequência, o crime de detenção de arma proibida não é
consumido pela punição do crime de ofensas corporais cometido com essa arma
(ac. do STJ de 13 de Abril de 1994, CJ).
* O crime de detenção de arma proibida não fica autonomizado se o crime
de homicídio é julgado qualificado precisamente pela utilização dessa arma (ac.
do STJ de 28 de Setembro de 1994, CJ).
* Arma com disfarce é aquela que encobre a sua verdadeira natureza, ou
dissimula o seu real poder vulnerante. Uma navalha com o comprimento total
de 24 cms. e uma lâmina de 11 cms. possuindo na extremidade oposta uma
mola com fecho de segurança, não cabe na previsão do artigo 275º, referido ao
artigo 3º, nº 1, f), do DL nº 207A/75 (ac. do STJ de 7 de Março de 1996, CJ).
* Uma faca de cozinha com 30 cms. de lâmina é uma arma branca proibida
sempre que o portador não justifique a sua detenção (ac. da Relação de Coimbra
de 2 de Abril de 1992, CJ).
* Tratandose de navalha com lâmina de 7 cm encontrada na residência do
arguido, embora de ponta e mola, mas destinada apenas a fins domésticos, a
ausência total de perigo é manifesta, o que preclude a imputação ao arguido,
pela sua detenção, do crime [Comentário: desde o considerarse que o artº 260ª
do Código Penal82 não abarca os instrumentos, nomeadamente uma faca de
mato normalmente utilizada nas actividades campestres, mas que pode ser
usada como arma letal de agressão (ac. do S.T.J., de 11/05/83, B.M.J.327472),
até se considerar que a arma branca abrange todo um conjunto de instrumentos
cortantes e perfurantes, normalmente de aço, a maioria deles utilizados
habitualmente nos usos ordinários da vida, mas também podendo sêlo para
ferir e matar (ac. do S.T.J., de 30/11/83, B.M.J331356); existe toda uma série
de decisões que, por exemplo, definem como comprimentos proibidos de
navalhas, quanto à lâmina, 12,5 cm (ac. Rel. Lisboa, de 09/ 06/83, Bol. 335227),
10 cm (ac. Rel. Lisboa, 27/ 107184, Bol. 346296), 8 cm (ac. do S.T.J., de 15/
06/83, Proc. nº 37.024) (ac. do STJ de 22 de Setembro de 1994, CJ).
* Cometem um crime de roubo agravado, os arguidos que apanham um
táxi e ao longo do caminho apontam um canivete com cerca de 15 cm de
M. Miguez Garcia. 2001
1186
cumprimento ao pescoço do ofendido. Contudo, não cometem o crime de
detenção de arma proibida, por um canivete com 15 cm de cumprimento não
integrar tal ilícito (ac. do STJ de 24 de Janeiro de 1996, processo nº 48593 3ª
Secção, Internet).
* A utilização de uma seringa, tendo o arguido referido ser portador da
sida é uma arma para efeito da agravação geral dos crimes de roubo (ac. do STJ
de 8 de Fevereiro de 1996, processo nº 48863 3ª Secção, Internet).
* Há concurso real entre o ilícito roubo e o ilícito arma proibida, nos casos
em que a arma utilizada pelo arguido seja considerada como arma proibida. A
arma branca só pode ser considerada como proibida quando, em harmonia com
o Decretolei nº 37.313, de 21 de Setembro de 1949, possam ou devam ser
consideradas como proibidas. Não se tendo apurado as características da
navalha não pode a mesma ser enquadrada no ilícito de arma proibida (ac. do
STJ de 2 de Maio de 1996, processo nº 48583 3ª Secção, Internet).
* No domínio do CP de 1982, entendiase, embora não pacificamente, que
a detenção de canivete ou faca de dimensões não apuradas, não integrava o
crime p.p. no artº 260, a não ser que contivessem disfarce, ou seja, "armas que
apresentassem artifício que as dissimulassem de modo a não se mostrarem
como tal". O nº 2 do actual artº 275, só pune a importação, fabrico, guarda,
compra, venda, aquisição, transporte, distribuição, detenção e uso de armas
proibidas, sendo clara a intenção da Comissão Revisora de remeter situações
como a dos autos, para o campo das contravenções, nomeadamente, quanto ás
armas de fogo não proibidas (ac. do STJ de 30 de Maio de 1996, processo nº
279/96 3ª Secção, Internet). * Arma com disfarce é aquela que encobre a sua
verdadeira natureza, ou dissimula o seu real poder vulnerante. Uma navalha
com o comprimento total de 24 cms. e uma lâmina de 11 centímetros,
possuinado na extremidade oposta uma mola com fecho de segurança, não cabe
na previsão do artigo 260º CP82 ou 275º CP rev., referidos ao artigo 3º, nº 1, f),
do DL nº 207A/75 (acórdão do STJ de 28 de Fevereiro de 1996, CJ, ano IV
(1996), tomo 1, p. 227).
* Ac. nº 1222/96, de 4 de Dezembro de 1996, BMJ462140: ocupouse da
aplicação da norma do artigo 260º do Código Penal82 (arma de guerra, arma
de defesa, arma proibida, estatuto dos magistrados judiciais).
M. Miguez Garcia. 2001
1187
* Ac. do STJ de 12 de Março de 1997, BMJ465313: não é proibida uma
navalha com duas lâminas de 10 e 9,5 cm., porque não é o comprimento mas o
disfarce que caracteriza as armas brancas como proibidas.
* Uma faca, com uma lâmina de 15 cm de comprimento, propriedade do
arguido e por este usada na actividade de construção civil, embora possa
considerarse "arma", em conformidade com a definição do art.º 4, do DL 48/95,
de 15/3, servindo habitualmente para os usos "ordinários da vida", como
dispunha o § 3.º, do art.º 178, do CP de 1886, não é curial qualificála de arma
proibida, de harmonia com as disposições conjugadas dos arts. 3, n.º 1, al. f), do
DL n.º 207A/75, de 17/4 e 275, n.º 2, do CP. Ac. do STJ de 11031998 Processo
n.º 18/98 3.ª Secção
* A expressão "arma branca" abrange todo um conjunto de instrumentos
cortantes ou perfurantes, normalmente de aço, a maioria deles utilizados
habitualmente nos usos diários da vida, mas também podendo sêlo para ferir
ou matar. Arma com disfarce é aquela que encobre ou dissimula o seu real
poder vulnerante. Por não ser arma com disfarce, não integra o crime de arma
proibida uma navalha, com mola fixadora, com lâmina de 9 cm e cabo de 12,5
cm. 12031998 Processo n.º 1469/97 3.ª Secção
Arma proibida; soqueira (instrumento de metal composto por vários anéis,
unidos uns aos outros, que se enfiam nos dedos de uma mão, "soqueira, punho
inglês ou boxe": BMJ491355.
Arma branca, disfarce, ponta e mola, uso agressivo, faca de mato, faca de
cozinha, lâmina, não justificação da detenção, presunção da existência do
perigo, etc., Acórdão da Relação de Coimbra de 11 de Outubro de 2000, CJ, ano
XXV (2000), tomo 4, p. 56.
Armas brancas: acórdão da Relação de Coimbra de 13 de Novembro de
2002, CJ 2002, tomo V, p. 43: com a entrada em vigor do artigo 3º, nº 1, f), do
DecretoLei nº 207A/75, de 17 de Abril, passaram a ser punidas todas as armas
brancas que possam ser usadas como arma letal de agressão e que o portador
não justifique a sua posse, sendo indiferente o comprimento da lâmina.
Arma transformada. Arma não manifestada nem registada. Crime d
eperigo. Homicídio qualificado. Acórdão do STJ de 27 de Setembro de 2000, CJ
STJ, ano VII (2000), tomo III, p. 179.
M. Miguez Garcia. 2001
1188
Não sendo a pistola de calibre 6.35 mm arma proibida, pois que não
consta do respectivo catálogo, a detenção de uma pistola de gás de 8 mm
adaptada a calibre 6,35 mm — contrariamente o que decidiu o assento 2/98 do
STJ — não constitui crime de detenção de arma proibida do artigo 275º, nº 3, do
CP. Acórdão da Relação do Porto de 20 de Dezembro de 2000, CJ ano XXV,
tomo V, 2000, p. 240.
Arma que se apresenta como de recreio, mas que se encontra
transformada de modo a ficar apta a disparar munições calibre 22: disfarçase a
sua real perigosidade, é uma arma de fogo disfarçada. Ainda que assim não
fosse, uma arma em tais circunstâncias sempre preencherá tb. as características
de outro instrumento sem aplicação definida (a sua aplicação normal deixou de
existir pela transformação), que pode ser usado como arma letal de agressão,
não justificando o portador a sua posse (acórdão do STJ de 7 de Dezembro de
1999, BMJ492168).
Um pequeno cutelo com cabo em madeira, com uma lâmina de cerca de
10,5 cm de comprimento e 3,5 de largura, que foi utilizado sem disfarce na
prática de um crime de roubo — não reúne as características de arma proibida.
Acórdão do STJ de 7 de Novembro de 2001, CJ, 2001, ano IX, tomo III, p. 205.
M. Miguez Garcia. 2001
Você também pode gostar
- Direitopenal Miguezgarcia 1Documento1.188 páginasDireitopenal Miguezgarcia 1André Gonçalves100% (1)
- Av1 - Direito Penal II - Dani PortugalDocumento44 páginasAv1 - Direito Penal II - Dani PortugalMaria Alice LyraAinda não há avaliações
- Teoria Geral Do DELITODocumento3 páginasTeoria Geral Do DELITOJuliacpc45Ainda não há avaliações
- Casos Práticas Penal CorreçãoDocumento44 páginasCasos Práticas Penal CorreçãoMiguel TelesAinda não há avaliações
- O Erro No Direito Penal - Francisco de Assis ToledoDocumento12 páginasO Erro No Direito Penal - Francisco de Assis ToledoAna Maria Fernandes Sales100% (1)
- NOTA de AULA 01 - Capitulo I - Dos Crimes Contra A Vida - HDocumento27 páginasNOTA de AULA 01 - Capitulo I - Dos Crimes Contra A Vida - HDenys BriandAinda não há avaliações
- RETA FINAL DELEGADO PC-SP (Prof. Felipe Dalla Vecchia)Documento14 páginasRETA FINAL DELEGADO PC-SP (Prof. Felipe Dalla Vecchia)Felipe Dalla VecchiaAinda não há avaliações
- 02 - Teoria Do Crime 1Documento11 páginas02 - Teoria Do Crime 1Gabriel JássonAinda não há avaliações
- Análise Dos Crimes Contra A VidaDocumento48 páginasAnálise Dos Crimes Contra A VidaBassalo2018Ainda não há avaliações
- O Risco de Comer Uma Sopa e Outros Casos de Direito Penal - Miguez GarciaDocumento579 páginasO Risco de Comer Uma Sopa e Outros Casos de Direito Penal - Miguez Garcialuyriddle100% (5)
- Materia para Teste de Direito Penal IIDocumento13 páginasMateria para Teste de Direito Penal IIOsvaldo Manuel MAQUIAAinda não há avaliações
- Direito Penal - Aula 09Documento8 páginasDireito Penal - Aula 09Ana Cláudia BarrosAinda não há avaliações
- Art 053Documento13 páginasArt 053Ut Juris100% (2)
- Caderno DigitadoDocumento9 páginasCaderno DigitadoMário GomesAinda não há avaliações
- Roteiro de Aula - Intensivo I - D. Penal - Cleber Masson - Aula 9Documento15 páginasRoteiro de Aula - Intensivo I - D. Penal - Cleber Masson - Aula 9bizuferoz10Ainda não há avaliações
- Direito Penal I - 2º SemestreDocumento7 páginasDireito Penal I - 2º SemestreAna DiasAinda não há avaliações
- Penal 1Documento33 páginasPenal 1Leonardo GadelhaAinda não há avaliações
- LibertismoDocumento2 páginasLibertismoAidaAinda não há avaliações
- 08 Teoria Do CrimeDocumento31 páginas08 Teoria Do CrimeAna AraújoAinda não há avaliações
- Elementos Do CrimeDocumento24 páginasElementos Do CrimeCaroline PalmaAinda não há avaliações
- Roteiro de Aula - Teoria Do DelitoDocumento14 páginasRoteiro de Aula - Teoria Do DelitobacuriAinda não há avaliações
- EDocumento2 páginasEJu Gonçalves GonçalvesAinda não há avaliações
- Apostila 2 Parte - Direito PenalDocumento12 páginasApostila 2 Parte - Direito Penalfabio lucianoAinda não há avaliações
- Teoria de CrimeDocumento38 páginasTeoria de CrimeTiago FonsecaAinda não há avaliações
- CriminologiaDocumento10 páginasCriminologiacarlosAinda não há avaliações
- Culpabilidade - Juarez CirinoDocumento39 páginasCulpabilidade - Juarez CirinoAndré R. de MirandaAinda não há avaliações
- Stace - CompatibilismoDocumento4 páginasStace - CompatibilismoRacquel Vonsowski LichacovskiAinda não há avaliações
- Material de Apoio - Direito Penal II - PPTX - 38606 - 1 - 1532417246000Documento144 páginasMaterial de Apoio - Direito Penal II - PPTX - 38606 - 1 - 1532417246000Fabrício NobreAinda não há avaliações
- 191 - Alegações Finais 07Documento9 páginas191 - Alegações Finais 07arienec.advAinda não há avaliações
- Psiquiatria ForenseDocumento16 páginasPsiquiatria ForenseRoberto CoelhoAinda não há avaliações
- Da Culpabilidade - Direito Penal IIDocumento23 páginasDa Culpabilidade - Direito Penal IIapi-3713784100% (9)
- PDF - 08-02-21 - Ap. Dir. Penal PP 2021 - Felipe BarretoDocumento12 páginasPDF - 08-02-21 - Ap. Dir. Penal PP 2021 - Felipe BarretoLarissa MoreiraAinda não há avaliações
- Questões Direito PenalDocumento5 páginasQuestões Direito PenalTalesVlogAinda não há avaliações
- Imputabilidade-Principais ModificadoresDocumento9 páginasImputabilidade-Principais ModificadoresMyriam Christina RodriguesAinda não há avaliações
- Criminologia - Objeto Da Criminologia (1) - LFG IntensivoDocumento15 páginasCriminologia - Objeto Da Criminologia (1) - LFG IntensivoBruna SamuaraAinda não há avaliações
- Livro Manual de Direito Penal - Parte Geral e Parte Especial - Michael Procopio Avelar (2023)Documento15 páginasLivro Manual de Direito Penal - Parte Geral e Parte Especial - Michael Procopio Avelar (2023)Anonymous 2BOteqAinda não há avaliações
- DIREITO PENAL - Pontos PrincipaisDocumento20 páginasDIREITO PENAL - Pontos Principaistathienne bassineloAinda não há avaliações
- Apontamentos - FATO PUNÃ - VEL E CONCEITO ANALÃ - TICO DE CRIME - Provisã RioDocumento12 páginasApontamentos - FATO PUNÃ - VEL E CONCEITO ANALÃ - TICO DE CRIME - Provisã RioJoão Vitor MarinhoAinda não há avaliações
- Direito Penal - Aula 10Documento10 páginasDireito Penal - Aula 10Ana Cláudia BarrosAinda não há avaliações
- As Condicionantes Da Accao HumanaDocumento11 páginasAs Condicionantes Da Accao HumanaAna Paula BritoAinda não há avaliações
- Teoria Do Crime - ResumoDocumento27 páginasTeoria Do Crime - ResumoDaniel Vieira Lourenço100% (1)
- Trabalho EmpresarialDocumento15 páginasTrabalho EmpresarialErica Ito100% (1)
- Apostila Sobre Erro Direito PenalDocumento19 páginasApostila Sobre Erro Direito PenalMaria Eduarda Braga RibeiroAinda não há avaliações
- VorneCursos Direito Penal CulpabilidadeDocumento51 páginasVorneCursos Direito Penal CulpabilidadeEliabe valverdeAinda não há avaliações
- Capítulo 04 - Fato TípicoDocumento17 páginasCapítulo 04 - Fato TípicoperylobatoAinda não há avaliações
- Tudo Aquilo Que Fere Os Princípios Da Lei É Denominado IlícitoDocumento4 páginasTudo Aquilo Que Fere Os Princípios Da Lei É Denominado IlícitoKelen LorraineAinda não há avaliações
- Teoria Do Crime 1Documento11 páginasTeoria Do Crime 1Sérgio PeçanhaAinda não há avaliações
- PEN 06 - A CulpabilidadeDocumento10 páginasPEN 06 - A CulpabilidadeAdmilson CarlosAinda não há avaliações
- Psicologia Jurídica - José Osmir Fiorelli - 2020-444-496Documento53 páginasPsicologia Jurídica - José Osmir Fiorelli - 2020-444-496Gabriela da Silva LimaAinda não há avaliações
- Imputação ObjetivaDocumento7 páginasImputação ObjetivaCatarina Alexandra Catana Lobo Da CostaAinda não há avaliações
- Será Que Os Cyborgs Têm/possuem Livre-Arbítrio?Documento13 páginasSerá Que Os Cyborgs Têm/possuem Livre-Arbítrio?pedro valente correiaAinda não há avaliações
- Elementos Do Fato TípicoDocumento6 páginasElementos Do Fato TípicoDouglas CristianoAinda não há avaliações
- Teoria Infracção PenalDocumento46 páginasTeoria Infracção Penalagoquint92% (12)
- Direito Penal Aplicado I: Aula 4 - Fato Típico. CondutaDocumento12 páginasDireito Penal Aplicado I: Aula 4 - Fato Típico. CondutaBruno GirottoAinda não há avaliações
- Fundamentos Da VitimologiaDocumento4 páginasFundamentos Da VitimologiaAnielson SantosAinda não há avaliações
- Revisão Av2 - SlidesDocumento7 páginasRevisão Av2 - SlidesMaria Danielly ChavesAinda não há avaliações
- Excludentes de IlicitudeDocumento4 páginasExcludentes de IlicitudeKelen LorraineAinda não há avaliações
- Psicanálise e Clínica Do SocialDocumento8 páginasPsicanálise e Clínica Do Socialjrtdl573Ainda não há avaliações
- Capítulo TeoriaPadrõesCriminais - En.ptDocumento19 páginasCapítulo TeoriaPadrõesCriminais - En.pt문라움Ainda não há avaliações
- 2016 MarceloBritoMauésDocumento136 páginas2016 MarceloBritoMaués문라움Ainda não há avaliações
- 2016 MarceloBritoMauésDocumento136 páginas2016 MarceloBritoMaués문라움Ainda não há avaliações
- Saúde Mental Do Policial Militar Relações Interpessoais e EstresseDocumento10 páginasSaúde Mental Do Policial Militar Relações Interpessoais e EstresseFabiele SilvaAinda não há avaliações
- Prostituição e Lenocínio - Um Breve Contributo Ao DebateDocumento165 páginasProstituição e Lenocínio - Um Breve Contributo Ao Debate문라움Ainda não há avaliações
- A Mãe Monstro (?) : Reflexões Sobre o Crime de InfanticídioDocumento105 páginasA Mãe Monstro (?) : Reflexões Sobre o Crime de Infanticídio문라움Ainda não há avaliações
- ProstituioetrficodemulheresDocumento206 páginasProstituioetrficodemulheres문라움Ainda não há avaliações
- Jurisprudencia InfanticidioDocumento9 páginasJurisprudencia Infanticidio문라움Ainda não há avaliações
- Dissertação de Mestrado UalDocumento157 páginasDissertação de Mestrado Ual문라움Ainda não há avaliações
- Entre o Bairro e A Prisao Trafico e TrajectosDocumento5 páginasEntre o Bairro e A Prisao Trafico e Trajectos문라움Ainda não há avaliações
- Psicologia Policial. 06.03 Stora PaulaDocumento6 páginasPsicologia Policial. 06.03 Stora Paula문라움Ainda não há avaliações
- Izabel CavalletDocumento82 páginasIzabel CavalletCarmen Lidia KollenzAinda não há avaliações
- ColheitaMeca RSZDocumento11 páginasColheitaMeca RSZcraiddyAinda não há avaliações
- Acadêmico - EddydataDocumento1 páginaAcadêmico - EddydataLuis Eduardo CarloniAinda não há avaliações
- 11Documento2 páginas11Diego CiênciaAinda não há avaliações
- Questoes 33 ViniciusDocumento6 páginasQuestoes 33 ViniciusVM LopesAinda não há avaliações
- Procedimento Operacional Padrão (UAN)Documento16 páginasProcedimento Operacional Padrão (UAN)Juninho Ferreira TjsAinda não há avaliações
- Catálogo KazDocumento68 páginasCatálogo KazClaudia LeaoAinda não há avaliações
- O Processo de Descentralização Via Municipalização e o Fenômeno Da FocalizaçãoDocumento18 páginasO Processo de Descentralização Via Municipalização e o Fenômeno Da FocalizaçãoTaiani PriessAinda não há avaliações
- Cavaleiros Teutônicos 10 FatosDocumento20 páginasCavaleiros Teutônicos 10 FatosAlexandre MacielAinda não há avaliações
- Recristalização Do Acido FumarioDocumento13 páginasRecristalização Do Acido FumarioBruna FeitosaAinda não há avaliações
- Português - Exercícios ConjunçõesDocumento3 páginasPortuguês - Exercícios ConjunçõesThaís Bombassaro0% (1)
- Os CavaleirosDocumento8 páginasOs CavaleirosLucas VieiraAinda não há avaliações
- Apostila de Medicina Nuclear 2014 PDFDocumento51 páginasApostila de Medicina Nuclear 2014 PDFNathália CassianoAinda não há avaliações
- 1 Ano BiologiaDocumento5 páginas1 Ano BiologiaCleonete F AraujoAinda não há avaliações
- Dom Placido de Oliveira: ComposiçõesDocumento20 páginasDom Placido de Oliveira: ComposiçõesFernando LacerdaAinda não há avaliações
- O Que É Apometria e Qual Seu ObjetivoDocumento16 páginasO Que É Apometria e Qual Seu ObjetivoESPACO HOLISTICO KUANAinda não há avaliações
- Uma Virgem para Lorde Black (Er - Islay RodriguesDocumento363 páginasUma Virgem para Lorde Black (Er - Islay RodriguesLí SilvaAinda não há avaliações
- Novata Do Escritorio 2, A - Yolanda CarmesineDocumento21 páginasNovata Do Escritorio 2, A - Yolanda Carmesinemariacicera silva100% (1)
- Plano de Aula 3Documento4 páginasPlano de Aula 3Ana Luiza GolinAinda não há avaliações
- Slides Aula04 PDFDocumento7 páginasSlides Aula04 PDFRonaldoAinda não há avaliações
- Ficha de Aferição Da LeituraDocumento4 páginasFicha de Aferição Da LeituraDavid Carpinteiro100% (2)
- 1 Ano CDC emDocumento4 páginas1 Ano CDC emMillena PatriciaAinda não há avaliações
- 5º Teste 9ºDocumento2 páginas5º Teste 9ºCristina LopesAinda não há avaliações
- Deus em EspinozaDocumento2 páginasDeus em EspinozaigorandradeytAinda não há avaliações
- QuestoesDocumento15 páginasQuestoesjordany.silvaAinda não há avaliações
- CPT 55 18Documento3 páginasCPT 55 18Sergio CoroaAinda não há avaliações
- VertisDocumento212 páginasVertisLeonardo VieiraAinda não há avaliações
- Condutas NutricionaisDocumento10 páginasCondutas NutricionaisKelli MajorAinda não há avaliações
- Apostila Tiro DefensivoDocumento40 páginasApostila Tiro DefensivoIsaacpontes100% (2)
- Astrologia e Mitologia - Ariel Guttman e Kenneth JohnsonDocumento13 páginasAstrologia e Mitologia - Ariel Guttman e Kenneth JohnsonAlmir Campos Pimenta50% (2)
- Focar: Supere a procrastinação e aumente a força de vontade e a atençãoNo EverandFocar: Supere a procrastinação e aumente a força de vontade e a atençãoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (53)
- Técnicas Proibidas de Manipulação Mental e PersuasãoNo EverandTécnicas Proibidas de Manipulação Mental e PersuasãoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (3)
- Treinamento cerebral: Compreendendo inteligência emocional, atenção e muito maisNo EverandTreinamento cerebral: Compreendendo inteligência emocional, atenção e muito maisNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (169)
- Psicologia sombria: Poderosas técnicas de controle mental e persuasãoNo EverandPsicologia sombria: Poderosas técnicas de controle mental e persuasãoNota: 4 de 5 estrelas4/5 (92)
- Diálogo entre Terapia do Esquema e Terapia Focada na Compaixão: Contribuição à integração em Psicoterapias Cognitivo-ComportamentaisNo EverandDiálogo entre Terapia do Esquema e Terapia Focada na Compaixão: Contribuição à integração em Psicoterapias Cognitivo-ComportamentaisNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Bololô: contém ferramentas de treinamento para pais e filhosNo EverandBololô: contém ferramentas de treinamento para pais e filhosAinda não há avaliações
- Técnicas De Terapia Cognitivo-comportamental (tcc)No EverandTécnicas De Terapia Cognitivo-comportamental (tcc)Ainda não há avaliações
- O fim da ansiedade: O segredo bíblico para livrar-se das preocupaçõesNo EverandO fim da ansiedade: O segredo bíblico para livrar-se das preocupaçõesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (16)
- Treino de Habilidades Sociais: processo, avaliação e resultadosNo EverandTreino de Habilidades Sociais: processo, avaliação e resultadosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Elaboração de programas de ensino: material autoinstrutivoNo EverandElaboração de programas de ensino: material autoinstrutivoAinda não há avaliações
- Treinamento cerebral: Como funcionam a inteligência e o pensamento cognitivo (2 em 1)No EverandTreinamento cerebral: Como funcionam a inteligência e o pensamento cognitivo (2 em 1)Nota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (29)
- 35 Técnicas e Curiosidades Mentais: Porque a mente também deve evoluirNo Everand35 Técnicas e Curiosidades Mentais: Porque a mente também deve evoluirNota: 5 de 5 estrelas5/5 (3)
- Psicanálise de boteco: O inconsciente na vida cotidianaNo EverandPsicanálise de boteco: O inconsciente na vida cotidianaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Cartas de um terapeuta para seus momentos de criseNo EverandCartas de um terapeuta para seus momentos de criseNota: 4 de 5 estrelas4/5 (11)
- Simplificando o Autismo: Para pais, familiares e profissionaisNo EverandSimplificando o Autismo: Para pais, familiares e profissionaisAinda não há avaliações
- Nação tarja preta: O que há por trás da conduta dos médicos, da dependência dos pacientes e da atuação da indústria farmacêutica (leia também Nação dopamina)No EverandNação tarja preta: O que há por trás da conduta dos médicos, da dependência dos pacientes e da atuação da indústria farmacêutica (leia também Nação dopamina)Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Como aprender mais rápido: Métodos e dicas para se tornar mais inteligenteNo EverandComo aprender mais rápido: Métodos e dicas para se tornar mais inteligenteNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (8)