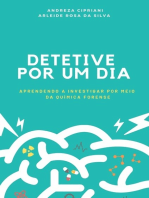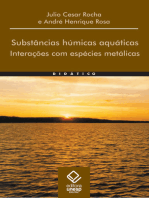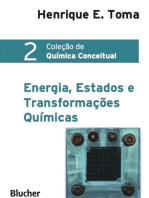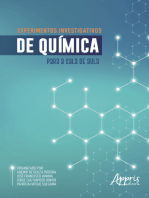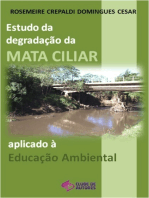Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Eliezer J. Barreiro - Sobre A Química Dos Remédios, Dos Fármacos e Dos Medicamentos
Eliezer J. Barreiro - Sobre A Química Dos Remédios, Dos Fármacos e Dos Medicamentos
Enviado por
Leonara RezendeTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Eliezer J. Barreiro - Sobre A Química Dos Remédios, Dos Fármacos e Dos Medicamentos
Eliezer J. Barreiro - Sobre A Química Dos Remédios, Dos Fármacos e Dos Medicamentos
Enviado por
Leonara RezendeDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Eliezer J.
Barreiro
Geralmente temos por hbito chamar os frmacos de remdios. Entretanto, a origem da palavra latina remediare
significando remediar e no curar, exige que hoje em dia nos habituemos a cham-los de frmacos ou medicamentos,
sendo a distino ao nvel do princpio ativo, i.e. frmaco, que uma vez formulado traduz-se no medicamento que utilizamos.
Esta denominao a mais correta por traduzir melhor o papel desempenhado pelos frmacos disponveis no arsenal
teraputico moderno, capazes de efetivamente curar, mais do que remediar. Exatamente para destacarmos este ponto
intitulamos este artigo Sobre a qumica dos remdios, dos frmacos e dos medicamentos.
frmacos, origem dos frmacos, qumica medicinal
Introduo: o incio
esde tempos imemoriais a
humanidade aprendeu a utilizar
as propriedades biolgicas de
substncias qumicas exgenas1, em
rituais festivos, na cura de doenas e
mesmo como veneno. A maioria destas substncias era empregada em poes, preparadas na maioria das vezes
a partir de plantas.
Galeno (129-199 aC), o fundador da
Farmcia, divulgou o uso de extratos
vegetais para a cura de diversos males,
emprestando o nome s formulaes
farmacuticas, denominadas frmulas
galnicas. Por volta do sculo XV, com
a descoberta da imprensa, suas teorias
foram divulgadas e surgiram os primeiros embries das farmacopias, os herbrios, reunindo o conhecimento acumulado sobre o uso dos remdios de
origem vegetal.
A Humanidade aprendeu a usar as
plantas utilizando chs de origem vegetal para curar ou como bebida sagrada, em rituais e festividades pags,
identificando suas propriedades alucingenas ou afrodisacas. De fato, inmeros alcalides indlicos ocorrem em
plantas empregadas pelos ndios em
suas comemoraes. Muitos dos comCadernos Temticos de Qumica Nova na Escola
ponentes qumicos destas plantas foram identificados, posteriormente,
como substncias extremamente
ativas no sistema nervoso central
(SNC), como o harmano e a harmina
(Figura 1). Esta atividade central devese semelhana existente entre suas
estruturas e a serotonina, tambm
denominada 5-hidroxitriptamina, um
neurotransmissor que possui um
ncleo indlico (Figura 1).
Para caar ou pescar, os amerndios
sabiam empregar poes capazes de
envenenar ou simplesmente imobilizar
sua presa, sem que houvesse manifestao de efeitos txicos ao com-
Figura 1: Alcalides alucinognicos com o ncleo indlico estruturalmente aparentados
serotonina (5-hidroxitriptamina).
Dos frmacos aos medicamentos
N 3 Maio 2001
la. Como exemplo temos as plantas
com propriedades ictiotxicas (substncias com toxicidade para os peixes),
conhecidas pelos ndios da Amaznia,
que as empregavam como timbs2. O
curare, alcalide tetraidroquinolnico
originrio da flora da Amrica do Sul,
inspirou os bloqueadores ganglionares
representados entre outros pelo hexametnio (Esquema 1).
Talvez uma das plantas mais antigas empregadas pelo homem seja a
Papaver somniferum, que originou o
pio e contm alcalides e substncias
naturais de carter bsico, como a
morfina. O pio era conhecido das civilizaes antigas, havendo relatos que
confirmam seu uso desde 400 aC.
Galeno prescrevia o pio para dores
de cabea, epilepsia, asma, clicas, febre e at mesmo para estados melanclicos. O uso do pio foi vulgarizado
principalmente por Paracelsus, no sculo XVI, como analgsico.
Os estudos qumicos sobre o pio
comearam no sculo XIX, e em 1804
Armand Squin isolou seu principal
componente, a morfina, batizada em
homenagem ao deus grego do sono,
Morpheu. Esta substncia, com estrutura qumica particular, tornou-se o
mais poderoso e potente analgsico
conhecido e em 1853, com o uso das
seringas hipodrmicas, seu emprego
foi disseminado. A estrutura qumica da
morfina foi elucidada em 1923 por
Robert Robinson e colaboradores. Sua
sntese foi descrita em 1952, cento e
quarenta e oito anos aps seu isolamento por Squin (Figura 2).
Embora reconhecida como poderoso analgsico de ao central, a morfina provoca tolerncia, fenmeno que
se manifesta pela necessidade de
Figura 2: Morfina, indicando diferentes formatos de visualizao de sua estrutura tridimensional, em a) mostrando os tomos de oxignio em vermelho e nitrognio em azul, omitindo
os tomos de hidrognio; b) indicando os tomos de hidrognio (branco) e destacando,
em verde, o ciclo nitrogenado de seis tomos, piperidina; c) modelo de volume molecular,
omitindo os tomos de hidrognio; em azul o tomo de nitrognio e em vermelho os tomos
de oxignio. (WebLabViewer 2.0).
utilizar doses progressivamente maiores para se obter os mesmos resultados. A tolerncia pode provocar dependncia fsica, responsvel pelas severas sndromes de abstinncia no
morfinmano. O reconhecimento destas propriedades nocivas fez a Organizao Mundial de Sade (OMS) recomendar seu uso somente em casos
especficos, como no alvio das dores
de certos tumores centrais em pacientes com cncer terminal.
Entretanto, a partir da estrutura qumica da morfina, identificaram-se potentes analgsicos centrais de uso
Esquema 1.
Cadernos Temticos de Qumica Nova na Escola
Dos frmacos aos medicamentos
mais seguro, representados pela classe das 4-fenilpiperidinas (Figura 3).
A imensa flora americana deu significativas contribuies teraputica,
como a descoberta da lobelina (Figura
4) em Lobelia nicotinaefolia, usada por
tribos indgenas que fumavam suas folhas secas para aliviar os sintomas da
asma.
A quinina, um dos principais componentes da casca de Cinchona
officinalis, h muito tempo era conhecida
pelos amerindos como anti-trmico
(Figuras 5 e 6). Este alcalide quinolnico
originou os frmacos anti-malricos
como a cloroquina e mefloquina.
Os primeiros anti-malricos descobertos possuam em sua estrutura um
sistema aza-heterocclco, inicialmente
acridnico (por exmplo a quinacrina) ou
quinolnico, imitando aquele presente
no produto natural (Esquema 2). Os
derivados quinolnicos originais pertenciam classe das 4-amino ou 8-aminoquinolinas (como a cloroquina, primaquina).
N 3 Maio 2001
Figura 3: A origem dos analgsicos 4-fenilpiperidncos a partir da estrutura da morfina: o
anel piperidnico, em azul, substitudo em C-4 no alcalide por uma unidade fenila (verde)
e um tomo de carbono quaternrio oxigenado (a, em vermelho).
Esquema 2.
A mefloquina, tambm um derivado
anti-malrico que possui o sistema quinolnico, descoberto mais recentemente, tem um maior ndice de similaridade
estrutural com o produto natural, apresentando em sua estrutura o sistema
quinolinil-piperidinometanol, oriundo
do esqueleto rubano da quinina,
substitudo por dois grupamentos trifluormetila em C-2 e C-8. Esta substncia foi descoberta no Instituto Walter
Reed do exrcito americano, nos EUA,
para ser administrado em uma nica
dose diria (Figura 7).
O mais espetacular exemplo de
complexidade molecular em um produto natural no-proteico a palitoxina, isolada de corais Palythoa
tuberculosa. Em concentraes picomolares a palitoxina capaz de
modificar significativamente a permea-
Figura 4: Lobelina, isolada de Lobeliaceae, indicando, direita, uma viso estrica de sua
estrutura. Em azul o tomo de nitrognio, em vermelho os tomos de oxignio, em branco
os tomos de hidrognio e em cinza os tomos de carbono (WebLabViewer 2.0).
Cadernos Temticos de Qumica Nova na Escola
Dos frmacos aos medicamentos
Figura 5: Estrutura da quinina.
bilidade de ctions pela membrana
celular, atuando, aparentemente,
como uma ATPase de membrana,
inibindo a bomba de Na+/K+ (Esquema 3).
O modelo chave-fechadura
A ao biolgica das substncias
exgenas no organismo intrigou inmeros pesquisadores desde h muito
tempo. Entretanto, foi Emil Fisher quem
formulou um modelo pioneiro, capaz
de permitir uma racionalizao dos
efeitos das substncias, exgenas ou
no, no organismo. Este modelo, conhecido como chave-fechadura,
contm um conceito fundamental que
at hoje vigora, a despeito dos seus
100 anos (Figura 8). Fisher definiu que
as molculas dos compostos ativos no
organismo seriam chaves, que interagiriam com macromolculas do prprio
organismo (bioreceptores) que seriam
as fechaduras. Desta interao chavefechadura teramos a resposta farmacolgica de substncias endgenas
N 3 Maio 2001
Figura 7: Gnese dos anti-malricos cloroquina e mefloquina a partir da quinina.
Figura 6: Viso estrica da quinina
(WebLabViewer 2.0).
como, por exemplo, a serotonina, ou
de frmacos, como por exemplo o cido acetil saliclico (AAS). Embora
centenrio, o modelo de Fisher antecipava o conceito de complementaridade molecular que existe entre o frmaco e seu receptor. Desta forma, conhecendo, como se conhece, em quase todos os casos, a estrutura do frmaco (a chave) e sabendo-se quais
grupos funcionais esto presentes em
sua molcula (os dentes da chave)
poder-se-ia compor a topografia provvel, aproximada, do bioreceptor (a
fechadura). Portanto, onde na chave
temos uma reentrncia, na fechadura
teremos uma protuberncia, complementar, e assim por diante.
Em termos moleculares, se consideramos a molcula do AAS, identificamos sua frmula molecular C9H8O3,
que comporta trs grupos funcionais,
a saber: a) o grupamento cido carboxlico; b) o grupamento acetila; e c)
Esquema 3.
Cadernos Temticos de Qumica Nova na Escola
Dos frmacos aos medicamentos
o anel benznico. Sabendo-se que o
cido carboxlico presente no AAS um
cido benzico, podemos antecipar
que no pH do plasma (7,4) este grupamento estar ionizado, na forma de
carboxilato, apresentando uma carga
negativa formal. Por complementaridade, identificamos que, provavelmente, no stio receptor este grupamento interagir com um aminocido
carregado positivamente, representando uma interao inica (Figura 9).
Da mesma forma, o segundo grupamento funcional identificado na molcula do AAS, o grupamento acetila,
poder interagir com o stio receptor
atravs de ligaes de hidrognio (ligaes-H), em que a carbonila ou o
tomo de oxignio sero aceptores de
hidrognio e o stio receptor, conseqentemente, doador de hidrognio.
Finalmente, o anel benznico, com seis
eltrons no seu sistema aromtico
planar, participar na interao com o
stio receptor atravs de frgeis interaes do tipo hidrofbica, envolvendo
estes eltrons e definindo uma topografia plana complementar neste stio.
Este raciocnio pode explicar a ao
dos frmacos, ainda que de forma
abreviada, desde que a quantidade
adequada (dose) atinja os bioreceptores. Ao estudo das interaes moleculares entre os frmacos e seus bioreceptores, denomina-se de fase farmacodinmica de ao. Ao caminho
percorrido pelo frmaco no organismo,
at atingir o stio receptor, denominamos de fase farmacocintica. Esta
fase compreende a absoro, distribuio, metabolizao e eliminao do
frmaco.
N 3 Maio 2001
O estudo da fase farmacocintica
essencial para determinar-se a dose
do frmaco a ser administrada, e a sua
freqncia, ou seja, a posologia.
Temos a tendncia de acreditar que o
Figura 8: O centenrio modelo chavefechadura.
Figura 9: O modelo chave-fechadura e o conceito de complementaridade molecular.
organismo recebe com hospitalidade
os frmacos; entretanto, se considerarmos o pH do trato gastro-intestinal no estmago (~1,2), veremos que
a recepo que o organismo faz aos
frmacos administrados por via oral
no , de forma alguma, hospitaleira.
Assim, princpios ativos, i.e. frmacos
lbeis3 em pH cido, no podem ser
administradas por via oral sem que
estratgias adequadas de formulao
farmacutica sejam adotadas, de maneira que a forma farmacutica (medicamento), resista passagem pelo
estmago, favorecendo a liberao do
princpio ativo no intestino, onde o pH
no cido. Desta forma, pelo estudo
da fase farmacocintica, pode-se determinar a melhor forma farmacutica
de um frmaco em funo da via de
administrao eleita. Outrossim, toda
substncia exgena, frmaco ou no,
denominada xenobitico,
sofre metabolizao no
organismo, geralmente
a nvel heptico, por
ao de enzimas oxidativas. Dependendo dos grupos funcionais presentes na
molcula de um frmaco, podese antecipar, teoricamente, quais podero ser seus principais metablitos,
e no raramente, prever-se seu potencial txico. Outros rgos so capazes
de metabolizar os frmacos, tanto que
o plasma pode promover hidrlise de
steres ou amidas, pela presena de
esterases e amidases. Geralmente, o
caminho metablico que predomina
Figura 10: Concepo esquemtica do planejamento racional
de frmacos.
Cadernos Temticos de Qumica Nova na Escola
Dos frmacos aos medicamentos
o heptico, capaz de reduzir significativamente o coeficiente de partio
do composto que a relao de solubilidade leo/gua, permitindo sua
eliminao renal pela urina.
Planejamento racional de frmacos
O modelo chave-fechadura sugere ainda que, conhecendo-se a estrutura do bioreceptor, eleito como alvo
teraputico adequado para o tratamento de uma patologia, pode-se,
por complementaridade molecular,
desenhar uma molcula capaz de
interagir eficazmente com este receptor, permitindo seu planejamento
estrutural (Figura 10). Esta estratgia
de desenho planejado de bioligantes, geralmente emprega tcnicas de qumica computacional (computer assisted drug desing, CADD),
onde a modelagem molecular ferramenta extremamente til.
Entretanto, quando a estrutura do
bioreceptor no conhecida, pode-se
utilizar como modelo molecular seu
agonista ou substrato natural, que adequadamente modificado pode permitir
a construo molecular de novos inibidores enzimticos, novos antagonistas
ou agonistas de receptores, dependendo da necessidade, definida pela
escolha do alvo teraputico.
Esta rdua tarefa realizada pela
qumica medicinal4, sub-rea que tm
observado significativo desenvolvimento no pas. Os principais paradigmas
da qumica medicinal esto esquematizados na Figura 11, ilustrando seu
aspecto interdisciplinar.
Figura 11: Interdisciplinaridade da qumica medicinal.
N 3 Maio 2001
Figura 12: Principais classes teraputicas
em vendas (o nmero dentro dos retngulos, em vermelho, indica a participao relativa no mercado). CNS = sistema nervoso
central.
Figura 13: Estrutura do sildenafil (Viagra)
lanado recentemente no Brasil para o tratamento da disfuno erctil.
Concluses: Remdios, frmacos e
medicamentos
Considera-se que ca. 85% do total
de frmacos utilizados sejam de origem sinttica, representando significativa parcela dos 300 bilhes de dlares
arrecadados com medicamentos no
mundo, em 1999, distribudos entre
diversas classes teraputicas. Os mais
importantes frmacos do mercado, so
mostrados na Figura 12.
Considera-se que todos os frmacos
teis na teraputica atual manifestam
Cadernos Temticos de Qumica Nova na Escola
suas atividades sobre cerca de 70
enzimas e 25 receptores, sendo em sua
maioria inibidores enzimticos ou
antagonistas de receptores. Menos
numerosos so os agonistas de receptores ou os inibidores de canais
inicos.
O mercado farmacutico mundial
ultrapassou a marca de 300 bilhes de
dlares em 1999, e o frmaco lder das
estatsticas totalizou cerca de 4 bilhes
de dlares em vendas. No mesmo ano
de 1999, a indstria farmacutica lanou
diversos novos medicamentos. No Brasil
tivemos o lanamento do orlistat (Xenical), primeiro inibidor seletivo de lipases intestinais, recomendado para o
tratamento da obesidade. Foram lanados dois frmacos anti-inflamatrios noesteroidais de segunda gerao, colecoxib (Celebra) e rofecoxib (Vioxx),
que atuando seletivamente na enzima
prostaglandina endoperxido sintase-2
(PGHS-2) so capazes de tratar os
processos inflamatrios, inclusive aqueles crnicos, sem apresentar efeitos colaterais gstricos. Ainda em 1999, foi lanado o sildenafil (Viagra, Figura 13), o
primeiro frmaco til para o tratamento
da disfuno erctil, atuando como inibidor seletivo de fosfodiesterase V. Todos
estes novos frmacos representam importantes inovaes teraputicas, confirmando uma das principais caractersticas
da indstria farmacutica que compreende a inovao.
E.J. Barreiro (eliezer@pharma.ufrj.br),doutorado na
Universit Scientifique et Mdicale de Grenoble, Frana,
membro da Academia Brasileira de Cincias, professor titular da Faculdade de Farmcia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, coordenador do Laboratrio de Avaliao e Sntese de Substncias Bioativas.
Notas
1. substncias externas ao organismo,
ingeridas, geralmente sob a forma de chs.
2. Timb: designao comum a plantas,
basicamente leguminosas e sapindceas,
que induzem efeitos narcticos em peixes
e, por isso, so usadas para pescar. Fragmentadas e esmagadas, so lanadas
gua; logo os peixes comeam a boiar e podem ser apanhados mo. Deixados na
gua, recuperam-se, podendo ser comidos
sem inconvenienes.
3. Como aqueles que por apresentarem
em sua estrutura funo qumicas vulnerveis ao pH do estmago (como steres metlicos, amidas cclicas) sofrem hidrlise cida.
4. ...Nobody in the world is condemned
Dos frmacos aos medicamentos
to work with as many variables as the medicinal chemist... (...ningum no mundo
est condenado a trabalhar com tantas variveis como o qumico medicinal...) esta afirmao de Corwin Hansch descreve de forma
exemplar o contexto da interdisciplinaridade
que caracteriza a qumica medicinal.
Para saber mais
Sobre conceitos e fundamentos de
qumica medicinal: BARREIRO, E.J. e
FRAGA, C.A.M. Qumica Medicinal: as
bases moleculares da ao dos frmacos.
Porto Alegre: ArtMed Editora Ltda., 2001.
MONTANARI, C.A. Qumica medicinal:
contribuio e perspectiva no desenvolvimento da farmacoterapia, Qumica
Nova, v. 18, p. 56-64, 1995.
Sobre a importncia dos produtos
naturais no desenvolvimento de frmacos: BARREIRO, E.J. Produtos naturais bioativos de origem vegetal e o
desenvolvimento de frmacos. Qumica.
Nova, v. 13, p. 29-39, 1990.
BARREIRO, E.J. e FRAGA, C A.M. A
utilizao do safrol, principal componente
qumico do leo de Sassafrs, na sntese
de substncias bioativas na cascata do
cido araquidnico: anti-inflamatrios,
analgsicos e anti-trombticos. Qumica
Nova, v. 22, p. 744-759, 1999.
Sobre metabolismo dos frmacos:
BARREIRO, E.J.; SILVA, J.F.M. da e FRAGA, C.A.M. Noes bsicas do metabolismo de frmacos. Qumica. Nova, v. 19,
p. 641-650, 1996.
Sobre estereoqumica de frmacos
BARREIRO,E.J.; FERREIRA, V.F. e
COSTA, P.R.R. Substncias enantiomericamente puras (SEP): a questo dos
frmacos quirais. Qumica Nova, v. 20, p.
647-656, 1997.
LIMA, V.L.E. Os frmacos e a quiralidade: uma breve abordagem. Qumica
Nova, v. 20, p. 657-663, 1997.
Sobre modelagem molecular: BARREIRO, E.J.; RODRIGUES, C.R.; ALBUQUERQUE, M.G. SANTANNA, C.M.R. de
e ALENCASTRO, R.B. de . Modelagem
molecular: uma ferramenta para o planejamento racional de frmacos em qumica
medicinal. Qumica Nova, v. 20, p. 300310, 1997.
Sobre a sntese de frmacos: BARREIRO, E.J. A importncia da sntese de
frmacos na produo de medicamentos. Qumica Nova, v. 14, p. 179-188 1991.
Sobre latenciao de frmacos: CHIN,
C.M. e FERREIRA, E.I. O processo de
latenciao no planejamento de frmacos. Qumica Nova, v. 22, p. 65-74, 1999.
N 3 Maio 2001
Você também pode gostar
- Química RG - Cinética QuímicaDocumento6 páginasQuímica RG - Cinética QuímicaQuimica Passei67% (3)
- Apostila TCC Guia PráticoDocumento88 páginasApostila TCC Guia PráticoCristiane Mendes100% (1)
- 004 Aminoacidos Rev PDFDocumento2 páginas004 Aminoacidos Rev PDFLucas SilvaAinda não há avaliações
- NBR 7287 PDFDocumento10 páginasNBR 7287 PDFWender MartinsAinda não há avaliações
- O Período ProbatórioDocumento8 páginasO Período ProbatóriosilvacuinicaAinda não há avaliações
- Ácidos e BasesDocumento26 páginasÁcidos e BasesMiriam_Bleggi_brAinda não há avaliações
- Química Forense - Noções de DNA Forense - Balística ForenseDocumento69 páginasQuímica Forense - Noções de DNA Forense - Balística ForenseDaiane BorgesAinda não há avaliações
- Propagacao de Erros Ou DesviosDocumento18 páginasPropagacao de Erros Ou DesviosAnne Ketri Pasquinelli da FonsecaAinda não há avaliações
- Planejamento Química 2022 - 3º AnoDocumento4 páginasPlanejamento Química 2022 - 3º AnomarkmouraAinda não há avaliações
- Exercícios - Química OrgânicaDocumento59 páginasExercícios - Química OrgânicaAna100% (1)
- Quimica Experimental 2Documento32 páginasQuimica Experimental 2HenriqueAlvesAinda não há avaliações
- Apostila Quimica OrganicaDocumento66 páginasApostila Quimica OrganicaHenrique Silveira83% (6)
- Química - Pré-Vestibular Impacto - Geometria MolecularDocumento2 páginasQuímica - Pré-Vestibular Impacto - Geometria MolecularQuímica Qui100% (5)
- Minidicionário de QuímicaDocumento116 páginasMinidicionário de QuímicaOmar de Camargo100% (4)
- Nomenclatura de CompostosDocumento19 páginasNomenclatura de CompostosRimla OtenAinda não há avaliações
- Lista 1 - RevisãoDocumento5 páginasLista 1 - RevisãoKaroline Oliveira0% (1)
- Aula PolimeroDocumento17 páginasAula PolimeroBruno Guedes100% (1)
- Aula 5 - Preparo de SoluçõesDocumento30 páginasAula 5 - Preparo de SoluçõesSr Soulo542100% (1)
- Funções OrgânicasDocumento16 páginasFunções OrgânicasJacqueline Quintal100% (1)
- Conteúdo de Quimica No Ensino MedioDocumento3 páginasConteúdo de Quimica No Ensino MedioGraziano Souza OliveiraAinda não há avaliações
- Química - Cadernos Temáticos - HipertensãoDocumento5 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - HipertensãoQuimica Passei100% (4)
- Bases Analíticas Do Laboratório Clínico - Aula 6Documento68 páginasBases Analíticas Do Laboratório Clínico - Aula 6Aurélio Pinheiro100% (1)
- Isomeria Espacial - Isomeria GeométricaDocumento4 páginasIsomeria Espacial - Isomeria GeométricaAlda ErnestinaAinda não há avaliações
- O ÁTOMO - Aula Nonos AnosDocumento4 páginasO ÁTOMO - Aula Nonos AnosMaura Eduarda100% (3)
- TermoquímicaDocumento13 páginasTermoquímicaWilliam VieiraAinda não há avaliações
- Química Da Vida - Aula 14 - Biomoléculas IDocumento24 páginasQuímica Da Vida - Aula 14 - Biomoléculas IMundo_da_QuimicaAinda não há avaliações
- Exercícios Química OrgânicaDocumento19 páginasExercícios Química OrgânicaLeonardo N Araújo100% (1)
- Funções Inorgânicas TrabalhoDocumento24 páginasFunções Inorgânicas TrabalhoRodrigo Fernandes78% (18)
- Experiências de Química Geral by Nito A Debacher, Eduardo StadlerDocumento116 páginasExperiências de Química Geral by Nito A Debacher, Eduardo StadlerCristina De Tate SettiAinda não há avaliações
- Volumetria IIDocumento45 páginasVolumetria IIAgar Abel MatsinheAinda não há avaliações
- Amido PDFDocumento3 páginasAmido PDFBiancaBeloAinda não há avaliações
- Ligações QuímicasDocumento27 páginasLigações QuímicasBruno LeiteAinda não há avaliações
- Propriedades Gerais Da MatériaDocumento6 páginasPropriedades Gerais Da MatériaNathaniel RossiAinda não há avaliações
- Aula 4 - Química de PolímerosDocumento65 páginasAula 4 - Química de PolímerosFabiano MendesAinda não há avaliações
- Aula 1 - Introdução A Análise InstrumentalDocumento28 páginasAula 1 - Introdução A Análise InstrumentalÁlex FerreiraAinda não há avaliações
- UNIDADE I - Conceitos FundamentaisDocumento24 páginasUNIDADE I - Conceitos FundamentaisDaiane da SilveiraAinda não há avaliações
- Aula-Introdução A Química AnalíticaDocumento38 páginasAula-Introdução A Química AnalíticaWanessaAmorimAinda não há avaliações
- Apostila Química Geral - 2018 NovoDocumento57 páginasApostila Química Geral - 2018 NovoGabriel LeiteAinda não há avaliações
- Quimica Organica Exercicios Classificacao Nomenclatura GabaritoDocumento26 páginasQuimica Organica Exercicios Classificacao Nomenclatura GabaritoRones DiasAinda não há avaliações
- Química OrgânicaDocumento84 páginasQuímica OrgânicaDeborah S. FructuosoAinda não há avaliações
- Aula 04 - 05 - 06 - 07 - Ciência e Tecnologia Dos Polímeros (CPTO) (LJS)Documento49 páginasAula 04 - 05 - 06 - 07 - Ciência e Tecnologia Dos Polímeros (CPTO) (LJS)Ricardo ReisAinda não há avaliações
- Radioatividade-Ensino Médio PDFDocumento50 páginasRadioatividade-Ensino Médio PDFJoão Marcos Lenhardt SilvaAinda não há avaliações
- Quimica - Organica II Reação de AdicaoDocumento86 páginasQuimica - Organica II Reação de AdicaoQuímica Qui67% (3)
- Química 12 e 13 - EstequiometriaDocumento7 páginasQuímica 12 e 13 - EstequiometriaJonathan AraújoAinda não há avaliações
- Apostila de Introdução A QuímicaDocumento87 páginasApostila de Introdução A QuímicaVinícius FabroAinda não há avaliações
- LIVRO PROPRIETARIO - Quimica Geral PDFDocumento217 páginasLIVRO PROPRIETARIO - Quimica Geral PDFJalmir Lima100% (1)
- Diretrizes Curriculares de QuímicaDocumento28 páginasDiretrizes Curriculares de QuímicaThais NegrelliAinda não há avaliações
- Fenomenos Quimicos e FisicosDocumento2 páginasFenomenos Quimicos e FisicosMarjorie StabeliniAinda não há avaliações
- 1 Introducao A Quimica OrganicaDocumento34 páginas1 Introducao A Quimica OrganicaBruna Aringhieri VieiraAinda não há avaliações
- Estrutura Atômica-Aula 1 - Química Geral.Documento39 páginasEstrutura Atômica-Aula 1 - Química Geral.Amy AdamsAinda não há avaliações
- Listas de Exercícios de Reações Orgânicas - 1-1Documento10 páginasListas de Exercícios de Reações Orgânicas - 1-1João BalbinoAinda não há avaliações
- Detetive Por Um Dia: Aprendendo A Investigar Por Meio Da Química ForenseNo EverandDetetive Por Um Dia: Aprendendo A Investigar Por Meio Da Química ForenseAinda não há avaliações
- Substâncias húmicas aquáticas: Interações com espécies metálicasNo EverandSubstâncias húmicas aquáticas: Interações com espécies metálicasAinda não há avaliações
- Sobre o (Não) Domínio da Linguagem Química e sua Influência na AprendizagemNo EverandSobre o (Não) Domínio da Linguagem Química e sua Influência na AprendizagemAinda não há avaliações
- Experimentos Investigativos de Química para a Sala de AulaNo EverandExperimentos Investigativos de Química para a Sala de AulaNota: 2 de 5 estrelas2/5 (1)
- A Temática Ambiental na Escola e os Artefatos da Indústria CulturalNo EverandA Temática Ambiental na Escola e os Artefatos da Indústria CulturalAinda não há avaliações
- Estudo Da Degradação Da Mata CiliarNo EverandEstudo Da Degradação Da Mata CiliarAinda não há avaliações
- Contribuições Da Química Inorgânica para A Química MedicinalDocumento3 páginasContribuições Da Química Inorgânica para A Química MedicinalAriaidny FariasAinda não há avaliações
- Química - Cadernos Temáticos - Serviço Da HumanidadeDocumento4 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - Serviço Da HumanidadeQuimica Passei100% (2)
- Química - Cadernos Temáticos - VidrosDocumento12 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - VidrosQuimica Passei100% (4)
- Química - Cadernos Temáticos - QuiralidadeDocumento10 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - QuiralidadeQuimica Passei100% (3)
- Quimica Da AtmosferaDocumento14 páginasQuimica Da AtmosferaAlfonso Gómez Paiva100% (7)
- Química - Cadernos Temáticos - PlásticosDocumento4 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - PlásticosQuimica Passei100% (2)
- O Tecnécio Na MedicinaDocumento5 páginasO Tecnécio Na Medicinamonique_forteAinda não há avaliações
- Química - Cadernos Temáticos - Tabela Periódica Org Dos Elem QuímicosDocumento2 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - Tabela Periódica Org Dos Elem QuímicosQuimica Passei100% (10)
- Ligações Químicas Ligação Iônica Covalente e MetálicaDocumento10 páginasLigações Químicas Ligação Iônica Covalente e Metálicavan't hoff100% (7)
- Química - Cadernos Temáticos - HipertensãoDocumento5 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - HipertensãoQuimica Passei100% (4)
- Química - Cadernos Temáticos - Polímeros SintéticosDocumento4 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - Polímeros SintéticosQuimica Passei100% (3)
- Química - Cadernos Temáticos - Modelagem MolecularDocumento7 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - Modelagem MolecularQuimica Passei100% (2)
- Química - Nomenclatura de Moléculas OrgânicasDocumento7 páginasQuímica - Nomenclatura de Moléculas OrgânicasQuímica_Moderna100% (1)
- Quimica de MateriaisDocumento2 páginasQuimica de MateriaisSup3RoqueAinda não há avaliações
- A Noção Clássica de Valência e o Limiar Da RepresentacãoDocumento12 páginasA Noção Clássica de Valência e o Limiar Da RepresentacãoemmanuelSMAinda não há avaliações
- HidrosferaDocumento10 páginasHidrosferaKenny EvangelistaAinda não há avaliações
- Química - Cadernos Temáticos - Introdução IDocumento1 páginaQuímica - Cadernos Temáticos - Introdução IQuimica PasseiAinda não há avaliações
- Química - Cadernos Temáticos - ElementosDocumento6 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - ElementosQuimica PasseiAinda não há avaliações
- Interação InterpartículasDocumento6 páginasInteração InterpartículasAtailson OliveiraAinda não há avaliações
- Química - Cadernos Temáticos - Fluxos de Matéria e Energia No SoloDocumento11 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - Fluxos de Matéria e Energia No SoloQuimica PasseiAinda não há avaliações
- Evolucao Da AtmosferaDocumento4 páginasEvolucao Da AtmosferaCecilia FerreiraAinda não há avaliações
- Espectroscopia MolecularDocumento7 páginasEspectroscopia MolecularDiego Henrique MartucciAinda não há avaliações
- Química - Cadernos Temáticos - Águas No Planeta TerraDocumento10 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - Águas No Planeta TerraQuimica PasseiAinda não há avaliações
- Razões Da Atividade BiológicaDocumento10 páginasRazões Da Atividade BiológicaFabricio OliveiraAinda não há avaliações
- Química - Cadernos Temáticos - BohrDocumento9 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - BohrQuimica PasseiAinda não há avaliações
- Quimica Atmosferica - A Quimica Sobre Nossas CabeçasDocumento9 páginasQuimica Atmosferica - A Quimica Sobre Nossas CabeçasGabrielGardinAinda não há avaliações
- Química RG PPT - Substancias Puras e MisturasDocumento18 páginasQuímica RG PPT - Substancias Puras e MisturasQuímica PPT100% (4)
- Lista de Postos RJDocumento11 páginasLista de Postos RJmbtavaresAinda não há avaliações
- Impacto Do Estresse de Minoria em Pessoas TransDocumento13 páginasImpacto Do Estresse de Minoria em Pessoas Transawnjiminx xAinda não há avaliações
- 2.2. Geografia - Exercícios Resolvidos - Volume 2Documento11 páginas2.2. Geografia - Exercícios Resolvidos - Volume 2Jordyson Matheus0% (1)
- 72 Viviane SimioniDocumento11 páginas72 Viviane SimioniHerikKalveenAinda não há avaliações
- Efetivo Maria 11 - 11Documento91 páginasEfetivo Maria 11 - 11Daniel FerreiraAinda não há avaliações
- Introdução Ao UbuntuDocumento11 páginasIntrodução Ao UbuntuVirginia De Sousa VenegaAinda não há avaliações
- Sons Tungui Botó FERNANDA - ANDRADE - SILVADocumento71 páginasSons Tungui Botó FERNANDA - ANDRADE - SILVAGilberto SilvaAinda não há avaliações
- Apresentação Do PowerPointDocumento17 páginasApresentação Do PowerPointvanderexAinda não há avaliações
- Tradição Bon PoDocumento83 páginasTradição Bon PoAshtarot Cognatus100% (10)
- Relatorio de TransicaoDocumento68 páginasRelatorio de TransicaoBruno PereiraAinda não há avaliações
- CASOS-PRÁTICOS - Direito Romano - Turmas Práticas P8, P9, P10 e P11 - Diogo Figueiredo FerreiraDocumento2 páginasCASOS-PRÁTICOS - Direito Romano - Turmas Práticas P8, P9, P10 e P11 - Diogo Figueiredo FerreiraNúria MachocoAinda não há avaliações
- Ciência Eleitoral em Lavras MG - CANDIDATOSDocumento2 páginasCiência Eleitoral em Lavras MG - CANDIDATOSEdimar SousaAinda não há avaliações
- Taxa Reduzida Iva 6 Obras de Reabilitação Urbana LTDocumento3 páginasTaxa Reduzida Iva 6 Obras de Reabilitação Urbana LTBruno OliveiraAinda não há avaliações
- EXERCÍCIOS CONCORDÂNCIA VERBAL Nominal Regencia e Crase para Aula ParticularDocumento6 páginasEXERCÍCIOS CONCORDÂNCIA VERBAL Nominal Regencia e Crase para Aula ParticularAnna Vaz BoechatAinda não há avaliações
- Regulamentos Comunitários em Matéria de Segurança SocialDocumento8 páginasRegulamentos Comunitários em Matéria de Segurança Social1zoio2zoioAinda não há avaliações
- Fórum de Matemática - DÚVIDAS - Nós Respondemos! - Ver Pergunta - Como Resolver M (T) k.3 0,5tDocumento3 páginasFórum de Matemática - DÚVIDAS - Nós Respondemos! - Ver Pergunta - Como Resolver M (T) k.3 0,5tMarcus RenkAinda não há avaliações
- PRODUTO ESCALAR - PRODUTO VETORIAL - PesquisaDocumento15 páginasPRODUTO ESCALAR - PRODUTO VETORIAL - PesquisaLuciano CarvalhoAinda não há avaliações
- Manual Telefone PhillipsDocumento32 páginasManual Telefone Phillipsscandall100% (1)
- Texto e Ficha 1Documento3 páginasTexto e Ficha 1Marco MatiasAinda não há avaliações
- d10 3c2aa Sc3a9rie Ens Mc3a9dio L PDocumento7 páginasd10 3c2aa Sc3a9rie Ens Mc3a9dio L PPedroka Só CorreAinda não há avaliações
- Prática 7 - Medição de PresençaDocumento5 páginasPrática 7 - Medição de PresençaLuana MeloAinda não há avaliações
- Orientacao CapstoneDocumento29 páginasOrientacao CapstoneGlaucilaine Rodrigues de MeloAinda não há avaliações
- Instituicoes Financeiras Emprestimo Consignado Propaganda EnganosaDocumento17 páginasInstituicoes Financeiras Emprestimo Consignado Propaganda EnganosaCarla Dos SantosAinda não há avaliações
- SAP 2 - Folha Resposta HIGIENE OCUPACIONALDocumento4 páginasSAP 2 - Folha Resposta HIGIENE OCUPACIONALIsis CorreiaAinda não há avaliações
- Apostila Unid 2 - Análise Do Capital de GiroDocumento17 páginasApostila Unid 2 - Análise Do Capital de GiroGeovania NascimentoAinda não há avaliações
- Quaresma 2023Documento26 páginasQuaresma 2023Juliana Borges MoraisAinda não há avaliações
- Jheysllin Play Plays Menó Se MancaDocumento4 páginasJheysllin Play Plays Menó Se MancajheysllonsilvaAinda não há avaliações