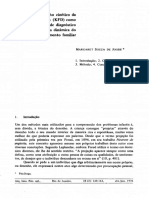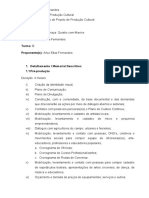Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Revista Psicolog PDF
Revista Psicolog PDF
Enviado por
Leandro MoraisTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Revista Psicolog PDF
Revista Psicolog PDF
Enviado por
Leandro MoraisDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Revista Psicolog
Volume 1 Nmero 1
Editores
Carlos Henrique da Costa Tucci e Andreza Cristiana Ribeiro
Ribeiro Preto - SP - Brasil 2008
Revista Psicolog 1
Expediente
Editores
Andreza Cristiana Ribeiro
(andrezaribeiro@psicolog.com.br)
Carlos Henrique da Costa Tucci
(henriquetucci@psicolog.com.br)
Conselho Editorial
Alice Maria de Carvalho Delitty
Alexandre Dittrich
Almir Del Prette
Antonio Bento Alves de Moraes
Antonio Pedro de Mello Cruz
Deisy das Graas de Souza
Edwiges Ferreira de Mattos Silvares
Emmanuel Zagury Tourinho
Fabiana Ferreira Guerrelhas Gonalves
Helosa Helena Ferreira da Rosa
Isaas Pessotti
Jaime Eduardo Cecilio Hallak
Joo Claudio Todorov
Jos Alexandre de Souza Crippa
Jose Antonio Damasio Abib
Josele Regina de Oliveira Abreu Rodrigues
Juliana Setem Carvalho Tucci
Julio Cesar Coelho de Rose
Kester Carrara
Laercia Abreu Vasconcelos
Lincoln da Silva Gimenes
Lorismrio Ernesto Simonassi
Luiz Alberto Bechelli Hetem
Maira Cantarelli Baptistussi
Maria Martha Costa Hbner
Regina Christina Wielenska
Roberto Alves Banaco
Roosevelt Riston Starling
Rosmeire Borges
Silvio Luiz Morais
Silvio Morato de Carvalho
Sonia Beatriz Meyer
Vera Regina Lignelli Otero
Zilda Aparecida Pereira Del Prette
Capa
Luis Henrique da Silva Cruz
Revista Psicolog 2
Sumrio
Editorial
A evoluo do manejo clnico dos problemas de conduta: do tratamento preveno
Edwiges Ferreira de Mattos Silvares e Mrcia Helena da Silva Melo
O problema da justificao racional de valores na filosofia moral skinneriana
Alexandre Dittrich
21
Colecionismo: fronteiras entre o normal e o patolgico
Mnica Ferreira Gomes Aires Oliveira e Regina Christina Wielenska
27
Entre a utopia e o cotidiano:
uma anlise de estratgias viveis nos delineamentos culturais
Kester Carrara
42
Procedimentos de observao em situaes estruturadas para avaliao de habilidades sociais profissionais de adolescentes
Almir Del Prette e Camila de Sousa Pereira
55
Proposta de interpretao de operantes verbais na relao terapeuta-cliente,
demonstrada em caso de dor crnica
Rodrigo Nardi e Sonia Beatriz Meyer
69
Automonitoramento como tcnica teraputica e de avaliao comportamental
Carlos Henrique Bohm e Lincoln da Silva Gimenes
89
O uso do Stroop Color Word Test na esquizofrenia: uma reviso da metodologia.
Jaime Eduardo Cecilio Hallak, Joo Paulo Machado de Sousa, Antonio Waldo
Zuardi
102
Normas para submisso de artigos para publicao
120
Revista Psicolog 3
Editorial
Segundo Skinner, em seu livro O Comportamento Verbal, os homens agem
sobre o mundo, modificam-no e, por sua vez so modificados pelas consequncias de sua
ao. E ainda segundo este mesmo autor, as conseqncias que deveriam seguir a todo
comportamento, pblico ou privado, deveriam ser os reforadores positivos. Foi com
estas premissas que buscvamos promover condies para aumentar a probabilidade de
cientistas, como ns, serem reforados positivamente por difundir seus dados cientficos.
E as condies para que esta iniciativa se concretizasse definitivamente se deram com a
unio de profissionais com estes mesmos ideais na cidade de Ribeiro Preto. O Psicolog
- Instituto de Estudos do Comportamento de Ribeiro Preto uma instituio particular
que realiza atividades de ensino, pesquisa e atendimentos psicoterpicos sob o referencial
terico da Anlise do Comportamento. As atividades do instituto so organizadas
com o compromisso de apoiar e promover de forma sistemtica o desenvolvimento
da Anlise do Comportamento em sua regio e no Brasil, por meio de pesquisas e
atividades realizadas por seus alunos e profissionais. Outra maneira encontrada para
contribuir na divulgao de trabalhos cientficos desta rea do conhecimento foi a criao
da Revista Psicolog. Esta publicao tem como objetivo criar condies para que
alunos, pesquisadores e profissionais, do Brasil e da Amrica Latina, exponham seus
conhecimentos comunidade cientfica. A Revista Psicolog ter periodicidade semestral
e a forma de apresentao escolhida a verso on-line, no intuito levar informaes e
conceitos da Anlise do Comportamento, de forma dinmica e irrestrita, a um nmero
cada vez maior de pessoas. Os textos submetidos publicao devero ser originais em
portugus e/ou espanhol, de qualquer rea de aplicao da Anlise do Comportamento,
na forma de relatos de pesquisa, revises tericas, relatos de caso, comunicaes breves
e tradues de artigos cientficos clssicos. A montagem do Conselho Editorial, que
endossa a qualidade dos artigos apresentados pela Revista, foi uma tarefa muito prazerosa
que nos permitiu manter contato prximo com um notvel grupo de pesquisadores que
generosamente nos apoiou e estimulou a assumir a responsabilidae desta importante
empreitada. Na qualidade de Editores desta Revista, temos o imenso prazer de oferecer
neste primeiro nmero uma seleta de artigos enviados por estes renomados profissionais.
A partir desta edio, abrimos s comunidades cientficas brasileira e latino-americana
nossas pginas para que marquem sua presena e tambm contribuam para a manuteno
desta tarefa que assumimos de promoo do conhecimento cientfico.
Contamos com a ativa participao de todos.
Andreza Cristiana Ribeiro e Carlos Henrique da Costa Tucci
Editores
Revista Psicolog 4
A evoluo do manejo clnico dos problemas de conduta: do
tratamento preveno
Edwiges Ferreira de Mattos Silvares1 , Mrcia Helena da Silva Melo2
1
Professora Titular do Departamento de Psicologia Clnica da Universidade de So Paulo
Av. Prof. Mello Moraes, 1721, Bloco F, Cidade Universitria, So Paulo SP
CEP: 05508-900 .
Pesquisadora do Laboratrio de Terapia Comportamental da Universidade de So Paulo.
So Paulo - SP - Brasil.
efdmsilv@usp.br, mmelo@usp.br
Abstract. Clinical works about treatments for conduct problems emphasizes the
need for an early, comprehensive, and preventive intervention. This form of
intervention should involve widespread relevant agents of the child universe.
The present work undertakes a literature review, focusing on theoretical models
adopted since 1950, to clarify the negative factors that affect childrens development c. These models are the base for several clinical interventions proposed
since then by behavior therapy, such as parent training, child focused intervention and, more recently, teacher training added to peers intervention. Finally it
is described a study and its dissemination involving an expanded Brazilian intervention model proposal, including parents, peers and teachers to the acquisition
and consolidation of social skills, aiming to early stop children to engage in antisocial conducts.
Keywords: conduct problems, prevention, behavior therapy
Resumo. Os trabalhos clnicos voltados ao tratamento dos problemas de conduta tm enfatizado, cada vez mais, a necessidade de uma interveno precoce,
preventiva e abrangente, envolvendo o maior nmero de agentes significativos
do universo infantil. O presente artigo empreende uma reviso da literatura,
enfocando os modelos tericos adotados desde 1950 para esclarecer os fatores que influenciam negativamente o desenvolvimento da criana (aquisio
de comportamentos de baixa competncia social). Tais modelos embasam os
diversos tipos de interveno clnica propostos desde ento pela terapia comportamental, contemplando a orientao parental, o atendimento criana e,
mais recentemente, o treinamento de professores somado interveno com
pares. Por fim, apresentada uma proposta de disseminao de um modelo
ampliado de interveno brasileira (com estudo de disseminao j concludo),
que inclui pais, pares e professores to importantes para a aquisio e consolidao das habilidades sociais com vistas a interromper precocemente a
escalada da criana s condutas anti-sociais.
Palavras-chave: problemas de conduta, preveno, terapia comportamental.
Revista Psicolog 5
Uma breve perspectiva histrica da
TCCI (Terapia Cognitivo - Comportamental Infantil) voltada para o trabalho
com os pais de crianas com problemas
de conduta11
teriores, da dcada de noventa (e.g. Eisenstadt, Eyberg, McNeil, Newcomb Funderburk, 1993; Kazdin, 1991, 1994; Patterson,
Reid Dishion, 1992; Sanders Dadds, 1993;
Serketich Dumas, 1996; Webster-Stratton,
1991, 1994). O mesmo poderia ser dito
Desde os anos pioneiros de terapia para a dcada inicial do novo milnio (e.g.
cognitivo-comportamental infantil, quando Webster Stratton Taylor, 2001).
seus objetivos eram menos clnicos e mais
demonstrativos (Silvares, 1991), o trabalho
Nesse sentido, podemos mencionar
dos psiclogos clnicos infantis tm en- o estudo de Frankel (1993), que comparou
volvido os pais no tratamento dos mais di- a habilidade de pais, cujos filhos no esversos problemas das crianas que lhes so tavam inscritos em clnicas psicolgicas,
encaminhadas para tratamento psicolgico. mas que receberam orientao sobre como
A ttulo ilustrativo, podemos citar um dos lidar com seus filhos (tipo 1); com a de
primeiros estudos sobre orientao de pais, pais de crianas que j haviam sido indesenvolvido por Williams, em 1959. No scritas em clnica psicolgica (tipo 2) (p.
demais lembrar, para os que so menos 8). Os resultados mostraram melhor desintonizados com a histria da Terapia sempenho dos pais tipo 1, sugerindo que
Cognitivo-Comportamental (TCC), ter sido estes possuam melhores condies para
o procedimento de extino, executado pe- resoluo de conflitos com seus filhos. Com
los pais e tia da criana, sob orientao de base nestes resultados, pode-se concluir que
Williams, que levou ao alcance dos ob- quanto mais adequados forem os pais na injetivos de auxiliar uma criana com difi- terao com os filhos, menor a probabiliculdades de permanecer sozinha no quarto dade destes apresentarem dificuldades comaps ter passado por internao em hospi- portamentais intensas. E, como afirmou
tal, durantes dois meses, em decorrncia de Patterson (1986), quanto mais cedo os pais
problemas somticos.
aprenderem a lidar com as dificuldades que
Quase quarenta anos aps esse trabalho pi- tm com suas crianas, as chances destas
oneiro, McMahon (1996) considerou a ori- desenvolverem comportamentos inadequaentao de pais no auxlio a crianas com dos, como por exemplo o comportamento
dificuldades comportamentais e emocionais delinqente, so minimizadas.
a estratgia para tratamento psicolgico infantil mais extensamente ampliada e avaliA receptividade a essa estratgia
ada nas ltimas dcadas.
de tratamento psicolgico infantil, pelos
De acordo com Marinho e Silvares
(1998) na primeira reviso crtica dos estudos sobre orientao de pais de crianas
com problemas de comportamento disruptivo, O Dell (1974) concluiu que esta abordagem era vista como bem sucedida, o
que foi confirmado em publicaes pos-
psiclogos clnicos pesquisadores, faz todo
sentido se considerarmos que, alm de sua
eficcia demonstrada, dois outros pontos
parecem explic-la. Em primeiro lugar, a
prevalncia nos Estados Unidos dos
problemas de comportamento, em idade
pr-escolar e em anos iniciais da escola
elementar de 10% e de 25%, se a pop-
1 Problemas de conduta aqui tem conotao ampla e se refere a uma classe de comportamentos chamada por Achenbach e Rescorla
(2001) de problemas externalizantes, os quais envolvem predominantemente conflitos interpessoais, englobando duas classes: comportamento de quebrar regras e comportamento agressivo.
Revista Psicolog 6
ulao considerada for de crianas de nvel
socioeconmico desprivilegiado, segundo
Webster-Stratton e Reid (2004). Taxas
semelhantes foram encontradas no Brasil
por Anselmi, Piccinini, Barros e Lopes
(2004). Em segundo lugar, a queixa de distrbios extemalizantes a mais freqente
em clnicas-escola americanas (Achenbach
Rescorla, 2001) e brasileiras (Silvares, Santos, Meyer Gerencer, 2006).
Quando se fala em ampliao na estratgia de orientao de pais de crianas
com problemas comportamentais e emocionais, significa incluir mais elementos,
tanto na avaliao quanto na interveno
que se promove, com vistas s melhorias
psicolgicas infantis.
Tal ampliao tem sentido especialmente se examinarmos os modelos de percursos da influncia negativa sobre o comportamento problemtico em crianas, desenvolvidos por estudiosos americanos, no
final da dcada de noventa e incio de 2000.
bom lembrar que esses percursos so
traados a partir de estudos metodologicamente planejados e com uso de mtodos
de regresso estatstica, os quais permitem
definir os caminhos que unem variveis previamente mensuradas no trabalho de investigao sobre tais percursos.
Se por um lado, tcito que a orientao de pais popular e eficaz, especialmente no tratamento de crianas com
problemas de conduta, e altamente justificvel em funo da alta demanda por ela,
por outro, tambm verdadeiro o reconhecimento de que o treinamento de pais
no manejo dos problemas dos filhos em
TCC, desde os dias de Williams at hoje,
tem se alterado, alcanando significativa
ampliao (Silvares, 1993), fruto da contnua construo de conhecimento dentro Primeiro modelo: a influncia negativa
dos dficits de manejo de conflito conjuda prpria rea.
gal sobre o comportamento infantil
Apresentar essas transformaes e o
caminho trilhado por pesquisadores e clnicos na rea da psicologia que de forma
crescente saem em defesa de aes preventivas , na direo de prticas que produzam
efeitos mais abrangentes e mais durveis
no tempo ao lidar com problemas de conduta, o objetivo do presente estudo. Para
tanto, as autoras ancoram sua explanao
em trs modelos explicativos sobre os determinantes do comportamento infantil que
fornecem subsdios para o planejamento de
intervenes. Por fim, so referidos como
exemplos de interveno dois programas,
realizados pelas mesmas autoras, que remetem ao estgio atual dos programas destinados aos problemas de conduta.
O primeiro dos estudos sobre modelos de percurso descreve a trajetria da influncia negativa dos pais sobre seus filhos,
delineada por Webster-Stratton e Hammond
(1999). A figura 1 especifica as relaes diretas e as indiretas do manejo negativo do
conflito marital com os problemas da criana.
O modelo indireto indica que o
manejo negativo do conflito entre casais
afeta tanto o comportamento crtico adotado na criao dos filhos como a baixa
responsividade emocional dos pais, que por
sua vez influencia no desenvolvimento dos
problemas da criana. O estudo de WebsterUm exame dos percursos de influncia Stratton e Hammond (1999) encontrou alnegativa dos agentes sociais sobre a cri- gumas diferenas entre pais e mes, principalmente sobre o empoderamento marital.
ana
Analisando o modelo em relao s mes,
Revista Psicolog 7
ficou evidente que essa varivel tem efeito
direto sobre os problemas de conduta da criana enquanto para os pais tal efeito no foi
observado de nenhuma perspectiva. Alm
disso, para as mes o manejo negativo do
conflito marital mostrou uma relao direta
significante criao crtica, sendo que este
comportamento materno no influencia significativamente os problemas de conduta da
criana. J para os pais, o manejo negativo
do conflito conjugal tem impacto significativo sobre seu comportamento crtico, que
por sua vez interfere nos problemas infantis.
Com o desenvolvimento deste modelo (ilustrado na Figura 1) parece ter sido
resolvida a questo que gerava conflito entre estudiosos de distrbios psicolgicos infantis, acerca do tipo de influncia exercida
pelos conflitos conjugais sobre os problemas psicolgicos das crianas. Parece
ter ficado claro que o surgimento das dificuldades infantis tem tanto a influncia
direta do conflito marital sobre os problemas, como indireta, pela forma negativa
e crtica de interao e baixa responsividade emocional dos pais em conflito. Em
decorrncia, a ampliao dos programas de
orientao de pais se justifica; tem sentido
ir alm do desenvolvimento de habilidades
parentais e incluir recursos mais eficientes
de manejo do conflito conjugal.
para garantir que as crianas que
esto lutando com uma srie de problemas
sociais e emocionais recebam o ensino e suporte que necessitam para serem bem sucedidas na escola e na vida, que se tem trabalhado com seus pais tanto para habilitlos a ter melhores condies de manejo de
conflito marital como para equip-los de
estratgias de interao familiar mais positivas de modo que possam fazer de seus
filhos crianas mais competentes do ponto
de vista social e emocional e com maior
prontido acadmica.
Pesquisas (e.g. Cummings Davies,
2002) mostram que crianas com baixa
competncia emocional e social provm
de famlias onde os pais expressam um
modo de criao mais hostil, se engajam
com maior freqncia em conflito com o
cnjuge e prestam maior ateno aos comportamentos negativos das suas crianas do
que aos positivos.
Dependendo da forma como conduzem suas divergncias, os pais podem
criar um ambiente inadequado para a criana, seja pela imprevisibilidade dos comportamentos, seja pelo oferecimento de
modelos de interao prejudiciais ao desenvolvimento emocional dos filhos. As
discusses freqentes, marcadas por violncia verbal e/ou fsica, repercutem nas
crianas de duas maneiras: a criao crtica
que consiste no reforo contnuo aos comportamentos negativos dos filhos, em detrimento da valorizao dos comportamentos
positivos e a baixa responsividade emocional, que compromete a capacidade dos
pais de observarem e atenderem s necessidades de apoio, carinho e segurana de
seus filhos. Com isso, os comportamentos
negativos das crianas tendem a se tornar
mais freqentes e generalizados para outros
ambientes, ensejando os futuros problemas
de conduta, uma vez que no aprendem
um repertrio comportamental socialmente
mais hbil.
Crianas que tm dificuldades em
prestar ateno, seguir instrues da professora, cooperar com seus colegas e que
no tm bom controle das emoes, se
saem pior na escola do que aquelas que dispem dessas habilidades. Alm disso, tm
maior probabilidade de serem rejeitadas pelos colegas e por seus professores, o que por
sua vez contribui para mant-las desligadas
Revista Psicolog 8
Figura 1. Modelo de percurso manejo negativo do conflito conjugal sobre as dificuldades de comportamento dos filhos (Modelo traduzido e adaptado de Webster-Stratton Hammond, 1999).
das tarefas e com menos tempo na escola.
Estudo realizado por Castro, Melo e Silvares (2003) permitiu verificar que a maior
parte das 13 crianas indicadas para tratamento psicolgico, por suas professoras,
foi avaliada como rejeitada por seus colegas. Cabe aqui destacar que a rejeio entre
pares pode constituir o incio de um crculo vicioso pelo fato de a criana passar a
se relacionar apenas com companheiros rejeitados pela sua conduta anti-social, sendo
reforada pelos valores desse novo grupo.
Nessa perspectiva, importante aspecto a ser considerado refere-se ao contexto do grupo de pares, em termos do
que valorizam e quais comportamentos so
mais e menos freqentes entre eles. Isso
porque, exceo dos comportamentos
pr-sociais - consistentemente associados
a um status positivo entre os pares - outros comportamentos, tais como a agressividade e o isolamento, podero ser mais ou
menos aceitos dependendo das caractersticas de cada grupo. Estudo realizado por
Stormshak, Bierman, Bruschi, Dodge, Coie
e o grupo de pesquisa de preveno dos
transtornos de conduta (1999) demonstrou
que a maior ou menor competncia social,
tanto quanto as normas do grupo, constituem variveis preditoras da aceitao
entre os pares. A pesquisa compreendeu a
participao de 2895 crianas de 134 salas
de primeira srie do ensino fundamental,
avaliadas por seus professores e colegas de
turma (entrevista sociomtrica). Os autores
observaram que o comportamento agressivo
mostrava-se consideravelmente mais relacionado baixa preferncia entre os pares
quando no constitua uma caracterstica do
grupo. Particularmente entre os alunos do
sexo masculino, a agresso e a preferncia
entre os pares estavam positivamente associadas nas salas com maiores ndices de
agressividade. Da mesma forma, quando
o isolamento era predominante no contexto
da sala (alunos com brincadeiras solitrias e
baixos nveis de interao social), meninos
com este comportamento eram avaliados
positivamente na preferncia dos colegas
de classe. As meninas eram mais aceitas
do que os meninos, independentemente dos
nveis de isolamento, o que tambm sugere a influncia do gnero nos resultados
da avaliao entre os pares. Contudo, tanto
para meninos quanto para meninas, os comportamentos pr-sociais emergiram como
preditores positivos da preferncia entre os
colegas em todas as salas, evidenciando a
Revista Psicolog 9
importncia da promoo da competncia har sobre o incio do desenvolvimento do
social na reduo dos ndices de rejeio comportamento agressivo importante para
entre pares.
a configurao de intervenes preventivas
mais eficazes na rea dos transtornos de
conduta.
A compreenso dos fatores que
levam ao aumento da agressividade, sua
estabilidade ou cronificao ao longo do
Com o primeiro modelo de percurso
tempo tambm pode subsidiar o desenvolvi- aqui apresentado, fortaleceu-se, ento, a
mento de programas preventivos no sentido idia de que se a capacidade da criana
de criar condies de atendimento a neces- no manejo de suas emoes e comportasidades especficas. Recente estudo longi- mentos pode ajud-la a fazer amizades sigtudinal empreendido por Schaeffer, Petras, nificativas, o desenvolvimento de tais caIalongo, Poduska e Kellam (2003) identi- pacidades poder tornar-se, para ela, imficou quatro trajetrias de comportamento portante fator protetivo2 contra os possveis
agressivo entre 297 meninos, avaliados aos desajustes no futuro (Rutter, 1995). Tal
seis anos de idade e acompanhados durante aspecto preventivo significativo, especialtodo o primeiro grau. Cerca de um tero dos mente se a criana est exposta a mltipmeninos (32%) apresentaram baixos nveis los estressores de vida (como por exemplo,
de agresso durante o desenvolvimento, pais em conflito conjugal) configurando-se
mantendo baixas as taxas de comportamen- a necessidade dos fatores protetivos para
tos anti-sociais ao final da avaliao. Um que se aumentem as chances de ocorrngrupo de meninos avaliados como cronica- cia do sucesso escolar. Na mesma direo
mente agressivos (9%) revelou altos nveis das pesquisas internacionais, as pesquisas
de agressividade, evidenciando situao de brasileiras tm demonstrado que o ajuste
risco ao trmino da pesquisa. Observou-se emocional, social e comportamental imainda que 7% dos garotos demonstraram portante para o sucesso na escola bem como
uma agressividade inicial baixa que foi para a preparao acadmica (e.g. Elias
crescendo ao longo da vida escolar. Mais Marturano, 2003).
da metade dos meninos (52%) apresentou
uma trajetria moderada de agressividade, Segundo modelo: o abuso de substncias
com um leve aumento das taxas de comportamento anti-social ao longo do tempo,
Outro modelo de percurso das inculminando em uma situao de risco significativamente maior em relao aos meni- fluncias negativas sobre as crianas com
nos no agressivos. Os autores sugerem, distrbios comportamentais e emocionais,
por exemplo, que os meninos com trajetria que vai alm do modelo de percurso da
de agressividade crescente possam ser ben- influncia dos pais em conflito conjugal,
eficiados com programas focados em ori- descrito por Webster-Stratton e Taylor
entao parental ou treinamento para o au- (2001). Sua anlise merece ateno, visto
tocontrole, enquanto os alunos que apre- que eles tambm trouxeram alterao sosentaram altos nveis de agressividade de- bre o trabalho de orientao de pais. Um
mandem intervenes multifocais, podendo deles, adaptado de Reid e Eddy (1997) conincluir psicoterapia e tratamento medica- forme os referidos autores, pode ser visto
mentoso. Sem dvida, trata-se de um ol- na figura 2 e se refere trajetria marcada
pelos preditores do abuso de substncia em
2 Fatores de proteo podem ser definidos como variveis que diminuem o risco da criana ter um desenvolvimento negativo.
Aspectos positivos do ambiente prximo criana podem funcionar como fatores de proteo (Dumka, Roosa, Michaels Suh, 1995).
Revista Psicolog 10
adolescentes.
uso de drogas e sua quantificao, autoaplicado em salas de aula, respondido pela
populao de crianas e adolescentes alfabetizados que cumpriam medidas scioeducativas ou medidas protetivas em escolas pblicas e por internos da FEBEM
de Porto Alegre, RS (N=382 indivduos).
As substncias mais experimentadas foram:
lcool (81,3%), tabaco (76,8%), maconha
(69,2%), cocana (54,6%) e solventes
(49,2%). As crianas albergadas por atos
infracionais mostraram uso significativamente mais freqente de lcool, maconha,
cocana e solventes. Em mdia, o incio do
uso de lcool e tabaco ocorreu antes dos 12
anos; maconha e solventes, antes dos 13, e
cocana, antes de completar 14 anos.
O uso de substncias ilcitas por
adolescentes um problema srio em termos da escalada em direo criminalidade
na vida adulta (Patterson cols., 1992). H
evidncias de que comum na adolescncia
haver a comorbidade deste problema com
outros to srios quanto o abuso de substncias, tais como: distrbios de conduta,
doena mental, delinqncia e violncia.
Por outro lado, conforme mostra o modelo
figura (2), crianas com maior risco para
o uso de substncias ilcitas ou atos delinqentes na adolescncia so aquelas que
fazem parte de grupos de pares desviantes,
cujos pais so ineficientes ao conduzir a criao dos filhos e ainda no conseguem esOutro estudo brasileiro de levantatabelecer relacionamento positivo com seus
professores nem tampouco atingir um bom mento de uso de drogas ilcitas, mais antigo,
desempenho escolar.
feito com uma populao mais velha, retrata quadro igualmente negativo. O de
Baus, Kupek e Pires (2002), um estudo
Observa-se, neste modelo, o imque abrangeu 478 estudantes de escola
pacto da interao de variveis negativas
relacionadas ao contexto familiar e escolar, pblica de primeiro e segundo graus, de
como influncia do abuso de substncias na Florianpolis, SC, os quais responderam
aos questionrios aplicados por univerjuventude, evidenciando a relevncia dos
sitrios, devidamente treinados. Entre os
elementos ambientais no desenvolvimento
estudantes pesquisados, 43% e 32% foram
de problemas comportamentais. Este aspecto aprofundado no terceiro modelo, de faixa etria entre 13 e 15 anos e entre
quando so analisados os fatores de risco 16 e 18 anos, respectivamente, com predomnio de classes socioeconmicas mais
que podem levar ao desencadeamento de
altas. A prevalncia de uso de maconha
transtornos de conduta.
na vida (19,9%), solventes (18,2%), anfetamnicos (8,4%) e lcool (86,8%) foi conSegundo Webster-Stratton e Tay- siderada elevada. Notou-se elevado e frelor (2001), j fizeram uso de drogas ilc- qente uso (seis ou mais vezes por ms) de
itas 15% dos adolescentes americanos at lcool (24,2%).
a oitava srie e 27% at o final do segundo grau. Quadro bem pior apreA compreenso fornecida pelo
sentado no Brasil por Ferigolo, Barbosa,
modelo exemplificado na figura 2, acerca
Arbo, Malysz, Stein e Barros (2004). Os
dos percursos para o consumo de drogas,
autores encontraram um alto consumo de
sustncias ilcitas a partir das respostas a acarreta uma grande preocupao com o
problema tendo em vista a ausncia de proum questionrio elaborado pela Organizagramas preventivos e em virtude de levano Mundial da Sade, annimo, sobre o
tamentos estrangeiros e brasileiros acerca
Revista Psicolog 11
Figura 2. Preditores de uso de substancias ilcitas por adolescentes (Modelo traduzido e adaptado
de Webster-Stratton Taylor, 2001).
do alarmante consumo de drogas por ado- fatores (p.ex. divrcio) so difceis ou imlescentes, nos dias atuais.
possveis de modificar. Ao mesmo tempo,
sabe-se que muitas crianas que esto expostas a fatores de risco no tero efeitos
Embora no tenhamos no Brasil esnegativos em seu desenvolvimento. Alm
tudos de percurso da influncia negativa sodisso, a variabilidade na susceptibilidade
bre os problemas infantis e de adolescentes,
face aos dados apresentados, acreditamos aos fatores de risco pode ser devido a influncia de fatores de proteo.
ser possvel aproximar os percursos dos estudos americanos aos da cultura brasileira.
Nota-se na figura 3 o agrupamento desses fatores em quatro categorias
- parentais, infantis, familiares e escolares
Terceiro modelo: a interao negativa
descrevendo, respectivamente, a reperentre os fatores da criana, da famlia e
cusso do estilo de criao, das caractersdo meio escolar
ticas pessoais da criana, do ambiente familiar e do contexto escolar, incluindo a
A seguir analisamos outro modelo relao com professores e pares.
de percurso proposto por Webster-Stratton
e Taylor (2001), derivado do segundo, que
Entre os fatores parentais, pode-se
enfatiza os fatores de risco contextuais no
destacar a maior ou menor capacidade dos
desenvolvimento dos problemas infantis de
pais de monitorarem seus filhos, bem como
conduta em idade posterior, de maneira cumulativa, como pode ser visto na figura 3. suas habilidades para ensinarem as crianas
um repertrio de comportamentos sociais
positivos. A criana tambm apresenta carDumka, Roosa, Michaels Suh actersticas que vo facilitar ou dificultar
(1995) definiram fatores de risco como var- sua interao com o ambiente, quais sejam:
iveis que aumentam as chances da cri- o nvel de suas habilidades sociais, de sua
ana de ter um desenvolvimento deficiente. capacidade de manejar conflitos, sua imMuitos destes fatores exercem influncia pulsividade e temperamento, assim como
indireta sobre o desenvolvimento infantil eventuais atrasos na linguagem e no apren(p.ex. abuso de lcool pelos pais). Alguns dizado.
Revista Psicolog 12
No tocante aos fatores ambientais,
h eventos estressores na famlia que podem influenciar profunda e negativamente
a criao dos filhos, a exemplo do estresse
causado pela falta de recursos financeiros,
atividade criminal de um ou ambos os pais,
doena mental e, conforme dito anteriormente, os conflitos conjugais.
nificativo no desenvolvimento, existindo
bastante evidncia de que interaes negativas com pares e adultos do ambiente
escolar esto associadas com problemas
como a delinqncia, abuso de drogas e
fracasso escolar, comprometendo o desenvolvimento de relaes interpessoais satisfatrias e desejveis (Coie, Dodge Kupersmidt, 1990; Criss, Petit, Bates, Dodge
Lapp, 2002; Donohue, Perry, Weinstein,
2003; McFadyen-Ketchum Dodge, 1998;
Patterson e cols., 1992; Webster-Stratton,
1998).
Durante a vida escolar da criana,
todos os fatores anteriores podero agravarse caso sejam observadas respostas ineficientes dos professores, a rejeio da criUma criana exposta a padres
ana por seus pares, seu envolvimento com
de comportamentos coercivos em casa
pares desviantes e a falta de parceria entre
provavelmente os reproduzir nas relaes
os pais e a instituio escolar.
com colegas e professores e, ter dificulDe acordo com os dois ltimos tado seu ingresso neste novo ambiente. Van
modelos, pode-se afirmar que o quanto Lier, Muthn, van der Sar e Crijnem (2004)
antes os programas voltados para reduo esclarecem essa trajetria, descrevendo o
dos problemas infantis incidirem sobre as impacto das relaes com pares e profescrianas, seja reforando os fatores de pro- sores para a manifestao e manuteno
teo, seja minimizando os fatores de risco, dos comportamentos disruptivos. Os autanto melhor o alcance da preveno.
tores mencionam dois aspectos importantes
do contexto social infantil. Primeiramente,
Webster Stratton e Taylor (2001) re- reportam o fato de crianas pequenas, inviram 12 programas parentais americanos gressantes no ambiente escolar, j serem cavoltados para reduo dos problemas de pazes de reconhecer os diferentes nveis de
conduta e nos quais o resultado foi bastante comportamento disruptivo de seus colegas.
favorvel, tanto no sentido imediato da Em segundo lugar, mencionam o quanto
reduo de problemas de comportamento essas crianas podem reforar as condutas
de pelo menos 2/3 das crianas tratadas, externalizantes de seus colegas pelo fato de
quanto em longo prazo no sentido da pre- recuarem perante o comportamento agresveno do recrudescimento de tais proble- sivo ou permitirem que ele acontea. Desse
modo, a conduta disruptiva faz crer que
mas.
possvel obter conseqncias positivas com
a coero. Alm disso, medida que as criCom o aprofundamento dos estu- anas com conduta externalizante crescem,
dos sobre competncia social na dcada so reconhecidas pelos pares como desde 90, verificou-se que os programas de viantes e, por isso mesmo, rejeitadas no
interveno poderiam se tornar mais efi- grupo, o que lhes restringe as possibilidades
cazes com a insero de pares e profes- de permanecer em um contexto reforador
sores. Isso porque a forma como se esta- de comportamentos pr-sociais. Sua interbelece e se desenvolve o relacionamento ao com os professores, da mesma forma,
infantil, seja com adultos significativos, caracterizada cada vez mais pela desobeseja com os pares, tem um impacto sig-
Revista Psicolog 13
Figura 3. Modelos de percurso dos preditores contextuais de distrbios de conduta em tenra idade
(Adaptado de Webster-Stratton Taylor, 2001).
dincia, coero e um crculo vicioso de
correes e punies, prejudiciais ao deAssim, predomina a compreenso
senvolvimento da competncia social e ao
de que h necessidade de prevenir e/ou reprprio desempenho na escola.
duzir o comportamento agressivo, intervindo o quanto antes, preferencialmente
Dessa forma, tem se observado no ambiente em que a criana est ina realizao de vrios estudos preven- serida e envolvendo o mximo de particitivos pautados por uma interveno clnica pao daqueles que a cercam. Quando o
abrangente. Em nvel nacional, destacam- comportamento da criana torna-se mais
se os trabalhos empreendidos por Melo malevel benfico e, portanto, interrompe
(1999, 2003) na comunidade. Voltada ini- a progresso dos comportamentos de concialmente na orientao de pais e atendi- duta na primeira infncia e no permite o
mento s crianas, a interveno adquiriu desenvolvimento da delinqncia e falha
um carter multifocal, com a introduo de acadmica em anos futuros. No de se
um programa de desenvolvimento de habil- estranhar, portanto, que dos 12 estudos de
idades sociais em sala de aula, beneficiando Webster Stratton e Taylor (2001) a faixa
as crianas, seus pares, pais e professores. etria de destino do programa em 3/12 seja
O estudo descrito no presente artigo, ilus- de crianas com menos de oito anos comtrando esta nova perspectiva de interveno pletos e que o limite inferior da faixa de
clnica.
crianas envolvidas em todos os programas abranja crianas com menos de oito
anos, um quarto contemple crianas com
Deve-se ressaltar a preocupao
menos de oito anos completos e todos eles
das pesquisas atuais em preveno dos
transtornos de conduta no que diz respeito envolvam crianas a partir dessa idade. No
ao local de interveno, buscando-se cada que diz respeito ao envolvimento de outros agentes importantes para o desenvolvivez mais a insero do psiclogo na comumento infantil, em 26 estudos relatados, 12
nidade. Esta tendncia vem ao encontro dos
envolvem somente os pais, enquanto 14 inestudos de Biglan, Metzler e Ary (1994) e
cluem tambm pares e professores.
Biglan e Smolkowski (2002).
Revista Psicolog 14
Um modelo de interveno preventiva
multifocal, realizado na comunidade com
a participao de crianas, pais, pares e
professores
A proposio que embasa a interveno, que aqui ilustra o presente trabalho,
se aproxima do terceiro modelo na medida
em que est inserida no ambiente social da
escola, j que reconhecidamente onde a
criana pe em prtica os comportamentos
aprendidos no mbito familiar, alm de ser
um local que favorece mais interaes sociais e, por conseguinte, a ampliao de seu
repertrio comportamental. As crianas inseridas no estudo faziam parte de grupo de
risco, apresentando j algumas dificuldades
tanto no que se refere aos comportamentos
externalizantes (p.ex. conduta agressiva)
como aos comportamentos internalizantes
(p.ex. retraimento social) e ao desempenho
acadmico insuficiente.
Durante um ano, participaram da
interveno 26 crianas (12 meninas e
14 meninos), entre sete e oito anos de
idade, divididas em dois grupos: o grupo
de atendimento infantil, incluindo aquelas
indicadas pela escola para o treinamento
de habilidades sociais e o grupo de validao social, contemplando aquelas que
no apresentavam dificuldades interativas.
Alm das crianas, foram envolvidas no trabalho clnico suas mes, suas professoras
e seus colegas de classe, integrando mais
de 240 pessoas. Note-se, nesse sentido, a
abrangncia clnica e social da interveno,
pois embora voltada para o atendimento de
determinadas crianas, no se restringiu a
este grupo, podendo beneficiar amplamente
outros membros do mesmo ambiente.
Sobre as intervenes
com as professoras durante o ano letivo, a
fim de trabalhar suas expectativas, orientlas em relao a dificuldades de manejo da
turma, trein-las para a aplicao de atividades voltadas melhoria do clima em sala
de aula e ao desenvolvimento da competncia social da classe. As atividades propostas, inseridas no Programa de Educao
Social e Afetiva, elaborado por Trianes e
Muoz (1994), enfocavam a integrao dos
alunos, o aprendizado da cooperao e resoluo de conflitos.
Propiciou-se um espao de reflexo, onde
as professoras puderam avaliar a qualidade do relacionamento que estabeleciam
com seus alunos, analisando funcionalmente suas condutas em sala de aula, incluindo seus sentimentos em relao s crianas. As discusses motivaram o interesse pelo desenvolvimento infantil, sensibilizando para a criatividade e a empatia na
interao com os alunos.
Crianas. Foram realizadas 22 sesses de
atendimento psicolgico, em grupo, com
as crianas indicadas para atendimento
por suas professoras, pautadas no desenvolvimento de habilidades sociais (Del
Prette Del Prette, 1999) e soluo de
problemas (Kazdin, 1995). A ludoterapia
cognitiva-comportamental infantil permitiu
s crianas a aquisio de comportamentos essenciais na relao com o outro, tais
como a auto-observao, a identificao e
expresso de comportamentos encobertos,
a identificao de situaes antecedentes,
conseqentes e de respostas alternativas.
Alm disso, puderam vivenciar situaes
focadas no aprendizado de interaes onde
o modo de expresso do comportamento
fundamental para assegurar a qualidade das
relaes, tais como dar e receber feedback,
crticas e elogios.
Pares. Todos os colegas dos alunos
indicados para interveno participaram
Professoras. 39 encontros foram realizados das atividades do programa de educao
Revista Psicolog 15
scio-afetiva, aplicadas em sala de aula.
Tais atividades possibilitaram maior entrosamento da turma, dado o trabalho de
engajamento da classe na aquisio de um
repertrio comportamental mais flexvel e
tolerante. Como as atividades eram realizadas em grupo, enfocando as dificuldades
relativas s habilidades sociais, todos puderam usufruir da interveno, no sentido de
refletir, discutir e adequar os comportamentos para o convvio com as diferenas.
pelas crianas submetidas a atendimento
psicolgico passaram a favorecer sua maior
integrao na dinmica da sala de aula,
visto que interagiam mais do que antes com
suas professoras, sendo mais notadas por
estas. Mostraram-se tambm mais concentradas nas atividades acadmicas propostas,
ficando mais tempo em suas carteiras, realizando suas tarefas e perturbando menos
os demais. Nas relaes com os colegas,
as crianas tambm passaram a manifestar mais comportamentos pr-sociais como
Orientao parental. Durante 12 cooperao e receptividade, ao tempo em
que tambm apresentaram menos comporsesses de atendimento, as mes foram entamentos agressivos, hostis ou de intimisinadas a observar o comportamento de
dao.
suas crianas, aprendendo a discriminar
aqueles que deveriam ser reforados positivamente. Assim como o espao ofereTodos estes ganhos foram corrobocido para as professoras, o trabalho de ori- rados pela percepo dos pais e professores
entao parental mostrou-se frtil para o das crianas, refletindo o aumento de sua
aprendizado de comportamentos mais ad- competncia social. Se antes do atendiequados na relao com os filhos, sendo mento todas as crianas apresentavam dtrabalhadas dificuldades no sentido de ficits em sua competncia social e no defornecer instrues claras e consistentes, sempenho escolar, esta situao modifievitar a rotulao da criana e aumentar a cou significativamente ao final da interfreqncia da utilizao de punio neg- veno. Ainda foi possvel verificar os ganativa (p. ex. retirar privilgios) no lugar hos obtidos na interveno em termos de
dos castigos fsicos, bastante comuns no incluso entre os pares, verificando-se que
grupo. As mes puderam refletir sobre o o percentual de crianas rejeitadas diminuiu
modo de criao dos filhos, verificando o mais de 30% aps a interveno.
nvel de empatia mantido com suas crianas
e identificando os fatores que dificultavam
Todos estes resultados demonstram
a manuteno de uma conduta de aceitao
a eficincia do modelo de interveno mule valorizao no dia-a-dia. Desse modo, a
tifocal no alcance dos objetivos propostos,
interveno propiciou-lhes rever as inter- promovendo melhoras no apenas na esaes inadequadas presentes no convvio fera familiar, mas tambm escolar, assedirio com suas crianas, bem como a dis- gurando interaes mais positivas destas
criminar as possibilidades de promoo e
crianas com seus pares e professores. A
estimulao da competncia social, asserepercusso desses ganhos torna-se ainda
gurando condies para um relacionamento maior quando traduzido no aprendizado
mais saudvel e construtivo com seus filhos. obtido por todos os que participaram do
O estudo em questo evidencia resultados favorveis (especificados em Melo
e Silvares, 2003) demonstrando que, de um
modo geral, os comportamentos exibidos
trabalho clnico. Na prtica, mes, professores, crianas e pares aprenderam novas
formas de ler o ambiente, bem como alternativas de conduta mais flexveis e tolerantes, de modo a apresentar respostas
Revista Psicolog 16
mais saudveis em seus relacionamentos.
Alm disso, este modelo de interveno
forneceu uma nova forma de interveno
psicolgica, rompendo os limites impostos
pela clnica tradicional restrita no mximo
ao ambiente familiar na medida em que
promoveu o envolvimento efetivo da escola
que sabidamente tem um destacado papel
no desenvolvimento infantil.
ativas e a orientao parental, poderia trazer
modificaes mais profundas.
Salvaguardada a relevncia dos resultados alcanados por Melo (2003 e
2006), h de se destacar o percurso dessas
intervenes que exemplificam a tendncia dos estudos preventivos provenientes
da psicologia clnica e realizados na comunidade brasileira; tendncia essa seguida j
Diante de tais condies, deu-se um h algumas dcadas por pesquisadores inpasso alm do estudo multifocal, ao im- ternacionais.
plantar, posteriormente, uma pesquisa de
disseminao (Melo, 2006), indo ao enDo exposto, pode-se dizer, em sncontro da proposio de Dumka e cols. tese, que a ampliao do tratamento dos
(1995) de que todos os programas preven- problemas de conduta na infncia envoltivos, uma vez testados e demonstrada sua
vendo pais primeiramente se deu pela ineficcia, deveriam ser disseminados. Foi,
cluso de estratgias voltadas para o ensino
assim, executado um programa de treina- s famlias do manejo do conflito conjugal,
mento no qual psiclogos da rea e profes- associado ao movimento da incluso das
sores do ensino fundamental puderam ter prprias crianas no tratamento, alm dos
acesso forma de atuao implementada
seus pais. Ainda na busca de ampliao do
por Melo (2003), contribuindo assim para
alcance das estratgias para melhorias psiampliar as possibilidades de intervenes
colgicas dessas crianas, com freqncia,
fora do consultrio, atendendo a necessi- elas passaram a se voltar para a populao
dades da comunidade (Biglan Smolkowski, infantil cada vez mais jovem, com a partic2002). Este foi o objetivo do trabalho disipao de seus pares e seus professores.
seminativo (Melo, 2006), voltado ao treinamento de psiclogos para atuar no ambiDiante de tais argumentos, entendeente escolar, promovendo competncias em
se
que
o alcance da interveno clnica
crianas, aprimorando as habilidades de
manejo das professoras e rompendo o ciclo tradicional se mostra restrita, mesmo
de desenvolvimento dos comportamentos quando inclui a orientao parental, ao
se pensar em resultados em nvel de preanti-sociais.
veno. O fato torna imperiosa a necessidade de ampliar o enfoque do tratamento
Os resultados foram visveis, parpsicoterpico, pois quanto maior a particiticularmente no ambiente escolar. Alm pao dos agentes significativos para a cride melhorar o clima em sala de aula, ana nessa interveno, maiores as possibilobservaram-se mudanas positivas na per- idades de sucesso da atuao do psiclogo.
cepo de professores, apontando para relaes mais flexveis com os alunos. Mudanas significativas no foram encon- Referncias
tradas na percepo de pais e pares, demonAchenbach, T.M. Rescorla, L.A.
strando que somente uma interveno mais (2001). Manual for the ASEBA school-age
abrangente, envolvendo o atendimento psi- forms profiles. Burlington, VT: University
colgico s crianas com dificuldades inter- of Vermont, Department of Psychiatry.
Revista Psicolog 17
Anselmi, L., Piccinini, C.A., Barros, F.C., Lopes, R.S. (2004). Psychosocial determinants of behaviour problems
in Brazilian preschool children. Journal
of Child Psychology and Psychiatry 45(4),
779-788.
Cummings, E.M., Davies, P.T.
(2002). Effects of marital conflict on children: recent advances and emerging themes
in process oriented-research. Journal of
Child Psychology and Psychiatry, 43 (1),
31-63.
Baus, J., Kupek, E., Pires, M.
Del Prette, Z.A.P., Del Prette, A.
(2002). Prevalncia e fatores de risco rela- (1999). Psicologia das habilidades sociais:
cionado ao uso de drogas entre escolares. terapia e educao. Petrpolis: Vozes.
Revista de Sade Pblica 36(1), 40-46.
Donohue, K.M., Perry, K.E., WeBiglan, A., Smolkowski, K. (2002). instein, R.S. (2003). Teachers classroom
The role of the community psychologist in practices and childrens rejection by their
the 21st century. Prevention Treatment, 5, peers. Applied Developmental Psychology,
article 2.
24, 91-118.
Biglan, A., Metzler, C.W., Ary,
D.V. (1994). Increasing the prevalence of
successful children: the case for community intervention research. The Behavior
Analyst, 17, 335-351.
Dumka, L.E., Roosa, M.W.,
Michaels, M.L. Suh, Q.W. (1995). Using research theory to develop prevention
program for high risk families. Family Relations, 44, 78-86.
Castro, R.E.F., Melo, M.H.S, Silvares, E.F.M. (2003). O julgamento de
pares de crianas com dificuldades interativas aps um modelo ampliado de interveno. Psicologia: Reflexo e Crtica, 16
(2): 309-318.
Eisenstadt, T.H., Eyberg, S., McNeil, C.B., Newcomb, K., Funderburk,
B. (1993). Parent-child interaction therapy
with behavior problem children: relative
efectiveness of two stages and overall treatment outcome. Journal of Clinical Child
Psychology, 21(1), 42-51.
Coie, J.D.; Dodge, K.A. Kupersmidt, J.B. (1990). Peer group behavior
and social status. Em S. R. Asher J. D.
Coie (Orgs.). Peer rejection in childhood
(p. 17-59). Nova York: Cambridge University Press.
Elias, L.C.S. (2003).
Crianas
que apresentam baixo rendimento escolar
e problemas de comportamento associados: caracterizao e interveno. Tese de
doutorado, Faculdade de Filosofia, Cincias e Letras, Universidade de So Paulo,
Ribeiro Preto.
Criss, M.M., Pettit, G.S., Bates, J.
E., Dodge, K.A., Lapp, A.L. (2002). Family adversity, positive peer relationships,
Emery, R.E., Fincham, S.D., Cumand childrens externalizing behavior: a lon- mings, E.M. (1992). Parenting in context:
gitudinal perspective on risk and resilience. Systematic thinking about parental conflict
Child Development, 73 (4), 1220-1237.
and its influence on children. Journal of
Revista Psicolog 18
Consulting and Clinical Psychology, 60, mento de Pais. Em V. E. Caballo (Org.)
909-912.
Manual de Tcnicas de Terapia e Modificao do Comportamento, (pp. 399-422),
Santos livraria e editora.
Ferigolo, M., Barbosa, F.S., Arbo,
E., Malysz, A.S., Stein, A., Barros, H.M.T.
(2004). Prevalncia do consumo de droMelo, M.H. (1999). Um atendigas na FEBEM, Porto Alegre. Revista mento psicolgico preventivo numa clnicaBrasileira de Psiquiatria, 26 (1), 10-16.
escola de So Paulo.
Dissertao de
Mestrado, Departamento de Psicologia
Frankel, F. (1993). A brief test of Clnica, Universidade de So Paulo, So
Paulo.
parental behavior skills. Journal Behavior
Therapy and Experimental Psychiatry, 24
(3), 227-231.
Melo, M.H. (2003). Crianas com
dficits acadmicos e de interao no ambiente escolar: uma interveno multifocal.
Kazdin, A.E. (1995). Terapia de
Tese de doutorado, Departamento de Psihabilidades en solucin de problemas para
nios con transtornos de conducta. Psi- cologia Clnica, Universidade de So Paulo,
So Paulo.
cologa Conductual, 3 (2), 231-250.
Melo, M.H. (2006). Programa de
Kazdin, A.E. (1991). Effectiveness
treinamento para promover competncia
of psychotherapy with children and adolessocial em crianas e seus professores no
cents. Journal of Consulting and Clinical
ambiente escolar. Relatrio de pesquisa
Psychology, 59, 785-798.
ps-doutorado, Departamento de Psicologia Clnica, Universidade de So Paulo, So
Kazdin, A.E. (1994). Psychother- Paulo.
apy for children and adolescents. Em A.E.
Bergin S.L. Garfield (Orgs.), Handbook of
O Dell, S. (1974). Training parents
psychotherapy and behavior change, 4th.
in behavior modification: a review. Psychoed. New York: Wiley.
logical Bulletin, 81, 418-433.
Marinho, M.L., Silvares, E.F.M.
Patterson, G. R (1986). Perfor(1998). Ampliando la Intervencin Psicolgica a la Famlia en la Terapia Con- mance models for antisocial boys. Ameriductual Infantil. Psicologia Conductual, 6 can Psychologist, 4 (4), 432-444.
(3), 617-627.
Patterson, G. R.; DeBaryshe, B. D.
Ramsey, E. (1989). A developmental perMcFadyen-Ketchum, S. Dodge,
spective on antisocial behavior. American
K.A. (1998). Problems in social relationPsychologist, 44(2), 329-335.
ships. Em E. J. Mash B. A. Barkley (Orgs.),
Treatment of childhood disorders (pp. 338365). Nova York: Guilford Press.
Patterson, G. R., Reid, J. B. Dishion, T. J. (1992). Antisocial boys. USA:
McMahon, R J. (1996). Treina- Castalia.
Revista Psicolog 19
Reid, J.B., Eddy, J.M. (1997). The
prevention of antisocial behavior: some
considerations in the search of effective interventions. Em D.M. Stoff, J. Breiling,
J.D. Maser (Orgs.), The handbook of antisocial behavior (pp. 343-356). New York:
Wiley.
Campinas: Alnea, v. 1, pp. 59-72.
Stormshak, E. A., Bierman, K., Bruschi, C., Dodge, K. A., Coie, J. D. o grupo
de pesquisa de preveno dos transtornos
de conduta. (1999). The relation between
behavior problems and peer preference in
different classroom contexts, Child DevelSanders, M.R. Dadds, M.R. (1993). opment, 70 (1), 169-182.
Behavioral family intervention. Boston:
Allyn Bacon.
Trianes, M. V. Muoz, A. (1994).
Programa de educacin social y afectiva.
Schaeffer, C. M., Petras, H., Ia- Mlaga: Delegacin de Educacin Junta de
longo, N., Poduska, J., Kellam, S. (2003). Andaluca.
Modeling growth in boysaggressive behavior across elementary school: links to later
Van Lier, Pol. A., Muthn, B., Van
criminal involvement, conduct disorder, der Sar, R. M. Crijnem, A. M. (2004).
and antisocial personality disorder, Devel- Preventing disruptive behavior in elemenopmental Psychology, 39(6), 1020-1035.
tary schoolchildren: impact of a universal
classroom-based intervention. Journal of
Serketich, W.J.,
Dumas, J.E. Consulting and Clinical Psychology,72 (3),
(1996). The effectiveness of behavioral par- 467-478.
ent training to modify antisocial behavior in
children: A meta-analysis. Behavior TherWebster-Stratton, C. (1991). Annoapy, 27, 171-186.
tation: strategies for helping families with
conduct disordered children. Journal of
Silvares, E.F.M. (1991).
A Child Psychology and Psychiatry, 32(7),
Evoluo do Diagnstico Comportamen- 1047-1062.
tal. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 7 (2),
179-187.
Webster-Stratton, C. (1994). Advancing videotape parent training: a comSilvares, E.F.M. (1993). Por que parison study. Journal of Consulting and
trabalhar com a famlia quando se pro- Clinical Psychology, 62(3), 583-593.
move terapia comportamental de uma
criana. Extrado em maro, 2003 de
Webster-Stratton, C. (1998). Prehttp://www.cempe.com.br/familia.htm.
venting conduct problems in head start children: strengthening parenting competenSilvares, E.F.M., Santos, E.O. L., cies. Journal of Consulting and Clinical
Meyer, S.B., Gerencer, T.T. (2006). Um Psychology, 66 (5), 715-730.
estudo em cinco clnicas-escola brasileiras
com a lista de verificao comportamenWebster-Stratton, C., Hammond,
tal para crianas (CBCL). Em: Edwiges M. (1999). Marital conflict management
Ferreira de Mattos Silvares. (Org.). Atendiskills, parenting style and early-onset conmento psicolgico em clnicas-escola.
duct problems: Processes and pathways.
Revista Psicolog 20
Journal of Child Pyychology and Psychia- (2004). Strengthening social and emotional
competence in young children-The foundatry, 40, 917927.
tion for early school readiness and success
Incredible Years classroom social skills and
Webster-Stratton, C., Taylor, T.
problem-solving curriculum. Infants and
(2001).
Nipping early risk factors in
Young Children, 17(2), 96-113.
the bud: Preventing substance abuse,
delinquency, and violence in adolescence
Williams, C.D. (1959). The elimithrough interventions targeted at young
children (ages 08 years). Prevention Sci- nation of tantrum behaviors by extinction
procedures. Journal of Abnormal and Soence, 2(3), 165192.
cial Psychology, 59, 269-270.
Webster-Stratton, C., Reid, M. J.
Revista Psicolog 21
O problema da justificao racional de valores na filosofia
moral skinneriana
Alexandre Dittrich1
1
UFPR
Curitiba - PR - Brasil.
aledittrich@ufpr.br
Resumo. Este artigo visa: 1) abordar, de um ponto de vista behaviorista radical, o problema da justificao racional de valores; 2) a partir da abordagem
desse problema, oferecer algumas sugestes sobre como os behavioristas radicais podem se posicionar diante de debates ticos e polticos. Argumenta-se
que, de um ponto de vista behaviorista radical, valores no podem ser justificados, pelo menos em termos lgicos: a nica justificativa possvel remete
histria de seleo do comportamento por suas conseqncias de quem defende
certos valores. A despeito disso, argumenta-se que debates ticos e polticos
no devem ser meramente desprezados. Ainda que isso no esgote tais debates,
cabe queles que deles tomam parte e em especial, aos behavioristas radicais apontar to claramente quanto possvel os objetivos que buscam produzir.
Palavras-chave: behaviorismo radical; tica; filosofia moral; B. F. Skinner
Introduo
verso mental parte do comportamento (e,
ainda mais, determinam o comportamento);
2) valores so escolhidos por agentes livres
Desde Scrates, a filosofia moral
para adot-los ou rejeit-los; 3) a justifientende como sendo uma de suas principais
cao de valores depende de argumentao
tarefas justificar racionalmente a adoo de
lgica.
valores, sejam eles quais forem. Este texto
tem dois objetivos: 1) abordar, de um ponto
de vista behaviorista radical, o problema da
No difcil perceber que o behavjustificao racional de valores; 2) a par- iorismo radical discorda frontalmente de
tir da abordagem desse problema, oferecer todas essas afirmaes. Em primeiro lugar,
algumas sugestes sobre como os behavior- para o behaviorismo radical, valores no esistas radicais podem se posicionar diante de to em nossas mentes. O que chamamos de
debates ticos e polticos.
valores so conseqncias do nosso comportamento: so os objetos ou eventos que
Tratemos do primeiro problema. Eis chamamos de bons ou ruins e, de
acordo com Skinner, fazer um julgamento
a pergunta que queremos responder: posde valor chamando algo de bom ou ruim
svel, de um ponto de vista behaviorista rad classific-lo em termos de seus efeitos
ical, justificar racionalmente os valores que
adotamos (quaisquer que sejam)? Comece- reforadores (1971b, p. 105). Em semos apontando alguns pressupostos via de gundo lugar, o behaviorismo radical questiona a autonomia normalmente atribuda
regra sustentados pela filosofia moral tradiaos agentes morais (Skinner, 1971b).
cional: 1) valores fazem parte de um uni-
Revista Psicolog 22
Resta-nos a terceira questo: possvel justificar valores, sejam eles quais
forem? Justificar, em sua definio tradicional, dar razes para algo. Se afirmo
que a felicidade deveria ser o principal objetivo das aes humanas, minha afirmao
no basta seria preciso oferecer razes
que a apiem.
Lembremo-nos que valores so
conseqncias de nosso comportamento.
Poderamos oferecer algum subsdio que
permita-nos afirmar, de forma inequvoca,
que uma conseqncia (ou conjunto de conseqncias) que buscamos produzir melhor do que uma outra conseqncia (ou
conjunto de conseqncias) qualquer? Da
perspectiva behaviorista radical, a resposta
no. No h nenhuma forma de justificar
a adoo de um valor pelo menos no de
modo que nos permita afirmar que aquele
valor o nico que devemos promover, ou
que ele indiscutivelmente melhor do que
qualquer outro valor. A justificao final para a adoo de um valor sempre de
ordem histrica: se eu persigo ou defendo
este ou aquele valor (ou conjunto de valores), fao isso em funo de minha histria
comportamental.
A sobrevivncia das culturas figura,
na obra de Skinner (1953/1965; 1971b),
como um valor fundamental: um objetivo
que deve ser promovido em detrimento de
qualquer outro, (ainda que possa ser conjugado a outros valores)1 Afirmar que Skinner
promove a sobrevivncia das culturas como
valor fundamental equivale to-somente a
afirmar que ele busca persuadir sua audincia a comportar-se de formas que, provavel-
mente, contribuiro para tal conseqncia. Contudo, se perguntarmos a Skinner
como ele justifica a adoo deste valor,
ele responder da seguinte forma: No
me pergunte por que eu quero que a humanidade sobreviva. Eu posso lhe dizer o
porqu apenas no sentido em que o fisilogo pode lhe dizer porque eu quero respirar (1956/1972b, p. 36).
Essa passagem pode ser interpretada da seguinte forma: No pergunte
a mim, enquanto suposto agente moral
autnomo, por que eu quero que a humanidade sobreviva. Eu posso responder
o porqu apenas recorrendo histria de
seleo de meu prprio comportamento por
suas conseqncias assim como o fisilogo recorreria histria seletiva de minha
espcie pra explicar porque eu, enquanto
membro da espcie, quero respirar. Dito
de outra forma: no h nada alm de nossa
histria (filogentica, ontogentica e cultural) que permita-nos justificar os valores
que defendemos. Que parte dos membros
de uma cultura tenha seu comportamento
reforado (como Skinner) por eventos que
indiquem possvel aumento nas chances de
sobrevivncia dessa cultura um resultado
das prprias contingncias atuantes no terceiro nvel seletivo. Se essas contingncias favorecem culturas que promovem sua
prpria sobrevivncia, previsvel que o
planejamento explcito de prticas que a
promovam (por membros da cultura que
levam o futuro em considerao) tambm seja favorecido, visto tornar a cultura
mais eficiente (isto , mais apta a sobreviver)2 Presumivelmente, isso que leva
Skinner a concluir que a sobrevivncia no
um critrio o qual ns sejamos livres para
aceitar ou rejeitar (Skinner, 1955/1972a,
1 Desenvolvemos este tema em trabalhos anteriores (Dittrich, 2003; 2004a; 2004b; Dittrich Abib, 2004; Dittrich, 2006). O ltimo
trabalho destaca algumas dificuldades decorrentes da subordinao de outros valores (secundrios) sobrevivncia das culturas.
2 Contudo, a intencionalidade no uma caracterstica necessria das prticas culturais. Mesmo a existncia de prticas intencionais explica-se seletivamente: As pessoas no observam determinadas prticas para que o grupo tenha maior probabilidade de
sobreviver; elas as observam porque grupos que induziram seus membros a faz-lo sobreviveram e transmitiram tais prticas (Skinner,
1981/1984a, p. 479).
Revista Psicolog 23
p. 22), e que quer gostemos disso ou no,
a sobrevivncia o critrio final (Skinner,
1956/1972b, p. 36). Se prticas culturais
so, de fato, selecionadas por seu valor de
sobrevivncia, pouco importa se consideramos a sobrevivncia um valor discutvel:
culturas sobrevivero ou perecero, a despeito de qualquer discusso que possamos
empreender.
Pouco depois, porm, Skinner
afirma: Podemos, no entanto, apontar
vrias razes pelas quais as pessoas deveriam estar, agora, preocupadas com o bem
de toda a humanidade. Os grandes problemas do mundo so agora globais. Superpopulao, o esgotamento de recursos, a
poluio do ambiente e a possibilidade de
um holocausto nuclear estas so as conseqncias no-to-remotas de nossos cursos
de ao atuais (1971b, pp. 137-138).
A nica boa razo para que algum promova a sobrevivncia de sua cultura (ou da humanidade), ao que parece, a
prpria perspectiva de que sua cultura (ou a
humanidade) sobreviva. Essa no , na verdade, uma boa razo no sentido de que
no uma razo suficientemente persuasiva, como admite Skinner: Apontar para
conseqncias no suficiente. Precisamos
arranjar contingncias sob as quais as conseqncias tenham um efeito. Como podem
as culturas do mundo fazer com que essas
possibilidades aterrorizantes afetem o comportamento de seus membros? (1971b, p.
138). O planejamento cultural proposto por
Skinner refere-se, exatamente, ao controle
de prticas culturais (atravs das contingncias de reforo que as integram) orientado
por previses sobre seu possvel valor de
sobrevivncia para as culturas. Se a simples
meno da possibilidade do fim de todas as
culturas no suficiente para que faamos
algo a respeito, o planejamento cultural
absolutamente necessrio.
Permanece, contudo, o fato de que
no pode haver, pelo menos em termos lgicos, qualquer justificativa absoluta para a
adoo da sobrevivncia das culturas enquanto valor. Em alguns momentos, Skinner torna clara sua rejeio a este tipo de
justificativa: No podemos responder a
tais questes [sobre valores] apontando para
absolutos. No h verdade absoluta em julgamentos de valor. Ningum possui esse
tipo de verdade ou pode responder questes
apelando a ela (Skinner, 1971a, p. 547);
Seria um erro . . . tentar justific-las [prticas culturais com valor de sobrevivncia]
em qualquer sentido absoluto. No h nada
fundamentalmente certo na sobrevivncia
de uma cultura, como no h nada fundamentalmente certo no conjunto de caractersticas que define uma espcie (p. 550).
Portanto, questo que nos dirige a
filosofia moral tradicional ( possvel justificar valores?), a resposta do Skinner negativa a no ser que aceitemos a histria seletiva daquele que defende certo valor como
uma boa justificativa. Notemos, porm, que
essa histria no nos permite dizer que um
valor melhor do que outro, pelo simples
fato de que no existem histrias comportamentais melhores ou piores existem apenas histrias. O que eu valorizo pode ser
diferente do que aquilo que voc valoriza,
mas nenhum de ns est fundamentalmente
certo ou errado ns simplesmente somos
pessoas diferentes, com histrias diferentes.
importante sublinhar que o problema de saber quais valores (ou quais conseqncias) so mais ou menos desejveis
(melhores ou piores) no deve ser confundido com outro problema, igualmente
importante: qual a tecnologia mais efetiva para promover tais conseqncias?
Mesmo os filsofos morais tradicionais ad-
Revista Psicolog 24
mitem que grande parte dos problemas que
surgem em discusses ticas se refere, na
verdade, a questes empricas (p. ex., Hare,
1997/2003, p. 61). Se duas pessoas concordam quanto ao fato de que certo objetivo (seja ele qual for) deve ser produzido,
o problema resume-se a saber como faz-lo
presumivelmente, uma questo emprica.3
Planejar prticas culturais , obviamente, um empreendimento complexo. O
planejamento cultural exige, em alguma
medida, o recurso suposio (guess)
(Skinner, 1953/1965, p. 436; 1961/1972c,
p. 49). A cincia, com sua insistncia
sobre a observao cuidadosa, a coleta
de informao adequada e a formulao
de concluses que contenham um mnimo
de iluso [wishful thinking] (1953/1965,
p. 435), parece oferecer o caminho mais
seguro para que tais suposies revelemse corretas. Mas nunca poderemos estar
absolutamente certos de que nossas intervenes produziro as conseqncias que
planejamos.
Mesmo que pudssemos, contudo,
ainda seria possvel discordar sobre a convenincia de tais conseqncias. Em uma
passagem especialmente interessante de sua
obra, o filsofo alemo Carl Hempel trata
dessa questo de forma instigante:
Vamos assumir, ento, que confrontados com uma deciso moral, possamos chamar o demnio de Laplace como
consultor. Que ajuda poderemos conseguir
dele? Suponhamos que temos que escolher um entre diversos cursos de ao alternativos possveis, e queiramos saber qual
deles devemos tomar. O demnio poderia
ento nos dizer, para cada escolha contemplada, quais seriam suas conseqncias
para o curso futuro do universo, nos mn-
imos detalhes, no importa quo remotos
no tempo e no espao. Mas, tendo feito
isso para cada um dos cursos de ao alternativos sob considerao, a tarefa do
Demnio estaria completa; ele nos teria
dado toda a informao que uma cincia
ideal poderia nos dar sob tais circunstncias. E, no entanto, ele no teria resolvido
nosso problema moral, pois isso requer
uma deciso sobre qual dos diversos conjuntos alternativos de conseqncias mapeados pelo demnio o melhor; qual deles
deveramos produzir. E o peso da deciso
ainda cairia sobre nossos ombros. (1965,
pp. 88-89)
O argumento de Hempel, portanto,
este: mesmo que possamos prever o curso
dos acontecimentos com absoluta preciso,
ainda assim a questo dos valores, ou de
quais conseqncias so desejveis, permanecer aberta discusso. O problema
diz respeito, claro, diversidade de reforadores que podem adquirir controle sobre o comportamento de diferentes indivduos. Mas, como diz Skinner, no h nada
alm da nossa histria que nos permita justificar os valores que defendemos. No
escolhemos aquilo que refora nosso comportamento.
Diante disso, devemos, os behavioristas radicais, rejeitar o debate tico como
uma empreitada intil? Pensamos que no.
Debates ticos tm seus limites, mas podem
ser produtivos. (A propsito, as alternativas mais bvias ao debate individualismo
e agresso no so animadoras.) Para
que isso acontea, pelo menos um requisito deve ser satisfeito: os valores (isto ,
os objetivos) de quem discute devem ser
declarados abertamente, e devem ser to
bem definidos quanto possvel. Os analistas do comportamento tm, de pronto, a
3 Em outra ocasio, porm (Dittrich, 2004b), discutimos o problema com mais detalhe. Especialmente quando o objetivo em
questo a sobrevivncia das culturas, saber como produzi-lo pode no ser um problema cuja resposta seja estritamente emprica.
Revista Psicolog 25
vantagem de insistir sobre a necessidade de
planejar e especificar, com a maior preciso
possvel, os objetivos da suas intervenes.
Devemos, claro, estar prontos a considerar
e a avaliar os objetivos de outras pessoas ou
grupos, mas tambm devemos exigir delas
que sigam nosso exemplo e tornem explcitas as conseqncias que pretendem produzir.
De uma perspectiva pragmatista, expor objetivos claramente indispensvel
(Hayes, 1993). No h como avaliar a utilidade de uma teoria ou de uma tecnologia
sem que se defina o que utilidade. Algo
til algo que produz certas conseqncias.
Defina-se, pois, que conseqncias so essas.
Isso no esgota, necessariamente,
o debate tico: a idiossincrasia dos reforadores um fato. Declarar e definir
objetivos, porm, poupa discusses improdutivas e permite identificar possibilidades
de acordo e colaborao.
Referncias
Dittrich, A. (2004b).
Behaviorismo radical, tica e poltica: Aspectos tericos do compromisso social
[On-line].
Tese de doutorado, Universidade Federal de So Carlos. Retirado em 10 de maro de 2008, de
http://www.bdtd.ufscar.br/tde_busca/arquivo
.php?codArquivo=122
Dittrich, A. (2006). A sobrevivncia
das culturas suficiente enquanto valor na
tica behaviorista radical? Em H. J. Guilhardi e N. C. de Aguirre (Orgs.), Sobre
comportamento e cognio vol. 17: Expondo a variabilidade (pp. 11-22). Santo
Andr, SP: ESETec.
Dittrich, A. Abib, J. A. D. (2004).
O sistema tico skinneriano e conseqncias para a prtica dos analistas do comportamento. Psicologia: Reflexo e Crtica, 17,
427-433.
Hare, R. M. (2003). tica: Problemas e propostas. (M. Mascherpe e C. A.
Rapucci, Trads.) So Paulo: Editora UNESP. (Trabalho original publicado em 1997)
Dittrich, A. (2003). Introduo
filosofia moral skinneriana. Em C. E. Costa,
Hayes, S. C. (1993). Analytic goals
J. C. Luzia H. H. N. SantAnna (Orgs.), and the varieties of scientific contextualism.
Primeiros passos em anlise do comporta- Em S. C. Hayes, L. J. Hayes, H. W. Reese
mento e cognio (pp. 11-24). Santo An- T. R. Sarbin (Orgs.), Varieties of scientific
dr, SP: ESETec.
contextualism. Reno (NV): Context Press.
Dittrich, A. (2004a). A tica como
elemento explicativo do comportamento
no behaviorismo radical. Em M. Z. S.
Brando, F. C. S. Conte, F. S. Brando, Y.
K. Ingberman, V. L. M. Silva e S. M. Oliani
(Orgs.), Sobre comportamento e cognio
vol. 13: Contingncias e metacontingncias: contextos scio-verbais e o comportamento do terapeuta (pp. 21-26). Santo
Andr, SP: ESETec.
Hempel, C. G. (1965). Science and
human values. Em C. G. Hempel (Org.),
Aspects of scientific explanation. New
York: Free Press.
Skinner, B. F. (1965). Science and
human behavior. New York: Macmillan.
(Trabalho original publicado em 1953)
Revista Psicolog 26
Skinner, B. F. (1971a). A behavioral analysis of value judgements. Em E.
Tobach, L. R. Aronson E. Shaw (Eds.), The
biopsychology of development (pp. 543551). New York: Academic Press.
concerning the control of human behavior.
Em B. F. Skinner, Cumulative record: A
selection of papers (pp. 25-38). New York:
Appleton-Century-Crofts. (Trabalho original publicado em 1956).
Skinner, B. F. (1972c). The design
Skinner, B. F. (1971b). Beyond
freedom and dignity. New York: Alfred of cultures. Em B. F. Skinner, Cumulative
record: A selection of papers (pp. 39-50).
A. Knopf.
New York: Appleton-Century-Crofts. (Trabalho original publicado em 1961)
Skinner, B. F. (1972a). The control of human behavior (abstract). Em B. F.
Skinner, B. F. (1984). Selection by
Skinner, Cumulative record: A selection of
papers (pp. 19-24). New York: Appleton- consequences. Em A. C. Catania S. Harnad
Century-Crofts. (Trabalho original publi- (Orgs.), Canonical papers of B.F. Skinner
(pp. 477-481). The Behavioral and Brain
cado em 1955)
Sciences, 7, 473-724. (Trabalho original
publicado em 1981)
Skinner, B. F. (1972b). Some issues
Revista Psicolog 27
Colecionismo: fronteiras entre o normal e o patolgico
Mnica Ferreira Gomes Aires Oliveira, Regina Christina Wielenska
Abstract. Compulsive hoarding (CH) is a behavior pattern characterized by
the cluttering of excessive amount of objects without utilitarian or economical
value, accompanied by extreme difficulty to discard those objects, with adverse
consequences to the quality of life of the affected individual. The present
article aims to: distinguish between CH and normal behaviors; present current
classifications of CH, its comorbidities and biological basis; present pharmacological treatment and emphasize psychological interventions proposed by
behavior and cognitive theoretical approaches for therapy.
Key-words: compulsive hoarding, compulsion, behavior therapy, cognitive therapy.
Resumo. O colecionismo patolgico (CP) um padro comportamental
caracterizado pelo acmulo de quantidades excessivas de itens com pouco ou
nenhum valor utilitrio ou material, com dificuldade para fazer o descarte
destes mesmos objetos, resultando, ao longo do tempo, prejuzo da qualidade
de vida do indivduo. O artigo se prope a: estabelecer a distino entre o CP
e o comportamento de colecionar, validado socialmente; apresentar as classificaes atuais do transtorno, suas comorbidades e bases biolgicas; descrever
topogrfica e funcionalmente o CP; apresentar as propostas teraputicas
farmacolgicas e enfatizar terapias psicolgicas baseadas nos fundamentos
tericos das abordagens comportamental e cognitiva.
Palavras-chave: colecionismo patolgico, compulso, terapia comportamental,
terapia cognitiva.
O colecionismo considerado um
comportamento normal na infncia e na
idade adulta (Greenberg, Witztum e Levy,
1990). No raramente, encontramos adultos que colecionam objetos relacionados
a temas de seu interesse (por exemplo,
miniaturas de carros de corrida, chaveiros
de times de futebol, caixas de fsforos
de hotis e restaurantes, etc.). Crianas
guardam seus desenhos e trabalhos de arte,
armazenam objetos (como rochas, folhas,
bolinhas de gude), colecionam lbum de
figurinhas, entre outras possibilidades. So
padres de comportamento que no prejudicam o funcionamento global do indivduo, possuem funo de entretenimento,
socializao e convvio entre pessoas com
interesses em comum.
Por outro lado, no colecionismo patolgico (CP) verifica-se que a coleta, ordenao e disposio de objetos constituintes da coleo ocorrem sem que o indivduo tenha claro entendimento dos motivos de seu comportamento, com pouco
ou nenhum controle sobre o comportamento de colecionar. Hartl e Frost (1996)
sinalizaram a escassez da literatura acerca
do CP, a despeito de sua relevncia como
fenmeno clnico. No intuito de suprir
essa lacuna e facilitar a pesquisa e interveno, propuseram um modelo CognitivoComportamental do CP.
Revista Psicolog 28
Segundo o modelo de Frost e Hartl
(1996), o CP conceitualizado como um
problema multifacetado, associado a dficits no processamento de informaes,
na formao de vnculo emocional, com
esquiva comportamental, e controle por
crenas errneas acerca da funo e significado dos objetos, fatores que influenciam os
comportamentos de armazenar e descartar.
Evidncias anedticas sugerem que crenas
sobre memria, vnculo, controle e responsabilidade so especialmente importantes
no desenvolvimento e manuteno de comportamentos de CP.
Classificaes e subtipos clnicos
Frost, Steketee e Williams (2000) subdividem o colecionismo em CP de objetos,
colecionismo de animais e sndrome de
Digenes. O CP de objetos caracterizase pela emisso de comportamentos de
aquisio (comprar ou recolher/coletar), armazenamento (saving, no original) sob controle de razes sentimentais, instrumentais,
intrnsecas e, por fim, comportamentos de
acumular e tentativas frustradas de organizar. Este padro comportamental complexo
acompanhado por sentimentos de indeciso, preocupao de manter o acmulo
fora de vista, grande sofrimento e prejuzos. O colecionismo de animais o subtipo
com maior gravidade e pior prognstico de
tratamento. A sndrome de Digenes (SD)
foi descrita pela primeira vez na psiquiatria
em 1975 (Hanon, Pinquier, Gladdour, Said,
Mathis e Pellerin, 2004). Esta sndrome envolve a ocorrncia simultnea de extremo
descuido pessoal, imundcie domstica e
marcante retraimento social. Considerase que a presena de CP uma pista til
para formulao do diagnstico da SD
(Montero-Odasso, Shapira, Duque, Chercovsky, Fernandez-Otero, Kaplan e Camera, 2005).
Seedat e Stein (2002), como os demais autores, tambm caracterizaram o CP
como o comportamento de acumular quantidades excessivas de itens com pouco ou
nenhum valor utilitrio ou material, com dificuldade para fazer o descarte destes mesmos objetos, resultando, ao longo do tempo,
em inmeros problemas para o indivduo.
Vale notar que na lngua inglesa, no
contexto psiquitrico, denomina-se hoarding ao comportamento patolgico de acumular, desorganizadamente, grande quantidade objetos. Em Portugus no h
consenso de nomenclatura; o termo colecionismo utilizado tanto para descrever
comportamentos considerados saudveis
quanto os comportamentos patolgicos,
caracterizados por compulso para a
aquisio e/ou armazenamento de objetos sem funcionalidade aparente. Dentro
do contexto de lngua inglesa, Neziroglu,
Bubrick Tobias (2004) salientam que o
comportamento de colecionar no necessariamente sinnimo de CP. Segundo eles,
os colecionadores no-patolgicos geralmente sentem orgulho de suas posses e consideram agradvel mostr-las aos demais,
enquanto que no CP ocorre o oposto. No
raramente, os portadores sentem vergonha
de seus pertences mal armazenados, tentam dissuadir as pessoas de visitarem suas
casas, buscam esconder objetos e dissimular suas compulses.
De modo sinttico, pode-se afirmar que o colecionismo no-patolgico
envolveria a interao prazerosa com uma
classe especfica de objetos cujas caractersticas fsicas ou funcionais so consideradas
especiais pelos aficionados naqueles objetos. Colecionar , geralmente, um comportamento socialmente reforado.
Por sua vez, o comportamento de
Revista Psicolog 29
hoarding, aqui denominado como CP,
difere do colecionismo no patolgico
por apresentar um aspecto compulsivo; h
pouco ou nenhum controle sobre a tendncia a armazenar indiscriminadamente. O
sofrimento a mdio e longo prazo compete com o alvio imediato. Torna-se extremamente difcil o convvio social. O
indivduo sofre por colecionar, e tambm
quando incitado a se desfazer dos objetos que acumula compulsivamente. O
portador permanece sob a influncia de
um conflito esquiva-esquiva: ao coletar e
armazenar atenua a aversividade da compulso (palavra que nomeia resumidamente
um complexo estado privado, eliciado por
contingncias aversivas). Em decorrncia
dos excessos comportamentais, o indivduo
passa a ser rejeitado pelas pessoas (devido
sujeira, baguna, despesas, mentiras, etc.)
e permanece sob contingncias aversivas de
natureza interpessoal: teria que se desfazer
dos objetos para ser aceito e conviver com
os outros. Assim, perpetua-se a conflituosa alternncia entre adquirir e armazenar
(ou seja, uma resposta que aliviaria a compulso) ou sofrer muito com o descarte de
objetos, no intuito de se reconciliar com os
outros.
Frost e Hartl (1996) descrevem trs
caractersticas clinicamente significativas,
distintivas do CP:
1. aquisio excessiva (compra ou coleta) associada incapacidade para
descartar uma grande quantidade de
objetos com questionvel valor;
2. viver em espaos com acmulo expressivo de objetos, o que impede o
uso funcional do espao fsico,
3. sofrimento significativo ou prejuzo
para a convivncia social devido aos
comportamentos de CP.
Para Frost, Steketee e Grisman
(2004), tal definio contempla os trs
sintomas-chave e o desconforto associado
aos mesmos. Ou seja, uma definio mais
completa de CP necessariamente precisa
referir-se aquisio excessiva, dificuldade no descarte de objetos e, por ltimo,
ao acmulo que impossibilita o uso dos espaos habitveis.
Frost, Steketee e Kyrios (2003) estabeleceram uma distino entre os sintomas
de CP e as crenas que podem vir associadas aos mesmos. Os comportamentos de
CP possuem mltiplas determinaes e sua
intensidade pode variar, em funo da influncia exercida por certos tipos de crenas
e dficits de processamento de informao,
que geram o medo excessivo no momento
da tomada de decises sobre aquisio e/ou
descarte de objetos. A este respeito, Frost e
cols. (2003) afirmam que os portadores de
CP podero apresentar as seguintes caractersticas:
Dficits no processamento de informao: inabilidade para dispensar ateno a aspectos relevantes do
ambiente, categorizar objetos, recuperar a lembrana de eventos relevantes e tomar decises.
Problemas no vinculo emocional
com outras pessoas: dependncia,
fobia social e isolamento.
Problemas no vnculo emocional
com objetos: medo de jogar algo
fora e de sentir remorso depois,
culpa por no recolher um objeto
disponvel e sentimentalismo frente
aos objetos so emoes que permeiam as aes do portador.
Crenas distorcidas sobre a natureza
dos pertences: atribui-se excessiva
importncia emocional aos objetos. H pacientes que acreditam
que a memria acerca da histria
de vida dependa necessariamente do
armazenamento de todos os obje-
Revista Psicolog 30
tos associados a cada evento, vivem
intensa sensao de responsabilidade pessoal e autoculpabilizao
por desperdcio ou descarte de recursos. Para eles, o perfeccionismo
e controle so metas obrigatrias, o
risco de incompletude precisaria ser
afastado a qualquer preo.
Comportamentos de esquiva: a perspectiva de errar na deciso gera
intenso desconforto, favorece fugas
e esquivas. Ao ater-se a aspectos pouco relevantes, reexamina sucessivamente as mais improvveis
possibilidades, o que interfere sobre
a emisso de comportamentos relacionados ao CP e a outros aspectos
da vida.
Condies associadas e comorbidades
psiquitricas
pulso) para Transtorno da Personalidade
Obsessivo-Compulsiva (TPOC), e tambm
genericamente associado ao TOC, posio
esta defendida por Frost, Steketee, Williams
e cols. (2000), Seedat e Stein (2002),
Samuels, Bienvenu, Riddle e cols. (2002),
e Neziroglu e cols. (2004).
Maier (2004) conceitualiza o CP
como um padro comportamental complexo, que pode estar associado a diferentes
transtornos mentais. Com estrutura psicopatolgica variada, seria composto por elementos de TOC, Transtorno de Controle
dos Impulsos e comportamentos ritualsticos. Para o autor, a grave negligncia com
os cuidados pessoais da SD poderia, na verdade, ser conseqncia do CP.
Um estudo de Hartl e cols. (2005)
relaciona o CP com histria pregressa de
trauma e transtorno de dficit de ateno e
O CP considerado um transtorno
hiperatividade. Indivduos com CP relatam
progressivo crnico e pouco se conhece somaior exposio a eventos traumticos,
bre o curso dos sintomas.
mais sintomas de distrao/hiperatividade
e maior sensao de conforto relacionado
Para Neziroglu e cols.. (2004), manuteno/ampliao de posses.
o CP pode ocorrer isoladamente, dissociado de outro transtorno, ou apresentarSamuels e cols. (2002) demonse como um sintoma de outros quadros
straram que indivduos com CP tm maior
psiquitricos, como o transtorno obsessivoprevalncia de obsesses de simetria e comcompulsivo (TOC) ou demncia. Um espulses de contagem e ordenao. Esses
tudo de Samuels, Bienvenu, Riddle e cols.
padres comportamentais comrbidos, em
(2002) encontrou evidncias de que paalgum momento anterior, podem ter auxilcientes com CP frequentemente apresentam
iado a coleta e armazenagem compulsivas.
formas mais graves de TOC, um indcio de
H tambm maior prevalncia de Fobia Soque o CP poderia constituir-se num subcial, Transtornos de Personalidade e comtipo de TOC. Este ponto de vista corrobportamentos patolgicos de grooming (roer
orado por Campos, Mercadante, Quarantini
unhas, beliscar a pele, tricotilomania). Para
e Veiga (2004), que no hesitam em classiNeziroglu e cols. (2004), psicoses, demnficar assim o CP, a despeito desta posio
cia do tipo Alzheimer, transtornos alimentano ser consensual na literatura.
res (como pica e sndrome de Prader-Willi)
podem cursar paralelamente ao CP, apesar
De qualquer modo, o CP citado de bastante (acho que vale a pena tirar o
uma vez no DSM IV-TR, como sintoma ou bastante) menos freqentes, se comparados
critrio diagnstico (uma forma de com-
Revista Psicolog 31
ao transtorno de personalidade obsessivocompulsiva, TOC e depresso. Para estes
autores, reconhecer e tratar inicialmente o
CP aliviaria a angstia dos portadores de
comorbidades e facilitaria o tratamento subseqente dos demais transtornos.
Outro estudo, realizado por Grisham, Frost e Steketee (2004), sugere que
o CP pode se manifestar como um fenmeno de incio precoce, ou surgir tardiamente, como reao ao stress ou a perdas.
Na 3a idade, o CP relaciona-se ao economizar dinheiro, aproveitar promoes,
evitar desperdcios. Poderia decorrer da
solido e, neste caso, o isolamento social
seria amenizado pelo conforto trazido pela
posse dos objetos acumulados. Outra possibilidade a considerar seria a presena de
parania e/ou de rituais de verificao e
limpeza que impossibilitariam descartar o
lixo.
Aspectos biolgicos
O circuito estriato-tlamo-cortical
considerado um dos modelos anatmicos
para o TOC e talvez esteja igualmente envolvido no CP. Neziroglu e cols. (2004)
sugerem haver similaridade neuroqumica
na correlao anatmica entre TOC e CP.
Um estudo de Saxena, Brody, Maidment e cols. (2004) mostrou que indivduos
com TOC e sintomas de CP, comparados
com indivduos com TOC sem sintomas de
CP, tinham nveis significativamente mais
baixos de metabolismo de glicose no giro
cingulado e no cuneus cingulado posterior.
Devido aos diferentes padres cerebrais de
metabolismo de glicose possvel conceber o CP como um subgrupo neurobiologicamente distinto ou uma variante de
TOC. Num estudo de Anderson, Damsio
e Damsio (2005), as evidncias sugerem
que nos indivduos com CP, leses na regio
mesofrontal desregulem o mecanismo que
normalmente modula o nvel subcortical responsvel pela predisposio em adquirir e
colecionar.
Variveis ambientais e sua relao como
o CP
Numa perspectiva psicossocial,
convm atentar para o fato de que nossa
sociedade d grande nfase aquisio e
posse de bens de consumo suprfluos, e
que no valoriza igualmente a pessoa que
menos afeita ou impossibilitada de consumir. Tal anlise se contrape aos primrdios da histria da espcie, quando dependamos estritamente, para sobreviver, da
coleta, produo e posse de certos bens de
inestimvel valor para a espcie (alimento,
abrigo, fogo, pele, etc.). Colecionadores
patolgicos sofrem a influncia da midia
impressa e eletrnica (que os incita a consumir sempre algo novo e supostamente
melhor, como promessas de sucesso, bem
estar e aceitao social), como tambm da
histria passada da espcie, a qual precisava
garantir ferozmente a manuteno de suas
mnimas posses, uma questo de vida ou
morte.
A literatura fornece outras pistas sobre aspectos distintivos dos portadores de
CP. Neziroglu e cols. (2004) consideram
que a principal diferena entre indivduos
com e sem diagnstico de CP a quantidade (volume) de itens que acumulam, e
no os itens entre si. Humanos em geral
acumulam classes aproximadamente similares de objetos. No entanto, portadores
de CP se excedem no volume de material
acumulado e no so capazes de manejlos adequadamente. Resta-nos, portanto,
a tarefa de entender sob quais condies
desenvolve-se e mantm-se o excesso com-
Revista Psicolog 32
portamental que caracteriza o CP.
Furby (1978) descreve uma
condio de Sentimental saving, em que
a pessoa busca preservar objetos que estiveram presentes quando foi eliciada determinada emoo positiva num contexto
passado. Assim, so acumulados objetos
desnecessrios, sem funo prtica, sob a
justificativa de que os mesmos equivalem
a um evento relevante do passado. Numa
linguagem comportamental, os objetos assumem a funo de eliciadores condicionados de estados corporais similares ao da
emoo positiva original e de estmulos
discriminativos evocadores de comportamentos verbais e no verbais capazes de
produzir reforos. O operante manter a
posse do objeto aparentemente intil seria
reforado porque possibilita ao indivduo
reviver aquela emoo e recordar o contexto passado. Ao manipular uma caixinha
vazia de goma de mascar, a paciente revive
as emoes do encontro com o namorado,
quando a caixinha foi aberta e a goma de
mascar foi partilhada pelo casal. O problema que todas as caixinhas passam a
ganhar espao e importncia, substituindo
a relao interpessoal ou preenchendo sua
eventual ausncia.
portamental, o portador fica sob forte controle de eventos aversivos com probabilidade remota de ocorrncia. Para se afastar
da estimulao aversiva, acumula os objetos e sente-se melhor. So comportamentos
prejudiciais, mas reforados negativamente
pela imediata remoo temporria da sensao condicionada de perigo.
Um terceiro padro, denominado
originalmente Saving Aesthetic Value,
caracteriza-se pelo comportamento de
guardar objetos devido ao seu aspecto invulgar, raro, sendo este um fenmeno
menos comum do que as demais. O problema se estabelece quando se junta uma
enorme quantidade de objetos raros, o que
d origem ao acmulo. Uma possvel
demonstrao de refinamento ou apuro esttico, comportamento muitas vezes reforado socialmente, se transforma em constante estimulao aversiva: qualquer objeto visto como merecedor de lugar de
destaque na coleo. Esta uma armadilha
propiciada pela variabilidade do comportamento verbal, a pessoa sempre conseguir
descrever cada objeto como nico, especial,
e assim justifica que este seja incorporado
sua confusa coleo.
Neziroglu e cols. (2004) buscaram
Outro fenmeno,
ligeiramente identificar os controles do comportamento
diferente, o Instrumental saving (termo de CP com base em argumentos fornecidos
sem traduo consensual), que ocorre por portadores:
quando a pessoa guarda um item porque
este poder, ainda que remotamente, ter
Medo de perder informao: coleutilidade no futuro. A pessoa procura atencionadores patolgicos frequenteuar ou remover uma sensao de insegumente acreditam que ao descartar
rana frente ao futuro. Sente que precisa
o objeto iro perder informao
agir com cautela excessiva no presente, de
essencial para uso prtico ou formodo a evitar privaes. Colecionadores
mao intelectual. Assim, acumupatolgicos tendem a hiperestimar a problam revistas, papis, jornais, etc..
abilidade de que venham a necessitar dos
Este tipo de comportamento refereitens. E, ao mesmo tempo, subestimam
se ao medo de perder alguma insua habilidade de lidar com uma eventual
formao relevante, fenmeno simescassez de recursos. Na concepo comilar ao instrumental saving. Aqui, a
Revista Psicolog 33
diferena que os indivduos estabelecem para si que no podem jogar
fora qualquer informao escrita,
sem antes terem chance de ler, compreender e memorizar tudo. Assim,
justificam a guarda de jornais, revistas e outros papis sob a alegao de
eles podero ser necessrios no futuro.
Indeciso: Muitos colecionadores
patolgicos so indecisos (Warren
e Ostrom, 1998) e provavelmente
ficam ansiosos ou desconfortveis
perante a ocasio de ter que decidir
quanto convenincia de descartar algo. Podem procrastinar indefinidamente, pois para eles fazer
escolhas funo de excessiva responsabilidade. Permanecer na indeciso funciona como fuga e esquiva de emoes de culpa, arrependimento e remorso, emoes
antecipadas pela imaginao e delineadas com contornos catastrficos. A esquiva experiencial propicia um estado temporrio de alvio.
Com o tempo, o individuo descobre
que no consegue mais decidir devido ao volume incontrolvel de objetos acumulados.
Medo de cometer erros: Warren e
Ostrom (1998) sugerem que colecionadores patolgicos tendem a
pensar que no esto prevenidos
para o futuro e temem cometer erros
como m distribuio/classificao
dos objetos, acidentalmente jogar
fora algo importante ou no descobrir o local perfeito para armazenar
cada objeto.
Incapacidade de priorizar: muitas
vezes, a combinao entre indeciso, medo de errar e o volume de
objetos impossibilita priorizar tarefas. Para os portadores, todas as
tarefas so igualmente importantes
e por tal motivo no decidem por
onde comear. Sentem-se mal, evitam tomar a deciso e ficam deprimidos (uma supresso comportamental). Para muitos, a dificuldade
de priorizar leva procrastinao,
comportamento provavelmente reforado negativamente a curto prazo
e depois punido.
Medo da perda de memria: como
j foi mencionado, dentro do CP
parece existir uma ligao entre
medo, acmulo de objetos e funes
de memria. Para Frost e Hartl
(1996), estes indivduos tm tendncia a pensar que um objeto fora
do campo de viso estar necessariamente longe da memria e,
muitas vezes, acumulam coisas para
se lembrarem melhor dos seus pertences ou dos estmulos pareados a
estes objetos. A maioria dos colecionadores compulsivos no apresenta alteraes de memria, apenas desconfiam de sua prpria capacidade de reter informaes e
atribuem a objetos especficos sua
absoluta funo evocativa.
Dificuldades
de
organizao:
muitos colecionadores patolgicos
parecem ter problemas com categorizao e desenvolvem pilhas sem
fim de itens similares, ou por acreditarem que todos os objetos diferem
entre si e formam classes de um s
membro, ou por julgarem que todos
so to parecidos e devem compor
uma massa indistinta de objetos.
Um fenmeno importante, denominado churning em Ingls, foi descrito por
Frost e Steketee (1998). Ele ocorre quando
o indivduo perde a noo do que estava
a organizar, alterna de uma atividade para
outra, sem terminar qualquer uma delas e
se torna progressivamente mais ansioso ao
longo do processo. Ao fim do dia, sentese exausto e tudo permanece desarrumado.
Comportamentos de pular de galho em
Revista Psicolog 34
galho, sem critrio algum (os pacientes se
descrevem deste modo) alteram o humor,
extenuam o indivduo e irritam familiares.
A busca de ajuda profissional
Segundo Seedat e Stein (2002), em
funo da necessidade de manter o CP em
segredo, ocorre significativo atraso no incio do tratamento, agravando os prejuzos. A busca de ajuda profissional ocorre
em meio relutncia, vergonha e medo
de exposio. Geralmente, os portadores
de CP (inclusive aqueles com crtica parcial de sua condio mrbida) buscam ajuda
profissional devido a:
Questes de qualidade de vida:
perda da funcionalidade do espao
fsico disponvel, condies insalubres e arriscadas. Deve-se ressaltar,
alis, que a aquisio de novos espaos para armazenar prejudica a
remisso do quadro clnico.
Envolvimento com o sistema legal:
muitos colecionadores patolgicos
compulsivos passam por divrcio e
perda da custdia dos filhos. Infelizmente, comum que portadores
de CP tenham problemas com a inspeo sanitria. So conhecidos alguns casos, divulgados pela midia
impressa ou eletrnica, em que vizinhos fizeram denncias s autoridades sanitrias por no mais suportarem o mau cheiro, a presena
de insetos e a desordem. Num estudo comunitrio de Frost, Steketee
e Williams (2000), apenas metade
dos indivduos da amostra reconhecia a falta de condies sanitrias
nas suas casas e menos de um tero
estava disposto a cooperar de forma
a resolver as queixas.
Impacto do CP sobre a famlia:
por vezes, colecionadores patolgicos acreditam fortemente na neces-
sidade de possuir tantos itens e de
viver na confuso. Eles se adaptam
em meio ao caos, e no conseguem
entender como que o outro familiar pode sentir ou pensar diferente
e preferir mais conforto. Muitas das
justificativas no fazem sentido para
os membros da famlia, que perdem
o poder de opinio. Registra-se o
aumento das emoes negativas, em
funo do viver em meio baguna
e restrio do espao funcional. Essas emoes podero levar a comportamentos extremos como o de
jogar fora objetos na ausncia e sem
o consentimento do portador de CP.
Mais tarde, ao se aperceber da situao, sente-se violado, trado, perdendo a confiana nos familiares.
Em alguns casos, isto poder favorecer a parania e levar o indivduo a guardar seus pertences
de forma mais segura, fonte adicional de frustraes, desentendimentos, e desgaste dos relacionamentos. Separaes e divrcios
terminam em batalhas litigiosas e,
pela dificuldade em lidar com tal
conseqncia, colecionadores patolgicos tendem a voltar-se para
os seus pertences, piorando sua
condio. bastante comum que familiares de colecionadores patolgicos busquem tratamentos para si
prprios. H sempre o risco de outros familiares desenvolverem colecionismo patolgico (Neziroglu e
cols., 2004).
Problemas financeiros: o CP poder
afetar as finanas. Na medida em
que cresce a vontade de adquirir
mais itens, o indivduo poder comprar objetos sem considerar o seu
custo. Por vezes, os colecionadores
patolgicos compram ou alugam espaos para acomodar o que compram ou coletam. Deste modo, as
Revista Psicolog 35
despesas tendem a crescer. E, sem mencionados foram validados em lngua
controle eficaz, originam-se dvidas portuguesa. Os instrumentos suplementares
significativas e mesmo falncias.
de avaliao mais utilizados so o Saving
inventory-revised (Frost, Steketee e GrNo tarefa simples convencer um
isham, 2003), Saving Cognitions Invencolecionador patolgico resistente da netory (Frost e Hartl,1996), Frost indecisivecessidade do tratamento. Neziroglu e cols.
ness Scale (Frost e Shows, 1993), Yale(2004) sugerem a tcnica denominada inBrown Obsessive Compulsive Scale (Baer,
terveno (intervention, no original), adapBrown-Beasley, Source e Henriques, 1993),
tada das estratgias de mesmo nome usadas
Sensitivity to Punishment and Sensitivity
para lidar com abusadores de substncias.
to Reward Questionnaire (Torrubia, vila,
Frequentemente, os familiares fazem vrias
Molt e Caseras, 2001), Obsessional Beconsultas com o profissional antes de realliefs Questionnaire, Beck Depression Inmente implantar a interveno, j que esta
ventory (Beck, Steer e Garbin, 1988), Beck
uma oportunidade nica, a ser feita de modo
Anxiety Inventory (Beck, Epstein, Brown e
eficaz, afetivo e assertivo para tornar-se
Steer, 1988).
uma real operao estabelecedora do valor
reforador das conseqncias produzidas
Medidas comportamentais adipelos novos comportamentos.
cionais so outra estratgia de avaliao
til: para estimar o volume do material acuAvaliao clnica do CP
mulado, podem-se utilizar fotografias. O
acmulo documentado, para fins de comO sucesso da avaliao depende, parao, ao incio e trmino da interveno.
em parte, da qualidade do relacionamento Recomenda-se follow-up seis meses ou um
teraputico. O portador precisa que o ter- ano aps a ltima consulta. Tambm posapeuta seja uma audincia no punitiva, e svel avaliar a proporo entre a quantidade
demonstre tolerncia frente s dificuldades de objetos e a rea ocupada pelos mesmos.
do cliente ao relatar suas queixas e dificuldades acerca do CP.
Teraputica do CP
Frost e Steketee (2003) sugerem que, na entrevista de avaliao,
investiguem-se aspectos como: histria
do problema, volume, quantidade e tipos
de bens acumulados, locais do acmulo,
razes atribudas para guardar, grau de envolvimento da famlia, tempo despendido
nos comportamentos de CP, tipos de esquivas, estmulos ansiognicos, presena
de sintomas de TOC e de outras patologias
psiquitricas comrbidas.
Em termos de farmacoterapia, at o
presente momento, no se encontrou uma
medicao especfica para CP, podendose recorrer a antidepressivos (SSRIs, Triciclicos, IMAOs), anti-psicticos, ansioliticos, estimulantes e anticonvulsivantes.
Neziroglu e cols. (2004) sugerem que a
abordagem farmacolgica mais comum
a que parte da premissa de que CP e TOC
so disfunes interligadas e que podem,
portanto, ser tratadas com os mesmos frmacos.
O terapeuta pode fazer uso de
instrumentos de avaliao padronizados.
A terapia comportamental-cognitiva
Deve-se notar que, at a presente data,
(TCC) considerada primeira escolha para
poucos testes, inventrios e escalas aqui
Revista Psicolog 36
tratamento no-farmacolgico da CP. Para
Neziroglu e cols. (2004), a TCC seria a
abordagem indicada em casos de CP por
ajudar o indivduo a combater o transtorno
atravs da avaliao e modificao da forma
de sentir e atuar. A proposta de TCC de
Frost e Hartl (1996) incide seu foco na interveno sobre os j mencionados dficits
de processamento de Informao, comportamentos de esquiva e crenas errneas sobre a natureza das posses e dos vnculos
emocionais.
disponveis, sempre no intuito de atenuar os
padres de comportamento disfuncional.
O paciente, em conjunto com o
profissional, dever traar objetivos realsticos e em comum acordo. As estratgias
utilizadas precisam ser capazes de reduzir
a aversividade inerente aos procedimentos tipicamente recomendados para tratamento de CP: exposio aos estmulos ansiognicos, preveno de resposta de acumular/adquirir e aceitao experiencial das
emoes inerentes ao processo de mudana
Adeso ao tratamento e principais dire- e do contato com novas contingncias.
trizes da TCC
Entende-se que certos fatores podem ser vistos como operaes estabelecedoras, capazes de aumentar o valor reforador da busca pelo auxlio profissional e
da adeso aos procedimentos. Estes fatores
podem se originar do contexto usual de vida
do cliente ou da prpria interao com um
profissional de sade, algum sensvel
necessidade do cliente e qualificado para
prover ajuda. Por exemplo, algum amigo
ou familiar a quem o portador de CP estime e respeite de modo especial pode ter
maior condio de convenc-lo da necessidade de buscar tratamento. O profissional
experiente pode levantar com o cliente as
provveis conseqncias das mudanas, negociando decises a cada etapa da terapia
e reavaliando os resultados alcanados. As
tcnicas de entrevista motivacional podem
ser de grande valia como operaes que aumentem a probabilidade de comportamentos de adeso ao tratamento (Pay e Figlie,
2004).
Por meio da psicoeducao possvel ensinar o cliente a reconhecer as caractersticas do transtorno e suas implicaes
(de curto, mdio e longo prazo), facilitando
a escolha entre as alternativas teraputicas
Recomenda-se que ao final de cada
sesso de organizao e/ou descarte, terapeuta e cliente dediquem alguns minutos a
avaliar os ganhos daquela sesso e a planejar os prximos passos. Pode-se utilizar
o Princpio de Premack como norteador
do planejamento de conseqncias para
comportamentos de organizao e descarte:
aps executar os procedimentos, o cliente
poderia escolher dedicar-se por um tempo
a uma atividade prazerosa que seja usual
em seu repertrio corrente. Para tal, definese previamente com o cliente formas de
recompensas contingentes concluso de
cada tarefa. Por exemplo, ver um programa
de TV que lhe seja especialmente interessante, passear ou descansar (Vasconcelos e
Gimenez, 2004).
As tarefas de casa precisam ser
cuidadosamente graduadas em termos de
custo de resposta e o profissional, junto com
o cliente, dever rev-las a cada sesso. Em
alguns casos, podero ser realizadas vrias
visitas ao domiclio, para fins de avaliao e
teraputica (uma modalidade de acompanhamento teraputico), e possvel planejar
telefonemas no intervalo entre consultas,
para partilhar sinais de evoluo e/ou breve
discusso de dificuldades e correo de fal-
Revista Psicolog 37
has.
Uma etapa relevante da TCC envolve a exposio imaginria e in vivo a
situaes de no aquisio, geralmente
eliciadoras da vontade de adquirir algo.
Nestas situaes, se pratica a preveno da
resposta de adquirir ou coletar e o indivduo
aprende comportamentos novos para lidar
com as dificuldades que surgiro (por exemplo, o aumento da ansiedade). Faz-se uso
de role-playing como forma de modelar e
instalar novos comportamentos (por exemplo, treinar maneiras de resistir ao impulso
de comprar ou coletar).
Na exposio ao descarte de objetos, o cliente experiencia, de modo sistemtico e gradual, o descarte de objetos
antes patologicamente armazenados. Isto
pode ser feito, ao menos nas etapas iniciais do tratamento, com auxlio do terapeuta, acompanhante teraputico ou familiar treinado. Ao cliente explicado que
descartar objetos desnecessrios inicialmente muito difcil, e que a prtica regular
do descarte resultar na reduo da intensidade das emoes aversivas eliciadas por
esta atividade.
Devero ser estabelecidos, pelo
prprio cliente, horrios especficos para
dedicar-se ao descarte e arrumao, como
recurso para combater a procrastinao.
Evitar jornadas excessivamente longas, que
tornem o processo ainda mais aversivo, seja
por exausto ou excessiva emocionalidade.
Antes de comear o trabalho de arrumao, recomenda-se criar espaos temporrios para guardar objetos. Atravs de
classificaes gerais, possvel ter uma
viso mais clara das etapas subseqentes
de trabalho.
(guardar ou descartar, onde guardar) requer mudanas do comportamento de fazer
escolhas e o desenvolvimento de competncias de organizao (por exemplo, classificar objetos, priorizar aes, criar maior
compatibilidade entre planejamento e execuo). Para intervir sobre o controle
de estmulos das novas respostas, pode-se
recorrer a discusses que definam critrios
claros, fceis de seguir, acerca de como escolher entre armazenar, descartar e colocar
no lugar certo. Ou seja, so definidos os
estmulos discriminativos relevantes para
controle das respostas emitidas em cada
etapa do trabalho de organizao. Em alguns casos, regras podem assumir essa
funo. Por exemplo: se um objeto de
pouca utilidade est muito deteriorado,
jogue-o fora imediatamente ou separe
as roupas para guardar segundo critrios
como roupa de frio e de calor, de uso cotidiano (social ou esporte) ou para festas. Assim, pretende-se reduzir o controle exercido
pelos pensamentos irracionais (regras rgidas, desconectadas das contingncias em
vigor) e colocar as respostas sob controle
das contingncias em vigor no presente.
Convm favorecer a diminuio do
custo das respostas de descartar e arrumar
por meio da seleo de alternativas mais
simples, com resultados mais expressivos.
Seleciona-se uma rea-alvo por vez, com
objetivos realsticos. A cada dia, o cliente
deve cumprir a tarefa at ao fim e, quando
terminar, dedicar-se a apreciar o resultado
alcanado, avaliar sua funcionalidade e valorizar o esforo envolvido. de grande
valia que uma foto do antes e depois da
arrumao, documente o aspecto da rea
escolhida. Os clientes tendem a se esquecer
do tamanho do problema j superado e superestimam as etapas a vencer.
Durante a arrumao, sugere-se
manter
por perto os cartes de apoio que o
O treino de tomada de deciso
Revista Psicolog 38
cliente e terapeuta prepararam nas sesses.
Neles, por exemplo, h perguntas que
Na medida em que o CP se instalou,
norteiem as decises do cliente ao longo o indivduo deixou de emitir ou at mesmo
do processo ou uma lista dos motivos fafoi impedido de aprender uma srie de outvorveis a fazer a arrumao e enfrentar
ros comportamentos relacionados vida
emoes negativas.
social, ocupacional, etc.. Em paralelo s
arrumaes, torna-se imperioso melhorar
Outro recurso utilizar a tcnica a qualidade geral de vida, com incentivo
das 3 caixas e meia: manter uma caixa para engajamento em outras atividades recom as coisas para guardar em definitivo, foradoras, no-aversivas. Neste mesmo
outra de coisas para expor, a terceira com sentido, busca-se melhorar as relaes famaterial para descartar/reciclar e meia caixa miliares, desenvolvendo a aceitao e o repara itens urgentes, cuja soluo no possa speito mtuos. Em muitos casos possvel
refazer os laos na famlia atravs da (re)
esperar.
descoberta de interesses em comum. Outra
meta similar refere-se ao estabelecimento
Para recuperar de imediato a funde habilidades de comunicao interpescionalidade da rea arrumada na casa
soal afetiva e assertiva.
e manter os ganhos alcanados deve-se
atribuir novos usos para aquele espao, no
importando que seja uma gaveta, prateleira,
No intuito de modificar as cogarmrio ou um cmodo inteiro. Assim, nies disfuncionais aprendidas pelo portornam-se menos provveis recadas. O tador de CP, uma srie de tcnicas so proterapeuta deve estabelecer com o cliente o postas pela terapia cognitiva para auxiliar o
compromisso de que ser mantida a ordem terapeuta em seu trabalho. Entre elas, podeem todas as reas j arrumadas. Quando se se citar a tcnica da flecha descendente
readquirir a funcionalidade para determi- (da Silva, 2004), a reestruturao cogninado espao vazio, possvel escolher uma tiva (Shinohara, 2004) e o dilogo socrtico
nova rea alvo e recomear o processo.
(Miyazaki, 2004). Em termos gerais, a terapia cognitiva oferece um conjunto amplo de tcnicas que visam promover a
Despender esforos para arrumar
identificao de pensamentos automticos
espaos menos visveis constitui uma see distores cognitivas, aliadas ao treino
gunda fase da arrumao. Terapeuta e
cliente fazem uso das tcnicas que se para elaborao de uma resposta racional,
baseada em evidncias. Ao longo do teste
mostraram bem sucedidas anteriormente e
de hipteses na vida real, o terapeuta deve
criam estratgias adaptadas s novas convalidar as descobertas feitas pelo cliente,
tingncias.
salientando as evidncias que do sustentao a elas. Cada resposta racional pode
Bloquear aquisies desnecessrias ser resumida em cartes de apoio, a serem
e o armazenamento imprprio de obje- usados futuramente pelo cliente em situtos favorece a preveno de recadas. A aes fora do consultrio, para combater
cada semestre, ou anualmente, o cliente distores similares. Na perspectiva comdeveria rever o que escolheu armazenar, portamental, pode-se considerar que tais
reavaliando se no convm descartar o que procedimentos cognitivos, principalmente
no teve uso ou cuja existncia sequer foi de natureza verbal, buscam enfraquecer o
lembrada naquele perodo de tempo.
controle exercido por regras rgidas sobre
Revista Psicolog 39
o comportamento do cliente. Ou seja, o 43, 269-276.
cliente passaria a ter uma parcela maior de
seu repertrio sob controle das contingnAnderson, S. W.; Damasio, H.;
cias naturais, habilidade fundamental para
Damasio, A. R. (2005). A neural basis for
lidar com ambientes complexos e em mucollecting behavior in humans. Brain, 128,
tao.
2001-212
Biblioterapia e recursos da Internet
Bloss, C.; Frost, R. O.; Kim, H. J.;
Murray-Close, M. e Steketee, G. (1998).
Para clientes que dominam o idioma Hoarding, compulsive buying and reasons
ingls, sugerimos a leitura, na ntegra, ou for saving. Behaviour Research and Therde trechos selecionados pelo terapeuta, de apy, 36 (7-8), 657-664.
publicaes especializadas e dirigidas ao
pblico leigo, direta ou indiretamente afeBubrick, J.; Neziroglu, F. e Yaryuratado pelo transtorno. Entre outras opes,
Tobias, J. (2004). Overcoming Compulsive
podemos citar os seguintes livros:
Hoarding. Oakland, CA: New Harbinger
Publications.
Bubrick,J., Neziroglu,F. e YaryuraTobias,J. (2004).
Overcoming
Compulsive Hoarding. Oakland,
CA: New Harbinger.
Glovinsky, C. (2002). Make peace
with the things in your life. New
York, NY: St. Martins Press.
Brammer, M.; Lawrence, N.;
Mataix-Cols, D.; Phillips, M.; Speckens,
A. e Wooderson, M. (2004). Distinct
Neural Correlates of Washing, Checking
and Hoarding Symptom Dimensions in
Obsessive-compulsive Disorder. Archives
Atualmente, a internet tornou-se General Psychiatry, 61, 564-576.
fonte de informao para muitos clientes.
De forma a evitar que estejam expostos a
Campos, M.; Mercadante, M.;
dados imprecisos ou desatualizados, pode- Quarantini, L. e Veiga, M. (2004).
se sugerir sites confiveis, cientificamente Transtorno Obsessivo-compulsivo e Tiques
slidos e cujas pginas contenham material em pacientes com Epilepsia. Journal of
acessvel ao grande pblico. Entre outros, epilepsy and clinical neurophysiology, 10
pode-se recomendar:
(4), 47-52.
www.protoc.incubadora.fapesp.br
www.astoc.com.br
www.nimh.nih.gov
www.ocfoundation.org/hoarding/
Referncias
Caseras, X.; Fullana, M.A.; MataixCols, D.; Alonso, P.; Manuel M.J.; Vallejo,
J.e Torrubia, R. (2004). High sensitivity to punishment and low impulsivity in
obsessive-compulsive patients with hoarding symptoms. Psychiatry Research, 129,
21-27.
Allen, G. J.; Duffany, S. R.; Hartl,
T. L.; Frost, R. O. e Steketee, G. (2005).
Frost, R. O. e Harlt, T. L. (1996). A
Relationships among compulsive hoarding,
trauma, and attention-deficit/hyperactivity cognitive-behavioral model of compulsive
disorder. Behaviour Research and Therapy, hoarding. Behaviour Research and Ther-
Revista Psicolog 40
apy, 34, 341-350.
cognitive-behavioral model of compulsive
hoarding. Behaviour Research and therapy,
Frost, R. O.; Steketee, G. e Gr- 34 (4), 341-350.
isham, J. (2004) Measurement of compulsive hoarding: saving inventory - reMaier, T. (2004). On phenomenolvised. Behavioral Research and Therapy, ogy and classification of hoarding: a review.
42, 1163-1182.
Acta Psychiatrica Scandinavica, 110, 323337.
Frost, R. O.; Steketee, G.; Williams,
L. e Warren, L. (2000). Mood, personality disorder symptoms and disability
obsessive-compulsive hoarders: a comparison with clinical and nonclinical controls.
Behaviour Research and Therapy, 38 (11),
1071-1081.
Miyazaki, M.C.O.S. (2004). Dilogo socrtico. Em: C.N. Abreu e H. J.
Guilhardi (Orgs.), Terapia comportamental e cognitivo-comportamental - Prticas
clnicas, So Paulo: Roca, p.311-319.
Montero-Odasso, M.; Shapira, M.;
Frost, R. O.; Steketee, G. e Duque, G.; Chercovsky, M.; FernandezWilliams, L. (2000). Hoarding: a commu- Otero, L.; Kaplan R. e Cmera, L. A.
nity health problem. Health Society Care (2005). International Journal of Geriatric
Community, 8 (4), 229-234.
Psychiatry, 20 (8), 709-711.
Frost, R. O. e Steketee, G. (2003).
Patronek, G. J. (1999). Hoarding of
Compulsive hoarding: current status of the animals: an under-recognized public health
research. Clinical Psychology Review, 23 problem in a difficult-to-study population.
(7), 905-927.
Public Health Reports, 114 (1), 81-87.
Frost, R. O.; Kyrios, M. e Steketee,
Paya, R. e Figlie, N.B. (2004). EnG. (2003). Cognitive Aspects of Compul- trevista Motivacional. Em: C. N. Abreu e
sive Hoarding. Cognitive Therapy and Re- H. J. Guilhardi (Orgs.), Terapia comportasearch, 27 (4), 463-479.
mental e cognitivo-comportamental - Prticas clnicas, So Paulo: Roca, p. 414-434.
Grisham, J. R.; Frost, R. O.; Steketee, G.; Kim, H. J. e Hood, S. (2005). Age
Seedat, S. e Stein, D.J. (2002).
of onset of compulsive Hoarding. Journal Hoarding in obsessive-compulsive disorder
and related disorders: a preliminary report
of Anxiety Disorders, 20, 675-686
of 15 cases. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 56 (1),
Hanon, C.; Pinquier, C.; Gaddour,
17-23.
N.; Said, S.; Mathis, D. e Pellerin, J. (2004).
Diogenes Syndrome: a transnosographic
approach. Encephale, Jul-Aug; 30 (4), 315Samuels, J.; Bienvenu, O. J.; Rid22.
dle, M. A.; Cullen, B. A.; Grados, M. A.;
Liang, K.Y.; Hoehn-Saric, R. e Nestadt, G.
Hartl, T. L. e Frost, R. O. (1996). A (2002). Behaviour Research and Therapy,
40 (5), 517-528.
Revista Psicolog 41
cas, So Paulo: Roca, p. 321-329.
Saxena, S.; Brody, A. L.; Maidment, K. M.; Smith, E. C.; Zohrabi,
N.; Baker S. K. e Baxter, L. R. (2004).
Cerebral glucose metabolism in obsessivecompulsive hoarding. American Journal of
Psychiatry, 161, 1038-1048.
Shinohara, H. (2004). Questionando rtulos, atribuies e significados. Em: C.N. Abreu e H. J. Guilhardi (Orgs.), Terapia comportamental e
cognitivo-comportamental - Prticas clnicas, So Paulo: Roca, p. 330335.
Torrubia, R., vila, C., Molt, J. e
Caseras, X. (2001). The Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward Questionnaire (SPSRQ). Personality and Individual Differences, 31 (6), 837-862.
Vasconcelos, L. A. e Gimenez, L.
S. (2004). Em: C.N. Abreu e H. J. Guilhardi (Orgs.), Terapia comportamental e
cognitivo-comportamental - Prticas clnicas, So Paulo: Roca, p. 238-250.
Watson, D. e Wu, K. D. (2005).
da Silva, E. A. (2004). Flecha de- Hoarding and its relation to obsessivescendente. Em: C.N. Abreu e H. J. Guil- compulsive disorder. Behaviour Research
hardi (Orgs.), Terapia comportamental e and Therapy, 7, 897-921.
cognitivo-comportamental - Prticas clni-
Revista Psicolog 42
Entre a utopia e o cotidiano:
uma anlise de estratgias viveis nos delineamentos culturais
Kester Carrara1
1
Livre Docente do Depto. de Psicologia da UNESP, campus de Bauru.
Bolsista de Produtividade do CNPq.
Resumo. Em face do processo de consolidao da rea de planejamento cultural como campo de atuao do analista do comportamento, a resoluo de algumas pendncias terico-epistemolgicas e o desenvolvimento de estratgias
de enfrentamento dos problemas de consecuo efetiva de projetos passam a
constituir aspectos a serem verticalmente abordados na literatura recente e diretamente superados a partir da experimentao cultural. Dois desses obstculos que mais constituem caractersticas prprias dos delineamentos culturais
so abordados neste artigo: 1) os critrios tico-morais a serem considerados legitimamente elegveis quando da proposio de intervenes sociais sob
a tica da Anlise do Comportamento e 2) os limites tecnolgicos para tal empreendimento. Para tal anlise, examinam-se as caractersticas e conseqncias provveis dos convites de Skinner e Glenn aos analistas do comportamento
para que se empenhem na anlise cultural.
Palavras-chave: Delineamentos culturais, Prticas Culturais, Metacontingncias, Anlise do Comportamento, Behaviorismo Radical.
Ao final do seu Metacontingencies
in Walden Two, Sigrid Glenn (1986) faz
O caminho agreste mencionado
algumas perguntas aos analistas do compor Glenn tem explicao. Est contexportamento:
tualizado pela idia de que, por mais que
a cincia e, em particular, a PsicoloSomos capazes de separar os re- gia busque solues completas ou muito
foradores tecnolgicos dos reforadores abrangentes para as mazelas sociais, tal emcerimoniais e virar as costas a estes lti- preendimento parece destinado ao fracasso,
mos? O que podemos fazer para criar um restando plausveis apenas as solues por
ambiente de trabalho para os outros que os aproximaes sucessivas de metas menores
coloque em contato com reforadores tec- e que atendam a aspiraes apontadas por
nolgicos e sejam minimizados os efeitos determinada instncia social. Ou seja,
de contingncias cerimoniais? ... Existe agreste o caminho em direo utopia da
algum modo de organizarmos um sistema, sociedade ideal e a visibilidade dos resulmesmo que pequeno, no qual o comporta- tados desse empreendimento est compromento de todos seja igualmente valorizado, metida por princpio, dada a magnitude
no qual todos contribuam para o bem-estar de tal utopia e as limitaes estratgicodo grupo, partilhando igualmente os pro- metodolgicas da Anlise do Comportadutos do esforo do grupo? Em qualquer mento e da prpria Psicologia para realizgrau que consigamos atingir tais objetivos, la cabalmente neste momento da Histria.
estaremos progredindo por um caminho Em contrapartida, Glenn (1986) deixa entragreste (p. 8).
ever alternativas atravs de pequenas inicia-
Revista Psicolog 43
bretudo, felicidade irrestrita para qualquer
sociedade parecem constituir, ao fim e ao
Podemos, portanto, comear
aqui mesmo... e lidar com a menor rea cabo, verdadeiras utopias, dada a amplitude
inalcanvel de mudanas sociais definitipossvel, aquela com a qual temos contato
vas e to abrangentes.
contnuo e direto nosso ambiente domsA deciso de aceitar ou no o contico, nosso ambiente de trabalho, nossos
vite que nos foi feito por Glenn h mais
projetos de lazer (p. 8)
de vinte anos, portanto, implica um exame acurado de vrias questes e possiO convite de Glenn (1986) bem
pode constituir uma resposta, se no um es- bilidades. Parte de tal exame exige retomar
os conceitos de contingncias cerimoniais
clarecimento conceitual, crtica de que a
e tecnolgicas. Para isso, no entanto, em
Anlise do Comportamento e o Behaviorprimeiro lugar, tal como definido no conismo Radical constituem, respectivamente,
texto da Anlise do Comportamento, tomecincia e filosofia de cincia intrinsecamente limitadas: 1) pela prpria estrat- se em conta que as contingncias referemse, especificamente, s condies (ao modo
gia de anlise da realidade (anlise que
com que, maneira pela qual) esto (ou
busca descrever o comportamento nas suas
sero) arranjadas as relaes entre um derelaes com o contexto ambiental) e 2)
terminado comportamento e o seu contexto.
pela incipiente tecnologia at aqui produzida (uma vez que no seria vivel a Elas no constituem, de modo algum, os
descrio funcional de relaes entre var- prprios eventos antecedentes e/ou os eventos subseqentes de um comportamento
iveis do ambiente e do comportamento em
especfico, embora tal confuso (a de se
contexto de largo espectro, como o caso
designar, indiscriminadamente, como referdos eventos sociais complexos). Essa esentes ao mesmo processo e mesmos evenpcie de argumento crtico, via de regra,
est atrelada a uma lgica de busca e de- tos, conseqncias e contingncias)
constitua equvoco comum e presente na
fesa de polticas pblicas, formas de govrotina verbal (e, por vezes, na literatura) da
erno e ideologias que sejam capazes de
Anlise do Comportamento. Contingnconduzir justia social naes inteiras,
cias, portanto, descrevem relaes entre
de uma s vez. Tal lgica, quando transposta ao mundo das relaes interpessoais comportamento e ambiente. Ou seja, contingncias referem-se a uma descrio, esconcretas, ainda que a despeito da dupecfica e clara, das maneiras pelas quais
vidosa abrangncia a ser alcanada por
esto relacionadas uma ou mais respostas
seus resultados e, eventualmente, apesar
de uma classe e o ambiente com o qual inde seus supostos mritos tico-morais
possa ser plausvel e consensual, parece terage determinado organismo vivo. Assim,
procura-se e se estabelece, atravs dessa
carecer de substrato cientfico-tecnolgico
descrio de relaes, baseada em alguma
para consubstanciar-se. Para alm dessa
medida concreta das variveis implicadas,
falta de consolidao tecnolgica, tal imsob qual conjunto de circunstncias (em
plicao parece padecer da constatao, via
literatura cientfica, de uma possvel inex- que contexto) uma especfica relao funcional entre comportamento e ambiente se
eqibilidade em princpio, uma vez que
instalou, ou foi consolidada, ou se tornaria
nestes termos qualquer utopia inspipossvel. A lgica central skinneriana de
rada em qualificativos assemelhados aos de
trplice relao de contingncias se refjustia social para todos, eqidade completa de oportunidades, solidariedade e, so- ere ao modus operandi terico behaviorista
tivas de delineamento cultural:
Revista Psicolog 44
radical, suportado pela variao da fora
do comportamento face s conseqncias
produzidas por sua emisso, sob condies
particulares. Se e apenas se a classe
de respostas a que pertence o operante
que produziu as conseqncias tiver sua
fora ampliada, ser possvel dizer que
tal conseqncia constitui um reforador
positivo. Se, ao contrrio, sua fora for
diminuda, tal conseqncia ser considerada um reforador negativo (ou estmulo
aversivo). Note-se, por oportuno, que aqui
se mencionam reforadores, com referncia necessria aos eventos produzidos. Mas
eles no equivalem a reforamento, que implica, para alm do evento, um procedimento especfico (no reforamento positivo,
um evento particular produzido pelo comportamento leva a um aumento da fora
do operante; no reforamento negativo, um
evento particular que removido pelo operante leva, igualmente, a um aumento da
fora do operante; respectivamente, tais
eventos so os reforadores positivos e os
reforadores negativos).
Todavia, para melhor esclarecimento do conceito de contingncia, ainda
h algo a ser dito. Trata-se da metafrica
expresso fora do operante. As aspas
utilizadas com a expresso fora, neste
caso, denotam apenas e nada alm que
alguma medida comparativa do operante
(antes e depois de este produzir determinada conseqncia), tornar possvel aferir
sua mudana e, nesse sentido, tornar possvel dizer que tal evento conseqente tem
ou no algum efeito reforador. De modo
mais especfico, via de regra possvel utilizar como unidade de medida do operante
sua freqncia de ocorrncia, mas, algumas vezes, outras medidas mais incomuns
podem ser empregadas ou agregadas freqncia: fora-peso (como quando um rato
pressiona uma barra), topografia (como nas
situaes em se afere a aproximao grad-
ual de uma resposta caligrfica a um modelo: por exemplo, quando se ensina a uma
criana os padres de contornos grficos
aceitos para escrever uma letra qualquer do
alfabeto), a latncia entre a apresentao de
um estmulo discriminativo e a ocorrncia
de uma resposta (como quando se busca
instalar repertrios tpicos de ateno
como pr-requisito para a emisso de operantes complexos). Nesse contexto, ainda
mais precisamente, pode-se estar interessado em aspectos como a quantidade de
vezes que um operante ocorre, sua preciso
em relao a um modelo ou quanto tempo
leva um organismo para apresentar uma resposta tpica diante de uma configurao especfica de eventos antecedentes, tais como
os estmulos discriminativos. O objetivo,
em todas as situaes acaba, em ltima
anlise, sendo a freqncia, j que: 1) se
so aceitveis vrias respostas topograficamente semelhantes com vistas a uma funo
comum, refora-se qualquer que preencha
esses requisitos e, assim, dependendo do esquema de reforamento em vigor, obtm-se
um determinado padro de freqncia; 2)
mesmo que se exija uma fora-peso mnima (como no caso da presso barra),
tambm acaba adjunta medida de se tal
fora suficiente para que a barra produza um som que demarque seu adequado
funcionamento, uma outra contagem, que
implica freqncia: em outras palavras, a
resposta estar estabelecida quando, diferencialmente, se conseguir uma modelagem
segundo a qual restem instaladas apenas as
respostas com a fora pr-estabelecida; 3)
o mesmo vale para os casos em que h interesse na topografia especfica da resposta,
ou seja, reforam-se, por aproximaes sucessivas, as respostas que passo a passo
contemplem os critrios de parecena com
uma determinada unidade do alfabeto; a
freqncia com que tais respostas de aproximao acontecem participa do critrio de
avano para a etapa seguinte da seqncia.
Revista Psicolog 45
Assim, a Anlise do Comportamento sempre busca algum tipo de medida
razoavelmente precisa das relaes entre
o operante e as demais instncias da trplice relao em que se insere: eventos antecedentes e eventos conseqentes. Buscar
tais medidas contribui para que se possa
conhecer com razovel preciso se e quanto
um determinado comportamento mantm
uma relao de interdependncia com o
contexto ambiental em que ocorre. Se, por
um lado, fcil a compreenso das razes
pelas quais identificar com clareza uma
relao de contingncias assegura maior
probabilidade de uma interveno consistente para aumentar, manter ou diminuir
a fora/freqncia de um operante, por
outro nem sempre tarefa simples eleger o
melhor procedimento para alcanar tal finalidade.
Para compreender tais dificuldades
e para adentrar complexidade da mensurao das relaes do organismo com seu
ambiente fsico-qumico-biolgico-social,
via comportamento (o que implicar, por
ltimo neste texto, ampliar a probabilidade
de compreenso das interaes sociais complexas e bem e criteriosamente examinar o
convite de Sigrid Glenn), preciso detalhar outras noes associadas e implicaes
do conceito de contingncias. Nessa perspectiva, acompanhando Souza (1999) a
relevncia da anlise de contingncias est
no fato de que ela assegura a possibilidade
de se identificar os elementos envolvidos
numa dada situao, constatar se existe relao de dependncia entre tais elementos e
avaliar qual o padro dessas relaes de dependncia. Em decorrncia disso, torna-se
vivel uma programao de contingncias
precisa, concreta e plausvel.
Reiterado o conceito de contingncias no contexto da Anlise do Comportamento e do Behaviorismo Radical, o prx-
imo passo consiste em avaliar se esse conceito pode ser genericamente utilizado para
toda e qualquer relao dos organismos
vivos com o contexto ambiental com o
qual interagem. Ferster e Skinner (1957)
desenvolveram muitas pesquisas a partir
do conceito skinneriano bsico de esquemas de reforamento. Tais esquemas constituem a representao formal e, num
certo sentido, a explicitao paradigmtica
atravs de uma frmula cujos smbolos definem relaes de dependncia entre comportamento e suas conseqncias - das contingncias, no contexto de uma determinada classe de respostas e suas interaes
com o ambiente. No v a recuperao de aspectos particulares desses esquemas, face complexidade que se depreende da distino entre contingncias e
metacontingncias. Dessa forma, falar em
reforamento contnuo implica dizer que,
num dado episdio (planejado ou no) de
interao, a cada resposta de uma classe
segue-se uma conseqncia singular e discreta, de modo que, sob certos parmetros
espao-temporais, fique claro um padro,
um tipo, uma condio particular dentro da
qual respostas e conseqncias esto relacionadas. No esquema de reforamento
contnuo, por bvio, a relao entre resposta e reforo da ordem de uma para
um, ou seja, toda resposta (de dimenses
que necessitam ser descritas com preciso)
reforada. Em contrapartida ao reforamento contnuo, possvel falar em reforamento intermitente, onde nem todas
as respostas so reforadas. O padro de
respostas sob esquemas intermitentes e a
literatura ilustra sobejamente tal achado -
muito distinto daquele dos esquemas contnuos. Sua resistncia extino muito
maior, as freqncias de resposta podem se
ampliar significativamente e as caractersticas do responder podem mostrar fluxos distintos de respostas, por exemplo, antes ou
depois do exato momento do reforamento.
Todavia, no h um nico esquema intermi-
Revista Psicolog 46
tente: existem esquemas onde o critrio de
reforamento temporal (intervalo fixo e
intervalo varivel), outros em que o critrio
o nmero (razo fixa e razo varivel) e
outros, ainda, em que h uma combinao
complexa de critrios baseados no tempo,
freqncia, durao e mesmo topografia de
respostas.
Tais perguntas adquirem to maior
significado quanto mais precisa, abrangente
e relevante a interveno pretendida pelo
analista do comportamento, seja na clnica,
seja nas organizaes, seja no cenrio das
prticas culturais. Dito de outro modo, o
analista do comportamento no pode prescindir de todos os dados que puder obter
dentre os que permeiam as relaes entre
comportamento e ambiente, sob risco de
uma avaliao incompleta e, conseqentemente, de uma proposio de programao
de contingncias superficial. Por mais que
necessria insuficiente, por exemplo, a
simples reorganizao programada de contingncias vinculadas unicamente s estratgias de ensino de um educador na sua
interao com os alunos: mudar apenas
seus mtodos implica deixar fora da explicao outros eventos da histria comportamental do aprendiz que esto alm
do contexto de sala de aula: as variveis
econmicas, as variveis relacionadas
sade, as variveis vinculadas s relaes
familiais. Mesmo que o argumento para
exclu-las de uma anlise seja a sua distncia causal em relao ao comportamento do estudante em sala de aula, em
contrapartida proximidade causal (variveis proximais) da conduta do professor
em interao com o aluno, tais variveis
podem desempenhar importante papel na
compreenso do comportamento individual
e do comportamento da classe. Assim, nem
razes tericas, nem razes baseadas em
dificuldades prticas eximem o analista do
comportamento de seu necessrio interesse
em relao influncia das variveis relacionadas s prticas culturais com vistas
compreenso de grande parte do comportamento cotidiano.
Essa recuperao de conceitos associados aos esquemas de reforamento
busca, prioritariamente, explicitar uma
parte de conceitos caros Anlise do Comportamento, na medida em que esta procura
descrever relaes entre organismos e ambiente, sob mediao do comportamento.
Trata-se, reiteradamente, do esclarecimento
do conceito de contingncia, ou seja, da
idia central do Behaviorismo Radical, segundo a qual a lgica a prevalente de explicao do comportamento est baseada
em relaes. Mas no em quaisquer relaes, seno as relaes funcionais entre
comportamento e eventos que o contextualizam, na dimenso temporal antes-depois.
Os esquemas de reforamento, portanto,
constituram na literatura skinneriana uma
sistematizao prtica da maneira pela qual
as relaes funcionais entre comportamento
e ambiente so (ou esto) estabelecidas. Especificamente, descrevem contingncias.
No entanto, a questo que se apresenta :
diante desse instrumento conceitual oferecido por Skinner, estaria definitivamente
pronto um arcabouo terico-prtico que
daria conta de todas as complexas situaes
nas quais contingncias comportamentais
esto implicadas? Seria possvel especificar
todos os condicionantes dos padres comportamentais envolvidos nas relaes sociais complexas, por exemplo? Como designar, nesse caso, um esquema em que as
contingncias entre comportamento e eventos antecedentes dizem respeito a mltiplas
Se, por um lado, a literatura est
variveis pertencentes ao contexto ambien- repleta de resultados de pesquisa que contal corrente?
substanciam os argumentos de Skinner em
Revista Psicolog 47
favor do uso do conceito de contingncias e do modelo de esquemas de reforamento para explicar nossas atividades mais
simples, permanecem algumas lacunas razoveis na extenso do uso desse mesmo
instrumental para a descrio dos comportamentos sociais complexos. Mas, o
que especifica que possamos considerar alguns comportamentos sociais como complexos e, eventualmente, outros como no
complexos? Nada que seja to preciso, se
se pensar nas caractersticas intrnsecas ao
prprio comportamento. Nada quanto
sua estrutura. No entanto, quando os comportamentos de um indivduo implicam interdependncia com o comportamento de
outros indivduos, tal como o que ocorre
naquilo que Skinner (1953/1967, p. 239)
designou como prticas culturais, essa
complexidade fica mais clara. Ela diz respeito, especialmente, ao modo pelo qual
esto estabelecidas, nesse caso, as relaes
funcionais entre comportamento, eventos
antecedentes e suas conseqncias. E esse
modo causal implica uma relao de dependncia entre o comportamento de algumas e o de outras pessoas: sua natureza
social est no fato de que esses comportamentos vo alm da interao do indivduo
com o seu ambiente particular (embora se
possa argumentar, no limite, que sempre e
finalmente o que ser conseqenciado o
comportamento de um indivduo e no o de
um grupo social, que no um organismo
ele prprio). Portanto, nesse contexto
ainda um pouco incerto de ampliao de
complexidade que surgem, na Anlise do
Comportamento, algumas perguntas sobre
qual ser a frmula objetiva para a extenso do trabalho do analista s prticas
culturais. Sero suficientes o modelo de
trplice relao de contingncias skinneriano, o prprio conceito de contingncias e
a matriz instrumental dos esquemas de reforamento?
Pelo menos quatro textos de Skinner (1948/1977, 1953/1967, 1974/1982,
1989/1991) so altamente representativos
de seu objetivo perene de explicao dos
fenmenos sociais. O caso de Cincia
e Comportamento Humano, em particular,
constitui exemplo seminal do investimento
skinneriano no campo das prticas culturais, ao proceder a um exame exploratrio do
tema das agncias de controle e dos delineamentos culturais sob a tica behaviorista
radical. A coerncia lgico-terica do texto
skinneriano o dado proeminente da obra,
em que pesem as interpretaes crticas j
veiculadas a respeito do tipo de prescries
ticas do autor. De qualquer maneira, uma
vez que o que est em jogo, no momento,
um conjunto de reflexes que nos conduza a tomar a deciso de aceitar ou no o
convite de Sigrid Glenn, parece relevante
selecionar, da leitura de Skinner, quais instrumentos e sob que condies o autor sugere serem teis anlise do comportamento
das pessoas em grupo.
Nessa perspectiva, sobressai em alguns textos de Skinner (1984, 1990) sua
enftica sugesto de trs tipos de variao
e seleo que inspiram a lgica da anlise
de contingncias: 1) A seleo natural, responsvel pelo processo evolutivo e, conseqentemente, pelo comportamento tpico
das espcies. A histria evolutiva da espcie retrata a seleo de comportamentos importantes para sua sobrevivncia, de modo
que os indivduos que a compem estaro
preparados para um presente que seja similar ao ambiente passado que os selecionou.
A similaridade , por certo, um conceito
relativo, assim como a regularidade do
ambiente um tanto incerta. Diante dessa
dinmica e dentro de um largo espectro
temporal, os comportamentos (e todas as
caractersticas a eles relacionadas) da espcie que sejam funcionais para a sua adaptao ao ambiente acabam por reproduzir-
Revista Psicolog 48
se gerao a gerao; mutaes favorveis a
uma adaptao ambiental mais consistente
podero ser responsveis pela dinmica do
processo; 2) Quando o ambiente no estvel por tempo suficiente para assegurar
mudanas filogenticas (e este o caso de
grande parte dos repertrios comportamentais da espcie humana), outra dimenso
dos processos de variao e seleo est em
jogo: trata-se da suscetibilidade do comportamento (operante) seleo ontogentica.
Est a presente, prioritariamente, o mbito
das interaes individuais com o ambiente,
sem a concorrncia complexa das situaes
comunitrias em que o comportamento das
pessoas em grupo e as conseqncias compartilhadas articuladamente que so responsveis pela instalao, manuteno e
extino de condutas discretas. Nessa dimenso, ainda permanecem claras as similitudes entre o modelo de seleo natural darwiniano e o processo de condicionamento
operante skinneriano. A semelhana entre
a evoluo filogentica e a ontognese explicita o pensamento behaviorista radical
sobre aparecimento e curso dos repertrios
comportamentais; a dimenso temporal extensa (no primeiro caso) e reduzida (no
segundo) respondem, parcialmente, pelas
diferenas essenciais dos dois processos; 3)
O terceiro tipo de variao e seleo implica contingncias especiais mantidas por
um ambiente social que, para Skinner, representa a cultura (1974/1982, 1987). Notese que o contexto da cultura, para Skinner,
compe-se de uma articulao indissocivel
entre comportamento e ambiente, no sentido de que as prticas culturais (que, no
limite, so comportamentos) e as dimenses (sociais, biolgicas, qumicas, porm
todas, em ltima anlise, referenciadas por
alguma materialidade fsica) do contexto
ambiental compem o cenrio vital para a
existncia de alguma sociedade. Observese que, embora o controle por conseqncias diretas se mantenha nos nveis mencionados em 2) e 3), nesta ltima dimenso
o controle por regras que exerce um papel
extremamente importante. Tal controle , a
um s tempo, econmico e funcional para
manter a efetividade das prticas culturais a um custo de aprendizagem bastante
baixo.
O primeiro e o segundo tipo de seleo constituem bases importantes para
a compreenso das atividades dos organismos, mas nosso interesse neste texto est dirigido para alm das dimenses filogenticas e para alm dos j to bem estabelecidos princpios do comportamento operante
que se sustentam na lgica da evoluo ontogentica. Aceitar ou no o convite de
Glenn implica explorar a terceira dimenso do processo de seleo em termos de
seus conceitos e de seu alcance pragmtico,
mas no apenas isso: implica explorar alguns argumentos essenciais da autora para
a compreenso do conceito de metacontingncias, por ela proposto para descrio
das relaes das pessoas entre si e com todos os demais componentes dos ambientes
interativos que caracterizam prticas culturais e comportamento social na perspectiva
behaviorista radical.
Ao lidar com prticas culturais, naturalmente, lidamos com o comportamento
social. Desde 1953, Skinner conceitua o
comportamento social como sendo ... o
comportamento de duas ou mais pessoas,
uma em relao outra ou, em conjunto,
em relao a um ambiente comum (p.
171). No comportamento social, portanto,
outra pessoa deve estar envolvida, seja constituindo evento ou parte de evento diante
do qual o organismo responde, seja constituindo a fonte de conseqncias que controlam o comportamento desse organismo. O
comportamento social adquire dimenses
mais complexas quando se passa ao mbito
das prticas culturais. Nelas, est implcita
a repetio/replicao de comportamentos
Revista Psicolog 49
similares (coerentes, compatveis e/ou anlogos), com especial nfase no aspecto da
funcionalidade para a produo de conseqncias para vrios indivduos que constituem um grupo. Uma outra dimenso das
prticas culturais que ultrapassa o conceito
de comportamento social (embora o incorpore) est na transmisso cultural de tais
repertrios, na medida em que eles sejam
funcionais para a preservao dessa mesma
cultura. Nesse sentido, um dado bsico das
prticas culturais sua replicao atravs
das geraes. Naturalmente, o fato de que
algumas prticas culturais sejam no logo
prazo deletrias para a sobrevivncia dos
indivduos que compem uma cultura, no
significa que deixem de ser prticas culturais ou que prticas culturais necessariamente mantenham como princpio a sobrevivncia de todos os indivduos que participam de determinada cultura, durante
todo o tempo. A poluio industrial, sem
dvida, produz efeitos nocivos sade do
coletivo de indivduos, mas, apesar disso,
pode reproduzir-se por muito tempo como
produto de uma prtica cultural custa
de arranjos de contingncias que provm
conseqncias reforadoras outras importantes para quem assim procede (poluindo).
Embora Skinner (1953/1967, 1981) reiteradamente mencione os efeitos para o
grupo, sempre bom lembrar que tudo indica tratar-se de uma metfora: o grupo no
constitui organismo, de modo que no interage, ele prprio, com o ambiente. So as
pessoas que o compem que so suscetveis
ao arranjo de contingncias. Mas, naturalmente, nas prticas culturais, existe uma
relao inevitvel de articulao necessria,
por vezes uma dependncia, entre comportamentos (coerentes entre si) dos componentes do grupo e o contexto ambiental.
Ou seja, as conseqncias que agem sobre
o indivduo selecionam suas respostas particulares; j as conseqncias que atuam
sobre os membros de um grupo enquanto
tal selecionam prticas culturais que, em
ltima anlise, tambm remetem aos comportamentos dos indivduos, mas com uma
especificidade distintiva: so tipicamente
comportamentos articulados responsveis
pela produo de conseqncias compartilhadas pelos membros do grupo. Esse um
dos sentidos pelos quais possvel falar de
contingncias entrelaadas: os comportamentos operantes individuais dos membros
do grupo so controlados por parmetros
de freqncia (e/ou durao, intensidade,
topografia ou outra medida) compatveis e
funcionais para a produo (a curto ou em
longo prazo), de contingncias funcionalmente equivalentes para os participantes
dessa comunidade. Via de regra, quando se
examina o envolvimento de uma coletividade na produo de prticas culturais entre
si coerentes e dirigidas produo de conseqncias compartilhveis, est-se diante
de um conceito, proposto por Glenn (1988)
no contexto da rea de delineamentos culturais: o de produto agregado. Esse conceito tem implicaes para a descrio de
certo carter de conformidade ou, mesmo,
acordo cooperativo entre os participantes,
algumas vezes atrelado caracterizao
de prticas culturais. De fato, em muitas
culturas comum observar prticas que,
embora produzam conseqncias de curto
prazo reforadoras para todos ou a maioria
dos membros do grupo, no longo prazo podem levar a conseqncias nefastas, como
o caso do uso indiscriminado de recursos naturais, de que todos podem usufruir
num certo momento mediante benefcios
individuais imediatos que alcanam a todos
do grupo, mas que, ao final, podem representar o advento de conseqncias aversivas atrasadas em larga escala. Portanto,
no um carter intrinsecamente bom ou
mau, no sentido tico-moral, das prprias
prticas, que leva sua preservao, mas a
disposio (muitas vezes no planejada) de
contingncias que tornam menos ou mais
provvel a emisso de certos comportamentos que compem tais prticas.
Revista Psicolog 50
Parece claro, neste ponto, que embora os esquemas de reforamento previssem certa multiplicidade de arranjos de contingncias, em termos prticos a Anlise do
Comportamento no avanou quanto seria
teoricamente possvel depois da competente
anlise de Skinner (1953/1967) a respeito
seja provendo estruturas sistemticas de
anlise funcional de prticas culturais complexas, seja apresentando progresso rpido
e seguro na aplicao de estratgias associadas a tecnologias apropriadas para interveno social. Nesse sentido, os conceitos associados aos esquemas de reforamento foram prioritariamente aprisionados
pesquisa experimental, de maneira que
a literatura passou a exibir com maior freqncia discusses tericas sobre estratgias para avano do interesse e possibilidades da Anlise do Comportamento ao estudo das questes sociais complexas. Nesse
contexto de discusso, Glenn (1986, 1988)
prope uma nova unidade conceitual, formulada com a finalidade de tornar possvel
melhor descrever as intrincadas relaes
funcionais presentes nas prticas culturais.
Tal unidade conceitual metacontingncias
se distingue das contingncias de reforamento pelo fato de que se estas descrevem
relaes entre uma classe de respostas e
uma conseqncia comum classe, aquelas se referem a relaes entre uma classe
de operantes e uma conseqncia cultural
comum. Aduz-se ao conceito de metacontingncias o fato de que envolve contingncias individuais entrelaadas que, articuladas, produzem um mesmo (ou equivalente) resultado no longo prazo. nessa
perspectiva que o conceito proposto por
Glenn retorna idia central de Skinner
(1981), revelando que as prticas culturais so, tal como o comportamento individual, selecionadas pelas conseqncias
que produzem, com a diferena que, neste
caso, tais conseqncias afetam os compor-
tamentos interligados de vrias pessoas que
compem um grupo. As metacontingncias, ao inclurem a proposta de um produto
agregado, sinalizam com o fato de que, com
freqncia, possvel identificar nas aes
articuladas do grupo o surgimento e compartilhamento de um produto, um resultado
que afeta aqueles que o compem. Um
estudo bem sistematizado, incluindo representaes paradigmticas de contingncias
entrelaadas e metacontingncias, pode ser
encontrado em Andery, Micheletto e Srio
(2005). Nesse estudo, as autoras sugerem:
...parece que temos muito a ganhar em termos de nossa compreenso das
variveis de controle de fenmenos sociais complexos com tentativas de desenvolver anlogos experimentais a esses fenmenos (p. 163).
Nesse sentido, ainda que indiretamente, pode estar a expressa uma boa medida da compatibilidade da estratgia de desenvolvimento de estudos sociais em situao experimental com o convite de Glenn
(1986) para que passemos a nos deter em
questes sociais implicadas diretamente no
nosso cotidiano (critrio da proximidade) e
cujas dimenses sejam menores (mas no
menos complexas ou menos importantes)
do que as almejadas solues de delineamentos culturais para toda a sociedade a
um s tempo (critrio da plausibilidade).
Se tais ponderaes so parcimoniosas e toda a literatura parece responder
positivamente resta responsabilidade do
analista do comportamento a tarefa de continuar examinando a pertinncia tericotcnica da noo de metacontingncias,
agora sem qualquer preocupao no sentido de que esta seja utilizada como um
substituto conceitual para a terminologia
proposta por Skinner ou um conceito que se
Revista Psicolog 51
incompatibilize com a anlise skinneriana
das prticas culturais. O conceito glenniano, sem dvida, por um lado preserva os
argumentos centrais do Behaviorismo Radical com relao a questes sociais e, por
outro, enfatiza claramente a importncia
de que se produza uma trajetria de condutas estratgicas do cientista que implicam no apenas a identificao de variveis
que controlam o comportamento individual, mas a identificao e descrio cuidadosa da rede de relaes que se estabelece
entre classes de comportamentos dos indivduos que compem o grupo e produzem
um efeito de compartilhamento social, no
sentido anteriormente descrito neste texto.
Existem, naturalmente, entraves
para uma psicologia social behaviorista
radical. Tais dificuldades possuem muitas
facetas, que talvez, de modo simplista,
possam ser resumidas em duas dimenses
essenciais: o aspecto tecnolgico e o aspecto tico da questo dos delineamentos
culturais. Duas velhas perguntas, nessa perspectiva, devem ser sempre retomadas: 1)
Os novos e os antigos instrumentos conceituais sero suficientes, independentemente, para garantir uma boa descrio
de fenmenos? e 2) A que norte ticomoral, em cada caso de delineamento cultural, deve responder o analista do comportamento?
Ao que tudo indica, se por um lado
a literatura recente parece tornar muito
otimista a idia de que o desenvolvimento
estratgico-metodolgico e o campo de
aplicao da Anlise do Comportamento
s prticas culturais est se ampliando para
situaes at recentemente pouco imaginadas, por outro a questo das prescries
tico-morais nos delineamentos continua
mantendo um frum aberto de anlises e argumentos que buscam esclarecer a possibilidade de regras aceitveis para a atuao do
analista enquanto cidado-cientista (Abib,
2001, 2002; Dittrich, 2004)).
Quaisquer que sejam os encaminhamentos de soluo para esses dois conjuntos de questes, permanece dinmica a
atuao do analista e parece convulsiva a
gerao de problemas que poderiam contar com algumas propostas alternativas de
soluo. Ou seja, a esperar pela soluo
final de todos os problemas sociais, permaneceremos por tempo indeterminado no
campo das utopias. Ao escolher uma resposta positiva ao convite de Sigrid Glenn,
estaremos optando, com algum risco tico
que deve ser sempre tornado transparente,
por colocar disposio da demanda o estado atual da tecnologia comportamental
aplicada s prticas culturais, no mnimo
sob o abrigo institucionalmente estabelecido das prescries contidas nas instncias que controlam nosso exerccio profissional (cdigo de tica do psiclogo, constituio brasileira e legislao complementar, por exemplo). O critrio da urgncia e
a visibilidade de alguns problemas sociais de fcil consenso (aquecimento global,
poluio ambiental, conservao de recursos naturais, preveno a problemas de
sade pblica, saneamento bsico e vrios
outros) talvez possam controlar nosso comportamento em direo a essa resposta positiva. Se isso razovel, teremos, ento,
que nos haver, entre outras providncias,
com o detalhamento e compreenso da proposta de desenvolvimento de processos e
produtos tecnolgicos em detrimento dos
cerimoniais. Agncias de controle institucional, como Famlia, Igreja e Estado,
em muitas circunstncias exemplificariam
o uso prioritrio de controle cerimonial do
comportamento social. Essa espcie de
controle bastante inflexvel, por vezes
dogmtico e, nesse sentido, pouco adaptativo para sugerir mudanas sociais pela
explicitao de conseqncias. Os cdigos
Revista Psicolog 52
e a legislao vigente em cada pas podem
exemplificar controle cerimonial. Na maior
parte das vezes, esses instrumentos no especificam diretamente as condies sob as
quais o comportamento deve ou no deve
ser emitido e, tampouco, as conseqncias previstas para o seguimento dessas
regras. J o controle tecnolgico asseguraria, conforme Todorov (1987), a possibilidade de estabelecimento de regras especficas, de providenciar conseqncias
imediatas para a observncia de tais regras
e de avaliao dessas regras e de suas conseqncias. Porm, o controle tecnolgico
tambm pode tornar-se cerimonial quando
as contingncias passam a no se coadunar com a evoluo da cultura e quando
ocorre rpida desatualizao da relao entre comportamento e conseqncia estabelecida primariamente. Nota-se, na literatura, que as expresses tecnolgicas e
cerimoniais tm sido associadas, indistintamente, com vrias outras expresses:
fala-se em processos, conseqncias, contingncias ou metacontingncias cerimoniais e tecnolgicas. Naturalmente, cada qual
dessas expresses associadas adquire sua
pertinncia ou no em funo do contexto
no qual esto inseridas e no constituem,
entre si, sinnimos (conseqncias e contingncias, como vimos, esto fortemente
articulados, mas no so a mesma coisa).
Assim, por ser fundamental que o objeto
de referncia para tecnolgico e cerimonial, nesse caso, seja o tipo de relao
de dependncia estabelecido entre determinadas condies e as respostas especficas
de uma classe, ficando ou no claras num e
noutro caso, respectivamente, as condies
e conseqncias para a emisso de algum
comportamento social no contexto de prticas culturais, parece plausvel convencionar
a utilizao dessas duas expresses no sentido que originalmente inspirou Skinner
(1953/1967, p. 234-235), ao citar Thorstein
Veblen. Na interpretao skinneriana, Veblen (1899/1965), em sua Teoria da Classe
Ociosa, sugeria que costumes ou usos que
pareciam no ter conseqncias mensurveis e que eram explicados em termos
de princpios duvidosos de beleza ou gosto
tambm podiam ter efeitos importantes sobre o comportamento do grupo, ou seja, no
contexto das prticas culturais. O exemplo
dado por Skinner (1953/1967) :
...uma universidade americana
moderna constri edifcios gticos no
porque os materiais disponveis se assemelhem queles que originalmente foram responsveis por esse estilo de arquitetura ou
porque o estilo seja belo em si, mas porque
assim a universidade exerce um controle
mais eficaz fazendo lembrar instituies educacionais medievais... (p.234)
e que, nesse sentido, inspiram comportamentos quando pareados seus aspectos esttico-arquitetnicos com alguns conceitos valorizados no contexto da cultura,
como o parecer tradicional, sria, confivel.
Tomando essa dimenso como pressuposto, talvez o conceito que mais perto
est do pareamento plausvel com cerimonial ou tecnolgico seja o de controle. Nesse sentido, falar em controle cerimonial implica a influncia atualmente
exercida pelas regras institucionais (na
acepo das agncias estudadas por Skinner, 1953/1967) emanadas de uma figura
(pessoal ou organizacional) de autoridade
constituda (por exemplo, o presidente, o diretor, o superintendente, o pai, a lei, as normas, certos padres morais de costumes,
a polcia, o reitor, todos eles a depender
dos tipos de pareamentos com especficos
padres de conseqncias). Tal controle
comumente exercido atravs de regras
(verbais orais, escritas, sinalizadas) que
adquiriram controle para alm da exigncia
Revista Psicolog 53
(ou possibilidade) de uma discriminao
mais acurada das reais conseqncias que
poderiam ou efetivamente deveriam exercer
sobre as pessoas. Na mesma direo, o
controle tecnolgico constitui conceito absorvido no contexto do exame das prticas
culturais como referncia possibilidade
de descrio de contingncias (ou metacontingncias) completas, ou seja, algo como
diante das condies tais, se o comportamento for emitido com as caractersticas ora
especificadas, produzem-se estas e/ou aquelas conseqncias. Se, quando falamos em
contingncias ou metacontingncias, estamos falando na forma pela qual se exerce
algum tipo de controle, ento parece pertinente falar em contingncias (ou metacontingncias) cerimoniais ou tecnolgicas. Mas essa diviso no pode ser tomada,
no limite, como necessariamente e sempre representando controle desptico versus
controle democrtico, por exemplo. A vantagem das contingncias tecnolgicas est
no fato de que elas tm um carter construtivo para as prticas culturais, na medida
em que especificam claramente um conjunto de condicionantes e isso, por sua vez,
permite um carter de experimentao
social - tpico dos delineamentos culturais
- mais transparente. Amplia-se a dinamicidade das regras pela sua constante referncia s conseqncias de onde se originaram.
nosso ambiente domstico, nosso ambiente de trabalho, nossos projetos de lazer
(p. 8). Como j mencionou Skinner (1974):
Um reputado filsofo social disse:
S atravs de uma mudana de conscincia que o mundo ser salvo. Cada um
de ns deve comear por si mesmo. Mas
ningum pode comear por si mesmo e, se
pudesse, certamente no seria mudando a
prpria conscincia (p. 212).
Ou seja, estamos diante de uma
questo de rearranjo de contingncias. Mais
particularmente, de delineamentos culturais. Por essa e por todas as razes anteriores, independentemente de que sejam ou
no imprescindveis o conceito de metacontingncias e os demais que lhe so adjacentes, parece bastante consistente o velho
convite de Glenn (1986) aos analistas do
comportamento. Aceitando-o, talvez possamos contribuir decisivamente para a substituio gradual, mas consistente, de certas
contingncias cerimoniais por contingncias tecnolgicas apoiadas em padres
tico-morais subsidirios da justia social.
Referncias
ABIB, J. A. D. (2001) Teoria Moral
de Skinner e Desenvolvimento Humano.
Essa , portanto, a dimenso da Psicologia: Reflexo e Crtica, 14 (1), p.
diferena entre aguardar a realizao com- 107-117.
pleta de uma utopia (permanecendo esABIB, J. A. D. (2002) tica de
pera que uma teoria integral da vida social, uma estratgia milagrosa ou um lder Skinner e Metatica. In: H.J. Guilhardi,
altrusta completamente despido dos val- M.B.B.P. Madi, P.P. Queiroz, M.C. Icoz
ores de sua prpria histria pessoal iniciem (orgs.), Sobre Comportamento e Cognio,
tal processo) e comear uma reconstruo vol. 10 (Contribuies para a construo
gradual das prticas que esto muito prx- terica do comportamento), p. 125-137.
imas de ns, que so razoavelmente con- Santo Andr: ESETec
sensuais, que afetam o nosso cotidiano e
ANDERY,
M.
A.
P.
A,
que, como sugere Glenn (1986) assegu- MICHELETTO, N., SRIO, T. M. A. P. A.
ram nosso ... contato contnuo e direto (2005) A anlise de fenmenos sociais: es-
Revista Psicolog 54
boando uma proposta para a identificao by Consequences. In: Science, 213 (p.501de contingncias entrelaadas e metacon- 504)
tingncias. Revista Brasileira de Anlise do
SKINNER, B. F. (1982) Sobre o BeComportamento, vol 2 (2), p. 149-165)
haviorismo. So Paulo: Cultrix-EDUSP.
CARRARA, K. (2005) Behavior- (Original de 1974)
ismo Radical: Crtica e Metacrtica. So
SKINNER, B. F. (1984) Selection
Paulo: Editora UNESP.
by consequences. The Behavioral and
DITTRICH, A. (2004) Behavior- Brain Science, 7(4), 477-481.
ismo Radical, tica e Poltica: AspecSKINNER, B. F. (1987) The Evolutos tericos do compromisso social. So
tion of Behavior. In: Upon Further ReflecCarlos: Programa de Ps-graduao em tion. Englewood Cliffs, N.J., p. 65-74.
Filosofia e Metodologia das Cincias (tese
SKINNER, B. F. (1990). Can psyde doutorado).
chology be a science of mind? American
GLENN, S. S. (1986) Metacontin- Psychologist, 45(11), 1206-1210.
gencies in Walden Two. Behavior Analysis
SKINNER, B. F. (1991) Questes
and Social Action, v.5 (n. 1-2).
Recentes na Anlise Comportamental.
GLENN, S. S. (1988) Contingen- Campinas: Papirus. (Original de 1989)
cies and Metacontingencies: Toward a SynSOUZA, D. G. (1999) O que conthesis of Behavior Analysis and Cultural
tingncia?
In: R.A. BANACO (Org.) SoMaterialism. The Behavior Analyst, 11, p.
bre Comportamento e Cognio: aspectos
161-179.
tericos, metodolgicos e de formao em
FERSTER, C. B., SKINNER, B. F.
Anlise do Comportamento e Terapia Cog(1957) Schedules of Reinforcement. New nitiva. Santo Andr: ArBytes, p. 82-87.
York: Appleton
TODOROV, J. C (1987). A ConstiSKINNER, B. F. (1967) Cincia e tuio como Metacontingncia. Psicologia:
Comportamento Humano. Braslia: Editora Cincia e Profisso, 7, p. 9-13.
da Universidade de Braslia (Trad. De J.C.
VEBLEN, T. (1899/1965) A Teoria
Todorov e R. Azzi Original de 1953)
da Classe Ociosa: um estudo econmico
SKINNER, B. F. (1977) Walden das instituies. So Paulo: Livraria PioTwo. So Paulo: EPU. (Original de 1948)
neira Editora (Trad. De Olvia Krhenbll).
SKINNER, B. F. (1981) Selection
Revista Psicolog 55
Procedimentos de observao em situaes estruturadas para
avaliao de habilidades sociais profissionais de adolescentes
Almir Del Prette1 , Camila de Sousa Pereira2
1
Professor Titular do Departamento de Psicologia e do Programa de Ps-Graduao
em Educao Especial da Universidade Federal de So Carlos (UFSCar)
Coordenador do Grupo de Pesquisa Relaes Interpessoais e Habilidades Sociais (RIHS)
do Laboratrio de Interao Social da UFSCar
Ribeiro Preto - SP - Brasil.
2
Psicloga com Especializao em Gesto Organizacional e Recursos Humanos
(DEP/UFSCar), Mestrado pelo Programa de Ps-Graduao em Educao Especial
(PPGEEs/UFSCar) e Doutoranda pelo mesmo programa e universidade. integrante do
Grupo de Pesquisa Relaes Interpessoais e Habilidades Sociais (RIHS) do
Laboratrio de Interao Social da UFSCar.
adprette@power.ufscar.br, camila.rihs@yahoo.com.br
Abstract. This study aimed to elaborate structured situations of job interview
and occurrences of the work environment and to examine observations registers
of performances in these situations. Thirteen adolescents, between 14 and 16
years old, participated of this study. Three structured situations were elaborated
with specific demands of professional social skills in job interview, to offer helps
the worker and to deal with joust critical of the head. The observation registers showed inter-judges reliability (between 79,41% and 90,20%). The results
suggest that such procedures are in satisfactory conditions to evaluate the professional social skills of adolescents.
Key word: professional social skills, observation procedures, structured situations, assessment.
Resumo. Este estudo visa apresentar roteiros de situaes estruturadas de
entrevista de emprego e ocorrncias do ambiente de trabalho e resultados do
teste de fidedignidade dos registros de observao dos desempenhos nessas
situaes. As situaes foram testadas com 13 adolescentes de ambos os
sexos, entre 14 e 16 anos. Foram elaboradas trs situaes estruturadas com
demandas especficas de habilidades sociais profissionais para: (a) enfrentar
entrevista de emprego, (b) oferecer ajuda ao colega de trabalho e (c) lidar
com crtica justa do supervisor. Para cada situao foi criado um roteiro de
registro de observao para avaliar os desempenhos descritos em categorias de
habilidades sociais profissionais. O uso dos roteiros de registro de observao
produziu ndice satisfatrio de concordncia entre avaliadores (79,41% a
90,20%), mostrando-se confivel para avaliao de habilidades sociais profissionais.
Palavras-chave: habilidades sociais profissionais, procedimentos de observao, situaes estruturadas, avaliao.
Revista Psicolog 56
As transformaes do mundo do trabalho contemporneo e suas implicaes
para organizaes e profissionais vm
sendo intensamente discutidas tanto na sociedade como no meio acadmico. Ainda
que o processo de reestruturao produtiva no seja homogneo entre pases e
entre diferentes organizaes, percebe-se
um consenso na literatura especializada
quanto importncia da avaliao do perfil
profissional do trabalhador (Baron Markman, 2003; Bastos, 2006; Cournoyer, 2007;
Gondim, Brain Chaves, 2003; Lassance
Sparta, 2003; Pereira Del Prette, 2007;
Pereira, Del Prette Del Prette, 2004; Sarriera, Cmara Berlim, 2006; Z. Del Prette
Del Prette, 2003). Essa constatao tambm vlida para os adolescentes entre
14 e 17 anos que, por meio da legislao
brasileira (http://www.planalto.gov.br), tm
garantido o direito de iniciar sua trajetria
profissional, podendo ingressar formalmente no mercado de trabalho na condio
de aprendiz.
Diante do cenrio de trabalho em
constante mudana, o candidato a uma
vaga de emprego e/ou o profissional j inserido no mercado de trabalho precisam
acompanhar e assimilar as transformaes
e expectativas desse contexto para assegurar condies mnimas de insero e permanncia no sistema produtivo. Howard
(1995, apud Bastos, 2006) sinaliza que
as expectativas em relao s caractersticas do trabalhador concentram-se em:
(a) capacidade intelectual e tcnica para o
manejo das novas tecnologias; (b) atributos pessoais tais como adaptabilidade,
diferenciao, responsabilidade, capacidade de crescimento, habilidades interpessoais, para enfrentar a complexidade e as
incertezas dessas transformaes e realizar
trabalho em equipe. Cmara, Sarriera e
Pizzinato (2004) investigando o perfil esperado do jovem de 14 a 21 anos ver-
ificaram expectativas diferenciadas conforme o setor: (a) a indstria exige agilidade e capacidades especficas; (b) o
comrcio enfatiza a experincia escolar,
histria laboral, apresentao fsica e comunicao; (c) a prestao de servios valoriza
desenvoltura social, habilidades de comunicao e nvel de escolaridade.
A anlise da literatura especializada
(Cmara cols., 2004; Donohue cols., 2005;
Gondim cols., 2003; Howard, 1995, apud
Bastos, 2006), na rea organizacional e do
trabalho, permite identificar um atributo
valorizado, referido em termos de habilidades interpessoais ou de comunicao,
que no campo terico-prtico do Treinamento de Habilidades Sociais (A. Del Prette
Del Prette, 2001, 2003; Argyle, 1967/1994;
Cournoyer, 2007; Z. Del Prette Del Prette,
2003) recebe a denominao de habilidades
sociais profissionais. A. Del Prette e Del
Prette (2001) utilizam o termo desempenho
social para referir-se aos comportamentos
emitidos por uma pessoa em uma situao
qualquer. Porm, sugerem denominaes
especficas quando o desempenho social
avaliado em sua funcionalidade e/ou topografia e nas contingncias associadas a
determinadas situaes. No caso das habilidades sociais profissionais, contextualizada nas relaes de trabalho, A. Del
Prette e Del Prette (2001, p. 89) propem
como definio: aquelas que atendem s
diferentes demandas interpessoais do ambiente de trabalho objetivando o cumprimento de metas, a preservao do bem-estar
da equipe e o respeito aos direitos de cada
um.
Pode-se dizer que grande parte das
tarefas e atividades profissionais ocorre
e/ou se completa em situaes interativas,
justificando, portanto, maior valorizao atual na capacidade do trabalhador de se relacionar satisfatoriamente com as diferentes
Revista Psicolog 57
pessoas, o que favorece melhor resultado
no desempenho profissional e, ao mesmo
tempo, pode gerar clima organizacional
harmonioso e estimulante (A. Del Prette
Del Prette, 2003; Argyle, 1967/1994; Baron
Markman, 2003; Cournoyer, 2007; Pereira
Del Prette, 2007; Pereira cols., 2004;
Veiga, 2004). Considerando a premissa
de que as atividades de trabalho ocorrem
em grande parte nas relaes interpessoais,
Pereira (2006) identificou subclasses de
habilidades sociais profissionais avaliadas
como importantes na perspectiva de trabalhadores com e sem deficincia fsica
e tambm de seus supervisores: oferecer
ajuda, elogiar o colega, colocar-se no lugar
do outro, admitir erros, lidar com crticas e
gozaes de colegas, solicitar mudana de
comportamento, participar e encerrar conversao, dar sugesto, falar em pblico.
exemplo, os inventrios) e os diretos (observao presencial ou por filmagem). Os
instrumentos mais utilizados so de autorelato, todavia percebe-se um interesse
crescente no emprego da observao (Del
Prette Del Prette, 2006; Gresham, Cook,
Crews Barreras, 2008). Ainda que os instrumentos de auto-relato sejam relevantes
por acessar as percepes dos indivduos
sobre si mesmo, os procedimentos observacionais complementam e ampliam os dados
de avaliao, uma vez que permitem registrar as interaes comportamento-ambiente
(Gresham Cols., 2008), caracterizar os
componentes verbais, no-verbais e paralingsticos (Del Prette cols., 2006), identificar possveis vieses entre a autopercepo
e o ajustamento socioemocional (Gresham,
Lane, Macmillan, Bocian Ward, 2000), entre outros aspectos.
Nessa perspectiva, Gondim e cols.
(2003), no entanto, enfatizaram a complexidade envolvida na avaliao das habilidades interpessoais, que foram consideradas de difcil identificao e anlise no
recrutamento e seleo de pessoal. Esse
dado refora discusses importantes que j
vm ocorrendo, h algum tempo, na literatura do Treinamento de Habilidades Sociais (Del Prette Del Prette, 2006; Del Prette,
Casares Caballo, 2006). A especificidade
situacional e cultural bem como os componentes, verbal, no-verbal e paralingstico presentes na interao requerem muitas
vezes procedimentos sensveis, com instrumentos variados, diferentes informantes
para abranger um rol mais amplo de indicadores e interpretaes na avaliao das
classes de habilidades sociais (Del Prette
Del Prette, 2006; Del Prette cols., 2006).
Os procedimentos observacionais
empregados em vrios estudos mostram a
diversidade de ambientes e condies adaptadas para a coleta de dados. Garcia-Serpa,
Del Prette e Del Prette (2006) criaram demandas para desempenhos de empatia em
situao estruturada de sala de espera de
uma clnica. Hueara, Souza, Batista, Melgao e Tavares (2006) filmaram sesses
de brincadeira de faz-de-conta, estimulada
com bonecos e objetos propcios a essa
atividade, entre crianas com deficincia visual. Del Prette, Del Prette, Torres e Pontes
(1998) examinaram os efeitos de um programa de Treinamento de Habilidades Sociais sobre o desempenho de professores
utilizando a gravao em vdeo de suas
aulas, antes e depois da interveno. Aguiar
(2006) adaptou o mtodo de cenrios comportamentais com situaes estruturadas
de observao de habilidades comunicativas de indivduos deficientes mentais adultos. Bandeira, Machado, Barroso, Gaspar e
Silva (2003) filmaram desempenho de papis para analisar o comportamento de olhar
Os
mtodos
de
avaliao
disponveis na literatura das habilidades sociais, em geral, dividem-se em dois grupos maiores: os indiretos (auto-relato, por
Revista Psicolog 58
nas fases de escuta e elocuo em pacientes
psicticos e sujeitos no-clnicos.
Tambm possvel encontrar entre os procedimentos de observao de habilidades sociais, instrumentos de medida
validados para determinados contextos e
populao. o caso do estudo de Bandeira
(2002) que avaliou as caractersticas psicomtricas da Escala de Avaliao da Competncia Social de pacientes psiquitricos
brasileiros por meio de desempenho de papis. O estudo mostrou que a escala possui validade social, consistncia interna,
fidedignidade interobservadores, validade
discriminante da competncia social de indivduos clnicos e no-clnicos, validade
concomitante com assertividade e relaes
com medidas moleculares e entre a escala
global e subescalas.
Os resultados do estudo de Bandeira
(2002) sugerem a validade e fidedignidade
da avaliao por meio da observao em
situaes estruturadas. Na mesma linha de
argumentao, Falcone (1999) aponta para
a importncia desse tipo de procedimento
na avaliao da efetividade de programas
de interveno. A observao em situao
estruturada definida por Del Prette e Del
Prette (2006, p. 53) como simulao de
situaes para desempenho de papel, estruturadas pelo pesquisador ou profissional,
podendo incluir, para isso, outros auxiliares, crianas ou adultos. Embora haja
discusses sobre os limites das situaes
estruturadas em termos da generalizao
para a situao real, tal procedimento oferece diversas vantagens tais como: controle
sobre as demandas ambientais, condies
padronizadas que viabilizam a replicao
e possibilidade de eliciar comportamentos que ocorrem com baixa freqncia
(Bandeira, 2002; Batista, 1996; Del Prette
Del Prette, 2006; Falcone, 1999; Gresham
cols., 2008; Kazdin, 1982).
Dada a amplitude de aplicao e
possibilidade de refinamento dos instrumentos de observao, especificamente
com desempenho de papis em situaes
estruturadas de avaliao de habilidades sociais, de suma importncia realar alguns
cuidados especiais na elaborao desse procedimento, conforme ressaltam Del Prette
e Del Prette (2006): (a) selecionar uma
amostra representativa dos comportamentos e das condies de ocorrncia; (b)
definir as dimenses e a unidade de anlise
do registro; (c) definir operacionalmente
as classes de comportamentos em observao; (d) obter a confiabilidade do registro
por meio de avaliadores independentes.
Atendendo esses critrios aumentam-se as
chances de alcanar a fidedignidade do instrumento. Quando a avaliao se baseia
na observao, a fidedignidade do registro
pode ser obtida por diferentes caminhos,
entre os quais, pelo ndice elevado de concordncia, aproximadamente ou acima de
80% (Cozby, 2003), quando pelo menos
dois avaliadores ou juzes observam e registram as mesmas classes de comportamentos.
Considerando, portanto, as demandas de repertrios mais elaborados de habilidades sociais profissionais em candidatos a
vagas de emprego e trabalhadores em geral,
a importncia de instrumentos refinados e
fidedignos na sua avaliao, a relevncia
dos procedimentos de observao por meio
de desempenho de papis, este estudo tem
como objetivos: (1) Elaborar situaes estruturadas de entrevista de emprego e ocorrncias do ambiente de trabalho; (2) Criar
e testar registros de observaes de desempenhos de habilidades sociais profissionais.
Metodo
Caracterizao dos participantes e do local
Revista Psicolog 59
de coleta de dados
Participaram 13 adolescentes de
classe socioeconmica baixa, sendo oito do
sexo masculino e cinco do sexo feminino,
com idade entre 14 e 16 anos (M=14,6;
dp=0,8), estudantes da 8a srie do Ensino
Fundamental (53,8%), 1a Srie (30,8%) e
2a Srie (15,4%) do Ensino Mdio. Os adolescentes aceitaram participar do estudo, assim como foram autorizados formalmente
por seus pais ou responsveis.
O estudo ocorreu em uma associao de utilidade pblica para adolescentes
com idade entre 14 e 17 anos em situao
de risco e de famlia de baixa renda. A
mesma se localiza em uma cidade do interior do estado de So Paulo com cerca de
220 mil habilitantes. O seu principal objetivo qualificar e inserir adolescentes no
mercado de trabalho por meio do Curso de
Aprendiz em Auxiliar Administrativo.
orar situaes estruturadas de entrevista de
emprego e de algumas ocorrncias no ambiente de trabalho que estabelecem demandas de habilidades sociais profissionais; (c)
Verificar com especialistas da rea a adequao das situaes para avaliao dessas
habilidades; (d) Instruir cada participante e
a auxiliar de pesquisa quanto s situaes
estruturadas que iriam vivenciar. A auxiliar de pesquisa recebia instruo detalhada
sobre o desempenho que se esperava, j ao
participante dava-se apenas detalhes sobre a
situao, solicitando-se que se comportasse
como se estivesse em uma situao real.
Os desempenhos nas situaes
estruturadas ocorreram em uma mesma
sesso, com aproximadamente 20 minutos
de durao, cada uma incluindo o tempo
utilizado para as instrues e a modificao do ambiente. Todas as situaes
foram filmadas e obedeceram seqncia:
(1) desempenhos em situao de entrevista
de emprego; (2) desempenhos de oferecer
Equipamentos, materiais e recursos hu- ajuda ao colega de trabalho; (3) desempenmanos
hos de lidar com crtica justa do supervisor.
Alguns equipamentos eletrnicos,
materiais e mobilirios foram utilizados:
filmadora analgica (marca Gradiente), fitas VHS, televiso, videocassete, computador, papel sulfite, canetas esferogrficas,
mesas e cadeiras mveis. Nas situaes
estruturadas contou-se com a colaborao
de uma auxiliar de pesquisa, devidamente
treinada, para desempenhar papis especficos na interlocuo com os participantes do
estudo.
A filmagem das situaes estruturadas foi analisada posteriormente para:
(a) selecionar componentes verbais, noverbais e paralingsticos das habilidades
sociais profissionais sob avaliao nessas
situaes; (b) definir operacionalmente categorias de habilidades sociais profissionais;
(c) eleger e definir uma escala de mensurao dessas categorias.
Os desempenhos foram avaliados
Procedimento de coleta e tratamento dos por dois pesquisadores independentes, com
dados
objetivo de verificar a concordncia entre
Os primeiros passos da coleta de os mesmos na identificao e avaliao das
dados consistiram em: (a) Identificar na categorias de habilidades sociais profissionliteratura habilidades sociais profissionais ais. O coeficiente de concordncia entre
importantes em situaes de entrevista de avaliadores foi obtido usando-se a frmula:
emprego e contexto do trabalho; (b) Elab- concordncia dividida pela somatria de
Revista Psicolog 60
concordncias e discordncias, multipli- de qual de vocs tem o perfil profissional
mais adequado, tanto para a funo quanto
cado por cem.
para a empresa. Faz algum comentrio
como Voc entendeu? Depois pede que o
Resultados
candidato se apresente e fale de sua formao escolar e experincia de trabalho.
Os dados obtidos foram agrupados Na seqncia, pergunta sobre os objetivos
em trs conjuntos: (1) Situaes Estrutu- e planos do candidato solicitando que ele
radas; (2) Registro de Observao de Ha- comente um pouco sobre o que gosta de
bilidades Sociais Profissionais; (3) Fidedig- fazer, em que atividade se avalia mais forte
nidade.
e em que no se avalia to forte, por que
ele est se candidatando a esse emprego e
o que espera com o trabalho. Coloca-se
1. Situaes Estruturadas
disponvel para responder a alguma perForam elaboradas e testadas trs gunta ou dvida e finaliza agradecendo o
situaes estruturadas com demandas de candidato e informando-o sobre breve conhabilidades sociais profissionais em: (1) en- tato.
frentar entrevista de emprego, (2) oferecer
ajuda ao colega de trabalho, (3) lidar com
crtica justa do supervisor. A descrio do Situao: cooperao no trabalho (adolescontexto e das instrues dadas aos partici- cente no papel de oferecer ajuda). O contexto dessa situao na sala da empresa,
pantes apresentada a seguir.
onde dois funcionrios do Departamento
Situao: entrevista de emprego (adoles- Financeiro desempenham suas tarefas em
cente no papel de candidato). O partici- suas respectivas mesas, com pequena dispante vivencia uma situao de entrevista tncia uma da outra. Aps a descrio da
de seleo para a funo de auxiliar admin- situao, o participante sob avaliao reistrativo desempenhando o papel de can- cebe a instruo de que deve oferecer ajuda
didato vaga. Um auxiliar desempenha ao colega de trabalho (auxiliar de pesquisa)
o papel de entrevistador, responsvel pelo que demonstra dificuldade de encerrar seu
Departamento de Recursos Humanos da expediente e certo nervosismo com o volempresa. Essa situao tem incio com o ume de tarefas (abre e fecha armrios, folentrevistador chamando o candidato para heia documentos). relatado que geralentrar na sala. Cumprimenta e aperta-lhe mente essa pessoa no aceita ou reluta
a mo, indicando a cadeira a sua frente. aceitar ajuda de algum e que ele deve se
Entrevistador e entrevistado ficam face-a- esforar para que seu colega aceite sua coface. O entrevistador se apresenta dizendo laborao. Separadamente, o outro funseu nome, funo, explicando o objetivo cionrio foi instrudo a no aceitar a ajuda
da entrevista e sua importncia para o pro- de imediato, aceitando-a inicialmente com
cesso de escolha. Faz algum comentrio relutncia somente aps tentativas convinQue bom, voc foi pontual!, e prossegue centes.
com a entrevista. Por exemplo: Eu vou
comear apresentando resumidamente a
importncia e o objetivo dessa entrevista Situao: crtica justa (adolescente no papara o processo de seleo vaga de aux- pel de criticado). Nesta situao um auxiliar administrativo. Cada etapa desse pro- iliar desempenha o papel de supervisor de
cesso traz elementos importantes sobre os um departamento e o participante, de funcandidatos, o que contribui na avaliao cionrio desse mesmo setor. Uma mesa
Revista Psicolog 61
e uma cadeira so utilizadas como sendo
a rea de trabalho do supervisor, que observa o funcionrio no site do orkut. O funcionrio no havia notado a presena do responsvel pelo departamento. O supervisor
de maneira firme chama a ateno de seu
funcionrio, repreendendo-o pelo uso indevido do computador durante o expediente
referindo-se a tarefas importantes por fazer.
Cabe ao funcionrio lidar com essa situao
considerada muito difcil, esperando-se que
admita a falha, desculpe-se e refira-se a mudana de comportamento.
2. Registro de Observao de Habilidades
Sociais Profissionais
Trs roteiros de registro, um para
cada situao, foram construdos e testados
para avaliao dos comportamentos, descritos em categorias de habilidades sociais
profissionais, durante a observao das filmagens. Esses roteiros foram denominados
de Registro de Observao de Habilidades
Sociais Profissionais (ROHSP). As categorias presentes em cada ROHSP envolvem
aspectos da forma (topografia) do desempenho das habilidades sociais profissionais,
organizadas em componentes verbais, noverbais e paralingsticos.
mudana de comportamento, expressar
opinio.
Para a avaliao, as categorias das
habilidades sociais profissionais so estimadas em uma escala tipo Likert de cinco
pontos: Totalmente insatisfatrio (1), Insatisfatrio (2), Nem satisfatrio nem insatisfatrio (3), Satisfatrio (4), Totalmente satisfatrio (5). As categorias dessas escalas
tambm foram definidas operacionalmente
para evitar subjetividade nas avaliaes e
discordncias como mostra a Tabela 2.
Como se v na Tabela 2, as categorias so avaliadas em termos da integrao
e coerncia entre caractersticas topogrficas do desempenho das habilidades sociais
profissionais.
3. Fidedignidade
Os ndices de concordncia entre
avaliadores em cada situao estruturada
so apresentados na Tabela 3.
Como se pode observar, o uso do
ROHSP para as trs situaes produziu
ndices de concordncia aceitveis, espeNa Tabela 1 so apresentadas as cialmente na situao de entrevista de emdefinies das categorias e escalas de men- prego, variando de 79,41% a 90,20%, o
surao padronizadas para a avaliao das que pode ser considerado satisfatrio em
termos da preciso/fidedignidade dos resulhabilidades sociais profissionais.
tados obtidos.
As categorias que compem os
ROHSP, conforme a especificidade de cada
uma das situaes so: (1) Enfrentar entrevista de emprego: saudar, apresentarse a outra pessoa, responder perguntas,
revelar-se, fazer perguntas, despedir-se; (2)
Oferecer ajuda ao colega de trabalho: iniciar conversao, expressar compreenso e
sentimentos, expressar opinio; (3) Lidar
com crtica justa do supervisor: desculparse, admitir erro, expressar inteno de
Consideraes Finais
Este estudo mostra a viabilidade de
aplicao de situaes estruturadas e de
elaborao de registros de observao na
identificao e avaliao de desempenhos
de habilidades sociais profissionais. Os resultados sugerem que tais procedimentos
so confiveis para a avaliao das categorias de habilidades sociais profission-
Revista Psicolog 62
ais propostas, particularmente, em contextos de entrevista de seleo de emprego e
condies especficas do ambiente de trabalho (oferecer ajuda e lidar com crtica
justa) e com dois tipos de interlocutores:
autoridade e colega de trabalho.
Diante da necessidade de planejar
uma avaliao do repertrio comportamental para acessar outros indicadores do desempenho social alm daqueles produzidos
por instrumentos de auto-relato, este estudo
disponibiliza um procedimento de observao em situaes estruturadas que elicia
o desempenho de algumas habilidades sociais profissionais, consideradas de difcil
avaliao sistemtica no recrutamento e seleo de pessoal, conforme constatado por
Gondim e cols. (2003).
fiveis, suas limitaes devem ser objeto
de pesquisas futuras, especialmente sobre
a questo da generalizao para a situao
real, influncia do sexo do interlocutor sobre o desempenho dos participantes e aplicao com diferentes populaes. Alm
disso, pode-se sugerir a ampliao das categorias de habilidades sociais profissionais
avaliadas neste estudo e outras formas de
registro de observao para prover procedimentos alternativos aos profissionais da
rea.
Referncias
Aguiar, A. A. R. (2006). Construo e avaliao de um programa multimodal de habilidades comunicativas para
adultos com deficincia mental. Tese de
Doutorado, Programa de Ps-Graduao
Os resultados deste estudo aten- em Educao Especial, Universidade Feddem aos requisitos de descrio minuciosa eral de So Carlos.
dos critrios de avaliao e aos cuidados
na elaborao de procedimentos de obArgyle, M. (1967/1994). Psicologia
servao fidedignos, conforme recomendadel comportamiento interpersonal. Madrid:
dos por Bandeira (2002), Del Prette e Del
Alianza.
Prette (2006), Del Prette e cols. (2006),
Dessen e Borges (1998), Gresham e cols.
Bandeira, M., (2002). Escala de
(2008), Kazdin (1982). Os cuidados na
avaliao
da competncia social de paconstruo dos registros de observaes e
na estruturao das situaes so impor- cientes psiquitricos atravs de desemtantes para gerar demandas de habilidades penho de papis - EACS. Avaliao Psisociais profissionais, valorizadas na seleo colgica, 2, 159-171.
de pessoal e no cotidiano das relaes de
trabalho, como referidas em alguns estudos
Bandeira, M. Quaglia, M. A. C.
(A. Del Prette Del Prette, 2001, 2003; Ar- (2005). Habilidades sociais de estudantes
gyle, 1967/1994; Bandeira Quaglia, 2005; universitrios: Identificao de situaes
Cmara cols., 2004; Cournoyer, 2007; sociais significativas. Interao em PsicoloGondim cols., 2003; Pereira, 2006; Pereira gia, 1, 45-55.
Del Prette, 2007; Pereira cols., 2004; Sarriera cols., 2006; Z. Del Prette Del Prette,
Bandeira, M., Machado, E. L., Bar2003).
roso, S. M., Gaspar, T. R. Silva, M. M.
(2003). Competncia social de psicticos:
Ainda que este procedimento de O comportamento de olhar nas fases de esobservao tenha produzido dados con- cuta e de elocuo de interaes sociais.
Revista Psicolog 63
Estudos de Psicologia, 3, 479-489.
Baron, R. A. Markman, G. D.
(2003). Beyond social capital: The role of
entrepreneurs social competence in their
financial success. Journal of Business Venturing, 18, 41-60.
Bastos, A. V. B. (2006). Trabalho
e qualificao: Questes conceituais e desafios postos pelo cenrio de reestruturao
produtiva. Em J. E. Borges-Andrade, G. S.
Abbad L. Mouro (Orgs.), Treinamento,
desenvolvimento e educao em organizaes e trabalho: Fundamentos para a gesto
de pessoas (pp. 23-40). Porto Alegre:
Artmed.
Del Prette, A. Del Prette, Z. A. P.
(2003). No contexto da travessia para o ambiente de trabalho: Treinamento de habilidades sociais com universitrios. Estudos
de Psicologia, 8, 413-420.
Del Prette, A., Del Prette, Z. A. P.,
Torres, A. C., Pontes, A. C. (1998). Efeitos
de uma interveno sobre a topografia das
habilidades sociais de professores. Psicologia Escolar e Educacional, 1, 11-22.
Del Prette, Z. A. P Del Prette,
A. (2003). Desenvolvimento interpessoal:
Uma questo pendente no ensino universitrio. Em E. Mercuri S. A. J. Polydoro (Orgs.), Estudante universitrio: CarBatista, C. G. (1996). Observao, actersticas e experincias de formao
registro e anlise de dados em situao (pp.105-128). Taubat: Cabral.
de interveno psicopedaggica. Revista
Brasileira de Educao Especial, 2, 41-51.
Del Prette, Z. A. P. Del Prette, A.
(2006). Avaliao multimodal de habiliCmara, S. G., Sarriera, J. C. Pizzi- dades sociais em crianas: Procedimentos,
nato, A. (2004). Que portas se abrem no instrumentos e indicadores. Em M. Banmercado de trabalho para os jovens em deira, Z. A. P. Del Prette A. Del Prette
tempo de mudanas? Em J. C. Sarriera, K. (Orgs.), Estudos sobre habilidades sociais
B. Rocha A Pizzinato (Orgs.), Desafios do e relacionamento interpessoal (pp. 47-68).
mundo do trabalho: Orientao, insero So Paulo: Casa do Psiclogo.
e mudanas (pp. 73-113). Porto Alegre:
EDIPUCRS.
Del Prette, Z. A. P., Casares, M.
I. M. Caballo, V. E. (2006). La evaluCournoyer, B. R. (2007). The social acin del repertorio de las habilidades sowork skills workbook. Belmont: Thomson ciales en nios. Em V. E. Caballo (Org.),
Brokks/Cole.
Manual para la evaluacin clnica de los
trastornos psicolgicos: Trastornos de la
edad adulta e informes psicolgicos (pp.
Cozby, P. C. (2003). Mtodos de
373-399). Madrid: Ediciones Pirmide.
pesquisa em cincias do comportamento.
So Paulo: Atlas.
Dessen, M. A. C. Borges, L. M.
(1998).
Estratgias de observao do comDel Prette, A. Del Prette, Z. A. P.
(2001). Psicologia das relaes interpes- portamento em Psicologia do Desenvolvimento. Em G. Romanelli Z. M. M. Biasolisoais: Vivncias para o trabalho em grupo.
Alves (Orgs.), Dilogos metodolgicos
Petrpolis: Vozes.
Revista Psicolog 64
sobre prtica de pesquisa (pp.
Ribeiro Preto: Legis Summa.
31-50). social and academic self-concept domains.
Journal of School Psychology, 38, 151-175.
Donohue,
B.,
Conway,
D.,
Beisecker, M., Murphy, H., Farley, A.,
Waite, M. cols. (2005). Financial management and job social skills training components in a summer business institute: a
controlled evaluation in high achieving predominantly ethnic minority youth. Behavior Modification, 29, 653-676.
Hueara, L., Souza, C. M. L., Batista,
C., Melgao, M. B. Tavares, F. S. (2006).
O faz-de-conta em crianas com deficincia
visual: Identificando habilidades. Revista
Brasileira de Educao Especial, 3, 351368.
Kazdin, A. E. (1982). Single-case
research designs: Methods for clinical and
Falcone, E. (1999). A avaliao de applied settings. New York: Oxford Unium programa de treinamento da empatia versity Press.
com universitrios. Revista Brasileira de
Terapia Comportamental e Cognitiva, 1, 23Lassance, M. C. Sparta, M. (2003).
32.
A orientao profissional e as transformaes do mundo do trabalho. Revista
Garcia-Serpa, F. A., Del Prette, Z. Brasileira de Orientao Profissional, 4, 13A. P. Del Prette, A. (2006). Meninos pr- 19.
escolares empticos e no-empticos: Empatia e procedimentos educativos dos pais.
Pereira, C. S. (2006). Habilidades
Revista Interamericana de Psicologia, 1,
sociais em trabalhadores com e sem defi73-84.
cincia fsica: Uma anlise comparativa.
Gondim, S. M. G., Brain, F.
Chaves, M. (2003). Perfil profissional, formao escolar e mercado de trabalho segundo a perspectiva de profissionais de recursos humanos. Psicologia: Organizaes
e Trabalho, 2, 119-152.
Dissertao de Mestrado, Programa de PsGraduao em Educao Especial, Universidade Federal de So Carlos.
Pereira, C. S. Del Prette, A. (2007).
Vendedor com Paralisia Cerebral bemsucedido: Anlise de um filme na perspectiva das habilidades sociais. Revista
Gresham, F. M., Cook, C. R., Brasileira de Orientao Profissional, 8, 87Crews, S. D. Barreras, R. (2008). Direct 91.
observation methods in clinical assessment.
Em D. Mckay (Org.), Handbook of research
Pereira, C. S., Del Prette, A. Del
methods in abnormal and clinical psycholPrette, Z. A. P. (2004). A importncia das
ogy (pp. 141-158). Thousand Oaks: Sage habilidades sociais na funo do tcnico em
Publications.
segurana do trabalho. Argumento, 6, 103113.
Gresham, F. M., Lane, K. L.,
Macmillan, D. L., Bocian, K. M. Ward,
Sarriera, J. C., Cmara, S. G.
S. L. (2000). Effects of positive and negBerlim, C. S. (2006). Formao e orienative illusory biases: Comparisons across
tao ocupacional: Manual para jovens
Revista Psicolog 65
zaes. Dissertao de Mestrado, Programa
de Ps-Graduao em Engenharia da ProVeiga, F. C. (2004). A autentici- duo, Universidade Federal de Santa Catarina.
dade das relaes interpessoais nas organiprocura de emprego. Porto Alegre: Sulina.
Revista Psicolog 66
Tabela 1. Definies das categorias de habilidades sociais profissionais
Categorias
Definies
(a)Caminha em direo ou volta-se ao entrevistador;
(b)Toma iniciativa pelo cumprimento ou responde (Exemplos: Bom dia;
Saudar
Boa tarde; Oi, como vai?);
(c)Mantm contato visual com breves interrupes;
(d)Apresenta expresso facial que demonstra cordialidade.
(a) Fornece indicaes da identidade pessoal (Exemplos: Meu nome __,
tenho __ anos...; Fao [ou fiz] o curso de...);
(b)Mantm contato visual com breves interrupes;
Apresentar-se a (c)Apresenta expresso facial que demonstra interesse com variaes na
outra pessoa
fisionomia (olhos, boca e sobrancelhas) condizentes com a situao
e o objetivo;
(d)Apresenta algumas variaes na postura corporal condizentes com a
situao (braos estendidos quando em p e sob as pernas quando
sentados, podendo variar a posio das pernas, cruzando-as ou lado a lado).
(a)Dirige-se ao colega de trabalho a guisa de puxar conversa (Exemplos:
Oi __, o que voc est fazendo?;____, em que ponto do trabalho
voc est?; Eu terminei minha tarefa...);
Iniciar
(b)Usa tom de voz audvel para o interlocutor;
conversao
(c)Mantm contato visual com breves interrupes;
(d)Apresenta expresso facial que demonstra interesse com variaes
na fisionomia
(olhos, boca e sobrancelhas) condizentes com a situao e o objetivo.
(a)Faz questionamentos relacionados vaga ou seleo (Exemplos:
Voc pode me falar mais sobre o emprego?);
(b)Utiliza uma comunicao clara, fluda, sem emprego excessivo
Responder
de chaves (n,ento, tipo assim);
(c)Usa tom de voz audvel para o interlocutor;
perguntas
(d)Mantm contato visual com breves interrupes.
(a)Fala sobre si mesmo, indicando pontos fortes ou fracos (Exemplos: Sou uma
pessoa ___, ___ e ___; Meus pontos fortes so: ___. E os fracos
so: __.),
Revelar-se
(b)Utiliza uma comunicao clara, fluda, sem emprego excessivo de chaves
(n, ento, tipo assim),
(c)Usa tom de voz audvel para o interlocutor,
(d)Mantm contato visual com breves interrupes.
(a)Diz ao colega de trabalho que reconhece seus sentimentos, dispondo-se
a ajud-lo (Exemplos: Estou vendo que voc est bem atarefado(a),
quer ajuda?; Entendo que voc Expressar
no se sente vontade em dividir suas tarefas, mas como temos urgncia
em encerrar o trabalho, penso que se voc aceitar a minha ajuda,
compreenso e poderamos concluir com mais rapidez);
sentimentos
(b)Usa tom de voz audvel para o interlocutor;
(c)Apresenta expresso facial que demonstra interesse com variaes na
fisionomia (olhos,boca e sobrancelhas) condizentes com a situao e o objetivo;
(d)Mantm contato visual com breves interrupes.
Revista Psicolog 67
Categorias
Definies
(a)Expe a sua idia, ainda que seja oposta a do interlocutor, de maneira
clara e firme
(Exemplos: O que eu penso que..; Eu vejo isso de outra maneira...);
Expressar
(b)Utiliza uma comunicao clara, fluda, sem emprego excessivo de chaves
(n, ento, tipo assim);
opinio
(c)Usa tom de voz audvel para o interlocutor;
(d)Controla a velocidade da fala para que esta no seja nem muito rpida nem
muito devagar.
(a)Fala sobre o desejo de corrigir seu comportamento (Exemplos:
"Isso no vai se repetir mais);
Expressar
inteno de
(b)Usa tom de voz audvel para o interlocutor;
(c)Mantm contato visual com breves interrupes;
mudana de
comportamento (d)Apresenta expresso facial que demonstra interesse com variaes na
fisionomia (olhos, boca e sobrancelhas) condizentes com a situao e o objetivo.
(a)Utiliza expresses verbais de escusa (Exemplos: Desculpe-me;
Perdoe-me; Foi mal);
Desculpar-se
(b)Usa tom de voz audvel para o interlocutor;
(c)Mantm contato visual com breves interrupes;
(d)Apresenta expresso facial que demonstra interesse com variaes na
fisionomia (olhos, boca e sobrancelhas) condizentes com a situao e o objetivo.
(a)Reconhece que cometeu alguma falha e expressa tal compreenso
(Exemplos: Realmente eu no devia ter feito isto);
Admitir erros
(b)Usa tom de voz audvel para o interlocutor;
(c)Mantm contato visual com breves interrupes;
(d)Apresenta expresso facial que demonstra interesse com variaes na
fisionomia (olhos, boca e sobrancelhas) condizentes com a situao e o objetivo.
(a)Estabelece algum contato fsico (aperto de mos/toque no brao ou ombro)
como resposta ao cumprimento do interlocutor;
Despedir-se
(b)Mantm contato visual com breves interrupes;
(c)Usa expresses verbais (Exemplos: Adeus, At logo) ou comunicao
no-verbal (movimento de cabea, gestualidade), indicativos de encerramento
de contato;
(d)Apresenta expresso facial que demonstra cordialidade.
Revista Psicolog 68
Tabela 2. Definio da escala de mensurao das categorias de habilidades sociais profissionais
Escala
Pontuao Definio
Totalmente Insatisfatrio
1
O participante no apresenta nenhum dos critrios.
Insatisfatrio
O participante no apresenta 3 dos 4 critrios.
Nem Satisfatrio
Nem Insatisfatrio
O participante no apresenta 2 dos 4 critrios.
Satisfatrio
O participante no apresenta 1 dos 4 critrios.
Totalmente Satisfatrio
O participante apresenta os 4 critrios
da definio da categoria.
Tabela 3. Concordncia entre avaliadores em cada especificidade situacional dos ROHSP
ROHSP
Indice de Concordncia (%)
Entrevista de emprego
90,20
Oferecer ajuda ao colega de trabalho
82,35
Lidar com crtica justa do supervisor
79,41
Revista Psicolog 69
Proposta de interpretao de operantes verbais na relao
terapeuta-cliente, demonstrada em caso de dor crnica
Rodrigo Nardi1 , Sonia Beatriz Meyer1
1
Departamento de Psicologia Clnica da USP
Resumo. Este estudo apresenta uma proposta de interpretao da relao
terapeuta-cliente, baseada nos operantes verbais descritos por Skinner em Verbal Behavior, capaz de evidenciar variveis sutis no controle do comportamento
da dade teraputica. A coleta de dados foi realizada com uma cliente que apresentava queixas de dor crnica, em trs sesses gravadas e atravs de informaes adicionais provenientes de sesses no gravadas e de contatos com a
me da cliente. A interpretao foi realizada descrevendo-se a interao em
termos de operantes verbais e inferindo-se possveis funes para as falas analisadas. Embora baseada em interpretaes e inferncias, o mtodo demonstrouse til na identificao de variveis de controle do comportamento do terapeuta
e da cliente.
Palavras chave: comportamento verbal; relao teraputica; interpretao funcional.
A complexidade do processo psicoteraputico se reflete nas variadas formas
de realizar pesquisa em psicoterapia. O
mtodo utilizado costuma estar relacionado
aos aspectos do processo psicoteraputico
que se deseja analisar. Para Martin e Bateson (1986) o comportamento uma seqncia contnua de eventos, o que faz da diviso
em unidades ou categorias e a subseqente
definio dos aspectos relevantes a cada categoria, um pr-requisito para a mensurao
do comportamento.
No entanto o interesse pode estar
centrado no apenas nas unidades ou categorias de uma dada seqncia de eventos
comportamentais, mas na seqncia propriamente dita. No exemplo especfico
da psicoterapia, a relevncia pode residir
na forma como uma seqncia de eventos
comportamentais, emitidas por um organismo, afeta a seqncia de eventos comportamentais emitidas por outro organismo. A complexidade do evento exacerbada considerando-se que se trata de
uma interao verbal que permite que um
mesmo evento ocorra segundo inmeras topografias.
Neste sentido a categorizao ou
agrupamento de dados ps-coleta pode ser
considerada uma alternativa na conduo
de estudos de caso capaz de evidenciar variveis complexas no controle do comportamento.
O interesse em agrupar e descrever
eventos vem dos benefcios obtidos quando,
descrevendo-se um evento torna-se possvel
comportar-se em relao a ele de maneira
mais eficaz. Como quando se descreve a
natureza e diz-se que vero, inverno, outono ou primavera. A natureza no vero
ou inverno, mas apenas . O comportamento do falante (aquele que descreve a natureza) que vero ou inverno, pois este
descreve a natureza como vero ou inverno,
e muda seu comportamento a partir desta
descrio. Este um exemplo de agrupamento de eventos ps-coleta de dados.
Revista Psicolog 70
E como tal, controlado de maneira eficaz por variveis do ambiente, que podem
parecer um tanto quanto arbitrrias. Duas
estaes do ano so definidas por temperaturas marcantes, as outras duas, por eventos
botnicos, como a queda de folhas ou o
surgimento de flores. No entanto, esta classificao permite ao observador/ nomeador
comportar-se de maneira efetiva no ambiente, estocando alimentos em dada poca,
plantando em outra, por exemplo.
Da mesma forma, eventos relevantes em psicoterapia podem ser selecionados antes de uma coleta ou anlise
de dados, como por exemplo, quando o
pesquisador tem interesse em expresso de
emoes, e define este evento como uma
situao na qual o cliente... e em seguida
procura por esta topografia. Tendo-se o exemplo das estaes do ano, o pesquisador,
primeiramente pode expor-se ao estmulo
do material coletado ou situao a ser estudada, para em seguida, como supostamente
ocorreu com o homindeo que primeiramente deu nomes s estaes do ano,
nomear e responder aos eventos observados, claro, sob controle destes.
As variveis de controle podem ser
fsicas, como objetos, eventos ou pessoas;
podem ser condies de privao ou estimulao aversiva; e podem ser outro operante verbal, ou registro grfico ou de udio
deste. O operante verbal que funo do
ambiente fsico ou do mundo das coisas
e eventos sobre os quais fala um falante
(Skinner, 1957, p.81) chamado de tato.
Como definiu Skinner (1957), o tato
um operante verbal que emitido ou pelo
menos tem sua probabilidade de ocorrncia aumentada por um objeto, evento ou
propriedade destes. A probabilidade de
ocorrncia aumentada ocorre devido ao fato
de que, pelo menos na aquisio, um dado
operante verbal caracteristicamente reforado por uma comunidade verbal, na
presena de um dado estmulo.
A comunidade verbal desempenha
papel crucial na aquisio do tato, pois a
relao entre o operante e o estmulo que
ele tateia arbitrria, ou seja, no existe
uma correspondncia entre o operante e o
estmulo, salvo nas onomatopias. Logo a
comunidade verbal refora o indivduo de
acordo com prticas comuns, como chamar
Retornando ao comportamento ver- um automvel de carro e o indivduo debal, o primeiro aspecto a ser ressaltado a pende da consistncia com que isto feito
este respeito, tal qual postulado por Skinner para adquirir tatos adequados.
(1957) o fato de que o operante verbal e
sua probabilidade de ocorrncia podem ser
O tato tambm reforado por oute geralmente so funo de mais de uma
ras conseqncias menos explcitas que o
varivel, e uma nica varivel geralmente
reforamento condicionado, como afirma
afeta mais de uma resposta. Isto tratado Skinner (1957) classificando corretamente
por Skinner (1957) em termos de causal- um objeto, o falante pode comportar-se
idade mltipla. O autor exemplifica isto mais apropriadamente em relao a ele
afirmando que o operante fogo pode ser,
(p.86). Isso pode ser exemplificado com
em termos leigos, uma descrio de uma
dois objetos que possuem muitos aspectos
situao como a casa est pegando fogo ou propriedades em comum como a telee pode ser ao mesmo tempo um aviso como viso e o monitor de computador. Sendo
fuja. Ambos so bastante provveis de capaz de tate-los distintamente, mesmo
ocorrer ante as mesmas condies.
que um monitor estivesse sobre uma es-
Revista Psicolog 71
tante em uma sala de estar, dificilmente o
falante tentaria mudar os canais na tela.
J o operante verbal sob controle
de privaes ou estimulao aversiva
chamado por Skinner (1957) de mando.
Skinner (1957) afirma que o mando estabelecido quando uma resposta caracteristicamente reforada de uma dada forma
e a probabilidade de ocorrncia deste operante torna-se funo da privao associada
com o reforo caracterstico. Este reforo,
por sua vez, deve ser mediado por outro
membro da mesma comunidade verbal, no
caso chamado de ouvinte.
Skinner (1957) afirma que conveniente que se diga que o mando especifica seu reforamento e a ao do ouvinte
para obt-lo, como em passe o sal. A
sua caracterstica definidora, no entanto,
no esta, visto que um dado operante no
pode ser considerado mando apenas por
sua forma (Skinner, 1957), mas o fato j
mencionado de que este controlado por
estimulao aversiva ou privao. Skinner
(1957) classificou os mandos segundo alguns aspectos do contexto em que ocorrem:
Pedido ou solicitao: neste mando
o ouvinte , por outras contingncias, motivado a reforar o falante.
Um exemplo o pedido de restaurante, no qual o garom est motivado a atender o fregus por razes
que no esto envolvidas no episdio verbal em que ocorre o mando.
Ordem: Neste mando h implcita
uma ameaa ao no cumprimento
do que especificado no episdio
verbal. Ela ocorre, por exemplo, nas
ordens dadas por policiais no trnsito, como encoste o carro. Atender ao mando cessa a ameaa.
Splica (apelo): Este mando reforado por gerar no ouvinte uma
predisposio emocional a atendlo.
Questo: Mando que especifica uma
ao verbal como reforador.
Conselho: mando no qual, o ouvinte, ao executar a ao especificada pelo mando, tem esta ao reforada sem a mediao do falante.
Aviso: Mando no qual o ouvinte,
ao atuar da maneira especificada
pelo falante, escapa de estimulao
aversiva, no proporcionada pelo
falante.
Permisso: Quando o ouvinte est
inclinado a fazer algo, mas refreado por uma ameaa fornecida
pelo falante, o mando que supre a
ameaa a permisso.
Oferta: quando um reforamento
gratuito ampliado ou ressaltado
pelo falante, como em leve uma
amostra grtis.
Quando um mando ocorre juntamente com um tato, como no primeiro exemplo fogo significando o tato a casa
est pegando fogo e o mando fujam, o
operante verbal em questo denominado
tato impuro.
Outra categoria de interesse o operante intraverbal, que o operante verbal sob controle de outro operante verbal.
Esta condio atendida desde que no
haja correspondncias entre a forma de ambos, e nem uma correspondncia que Skinner (1957) chamou de ponto-a-ponto, como
quando a palavra escrita tapete apresenta
correspondncia entre ta escrito e ta
falado, e pe escrito possui correspondncia com pe falado, o que excluiria comportamentos puramente ecicos e leitura.
adquirido quando um estmulo
verbal sinaliza a ocasio sob a qual um
dado operante verbal reforado (Skinner,
1957). Um exemplo fornecido por Skinner
Revista Psicolog 72
(1957) quando o operante quatro emi- iveis de controle do comportamento vertido como resposta a dois mais dois so bal, procede-se uma anlise de um trecho de
(p.71).
um romance. Neste exemplo dois homens
conversam, em meados de 1930, em um
bairro Americano, de etnia predominanteSkinner (1957) aponta para o fato de
mente italiana.
que o operante intraverbal controlado por
variveis temticas, definindo estas ltimas
como variveis capazes de tornar provvel a
O primeiro homem, (Vito) pede
ocorrncia de um grupo de respostas. Estas um favor ao segundo (signor Roberto) em
respostas precisam ocorrer freqentemente nome de uma amiga de sua esposa (esposa
juntas como em ditados populares ou le- de Vito). O favor se trata de revogar um detras de msica. O controle intraverbal pode spejo efetivado pelo signor Roberto, que
ser observado claramente em cadeias lon- proprietrio de apartamentos naquela rea.
gas de resposta como o Hino Nacional, por O despejo fora realizado, pois a inquilina
exemplo, ao ler ou ouvir ptria amada, possua um co que incomodava os vizidolatrada a resposta salve, salve torna- inhos. Primeiramente o signor Roberto
se mais provvel.
recusa o favor alegando que j alugou o
apartamento por um valor maior, ao que
Vito se prontifica a cobrir esta diferena,
H ainda o autocltico que foi
definido por Catania (1999) como o com- mas em troca pede ao signor Roberto que
portamento verbal que depende de e modi- aceite tambm o co como inquilino. O signor Roberto se ofende e rspido com Vito.
fica os efeitos de outro comportamento verEnto Vito fala:
bal. Podem ser de dois tipos, o relacional e
o descritivo. Este ltimo de especial interesse para este trabalho. Este operante ver- Estou apenas pedindo isso.
bal descreve ou tateia parte das condies Nunca se sabe quando se vai precisar de
nas quais o falante emite um dado operante um amigo, no verdade? Receba este
verbal como em com satisfao que lhe dinheiro como sinal de minha boa vontade
informo que voc foi premiado ou isto e tome sua prpria deciso. Eu no me
que vou dizer agora segredo ou isto que atreveria a brigar por causa disso. (Puzo,
eu disse segredo. Como j visto na sua 1981, p.232).
definio, o ltimo exemplo modifica os
efeitos do que ser dito em seguida ou do
Embora tenha sido fornecido um
que foi dito h pouco, fazendo com que o contexto a esta fala, este contexto est ainda
ouvinte guarde segredo ou, dependendo
pouco claro, e torna o pedido at bastante
de sua histria, faa uma fofoca.
ousado. interessante notar que o personagem signor Roberto tem acesso a apenas
Voltando causalidade mltipla, este contexto tambm, ou seja, um estranho
este aspecto do comportamento verbal lhe o aborda na rua e pede um favor atpico, e
garante a riqueza e a complexidade vis- Roberto reage pouco amistosamente.
tas nas interaes humanas, e conseqentemente na terapia.
Agora procede-se a interpretao
da fala de Vito, de maneira possivelmente,
Para ilustrar os efeitos da causal- bastante parecida que fez o personagem
idade mltipla, ou seja, das sutis var- signor Roberto aps informar-se acerca de
Revista Psicolog 73
Vito. A varivel relevante e que no ev- informaes acerca da identidade de Vito
idente na fala de Vito diz respeito sua Corleone.
histria. O personagem em questo chamase Vito Corleone, a quem, na obra de Mrio
Dois tipos de interpretao foram
Puzo (1981), chamavam de padrinho ou
feitas neste trecho do romance, uma conDon Corleone, um chefe da mfia.
siste em procurar em cada fala, os operantes
verbais, segundo definiu Skinner (1957),
Com estas informaes adicionais que podem ser reconhecidos. Isso pode ser
possvel realizar uma interpretao da feito perguntando-se e se fosse um tato?
fala de Vito. Em nunca se sabe quando ou se fosse um mando, qual seria? Em
se vai precisar de um amigo, no ver- outras palavras, utilizando-se das funes
dade? fica evidente um autocltico em reconhecidas por Skinner (1957) como guia
no verdade? e outro que refere-se da interpretao. A outra forma de interao fato de que o signor Roberto ofendeu-se pretao, derivada da primeira, consiste
com a proposta (no era minha inteno em fornecer falas alternativas que tivessem
ofender). Talvez pudesse ser substitudo mais ou menos o mesmo efeito, ou funo.
por no se ofenda, e no me ofenda ou
ainda, mais evidentemente a uma troca de
Estas duas formas de interpretao
favores como em troca fico lhe devendo podem ser transportadas para a prtica
um favor. Nesta pequena descrio pode- clnica e para o estudo desta prtica ou,
se ver um autocltico, um tato (estar em em outras palavras, para o estudo da indvida) e um mando (no se ofenda).
terao terapeuta-cliente. Desta forma, o
pesquisador poderia produzir mais estmuPela correspondncia temtica en- los discriminativos para seu prprio comtre amigo e inimigo pode-se ainda in- portamento, e assim comportar-se mais efeferir que se trata de um mando do tipo tivamente em relao interao verbal
no se torne meu inimigo ou um tato im- pesquisada, tanto na posio de pesquisador
puro como melhor no tornar-se meu in- quanto na de terapeuta.
imigo. Estas duas ltimas inferncias so
possveis devido ao fato de que a fala pode
Outro conceito de relevncia para
ser interpretada como faa o que peo e
o presente estudo o de resistncia. A reserei seu amigo em um momento em que o sistncia foi definida como uma relao na
signor Roberto negava-se a fazer o pedido, qual o cliente no faz algo que esperado
incorrendo inevitavelmente na inimizade de ou desejado pelo terapeuta (Cautilli ConDon Corleone.
nor, 2000). Newman (2002) descreve topografias de comportamentos que indicam
A ameaa fica patente, caracteri- resistncia em terapia, sendo de interesse
zando a fala como uma ordem, quando para este estudo os seguintes:
Don Corleone diz eu no me atreveria
a brigar por causa disso, talvez dizendo
1. Recusa ou outras falhas em aderir
ocorreu-me brigar por causa disso. A
s tarefas de casa (mais provvel
consistncia do romancista com as sutilezas
de ocorrer em terapias cognitivodo comportamento verbal surpreendente,
comportamentais).
e demonstra isso na retratao que signor
2. Esquivas durante a sesso, tais
Roberto faz ao entrar em contato com as
como silncio prolongado, uso ex-
Revista Psicolog 74
cessivo da resposta no sei s perguntas do terapeuta, mudana brusca de assunto quando este se refere a um problema importante e a
no conscincia declarada de experincias que se mostram escandalosamente aparentes ao terapeuta
ou a outros observadores na vida do
cliente.
3. Interrupes mal informadas da terapia ou intercalaes das sesses,
utilizando-as apenas em resposta
a crises.
Repetir um quadro
nas sesses, de modo a adotar
uma declarao simblica de independncia, evitando comunicao
direta com o terapeuta ao no
retornar as ligaes e, deixando
abruptamente a terapia antes que as
questes substantivas sejam discutidas.
anos, do sexo masculino, formado em Psicologia, com especializao em terapia
comportamental e aproximadamente dois
anos de atuao em psicologia clnica da
sade, o qual realizou tambm a anlise dos
dados.
Uma cliente do sexo feminino com
21 anos de idade, segundo grau completo,
encaminhada terapia por profissional da
rea da medicina que foi consultado pela
cliente para tratamento de dor em ambos
os flancos, referidas como dores renais, de
etiologia no especificada. Estava em psicoterapia por aproximadamente seis meses
e concordou em participar do estudo, assinando um consentimento informado.
Procedimento para coleta de dados
Foram registradas em fitas cassete
Para Guilhardi (2002), a resistncia trs sesses semanais de psicoterapia. O
vista como
contedo das sesses foi transcrito, e as
falas do terapeuta e da cliente foram idenuma forma de relao de cont- tificadas com T e C, respectivamente, e nurole e contra-controle que se observa en- meradas na ordem em que ocorreram.
tre os comportamentos do cliente e as
contingncias de reforamento manejadas
Adicionalmente foram arroladas
pelo terapeuta. Diante das contingncias as informaes acerca da cliente, de seu
comportamentais dadas pelo terapeuta, o comportamento e de sua queixa, segundo
cliente apresenta comportamentos de fuga- sesses no gravadas e segundo inforesquiva, de extino ou de punio dos maes fornecidas pela me da cliente, de
comportamentos do terapeuta (p. 134).
maneira a obter uma descrio dos contexO objetivo deste trabalho oferecer tos especficos em que ocorrem as queixas
um modelo de sistematizao da interpre- de dor da cliente e traar hipteses acerca
tao da interao psicoteraputica, capaz da funo destas queixas.
de evidenciar variveis sutis de controle do
comportamento, a partir de fragmentos de Procedimento para tratamento dos dados
interao entre terapeuta e cliente.
Metodo
Participantes
Um terapeuta / pesquisador, de 26
O primeiro passo foi identificar nas
sesses transcritas os fragmentos (portanto
interaes entre terapeuta e cliente) considerados relevantes. A escolha destes
fragmentos relevantes foi feita, inicial-
Revista Psicolog 75
mente, de maneira subjetiva, ou seja, no
haviam critrios pr-estabelecidos do que
o pesquisador estava procurando. Assim, o comportamento do pesquisador ficou
sob controle do material gravado e destas
mesmas sesses transcritas. A conseqncia natural deste processo foi a escolha de
fragmentos que embora no apresentassem
sempre uma correspondncia topogrfica,
apresentavam uma equivalncia em termos
de funes. Procurando os aspectos funcionais em comum dos fragmentos selecionados, descobriu-se que estes eram os
que, de alguma maneira, ilustravam respostas de resistncia emitidas pela cliente.
A continuidade do trabalho com estes fragmentos justificou-se pelo fato de que a resistncia constitui-se do correlato tcnico
em psicoterapia, de comportamentos apontados como hostis e belicosos na literatura
do tratamento da dor (Teixeira, Correa Pimenta, 1994). As ocorrncias de resistncia selecionadas constituem-se, principalmente de respostas de esquiva, emitidas
pela cliente.
Tendo identificado os fragmentos designados de resistentes, verificouse que havia momentos em que havia respostas no resistentes. Estas respostas
tambm foram selecionadas e analisadas.
Em seguida procurou-se olhar que variveis pareciam estar associadas s formas distintas de participao da cliente.
Encontrou-se como uma das possveis influncias as intervenes do terapeuta, e
duas delas foram selecionadas para anlise:
confrontaes e descrio de relaes entre eventos (anlises funcionais). A outra
hiptese de influncia se relacionou aos
temas abordados.
A seguir, tendo-se identificado os
fragmentos relevantes, procedeu-se uma
descrio das falas dos referidos fragmentos em termos de operantes verbais e de
provveis funes que apresentavam. O
resultado desta analise foi comparado aos
operantes de dor e suas provveis funes,
deduzidas a partir de outras sesses no
gravadas, de contatos com a me da cliente
e da anlise funcional destes dados.
Aps a interpretao em termos de
operantes verbais das falas dos fragmentos
selecionados, procedeu-se criao de falas
que reproduzissem as provveis funes
das originais, excluindo-se o tema no qual
inseriam-se, sempre que possvel.
As peculiaridades de cada fragmento submetido a estas duas formas de
interpretao e que emergiam a partir
destas, foram descritas e inseridas aps
cada fragmento, na seo de resultados
deste trabalho, sob o ttulo comentrios
e constituem-se um dos ltimos passos do
tratamento dos dados. Tambm a cada fragmento interpretado esto notas explicativas
do tema e do contexto de cada interao,
que foram inseridas para viabilizar a compreenso do fragmento.
As informaes que o terapeuta possua do caso provenientes de outras sesses
no gravadas e de contatos com a me da
cliente foram arroladas e inseridas na seo
Resultados principalmente na forma de
contingncia de trs termos, e referemse a possveis funes do comportamento
de dor. Outras informaes destas fontes
foram inseridas nos comentrios e nas
notas de cada fragmento, ambos descritos
na seo resultados.
Procedeu-se ento identificao
das intervenes do tipo confrontao do
terapeuta, definidas como capacidade de
perceber e comunicar ao outro certas discrepncias ou incoerncias em seu comportamento - distncia entre o que ele fala
Revista Psicolog 76
e faz, entre o que ele fala e o que na
realidade, entre o que ele fala e mostra
(Miranda Miranda, 1993) e, a seguir, registradas e analisadas as reaes da cliente a
estas intervenes. O mesmo tratamento foi
dado s intervenes que envolviam a descrio de relaes entre eventos, ou seja,
intervenes que envolviam a descrio de
contingncias de reforamento. Estas intervenes foram escolhidas por consistirem
aes do terapeuta que geravam ora respostas resistentes, ora respostas no resistentes.
atividades sociais.
4. Relao com os pais: este tema
refere-se a fragmentos nos quais o
terapeuta e/ ou a cliente falam sobre
a relao desta com seus pais e assuntos tematicamente relacionados.
5. Queixas de dor: este tema referese a fragmentos nos quais o terapeuta e/ ou a cliente falam sobre
as queixas de dor desta e assuntos
tematicamente relacionados, como
limitaes impostas pela dor, caractersticas das queixas e tratamentos.
Resultados
Para a anlise relativa aos temas,
tanto as intervenes quanto as respostas
Breve relato de aspectos relacionados ao
de resistncia foram nomeadas segundo os
incio da terapia e da queixa principal.
temas nos quais se inseriam, tais temas
Foram realizados contatos com a
emergiram aps a anlise dos dados. Os
me da cliente no incio da terapia. Esta
temas so:
relatou preocupaes com a vida social da
filha, afirmando que esta no possua ami1. atividades sociais: este tema refere- gas, e que nunca havia namorado ou tido
se a fragmentos nos quais o ter- relaes com pessoas do sexo oposto de
apeuta e/ ou a cliente falam so- qualquer natureza. Afirmou tambm susbre as amizades e relaes afetivas peitar que esta simulasse queixas de dor em
desta, ou a assuntos tematicamente determinadas ocasies, como aquelas que
relacionados, como sentimentos de sinalizavam que a cliente ficaria sozinha
solido ou isolamento.
em casa.
2. atividades profissionais: este tema
refere-se a fragmentos nos quais o
Os dados relativos vida social
terapeuta e/ ou a cliente falam sobre
emprego, procurar emprego, empre- e amorosa da cliente foram espontaneagos passados e assuntos tematica- mente ratificados por esta ao incio da termente relacionados, como dificul- apia. Aps cinco meses aproximadamente
dades de trabalhar, ou limitaes a cliente forneceu nova verso a estes fatos
da cliente acerca do desempenho de nos quais narrou uma vida social e amorosa
bastante ativa, fatos estes que ocultava
determinadas tarefas.
dos pais. Porm, a cliente relatou que as
3. emoes acerca da ausncia da
irm: este tema refere-se a frag- suas atividades sociais haviam de fato cessado, com o incio das queixas de dor, bem
mentos nos quais o terapeuta e/ ou
como as atividades profissionais, escolares
a cliente falam sobre as emoes
e amorosas.
relacionadas ao casamento da irm
desta. Este tema apresenta uma particularidade relacionada anlise
O terapeuta, durante o curso da terdas falas, que o fato dele ser apia procurou abordar, dos operantes emitematicamente relacionado ao tema tidos ou relatados pela cliente, aqueles que
Revista Psicolog 77
possuam conseqncias similares aos com- chamou de reforamento iatrognico, ou
portamentos de dor, evitando abordar as seja, que a ateno fornecida pele terapeuta
queixas de dor propriamente ditas, com a atuasse como reforador das queixas de dor.
finalidade de evitar o que Fordyce (1976)
Funes do comportamento de dor da cliente segundo relatos da me e sesses no
transcritas
Comportamentos de dor, segundo relatos da me da cliente
Antecedentes
Respostas
Os pais da cliente Queixas de dor.
saindo de viagem. Queixas de tontura
Desmaio
Conseqncias
Pai decide adiar a viagem.
Pai decide levar a cliente.
(hostilidades por parte da me).
Possveis funes: esquiva da situao ficar s.
Os pais da cliente saindo Queixas de dor. Os pais cancelam a visita.
para visitar a av.
Possveis funes: esquiva da situao ficar s.
Os pais da cliente saindo Queixas de dor. Os pais levam a cliente
para um passeio.
consigo
Possveis funes: esquiva da situao ficar s.
Comportamentos de dor relatados pela cliente em sesses transcritas
Antecedentes
- Cliente em situao
de exame mdico
- Sesses de fisioterapia
focalizadas em hiptese
diagnstica de anomalias
na coluna.
- Exame de tomografia
computadorizada.
Respostas
Conseqncia
Queixas de dor.
Cuidados
(o mdico apalpa o rim). Choro
Tontura
Possveis funes: Obter ateno individualizada.
Quando em ambiente de Queixas de dor. Cuidados
trabalho (hospitalar)
consigo
Revista Psicolog 78
Possveis funes: esquiva das atividades profissionais. Obter ateno individualizada.
Comentrios
Embora a me preocupe-se ou queixe-se de
que a cliente no apresente uma vida social
ativa, as presses familiares para que esta
o faa so suprimidas diante das queixas
de dor. Isso no precisa envolver episdios
especficos, necessrio apenas que no
ocorram, no cotidiano da cliente, presses
familiares para que ela encontre amigos,
parentes, etc.
Nos comportamentos que envolvem
esquiva da situao ficar s possvel
afirmar que, embora a funo principal seja
uma esquiva, existem reforadores positivos disponveis aos operantes apresentados neste contexto. Estes reforadores
podem envolver as conseqncias apresentadas pelos pais nestes momentos especificamente.
Anlise de fragmentos de sesso que ilustram resistncia
possvel tambm que os comportamentos de dor, de uma maneira geral e
mais ou menos contnua, operem no ambiente a reduo de contingncias coercitivas.
Para exemplificar, pode-se citar o fato de
no haverem exigncias por parte dos pais
da cliente de que esta procure um emprego.
Devido extenso das anlises de
fragmentos de sesso, apenas trs sero
apresentados, dois relativos a emoes da
cliente acerca da ausncia da irm e um sob
o tema atividades profissionais.
Fragmento 11 : Tema emoes acerca da ausncia da irm ou atividades
sociais.
7T: Como voc est?
7C: estou bem.
8T: O que contas de novo?
8C: De novo nada, s que estou com saudade da minha irm. emociona-se
9T: mesmo? em tom grave
9C: Srio.
10T: Tua irm estava a?
10C: Tava nada!
Interpretao segundo as unidades funcionais verbais
Interpretao em termos de provveis funes
1 Nota: A cliente refere-se em 8C (De novo nada, s que estou com saudade da minha irm) ao fato de que poca da gravao da
sesso a sua irm havia casado e sado de casa para morar com seu marido. A irm da cliente constitua-se de uma de suas principais
fontes de reforamento social, visto que a cliente possua vida social bastante restrita. Considera-se que tenha ocorrido resistncia
neste fragmento devido ao fato da cliente, em 9C (Srio) no dar continuidade ao seu relato de sentimentos acerca da ausncia de sua
irm, iniciado em 8C (De novo nada, s que estou com saudade da minha irm).
Considera-se que tenha ocorrido resistncia neste fragmento devido ao fato da cliente, em 9C (Srio) no dar continuidade ao seu
relato de sentimentos acerca da ausncia de sua irm, iniciado em 8C (De novo nada, s que estou com saudade da minha irm).
Revista Psicolog 79
Falas
7T: Como voc est?
Unidades funcionais verbais
Mando (questo) especificando como
reforador o relato de estados internos.
7C: Estou bem.
Devido s falas seguintes pode-se inferir
que se trata de um intraverbal forte
(Como vai? bem) e de um tato fraco
(estar bem).
8T: O que contas de novo?
Mando com a mesma funo de 7T
(questo), mas especificando como
reforador o relato de eventos recentes.
8C: De novo nada, s
Novamente um tato e intraverbal, mas
que estou com saudade
as propriedades de tato so mais fortes
da minha irm (emociona-se). desta vez, pois a cliente introduz um
assunto novo, com a propriedade
solicitada em 8T, o evento recente.
9T: mesmo?
Mando (questo).
9C: Srio
A forma de tato, mas apresenta
propriedades de mando, na medida em
que se considera a sua brevidade como
indicativa da inteno de mudar de
assunto.
10T: Tua irm estava a?
Mando (questo) controlado
possivelmente pelas propriedades do
mando da cliente em 9C de mudar de
assunto.
10 C: Tava nada!
Forma de tato.
Falas
7T: Fale de voc.
8T: Conte-me algo novo.
Unidades funcionais verbais
7C: No gostaria de fazer isso.
8C: No gostaria de fazer isso. Estou
sentindo X
9T: Continue.
9C: No gostaria de fazer isso.
10T: Ento vamos mudar de assunto. 10C: Ok.
Comentrios: Pode-se dizer que o mando
que ocorre em 7T (Como voc est?) especifica como reforador o relato de eventos internos, pois na comunidade verbal em
que se inserem o terapeuta e a cliente, este
relato de eventos internos o reforo caracterstico de mandos como o mencionado.
Esta histria refere-se ao fato de C ter emitido vrios pedidos ao terapeuta para que
este no ficasse em silncio. Para o comportamento do terapeuta, pode-se entender
9C (Srio) como sinalizador de ocasio para
desfocar do assunto emoes de C.
Para o comportamento da cliente,
Esta seqncia de eventos carac- a fala 9C (Srio) pode ter sido reterizada por representar a histria de re- forada negativamente, dada a mudana de
foramento do terapeuta com a cliente C. foco em 10T (de emoes para a irm),
Revista Psicolog 80
Em um primeiro vislumbre da interao, sem a verificao de que outros eventos se apresentam com o mesmo desfecho,
poderia-se inferir que o terapeuta fosse o
causador da mudana temtica. No entanto
a anlise demonstra que so as falas monossilbicas da cliente aliadas ao pedido desta
de que no se fizesse silncio nas sesses, as
operaes estabelecedoras para a ocorrncia do mando vamos mudar de assunto
Em 9C (Srio) a brevidade pode ser
em 10T (Tua irm estava a?).
considerada como indicativa da inteno
de mudar de assunto na medida em que
Os mandos emitidos pelo terapeuta,
se considera que a resposta caracteristicamente dada a mandos como 9T ( mesmo?) neste trecho, so do tipo questes, pois esno contexto em que ocorreram usualmente pecificam aes verbais como reforadores.
mais longa.
considerando-se o falar de emoes uma
situao aversiva. Por outro lado, a mesma
resposta (e as anteriores que se referiam a
emoes) pode ter sido punida, se sua brevidade for considerada, no resultado de
punies, mas falta adequada de repertrio.
Desta forma, 10T (Tua irm estava a?)
teria punido um pequeno progresso.
Fragmento 22 . Tema emoes acerca da ausncia da irm
15 T: (Saudade) dela?
15 C: Faz falta...
16 T: .
16 C: ( )
17 T: Est se sentindo sozinha?
17 C: Estou.
18 T: E esse sozinha um sozinha sozinha ou um sozinha s (por) falta da irmzinha?
18 C: Sozinha sozinha.
19 T: Ahm ahm... a sua irm s um bandaid... voc um bandaid?
19 C: ((riso)) No...
2 Nota: Neste fragmento o terapeuta retoma o assunto abordado no fragmento 1, sobre os sentimentos acerca da ausncia da irm
da cliente.
Revista Psicolog 81
Interpretao em termos de unidades verbais funcionais.
15 T: (Saudade) dela?
15 C: Faz falta...
16 T: .
16 C: ( )
17 T: Est se sentindo
sozinha?
17 C: Estou
Mando (questo) especificando como
reforo o relato de estados internos.
Tato de eventos internos (sentimento) +
forte componente intraverbal temtico
(saudade e fazer falta). A brevidade
pode ser interpretada como
propriedades de mando (mude de assunto).
Ocorrido aps uma pausa significativa,
pode ser interpretado como apresentando
propriedades de mando (pedido) como continue.
A brevidade mais uma vez pode ser
relativa a propriedades de mando,
como em 15 C.
Mando (questo). Equivalente a 15T.
Tato de eventos internos, porm
a correspondncia formal com a
pergunta (ecico Est-Estou)
sugere mais uma vez o componente
mando mude de assunto.
Mando (questo) especificando como
reforador o relato de uma varivel de
controle do comportamento de C.
18 T: E esse sozinha
um sozinha sozinha
ou um sozinha s
(por) falta da
irmzinha? (em tom
carinhoso)
18 C: Sozinha sozinha Tato de eventos internos, porm a
correspondncia formal com a pergunta
(ecico) sugere mais uma vez o mando
mude de assunto.
19 T: Ahm ahm...
Tato estendido (metfora). Possveis
a sua irm s um
propriedades de mando (questo).
band-aid... voc
um band-aid?
(em tom carinhoso)
19 C: ((riso)) No...
Tato (No). Riso possivelmente controlado
pelas propriedades de humor da fala de T.
Revista Psicolog 82
Interpretao em termos de provveis funes.
15T: Fale do que voc sente.
16T: Fale do que voc sente.
17T: Fale do que voc sente.
18T: Fale do que voc sente.
19T: Ok.
15C: No gostaria de falar disso.
16C: ?????
17C: No gostaria de falar disso.
18C: No gostaria de falar disso.
19C: Prefiro assim.
Interpretao em termos de provveis funes.
Neste fragmento, com o tema sentimentos sobre a ausncia da irm, podese observar um padro de operantes da
cliente que poderiam ser chamados de resistentes. De fato, se assim for considerado, a cliente emite os mesmos operantes
como resposta a vrios mandos (do tipo
questo) de topografias diferentes emitidos
pelo terapeuta. Estes operantes da cliente
vo apresentando mais propriedades ecicas ao longo do fragmento. Em 19T (E
esse sozinha um sozinha sozinha ou um
sozinha s (por) falta da irmzinha?) h
um mando com propriedades de humor e
sinalizador de outro operante (que no os
mandos mude de assunto) por parte da
cliente. A resposta 19T recebida com um
riso.
As falas do terapeuta, de 15T a 18T
(15 T: (Saudade) dela?; 16 T: ; 17 T: Est
se sentindo sozinha?; 18 T: E esse sozinha um sozinha sozinha ou um sozinha
s (por) falta da irmzinha?), que se constituem de mandos no so reforados como
poderia se esperar em um contexto psicoterpico, ou seja, com tatos mais elaborados ou respostas emocionais. J a fala 19T
(E esse sozinha um sozinha sozinha ou
um sozinha s (por) falta da irmzinha?),
que apresenta um componente de humor
produz uma conseqncia reforadora mais
caracterstica.
Este fragmento, como o anterior,
demonstra que existe uma seletividade, por
parte da cliente, daquilo que pode ou no
constituir-se temtica da interao. Ao
considerar-se o reforamento caracterstico
de um mando como fale de voc em psicoterapia, tem-se que estes mandos no so
reforados pela cliente. No entanto o reforamento caracterstico do humor ocorre,
e o desfecho do dilogo novamente uma
mudana temtica.
Fragmento 3 : Tema atividades profissionais
O fragmento 133T a 141C foi escolhido como representante dos trechos referentes a atividades profissionais e estudos,
sem gerar prejuzo anlise, por se constiturem de trechos funcionalmente equivalentes e bastante repetitivos. A seguir, o
fragmento:
133 T: Com certeza... Andou pensando em algum trampo?
133 C: Eu no acho..
134 T: No acha pensando ou no acha procurando?
134 C: Procurando, no acho, quando eles querem experincia, experincia, experincia,
experincia, voc no acha porque eu no tenho experincia, ento difcil, se ningum
der a oportunidade, voc nunca vai conseguir trabalhar.... Eu queria ser secretria da
minha madrinha.
135 T: Por qu?
Revista Psicolog 83
135 C: Porque eu no iria fazer nada ((riso)).
136 T: At voc sabe, o que que ela faz ?
136 C: Veterinria...
137 T: P, seria uma mo na roda, n?... Voc no acha?
137 C: , mas ela no quer, diz que no precisa, que ela d conta sozinha.
138 T: E auxiliar?
138 C: Ela po dura!
139 T: ?
139 C: No, mexer com bicho eu no mexo, eu tenho d.
140 T: Tem d de bicho?
140 C: Eu tenho. De gente eu no tenho, mais de bicho eu tenho, olha que legal.
141 T: D ou medo?
141 C: D... Eu posso ver, tipo assim, uma cirurgia:: de uma pessoa (n, por mim tudo
bem), mas esse (que maltrata) de um animalzinho ( ). Deixa eu te contar da maior, voc
no sabe meu pai deu veneno pros canrios dele.sussurrando
Interpretao em termos de unidades verbais funcionais.
133 T: Com certeza... Andou pensando Intraverbal (com certeza) + mando
em algum trampo?
(questo) especificando como
reforador o relato de atividades
relacionadas a trabalho.
133 C: Eu no acho..
Tato das procuras malsucedidas +
possvel mando. As propriedades
de mando podem ser atribudas
forma da resposta, ou seja,
sua brevidade, que seria um
especificador do reforo
mude de assunto.
134 T: No acha pensando ou
Mando (questo) especificando como
no acha procurando?
reforador o relato de atividades
relacionadas a trabalho.
134 C: Procurando, no acho,
Tato da procura de trabalho, das
quando eles querem experincia,
dificuldades encontradas e do evento
experincia, experincia, experincia,
interno querer + possvel mando. As
voc no acha porque eu no
propriedades de mando, desta vez,
tenho experincia, ento difcil,
podem ficar por conta da elaborao da
se ningum der a oportunidade,
resposta. Apresenta ainda uma
voc nunca vai conseguir
propriedade de mando forte
trabalhar.... Eu queria ser
especificando como reforador, no
secretria da minha madrinha.
apenas a mudana de foco/ assunto, mas
a forma da resposta do ouvinte que no
caso seria por qu?
Revista Psicolog 84
135 T: Por qu?
Mando (questo) especificando como
reforador o relato de razes.
135 C: Porque eu no iria fazer nada
Tato + possvel mando. As propriedades
Voc no acha?
de mando aqui so as mesmas das da
fala 134C, caracterizadas por falas
incompletas que fornecem ao ouvinte
deixas temticas como o que? ou
por que?.
137 C: , mas ela no quer, diz que no Tato sobre a resposta da madrinha +
precisa, que ela d conta sozinha.
possvel mando. As propriedades de
mando especificam o reforador
mudana de assunto.
138 T: (E) auxiliar?
Tato + possvel mando. As propriedades
138 C: Ela po dura!
de mando especificam o reforador
139 C: No, mexer com bicho eu no
mudana de assunto.
mexo, eu tenho d.
141 C: D... Eu posso ver, tipo assim,
Tato + possvel mando. As propriedades
uma cirurgia:: de uma pessoa
de mando especificam o reforador
(n, por mim tudo bem), mas esse
mudana de assunto.
(que judia) de um animalzinho ( ).
Deixa eu te contar da maior,
voc no sabe meu pai deu veneno
pros canrios dele.(sussurrando)
Interpretao em termos de provveis funes.
133T: Vamos falar de trabalho.
134T: Vamos falar de trabalho.
135T: Ok.
137T: Boa idia, vamos falar
disto.(trabalhar com a madrinha)
133C: No gostaria de falar disto.
134C: Mude de assunto.
135C: Assim est melhor.
137C, 138C, 139C, 141C: No vivel.
No gostaria de falar disto.
Comentrios:
Como j mencionado, outros fragmentos possuem aproximadamente as mesmas configuraes, alguns com esquivas to
elaboradas quanto 134C (Procurando, no
acho... Eu queria ser secretria da minha
madrinha) e 135C (Porque eu no iria fazer
nada ((riso)), que possuam algo de humor,
outras mais grosseiras, como 141C (D...
Eu posso ver, tipo assim, uma cirurgia de
uma pessoa ...), mas em todas, evidencia-se
um antagonismo aberto idia de procurar
um emprego.
Os mandos emitidos pelo terapeuta
em 137T (P, seria uma mo na roda, n?...
Voc no acha?) e 138T (E auxiliar?) poderiam ser considerados conselhos na medida
em que so equivalentes de faa isto ou
procure sua madrinha.
Neste trecho v-se que embora exista uma correspondncia temtica entre
Revista Psicolog 85
os operantes verbais da cliente, eles constituem uma esquiva, na medida em que
o tema atividades profissionais foi apenas a varivel iniciadora da cadeia. Como
em uma associao livre de palavras, onde
uma palavra sinaliza a ocorrncia de outra
segundo a probabilidade de que ocorram
juntas, o fragmento iniciou com trampo
(emprego), e seguiu-se procurando (emprego), trabalhar com minha madrinha,
veterinria (profisso da madrinha), bicho e finalmente canrios (do pai).
Intervenes
As intervenes tambm foram
analisadas segundo descrito na seo
mtodo e um exemplo desta anlise ser
mostrado aqui.
Interveno do tipo confrontao
Sesso 1: Tema: atividades profissionais
134 T: No acha pensando ou no acha procurando? (emprego)
134 C: Procurando, no acho, quando eles querem experincia, experincia, experincia,
experincia, voc no acha porque eu no tenho experincia, ento difcil, se ningum
der a oportunidade, voc nunca vai conseguir trabalhar.... Eu queria ser secretria da
minha madrinha.
Comentrio: O terapeuta questionou a
cliente sobre se ela estava de fato procurando trabalho e a maneira pela qual o estava fazendo. A resposta da cliente foi atipicamente forte (longa e elaborada) e terminou em uma esquiva, no propriamente do
tema trabalho, mas do tema procurar trabalho ou efetividade da busca por trabalho.
poderia chamar de resistncia. Tambm
as intervenes focalizadas neste tema no
geraram respostas de resistncia ou hostilidades.
Comparaes entre as funes dos comportamentos de dor e as respostas de resistncia em terapia
Comentrios gerais
Tomando-se
como
parmetro
Considerando todos os fragmentos as funes do comportamento de dor
analisados na pesquisa que deu origem a comparando-as com os assuntos geradores
esse artigo, o tema emoes acerca da de resistncia tem-se que:
ausncia da irm ocorreu trs vezes, ao
1. Atividades profissionais: a cliente
longo das sesses, e em todos ocorreram
emite operantes que consistem em
resistncia. Os temas atividades sociais
fornecer razes pelas quais no
(trs ocorrncias) e atividades profissionprocura um emprego, ou no acata
ais (nove ocorrncias) tambm geraram reas sugestes do terapeuta acerca de
sistncias em todas as suas ocorrncias.
estratgias para encontrar um trabalho. Quanto ao comportamento
de dor, descrito nos resultados e
J o tema relao com os pais
decorrentes do contato do terapeuta
ocorreu quatro vezes em longos fragmencom a me da cliente, uma de suas
tos e em nenhuma delas houve o que se
conseqncias manter a cliente
Revista Psicolog 86
longe de atividades profissionais.
Alm disto, a cliente relatou em
sesses (no gravadas) que seu pai a
desencoraja a procurar emprego enquanto suas queixas de dor no cessarem, pois isso geraria problemas
com seus contratantes.
2. Atividades sociais: as esquivas
deste tema apresentam-se menos argumentativas e mais evitativas, no
sentido em que ocorrem falas curtas ou pouco elaboradas de uma
maneira geral. Dentre as topografias
do comportamento de dor est o retraimento social da cliente.
3. Emoes acerca da ausncia da
irm: este tema parece estar relacionado s atividades sociais na
medida em que o relato de tais
sentimentos incorreriam, previsivelmente, em orientaes do terapeuta
para que a cliente desenvolvesse as
atividades mencionadas.
DISCUSSO
A escolha e anlise dos fragmentos
de interesse permitiram evidenciar aspectos da relao teraputica, possivelmente
de maneira mais consistente que na prtica
clnica diria. Ou seja, percepes de eventos importantes e interpretaes em termos
funcionais do comportamento que ocorre
na relao teraputica fazem parte do cotidiano da psicoterapia. A maneira como
isto feito depende, possivelmente, das habilidades e treinamento (entre outras variveis) do terapeuta (Gavino, 1996, Meyer
Vermes, 2001). O mtodo proposto demonstrou que existe a possibilidade de realizar
interpretaes e inferncias de maneira
mais sistemtica.
reaes emocionais, que supe serem os
reforadores de um dado comportamento
indesejado de seu cliente.
Alternativamente testagem in vivo
de hipteses, tem-se a proposta deste trabalho, que demonstrou ser possvel verificar a consistncia com que dado evento
ocorre, permitindo assim uma estimativa do
grau de veracidade da inferncia ou interpretao realizada pelo terapeuta.
De outro lado, como limitao do
mtodo, tem-se novamente a testagem de
hipteses como pano de fundo, pois se as
interpretaes proporcionadas no foram
testadas em terapia, incorre-se no risco de
que as mesmas tenham sido confirmadas
em argumentaes solipsistas, ou seja, a
identificao de uma possvel varivel de
controle, evidenciada por interpretao,
ratificadora de outra possvel varivel de
controle, tambm evidenciada por interpretao.
A anlise em termos de quais operantes verbais, segundo Skinner (1957), constituam as falas dos participantes evidenciou aspectos do comportamento da cliente
e do terapeuta de maneira sistemtica.
Por exemplo, em um primeiro olhar para
as interaes selecionadas, seria bastante
provvel afirmar que a iniciativa para mudana de temas partia do terapeuta. Ainda
que assim seja visto, a anlise demonstra
que para isto, o terapeuta contava com um
esquema de reforamento bastante consistente destas mudanas temticas, por parte
da cliente.
A anlise dos resultados demonstra
que a cliente responde a diferentes temas,
Estas observaes e interpretaes,
segundo dois padres que poderiam ser
quando realizadas durante a psicoterchamados de adeso e resistncia. Embora
apia, podem ser testadas pelo terapeuta,
corriqueira, a relevncia desta concluso recomo quando um terapeuta no demonstra
Revista Psicolog 87
side no fato de que necessrio ao terapeuta
que trabalha com clientes resistentes ou
hostis, conseguir discriminar quais so os
temas relacionados a cada padro, visto que
este terapeuta convive com a possibilidade
de realizar a terapia e todas as estratgias
ou intervenes que ela envolve e possivelmente gerar hostilidades ou resistncias no
cliente (Bischoff Tracey, 1995).
Desta forma, a anlise permitiu vislumbrar, com a cliente estudada, quais
temas so geradores de respostas de resistncia e quais so geradores de adeso.
Vale lembrar que no se est afirmando que
a realizao da terapia, tendo-se como pano
de fundo estes temas geradores de adeso
seja necessariamente bem sucedida, visto
que o sucesso da terapia pode depender
tambm de outros fatores.
variveis funcionais, como foi visto no
Fragmento 3 sobre atividades profissionais, onde a cliente emite uma relativamente longa cadeia operantes verbais que
apresentam correspondncia temtica encadeada, mas que funcionalmente pode ser
classificado como uma esquiva: trampo,
procurarando (emprego), trabalhar
para madrinha, veterinria (madrinha),
canrios (do pai).
Dentre os aspectos evidenciados
pela interpretao em termos de operantes
verbais est o de que o comportamento
de esquiva da cliente sensvel s propriedades temticas das interaes.
Outras anlises podem ser feitas e
verificadas atravs da freqncia e consistncia de sua ocorrncia, sobre este
mesmo material, mas fogem ao escopo do
Segundo a anlise das respostas de trabalho, visto que o artigo tem o intuito de
resistncia e adeso pode-se afirmar que ex- apresentar um mtodo de anlise da interiste uma correspondncia funcional entre as ao terapeuta cliente.
queixas de dor da cliente e sua resistncia
em abordar temas como atividades sociReferncias
ais ou efetivamente engajar-se nestas atividades.
Catania, A. C. (1999). Aprendizagem: comportamento, linguagem e cogEstes temas geram esquivas na nio. Porto Alegre: ArtMed.
sesso teraputica, assim como as situaes que estes temas descrevem, geram esCautilli, J. Connor, L. S. (2000).
quivas no cotidiano da cliente, sob a forma
de queixas de dor. Por exemplo, a cliente Assisting the client/ consultee to do what is
esquiva-se de um determinado tema, como needed: a functional analysis of resistance
atividade social, e no seu cotidiano esquiva- and other forms of avoidance. The behavior
se de situaes sociais com queixas de dor. analyst today, 3, 37-42.
O mtodo de anlise proposto demonstrou
esta relao de maneira mais confivel do
Fordyce, W. E. (1976). Behavioral
que faria a simples observao durante as methods for chronic pain and illness. Saint
sesses.
Louis: The Cv. Mosby Company.
A anlise proposta foi capaz de
Gavino, A. (1996). As variveis do
evidenciar a existncia de padres repet- processo teraputico. Em: V. E. Caballo
itivos de interao classificados segundo (Org.). Manual de Tcnicas de Terapia e
Revista Psicolog 88
Modificao de Comportamento (132-143). Belo Horizonte: Crescer.
So Paulo: Santos.
Newman, C. F. (2002). A cognitive
Guilhardi, H. J. (2002). A resistn- perspective on resistance in psychotherapy.
cia do cliente a mudanas. In: Guilhardi, H. JCLP/In Session: Psychotherapy in PracJ.; Madi, M. B. B. P.; Queiroz, P. P. e Scoz, tice. 58 (2), 165-174.
M. C. Sobre Comportamento e Cognio Contribuies para a construo da teoria
Puzo, M. (1981). O Chefo. So
do comportamento; V. 9. Santo Andr: ES- Paulo: Abril.
ETec.
Skinner, B. F. (1957). Verbal behavMartin, P. Bateson, P. (1986). Mea- ior. New Jersey: Prentice Hall.
suring behavior. Cambridge: Cambridge
University Press.
Teixeira, J., Correa, C. F. Pimenta,
C. A. M. (1994) Dor: conceitos gerais. So
Meyer, S. B. Vermes, J. S. (2001).
Paulo: Limay.
Relao teraputica. In B. Rang (Org.).
Psicoterapias Cognitivo-Comportamentais.
Tracey, T. J. G Bischoff, M. M.
Um dilogo com a psiquiatria. Porto Ale(1995). Client Resistance as Predicted by
gre: Artmed, pp. 101-110.
Therapist Behavior: A Study of Sequential
Dependence. Journal of Counseling PsyMiranda, C. F. Miranda, M. L. chology, Vol. 42, No. 4, 487-495.
(1993). Construindo a relao de ajuda.
Revista Psicolog 89
Automonitoramento como tcnica teraputica e de avaliao
comportamental
Carlos Henrique Bohm1 , Lincoln da Silva Gimenes1
1
Universidade de Braslia
Abstract. Self-monitoring is a procedure used for observation, assessment and
behavioral intervention. This technique provides data to conduct functional
analysis, to define the scope of intervention and to evaluate the results. Because
of its reactivity effect, it is also useful as a therapy technique which can be
generalized to different responses, populations and contexts. This article
presents some procedures and results from clinical and research experiences
regarding the use of this technique in behavior analysis. Among the variables
which influence the magnitude and direction of the reactivity effects, topography
of the target behavior, demand for concurrent responses, moment of monitoring
and reinforcement of the monitored response, seem to be the most important.
Methodological issues and precautions in the usage of this technique are also
presented. Simplification of recording, use of simple instruction material, explanation of the monitoring effects, and reinforcement of behaviors compatible
with recording accuracy, are indicated in order to increase recording precision.
Key-words: SELF-MONITORING; REACTIVITY TO SELF-MONITORING;
BEHAVIORAL ASSESSMENT.
Resumo. O automonitoramento um procedimento utilizado para a observao, avaliao e interveno comportamental. Essa tcnica fornece dados
para se conduzir anlises funcionais, delimitar objetivos de interveno,
planej-la e avaliar os resultados. Devido ao efeito de reatividade, tambm se
configura como tcnica teraputica que generalizvel a diferentes respostas,
populaes e contextos. Neste artigo, so descritos os procedimentos e resultados de experincias clnicas e de pesquisa sobre o uso dessa tcnica na
anlise do comportamento. Dentre as variveis que influenciam a magnitude e
direo dos efeitos da reatividade esto a topografia do comportamento alvo, a
exigncia de respostas concorrentes, o momento do registro e o reforamento da
resposta monitorada. Questes metodolgicas e cuidados na utilizao dessa
tcnica tambm so apresentadas. Indicaes para aumentar a preciso dos
registros incluem a simplificao dos mesmos, a utilizao de materiais fceis
de manipular, a explicao dos efeitos do monitoramento e o reforamento de
comportamentos compatveis com a acurcia do registro.
Palavras-chave: Automonitoramento; Reatividade ao automonitoramento;
Avaliao comportamental.
Revista Psicolog 90
Introduo
Automonitoramento (AM) o comportamento de observar e registrar sistematicamente a ocorrncia de algum comportamento (privado ou pblico) emitido pela
prpria pessoa e eventos ambientais associados. Muitas vezes a literatura apresenta
alguns sinnimos, como registro dirio,
dirio de atividades, dirio de sintomas e
auto-registro. Para Korotitsch e NelsonGray (1999) o AM envolve a discriminao
da ocorrncia do comportamento e a produo do seu registro, bem como de informaes adicionais. Um exemplo escrever
em um dirio os horrios das refeies, alimentos ingeridos, sentimentos e eventos
antecedentes e conseqentes.
para eliciar ou manter um comportamento
(situaes em que a pessoa deseja fumar,
por exemplo). Alm disso, o AM pode ser
efetuado atravs de equipamento (tempo
de corrida em uma esteira, por exemplo)
ou mediado por equipamento (presso sangunea e taxa de glicose, por exemplo) (Barton, Blanchard Veazey, 1999).
Os parmetros gerais do AM so
a freqncia, durao e intensidade da resposta, e estmulos antecedentes e conseqentes (presena de outras pessoas, humor, local, etc). O AM pode ser empregado em contexto clnico e de pesquisa
para observao, avaliao e terapia. No
contexto clnico, o uso desta tcnica
mais comumente encontrado nas terapias
analtico-comportamental, nas terapias
comportamentais, nas terapias cognitivocomportamentais e na medicina (para revises desses usos ver Barton, Blanchard
Veazey, 1999; Cone, 1999; Korotitsch
Nelson-Gray, 1999; Thiele, Laireiter Baumann, 2002; e Wilson Vitousek, 1999).
O procedimento padro utilizado
em pesquisas e atendimentos clnicos envolve fornecer o material apropriado e instruir os participantes ou clientes sobre
como realizar os registros de um modo sistemtico. Wilson e Vitousek (1999) relatam
que em alguns poucos estudos os participantes preenchiam as folhas de AM medi- Automonitoramento como tcnica de obante avisos de bipes regulares ou randmi- servao e avaliao comportamental
cos.
A modalidade de registro mais comumente utilizada no AM a de papel e
lpis. Suas vantagens so o baixo custo e
a facilidade de produo e manipulao do
material (Barton, Blanchard Veazey, 1999).
Mas tambm so utilizados contadores de
pulso, palmtops, e outros registros computadorizados.
O AM tem sido utilizado (1) para
contar comportamentos (nmero de cigarros fumados por dia, evacuaes intestinais,
ocorrncias de enxaquecas, etc), (2) monitorar sintomas observveis ou encobertos,
(3) registrar fatores contextuais importantes
Geralmente os comportamentosproblema de um cliente esto sob controle
de variveis que no so bvias ou que no
esto presentes no contexto da terapia. Dentre as tcnicas de avaliao o AM uma das
alternativas mais flexveis, baratas, e que requer poucos recursos clnicos para a coleta
de dados. O AM usado como forma de
avaliao durante todo o processo teraputico para clarificao do diagnstico, conduo de anlises funcionais, delimitao
dos objetivos da interveno, planejamento
de cada sesso e da interveno como um
todo, e avaliao do progresso da terapia e
do seu resultado final (Korotitsch NelsonGray, 1999; Thiele, Laireiter Baumann,
Revista Psicolog 91
2002; Wilson Vitousek, 1999).
o lugar da refeio, o uso de laxativos aps
a refeio, a presena de outras pessoas,
Os terapeutas comumente requisi- sensaes de fadiga e pensamentos sobre
comida (Wilson Vitousek, 1999).
tam aos seus clientes, dirios do tipo ABC
(antecedents behavior - consequences).
Essa forma de AM fornece dados para o
Atravs do AM, Dupuy, Beauclnico desenvolver anlises funcionais e doin, Rheaume, Ladouceur e Dugas (2001)
bem como treinar o cliente para que este constataram que um grupo clnico diagseja capaz de identificar as relaes entre nosticado como indivduos portadores de
seus comportamentos e eventos ambien- Transtorno de Ansiedade Generalizada gastais. (ver Sturmey (1996) e Watson Tharp tou, em mdia, 6 vezes mais tempo com
(1985) para exemplos desse tipo de registro preocupao excessiva e incontrolvel do
e de como identificar relaes funcionais que um grupo no clnico. Esses dados
mostram a importncia que o AM pode ter
com esses dados).
como instrumento de avaliao diagnstica.
O registro dos prprios comportamentos, ou AM, pode ser utilizado com
uma ampla gama de comportamentos e
transtornos. Alguns exemplos incluem
comportamentos presentes na Sndrome do
Intestino Irritvel (Latimer, 1988; Gimenes,
1997), intensidade da dor em pacientes com
artrite e dores de cabea (Barton, Blanchard
Veazey, 1999), episdios de comprar compulsivo e grau dos sentimentos envolvidos
(Miltenberger, Redlin, Crosby, Stickney,
Mitchell, Wonderlich, Faber Smyth, 2003),
episdios de ansiedade (Craske Tsao,
1999), comportamentos pblicos e encobertos em situaes de exposio oral geradoras de ansiedade (Oliveira Duarte, 2004),
sentimentos envolvidos no transtorno do
pnico combinado com agorafobia (Britto
Duarte, 2004), tempo de relaxamento autoinduzido em adolescente com mltiplos
tiques (Dillenburger Keenan, 2003), ingesto de medicamentos (Safren cols.,
2001), registro do peso corporal e consumo alimentar (Bezerra, 2001), comportamento de fumar, antecedentes, nvel
de ansiedade e pensamentos relacionados
(Mundim Bueno, 2006), entre outros. Portadores de transtornos alimentares podem
registrar, para cada episodio alimentar, o
tipo e quantidade de comida ingerida (algumas vezes o nmero de calorias), a hora e
O auto-registro do comportamento
pode tambm ser utilizado na autoexperimentao, onde o pesquisador e
o participante so a mesma pessoa. O
pesquisador/participante se comporta, registra esses comportamentos e os analisa.
Geralmente, a auto-experimentao reflete interesses particulares e cotidianos
da pessoa que a utiliza. Vrios exemplos
de auto-experimentao so apresentados
por Neuringer (1981, 1984) e Roberts e
Neuringer (1998). Em um desses experimentos, Neuringer registrou a sua velocidade de leitura nas condies sentado e em
movimento. Quando sentado, ele permanecia lendo na sua mesa como normalmente
fazia. Quando em movimento, lia enquanto
dava passos lentos na sala ou s vezes se
movia devagar em curtas distncias. Em 15
de 19 tentativas, a velocidade de leitura foi,
em mdia, 8% maior quando ele se movimentava. Ao contrrio de suas expectativas, em um outro experimento, Neuringer
resolveu uma porcentagem maior de problemas de analogia de Miller (Miller analogy problems) quando estava sentado do
que quando estava se movimentando. Esses
dados mostram a interao entre o tipo de
atividade (sentado vs. andando) e o tipo de
tarefa realizada.
Revista Psicolog 92
Neuringer (1981) tambm descreveu o auto-experimento de uma estudante que investigou se a sua necessidade
de dormir dependia da sua ingesto de comida. Em um experimento de 107 dias ela
registrou o nmero de horas dormidas por
noite em condies alternadas de ingesto
diria de 2000 a 2500 calorias (o seu nvel
normal) e 1000 calorias. Quando ela ingeria o seu nvel normal de calorias, dormia
em mdia 7,7 horas, e quando ingeria 1000
calorias, dormia em mdia 6,6 horas, ficava
mais alerta, mais hbil para estudar, porm
se tornava cansada mais rapidamente.
Automonitoramento como tcnica teraputica
A reatividade ao AM um efeito
que altera a freqncia do comportamento,
geralmente na direo desejvel, ou seja,
reduzindo a freqncia de comportamentos
inadequados e/ou aumentando a de comportamentos adequados. Essa mudana ocorre
em funo do registro que a pessoa faz do
seu comportamento. Quanto maior o tempo
de monitoramento, maior a tendncia dessa
mudana.
Na explicao de Nelson e Hayes
(1981) para a reatividade, todo o processo
de AM (instrues do terapeuta, treino em
AM, o dispositivo de registro, comentrios
dos outros sobre o dispositivo e as respostas
monitoradas) sinaliza as provveis conseqncias ambientais que resultam em mudana de comportamento. Essa idia explica casos em que a mudana de comportamento no est ligada a respostas de AM,
como baixa acurcia no registro, baixa freqncia do comportamento alvo e pouca
utilizao do instrumento de registro. Os
resultados do experimento de Hayes e Nelson (1983) ajudam a melhor explicar essa
hiptese de que a reatividade no depende
exclusivamente da resposta monitorada,
mas sim de todo o procedimento de AM.
Durante a linha de base os participantes
assistiam um vdeo por 10 minutos e observadores registravam o nmero de vezes que
a pessoa tocava a sua prpria face. Logo
sem seguida, na fase experimental (tambm
de 10 minutos), os participantes do grupo
AM foram instrudos a pressionar um interruptor toda vez que tocassem a prpria face.
O grupo com dicas externas contingentes
deveria pressionar o interrputor toda vez
que fosse projetada a mensagem por favor
no toque sua face. Este grupo equivale a
um AM com acurcia. A mensagem aparecia quando os observadores registravam que
a pessoa havia tocado a sua face. O grupo
com dicas externas no contingentes foi
submetido s mesmas condies, exceto
pelo fato que a mensagem aparecia uma
vez a cada dois minutos, independentemente dos comportamentos do participante.
Este grupo equivale a um AM sem acurcia. Ocorreram efeitos reativos semelhantes
para os trs grupos, isto , houve uma reduo no nmero de respostas de tocar a
face na fase experimental em relao linha
de base. Os dados tornam mais plausvel a
idia de que a reatividade ocorre pelo valor
da dica fornecida pelo prprio AM e pelo
processo como um todo.
Alguns relatos apresentados a seguir
demonstram o efeito de reatividade ao AM
e sua efetividade em controlar o comportamento monitorado. Maletzky (1974) apresenta os dados de cinco participantes que
desejavam modificar seus comportamentos.
Esses participantes utilizaram um contador de pulso como instrumento de registro.
Diariamente cada participante marcava em
um grfico o total de ocorrncias do comportamento previamente definido para ser
monitorado. Para todos os participantes,
os comportamentos, que variavam desde
Revista Psicolog 93
arranhar a pele, roer unhas e tiques faciais, diminuram de freqncia aps o incio do AM. Depois da retirada gradual
do contador de pulso houve uma longa e
duradoura remisso dos comportamentos.
O autor concluiu que a mera contagem do
comportamento, sem nenhum outro tipo de
interveno, foi suficiente para reduzir a
freqncia dos comportamentos monitorados.
Frederiksen (1975) descreve um
caso de uma mulher com episdios de pensamento recorrente que duravam cerca de
15 minutos e cujo tema era cncer de estmago e de mama. Na primeira fase ela
anotava em um grfico apenas a freqncia
de episdios. Ao longo da primeira semana houve um rpido declnio da freqncia, que se manteve estvel durante os dias
seguintes. A taxa mdia nessa fase foi de
2 episdios por dia. Na fase seguinte, de
monitoramento intensivo, eram registrados
tambm o horrio e a durao do episdio, atividade pblica, pensamentos antecedentes, o contedo dos episdios, a severidade e os eventos que os seguiam. Houve
um declnio adicional no nmero de episdios e ocorreram somente 5 episdios nos
ltimos 25 dias de registro. Nenhum episdio foi relatado em 4 meses de seguimento.
Embora no seja possvel a observao direta dos comportamentos encobertos, o relato sobre o evento privado foi modificado.
Outro exemplo de registro de comportamentos encobertos apresentado por
Tarrier, Sommerfiled, Reynolds e Pilgrim
(1999). Setenta e dois pacientes portadores
de transtorno de estresse ps-traumtico
registraram pesadelos, pensamentos indesejveis, lembranas visuais e imagens indesejveis. Foram aplicadas vrias escalas
psicomtricas antes e depois do AM. Ocorreram redues significativas nos escores de
todas as escalas, sugerindo efeitos terapu-
ticos resultantes da observao do prprio
comportamento. Seguimentos realizados
aps 3 meses e aps 1 ano mostraram a
manuteno das alteraes comportamentais.
Latner e Wilson (2002) verificaram
o efeito isolado do AM sobre a freqncia de episdios de excesso alimentar em
mulheres com bulimia nervosa e hiperfagia episdica (binge eating disorder). Os
dados registrados por elas foram: tipo e
quantidade estimada de comida e bebida
ingeridas, hora e lugar da ingesto, se consideraram uma refeio, um lanche ou um
excesso, se houve uma perda de controle
sobre o comer, e pensamentos e emoes
relacionados ao comer. A mdia do nmero
de episdios de excesso alimentar reduziu
de 0,91 por dia (linha de base) para 0,41
(AM). Em estudo semelhante, Hildebrandt
e Latner (2006) estudaram a reatividade dos
episdios objetivos e subjetivos de bulimia.
Episdios objetivos envolvem um grande
consumo no usual de comida enquanto
episdios subjetivos envolvem um consumo
que no ultrapassa o limite de excesso. Em
ambos os casos h um sentimento de perda
de controle sobre a ingesto. O AM produziu uma reduo dos episdios objetivos
e um aumento dos episdios subjetivos,
mostrando diferentes efeitos sobre esses
dois tipos de episdios. No presente caso
houve uma movimentao (a partir da linha
de base) em direes opostas para os dois
tipos de episdios. Uma espcie de compensao ocorreu com a diminuio dos
episdios objetivos custa de um aumento
dos episdios subjetivos.
O efeito reativo do AM pode ser
observado tambm em uma interveno
de Lloyd, Bateman, Landrum e Hallahan
(1989). Cinco estudantes que tinham baixa
concentrao para realizar tarefas escolares
em sala de aula foram instrudos a automon-
Revista Psicolog 94
itorar essas tarefas de matemticas Como
resultado, ocorreu um aumento na produtividade e na ateno s tarefas, para todos
os estudantes.
Herren (1989) descreve o caso de
uma mulher de 43 anos, professora de escola pblica, que decidiu se dedicar integralmente a escrever fico e a um estdio
de arte e a automonitorar essas atividades.
Em um grfico ela registrava o nmero de
linhas escritas e o tempo gasto com arte.
Nas duas atividades a sua produtividade
aumentou em relao linha de base e se
manteve elevada aps 10 meses de AM.
Muitos escritores praticam o auto-registro
como forma de monitorar e aumentar a sua
produtividade. O escritor Irving Wallace
(Wallace Pear, 1977) mantinha grficos
e quadros que mostravam a data em que
comeou cada captulo do livro que estava
escrevendo, a data em que os terminou, o
nmero de pginas escritas por dia e notas
de eventos que aconteciam durante a produo do livro e que interferiam na produo. Wallace relatou que um quadro
na parede servia como uma disciplina,
xingando-o ou encorajando-o. Segundos os autores, outros romancistas famosos
tambm faziam algum tipo de AM, como
Anthony Trollope, Arnold Bennett, Ernest
Hemingway, Honor de Balzac, Gustave
Flaubert, Aldous Huxley, William Somerset Maugham, e Joseph Conrad.
O AM tambm pode ser utilizado
para o aumento da atividade fsica. Critchfield (1999) observou o efeito de reatividade em dois jovens nadadores de competio que, quando faziam o AM, tinham
um desempenho superior. Em um outro estudo de Polaha, Allen e Studley (2004),
nadadores automonitoravam as braadas
e as relatavam verbalmente. Comparando com a linha de base, esse AM resultou na diminuio de aproximadamente
uma braada por volta, demonstrando o
efeito de reatividade do AM e a conseqente melhora no desempenho. McKenzie
e Rushall (1974) observaram em um clube
que os nadadores iam aos treinos irregularmente e com uma baixa freqncia, alm
de chegarem atrasados e irem embora mais
cedo. Como parte da interveno, os atletas passaram a registrar em um quadro o
nmero voltas nadadas. Esse quadro ficava
exposto toda a equipe e observadores externos anotavam os comportamentos inadequados e os resultados positivos alcanados. Esses procedimentos resultaram na
reduo dos comportamentos inadequados
e no aumento da distncia nadada a cada
sesso de treinamento.
Em alguns casos o simples uso do
AM tem se mostrado superior a outras tcnicas, como por exemplo, o uso de feedback. Gajar, Schloss, Schloss e Thompson
(1984) trabalharam em um pequeno grupo
de discusso de texto com dois clientes de
22 anos do sexo masculino que tiveram
traumatismo craniano. Os clientes podiam fazer intervenes apropriadas (uma
afirmao relevante, concordar, discordar
ou perguntar algo sobre o tpico) e intervenes inapropriadas (ficar em silncio, expressar somente trs palavras ou
menos, fazer perguntas ou afirmaes fora
do tpico, resmungar, fazer piadas ou interromper a tarefa). Na fase de feedback
os observadores forneciam feedback em
um aparelho atravs das cores verde (interveno adequada) e vermelha (interveno
inadequada). Na fase AM os participantes
se automonitoravam empurrando um interruptor para o lado A quando fizessem
uma interveno apropriada, e para o lado
B quando a interveno era inapropriada.
Para os dois participantes ocorreram mais
intervenes apropriadas tanto nas sesses
de feedback quanto nas sesses de AM, do
que na linha de base. Para um deles ocor-
Revista Psicolog 95
reram mais intervenes apropriadas nas
sesses com AM do que nas sesses com
feedback.
Em conjunto, os estudos sobre o
efeito de reatividade ao AM mostram que
o fenmeno tem generalidade, pois ocorre
com pessoas de diferentes idades, em diferentes contextos e com uma variedade de
comportamentos.
Variveis que influenciam a reatividade
ao AM
Korotitsch e Nelson-Gray (1999) revisaram um conjunto de variveis que influenciam a magnitude e direo dos efeitos de
reatividade. Algumas dessas variveis so
apresentadas a seguir:
Valorao do comportamento alvo
Comportamentos
positivamente
valorados tendem a aumentar de
freqncia durante o AM enquanto
comportamentos negativamente valorados tendem a reduzir de freqncia. Designando valoraes
diferentes para o mesmo comportamento alvo, Kazdin (1974, citado
por Korotitsch Nelson-Gray, 1999)
demonstrou o efeito dessa varivel.
Quando valorado positivamente, o
comportamento aumentou de freqncia; quando valorado negativamente, o mesmo comportamento
diminuiu de freqncia.
Motivao para mudana A motivao do participante para mudar
seu comportamento parece se relacionar com a reatividade. Em Komaki e Dore-Boyce (1978), estudantes que relataram estar com alta
motivao para melhorar a sua participao verbal em um grupo de
discusso sofreram um maior efeito
de reatividade do que estudantes
que relataram estar com baixa motivao, isto , a freqncia verbal
dos estudantes mais motivados aumentou como resultado do AM.
Topografia do alvo de registro Os
efeitos reativos podem tambm depender da dimenso do comportamento selecionado para registro.
Abrams e Wilson (1979) mostraram
que fumantes que registravam a
quantidade de nicotina consumida
(em miligramas) passaram a fumar
menos do que os fumantes que registravam o nmero de cigarros fumados.
Esquema de registro O efeito de
reatividade maior quando todas
as ocorrncias do comportamento
so registradas. Mahoney, Moore,
Wade e Moura (1973) relataram um
melhor desempenho bem como uma
maior permanncia nas tarefas automonitoradas quando o AM era realizado de forma contnua (toda resposta registrada), comparado com
registro intermitente dos mesmos
comportamentos.
Respostas de monitoramento concorrente O aumento do nmero
de respostas concorrentemente automonitoradas tende a diminuir
os efeitos da reatividade.
Um
maior efeito reativo foi encontrado
por Hayes e Cavior (1977, citados por Korotitsch Nelson-Gray,
1999) quando apenas uma resposta,
em comparao com mltiplas respostas, era automonitorada.
Momento do registro A magnitude dos efeitos de reatividade pode
ser determinada tambm pelo momento do registro. Rozensky (1974)
mostrou que a reduo do fumar
foi maior quando o registro era
feito antes, do que quando era
feito depois de fumar. Em um
Revista Psicolog 96
estudo de Bellack, Rosensky, e
Schwartz (1974) os participantes
registravam o que comiam, a quantidade, o tempo e o local da refeio.
O grupo de monitoramento prcomportamento registrava, antes da
refeio, o quanto ia comer, e
o grupo de monitoramento pscomportamento, registrava o que
havia comido. O primeiro grupo
teve uma reduo de peso maior do
que o segundo, e este no diferiu de
um grupo controle.
Estabelecimento de objetivo, feedback e reforamento Outras variveis que aumentam o efeito de
reatividade so o estabelecimento
de objetivo, o feedback ao usurio
do AM e o reforamento contingente mudana de comportamento. Vrios estudos apresentados por Korotitsch e Nelson-Gray
(1999) mostraram que a definio
de metas referentes aos comportamentos a serem automonitorados,
produz um maior efeito de reatividade. Da mesma forma, feedback
sobre a freqncia de AM tambm aumenta o grau de reatividade. Alm disso, reforamento
contingente a mudanas no comportamento automonitorado potencializa o efeito reativo do AM.
Questes metodolgicas
Em contextos clnicos e de pesquisa,
o AM pode ser um recurso para a obteno
da linha de base, como forma de avaliar o
comportamento alvo. Muitas vezes, antes
de uma interveno pode-se desejar mensurar dor, ansiedade, consumo de alimento,
entre outros comportamentos, e o AM pode
ser uma tcnica til. O tempo de registro
para a obteno da linha de base pode ser
varivel, dependendo do tipo de evento a
ser registrado e da freqncia de sua ocor-
rncia. Barton, Blanchard e Veazey (1999)
sugerem, para casos de dor crnica, por exemplo, duas semanas de AM em pesquisas
e uma semana em situao clnica. Quanto
mais crnico o problema menor precisa ser
o tempo de linha de base.
Cone (1999) defende que o AM e
auto-relatos globais so os extremos de um
continuum de observao. O auto-relato
estaria na extremidade de observao indireta, e o AM na extremidade da observao
direta. Comparado ao auto-relato (ou lembrana retrospectiva, como denominam alguns autores), o AM tem as vantagens de
registrar o comportamento muito prximo
do tempo real e de ser menos vulnervel ao
esquecimento (cf. Wilson Vitousek, 1999)
e s interferncias do controle de estmulos.
Segundo Korotitsch e Nelson-Gray (1999),
o AM, comparado com a observao direta
efetuada por terceiros, mais econmico e
mais conveniente.
A tcnica de AM pode ser muito
simples ou sofisticada, dependendo dos objetivos do terapeuta ou do pesquisador e
do tipo de comportamento, incluindo sua
freqncia e contexto onde ocorre. Independentemente de sua complexidade, importante buscar-se sempre a sua preciso e
acurcia.
A seguir, apresentamos alguns dos
procedimentos sugeridos por Barton, Blanchard e Veazey (1999), Cone (1999), Korotitsch e Nelson-Gray (1999) e Thiele,
Laireiter e Baumann (2002) para garantir
a preciso e acurcia do AM.
Inicialmente, necessrio estabelecer um vnculo de confiana entre
cliente e terapeuta ou entre participante e
pesquisador. No caso da pesquisa, o consentimento ps-informado extremamente
Revista Psicolog 97
importante para garantir a fidedignidade simples e curta. O comportamento a ser
dos dados obtidos por meio dos registros registrado deve ser definido de forma in(cf. Gimenes Gimenes, 1984).
equvoca; mesmo para comportamentos
complexos, as definies no devem deixar
margem para interpretao dbia da sua
O cliente ou participante deve ser
ocorrncia.
convencido da importncia dos registros
para a programao ou avaliao das intervenes, bem como para o sucesso do
O cliente ou participante deve ser
programa. Para isso, pode-se utilizar de ex- alertado para a importncia em registrar
emplos bem sucedidos do uso de registros o comportamento temporalmente o mais
na resoluo de alguns transtornos com- prximo possvel da sua ocorrncia. Isso
portamentais ou na compreenso de alguns reduz possveis esquecimentos e distores
fenmenos pesquisados.
nos relatos sobre as observaes. Ao
mesmo tempo, instrues devem ser dadas
Enquanto alguns clientes ou partici- para que os registros no ocorram concorrentemente com outros comportamentos,
pantes j possuem habilidades relacionadas
por exemplo, enquanto falando ao telefone,
ao AM, outros no tm experincia alguma
ou realizando qualquer outra atividade que
no que se refere s observaes e registros.
possa interferir na acurcia do registro.
Neste caso, um treino prvio dessas habilidades importante para garantir a confiabilidade dos registros. Esse treino pode
Toda vez que um registro soliciser realizado de acordo com as prefern- tado, a sesso teraputica ou de entrevista
cias do terapeuta ou pesquisador e ainda deve ser iniciada com a anlise dos regdo grau de sofisticao do repertrio do istros. Esse procedimento ressalta a imcliente ou participante. Entretanto, sugeri- portncia dos registros e tende a reforar
mos a utilizao de princpios de instruo o comportamento de registro do cliente ou
programada, iniciando-se por registros de participante. Alm disso, durante a anlise
comportamentos simples e de fcil obser- dos registros, importante reforar o devao e gradativamente introduzindo com- sempenho do cliente ou participante quando
portamentos mais complexos que requerem os registros so acurados e foram realizados
observaes mais elaboradas.
de acordo com as solicitaes.
O AM pode ainda ser potencializado pelo tipo de material escolhido para
realizar os registros e pela definio dos
comportamentos a serem registrados. De
acordo com as possibilidades, o material
utilizado deve ser o mais simples possvel
e que produza o menor custo de resposta
para o cliente ou participante. Equipamentos simples que requerem respostas motoras
discretas devem ser preferidos sobre materiais que requerem manuseio intrusivo e respostas contnuas. Quando necessrias, instrues devem ser apresentadas de forma
Finalmente, em alguns casos pode
ser necessrio verificar se os registros esto sendo realizados conforme planejado.
Ligaes telefnicas intermitentes e inesperadas aos clientes ou participantes com
perguntar sobre os registros podem ajudar a
manter o AM.
Apesar da utilidade do AM, alguns
outros cuidados metodolgicos devem ser
tomados na sua adoo e anlise dos dados.
O efeito de reatividade, por exemplo, pode
mascarar o efeito da manipulao de uma
Revista Psicolog 98
varivel independente. Isso grave principalmente no contexto de pesquisa. Para
reduzir a reatividade, uma alternativa utilizar registros automticos que no permitam ao participante acesso aos dados, de
forma que ele no possa comparar taxas
atuais com anteriores (Barton, Blanchard
Veazey, 1999).
teligentes e com alto nvel de escolaridade.
Assim, generalizaes sobre os efeitos do
AM devem ser realizadas com cuidado.
Consideraes finais
O AM como tcnica para observao, avaliao e interveno comportamental est bem estabelecida na literatura
especializada e tem se mostrado um instrumento importante tanto no contexto clnico
como no de pesquisa. Como qualquer tipo
de instrumental teraputico ou de pesquisa,
a sua escolha deve ser realizada criteriosamente. Alguns aspectos a ser levados em
considerao incluem o tipo de comportamento alvo e o tipo de cliente ou participante.
Em geral, o AM tem se mostrado
pouco efetivo para perodos de registro
maiores do que 6 a 8 semanas, segundo
Thiele, Laireiter e Baumann (2002). Dessa
forma, quando se necessita registros por
longos perodos de tempo, pausas de uma
semana a cada 6 ou 8 semanas podem contribuir para a manuteno da efetividade
do AM. Esses perodos, entretanto, devem
ser definidos de acordo com as caractersticas do cliente ou participante bem como do
Uma srie de sugestes para garancomportamento alvo, a partir das avaliaes
tir a adeso e a preciso e acurcia do AM
do terapeuta ou pesquisador.
foram apresentadas. Alm disso, esforos
devem ser efetuados no sentido de cada vez
Em alguns casos, o AM pode ser
mais desenvolver materiais e instrumentos
uma atividade aversiva. Portadores de
de registros que sejam minimamente intrutranstornos da alimentao (anorexia e busivos, aumentando dessa forma a probabililima), por exemplo, tendem a rejeitar o AM dade de adeso a essa tcnica.
porque este pode intensificar a preocupao
com comida e evocar pensamentos ruminaFinalmente, o AM deve ser encartivos e autodestrutivos. Os registros de ingesto de alimentos podem ficar associados ado como parte de um arsenal disponvel
com uma histria de fracasso e frustrao. ao terapeuta ou pesquisador. A sua utiNesses casos, o foco deve ser sempre no lizao e a avaliao da sua eficcia devem
registro de mudana de comportamentos e sempre ser avaliadas dentro do contexto
no na ingesto calrica ou peso (Wilson multifacetado que se configura a clnica e a
pesquisa.
Vitousek, 1999).
O AM, como qualquer outra tcnica
teraputica, pode no ser efetivo para qualquer tipo de comportamento ou para qualquer indivduo. Alm disso, como apontam
Thiele, Laireiter e Baumann (2002), o grau
de adeso ao AM tem se mostrado baixo.
Os indivduos que mais aderem ao AM
so geralmente pessoas jovens, verbais, in-
Referncias
Abrams, D. B. Wilson, G. T.
(1979). Self-monitoring and reactivity in
the modification of cigarette smoking. Journal of Consulting and Clinical Psychology,
47, 243-251.
Revista Psicolog 99
Barton, K. A., Blanchard, E. B.
Veazey, C. (1999). Self-Monitoring as an
Dupuy, J. B., Beaudoin, S.,
assessment strategy in behavioral medicine. Rheaume, J., Ladouceur, R. Dugas, M.
Psychological Assessment, 11 (4), 490-497.
J. (2001). Worry: daily self-report in clinical and non-clinical populations. Behaviour
Bellack, A. S. Rosensky, R. Research and Therapy, 39, 12491255.
Schwartz, J. (1974). A comparison of two
forms of self-monitoring in a behavioral
Frederiksen, L. W. (1975). Treatweight reduction program. Behavior Ther- ment of ruminative thinking by selfapy, 5, 523-530.
monitoring. Journal of Behavior Therapy
and Experimental Psychiatry, 6, 258-259.
Bezerra, P. C. (2001). Registro alimentar e automonitoramento: uma conGajar, A., Schloss, P. J., Schloss,
tribuio para o controle da obesidade. DisC. N. Thompson, C. K. (1984). Effects
sertao de Mestrado no Publicada. Uniof feedback and self-monitoring on head
versidade de Braslia.
trauma youths conversation skills. Journal
of Applied Behavior Analysis, 17 (3), 353Britto, I. A. G. S. Duarte, A. M. M. 358.
(2004). Transtorno de pnico e agorafobia:
um estudo de caso. Revista Brasileira de
Gimenes, L. S. (1997). ComportaTerapia Comportamental e Cognitiva, 6 (2),
mento adjuntivo: um possvel modelo para
165-172.
a anlise e interveno em problemas de
sade. Em R. A. Banaco (Org.), Sobre comCone, J. D. (1999). Introduction portamento e Cognio: Vol. 1. Aspectos
to the special section on self-monitoring: tericos, metodolgicos e de formao em
a major assessment method in clinical psy- anlise do comportamento e terapia cognichology. Psychological Assessment, 11 (4), tivista. (p. 395-403). So Paulo: ARBytes.
411-414.
Craske, M. G. Tsao, J. C. I. (1999).
Self-monitoring with panic and anxiety disorders. Psychological Assessment, 11 (4),
466-479.
Gimenes, M. G. Gimenes, L. S.
(1984).
Consentimento informado em
pesquisas com sujeitos humanos: barreiras
e proteo dos sujeitos. Revista de Psicologia, 2 (2), 15-21.
Hayes, S. C. Nelson, R. O. (1983).
Critchfield, T. S. (1999). An unexpected effect of recording frequency in re- Similar reactivity produced by external cues
active self-monitoring. Journal of Applied and self-monitoring. Behavior ModificaBehavior Analysis, 32 (3), 389-391.
tion, 7 (2), 183-196.
Dillenburger, K.
Keenan, M.
(2003).
Using hypnosis to facilitate
direct observation of multiple tics and
self-monitoring in a typically developing
teenager. Behavior Therapy, 34, 117-125.
Herren, C. M. (1989). A selfmonitoring technique for increasing productivity in multiple media. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 20, 69-72.
Revista Psicolog 100
ior Therapy, 5, 107-111
Hildebrandt, T. Latner, J. (2006).
Effect of self-monitoring on binge eating:
McKenzie, T. L. Rushall, B. S.
treatment response or binge drift? Euro- (1974). Effects of self-recording on attenpean Eating Disorders Review, 14 (1), 17- dance and performance in a competitive
22.
swimming training environment. Journal
of Applied Behavior Analysis, 73 (2), 199206.
Komaki, J., Dore-Boyce, K. (1978).
Self-recording: its effects on individuals
high and low motivation. Behavior TherMiltenberger, R. G., Redlin, J.,
Crosby, R., Stickney, M. Mitchell, J., Wonapy, 9, 65-72.
derlich, S., Faber, R. Smyth, J. (2003). Direct and retrospective assessment of factors
Korotitsch, W. J. Nelson-Gray, R.
contributing to compulsive buying. JourO. (1999). An overview of self-monitoring
nal of Behavior Therapy and Experimental
research in assessment and treatment. PsyPsychiatry, 34, 1-9.
chological Assessment, 11 (4), 415-425.
Mundim, M. B. Bueno, G. N.
Latner, J. D. Wilson, G. T. (2002).
Self-monitoring and the assessment of (2006). Anlise comportamental em um
binge eating. Behavior Therapy, 33 (3), caso de dependncia nicotina. Revista
Brasileira de Terapia Comportamental e
465-477.
Cognitiva, 8 (2), 179-191.
Latimer, P. R. (1988).
DistrNelson, R. O. Hayes, S. C. (1981).
bios gastrintestinais funcionais: um enTheoretical explanations for reactivity in
foque de medicina comportamental. (B.
Maierovitch, Trad.). So Paulo: Andrei Ed- self-monitoring. Behavior Modification, 5,
3-14.
itora.
Neuringer, A. (1981).
SelfLloyd, J. W., Bateman, D. F., Lanexperimentation: a call for change. Bedrum, T. J. Hallahan, D. P. (1989). Selfhaviorism, 9 (1), 79-94.
recording of attention versus productivity.
Journal of Applied Behavior Analysis, 22
(3), 315-323.
Neuringer, A. (1984). Melioration
and self-experimentation. Journal of the
Experimental Analysis of Behavior, 42 (3),
Mahoney, M. J., Moore, B. S.,
Wade, T. C. Moura, N. G. M. (1973). Ef- 397-406.
fects of continuous and intermittent selfmonitoring on academic bahavior. Journal
Oliveira, M. A. Duarte, A. M.
of Consulting and Clinical Psychology, 41 M. (2004). Controle de respostas de an(1), 65-69.
siedade em universitrios em situaes de
exposies orais. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 6 (2),
Maletzky, B. M. (1974). Behavior
recording as treatment: a brief note. Behav- 183-200.
Revista Psicolog 101
Polaha, J., Allen, K. Studley, B. Analysis in clinical psychology. New York:
(2004). Self-monitoring as an intervention John Wiley Sons.
to decrease swimmers stroke counts. Behavior Modification, 28 (2); 261-275.
Tarrier, N., Sommerfiled, C.,
Reynolds, M. Pilgrim, H. (1999). SympRoberts, S. Neuringer, A. (1998). tom self-monitoring in the treatment of
Self-experimentation. In: K. A. Lattal posttraumatic stress disorder. Behavior
M. Perone (Orgs.), Handbook of research Therapy, 30, 597-605.
methods in human operant behavior, (p.
619-655). Plenum Press, New York.
Thiele, C., Laireiter, A. R. Baumann, U. (2002). Diaries in clinical psyRosen, L .W. (1981). Self-control chology and psychotherapy: a selective reprogram in the treatment of obesity. Jour- view. Clinical Psychology Psychotherapy,
nal of Behavior Therapy and Experimental 9 (1), 1-37.
Psychiatry, 12, 163-166.
Wallace, I. Pear, J. J. (1977). SelfRozensky, R. H. (1974). The effect control techniques of famous novelists.
of timing of self-monitoring behavior on Journal of Applied Behavior Analysis, 10
reducing cigarette consumption. Journal of (3), 515-525.
Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 5, 301-303.
Watson, D. L. Tharp, R. G. (1985).
Self-directed behavior: self modification
Safren, S. A., Otto, M. W., Worth, for personal adjustment. (4th edition).
J. L., Salomon, E., Johnson, W., Mayer, Brooks/Cole Publishing Company.
K. Boswell, S. (2001). Two strategies to
increase adherence to HIV antiretroviral
Wilson, G. T. Vitousek, K. M.
medication: life-steps and medication mon- (1999). Self-monitoring in the assessment
itoring. Behaviour Research and Therapy,
of eating disorders. Psychological Assess39, 11511162.
ment, 11 (4), 480-489.
Sturmey, P. (1996).
Functional
Revista Psicolog 102
O uso do Stroop Color Word Test na esquizofrenia: uma
reviso da metodologia.
Jaime Eduardo Cecilio Hallak1 , Joo Paulo Machado de Sousa1 , Antonio Waldo Zuardi 1
1
Faculdade de Medicina de Ribeiro Preto Universidade de So Paulo
jhallak@fmrp.usp.br
Resumo. Dentre os processos cognitivos que se encontram prejudicados no
transtorno esquizofrnico, a ateno seletiva tem sido um dos mais estudados,
especialmente atravs de testes baseados no efeito Stroop, proposto por este autor em 1935. Basicamente, o efeito Stroop se presta investigao da ateno
seletiva atravs da apresentao de estmulos e de distratores que supostamente prejudicam seu processamento. Desde a proposta original de Stroop,
o teste ganhou diferentes formatos em termos de contedo e apresentao, com
destaque para as verses em carto e computadorizada. O objetivo deste trabalho foi analisar artigos que utilizaram o SCWT no contexto da esquizofrenia
publicados entre 1966 e 1999, visando discutir as diferentes metodologias adotadas no uso do teste. A anlise mostra que os 52 trabalhos revisados apresentam diferenas importantes com relao aos aspectos clnico-demogrficos
das populaes envolvidas e, sobretudo, manipulao dos elementos do teste
e aos critrios de avaliao adotados. As diferenas encontradas sugerem que
mecanismos neuropsicolgicos distintos podem ser recrutados de acordo com
as variaes na tarefa utilizada, o que exige cautela na generalizao de resultados sobre a ateno seletiva avaliada atravs do SCWT na esquizofrenia.
Introduo
O Stroop Color Word Test
(SCWT), publicado inicialmente em 1935
por J. R. Stroop, transformou-se em um
instrumento sinnimo de ateno seletiva,
ainda que pese, at o momento, no existir
explicao completa de seu mecanismo intrnseco, at porqu ainda no o existe para
a ateno seletiva em si. MacLeod (1991)
descreve o fenmeno observado no teste
como muito robusto, o que o transforma
em um desafio a ser desvendado; embora
este seja um campo complexo, onde pequenas variaes na composio da tarefa
e no modo de aplicao podem exercer um
efeito dramtico.
Em seu artigo clssico, Stroop
(1935) realizou trs experimentos. No
primeiro, examinou o efeito de cores incongruentes na leitura de palavras em voz
alta, utilizando quatro cartes com estmulos compostos por cinco palavras e suas
cores: vermelho, verde, azul, marrom e
roxo. Nos dois cartes experimentais, as
palavras eram pintadas com cores incongruentes (p.ex.: a palavra verde pintada
de roxo) e dispostas em 10 colunas e 10 linhas, sendo que cada cor aparecia duas vezes
em cada linha com freqncia igual; os dois
cartes apresentavam os mesmos estmulos
em ordem inversa. Nos outros dois cartes,
chamados controle, os nomes das cores
eram todos escritos em preto. Neste experimento, Stroop no observou diferena
significativa entre as 2 condies.
Revista Psicolog 103
No segundo experimento, Stroop
avaliou o efeito das cores incongruentes,
onde ao invs da leitura se solicita ao sujeito que diga a cor em que as palavras
esto pintadas. Aqui, os cartes controle
apresentavam quadrados pintados em cada
uma das cinco cores, em apresentao 10
X 10, enquanto os cartes experimentais
apresentavam palavras com cores incongruentes. Nesta situao, Stroop observou uma
interferncia significativa na nomeao de
cores quando as palavras so incongruentes
[F(1-39) = 363,65; MSe = 2,45; p < .001)].
Na terceira condio, Stroop investigou o efeito do treino na nomeao
de cores em palavras incongruentes, utilizando cartes com 50 palavras, por oito
dias seguidos. Notou-se uma diminuio
desse efeito (interferncia), no decorrer do
tempo (McLeod, 1991).
A apresentao dos experimentos
iniciais de Stroop necessria, pois, como
observou MacLeod (1991) em sua reviso
de mais de 700 artigos a respeito do teste,
muitas modificaes foram realizadas a partir do trabalho original, o que impede que
aquelas concluses sejam estendidas para
todas as variaes.
Em relao esquizofrenia, numerosos estudos tm evidenciado que
as funes cognitivas, particularmente as
funes executivas frontais, estariam prejudicadas em pacientes. Uma destas funes
seria a ateno seletiva e, como se acredita
que o SCWT esteja relacionado com processos inibitrios que envolvem a ateno
seletiva, o mesmo tem sido muito utilizado
neste tipo de estudo. Prejuzos da ateno
tm sido descritos h muito tempo, sendo
encontrados relatos nos escritos de Bleuler
(1911) e Kraepelin (1913).
VARIVEIS DO TESTE MAIS ESTUDADAS NA ESQUIZOFRENIA:
Ao longo da histria de mais de 70
anos do teste, muitas outras variveis foram
sendo identificadas e relacionadas a funes
cognitivas, particularmente a ateno seletiva (tabela 1).
A anlise da literatura internacional
relativa ao desempenho de pacientes esquizofrnicos no SCWT apresenta alguns
resultados consistentes. Vrios autores concordam que o efeito Stroop reflete alteraes na ateno seletiva; esquizofrnicos
apresentam um maior tempo de resposta
que controles normais em qualquer uma
das condies (leitura de palavras, congruente, neutras, incongruentes) e maior
nmero de erros na situao incongruente,
alm de maior interferncia de erros.
No entanto, uma grande quantidade
de resultados conflitantes pode ser encontrada, dentre os quais destacamos as dvidas sobre a ocorrncia de maior interferncia e facilitao em pacientes; maior efeito
supressor do distrator; presena ou no de
efeito Stroop inverso e combinado; e influncia de sndromes (clnicas, Crow, Liddle), fases da doena ou medicao.
Em face destas inconsistncias, o
trabalho se prope a avaliar se as diferenas
metodolgicas no uso do SCWT podem ser
responsveis por tais disparidades.
OBJETIVO
O objetivo do presente trabalho
foi realizar um levantamento bibliogrfico
atravs do indexador MedLine, compreendendo o perodo de 1966 a 1999, visando
a discusso da metodologia empregada no
uso do SCWT em estudos relacionados
Revista Psicolog 104
esquizofrenia.
ficiente so associados com sintomatologia
positiva (tipo I de Crow). Os autores tamMETODOLOGIA
bm afirmam que a hiptese de um mecanismo inibitrio deficiente em esquizofrniA busca no indexador foi real- cos vem recebendo suporte do aumento de
izada utilizando-se os unitermos Stroop informaes a respeito de dficits no crtex
e schizophrenia, tendo como critrio de frontal destes pacientes.
excluso inicial a publicao em lnguas de
difcil traduo (p.ex.: japons).
Cohen e Servan-Schreiber (1992)
discutem o uso de modelos de conexo para
Em seguida, foi realizada a leitura explorar a relao entre dficits cognitivos
sistemtica dos artigos, buscando identi- e anormalidades biolgicas na esquizofreficar artigos de reviso e artigos empricos nia. Apresentam trs modelos computapara categoriz-los e analis-los.
cionais que simulam o desempenho normal
e esquizofrnico no SCWT e em mais dois
testes (CPT - Continuous Performance Task
RESULTADOS
e LDT - Lexical Disambiguation Task),
demonstrando que um distrbio na repreForam encontrados 55 artigos, dos sentao interna de informaes contextuquais foram excludos trs.
ais poderia explicar de uma maneira comum
os dficits dos esquizofrnicos em muitos
Dos 52 restantes, seis eram artigos dos testes de ateno e linguagem. Os aude reviso e os outros 46 eram artigos em- tores finalizam apresentando a idia que a
dopamina seria responsvel por efeitos neupricos.
romoduladores no crtex frontal.
A Artigos de Reviso:
Estes seis artigos focalizam aspectos tericos relacionados esquizofrenia.
Everett e Laplante (1991) descrevem que uma das suposies mais freqentes que o aumento no tempo para
realizao da parte incongruente do teste
atribudo a uma interferncia causada
pela informao verbal sobre o estmulo
duplo; seu mecanismo intrnseco, no entanto, ainda no estaria explicado, sendo
que as interpretaes mais comuns supem
a existncia de um processo de inibio.
A reviso mostra ainda que muitos estudos
relataram as dificuldades que esquizofrnicos apresentam em modular sua ateno
seletiva em testes Stroop-like e que, recentemente, sinais de ateno seletiva insu-
Cohen e col. (1997) exploram em
seu trabalho de reviso os achados e a
discusso de outro trabalho (Schooler e
col.,1997), concluindo que o mesmo teria
sido algo precipitado em apresentar seus resultados como relacionados memria operativa (working memory) e ao funcionamento do crtex pr-frontal, sugerindo
ainda que a descrio de seus fundamentos tericos no seria satisfatria.
Schooler e col. (1997b) respondem
s consideraes levantadas por Cohen e
col. (1997) dizendo que seus resultados
(1997) trazem tona questes a respeito de
quais seriam os mecanismos psicolgicos
implicados na esquizofrenia, afirmando que
seus resultados seriam consistentes com
duas explicaes possveis: a primeira im-
Revista Psicolog 105
plicaria em uma ausncia de ativao, como
se um distrator nunca tivesse sido apresentado; e a segunda envolveria uma ativao
muito difusa ou muito intensa proveniente
de informaes irrelevantes.
Grapperon e Delage (1999) fizeram
uma reviso a partir de 32 artigos sobre a
utilizao do SCWT em esquizofrnicos,
discutindo aspectos intrnsecos do teste e
concluindo que trs tipos de perturbaes
so observadas entre esquizofrnicos: aumento da interferncia, aumento da facilitao e diminuio do efeito supressor do
distrator. O estudo finaliza apontando que,
embora o SCWT contribua para a anlise
dos distrbios de ateno na esquizofrenia, insuficiente para explicar os mecanismos intrnsecos deste dficit, fazendo-se
necessrias novas abordagens para aprofundar o conhecimento destas perturbaes.
ses de aplicao do SCWT;
3. Influncia de tarefas simultneas e
modificaes no SCWT;
4. Parte integrante de uma bateria de
avaliao de funes cognitivas na
esquizofrenia.
B-1. Desempenho de pacientes esquizofrnicos no SCWT comparados a controles:
Treze artigos foram includos nesta
categoria, sendo que os fenmenos por eles
estudados foram: nmero de erros, interferncia de erros, tempo de resposta, interferncia de tempo, facilitao, efeito supressor
do distrator, influncia do subtipo clnico e
do subtipo de Crow, efeito Stroop reverso
e efeito Stroop combinado (Golden, 1976;
Abramczyk, 1983; Thomas e col., 1989;
Carter e col., 1992; Laplante e col., 1992;
Carter e col., 1993; David, 1993; Salo e
Epstein e col. (1999) realizaram col., 1996; Nordahl e col., 1996; Taylor e
um estudo de reviso sobre a atividade col., 1996; Salo e col., 1997; Carter e col.,
mesolmbica em estudos com tomografia 1997; Cohen e col., 1999).
por emisso de psitrons (PET). Os achados
sugerem que sintomas psicticos positivos B-2. Comparao entre as diferentes ver(delrios e alucinaes) seriam oriundos de ses de aplicao do SCWT:
alteraes neuroanatmicas funcionais simForam identificados quatro artigos
ilares de aumento da atividade mesotemque discutem as verses em carto e comporal e estriatal ventral em situaes de
putadorizada do SCWT, comparando o dediminuio de atividade pr-frontal, como
sempenho de pacientes e controles nas duas
no SCWT.
verses e relatando resultados significativamente diferentes entre as mesmas (Hepp e
B Artigos empricos:
col., 1996; Baxter e Liddle, 1998; Perlstein
e col., 1998; Boucart e col., 1999).
Os 46 artigos empricos restantes
foram divididos em quatro grandes grupos,
B-3.
Influncia de tarefas side acordo com o objetivo principal do es- multneas e modificaes no SCWT:
tudo:
Foram includos aqui os artigos que
apresentavam
modificaes no teste, como,
1. Desempenho de pacientes esquizofrnicos no SCWT comparado por exemplo, apresentaes bilaterais, unilaterais, junto com faixas coloridas, com
a controles;
2. Comparao entre as diferentes ver- um nmero maior ou menor de estmulos,
Revista Psicolog 106
diferentes duraes de tempo de apresen- lizada (carto ou computador) e modo de
tao e aplicao de outras provas concomi- mensurar os escores.
tantes, totalizando cinco artigos (Everett e
col., 1989; David, 1993b; Phillips e col.,
Amostra:
1996; Woodruff e col., 1997; Schooler e
Em relao aos sujeitos, as carcol., 1997).
actersticas clnico-demogrficas descritas
variaram bastante entre os estudos, com
B-4. Parte integrante de bateria de avaliao
nfase para as seguintes reas: sinde funes cognitivas em esquizofrenia:
tomas/sndromes considerados para carDe maneira geral, o SCWT con- acterizar a populao de pacientes, idade,
siderado um sinnimo de avaliao de sexo, escolaridade, escolaridade dos pais,
ateno seletiva, sendo utilizado como raa, QI, uso de medicaes antipsicticas,
parmetro de avaliao para outros testes uso de outras medicaes (anticolinrgicos
e para avaliao de patologias como a es- e benzodiazepnicos), status clnico do paquizofrenia, partindo do princpio de que ciente (ambulatorial ou internado), nmero
esta funo cognitiva encontra-se alterada de internaes, idade de incio da doena e
neste transtorno. Dos 46 trabalhos em- tempo de doena.
pricos, 24 utilizaram o SCWT como integrante de uma bateria ou como padro de
(a) Sintomas ou sndromes consideradas
ateno seletiva para comparao com outpara caracterizar a populao de pacientes.
ros testes. Estes estudos avaliaram funes
Em 74% dos estudos, algum modo
frontais, diferenas entre subtipos clnicos,
de
caracterizar
a populao foi utilizado,
fases do distrbio e diferentes sndromes,
comparaes com outros testes (e.g. Win- observando-se grande variabilidade nos
sconsin Card Sorting Test), efeitos de medi- mtodos ou instrumentos: sndromes clnicaes sobre funes frontais, etc. (Classen cas, fases da doena, tipologia de Crow,
e Laux, 1989; Rosse e col., 1992; Liddle tipologia de Liddle, BPRS (Brief Psye col., 1992; Cassady e col., 1992; Penn e chiatric Rating Scale), Manchester Scale,
col., 1994; Rubino e col., 1994; Buchanan e PANSS, SAPS, SANS, CGI, SSPI e
col., 1994; Buchanan e col., 1994b; Nopou- SANSS.
los e col., 1994; Verdoux e col., 1995;
As escalas mais utilizadas foram a
Schreiber e col., 1995; Trestman e col., BPRS, em 21,74% dos estudos, e a PANSS,
1995; Joyce e col., 1996; Brbion e col., em 13% dos estudos.
1996; Brekke e col., 1997; Jaquet e col.,
1997; Velligan e col., 1997; Rossi e col.,
Outro dado observado foi que, ape1997; McGrath e col., 1997; Suhr, 1997;
Harris e col., 1997; Purdon, 1998; Mahurin sar do uso de instrumentos de mensurao
de sintomas, seus resultados muitas vezes
e col., 1998; Barch e Carter, 1999).
no eram apresentados.
AVALIAO METODOLGICA:
A leitura dos artigos permitiu a
deteco de trs nveis de diferenas
metodolgicas que possibilitam a ocorrncia de resultados divergentes na literatura:
amostra de sujeitos, verso do SCWT uti-
Com relao ao diagnstico, seis artigos (13%) apresentavam pacientes com
transtorno esquizoafetivo em sua casustica, enquanto quatro artigos (8,6%) se limitaram a afirmar que seus pacientes eram
esquizofrnicos sem descrever, no entanto,
Revista Psicolog 107
a fonte diagnstica.
(e) Uso de medicaes:
Vinte e um trabalhos (45,6%) no
Apenas um artigo (2%) no forne- fornecem informaes sobre a medicao
cia dados sobre a idade dos sujeitos (Salo, antipsictica utilizada pelos pacientes,
1996).
sendo que a faixa de equivalentes de clorpromazina variou entre 280 mg/dia (+/196) e 1344 mg/d (+/- 1577).
(b) Idade:
A grande maioria dos trabalhos
(98%) apresentou as mdias de idade dos
pacientes. No entanto, apenas dois (4%)
apresentavam em que faixas etrias os sujeitos estavam, e esse um dado importante
pois, conforme demonstrado por MacLeod
(1991), o desempenho no SCWT influenciado por variaes etrias. Os demais
estudos apresentavam as mdias de idade
dos sujeitos (em anos de vida), variando
entre 18, 69 (+/- 0,74) e 61,8 (+/- 10,9),
com a maioria entre 28,6 (+/- 4,3) e 38,5
(+/- 8,8).
Pelo menos trs artigos (6,5%) relataram o uso de antipsicticos atpicos
(clozapina) que, aparentemente, alteram o
desempenho no SCWT.
Apenas oito estudos (17%) descreveram o uso de outras medicaes concomitantes.
(f) Status clnico dos pacientes:
Treze artigos (28,26%) utilizaram
somente pacientes internados, 11 (23,91%)
somente pacientes ambulatoriais e 10
(c) Sexo e Raa:
(21,73%) utilizaram tanto pacientes interA distribuio dos sujeitos por sexo nados, quanto ambulatoriais. Os demais
foi descrita em 80% dos estudos, a dis- estudos no apresentaram este tipo de cartribuio por raa em 15%. Sabe-se, no acterizao.
entanto, que o sexo no influencia no desempenho no SCWT (MacLeod, 1991),
(g) Nmero de internaes, idade de incio
no havendo evidncias de diferenas rela- e tempo de doena:
cionadas raa.
Onze artigos (23,91%) apresentaram o nmero mdio de internaes de
(d) Escolaridade e QI:
seus sujeitos, variando entre 1,51 (+/- 1,74)
Dados sobre a escolaridade dos su- e 12,8 (+/- 14,46).
jeitos, em mdia de anos estudados, foram
apresentados em 43% dos trabalhos, sendo
Nove estudos (19,56%) apresenque 17% apresentaram ainda as mdias de
taram a idade mdia de incio em anos,
escolaridade dos pais dos sujeitos. As mvariando entre 20,1 (+/- 6,0) e 35,9 (+/dias variaram entre 10,7 (+/- 2,9) e 13,36 14,8).
(+/- 0,52) para os pacientes e entre 12,76
(+/- 2,84) e 13,4 (+/- 3,1) para os parentes.
Dezenove
trabalhos
(41,3%)
mostraram o tempo de doena em anos, que
Apenas cinco estudos (10,8%) re- variou entre 8,0 (+/- 7,7) e 26,2 (+/- 15,9).
alizaram avaliao de QI.
Revista Psicolog 108
Trs estudos descreveram as trs
Um ponto importante o fato de
caractersticas anteriores, nove estudos us- que as duas modalidades de apresentao
aram duas delas, e 12 artigos apresentaram cartes e computadorizada - propiciam
apenas uma das caractersticas.
a observao de fenmenos diferentes. A
tabela 2 sintetiza as diferenas entre os dois
mtodos.
Esta anlise sugere uma grande
variabilidade nas amostras utilizadas, o que
dificulta a comparao entre os trabalhos no Mensurao dos escores:
que concerne populao utilizada.
A ltima fonte de dificuldade de
Apresentao dos estmulos no SCWT:
Seis artigos (13%) no descreveram
o teste utilizado, 19 (41,3%) utilizaram alguma verso em carto, 17 (36,95%) utilizaram alguma verso computadorizada e
quatro (8,7%) utilizaram ambas as verses.
Em relao apresentao de cada
uma das verses, houve uma variabilidade muito grande naquelas que utilizaram
cartes. As caractersticas que variaram
foram: nmero e tipo de cores apresentados
(trs a cinco cores), tipo do estmulo neutro (quadrados coloridos, filas de letras X
coloridas, cores escritas em preto, outras
categorias coloridas, palavras com impacto
emocional), presena de palavras pintadas
em cores congruentes, nmero de cartes,
nmero de estmulos por carto (10, 50 ou
100).
comparao entre os diversos estudos utilizando o SCWT na esquizofrenia o modo
de mensurao dos escores. Naqueles artigos que utilizaram a verso em carto, o
modo de pontuao variou, considerandose para o escore somente o tempo de resposta (nove artigos 19,56%), o nmero
de acertos produzidos em determinado
perodo de tempo (nove artigos 19,56%),
e tempo e erros (cinco artigos - 10,86%).
importante ressaltar aqui que tradicionalmente considerado difcil apontar o que
um erro na verso por carto.
Para as verses computadorizadas, a pontuao tambm variou, com 11 artigos
(23,91%) considerando o tempo levado
na realizao da prova e o nmero de erros, oito (17,39%) considerando somente
o tempo e um (2%) considerando somente
o nmero de erros. Um artigo (2%) no
forneceu descrio.
DISCUSSO
A mesma variabilidade foi verificada no uso da verso computadorizada,
com apresentao de trs a seis cores, diferenas no tempo de exposio ao estmulo,
nmero de estmulos total (apresentados individualmente em blocos de 24, 30 ou 40
por vez), porcentagem de estmulos neutros/congruentes/incongruentes, alteraes
no tempo de exposio ao estmulo com
fins investigativos e aquisio de respostas
por ativao de gravador induzido pela voz
ou manualmente.
A esquizofrenia tem sido considerada, j h bastante tempo, como um distrbio que apresenta alteraes na ateno.
Atualmente, o conceito de ateno seletiva
tem recebido destacada ateno dentre as
possveis capacidades cognitivas acometidas neste transtorno. O teste de Stroop
considerado um paradigma clssico nas
neurocincias comportamentais, tanto em
situaes clnicas como experimentais, para
avaliar a ateno seletiva. A partir disso,
no de se estranhar a grande quantidade
de estudos que o utilizam para avaliar pa-
Revista Psicolog 109
cientes esquizofrnicos.
dade de desempenho.
Recentemente,
no
entanto,
comearam a aparecer na literatura
questionamentos quanto aos resultados
obtidos com o SCWT, particularmente
comparando-se as verses em carto e computadorizada.
Para aqueles pesquisadores, diferenas na amostra dos pacientes quanto ao
subtipo clnico podem interferir nos resultados. Enquanto alguns autores acreditam
que a interferncia e a facilitao sejam
partes de um mesmo fenmeno cognitivo, a
dissociao dos resultados observados neste
estudo - com pacientes indiferenciados com
maior facilitao que paranides e controles
normais - sugere que estes sejam mecanismos distintos. Esta informao sugere
que pacientes indiferenciados apresentam
capacidade para inibir informao irrelevante to bem quanto normais, enquanto
paranides apresentam prejuzo nesta habilidade; j quanto a facilitao, ocorre o
contrrio (Carter e col., 1993).
Nesta reviso foram observados
mais dois nveis de possveis fontes para
resultados conflitantes entre os diversos estudos: as caractersticas das amostras utilizadas e o modo de mensurar os escores.
Nas verses com carto observase que os pacientes apresentam um maior
tempo de resposta em qualquer uma das
pranchas, bem como uma maior interferncia de tempo (com uma exceo Perlstein
Hepp e col. (1996) citam que ese col., 1998 que encontrou maior interquizofrnicos apresentam mais interferferncia para os controles normais) e maior
ncia que controles, assim como maior
nmero de erros e interferncia de erros.
efeito Stroop inverso. Como a interferncia considerada uma medida especNas verses com computador, nor- fica de orquestrao apropriada de controle
malmente o tempo de resposta tambm mental inibitrio/facilitatrio, poderia ajumaior para os pacientes, no se observando, dar a distinguir entre diferentes subtipos
porm, interferncia de tempo, mas sim de de esquizofrenia. Este fenmeno parece
erros. Alm disso, verificam-se maior facil- ser maior em pacientes com distrbio do
itao (achado no replicado por todos os pensamento que em outros subtipos, assim
autores Carter e col., 1997), aumento nos como em pacientes em fase aguda, ansiosos
tempos de resposta, e ausncia de diferena e desorganizados. Entretanto, os autores
nas provas de efeito supressor do distrator apontam que a literatura ainda contraem pacientes comparados com controles ditria neste mbito.
saudveis.
Carter e col. (1993) descobriram,
utilizando verses computadorizadas (estmulo a estmulo), que pacientes com esquizofrenia apresentam mais facilitao e
mesma interferncia que controles. Estes
autores acreditam que as diferenas observadas nas verses em carto se devam mais
a um artefato de diminuio global dos tempos de resposta que a uma real anormali-
Alm disso, Hepp e col. (1996) encontraram uma correlao com idade de
incio da doena, mas no com durao da
mesma. Com relao s fases da doena,
observaram diferenas entre as mesmas
para interferncia, mas no para facilitao
e efeito inverso. Estes autores afirmam que
a verso em carto apresenta uma maior interferncia para esquizofrnicos. Na verso
Revista Psicolog 110
computadorizada, no encontraram diferenas de facilitao ou de efeito Stroop
inverso. Dados demogrficos como idade
e nvel educacional no influenciaram na
interferncia, nem tampouco o nvel de sintomatologia pela BPRS. Embora alguns autores tenham encontrado correlao entre a
durao da doena e interferncia, Hepp e
col. (1996) no o fizeram. Na verso computadorizada, no encontraram relao com
fadiga, diferente de Everett e col. (1989)
na verso em carto. Hepp e col. (1996)
concluem que a verso computadorizada
mais sensvel e acurada que a de cartes,
onde questes relativas dificuldade na
contagem de erros permanecem em aberto.
Phillips e col. (1996) encontraram
um aumento global nos tempos de resposta
para os esquizofrnicos, mas no encontraram aumento no efeito Stroop combinado (descrito por David, 1993), o que
atribuem modificao do teste com uso de
dois estmulos bilaterais adicionais, diferentes dos utilizados por David (1993). A
apresentao bilateral produz resultados
diferentes da unilateral, com significativa
reduo na interferncia quando o estmulo
bilateral, para os esquizofrnicos, sugerindo um funcionamento anormal do corpo
caloso. Por fim, Phillips e col. (1996) no
encontraram influncia do subtipo e estgio
da doena na performance nos testes.
Taylor e col.
(1996) escrevem
que alguns autores demonstraram aumento
na interferncia em esquizofrnicos comparados a controles, enquanto outros no.
Porm, com o advento da verso computadorizada, os pesquisadores obtiveram
uma maior liberdade para manipular as
condies do teste, obtendo menor interferncia e maior facilitao. Sugere-se que
a ausncia de diferenas entre a interferncia de esquizofrnicos e sujeitos normais
traz um desafio para a compreenso da
ateno seletiva e, ainda, que quando se
leva em considerao a lentificao generalizada na verso em carto, no se encontram tambm diferenas na interferncia, o
que demonstra a importncia da correo
para dficits generalizados na investigao
neuropsicolgica da esquizofrenia.
Baxter e Liddle (1998) relataram
que a heterogeneidade da esquizofrenia
deriva de uma complexa variedade de processos patofisiolgicos.
Liddle e Morris (1991) estudaram a
associao entre os trs tipos de sndrome
(desorganizao, distoro da realidade e
pobreza psicomotora), descobrindo que a
sndrome de desorganizao est associada
a desempenho prejudicado no SCWT, indicando uma associao com dificuldade para
inibir atividade mental inadequada.
Baxter e Liddle (1998), modificando o SCWT, criaram meios de promover
interferncia no processamento do estmulo
e tambm entre estmulos relevantes e irrelevantes (na verso computadorizada). Na
verso em carto, verificaram que pacientes
com desorganizao apresentam maior interferncia. Na interferncia de resposta,
observaram os mesmos resultados para esquizofrnicos e controles normais, assim
como na interferncia de processamento.
Estes autores acreditam que a excessiva interferncia na forma clssica do teste se
deva a uma dificuldade em suprimir respostas verbais inapropriadas, mas no em
suprimir respostas motoras (utilizaram respostas manuais). De outra forma, como o
SCWT em cartes administrado com demanda de ateno sustentada por mais de
30 segundos - enquanto no computador o
sujeito pode focalizar sua ateno a cada
prova levanta-se a possibilidade de que
na verso clssica possam estar envolvi-
Revista Psicolog 111
dos fatores outros alm daqueles processos
mentais envolvidos na prova; se esta fosse
a explicao completa, no entanto, no se
observariam diferenas entre os subtipos.
Baxter e Liddle (1998) concluem que a associao entre diferentes sndromes e prejuzo neuropsicolgico mais complexa em
doenas remitidas que em quadros persistentes; e provvel que uma grande variedade de fatores contribua nas variaes
de sintomatologia e de desempenho.
Carter e col. (1997) descreveram
a ateno seletiva como a habilidade para
aumentar o processamento de informaes
relevantes para se atingir um objetivo e limitar o processamento daquelas irrelevantes,
sendo, portanto, imprescindvel para o funcionamento na vida cotidiana. Em seu estudo, no encontraram diferenas significativas para interferncia entre pacientes e
controles, apresentaram, porm, uma maior
interferncia de erros, o que refletiria uma
disfuno atencional dos esquizofrnicos.
No encontraram correlao com sndrome
desorganizada ou diferenas na facilitao.
Schooler e col. (1997) propem
que, como o SCWT envolve tanto elementos voluntrios (controlados) como involuntrios (automticos), um instrumento
essencial para a compreenso da ateno
seletiva. O teste tem sido utilizado para
explorar a possibilidade de processos atencionais deficitrios na esquizofrenia. Os
autores citam que vrios padres de diferenas entre esquizofrnicos e controles normais so encontrados na literatura pertinente e afirmam que se uma pessoa processa duas informaes simultaneamente,
uma interferir com a outra, especialmente
se a que for processada mais rapidamente
for aquela que deve ser ignorada; porm, estudos com manipulao do intervalo interestmulos (stimulus onset asynchrony) no
confirmaram esta hiptese.
Cohen e Servan-Schreiber (1992)
criaram um modelo de processamento de
distribuio paralela no qual afirmaram
que o dficit central da esquizofrenia
um distrbio na representao interna de
contextos, resultante de uma reduo dos
efeitos da dopamina no crtex. Escreveram
ainda que, na histria do uso do SCWT,
as pesquisas so diretamente afetadas pela
maneira de apresentao dos estmulos.
Nas verses em cartes os estmulos so
apresentados em blocos, e somente com
a apresentao taquistoscpica que se
pode controlar o tempo do estmulo, assim
como a assincronia de incio. Verificaram,
em seu estudo, que as diferenas entre esquizofrnicos poderiam advir da medicao
antipsictica utilizada, porm, em uma
anlise de 11 pacientes sem medicao,
observaram os mesmos resultados quanto
interferncia. Os autores observaram
maior interferncia em esquizofrnicos que
em voluntrios saudveis, e atriburam tal
fenmeno apresentao randmica computadorizada, o que no permitiria que os
esquizofrnicos sofressem um processo de
adaptao.
Everett e col. (1989) apontam que,
apesar de ainda no estar completamente
compreendida a natureza precisa do efeito
Stroop, o teste tem sido extensamente utilizado no estudo de dficits atencionais de
populaes anormais. Encontraram dois
dficits na esquizofrenia: uma dificuldade
em atentar seletivamente para um aspecto
relevante de uma tarefa complexa (conforme demonstrado pela pior performance
no SCWT reduzido) e uma dificuldade em
manter a ateno seletiva ao longo do tempo
(demonstrando efeitos da fadiga).
Carter e col. (1992) descreveram o
SCWT como um dos testes mais extensa-
Revista Psicolog 112
mente investigados nas cincias cognitivas,
com achados como interferncia e facilitao. Em seu estudo, observaram interferncia similar dos controles, sugerindo
que as alteraes encontradas nas verses
tradicionais se devam a um dficit generalizado. Os autores utilizaram pacientes no
medicados, verificando o mesmo que outros trabalhos (igual interferncia e maior
facilitao).
Buchanan e col.
(1994) afirmam que esquizofrnicos com sintomas
deficitrios apresentam mais disfunes
em tarefas de lobo frontal e/ou parietal.
Em seu estudo, encontraram que pacientes
deficitrios apresentam pior desempenho
nos testes frontais, diferente dos estudos de
Liddle e Morris.
Perlstein e col. (1998) discutiram
que a verso mais utilizada do SCWT a
verso em carto, onde o tempo levado para
realizar a tarefa e o nmero de itens completos dentro de determinado perodo de tempo
servem como mensurao da performance.
Achados com esta verso tm mostrado de
maneira consistente que pacientes apresentam maior tempo total para completar as
provas, assim como maior interferncia e
nmero de erros, comparados a controles
saudveis. No entanto, os autores apontaram que estes estudos variam muito em
diversos aspectos importantes como, por
exemplo, teste de diferenas entre grupos
apenas na condio incongruente. Especificidades como esta impossibilitam comparaes entre estudos e podem levar a concluses errneas a respeito dos dficits dos
esquizofrnicos nesta prova, sugerindo que
os mesmos apresentem maior interferncia.
individualmente, o que permitiu um estudo
especfico do tempo de resposta e acuidade
para cada um deles, aumentando assim a
preciso do teste, permitindo maior liberdade em sua manipulao e propiciando a
investigao de novos fatores (p.ex.: a facilitao s passou a ser estudada em 1969
Sichel e Chandler com a introduo da
situao congruente).
A partir de ento, comeou a ser
observada uma diferena nos resultados,
com maior facilitao para os pacientes e a
mesma interferncia que os controles em relao ao tempo, persistindo, porm, a maior
interferncia de erros. Estes achados seriam
consistentes com uma maior influncia da
palavra sobre o estmulo colorido em pacientes que em controles, o que indicaria
a presena de um dficit na habilidade em
selecionar o estmulo relevante. Isto ocorreria em todas as condies, levando a um
menor tempo na condio congruente e uma
lentificao na condio neutra (maior facilitao), assim como um maior nmero de
erros na situao incongruente (maior interferncia) Perlstein e col. (1998).
Assim, fica claro que estudos utilizando diferentes verses obtm resultados conflitantes. Entretanto Perlstein e col.
(1998) encontraram menos interferncia
que controles nos cartes, embora tenham
reproduzido os achados da literatura com
o uso do computador. Os autores afirmam
que estudos que consideram que exista uma
maior interferncia de tempo na esquizofrenia estariam enganados no que se refere
a verso em cartes, no havendo confirmao deste achado na literatura. Perlstein
e col. (1998) sugerem que as diferenas
observadas se devam a dois fatores: (a)
Mais recentemente, investigadores mtodo de mensurar interferncia, e (b)
passaram a utilizar verses computa- modo de apresentar o estmulo.
dorizadas com apresentao dos estmulos
Revista Psicolog 113
Em relao mensurao, apontaram que a maioria dos estudos utiliza
comparaes pareadas entre os grupos para
cada condio separadamente (no consideram a diferena entre as condies),
encontrando aumento significativo na interferncia; outros estudos nem consideram as mesmas condies (p.ex.: calculando a interferncia e excluindo a condio
conflitante), aplicando tcnicas estatsticas
diferentes (como transformao no linear, criando frmulas de correo, etc).
Ao analisar estudos semelhantes, os autores verificaram que os trabalhos utilizando anlise pareada entre os grupos
encontraram maior interferncia; porm,
com avaliao da diferena entre os escores
das duas condies, dois trabalhos demonstraram menor interferncia, por exemplo.
mais deficincias generalizadas associadas
a fatores especficos.
Quanto s diferentes formas de apresentar o estmulo, Perlstein e col. (1998)
propuseram que existem muitas diferenas
significativas entre as duas verses que precisam ser levadas em considerao quando
se avalia a intensidade do efeito Stroop: na
verso em carto os estmulos so apresentados em bloco, na computadorizada, um a
um, o que diminui a confiabilidade da verso em carto.
CONCLUSO
Uma segunda conseqncia a interferncia de fatores externos ao efeito
(necessidade de manter um escaneamento
visual, escolher item a item e coluna a coluna, selecionar um estmulo dentre uma
srie de estmulos, ignorar uma srie de
efeitos distratores vizinhos, entre outros).
Embora se possa supor que estes fatores externos anulem-se uns aos outros nas diferentes condies, tambm se pode afirmar
que so mais intensos na condio incongruente. Na verso computadorizada isto
no ocorre, pois a apresentao uma a
uma. Ento, o aumento da interferncia observada na verso em carto pode refletir
Uma terceira conseqncia a confuso entre o tempo de resposta e os erros, com o tempo global refletindo acertos e erros. Portanto, importante poder
diferenciar entre tempo de resposta e erros
para avaliar completamente a patologia da
ateno seletiva na esquizofrenia.
A quarta e ltima conseqncia
que a apresentao em bloco permite o
desenvolvimento de estratgias, podendo
diminuir o efeito da interferncia. Os autores concluem que o nmero de erros reflete de maneira melhor o grau de interferncia.
A partir desta reviso, pudemos observar que o SCWT envolve tanto elementos voluntrios (controlados) como involuntrios (automticos), sendo um instrumento
essencial para a compreenso da ateno
seletiva, particularmente na esquizofrenia
(Schooler e col., 1997).
No entanto, a natureza do SCWT
ainda no est completamente compreendida, existindo a possibilidade de que na
verso clssica possam estar envolvidos
fatores outros alm daqueles processos
mentais envolvidos na execuo da tarefa
(Everett e col., 1989; Baxter e Liddle,
1998). Com o advento da verso computadorizada, os pesquisadores obtiveram
uma maior liberdade para manipular as
condies do teste (Taylor e col.,1996).
Este teste apresenta uma alta complexidade,
com mecanismos neuropsicolgicos distintos, envolvidos nos diferentes fenmenos
observados (Carter e col., 1993), influenciados pelo modo de apresentao dos estmulos, amostra utilizada e modo de mensu-
Revista Psicolog 114
Brebion, G., Smith,M. J., Gorman,
J.M.,Amador, X. (1996). Reality monitorConclui-se que frente ao desen- ing in schizophrenia: The role of selective
attention. Schizophrenia Research, 22, 173volvimento de tantas variaes do SCWT,
180.
deve-se ter cautela na generalizao de seus
resultados.
Brekke, J. S., Raine, A., Ansel, M.,
Lencz, T., Bird, L. (1997). NeuropsychoBIBLIOGRAFIA
logical and psychophysiological correlates
Abramczyk, R. R., Jordan,D. of psychosocial functioning in schizophreE.,Hegel,M. (1983). Reverse Stroop ef- nia. Schizophrenia Bulletin, 23, 19-28.
fect in the performance of schizophrenics.
Perceptual and Motor Skills, 56, 99-106.
Buchanan, R. W., Strauss, M. E.,
Kirkpatrick, B., Holstein, C., Breier, A.,
Barch, D. M., Carter, C. S., Carpenter,W. T. J. (1994). NeuropsychoHachten, P. C., Usher, M., Cohen, J. D. logical impairments in deficit vs. nondeficit
(1999). The benefits of distractability forms of schizophrenia. Archives of Genmechanisms underlying increased Stroop eral Psychiatry, 51, 804-811.
effects in schizophrenia. Schizophrenia
Bulletin, 25, 749-762.
Carter, C. S., Mintun,M., Nichols,
T., Cohen, J. D. (1997). Anterior cingulate
Barch, D. M., Carter, C. S., Perl- gyrus dysfunction and selective attention
stein, W., Baird, J., Cohen, J., Schooler, deficits in schizophrenia: [15O]H2O PET
N. (1999). Increased Stroop facilitation study during single-trial Stroop task pereffects in schizophrenia are not due to formance. American Journal of Psychiatry,
increased automatic spreading activation. 154, 1670-1675.
Schizophrenia Research, 39(1), 51-64.
rar os achados.
Baxter, R. D.,
Liddle, P. F.
(1998). Neuropsychological deficits associated with schizophrenic syndromes.
Schizophrenia Research, 30, 239-249.
Carter, C. S., Perlstein, W., Ganguli, R., Brar, J., Mintun, M., Cohen,
J. D. (1998).
Functional hypofrontality and working memory dysfunction in
schizophrenia. American Journal of Psychiatry, 155, 1285-1287.
Bleuler E (1911). Dementia Praecox or the Group of Schizophrenias. New
Carter, C. S., Robertson, L. C., NorYork, NY: International Universities Press. dahl, T. E. (1992). Abnormal process/1950.
ing of irrelevant information in chronic
schizophrenia: Selective enhancement of
Boucart, M.,Mobarek, N., Cuervo, Stroop facilitation. Psychiatry Research,
C., Danion, J.M. (1999).What is the na- 41, 137-146.
ture of increased Stroop interference in
schizophrenia? Acta Psychologica, 101,
Carter, C. S., Robertson, L. C., Nor3-25.
dahl, T. E., OShora-Celaya, L. J., Chaderjian, M. C. (1993). Abnormal processing
Revista Psicolog 115
of irrelevant information in schizophrenia: with psychosis in schizophrenia. SymptomThe role of illness subtype. Psychiatry Re- specific PET studies. Ann N Y Acad Sci.
search, 48, 17-26.
Jun 29;877:562-74.
Cassady, S. L., Thaker, G. K.,
Moran, M. J., Birt, A., Tamminga, C. A.
(1992). GABA agonist-induced changes
in motor, oculomotor, and attention measures correlate in schizophrenics with tardive dyskinesia. Biological Psychiatry, 32,
302-311.
Everett, J., Laplante, L., Thomas,
J. (1989). The selective attention deficit in
schizophrenia: Limited resources or cognitive fatigue. Journal of Nervous and Mental
Disease, 177, 735-738.
Everett J, Laplante L (1991). Attention deficits and schizophrenia. MultidisClassen,W.,Laux,G. (1989). Com- ciplinary approaches and the Stroops test.
parison of sensorimotor and cognitive per- Encephale. May-Jun;17(3):171-8.
formance of acute schizophrenic inpatients
treated with remoxipride or haloperidol.
Golden, C. J. (1976). Identification
Neuropsychobiology, 21, 131-140.
of brain disorders by the Stroop color and
word test. Journal of Clinical Psychology,
Cohen, J. D., Dunbar, K., McClel- 32, 654-658.
land, J. L. (1990). On the control of automatic processes: A parallel distributed
Grapperon J, Delage M (1999).
processingmodel of the Stroop effect. PsyStroop test and schizophrenia. Encephale.
chological Review, 97, 332-361.
Jan-Feb;25(1):50-8.
Cohen JD, Servan-Schreiber D, McHarris MJ, Heaton RK, Schalz A,
Clelland JL. (1992). A parallel distributed Bailey A, Patterson TL (1997). Neuroleptic
processing approach to automaticity. Am J dose reduction in older psychotic patients.
Psychol. Summer;105(2):239-69.
Schizophr Res. Oct 30;27(2-3):241-8.
Cohen, J. D., Barch, D. M., Carter,
Hepp, H. H., Maier, S., Hermle, L.,
C. S.,
Servan-Schreiber, D. (1999).
Spitzer, M. (1996). The Stroop effect in
Schizophrenic deficits in the processing of
schizophrenic patients. Schizophrenia Recontext: Converging evidence from three search, 22, 187-195.
theoretically motivated cognitve tasks.
Journal of Abnormal Psychology, 108, 120Jaquet I, Lanon C, Auquier P,
133.
Bougerol T, Scotto JC (1997). Frontal lobe
cognition disorders in 42 schizophrenic paDavid, A. S. (1993). Callosal transtients compared with 19 normal probands.
fer in schizophrenia: Too much or too little?
Encephale. Jan-Feb;23(1):34-41.
Journal of Abnormal Psychology, 102, 573579.
Joyce EM, Collinson SL, Crichton
P (1996). Verbal fluency in schizophreEpstein J, Stern E, Silbersweig D nia: relationship with executive function,
(1999). Mesolimbic activity associated
Revista Psicolog 116
semantic memory and clinical alogia. Psy- M., Arndt, S., Andreasen, N. C. (1994).
chol Med. Jan;26(1):39-49.
Stability of cognitive functioning early in
the course of schizophrenia. Schizophrenia
Research, 14, 29-37.
Kraepelin E (1913). Clinical Psychiatry. New York, NY: William Wood
Company.
Nordahl, T. E., Carter, C. S., Salo,
R. E., Kraft, L., Baldo, J., Salamat, S., et
al. (2001). Anterior cingulate metabolism
Laplante, L., Everett, J.,Thomas, J.
(1992). Inhibition through negative prim- correlates with Stroop errors in paranoid
ing with Stroop stimuli in schizophrenia. schizophrenia patients. Neuropsychopharmacology, 25, 139-148.
British Journal of Clinical Psychology, 31,
307-326.
Perlstein,W. M., Carter, C. S.,
Barch, D.M., Baird, J.W. (1998). The
Liddle, P. F., Friston, K. J., Frith,
Stroop task and attention deficits in
C. D., Frackowiak, R. S. J. (1992). Cereschizophrenia: A critical evaluation of
bral blood flow and mental processes in
schizophrenia. Journal of the Royal Society card and single-trial Stroop methodologies.
Neuropsychology, 12, 414-425.
ofMedicine, 85, 224-227.
Phillips, M. L.,Woodruff, P.W. R.,
Liddle, P. F., Morris, D. L. (1991).
David, A. S. (1996). Stroop interference
Schizophrenic syndromes and frontal lobe
and facilitation in the cerebral hemispheres
performance. British Journal of Psychiatry,
in schizophrenia. Schizophrenia Research,
158, 340-345.
20, 57-68.
MacLeod, C. M. (1991). Half a cenPurdon, S. E. (1998). Olfactory
tury of research on the Stroop effect: An
integrative review. Psychological Bulletin, identification and Stroop interference converge in schizophrenia. Journal of Psychia109, 163-203.
try and Neuroscience, 23, 163-171.
Mahurin, R. K., Velligan, D. I.,
Rosse, R. B., Schwartz, B. L., ZloMiller, A. L. (1998). Executivefrontal
tolow, S., Banay-Schwartz, M., Trinidad,
lobe cognitive function in schizophrenia:
A symptom subtype analysis. Psychiatry A. C., Peace, T. D., et al. (1992). Effect of a low-tryptophan diet as an adjuResearch, 79, 139-149.
vant to conventional neuroleptic therapy in
schizophrenia. Clinical NeuropharmacolMcGrath, J., Scheldt, S., Welham, ogy, 15, 129-141.
J., Clair, A. (1997). Performance on tests
sensitive to impaired executive ability in
Rossi A, Daneluzzo E, Mattei
schizophrenia, mania and well controls:
P, Bustini M, Casacchia M, Stratta P
Acute and subacute phases. Schizophre(1997). Wisconsin card sorting test and
nia Research, 26, 127-137.
Stroop test performance in schizophrenia:
a shared construct. Neurosci Lett. Apr
Nopoulos, P., Flashman, L., Flaum, 25;226(2):87-90.
Revista Psicolog 117
tioning deficits in hypothetically psychosisRubino IA, Del Monaco E, Rocchi prone college students. Schizophr Res. Oct
MT, Pezzarossa B (1994). Microgenetic 17;27(1):29-35.
styles of regulation in schizophrenia. PerTaylor, S. F., Kornblum, S., Tancept Mot Skills. Aug;79(1 Pt 2):451-7.
don, R. (1996). Facilitation and interference of selective attention in schizophrenia.
Salo, R., Robertson, L. C., NorJournal of Psychiatric Research, 30, 251dahl, T. E. (1996). Normal sustained effects
of selective attention are absent in unmedi- 259.
cated patients with schizophrenia. Psychiatry Research, 62, 121-130.
Thomas J, Laplante L, Everett J
(1989). Schizophrenia and selective attention. Encephale. Jan-Feb;15(1):7-12.
Salo, R. E., Robertson, L.
C.,Nordahl, T. E.,Kraft, L.W. (1997). The
Trestman
RL,
Keefe
RS,
effects of antipsychotic medication on sequential inhibitory processes. Journal of Mitropoulou V, Harvey PD, deVegvar ML,
Lees-Roitman S, Davidson M, Aronson A,
Abnormal Psychology, 106, 639-643.
Silverman J, Siever LJ (1995). Cognitive
Schooler, C., Neumann, E., Caplan, function and biological correlates of cogniL. J., Roberts, B. R. (1997). A time course tive performance in schizotypal personality
disorder. Psychiatry Res. Nov 29;59(1analysis of Stroop interference and facili2):127-36.
tation: Comparing normal individuals and
individuals with schizophrenia. Journal of
Velligan DI, Mahurin RK, Diamond
Experimental Psychology, 126, 19-36.
PL, Hazleton BC, Eckert SL, Miller AL
Schooler C, Neumann E, Caplan LJ, (1997). The functional significance of
Roberts BR (1997). Stroop theory, memory, symptomatology and cognitive function
in schizophrenia. Schizophr Res. May
and prefrontal cortical functioning: reply to
3;25(1):21-31.
Cohen et al. (1997). J Exp Psychol Gen.
1997 Mar;126(1):42-4.
Verdoux, H.,Magnin, E.,Bourgeois,
M. (1995).Neuroleptic effects on neuropsySchreiber H, Rothmeier J, Becker
chological test performance in schizophreW, Jrgens R, Born J, Stolz-Born G, Westphal KP, Kornhuber HH (1995). Compara- nia. Schizophrenia Research, 14, 133-139.
tive assessment of saccadic eye movements,
Woodruff, P. W. R., Phillips, M.
psychomotor and cognitive performance in
schizophrenics, their first-degree relatives L., Rushe, T., Wright, I. C., Murray, R.
and control subjects. Acta Psychiatr Scand. M., David, A. S. (1997). Corpus callosum size and interhemispheric function
Mar;91(3):195-201.
in schizophrenia. Schizophrenia Research,
Suhr JA. (1997). Executive func- 23, 189-196.
Revista Psicolog 118
Tabela 1. Variveis do SCWT estudadas na esquizofrenia
Varivel
Tempo de resposta
Nmero de erros
Interferncia
Facilitao
Efeito Stroop Inverso
Efeito Stroop Composto
Efeito supressor do
distrator
podem ser considerados nmeros de erros
Definio
Autores
Tempo necessrio para
MacLeod, 1991
realizar a tarefa de leitura
ou nomeao de cores.
Nmero de respostas
MacLeod, 1991
erradas na leitura ou
nomeao de cores.
Diferena entre os tempos
Taylor e col., 1996;
de resposta para
Schooler e col., 1997;
estmulos incongruentes
Boucart e col., 1999.
menos os tempos de
resposta para estmulos
neutros.
Diferena entre os tempos
Taylor e col., 1996;
de resposta para
Schooler e col., 1997;
estmulos neutros menos
Boucart e col., 1999.
os tempos de resposta
para estmulos
congruentes.
Interferncia de uma cor
Abramczyk e col., 1983
ou figura na leitura de uma
palavra.
Diferena entre os tempos
Phillips e col., 1995
de resposta para
estmulos incongruentes
menos os tempos de
respostas para estmulos
congruentes.
Aumento do tempo de
Laplante e Everett, 1992;
resposta quando um
Grapperon e Delage,
distrator de uma prova
anterior (n-1)
apresentada
subseqentemente (n), i.e.
na apresentao de cores
incongruentes, vermelho
escrito em azul, seguido
de verde escrito em
vermelho.
Revista Psicolog 119
Tabela 2. diferenas entre a verso em carto e computadorizada
Apresentao
Quantidade de estmulos
Nmero de cores
Estmulo neutro
Nmero de pranchas
Tempo de exposio ao
estmulo
Modificao do estmulo
Aquisio
Proporo entre os
estmulos
Neutro/Congruente/Incongruente
Carto
Em bloco
10/50/100 (por
prancha)
3a5
Varivel
2 ou 3
Fixo
Computador
Um a um
24/30/40 (em
unidades)
3a6
Varivel
Programvel
Gravao
Fixa
Possvel
Gravao/manual
Programvel
Revista Psicolog 120
Normas para submisso de artigos para publicao
A Revista Psicolog, do Psicolog Instituto de Estudos do Comportamento, um
veculo de difuso cientfica que tem como objetivo publicar trabalhos inditos nas reas
de Psicologia e reas afins. uma revista semestral para publicao de trabalhos originais
como relatos de pesquisa, revises tericas, relatos de caso e comunicaes breves.
Conselho Editorial Todos os manuscritos encaminhados revista passaro pelos
seguintes procedimentos:
1. Primeira avaliao do manuscrito feita pelos Editores referente a sua adequao
s normas de publicao da revista. Aps esta avaliao, o trabalho ser encaminhado para os conselheiros. A escolha destes ocorrer de acordo com a rea de
atuao profissional e linha de pesquisa.
2. Os pareceres sero encaminhados aos editores que encaminharo aos autores na
maior brevidade de tempo possvel e, caso seja aceito, recebero a data prevista
de publicao, volume e nmero da revista.
Critrios para submisso de trabalhos:
O manuscrito, para ser submetido avaliao para publicao, dever ser encaminhado por e-mail para o endereo da revista, juntamente com uma carta de encaminhamento ao editor (APNDICE I), com o nome de todos os autores, autorizando
o processo editorial do manuscrito e garantindo que todos os procedimentos ticos
foram atendidos.
Cada manuscrito deve conter, no mximo, seis autores.
Caso os passos acima no sejam realizados, o material ser devolvido para sua
adequao s normas da revista.
Apresentao do manuscrito
1. Os textos so limitados a um nmero mximo de 25 pginas, incluindo as referncias bibliogrficas, e podem ser apresentados em cinco modalidades: - Relatos
de pesquisa; - Revises tericas; - Relatos de caso; - Comunicaes breves; Tradues de artigos cientficos clssicos.
2. Os manuscritos devero ser digitados em espao duplo, fonte Times New Roman, corpo 12, com as seguintes margens: superior e esquerda devem ter 3,0 cm;
inferior e direita devem ter 2,0 cm, sem exceder o nmero de pginas adotado
pela revista. Os subttulos devem ser escritos em negritos. As figuras, tabelas ou
quadros devem ser apresentados em cor preta e em arquivos prprios, indicando
no corpo do texto o lugar em que os mesmos devem ser inseridos.
3. A apresentao do manuscrito deve ter o seguinte formato:
Folha de rosto: - Ttulo em portugus; Nome de cada autor seguido da
afiliao institucional; indicao do endereo, e-mail e telefones para correspondncia do autor principal do artigo.
Folha de rosto no identificada contendo apenas o ttulo em portugus.
c) Folha de Resumo: resumo em portugus (justificado e em bloco nico)
de 100 a 250 palavras: o resumo deve conter uma introduo, objetivos,
metodologia, principais resultados, concluso e cinco palavras chave. No
resumo no deve ser indicado referncias bibliogrficas.
Revista Psicolog 121
d) Corpo do texto: uma nova pgina em que no deve aparecer o nome
dos autores. No inicie uma nova pgina a cada sub-ttulo. Devem ser
evitadas ao mximo as chamadas com notas de rodap. A insero de
figuras e tabelas devem ser indicadas no corpo do texto e encaminhadas
em arquivos separados.
e) Anexos: apenas quando for estritamente necessrio. Recomenda-se que
os mesmos sejam evitados sempre que for possvel.
f) Figuras e Tabelas: devem conter ttulo e legendas (quando necessrio).
g) Referncias Bibliogrficas: as referncias devem ser listadas na ordem
alfabtica, pelo sobrenome dos autores.
Exemplos para elaborao das citaes
As normas desta revista foram baseadas na Associao Brasileira de Normas
Tcnicas (ABNT).
1 .Citao Direta
a reproduo integral de parte da obra consultada, observando-se grafia, pontuao, idioma, etc... Em reprodues de at trs linhas deve ser incorporada no pargrafo
entre aspas, mesmo que compreenda mais de um pargrafo. Exemplo: De acordo com
Gomes (2004, p. 95), [...]estes animais que geralmente consomem mais folhas do que
frutos inverteram esta predominncia, esto vivendo em uma rea relativamente pequena
e isolada e tm como espcie mais consumida uma planta extica.
As transcries com mais de trs linhas devem figurar abaixo do texto, com 4 cm
de recuo, letra menor que texto utilizado e sem aspas.
Exemplo: Sobre sua situao de conservao Gomes (2004, p.19), relata que
[...] Entretanto esta situao deve ser revista, pois em diversas localidades, a fragmentao causada pelo crescimento
desordenado das cidades e da agroindstria tem isolado diversas populaes de Bugios-Pretos. Particularmente na
regio de Ribeiro Preto, nosso grupo de estudo tem identificado diversos pequenos fragmentos isolados que contm
populaes destes animais, alguns vivendo em estado crtico.
2. Citaes indiretas
So reprodues de idias de outrem sem que haja transcrio literal das palavras
utilizadas.
Exemplo: A infertilidade secundria definida como o fracasso da concepo aps terem
ocorrido gestaes anteriores (FEBRASGO, 1997).
3. Citao de citao
A citao, quando no texto, feita pelo sobrenome do autor e a data de publicao do trabalho no consultada, seguida da expresso apud (citado por), na seqncia,
sobrenome do autor da obra e data do trabalho consultado.
Exemplo: Segundo Malinow (1968 apud Bicca-Marques, 1991) a palavra [...]
Revista Psicolog 122
4. Citao at trs autores
Citar todos os sobrenomes de todos os autores, seguido da data da publicao do
artigo.
Exemplo: (TUCCI, RIBEIRO, SETEM, 2007)
5. Citao com mais de trs autores
Cita-se o sobrenome do primeiro autor seguido da expresso et. al. e da data da
publicao.
Exemplo: (SETEM et. al., 1999).
Exemplos para apresentao das referncias bibliogrficas:
1. Artigo e/ou matria de jornal
NAVES, P. Lagos andinos do banho e beleza. Folha de So Paulo, So Paulo, 28 jun.
1999. Folha Turismo, Caderno 8, p.13.
2. Artigo e/ou matria de jornal em meio eletrnico
SILVA, I. G. Pena de morte para o nasciturno. O Estado de So Paulo, So Paulo, 19 set.
1988. Disponvel em: <http://www.providafamilia.org/pena_morte_nasciturno.htm>.
Acesso em 19 set., 1998.
3. Artigo de revista cientfica
ANTONIAZZI, A. S.; DELLAGLIO, D. D.; BANDEIRA, D. R. O conceito de coping:
uma reviso terica. Estudos de Psicologia, Vol. 3, no 2, p. 273 294, 1998.
4. Artigo de revista cientfica no prelo
ANTONIAZZI, A. S.; DELLAGLIO, D. D.; BANDEIRA, D. R. O conceito de coping:
uma reviso terica. Estudos de Psicologia. No prelo.
5. Trabalho apresentado em evento
Ribeiro, A.C. e Gorayeb., R. Adaptao e verificao da fidedignidade do Inventrio
de Problemas de Fertilidade (IPF) para a lngua portuguesa, para homens e mulheres
infrteis: anlise de dados. In: VII Seminrio de Pesquisa, 2004, Ribeiro Preto. Livro
de resumos do VII Seminrio de Pesquisa: Tomo I. p. 135.
6. Trabalho apresentado em evento em meio eletrnico
Ribeiro, A.C., Guerrelhas, F. e Htem, L.A.B. Transtorno obsessivo-compulsivo e acompanhamento teraputico: relato de um caso. In: XII Encontro Brasileiro de Psicoterapia
e Medicina Comportamental, 2003, Londrina. Anais do XII Encontro Brasileiro de
Psicoterapia e Medicina Comportamental. CDROM.
Revista Psicolog 123
7. Livro de autor pessoal
COLLUCCI, C. Por que a gravidez no vem?. 1a edio. So Paulo: Editora Atheneu,
2003. 156 p.
8. Livro organizado por um editor
PASQUALI, L. (org.). Instrumentos psicolgicos: manual prtico de elaborao.
Braslia: LabPAM / IBAPP, 1999. 306 p.
9. Autor entidade
UNIVERSIDADE DE SO PAULO. Catlogo de teses da Universidade de So Paulo,
1992. So Paulo, 1993. 467 p .
10. Dissertaes/Teses
SEIDL, E. M. F. Pessoas que vivem com HIV/AIDS: configurando relaes entre
enfrentamento, suporte social e qualidade de vida. 2001. 284 f. Tese em Psicologia
Instituto de Psicologia, Universidade de Braslia, Braslia, 2001.
Endereo para encaminhamento:
Revista Psicolog.
E-mail: psicolog@psicolog.com.br
PSICOLOG - Instituto de Estudos do Comportamento
Rua Marechal Deodoro, 1844
Ribeiro Preto SP
CEP 14025-210
Fone: (16) 3913 4047
Você também pode gostar
- Psicanálise de Crianças e AdolescentesDocumento15 páginasPsicanálise de Crianças e AdolescentesLéia Nametala50% (2)
- 3 - Seja Um Amante Sensacional - A Bíblia Do SexoDocumento254 páginas3 - Seja Um Amante Sensacional - A Bíblia Do Sexoelielson100% (1)
- Cartilha-Alimentação em Diversos Momentos Da VidaDocumento71 páginasCartilha-Alimentação em Diversos Momentos Da VidadirleydAinda não há avaliações
- Psicologia e EspiritualidadeDocumento7 páginasPsicologia e EspiritualidadeTAGAinda não há avaliações
- O Começo Depois Do Fim - Light Novel 001 380 O Começo Depois Do Fim - Light Novel 001 380Documento4.449 páginasO Começo Depois Do Fim - Light Novel 001 380 O Começo Depois Do Fim - Light Novel 001 380Galiard CodeAinda não há avaliações
- Conferencia - A Mulher - Julián MaríasDocumento16 páginasConferencia - A Mulher - Julián MaríasLincoln Haas HeinAinda não há avaliações
- Compreensão e A Aval. Do TDAH - Possíveis Interloc. Entre Neuropsi e Analítica CompDocumento19 páginasCompreensão e A Aval. Do TDAH - Possíveis Interloc. Entre Neuropsi e Analítica CompLaurinha Quick BahiaAinda não há avaliações
- Gestalt Terapia Com CriançasDocumento52 páginasGestalt Terapia Com CriançasGeise Linhares100% (1)
- Resumo CognitivaDocumento21 páginasResumo CognitivarabelomarcianoAinda não há avaliações
- Metódo Natureza Desenhista - 02-09-2015Documento271 páginasMetódo Natureza Desenhista - 02-09-2015Navivi Natocoro100% (1)
- To de Atividades para o Grupo de Familias Do Caps RenascerDocumento13 páginasTo de Atividades para o Grupo de Familias Do Caps RenascerIsabelle MouraAinda não há avaliações
- A Maneira de Pensar Do Adolescente-2022Documento28 páginasA Maneira de Pensar Do Adolescente-2022nicoleAinda não há avaliações
- Aula 1-Radiologia-Historia Da PsicologiaDocumento21 páginasAula 1-Radiologia-Historia Da PsicologiaFernandaAinda não há avaliações
- TEA MIRAÍ - EditadoDocumento44 páginasTEA MIRAÍ - EditadoGustavo XavierAinda não há avaliações
- Problemas Emocionais e de Comportamento Na Adolescência - o Papel Do EstresseDocumento21 páginasProblemas Emocionais e de Comportamento Na Adolescência - o Papel Do EstresseDuda MussarelliAinda não há avaliações
- A Importância Da Validação Das Emoções Das CriançasDocumento11 páginasA Importância Da Validação Das Emoções Das CriançasbiancaAinda não há avaliações
- 5 Tipos de AnsiedadeDocumento5 páginas5 Tipos de AnsiedadeCristina PalludettiAinda não há avaliações
- Modelo 2022 - Ananmese Escolar Da FamiliaDocumento11 páginasModelo 2022 - Ananmese Escolar Da Familiabarbiellen LimaAinda não há avaliações
- Cap.13 - Trabalhando Com Crianças DisruptivasDocumento3 páginasCap.13 - Trabalhando Com Crianças DisruptivasWagner WittAinda não há avaliações
- Terapias Cognitivo-Comportamentais para Crianà As e Adolescentes Circe S.Petersen &colaboradores PDFDocumento86 páginasTerapias Cognitivo-Comportamentais para Crianà As e Adolescentes Circe S.Petersen &colaboradores PDFnoba_1985Ainda não há avaliações
- Teste Do Desenho Da FamiliaDocumento2 páginasTeste Do Desenho Da Familiavanessa langaAinda não há avaliações
- Apresentação Final Autismo E AspergerDocumento14 páginasApresentação Final Autismo E AspergerBarbara CostaAinda não há avaliações
- Testes Pré Dislexia PDocumento19 páginasTestes Pré Dislexia PSislaine BarbosaAinda não há avaliações
- Família e Sociedade passo a passo vol VII: uma perspectiva multidisciplinar de transtornos, distúrbios e deficiênciasNo EverandFamília e Sociedade passo a passo vol VII: uma perspectiva multidisciplinar de transtornos, distúrbios e deficiênciasAinda não há avaliações
- Psicodrama - o Que ÉDocumento24 páginasPsicodrama - o Que ÉCassyus PedrozaAinda não há avaliações
- Terapia Cognitivo-Comportamental: Intervenção No Processo Da Regulação EmocionalDocumento29 páginasTerapia Cognitivo-Comportamental: Intervenção No Processo Da Regulação EmocionalVida Mental100% (2)
- Aula 6 - Ética Na PsicoterapiaDocumento14 páginasAula 6 - Ética Na PsicoterapiaRomano Scroccaro ZattoniAinda não há avaliações
- Modelo Laudo BariatricaDocumento2 páginasModelo Laudo BariatricaAngélicaAinda não há avaliações
- Os Dilemas Da Psiquiatria (Simanke)Documento26 páginasOs Dilemas Da Psiquiatria (Simanke)Maxsander Almeida de Souza100% (1)
- TDAH na infância: Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Orientações e técnicasNo EverandTDAH na infância: Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Orientações e técnicasAinda não há avaliações
- O Desenho Cinético Da Família (KFD) Como Instrumento de Diagnóstico Da Dinâmica Do Relacionamento FamiliarDocumento14 páginasO Desenho Cinético Da Família (KFD) Como Instrumento de Diagnóstico Da Dinâmica Do Relacionamento FamiliarThais SansoniAinda não há avaliações
- Trabalho - Documentos Psicológicos - Prof. CarlaDocumento9 páginasTrabalho - Documentos Psicológicos - Prof. CarlaEdenir AraújoAinda não há avaliações
- Plano de Relatório Sobre Depressão InfantilDocumento4 páginasPlano de Relatório Sobre Depressão InfantilNęűzete de AndradeAinda não há avaliações
- Influências No DesenvolvimentoDocumento9 páginasInfluências No DesenvolvimentoRuth PassosAinda não há avaliações
- Ondina Machado - A Clínica Do Sintoma e o Sujeito ContemporaneoDocumento10 páginasOndina Machado - A Clínica Do Sintoma e o Sujeito ContemporaneoMaxsander Almeida de SouzaAinda não há avaliações
- Psicoterapia Breve Cognitivo-Comportamental de Adolescentes - Apresentação PPT 2Documento11 páginasPsicoterapia Breve Cognitivo-Comportamental de Adolescentes - Apresentação PPT 2Marcos RodriguesAinda não há avaliações
- Avaliação Neuropsicológica Comportamental e Neurológica de Irmãos de Pessoas Com Transtornos Do Espectro Do AutismoDocumento165 páginasAvaliação Neuropsicológica Comportamental e Neurológica de Irmãos de Pessoas Com Transtornos Do Espectro Do AutismoCamila SiqueiraAinda não há avaliações
- Minuta Projeto Adesao Material EsportivoDocumento3 páginasMinuta Projeto Adesao Material EsportivoEibe Lapaz IIAinda não há avaliações
- Vantagens e Desvantagens TelemoveisDocumento3 páginasVantagens e Desvantagens Telemoveisefacdm27983Ainda não há avaliações
- Jardim EncantadoDocumento5 páginasJardim EncantadoRosa Maciel100% (1)
- Educação SexualDocumento1 páginaEducação SexualEduarda MalueAinda não há avaliações
- Desenvolver e AdolescerDocumento7 páginasDesenvolver e AdolescerLiliane BarrosAinda não há avaliações
- Atividades Psicoterapêuticas e ProcedimentosDocumento2 páginasAtividades Psicoterapêuticas e ProcedimentosMayara SaruboAinda não há avaliações
- A Terapia Cognitivo-Comportamental No Tratamento de Transtorno Da Compulsão Alimentar Periódica (TCAP)Documento39 páginasA Terapia Cognitivo-Comportamental No Tratamento de Transtorno Da Compulsão Alimentar Periódica (TCAP)Vida Mental100% (4)
- Avaliação Diagnóstica em Psicodrama Com CriançasDocumento2 páginasAvaliação Diagnóstica em Psicodrama Com CriançasIsrael FranciscoAinda não há avaliações
- Avaliação Psicológica de CriançasDocumento54 páginasAvaliação Psicológica de CriançasLua NogueiraAinda não há avaliações
- CBI - Depressão Na Adolescência: Características ClínicasDocumento10 páginasCBI - Depressão Na Adolescência: Características ClínicasAngela QueirozAinda não há avaliações
- As Relações Amorosas Na AdolescênciaDocumento9 páginasAs Relações Amorosas Na AdolescênciaRosarinhoPArcadinhoAinda não há avaliações
- Programa Elos Guia Componente EscolarDocumento101 páginasPrograma Elos Guia Componente EscolarMarco AurélioAinda não há avaliações
- ImpressaoDocumento20 páginasImpressaoCarmen EvangelistaAinda não há avaliações
- O Uso de Recursos Lúdicos Na Gestalt TerapiaDocumento14 páginasO Uso de Recursos Lúdicos Na Gestalt TerapiakelymariaAinda não há avaliações
- (2003) - Sobre Comportamento e Cognição (Vol. 11) PDFDocumento5 páginas(2003) - Sobre Comportamento e Cognição (Vol. 11) PDFMiguel LessaAinda não há avaliações
- Especial Autismo - Asperger, Um Dos Nomes Dos Autismos - Revista Psicologia, N. 033Documento7 páginasEspecial Autismo - Asperger, Um Dos Nomes Dos Autismos - Revista Psicologia, N. 033Bruna CarolineAinda não há avaliações
- A Hora de Jogo DiagnósticaDocumento17 páginasA Hora de Jogo DiagnósticaThaís ArielleAinda não há avaliações
- Historia Social Oq e Autismo Mae PDFDocumento2 páginasHistoria Social Oq e Autismo Mae PDFAna Kuhls LemosAinda não há avaliações
- Valorização Da VidaDocumento16 páginasValorização Da VidaCamilaMAlvesAinda não há avaliações
- Resenha Livro Saúde Mental e Atenção Psicossocial PDFDocumento2 páginasResenha Livro Saúde Mental e Atenção Psicossocial PDFThais Balieiro100% (1)
- Padrão de Resposta - Prova Discursiva Concurso de Provas E Títulos - Conselho Federal de Psicologia Especialidade: NeuropsicologiaDocumento38 páginasPadrão de Resposta - Prova Discursiva Concurso de Provas E Títulos - Conselho Federal de Psicologia Especialidade: NeuropsicologiaCarol PinheiroAinda não há avaliações
- Diário de Ataques de PânicoDocumento1 páginaDiário de Ataques de PânicoCelmaMacielAinda não há avaliações
- Estimulação Psicomotora Como Ação Preventiva em Crianças de 3 Anos de IdadeDocumento52 páginasEstimulação Psicomotora Como Ação Preventiva em Crianças de 3 Anos de IdadeCarolina Andrade de LucenaAinda não há avaliações
- Art. 2 APLICACAO DO INVENTARIO DE AVALIACAO PEDIATRICA DE DISFUNCAO PEDI EM CRIANCAS PORTADORAS DE PARALISIA CEREBRALDocumento13 páginasArt. 2 APLICACAO DO INVENTARIO DE AVALIACAO PEDIATRICA DE DISFUNCAO PEDI EM CRIANCAS PORTADORAS DE PARALISIA CEREBRALCristiane ThomazAinda não há avaliações
- RCMA - Adaptação para Português Do BrasilDocumento12 páginasRCMA - Adaptação para Português Do BrasilMiguelAinda não há avaliações
- As Relações Entre Autismo, Comportamento Social e Função ExecutivaDocumento7 páginasAs Relações Entre Autismo, Comportamento Social e Função ExecutivaNádia Richter Bedin Gabana100% (1)
- Todays Aba ContemporanêaDocumento4 páginasTodays Aba ContemporanêaJoice Ellen JoiceAinda não há avaliações
- A Atuação Do Psicólogo No CRAS Uma RevisãoDocumento36 páginasA Atuação Do Psicólogo No CRAS Uma RevisãoMônica LugãoAinda não há avaliações
- A Entrevista Clinica No Contexto Do Risco de Suicidio PDFDocumento176 páginasA Entrevista Clinica No Contexto Do Risco de Suicidio PDFSimoni CantoAinda não há avaliações
- Gestalt Terapia e Modelo Biomédico - Aproximações Na Compreensão Dsas Psicopatologias PDFDocumento23 páginasGestalt Terapia e Modelo Biomédico - Aproximações Na Compreensão Dsas Psicopatologias PDFCamila KurdianAinda não há avaliações
- Plano de Ensino - Psicologia Do Desenvolvimento IDocumento2 páginasPlano de Ensino - Psicologia Do Desenvolvimento IHikaruCleyAinda não há avaliações
- Semiologia PsiquiátricaDocumento32 páginasSemiologia PsiquiátricacsalvigAinda não há avaliações
- Apostila Psicologia Clinica Life Ead 1Documento74 páginasApostila Psicologia Clinica Life Ead 1Jéssica PatrícioAinda não há avaliações
- Bibliografia Merleau-PontyDocumento7 páginasBibliografia Merleau-PontyMaxsander Almeida de SouzaAinda não há avaliações
- Notas Sobre Psicanálise e Ontologia (Conferência de Perez e Simanke)Documento6 páginasNotas Sobre Psicanálise e Ontologia (Conferência de Perez e Simanke)Maxsander Almeida de SouzaAinda não há avaliações
- A Invenção Da Verdade - Olímpio PimentaDocumento5 páginasA Invenção Da Verdade - Olímpio PimentaMaxsander Almeida de SouzaAinda não há avaliações
- Manzi Filho - A Verdade Do Delírio - Uma Reflexão Sobre o Caso Gradiva Segundo Merleau-PontyDocumento7 páginasManzi Filho - A Verdade Do Delírio - Uma Reflexão Sobre o Caso Gradiva Segundo Merleau-PontyMaxsander Almeida de SouzaAinda não há avaliações
- Semiologia Da Percepção (Fichamento) - O Que Retorna No RealDocumento18 páginasSemiologia Da Percepção (Fichamento) - O Que Retorna No RealMaxsander Almeida de Souza100% (1)
- Fichamento - Simanke - A Formação Da Teoria Freudiana Das PsicosesDocumento4 páginasFichamento - Simanke - A Formação Da Teoria Freudiana Das PsicosesMaxsander Almeida de SouzaAinda não há avaliações
- Fragmentos Do Hamlet de LacanDocumento3 páginasFragmentos Do Hamlet de LacanMaxsander Almeida de SouzaAinda não há avaliações
- FORENSE 2º BimestreDocumento6 páginasFORENSE 2º BimestreMarcela Roberta KohlAinda não há avaliações
- Folder Una 2020Documento2 páginasFolder Una 2020Alef AugustoAinda não há avaliações
- Cultura ChewaDocumento13 páginasCultura ChewaFulgencio pedro gamaAinda não há avaliações
- 13619-Texto Do Artigo-48432-2-10-20170605Documento20 páginas13619-Texto Do Artigo-48432-2-10-20170605Caio MendesAinda não há avaliações
- Atividade 2 - Detalhamento Do Projeto - EPPC - Artur Elias FernandesDocumento8 páginasAtividade 2 - Detalhamento Do Projeto - EPPC - Artur Elias FernandesArtur FernandesAinda não há avaliações
- Cense Ilha Relatorio CircunstanciadoDocumento17 páginasCense Ilha Relatorio CircunstanciadoRafael Raposo1487Ainda não há avaliações
- O Impacto Da Participacao Dos Pais e EncarregadosDocumento25 páginasO Impacto Da Participacao Dos Pais e EncarregadosDel K MozAinda não há avaliações
- Resenha Do Filme o Enigma de Kaspar HauserDocumento8 páginasResenha Do Filme o Enigma de Kaspar HauservanderleirjAinda não há avaliações
- Relação Pedagógica Disciplina e Indisciplina Na Sala de Aula Uma Análise Da Realidade PDFDocumento18 páginasRelação Pedagógica Disciplina e Indisciplina Na Sala de Aula Uma Análise Da Realidade PDFFelipe Gustavo Matias FerreiraAinda não há avaliações
- Acta de Planificação QuinzenalDocumento2 páginasActa de Planificação QuinzenalFilipe Lazaro AfonsoAinda não há avaliações
- Monografia Do Edilson RevisadoDocumento48 páginasMonografia Do Edilson RevisadoEusébio ManjateAinda não há avaliações
- 100 Questões Sobre Legislação Educacional PDFDocumento23 páginas100 Questões Sobre Legislação Educacional PDFAline Camilo Barbosa100% (1)
- O Abuso Sexual Na Infância e Suas Repercussões Na Vida Adulta - Jus - Com.br - Jus NavigandiDocumento8 páginasO Abuso Sexual Na Infância e Suas Repercussões Na Vida Adulta - Jus - Com.br - Jus NavigandiEustaquioVerasAinda não há avaliações
- Unidade V Pratica de Treinamento em MusculacaoDocumento19 páginasUnidade V Pratica de Treinamento em MusculacaoLeonardo de Arruda DelgadoAinda não há avaliações
- Juventude AmeaçadaDocumento2 páginasJuventude AmeaçadaMilena PereiraAinda não há avaliações
- IncestoDocumento10 páginasIncestoTatiana Silva BarrosoAinda não há avaliações
- Doutoramentos 1993 2013 PDFDocumento200 páginasDoutoramentos 1993 2013 PDFCasimiro PintoAinda não há avaliações
- Proposta Pedagógica Da EjaDocumento55 páginasProposta Pedagógica Da EjaRosa Brito100% (5)
- CadernosOE GuiasOrientadoresBoaPraticaCEESIP VolIIDocumento186 páginasCadernosOE GuiasOrientadoresBoaPraticaCEESIP VolIILuisAinda não há avaliações
- Aula - Aspectos Neuropsicomotores Da Adolescência (Prof. Wericson Miguel Martins)Documento59 páginasAula - Aspectos Neuropsicomotores Da Adolescência (Prof. Wericson Miguel Martins)Ana Cláudia PereiraAinda não há avaliações
- PLANO 5 ANO - Maio LaranjaDocumento4 páginasPLANO 5 ANO - Maio Laranjaelianadasilvapereira110Ainda não há avaliações