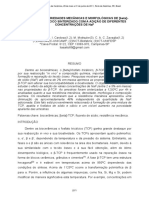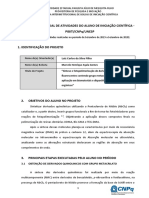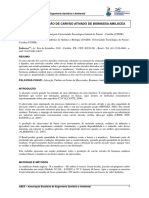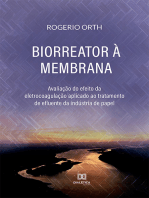Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Resumos ET
Resumos ET
Enviado por
Augusto BritoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Resumos ET
Resumos ET
Enviado por
Augusto BritoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
1
CDIGO: ET0008
TTULO: Estudo qumico/farmacolgico de Bredemeyera floribunda
AUTOR: ANNE NATLIA ALMEIDA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: RENATA MENDONCA ARAUJO
Resumo:
Acidentes ofdicos causados por espcies de Bothrops desenvolvem rapidamente
danos graves no tecido lesionado, incluindo ulcerao, hemorragia e dor. Bredemeyera
floribunda, popularmente conhecida como? raiz de cobra?, usada na medicina popular no
tratamento de acidentes ofdicos, sendo por isto, selecionada para estudo fitoqumico e
avaliao da atividade anti-hemorrgica induzida pelo veneno de B. jararacuu. Usamos 14,0 g
de extrato etanoico da raiz de B. floribunda (BFRE), sendo cromatografado em sephadex LH-
20, rendendo 5 fraes, a anlise por RMN 1H permitiu identificar as classes de compostos
presentes em cada frao. Foram identificados sinais caractersticos da presena de saponinas
e sacarose na frao A, quase exclusivamente sacarose na frao B, em C ainda sacarose e
grande quantidade do flavonide rutina, este presente puro em toda a frao D, e na frao E
identificou-se mistura de compostos flanonodicos e xantnicos. Os animais tratados com BFRE
diminuram a rea hemorrgica em relao ao controle e aos animais tratados com soro
antibotrpico, mas o tratamento com rutina no apresentou efeito. Conclumos que apesar da
grande quantidade de rutina no extrato etanoico da raiz de B. Floribunda, ele no
responsvel pela ao anti-hemorrgica deste extrato. A avaliao da frao BFRE-A se torna
essencial, devido a presena de saponinas nesta frao, substncias que j possuem relatos de
atividade antiofdica, frente a letalidade do veneno de B. jararaca.
Palavras-chave: Bredemeyera, anti-hemorrgica.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
2
CDIGO: ET0020
TTULO: Sntese e caracterizao de catalisadores com estrutura perovsquita de Cobaltatos de
Brio e Gadolnio atravs do mtodo Pechini para reao de combusto de metano.
AUTOR: JONATHAN JALLES SILVA BATISTA
ORIENTADOR: FILIPE MARTEL DE MAGALHAES BORGES
CO-AUTOR: LUAN VINCIUS SILVA DE OLIVEIRA
Resumo:
Sabe-se que materiais com estrutura perovsquita so catalisadores em potencial para
reduo de emisses de poluentes na atmosfera. Nesse trabalho relata-se os procedimentos
adotados para se obter materiais com estrutura perovsquita e composio Gd0,8Ba0,2CoO3
atravs do mtodo Pechini, para utilizao em reaes de combusto de metano. Para a
sntese de perovsquitas, vrios mtodos tm sido propostos, visando produzir materiais
homogneos, porosos e com partculas nanomtricas. Na obteno da composio Cobaltato
de Gadolnio substitudo parcialmente por Brio, utilizou-se o mtodo pechini como precursor
orgnico por ser de baixo custo e apresentar bons resultados, conforme a literatura existente.
Primeiramente, obteve-se uma resina polimrica. Em seguida, fez-se a calcinao dessa a
300C por 4h para obteno do p precursor. O p obtido nessa fase foi calcinado a 700C e
900C; caracterizado termicamente por Anlise Termogravimtrica, estruturalmente por
Difrao de Raios-X e morfologicamente por Microscopia Eletrnica de Varredura. As
caracterizaes mostraram que a fase perovsquita foi obtida, porm sem substituio parcial
de Brio. Alm disso, observou-se a formao de fases secundrias com esse elemento. As
perovsquitas obtidas apresentaram baixa porosidade. Foi realizado teste cataltico com o
material calcinado a 700C. Com base nos resultados, pode-se concluir que o material
apresentou atividade cataltica considervel somente a elevadas temperaturas.
Palavras-chave: Perovsquita, Pechini, Catlise Ambiental.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
3
CDIGO: ET0021
TTULO: Sntese e Caracterizao do Catalisador com estrutura perovsquita de Cobaltato de
Praseodmio substitudo parcialmente por Brio, atravs do mtodo Pechini para reao de
combusto de metano.
AUTOR: ANA KARENINA DE OLIVEIRA PAIVA
ORIENTADOR: FILIPE MARTEL DE MAGALHAES BORGES
Resumo:
Materiais com estrutura perovsquita so potenciais catalisadores para prevenir a
emisso de componentes prejudiciais ao meio ambiente. Vrios mtodos tm sido propostos
para a sntese desses materiais, visando produzir materiais homogneos e monofsicos. Neste
estudo, o catalisador de Cobaltato de Praseodmio com substituio parcial de Brio foi
sintetizado pelo mtodo dos precursores polimricos, visando sua utilizao em catlise
automotiva. O material foi calcinado temperatura de 700C e 900C por 4h, caracterizado
pelas tcnicas de Anlise Termogravimtrica, Difrao de Raios-X e Microscopia Eletrnica de
Varredura e foi realizado um estudo da atividade cataltica em reaes de combusto de
metano. A TG apresentou que a estabilidade trmica se deu aproximadamente 600 C e uma
perda de massa de 53,6%, o DRX mostrou que a fase dopada no foi obtida e formou fases
secundrias, porm obteve a fase perovsquita, e nas imagens de MEV observou-se
homogeneidade, cristalinidade e poucos aglomerados. Foi observado um aumento da
atividade cataltica com a elevao da temperatura.
Palavras-chave: Pechini, perovsquita, sntese, caracterizao, teste cataltico.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
4
CDIGO: ET0022
TTULO: Sntese e Caracterizao de Catalisadores com estrutura perovsquitas Pr1-x Bax (Co,
Mn)O3, atravs do mtodo Pechini e a rota modificada com gelatina para reao de
combusto de metano.
AUTOR: LUAN VINCIUS SILVA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: FILIPE MARTEL DE MAGALHAES BORGES
CO-AUTOR: INDIANARA ALVES FERNANDES
Resumo:
Materiais com estrutura perovsquita so potenciais catalisadores para prevenir a
emisso de gases poluentes. Vrios mtodos tm sido propostos para a sntese desses
materiais, visando produzir materiais homogneos e com tamanho de partcula nanomtrico.
Neste estudo, os catalisadores Manganato e Cobaltato de Praseodmio com substituio
parcial de Brio foram sintetizados pelos mtodos Pechini e Gelatina, ambos, visando sua
utilizao em catlise automotiva. O material foi calcinado s temperaturas de 700 C e 900 C
por 4h, caracterizado pelas tcnicas de TG, DRX e MEV. A TG mostrou estabilidade em todos os
compostos aproximadamente a 1200 C. O MEV apresentou cristalinidade, homogeneidade e
porosidade, melhor nas amostras calcinadas a 900 C. Observou-se tambm que apenas a
composio de Manganato, obtida por ambos os mtodos de sntese e calcinada a 900 C,
apresentou a fase perovsquita dopada por brio. As demais composies no apresentaram a
fase dopada por brio. Houve a formao de fases secundrias em todas as amostras. Foram
escolhidas duas amostras para a realizao dos testes catalticos, sendo uma Manganato de
Praseodmio substitudo parcialmente por Brio e outra com Cobaltato de Praseodmio pelos
mtodos Pechini e Gelatina, respectivamente, ambos na temperatura de calcinao a 900 C,
que mostraram uma converso significativa somente a altas temperaturas, sendo a
composio com Manganato mais ativa do que a com Cobaltato.
Palavras-chave: pechini, gelatina, perovsquitas, sntese, caracterizao, catlise.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
5
CDIGO: ET0024
TTULO: ANLISE DOS TEORES DE UMIDADE, CINZAS E PROTENAS EM BATATAS CRUAS E
COZIDAS
AUTOR: HELOISA GABRIELA CLEMENTE DE CASTRO
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA
Resumo:
Neste trabalho determinou-se os teores de umidade, cinzas e protenas, em batata-
doce Ipomoea batatas. As amostras de batata-doce foram obtidas de supermercados, sendo
adquirido 1 Kg de batatas em cada amostragem. As amostras foram separadas em dois grupos
de 500 g cada um, em que, um grupo foi encaminhado para cozimento com gua destilada e o
outro grupo mantido "in natura". Os resultados revelaram que o processo de cozimento
influenciou nos resultados obtidos para determinao de cinzas e protenas. Entretanto, os
dados obtidos ao final das anlises foram os esperados, logo, podemos concluir que os teores
de cinzas diminuiu em cerca de 5% para a polpa e em torno de 45% para a casca com o
cozimento. Os teores de protenas diminuiu em torno de 5% para polpa e aumentou em torno
de 12% para a casca com o cozimento. Dessa forma, as cascas da batata podem ser
consideradas como uma fonte alternativa de protena, evitando o desperdcio de alimento.
Palavras-chave: Ipomoea, batata doce, nutrientes, protenas, cinzas, umidade
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
6
CDIGO: ET0032
TTULO: Estudo e Implementao da tecnologia Rdio Definido em Software
AUTOR: LEONARDO WANDERLEY HONDA
ORIENTADOR: LUIZ FELIPE DE QUEIROZ SILVEIRA
Resumo:
Rdios Definidos por Software (SDR's) so dispositivos em que componentes da
camada fsica dos protocolos de comunicao, tradicionalmente executados em hardware, so
implementados em software.
Idealmente, um SDR possui em sua execuo apenas o necessrio captao do sinal a
ser processado e todos os demais subsistemas como: moduladores, demoduladores e filtros,
so definidos por software. Logo, um SDR pode apresentar funes desde um rdio AM/FM
at um receptor de TV digital, sem a necessidade de modificaes no dispositivo hardware.
O trabalho realizado permitiu simular e construir um sistema de comunicao bsico,
este sistema tem como subsistemas: amostragem, codificao, modulao, filtragem, canal de
comunicao, recepo em frequncia intermediria, demodulao e decodificao de sinais
transmitidos. No processo de anlise e desempenho do referido sistema de comunicao no
houve a necessidade do uso de equipamentos fsicos.
O SDR de grande valia para rea de telecomunicaes, permite a simulao e a
anlise de possveis problemas que podem ocorrer durante alguma etapa do sistema de
comunicao.
Palavras-chave: Sistema de comunicao, Rdio Definido por Software.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
7
CDIGO: ET0036
TTULO: Produo da blenda polietileno de baixa densidade com termoplstico de amido
AUTOR: THATIANA CRISTINA PEREIRA DE MACEDO
ORIENTADOR: EDSON NORIYUKI ITO
Resumo:
Na busca pelo aumento da biodegradabilidade de materiais polimricos, esto sendo
desenvolvidas blendas utilizando amido e polmeros tradicionais. Entretanto, para se fazer uso
do amido na composio de blendas polimricas, necessrio realizar a plastificao dele,
desestruturando os grnulos e tornando-o um material amorfo. Dessa forma, o presente
trabalho tem por objetivo a determinao dos melhores parmetros para a plastificao do
amido de milho comercial, seguida pelas etapas de caracterizao por microscopia eletrnica
de varredura e difrao de raios x. Esse objetivo consiste em uma etapa preliminar para que
seja possvel a obteno de blenda de amido e polietileno de baixa densidade. Para tanto, foi
feito uso de pesquisa bibliogrfica e testes laboratoriais. Os resultados revelam que os
melhores parmetros para plastificao do amido so: temperatura de 90C e composies de
9% de amido de milho (comercial) e 91% de plastificante (25% de glicerol e 75% de gua
destilada). A anlise por MEV e por DRX comprovaram que foi obtido o amido termoplstico,
sendo possvel observar o carter amorfo do plstico obtido. Determinados esses parmetros,
possvel realizar a mistura do amido com o polietileno na busca da obteno de uma blenda
mais biodegradvel.
Palavras-chave: Blenda polimrica, biodegradvel, amido.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
8
CDIGO: ET0037
TTULO: Codificao Wavelet com Taxa Adaptativa
AUTOR: AILTON DEUZIMAR DE SOUSA JNIOR
ORIENTADOR: LUIZ FELIPE DE QUEIROZ SILVEIRA
Resumo:
Os sistemas de comunicaes sem fio possuem o seu desempenho severamente
afetado pelo desvanecimento produzido pelos mltiplos percursos presentes no canal de
propagao e tambm por outros tipos de interferncias, como o rudo AWGN. Este trabalho
tem como objetivo a implementao da tcnica de codificao de canal baseada em matrizes
wavelets. Essa tcnica de codificao capaz de aumentar a robustez dos sistemas de
comunicao aos efeitos destrutivos de canais sem fio, enquanto mantm o custo de
implementao desses sistemas em nveis aceitveis. A avaliao de desempenho da
codificao wavelet s foi possvel aps a implementao de um sistema completo de
comunicao digital, constitudo por uma fonte de informao, um codificador wavelet, um
modulador 9-PSK, um canal com desvanecimento de mltiplos percursos e rudo aditivo
Gaussiano branco (AWGN), um demodulador e um decodificador wavelet. Aps a
implementao do sistema sem fio, a avaliao de desempenho da codificao wavelet foi
obtida por comparao com sistemas de referncia e com resultados j publicados na
literatura para esta tcnica de codificao.
Palavras-chave: Sistema de telecomunicaes; Codificao Wavelet;
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
9
CDIGO: ET0039
TTULO: Produo de partculas magnticas revestidas com quitosana
AUTOR: TALO HENRIQUE MEDEIROS DAMASCENO
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO
CO-AUTOR: THALES RENAN FERREIRA PONTES
CO-AUTOR: ERICA LIRA DA SILVA FREITAS
CO-AUTOR: RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NETO
Resumo:
A utilizao de partculas magnticas para aplicaes biomdicas tem sido alvo de
diversos estudos nos ltimos anos. Vrias metodologias tm sido propostas para a obteno
de nanopartculas magnticas, sendo uma delas o revestimento com polmeros, que podem
promover estabilidade atravs da inibio de agregao. A quitosana um polmero natural
que vem sendo bastante pesquisado para sntese de nanopartculas polimricas devido a
vrias propriedades relevantes, como baixa toxicidade e boa biodegradabilidade. O objetivo
deste trabalho foi produzir e caracterizar nanopartculas magnticas revestidas com quitosana.
As partculas magnticas foram obtidas pelo mtodo de coprecipitao de sais de ferro em
meio alcalino. Em seguida, a quitosana foi solubilizada em cido actico a 2% e adicionada
suspenso magntica na proporo de 4:1 (partculas:quitosana) sob agitao por ultra-turrax
e por agitador mecnico. As amostras foram caracterizadas por microscopia eletrnica de
varredura, espalhamento de luz dinmico, potencial zeta e difrao de raios-X. De acordo com
os resultados obtidos verificou-se a formao de blocos de aglomerao e partculas de
formato irregular. Entretanto o dimetro mdio obtido foi de 491 14,7 nm com potencial
zeta de +47,37 0,16 mV. Sendo assim verificou-se que a metodologia empregada foi eficiente
em obter nanopartculas de magnetita com o uso de quitosana para possvel aplicao
biomdica.
Palavras-chave: Nanopartculas; Magnetita; Quitosana.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
10
CDIGO: ET0040
TTULO: Testar e analisar tcnicas alternativas de refrigerao e proteo contra oxidao de
placas eletrnicas
AUTOR: MERIANE VALDIVINO DA SILVA
ORIENTADOR: IVAN MAX FREIRE DE LACERDA
Resumo:
O projeto tem o objetivo de testar e analisar a utilizao de leos vegetais para
refrigerao de placas de computador em ambientes rurais, visto que fatores como a
exposio umidade, poeira e resduos prprios destes ambientes so obstculos a serem
vencidos por qualquer sistema de proteo destes equipamentos. Os sistemas eletrnicos de
monitoramento e controle de atividades rurais, muitas vezes, necessitam serem instalados
prximos as reas de criao e produo. Por isso houve a preocupao de oferecer ao
contingente populacional residente em reas inspitas, uma soluo eficaz e de baixo custo e
assim apresentar novas alternativas de resfriamento de placas para melhorar o
desenvolvimento do computador em geral aumentando, consequentemente sua vida til. Tal
procedimento vai alm do mero uso do leo vegetal, sendo necessrio o entendimento bsico
de sua composio e caractersticas qumicas, como polaridade e condutividade trmica. O
conhecimento do leo ajuda a compreender como ele atua na reduo de temperatura e
oxidao. Outra informao importante que se deve ter a respeito das trocas de calor que
ocorrem nas placas eletrnicas, tais como a conduo e conveco.
Palavras-chave: Placas eletrnicas, refrigerao, leos vegetais, hardware.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
11
CDIGO: ET0041
TTULO: Projeto, desenvolvimento e teste de gabinete prottipo para avaliao das tcnicas
alternativas de refrigerao e proteo contra oxidao
AUTOR: HELDER SAVIO DA SILVA DANTAS
ORIENTADOR: IVAN MAX FREIRE DE LACERDA
Resumo:
O projeto tem o objetivo de testar e analisar a utilizao de leos vegetais para
refrigerao de placas de computador em ambientes rurais, visto que fatores como a
exposio umidade, poeira e resduos prprios destes ambientes so obstculos a serem
vencidos por qualquer sistema de proteo destes equipamentos. Os sistemas eletrnicos de
monitoramento e controle de atividades rurais, muitas vezes, necessitam serem instalados
prximos as reas de criao e produo. Por isso houve a preocupao de oferecer ao
contingente populacional residente em reas inspitas, uma soluo eficaz e de baixo custo e
assim apresentar novas alternativas de resfriamento de placas para melhorar o
desenvolvimento do computador em geral aumentando, consequentemente sua vida til. Tal
procedimento vai alm do mero uso do leo vegetal, sendo necessrio o entendimento bsico
de sua composio e caractersticas qumicas, como polaridade e condutividade trmica. O
conhecimento do leo ajuda a compreender como ele atua na reduo de temperatura e
oxidao. Outra informao importante que se deve ter a respeito das trocas de calor que
ocorrem nas placas eletrnicas, tais como a conduo e conveco.
Palavras-chave: Placas eletrnicas, refrigerao, leos vegetais, hardware.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
12
CDIGO: ET0054
TTULO: Estudo qumico/farmacolgico das esponjas Callispongia vaginalis e Geodia
corticostylifera
AUTOR: DEUSIELLY DA SILVA AVELAR
ORIENTADOR: RENATA MENDONCA ARAUJO
Resumo:
Atualmente organismos marinhos vm sendo alvo de diversos estudos qumicos,
principalmente com esponjas e ascdeas, devido as inmeras substncias isoladas, com
estrutura qumica interessante e potencial biolgico promissor. O gnero Callyspongia
relatado como fonte de inmeras classes de compostos como: poliacetilenos, peptdeos,
terpenides, alcalides, cidos graxos, policetdeos, esteris, perxidos e butenoldeos, a
maioria com atividades biolgicas comprovadas. O extrato hidroalcolico de Callyspongia
vaginalis apresentou boa atividade citotxica, em testes preliminares realizado com linhagens
de clulas leucmicas, o que motivou este estudo.
A frao hexnica (1,88g), obtida da partio do extrato etanlico C. vaginalis, foi
submetida cromatografia em gel de slica flash, sob presso reduzida, resultando em 10 sub-
fraes. As fraes 1 (0,25 g) e 5 (0,18g) apresentaram-se como substncias aparentemente
puras por CCD, sendo posteriormente analisadas por Ressonncia Magntica Nuclear de
Hidrognio e Carbono (RMN 1H e 13C) uni e bidimensionais.
O estudo qumico de Callyspongia vaginalis se apresenta bastante promissor, rendendo a
ceramida 1 indita no gnero Callyspongia. Ceramidas exercem importantes funes, como
mensageiros lipdicos ativos na regulao do crescimento celular. Como tambm a
interessante presena da mistura dos esterides estigmasterol e β-sitosterol, bastante
comum em plantas, mas ainda no relatado de fonte marinha.
Palavras-chave: Metabolitos secundrios, Callispongia vaginalis, Esponja
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
13
CDIGO: ET0055
TTULO: Quantificao e Insero de Incertezas em um Modelo de Avaliao Econmica Para
Indstria de Produo de Petrleo: Aspectos Econmicos e Tecnolgicos no Brasil
AUTOR: JULI SERGINE TAVARES TEIXEIRA
ORIENTADOR: CARLOS ALEXANDRE CAMARGO DE ABREU
CO-AUTOR: LILSON DOS SANTOS ANDRADE
Resumo:
O presente trabalho consiste no levantamento de dados para um projeto de anlise de
investimentos dinmica na indstria do Petrleo. Utiliza-se a teoria das opes reais, a srie
histrica, observando tendncias de longo prazo e volatilidade das variveis preo do petrleo
e evoluo tecnolgica. So aspectos fundamentais para a aplicao de um modelo de Opes
Reais na deciso de investimento de um projeto em desenvolvimento de um campo de
petrleo
Metodologia
Levantamento de dados mais pertinentes acerca de cada poo (como profundidade, produo
e localizao) localizados no Brasil. Travs do software Cristal Ball simulamos atravs da
simulao de monte carlos. Uma pesquisa foi realizada sobre as tecnologias usadas atualmente
e a reduo de custos principalmente aqueles relacionados produo de petrleo (indstria
do petrleo).
Concluso
O modelo de opes reais muito importante para tal analise, pois estima o melhor momento
para se realizar o investimento no futuro, estimando o valor do projeto, tendo-se a opo de
adiar o investimento.
Observamos por meio dos dados adquiridos de confiana que quanto mais tecnologia h em
um projeto mais caro ele fica, porm, mais esse poo ir produzir e mais lucro as empresas
tero. Vimos tambm que na atualidade existem muitas tecnologias surgentes e muitas sendo
j utilizadas.
Palavras-chave: Economia, petrleo, incertezas, tecnologias.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
14
CDIGO: ET0057
TTULO: Quantificao e Insero de Incertezas em um Modelo de Avaliao Econmica para
Indstria de Produo de Petrleo: Aspectos Econmicos e Tecnolgicos ? Dados do Golfo do
Mxico.
AUTOR: LILSON DOS SANTOS ANDRADE
ORIENTADOR: CARLOS ALEXANDRE CAMARGO DE ABREU
CO-AUTOR: JULI SERGINE TAVARES TEIXEIRA
Resumo:
Cada vez mais aumenta o nmero de empresas que esto investindo para a produo
de petrleo em guas profundas, reas de maiores dificuldades tcnicas, geolgicas , de
produo, de explorao, entre outras. Esses tipos de investimentos envolvem grandes
desafios para as companhias, pois h muitas incertezas envolvidas, como por exemplo, a
variao do preo do petrleo, o tempo de chegada das tecnologias futuras, o desempenho
dessas inovaes, entre outras. Incertezas e expectativas sobre o comportamento futuro de
variveis incertas podem ter impactos nas tomadas de decises relacionadas um projeto. Um
modelo de opes reais capaz de prover as ferramentas necessrias para estimar as
incertezas do processo de evoluo tecnolgica e incertezas de mercado, caractersticas que
esto presentes no modelo de valorao. Os dados histricos, observando a volatilidade das
variveis do preo do petrleo e da evoluo tecnolgica, que influenciam receitas e custos
operacionais, so aspectos fundamentais para a aplicao de um modelo de opes reais na
deciso de investimento de um projeto de desenvolvimento de um campo de petrleo.
Palavras-chave: Avaliao Econmica; Valorao de Projetos; Anlise de Investimentos.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
15
CDIGO: ET0067
TTULO: Obteno e caracterizao eletroqumica de filmes compsitos formados entre o
poli(xido de etileno) e o trixido de tungstnio.
AUTOR: GILBERTO DE LIMA
ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE
CO-AUTOR: CASSIA MIRIAM LUCAS
Resumo:
O Poli (xido de etileno) um polmero semicristalino, biocompatvel, biodegradvel,
no inico e solvel em gua. O tungstato de sdio um sal hidroflico e um agente oxidante
moderado de estrutura tetradrica, que frequentemente encontra-se na forma dihidratada.
Foram preparadas quatro solues do POE com Na2WO4.2H2O e identificadas como y1S1,
y2S1, y1S2 e y2S2, respectivamente. A partir destas solues obteve-se, por evaporao do
solvente, os filmes: y1S1, y2S1, y1S2 e y2S2. Na caracterizao dos filmes foram utilizadas a
espectroscopia de impedncia, MEV e EDS. A imagem de MEV do filme y2S1, que contm a
maior concentrao e o maior volume do sal, apresenta o WO3 distribudo de maneira mais
uniforme na superfcie do polmero POE em relao ao do filme y1S1. No filme y2S2, com
menor concentrao e mesmo volume do sal que o filme y2S1, o WO3 no se distribuiu de
maneira uniforme na superfcie do polmero quando comparado com a imagem do filme y1S2,
mesmo este se distribuindo em uma regio maior do que a mostrada na imagem do filme
y1S1. As anlises de impedncia dos filmes y1S1 e y2S1 com a mesma concentrao do
tungstato (0,04 mol.L-1), mas volumes diferentes da soluo deste sal apresentam resistncias
do material e de polarizao duas ordens de grandeza menores com o aumento do volume.
Estes resultados esto em concordncia com aqueles observados no MEV e no EDS em que o
tungstato no filme y2S1 se encontra distribudo mais uniformemente na superfcie do POE.
Palavras-chave: POE, Tungstato de Sdio, Impedncia Eletroqumica, MEV, EDS.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
16
CDIGO: ET0074
TTULO: Estudo de modelos matemticos para turbinas elicas de velocidade varivel
AUTOR: MARCOS AURLIO DA COSTA BARBOSA
ORIENTADOR: KURIOS IURI PINHEIRO DE MELO QUEIROZ
Resumo:
Neste trabalho, um estudo acerca de modelos matemticos que descrevem o
funcionamento de uma turbina elica de velocidade varivel apresentado. Para tanto,
aplicado o controlador adaptativo por posicionamento de plos e estrutura varivel (VS-APPC)
ao sistema de converso de energia eltrica, para uma regio na qual a velocidade do vento
atinge magnitudes acima dos valores nominais da turbina elica. O modelo proposto no-
linear, apresenta duas entradas/sadas e seu ponto de operao varia constantemente devido
velocidade do vento. O controlador proposto atua no ngulo das ps e no torque do gerador
proporcionando a regulao da potncia gerada e a minimizao das oscilaes do torque de
toro no eixo de transmisso, alm de ser robusto s incertezas paramtricas, dinmicas no-
modeladas e perturbaes uniformemente limitadas.
Palavras-chave: turbina elica, simulao, controle adaptativo
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
17
CDIGO: ET0075
TTULO: Percepo visual e controle robtico para robs autnomos
AUTOR: ANDR PAULO DANTAS DE ARAJO
ORIENTADOR: LUIZ MARCOS GARCIA GONCALVES
CO-AUTOR: RAFAEL VIDAL AROCA
Resumo:
Com o avano da tecnologia e a evoluo da humanidade, constatou-se a necessidade
da criao de robs autnomos para afazeres de extrema utilidade na atualidade. Nos oceanos
existem interesses no desenvolvimento de barcos autnomos para aplicaes em setores
acadmicos, monitoramento ambiental e militar. O projeto em questo foi baseado a partir de
um projeto de I.C. de um barco autnomo que controlado por um sistema de controle do
tipo PID e Lgica Fuzzy. A modelagem matemtica do barco foi baseada em princpios de
modelagem voltada para barcos, tudo isso retirada da literatura com intuito de
desenvolvimento o projeto. A programao inicial baseou-se no desenvolvimento para a
ferramenta Matlab no qual houve a necessidade de convert-la para linguagem de Arduino,
linguagem essa voltada para o ATMega (micro controlador) com intuito de que este pudesse
ser embarcado no hardware Arduino Mega 2560. O projeto considerado satisfatrio, devido
ao fato deste barco ser um prottipo onde ir ser adquirido outro barco de maior porte para a
aplicao de placas solares com intuito de que ele possa ter autonomia de navegabilidade. Os
resultados apresentados foram validados com simulaes. Como as simulaes validaram o
modelo proposto, j estamos trabalhando em uma instalao experimental para testar o
algoritmo de controle sobre o veleiro real, que j est montado.
Palavras-chave: Barco Autnomo, Sistemas de Controle, Inteligncia Artificial, Arduino
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
18
CDIGO: ET0079
TTULO: Determinao e controle de atitude para satlites de pequeno e mdio porte
AUTOR: SVIA BIATRIZ DANTAS DE ALBUQUERQUE PINTO
ORIENTADOR: KURIOS IURI PINHEIRO DE MELO QUEIROZ
Resumo:
Neste trabalho, um estudo a cerca de modelos matemticos que descrevem o controle
de atitude de um nano satlite apresentado. O foco inicial foi a compreenso e simulao de
modelos matemticos para satlites de pequeno e mdio porte. Para tal, uma detalhada
reviso bibliogrfica foi realizada, assim como um estudo de ferramentas/softwares de
simulao, tais como Scilab e Matlab. Para um melhor entendimento do assunto, foi
necessrio um estudo complementar sobre mecnica orbital com o objetivo de compreender
as leis fsicas e equaes envolvidas no controle de atitude de um satlite. Neste ponto,
diversos sensores e atuadores foram alvos de estudo, uma vez que tais componentes devem
ser considerados no processo de modelagem e simulao de satlites. Aps a fase inicial da
reviso bibliogrfica, os objetivos do trabalho foram adequados ao estudo do ADCS
(Subsistema de Determinao e Controle de Atitude) no projeto CONASAT (Constelao de
Nano Satlites Ambientais), que se encontra em desenvolvimento pelo INPE/CRN (Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais/Centro Regional do Nordeste) em conjunto com a UFRN. O
ADCS o subsistema responsvel por orientar adequadamente um nano satlite em rbita de
acordo com as exigncias da misso. Para realizar este controle, foram considerados
magnetmetros e giroscpios (sensores), alm de bobinas magnticas e das famosas rodas de
reao (atuadores).
Palavras-chave: controle de atitude, mecnica orbital, nano satlites, satlites.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
19
CDIGO: ET0089
TTULO: COMPARAO DAS PROPRIEDADES FSICO-QUMICAS DO STER ADVINDO DA
TRANSESTERIFICAO DO LEO DE SOJA, COM AS DE LEOS COMERCIAIS.
AUTOR: LUS DE FREITAS ARAJO
ORIENTADOR: JOSE UBIRAGI DE LIMA MENDES
Resumo:
Em alguns processos de usinagem torna-se necessrio o uso de fluidos de corte, que
tem como principal funo lubrificar, refrigerar, e, consequentemente, aumentar o ciclo de
vida da ferramenta de corte e melhorar o acabamento da superfcie da pea maquinada. Os
lubrificantes sintticos e minerais tm causado problemas para o ambiente e, principalmente,
ao operador, o qual est em contato direto com o produto, possibilitando o risco de
contaminao. Portanto, este trabalho procurou desenvolver um leo de soja para fluido de
corte, que por ser vegetal, causa um menor impacto ao meio ambiente e ao operador. Neste
trabalho foram analisadas as propriedades fsico-qumicas deste leo e comparados com um
fluido de corte comerciaL.
Palavras-chave: Biolubrificante, leo de soja, Fluido de corte, anlise fsico-qumica
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
20
CDIGO: ET0092
TTULO: CORRELAO DAS PROPRIEDADES FSICO-QUMICAS DE NANOCOMPOSITOS
DESENVOLVIDOS COM A TAXA DE DESGASTE
AUTOR: MARIANA SILVA PARMA DE AZEVEDO
ORIENTADOR: EFRAIN PANTALEON MATAMOROS
Resumo:
Estruturas nanomtricas tm incrementado o desenvolvimento de novos materiais,
visto que o tamanho da partcula de suma importncia por alterar a natureza das interaes
das foras entre as molculas do material e assim, mudar os impactos que esses processos ou
produtos nanotecnolgicos tm junto ao meio ambiente, sade humana e sociedade como
um todo. Na engenharia de polmeros, a importncia da tribologia tem aumentado nos ltimos
anos, devido necessidade de se obter materiais resistentes ao desgaste e com baixos
coeficientes de atrito, motivando estudos que objetivem o aprimoramento dos materiais j
existentes. Nesse contexto, o politetrafluoretileno (PTFE) desperta o interesse cientfico e
tecnolgico devido s suas excelentes propriedades mecnicas, tais como baixo coeficiente de
atrito (0,01< μ <0,1) e limite de escoamento da ordem de 10 MPa a 200oC; entretanto;
apresenta elevadas taxas de desgaste (10-13 m2/N),(Ashby, 1999). Dentre as suas principais
aplicaes, destacam-se as indstrias petroqumica e aeroespacial atuando como lubrificantes
slidos em sistemas de deslizamento, pois majoram a vida til das peas e reduzem custos de
manuteno. Este trabalho avaliou o desempenho tribolgico de compsitos PTFE + Rejeito de
scheelita a partir de ensaios escleromtricos, rugosidade e anlise morfolgica aps os ensaios
de risco.
Palavras-chave: Tribologia, Nanotecnologia, Compsitos, PTFE, Scheelita
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
21
CDIGO: ET0097
TTULO: Pontos isoeltricos de quartzo e feldspato
AUTOR: RODRIGO OLIVEIRA BULHES
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA
CO-AUTOR: JOO AUGUSTO DE OLIVEIRA CUNHA
Resumo:
Os minerais imersos em gua adquirem uma carga positiva, negativa ou neutra,
dependendo do pH da soluo. O pH no qual a carga neutra denominado de Ponto de
Carga Zero (PCZ). O PCZ do quartzo bem conhecido na literatura (1~3), mas os resultados de
PCZ obtidos pelo mtodo de Mular & Roberts ainda so escassos e controversos. Este trabalho
objetivou a obteno de dados de PCZ para o quartzo, variando o tempo de imerso da
amostra na soluo aquosa e a influncia de diferentes eletrlitos (KNO3, KCl, NaCl) nos
resultados. Pesou-se 1 g de quartzo mineral <200# em bqueres de 50 ml, aos quais foram
adicionados 40 ml de KNO3 10-2 M. Ajustou-se o pH com HNO3 ou KOH. Posteriormente, a
concentrao de KNO3 foi elevada para 10-1 M, medindo-se o pH final com 10 minutos, 1 hora
e 2 horas, aps a elevao da concentrao do eletrlito KNO3. Esses resultados foram
utilizados para o clculo da variao do pH, os quais foram plotados em relao aos pHs finais.
O pHfinal no qual a curva intercepta o eixo das abcissas o PCZ do mineral. Os resultados
obtidos para quartzo, com a utilizao de KNO3 como eletrlito, foram de PCZ com valores de,
aproximadamente, 2.4 e 6.8. Para os experimentos realizados com o KCl, o resultado obtido foi
um nico PCZ de valor 5.5. Por fim, com o emprego do NaCl como eletrlito, o nico PCZ teve
valor 2.6. Acredita-se que o eletrlito possa estar influindo nos resultados dos experimentos,
provavelmente por adsoro especfica de um dos ons envolvidos.
Palavras-chave: Geoqumica; Flotao; Mular & Roberts; Quartzo; Feldspato.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
22
CDIGO: ET0100
TTULO: TEOR DE CARBONATOS E MATRIA ORGNICA EM SEDIMENTOS DE RUA DA CIDADE
DO NATAL
AUTOR: LORENA APARECIDA MEDEIROS COSTA
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA
Resumo:
Amostras de sedimentos de rua coletados nas principais ruas e avenidas da cidade do
Natal apresentam teores variveis de CaO. Estes teores podem estar relacionados presena
de carbonatos ou outros minerais portadores de clcio, ou podem ser devidos a atividades
antrpicas. O objetivo deste trabalho foi estabelecer uma sequencia adequada para a anlise
de matria orgnica (MO) e teor de carbonatos em sedimentos de rua, para posteriormente
aplicar o procedimento em sedimentos de rua da cidade do Natal coletados em perodos seco
e chuvoso. O teor de carbonatos foi obtido por digesto qumica de 3 g da amostra em cido
actico 4%. Em seguida, a mesma amostra foi pesada em cadinho de porcelana, e colocada em
mufla a 600 C por 5 h para obteno do teor de MO. Aps resfriamento, os cadinhos foram
colocados em dessecadores para posterior pesagem e clculos. Os teores mnimos e mximos
de CaCO3 para o perodo chuvoso foram 3,56% e 13,95%, respectivamente, enquanto que
para o perodo seco foram de 2,23% e 16,59%. No que se refere MO, os teores mnimos e
mximos para o perodo chuvoso foram 2,50% e 10,59%, respectivamente, enquanto que para
o perodo seco foram de 3,81% e 14,10%. Os valores mximos de CaCO3 e MO so maiores no
perodo seco, quando a precipitao pluviomtrica menor e h tendncia de acmulo de
materiais provenientes de fontes diversas, de origem geognica ou antropognica. Verificou-
se que grande parte do CaO das amostras est associada a carbonato de clcio.
Palavras-chave: Sedimentos; Digesto qumica; Matria orgnica; Carbonatos.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
23
CDIGO: ET0105
TTULO: O USO DE GPR NA CARACTERIZAO GEOMTRICA DE PALEOCAVERNAS COLAPSAS
AUTOR: ANA BEATRIZ AZEVEDO DE MEDEIROS
ORIENTADOR: FRANCISCO PINHEIRO LIMA FILHO
Resumo:
A modelagem geolgica moderna permite a construo, visualizao e manipulao de
modelos tridimensionais de reservatrios. Uma alternativa utilizada para coletar de dados
necessrios para gerar tais modelos a parametrizao de afloramentos anlogos. Para
compreender a arquitetura sedimentar de corpos carbonticos do tipo paleocaverna
colapsada e a distribuio das heterogeneidades deposicionais e eventuais fluxos de fluidos
envolvidos neste tipo de feio, utilizou-se o Georadar (GPR) para o imageamento digital 3D de
sua estrutura interna, at aproximadamente 15 m de profundidade. Este mtodo de
investigao geofsica rasa consiste na gerao e emisso de ondas eletromagnticas, de
resoluo subssmica (10-9s), em um determinado intervalo de frequncia (16 a 2.600 MHz). O
objetivo principal do presente trabalho foi realizar o imageamento das geometrias internas de
paleocavernas colapsadas encontradas em um afloramento de rochas carbonticas da Bacia
Potiguar, no municpio de Quixer (CE). Este tipo de afloramento pode ser considerado como
anlogo a reservatrios do tipo paleocavernas colapsadas. Neste afloramento foram
identificadas quatro litofcies carbonticas, correlacionveis a quatro radarfcies e ainda foi
possvel identificar a geometria interna das cavernas colapsadas. Desta forma, o mtodo GPR
se mostra como um mtodo com alto potencial para o imageamento digital 3D de cavernas
colapsadas encontradas em carbonatos do tipo tufas.
Palavras-chave: Paleocavernas colapsadas, GPR, imageamento 2D, geometria interna.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
24
CDIGO: ET0127
TTULO: Desenvolvimento e aplicao de ferramentas laboratoriais integradas para o ensino
de modelagem, simulao e controle de processos na Engenharia Qumica.
AUTOR: THIAGO DE SOUZA CARNEIRO
ORIENTADOR: JACKSON ARAUJO DE OLIVEIRA
Resumo:
Uma rea importante na engenharia qumica o controle de processos. Tal rea traz o
entendimento de como os sistemas de controle funcionam e como estes devem ser projetados
e implementados nos processos industriais.
Com o uso dos controladores, possvel operar nas melhores condies do processo,
tornando-o mais eficiente e mantendo-o no valor desejado. Mesmo que ocorra qualquer
interferncia externa, o controlador ter a capacidade de correo, o que importante no que
se refere segurana do sistema, qualidade dos produtos gerados e manuteno da
produo. Todos estes aspectos, por fim, so traduzidos em maior lucratividade.
Para um aprendizado efetivo dos contedos relativos rea de controle, importante
o uso de sistemas experimentais que permitam um entendimento prtico e comparativo com
os conhecimentos tericos. Como os sistemas experimentais, em geral, so comercialmente
caros, o presente trabalho tem como proposta a elaborao de kits educacionais de carter
multidisciplinar podendo ser utilizado na rea de controle e em outras reas afins da
engenharia qumica. A ideia a concepo de sistema que possuam um baixo custo, apresente
boa qualidade e que permita aos alunos um aprendizado adequado. Deseja-se que, aps as
montagens e testes, os sistemas sejam divulgados para que outras instituies possam ter
acesso a tais kits didticos.
Palavras-chave: kits educacionais, controle de processos.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
25
CDIGO: ET0132
TTULO: Estudos de radiopropagao em sistemas de comunicaes sem fio e criao de banco
de dados de dados experimentais
AUTOR: DIEGO DEYVID DANTAS DE MEDEIROS
ORIENTADOR: MARCIO EDUARDO DA COSTA RODRIGUES
Resumo:
O foco principal do plano de trabalho foi o estudo sobre radiopropagao e, tambm,
anlise terica e prtica das medies realizadas sobre condutividade do solo no RN. Essas
medies, por sua vez, so prticas importantes para a implementao de uma nova
tecnologia em Natal: o vindouro rdio digital. Isso se deve pelo fato de que, tecnicamente,
necessrio conhecer a condutividade eltrica do solo para garantir a qualidade necessria para
funcionamento deste tipo de servio.
Atravs das medies realizadas, durante a iniciao cientfica, portanto, possvel
obter as caractersticas do solo potiguar para, em um breve futuro, serem realizados os
projetos de rdio digital no RN. A tendncia que a tecnologia usada nas transmisses de
rdio sofra alteraes, ou seja, ser mais eficiente, rpida e com mais benefcios para a
sociedade.
Palavras-chave: Radiopropagao; Condutividade eltrica do solo; Rdio Digital.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
26
CDIGO: ET0133
TTULO: Caracterizao qumica de polpas de frutas exticas da regio Nordeste do Brasil
AUTOR: NILBERT SEABRA ANDRADE DA SILVA
ORIENTADOR: EDGAR PERIN MORAES
Resumo:
A caracterizao qumica de polpas de frutas de essencial importncia para a
compreenso do seu valor nutritivo e para a determinao dos parmetros para o
processamento. Alm disso, as informaes sobre frutas tpicas da regio Nordeste do Brasil
so escassas na literatura. Polpas congeladas de caj (Spondias mombin L.), mangaba
(Hancornia speciosa Gomes) e seriguela (Spondias purpurea L.) de cinco marcas diferentes
foram submetidas a anlises de umidade, cinzas, pH, ATT (acidez total titulvel) e SST (slidos
solveis totais). Todas as polpas apresentaram contedo umidade elevado, entre 83,58 e
93,70%. O teor de cinzas apresentou grande variabilidade para as frutas entre as marcas, com
exceo para duas marcas de polpa de caj que obtiveram teores iguais de 0,57 %. As polpas
de caj apresentaram as caractersticas de acidez mais acentuadas, com pH variando entre
2,88 e 3,00 e ATT variando entre 0,83 e 1,72 %. As polpas de mangaba e seriguela
apresentaram os maiores valores de SST. Para a relao de SST/ATT as polpas de seriguela
apresentaram os valores mais elevados. Este estudo revela que as polpas de mangaba e
seriguela possuem atributos recomendados para a produo de sucos concentrados.
Palavras-chave: Spondias mombin L., Hancornia speciosa Gomes, Spondias purpurea L.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
27
CDIGO: ET0134
TTULO: O Estudo da ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 e sua implementao na UFRN.
AUTOR: BRENO FERNANDES DE ANDRADE
ORIENTADOR: CARLOS ALEXANDRE CAMARGO DE ABREU
Resumo:
Os instrumentos de servios tecnolgicos so de extrema importncia para o
desenvolvimento de pesquisas com alto nvel de capital intelectual agregado, pois atravs dele
possvel criar mecanismos que garantem a confiabilidade e rastreabilidade de suas pesquisas
e produtos elevando seus conceitos e tornando mais atrativo para o setor acadmico e
industrial. Neste contexto a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 se apresenta como o principal
instrumento de validao para laboratrios que so responsveis por realizar ensaios e
calibraes, apresentando diversos procedimentos que garantem a certificao de qualidade e
a sua credibilidade perante as agncias regulamentadores das diversas linhas de atuao.
Ressaltando que esta norma apresenta uma abordagem que tem foco no cliente e estimula a
anlise dos requisitos e necessidades dos mesmos.
Palavras-chave: Sistemas qualidade, servios tecnolgicos.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
28
CDIGO: ET0141
TTULO: INSTRUMENTAO DE BANCADA PARA DESENVOLVIMENTO DE NANOCOMPOSITO
AUTOR: PLNIO MELO DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: EFRAIN PANTALEON MATAMOROS
Resumo:
Tecnologias de alto-lubrificao slida so geralmente oferecidas por projetistas por
vrias razes. Como um bom lubrificante slido, o politetrafluoretileno (PTFE), tem excelentes
propriedades tais como baixo coeficiente de atrito (0,01 < < 0,1), estabilidade trmica a altas
temperaturas e resistncia qumica. Entretanto, PTFE puro quando sujeito a condies severas,
apresenta altas taxas de desgaste (superiores a 10-13 m2/N) levando a falhas precoces de
vrios componentes. Porem, suas caractersticas podem ser melhoradas adicionando-se fibras
inorgnicas ou materiais em partculas, de acordo com a aplicao que destinam. Este trabalho
objetivou a construo uma bancada com uma estrutura de ferro e mesa de madeira,
composta por uma prensa hidrulica e uma resistncia acoplada a um molde cilndrico
fabricado com ao H13. Com a bancada foi possvel desenvolver compsitos, em formato de
pastilhas, com matriz de PTFE (em diferentes porcentagens) carregados com diferentes tipos
de materiais (rejeito de porcelanato e scheelita) e posteriormente, realizaram-se diversos
ensaios (scratch, rugosidade, molhabilidade, dureza, entre outros). A bancada mostrou-se
eficiente tendo em vista que os ensaios realizados com os corpos de provas (C.P.),
desenvolvidos por ela, atenderam as expectativas.
Palavras-chave: lubrificante slido, PTFE, compsito, scheelita, porcelanato.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
29
CDIGO: ET0144
TTULO: Formao de Jovens Pesquisadores para o Desenvolvimento de Novos Materiais para
Usinas Nucleares
AUTOR: ANNA KARLA DE CARVALHO FREITAS
ORIENTADOR: MARCIANO FURUKAVA
Resumo:
A construo de um reator experimental de fuso nuclear ITER (International
Thermonuclear Experimental Reactor) poder representar um caminho vivel para a obteno
de uma energia limpa e renovvel. As usinas termonucleares da Europa foram projetadas para
utilizar o EUROFER 97. Contudo, este material tem apresentado uma vida til abaixo das
expectativas, necessitando de manuteno e substituio dos componentes. Para isso, novos
materiais so desenvolvidos para que sejam atendidas rigorosas exigncias da indstria. Os
aos ferrticos-martensticos de atividade reduzida so fortes candidatos para aplicao nas
tecnologias de fuso nuclear, pois eles emitem baixos nveis de radioatividade aps a vida em
servio, alm de possurem propriedades importantes, tais como boa resistncia mecnica em
altas temperaturas, boa conformabilidade, elevada tenacidade e boa resistncia oxidao.
Esse trabalho tem como objetivo a pesquisa do ao ferrtico-martenstico, o EUROFER 97,
referncia para plantas de usinas nucleares, visando analisar o seu comportamento quando
dopado com carbetos nanomtricos em substituio aos xidos.
Palavras-chave: EUROFER, Ao Ferrticos-Martensticos, 316L, ITER
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
30
CDIGO: ET0149
TTULO: Desenvolvimento de APP para Smartphones Android
AUTOR: PAULA THAIN MELO DIAS
ORIENTADOR: IVAN MAX FREIRE DE LACERDA
Resumo:
Smartphones baseados na plataforma Android tornaram-se muito populares.
Consequentemente aplicaes desenvolvidas para uso nesses equipamentos tambm. Aliando
esses recursos a necessidade crescente de treinamento distncia, o presente trabalho visa
desenvolver uma aplicao para correo de questionrios baseados em contedos didticos.
O aplicativo ter a rea da sade como publico alvo. Ento, inicialmente, o mesmo ir fornecer
matrias didticos sobre uma determinada especializao para o aluno, atravs de arquivos
fornecido pelo prprio APP. Posteriormente, o aluno realizar sua prova online, no momento,
local, dia e hora que quiser, porm, uma vez que iniciou o exame, obrigatoriamente ter que
conclu-lo. Ou seja, o aluno s ter acesso prova, no momento de sua realizao. Em seguida,
aps a finalizao do questionrio, o aluno receber seu desenvolvimento ( quantidade de
acerto e erros). Dependendo de seu desempenho, o aplicativo fornecer uma espcie de
certificado ao usurio.
Palavras-chave: Smartphones, Android, aplicaes.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
31
CDIGO: ET0153
TTULO: Estudo e aplicaes de estruturas metamateriais em filtros de microfita
AUTOR: MADSON FRANKLIN DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: SANDRO GONCALVES DA SILVA
Resumo:
O desenvolvimento de filtros capazes de atender a demanda de novas tecnologias vem
sendo cada vez mais admirvel. Os filtros de microfita com sua miniaturizao, baixo custo e
leveza os tornam cada vez mais promissor o estudo dessa tecnologia. Esse projeto consiste em
projetar e analisar filtros de microfita, substituindo o substrato comumente usado por
substrato de metamaterial e realizao de medies e simulaes de novas estruturas que
sejam sugeridas no decorrer do projeto, visando melhorias em seus parmetros fundamentais.
Os metamateriais tm caractersticas que no so encontradas na natureza, fazendo que sua
permeabilidade e permissividade sejam ambos negativos, o que pode acarreta alguns efeitos
ao filtro estudado. A utilizao do software Ansoft HFSS foi de grande valia no
desenvolvimento desse trabalho, pois possibilitou a construo dos dispositivos e a analise dos
parmetros fundamentais.
Palavras-chave: Metamateriais, Filtro, Microfita.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
32
CDIGO: ET0155
TTULO: Desenvolvimento algoritmos paralelos em simulaes computacionais
AUTOR: AMANDA BRAUN BARBOSA ARAUJO
ORIENTADOR: JOAO MEDEIROS DE ARAUJO
Resumo:
Atravs de uma abordagem da dinmica molecular estudamos um modelo clssico de
N rotores de Heisenberg, caracterizado por interaes de longo alcance. Tal modelo apresenta
transies de segunda ordem dentro do ensemble cannico. Assim, o sistema de rotores de
Heisenberg representado por um sistema de equaes diferenciais acopladas. Com seis
equaes para cada partcula, a dinmica molecular resulta de uma integrao direta das
equaes de movimento. Para a resoluo dessas equaes utilizamos o mtodo integrador
Runge-Kutta de quarta ordem. A partir dos resultados obtidos, pudemos comparar
distribuies com outras mdias temporais, a partir dos grficos.
Palavras-chave: Dinmica molecular; Heisenberg.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
33
CDIGO: ET0166
TTULO: Simulao Numrica das Deformaes por Fluncia em Pilares Parede de Concreto
Armado
AUTOR: TIAGO MORKIS SIQUEIRA
ORIENTADOR: EDMILSON LIRA MADUREIRA
Resumo:
Um elemento de concreto, mantido permanentemente sob tenso, apresenta
deformao progressiva no decorrer do tempo, associada deformao lenta. Deformaes
desta modalidade esto associadas fluncia de natureza viscosa da massa da camada de
gua adsorvida superfcie do gel de cimento, frente s aes de servio. Em elementos de
concreto armado, as deformaes por fluncia promovem o acrscimo de tenses nas barras
de ao, podendo induzi-las ao escoamento. As formulaes pioneiras do efeito de fluncia,
desenvolvidas com base no coeficiente de fluncia, so aplicveis, sobretudo, quando as
tenses se mantm constantes. Sua aplicao a elementos de concreto armado, por
apresentarem variaes de tenses mediante as deformaes por fluncia, requer
simplificaes das quais resultam os modelos de memria, que tm a desvantagem de exigir o
armazenamento do histrico de tenses. Os modelos de estado dispensam tal robustez de
armazenamento. O objetivo deste trabalho a anlise das deformaes por fluncia em
pilares parede de concreto armado, realizada com base em um modelo de estado com
parmetros fixados a partir de resultados obtidos atravs da formulao da NBR 6118/07.
Palavras-chave: Fluncia; Concreto Armado; Simulao; Pilar Parede.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
34
CDIGO: ET0175
TTULO: Estudo da variao espacial e temporal da precipitao no Estado do Rio Grande do
Norte
AUTOR: GIOVANA DE OLIVEIRA ALVES
ORIENTADOR: ADELENA GONCALVES MAIA
Resumo:
O regime pluviomtrico de uma regio considerado um fator chave no desempenho
do sistema de aproveitamento domstico de gua de chuva. Sendo assim, este trabalho
objetivou determinar a variao espacial e temporal da precipitao no Estado do Rio Grande
do Norte, atravs da representao espacial na regio de dois ndices: o ?Precipitation
Concentration Degree? (PCD) e o ?Precipitation Concentration Period? (PCP), que representam
respectivamente o grau de distribuio da precipitao anual ao longo dos meses e o perodo
do ano em que ocorre a concentrao da precipitao. Os resultados mostraram que h uma
variao espacial com o retardamento do perodo chuvoso e uma diminuio da concentrao
temporal da precipitao de oeste para leste do Estado. Atravs da anlise da eficincia e a
relao entre capacidade da cisterna e volume precipitado captvel (C/P.A) observou-se que
regies com maior precipitao mdia anual e melhor distribuio temporal da precipitao
obtiveram maior eficincia e maior ganho de eficincia com o aumento da relao
adimensional ?C/(P.A)?, do que regies com menor precipitao anual e maior concentrao
da precipitao ao longo do ano. Sendo assim, a variabilidade temporal da precipitao um
fator relevante a ser considerado na anlise do comportamento de uma cisterna frente ao
atendimento das suas demandas. Esta relevncia foi mais significativa para baixos valores da
relao entre capacidade da cisterna e volume precipitado captvel (?C/P.A?).
Palavras-chave: PCP, PCD, eficincia, cisternas.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
35
CDIGO: ET0182
TTULO: A sade pblica no RN face s mudanas climticas: A Leishmaniose Visceral no Rio
Grande do Norte.
AUTOR: GEYZA NEYLA DE ARAJO SANTOS
ORIENTADOR: MARIA HELENA CONSTANTINO SPYRIDES
Resumo:
A Leishmaniose Visceral (LV) uma doena infecto-parasitria que era marcada como
molstia de carter rural, mas, foi se expandindo pelas reas urbanas, tornando-se endmica e
causando um grave problema na sade pblica do Brasil. Tem como agente etiolgico o
protozorio tripanosomatdeo leishmania chagasi e como maior hospedeiro de infeco, o co
domstico. Sendo a mesma uma doena transmitida por um vetor flebotomneo da espcie
Lutzomia longipalpis, seu controle depende de vrios motivos, inclusive de caractersticas
ambientais. Devido expanso da doena no Rio Grande do Norte, surge a necessidade de
avaliar os fatores ambientais que permitem a proliferao do vetor. Diante esse cenrio, o
objetivo deste projeto consiste em ponderar a variao climtica sobre os nmeros notificados
de Leishmaniose, no perodo de 2007 a 2012, do RN. A metodologia do estudo utilizou as
informaes relativas s notificaes de LV e variveis climticas do estado do Rio Grande do
Norte. Os casos de LV foram fornecidos pelo Sistema de Informao de Agravos de Notificao
(SINAN) e as variveis climticas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os
resultados mostraram que Mossor e Natal so os municpios que mais se destacam em
relao ao nmero de casos da molstia. E embora as variveis climticas em estudo no
tenham uma relao direta elevao de casos da LV, algumas delas, como a precipitao,
podem ter favorecido ao acrscimo de casos em perodos aps os momentos chuvosos.
Palavras-chave: Leishmaniose Visceral; Rio Grande do Norte; Variveis Climticas.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
36
CDIGO: ET0204
TTULO: Anlise microestrutural e mecnica de ligas de alumnio com alto refinamento de gro
AUTOR: JOS MICAEL DELGADO BARBOSA
ORIENTADOR: MAURICIO MHIRDAUI PERES
Resumo:
Com o grande interesse da indstria automobilstica e aeroespacial nas ligas de
alumnio em trazer grandes avanos tecnolgicos, por ser um material leve, econmico e
ambientalmente correto, a indstria visa sempre o seu crescimento com o desenvolvimento de
novos materiais com as propriedades do alumnio. Contudo, existe uma necessidade contnua
na melhoria das propriedades e do controle das mesmas para que o produto seja mais
valorizado e aplicvel em uma quantidade maior de reas. O objetivo desse trabalho foi
analisar a evoluo microestrutural e as propriedades mecnicas da liga Al-3Fe tratada
termicamente sob diferentes condies de endurecimento por precipitao a partir de lingotes
originrios de ligas de alumnio nanoestruturadas de ps de Al-3Fe consolidadas por extruso a
quente. O p original apresentava dimetro de partculas menor que 45um e a consolidao
foi realizada sob temperatura de extruso de 400C, velocidade do puno de 15 mm/min e
razo de reduo de rea de 10/1, resultando em lingotes cilndricos de 5,1 mm de dimetro.
Foram realizados tratamentos trmicos de solubilizao e tambm com posterior
envelhecimento artificial em quatro diferentes condies de tempo de envelhecimento.
Ensaios de microdureza Vickers foram usados para a anlise das propriedades mecnicas
resultantes aps cada tratamento trmico e com a tcnica de difrao de raios-X foi possvel
observar o desenvolvimento das fases quando so expostos a tratamentos trmicos.
Palavras-chave: Al-3Fe, alumnio, tratamento trmico, solubilizao, precipitao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
37
CDIGO: ET0208
TTULO: Desenvolvimento de novos filmes automontados a partir da interao de
polissacardeos naturais e compostos de coordenao com possveis aplicaes tecnolgicas
AUTOR: BLENDA NAGYLA PAULINA DA SILVA
ORIENTADOR: ANA CRISTINA FACUNDO DE BRITO PONTES
Resumo:
Nos estados do Cear e do Rio Grande do Norte comum encontrar esponja marinha
da espcie Geodia corticostilyfera, da famlia Geodiidae, segundo relatos da literatura extratos
brutos de esponjas marinhas tem apresentado atividade antibacteriana, antipredao e
antincrustao. Entretanto no existem estudos sobre caracterizao estrutural desse
material. O objetivo do trabalho propor uma nova metodologia para obteno de
polissacardeo que apresente maior rendimento e menor custo, a sua caracterizao estrutural
e interao com outros polissacardeos para formao de filmes. O mtodo de isolamento e
purificao utilizado semelhante ao proposto por Costa e colaboradores. O rendimento
obtido no isolamento e purificao foi de 40% e 50%, respectivamente. O teor de protena
obtido pelo mtodo de Bradford obteve-se um valor de 66,25%, indicando que o material
possui elevado percentual de protena ligado ao polissacardeo. O espectro de IV mostra
bandas caractersticas de OH acima da regio de 3200 cm-1 e do grupo sulfato na regio de
1400 cm-1. A viscosidade absoluta para solues de gedia 3,5 % mostraram-se fora do limite
de sensibilidade do equipamento. J solues oriundas da mistura de quitosana
(0,02g/mL)/gedia (0,0025g/mL) apresentou comportamento de pseudoplstico. Os filmes
oriundos dessa mistura foram analisados por IV indicando a sobreposio das bandas
caractersticas dos dois polissacardeos,indicando a interao entre os dois polissacardeos.
Palavras-chave: Esponja Marinha; Gedia; Polissacardeos; Purificao; Viscosidade.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
38
CDIGO: ET0210
TTULO: Sntese e caracterizao de um novo complexo do sistema Cobre(II)-fenantrolina com
o ligante 4-aminopiridina.
AUTOR: FRANCIMAR LOPES DE SOUSA JUNIOR
ORIENTADOR: DANIEL DE LIMA PONTES
Resumo:
Complexos de cobre tendo diiminas como ligantes tm se destacado na qumica
bioinorgnica devido suas aplicaes em sistemas biolgicos. Tal caracterstica tem levado ao
desenvolvimento de novos complexos deste sistema, visando obteno de compostos que
possam ser utilizados como frmacos. Este trabalho tem como objetivo sintetizar e
caracterizar um novo complexo do sistema Cu(II)-fenantrolina com o ligante 4-aminopiridina
(4-apy). O complexo precursor [Cu(phen)Cl2] (1) e o complexo de interesse [Cu(phen)(4-
apy)2]Cl2 (2), foram caracterizados por espectroscopia eletrnica (Uv-vis) e infravermelho (IV).
O espectro de IV de (1) apresenta bandas em 1606, 1584 e 854 cm-1 referentes aos
estiramentos C=N, C=C, C-H respectivamente do ligante fenantrolina. O espectro de IV do
complexo (2) alm de exibir as bandas da fenantrolina, possivel visualizar tambm bandas
em 3359 e 3500 cm-1 referentes ao estiramento N-H, do grupo amina presente no ligante 4-
apy. Os espectros eletrnicos dos compostos so similares, ambos apresentam bandas em
204, 226, 272 e 294 nm, referentes s transies intraligantes de carter pi-pi* da
fenantrolina. O espectro de Uv-vis de (1) exibe duas bandas na regio do visvel uma em 388
nm, que referente LMCT ppi Cl- dpi* Cu2+ e a banda d-d em 698 nm. J o complexo (2)
possui somente uma banda no visvel, em 650 nm, referente transio d-d do metal
comprovando assim a substituio dos cloretos do complexo precursor e formao do novo
complexo.
Palavras-chave: Complexos, compostos de coordenao, fenantrolina.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
39
CDIGO: ET0219
TTULO: Mtodos funcionais em teoria de partculas e interaes elementares
AUTOR: DANYELLE PRISCILA DA SILVA
ORIENTADOR: ANDRE BESSA MOREIRA
Resumo:
A descrio dos fenmenos relacionados s partculas elementares faz uso de um tipo
especial de teoria de campos, as chamadas teorias de calibre. Embora a descrio matemtica
precisa seja em termos de estruturas complicadas para uma anlise em nvel de graduao
(dependeria do estudo da teoria dos fibrados principais), podemos fazer um estudo semi-
fenomenolgico das interaes entre os constituintes da matria. Para tanto, necessrio
dominar uma base de Mecnica Quntica e Relatividade Especial, alm de ferramentas
matemticas como a tcnica de integrais funcionais, para dar sentido abordagem
fenomenolgica. Neste trabalho, apresentaremos clculos usando uma teoria de campos
escalares com interao para ilustrar o uso dos chamados diagramas de Feynman.
Discutiremos os diagramas de interao da eletrodinmica quntica e sua extenso para o
Modelo Padro.
Palavras-chave: Partculas elementares, diagramas de Feynman, integrais funcionais.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
40
CDIGO: ET0220
TTULO: Aplicaao da Tecnologia Eletroquimica no tratamento das guas residuarias da ETE da
UFRN
AUTOR: CYNTHIA KRZIA COSTA DE ARAJO
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO MARTINEZ HUITLE
CO-AUTOR: DAYANNE CHIANCA DE MOURA
CO-AUTOR: ELISAMA VIEIRA DOS SANTOS
CO-AUTOR: NEDJA SUELY FERNANDES
Resumo:
Essa pesquisa tem como objetivo testar o desempenho dos eletrodos de Platina,
Diamante dopado com boro e de Rutnio para a oxidao eletroqumica de amostras reais do
efluente de guas residurias da ETE da UFRN. Os experimentos, utilizando os eletrodos de
Ti/Pt e DDB, foram feitos com uma clula de fluxo contnuo usando 2 L da amostra. De modo a
obter as melhores condies para esse tratamento, foram testadas diferentes densidades de
corrente e, em alguns casos, adicionou-se NaCl. Com a aplicao de uma densidade de
corrente de 2,5 mAcm-2, usando Ti/Pt, a remoo da matria orgnica foi de 25,2%, enquanto
que, para a densidade de corrente de 5,0 mAcm-2 esse resultado foi cerca de 30,49%. Com o
eletrodo de Diamante, ocorreu um aumento de DQO. Diante das mesmas condies,
adicionou-se 1,25 g/L de NaCl no efluente, obtendo como resultado uma remoo de DQO de
63,7% e 60% para Ti/Pt atravs da aplicao de 2,5 e 5,0 mAcm-2, respectivamente, enquanto
que para o eletrodo de DDB, as remoes de DQO foram cerca de 15% e 47%, para as mesmas
densidades de corrente. O eletrodo de Rutnio foi utilizado, inicialmente, a fim de verificar a
produo de cloro ativo. Para isso, foram feitos experimentos com uma soluo de gua
destilada (500 ml) e cloreto de sdio (1,25 g/L), em batelada, aplicando-se diferentes
densidades de corrente (25, 50 e 75 mAcm-2). Em seguida, aplicou-se esse mesmo mtodo
utilizando o efluente da ETE com a adio do NaCl e, analisou-se os resultados de COT.
Palavras-chave: Oxidao Eletroqumica, efluente real, nodos.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
41
CDIGO: ET0225
TTULO: Divulgao e popularizao da Fsica (nfase em Fsica trmica, ptica e ondas)
AUTOR: BEATRIZ ROXANNA MACIEL TEIXEIRA
ORIENTADOR: ANDRE STUWART WAYLAND TORRES SILVA
Resumo:
Nosso projeto visa a divulgao da cincia atravs da internet, utilizando materiais de
baixo custo, ou seja, materiais acessveis a todos, para a produo de experimentos e
fenmenos fsicos. Usando uma linguagem mais jovial com o objetivo de atrair o pblico
jovem, divulguei vdeos na rede social Facebook apresentando os fenmenos e/ou
experimentos e enigmas, passo-a-passo para o pblico poder reproduzi-lo em casa e os
materiais que utilizei. Algumas dessas experincias (todas esto na pgina do nosso projeto
(youtube.com/ConectadosComACiencia)), so: Movimentos dos pesos (enigma, com mais de
300 visualizaes no Facebook), Balano da vela, Tempo da reao humana (experincia), NEI
(vdeo com algumas cenas da nossa apresentao para alunos de 7-8 anos de idade da Escola
da UFRN, onde procuramos motivar e interessar as crianas com a cincia) que teve mais de
700 visualizaes.
Palavras-chave: conectadoscomaciencia, ciencia, fsica.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
42
CDIGO: ET0233
TTULO: Montagem da Tcnica de Susceptibilidade AC por Efeito Kerr Magneto-ptico
AUTOR: IURY KHALLYL DOS SANTOS BORGES
ORIENTADOR: ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
Resumo:
Os filmes finos possuem uma diversidade de propriedades fsicas. Podemos citar como
uma das principais aplicaes de filmes nanmetricos na indstria tecnolgica do sculo XXI, a
estrita relao com a rea de fabricao e armazenamento de informaes. O que nos leva a
utilizar a tcnica Magneto Optical Kerr Effect (MOKE), a simplicidade de montagem do
equipamento e rpida caracterizao de amostras magnticas no regime nanomtrico. O
aparato mecnico que constitui o MOKE apresenta um Laser, dois filtros polarizadores, duas
lentes (foco de 10 cm), foto detector e o Chopper. Para adquirir as curvas de magnetizao
(histerese) e susceptibilidade, alinhamos o laser e componentes ticos (lentes e polarizadores).
A radiao linearmente polarizada emitida pelo laser deve ser alinhada paralelamente ao
plano de incidncia. As lentes focalizam o feixe do laser sobre a amostra. Devido ao efeito
Kerr, a polarizao rotacionada. Para detectar a componente da magnetizao longitudinal
(paralela ao campo magntico) o segundo polarizador tem seu eixo paralelo ao plano de
incidncia. A luz refletida pela amostra captada pelo fotodetector e seu sinal e lido pelo Lock-
in. As caracterizaes foram feitas numa amostra de Py/Si (1000 A) as curvas de histerese e
suscetibilidade se aproximaram das simulaes tericas. As medidas demonstraram boa
relao sinal-rudo. O prximo objetivo do projeto analisar profundamente as caractersticas
dinmicas da amostra atravs dos grficos obtidos.
Palavras-chave: MOKE, Filmes Finos, Efeito Kerr e Susceptibilidade AC.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
43
CDIGO: ET0235
TTULO: Caracterizao dos ambientes de estruturas recifais por meio de processamento de
imagens digitais orbitais/multiespectrais de alta a mdia resoluo espacial
AUTOR: MARTILIANA MAYANI FREIRE
ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA
Resumo:
O sensoriamento remoto uma forma sistemtica de obter dados para fazer o
mapeamento de recifes e estudar os problemas ambientais presentes nesses locais ricos em
biomassa. O presente trabalho teve como objetivo fazer deteco de estruturas recifais, por
meio do SR Orbital, a partir de composies de imagens orbitais de alta a mdia resoluo
espacial. As composies utilizadas foram RGB 321 e a razo de bandas 3/1 em falsa cor, ainda
foram aplicados realces de equalizao e de limites de saturao em ambos os sensores no
software SPRING v.4.3. As cenas utilizadas foram a 214/064 de 14/05/2013 do Landsat 8 ETM+
com resoluo espacial de 30 m, e a cena ALOS AVNIR-2, ALAV2A220913710-O1B2R_U_Geo de
18/06/2011 com resoluo espacial de 10 m. Foram visualizados o mapeamento dos parrachos
de Maracaja-RN e de suas estruturas recifais, como da densidade dos organismos presentes
no recife, em tonalidades que podem ser correlacionadas com a biomassa de macroalgas.
Espera-se que em uma futura pesquisa possamos correlacionar a deteco de biomassa com a
quantificao e composio de macroalgas do recife da estrutura recifal de Maracaja/RN
permitindo compreender temporalmente a evoluo do Parracho, sua disposio
geomorfolgica, os mecanismos de circulao, e os impactos ambientais incidentes.
Palavras-chave: recifais, corais, macroalgas, geoprocessamento, sensoriamento.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
44
CDIGO: ET0236
TTULO: Sntese, caracterizao e avaliao fotocataltica de catalisadores heterogneos na
degradao de compostos fenlicos .
AUTOR: PEDRO RAFAEL LIMA VIEIRA
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA
Resumo:
Nos ltimos anos houve um aumento no nmero de indstrias no mundo e isso trouxe
a tona assuntos como a preservao ambiental. Muitas indstrias descartam seus efluentes na
natureza sem qualquer tipo de tratamento. O fenol e seus derivados so encontrados em
diversos efluente industriais. Ele uma substncia danosa ao meio ambiente assim como a
sade do ser humano. Este trabalho tem o objetivo realizar a degradao oxidativa
fotocataltica do fenol na perspectiva de obter como produto CO2 e gua minimizando a
formao de produtos intermedirios de natureza cida que desativa os catalisadores. Na
pesquisa, a degradao do fenol foi feita em um reator fotocataltico com borbulhamento de
gs e reciclo da fase lquida. A fonte de aquecimento foi feita atravs de uma lmpada de
radiao UV com 400 W de potncia inserida em um invlucro cuja fonte de luz atravessa a
parede do reator se propagando at a fase lquida e assim promovendo o seu aquecimento.
No que concerne as atividades desenvolvidas na presente pesquisa foi feita a montagem do
dispositivo experimental, foram avaliados alguns ensaios preliminares com o dispositivo
experimental, o perfil de temperatura no reator, sntese da perovisquita a impregnao do
ferro na zelita USY, a caracterizao desta ltima, a degradao trmica do fenol sem
catalisador.
Palavras-chave: Fenol, catalisador, oxidao mida, reator fotocataltico.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
45
CDIGO: ET0246
TTULO: Desenvolvimento de antenas UWB com faixas de rejeio para sistemas de
comunicaes sem fio
AUTOR: PABLO CASTRO BRITO MEDEIROS
ORIENTADOR: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO
Resumo:
Superfcies seletivas de frequncia (FSS) so arranjos peridicos, tipicamente
bidimensionais, de elementos patches condutores ou aberturas que funcionam com filtros
espaciais, apresentando comportamento rejeita-faixa e passa-faixa, respectivamente. Esses
elementos podem ser impressos em uma ou mltiplas camadas dieltricas, em funo da
resposta desejada. A principal aplicao de superfcies seletivas de frequncia na transmisso
e recepo de ondas em sistemas de comunicao. Este relatrio descreve as atividades
realizadas durante as pesquisas sobre superfcies seletivas de frequncias em substratos
anisotrpicos aplicadas a sistemas de comunicaes sem fio.
Palavras-chave: Antenas, filtros, FSS.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
46
CDIGO: ET0252
TTULO: Projeto e Simulaes com Controladores Adaptativos Robustos
AUTOR: RAFAEL CARDOSO PEREIRA
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO
Resumo:
Neste projeto pretende-se analisar algumas tcnicas recentemente desenvolvidas no
sentido de estabelecer propriedades, aplicaes, vantagens e desvantagens de Controle
Adaptativo Robusto e de realizar experincias laboratoriais. Deve-se abordar as tcnicas de
Controle Adaptativo por Modelo de Referncia e Estrutura Varivel (VS-MRAC) no caso Direto,
Controle Adaptativo por Modelo de Referncia e Estrutura Varivel no caso Indireto (IVS-
MRAC), Controle Adaptativo por Posicionamento de Plos e Estrutura Varivel (VS-APPC) e
Controle Adaptativo Backstepping com Estrutura Varivel (VS-ABC). Em todas estas tcnicas, as
leis integrais de adaptao utilizadas nos algoritmos convencionais foram substitudas por leis
chaveadas a partir da teoria de Sistemas com Estrutura Varivel. A suavizao do sinal de
controle feita com o uso do Modelo de Takagi-Sugeno para a comutao entre os algoritmos
com estrutura varivel, que permitem um desempenho transitrio rpido e pouco oscilatrio,
e os algoritmos convencionais, que levam a um sinal de controle suave em regime
permanente, sendo esta estratgia denominada de Controle em Modo Dual Adaptativo
Robusto (DMARC). Uma tcnica de Desacoplamento de Sistemas No Lineares deve ser
utilizada para o caso Multivarivel. Os testes em laboratrio devem ser implementados em
motores eltricos, em um prottipo de gerao de energia eltrica e em um rob mvel.
Palavras-chave: Controle Adaptativo, Sistemas com Estrutura Varivel
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
47
CDIGO: ET0253
TTULO: Consolidao do NIT-UFRN ? Auxlio a Inventores e Pesquisadores
AUTOR: CLAUDI DIEGO DE SOUSA PINHEIRO
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO
Resumo:
Durante muito tempo os pesquisadores brasileiros tinham o intuito apenas de publicar
suas pesquisas e no de proteg-las antes disso. Esse tipo de procedimento acabava fazendo
com que o pesquisador e at mesmo o pas perdessem a exclusividade na propriedade de
muitas descobertas de elevado potencial e valor financeiro e estratgico, tanto para o pas
como para o prprio pesquisador. O presente trabalho visa divulgar a importncia da
Propriedade Intelectual dentro da Universidade, apresentando at o momento 57 pedidos de
patentes depositadas no perodo de 2004 ao primeiro semestre de 2013.
Palavras-chave: Patentes; Propriedade Intelectual; NIT.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
48
CDIGO: ET0299
TTULO: Membranas de Quitosana reticuladas homogeneamente para o tratamento de guas
residuais - Preparo e caracterizao
AUTOR: JOS ADOLFO OLIVEIRA DAS CHAGAS
ORIENTADOR: MARCIA RODRIGUES PEREIRA
CO-AUTOR: JSSICA SOUZA MARQUES
CO-AUTOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA
Resumo:
O uso de materiais biodegradveis para a realizao de permeao de metais oriundos
de guas residuais tm gerado interesse na indstria. Neste trabalho, apresenta-se os efeitos
do processo de reticulao homognea nas membranas de quitosana, utilizando o cido
sulfrico como agente reticulante em duas razes molares (1:4 e 1:6). A caracterizao das
membranas foi feita atravs do teste de solubilidade, espectroscopia de infravermelho (FTIR) e
ensaios de soro. Os resultados mostraram que, utilizando pequenas quantidades de agente
reticulante foi possvel se obter quitosana ainda sob a forma de filme, mas com excelente
resistncia qumica em meio cido. Os ensaios de soro mostraram que o aumento do grau
de reticulao reduz a capacidade de soro da membrana. Atravs do infravermelho foi
possvel caracterizar ainda que em pequeno grau a formao de interaes entre os grupos
sulfato e amino protonado. Uma vez que o grau de reticulao foi intencionalmente bastante
pequeno, foi obtido um material que agora poder ser utilizado em meio cido, mas que ainda
possui uma grande quantidade de grupamentos amino que podero ser utilizados em
processos de adsoro atravs, por exemplo, de sua capacidade de quelao com metais
pesados.
Palavras-chave: Membranas, Quitosana, Reticulao, Adsoro, Metais pesados.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
49
CDIGO: ET0307
TTULO: Influncia do pH na estabilidade da antocianina do extrato do jambo (Eugenia
malaccense)
AUTOR: GLENDA FERREIRA BESERRA DA SILVA
ORIENTADOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE
CO-AUTOR: ANA LUCIA DE MEDEIROS LULA DA MATA
CO-AUTOR: GLAUBER CARVALHO
CO-AUTOR: VIVIANE HIROMI UCHIDA
Resumo:
No Brasil, o jambo vermelho cultivado em quase todo o territrio. O fruto de origem
tropical possui uma casca avermelhada, o que evidencia a presena de um corante natural, a
antocianina. A antocianina um dos principais corantes utilizados na indstria alimentcia,
porm caracterizada por uma alta instabilidade. Fatores como temperatura, pH e luz
influenciam na estabilidade do corante, provocando a degradao do mesmo em condies
desfavorveis.
A extrao do corante a partir da casca do jambo foi realizada em batelada, utilizando
como solvente soluo de etanol 20%, 50C por 30 minutos. As amostras provenientes desta
extrao foram tratadas com solues tampo de cloreto de potssio (pH 5 e 6) e acetato de
sdio (pH 7 e 8), variando a relao em volume de extrato/soluo tampo (1:10, 1:2 e 1:1). As
amostras foram mantidas sob agitao em shaker a temperatura ambiente. Aps o perodo de
7 dias, alquotas foram retiradas e analisadas em UV visvel. O estudo da estabilidade em
funo do pH foi realizado tomando-se a anlise da diferena nas concentraes inicial e final
da antocianina como medida de degradao do corante.
Os resultados indicaram que o pH no qual ocorreu a menor degradao nos extratos
analisados foi o mais cido, pH 5, tendo uma degradao de 69,3% para a concentrao de 1:1.
A partir do pH neutro a degradao foi maior, no havendo diferena significativa na
degradao com o aumento do pH de 7 a 8, que resultaram em uma degradao de 99%.
Palavras-chave: Antocianinas, estabilidade, pH, concentrao, jambo.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
50
CDIGO: ET0320
TTULO: As Incubadoras Sociais e o Desenvolvimento Local: O que e porque apoiar a
iniciativa
AUTOR: WENDELLA SARA COSTA DA SILVA
ORIENTADOR: ZULMARA VIRGINIA DE CARVALHO
CO-AUTOR: ADRIEL FELIPE DE ARAJO BEZERRA
Resumo:
Os parques tecnolgicos ou quaisquer outras instituies capazes de ter um programa
de incubao buscam levar melhoria e desenvolvimento local por meio do vis econmico,
contudo, ao nosso entender, o conhecimento gerado por essas instituies deve transbordar
dos limites fsicos ou imaginrios que as circundam e se espalhar por toda a sociedade,
identificando suas necessidades e procurando as atender.
O presente trabalho visa lidar com os conceitos de incubadora social, tecnologias
sociais e inovao social aos moldes das incubadoras tecnolgicas, uma vez que a incubao
social surgiu da percepo em relao s necessidades da comunidade ao redor da incubadora.
Pretende-se trabalhar com os conceitos j mencionados e, desta forma, incentivar a criao
deste tipo de incubadora no futuro parque tecnolgico do Rio Grande do Norte, que j teve
sua aprovao assinada por rgos governamentais e apoiar este tipo de iniciativa em mbito
nacional visando o desenvolvimento socioeconmico.
No grupo de pesquisa Agentes de Inovao (AGI) da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN) temos participado de eventos com as instituies do Sistema Estadual
de Inovao e estudado temas que giram em torno da Inovao. A partir disto pudemos
perceber a janela de oportunidade que as incubadoras e parques tecnolgicos tm para atuar
no desenvolvimento scio-econmico-cultural local e/ou da regio.
Palavras-chave: Inovao Social; Incubadoras Sociais; Desenvolvimento.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
51
CDIGO: ET0330
TTULO: Consolidao do NIT-UFRN ? Desenvolvimento de Pgina na INTERNET
AUTOR: DBORA HELLEN DE OLIVEIRA LOPES
ORIENTADOR: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO
Resumo:
O Ncleo de Inovao Tecnolgica da UFRN foi criado pela resoluo N 04/2007?
CONSUNI de 28/09/2007, estando em conformidade com a Lei de Inovao (Lei n 10.973 de
02/12/2004), vinculado PROPESQ, tendo como principal finalidade gerir a poltica de
inovao da UFRN, assim como divulgar a importncia da proteo intelectual na Universidade
e orientar o pesquisador na elaborao da documentao para pedido de patente, registro de
marca, programa de computador, cultivar, desenho industrial, direito autoral e outros, bem
como o auxlio no processo de transferncia das tecnologias geradas pela UFRN, alm de
estimular o empreendedorismo com potencial de inovao. O NIT/UFRN est associado rede
NIT? NE e tm sido desenvolvidas formas de divulgao da propriedade intelectual na
Universidade como uma etapa importante do longo e complexo caminho de trazer uma boa
ideia a uma condio de utilizao extensiva pela sociedade, que a essncia do conceito de
inovao. Foi criado um site oficial (www.nit.ufrn.br) onde esto contidas todas as
informaes necessrias proteo da propriedade intelectual, de banners e apresentaes
para serem expostos em feiras e congressos da rea, alm do constante estudo afim de
manter a pgina sempre atualizada acerca do tema.
Palavras-chave: NIT, Propriedade Intelectual, Empreendedorismo.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
52
CDIGO: ET0331
TTULO: Agentes de Inovao na consolidao da trplice hlice do desenvolvimento
socioeconmico norte-rio-grandense: AGInfra como elemento difusor da gesto de qualidade
nos laboratrios da UFRN
AUTOR: SILVANO CARLOS LOPES JNIOR
ORIENTADOR: EFRAIN PANTALEON MATAMOROS
CO-AUTOR: BRENO FERNANDES DE ANDRADE
CO-AUTOR: ZULMARA VIRGINIA DE CARVALHO
Resumo:
Centrado no Capitulo II da Lei de Inovao (n 10973), voltado ao estimulo criao de
ambientes especializados e cooperativos de inovao, e, em especfico, no artigo quarto: ?As
ICTs podero, mediante remunerao e por prazo determinado, nos termos de contrato ou
convnio, compartilhar seus laboratrios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais
instalaes com microempresas e empresas de pequeno porte em atividades voltadas
inovao tecnolgica, para a consecuo de atividades de incubao, sem prejuzo de sua
atividade finalstica?, esse trabalho tem como objetivo promover os processos de extenso
tecnolgica na UFRN, atravs do levantamento da infraestrutura laboratorial da universidade e
com a formao de recursos humanos estratgicos que difundam a cultura de inovao em
todo espao acadmico. Ao longo do trabalho, foi criado o projeto AGInfra que, constitui-se da
unio entre a teoria, baseada na norma supracitada, e a prtica, a partir da transferncia de
conhecimento do grupo de pesquisa Agentes de Inovao (AGI) para os responsveis pelos
laboratrios, favorecendo o fortalecimento da gesto de qualidade em seus ambientes de
trabalho. A expectativa a criao de uma plataforma de dados com as informaes das
atividades de P&D dos laboratrios da UFRN, bem como a criao de uma cultura de inovao
com a formao de gestores de qualidade nos laboratrios da instituio, viabilizando-a como
elemento da tripla hlice, ou seja, como Universidade Empreendedora.
Palavras-chave: Gesto da qualidade, Inovao, Universidade Empreendedora.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
53
CDIGO: ET0332
TTULO: Avaliao da influncia do nquel na cintica de decomposio cataltica do p da
casca da castanha de caju.
AUTOR: MISAEL PEGADO OLIVEIRA DA SILVA
ORIENTADOR: AMELIA SEVERINO FERREIRA E SANTOS
Resumo:
A casca da castanha de caju, resduo lignicelulsico proveniente da produo da
castanha de caju, encontrada em alta disponibilidade na regio Nordeste, porm, ainda
pouco explorada e com alto poder calorfico. Neste trabalho foi investigada a influncia da
adio da zelita ZSM-5 e da peneira mesoporosa (MCM-41) um material bastante promissor,
como catalisadores, em duas formas de impregnao e em diferentes formulaes no poder
calorfico, perfil de volatilizao e cintica de decomposio do p da casca de castanha de
caju. O perfil de volatilizao e acintica de decomposio foram determinados por
termogravimetria, considerando duas taxas de aquecimento em atmosfera inerte e
temperaturas de at 900C. Esses resultados foram comparados com o p da casca da
castanha de caju puro, incluindo os respectivos valores de energia de ativao. Outra varivel
estudada foi o efeito da utilizao de etanol para impregnao do catalisador na biomassa.
Anlises do poder calorfico, perfil de volatilizao e cintica de decomposio do resduo de
biomassa impregnado com catalisador na presena de etanol tambm foram realizadas. A
uniformidade da disperso do catalisador na matriz combustvel, assim como nas suas cinzas
foram analisadas por espectroscopia por energia dispersiva (EDS) integrada ao microscpio
eletrnico de varredura (MEV-EDS), anlises de difrao de raios-X (DRX) e espectrometria de
fluorescncia de raios-X (FRX).
Palavras-chave: Casca de castanha de caju, resduo lignocelulsico, biomassa.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
54
CDIGO: ET0337
TTULO: Anlise dos diferentes modelos e analogias sobre o contedo de estrutura atmica
divulgados em livros didticos de qumica geral do ensino superior.
AUTOR: ANDERSON DIAS VIANA
ORIENTADOR: CARLOS NECO DA SILVA JUNIOR
Resumo:
Na literatura cientfica, poucos so os trabalhos que discutem a utilizao de livros
textos nos cursos de Qumica Geral nas Instituies de Ensino Superior do Brasil, ao contrrio
do que ocorre com o os livros didticos do Ensino Mdio. Este trabalho analisou os modelos e
as analogias apresentadas nos livros textos para o ensino do contedo de estrutura da matria
e as suas influencias na formao dos modelos mentais dos alunos. Esta pesquisa foi realizada
pela metodologia de anlise de contedo (BARDIN, 2004). A metodologia citada se
fundamenta na seleo de unidades de anlise (neste caso modelos e analogias) e pela
elaborao de categorias que agreguem os dados coletados. Conclui-se, a partir do nmero de
incidncias em cada categoria, que os livros texto no utilizam tantos modelos analgicos
como no ensino bsico. Entretanto, os modelos so influenciados pela formao de imagens
(modelos iconogrficos), baseado nos modelos tericos desenvolvidos pela comunidade
cientfica.
Palavras-chave: estrutura atmica, modelos, livro texto, analogias.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
55
CDIGO: ET0341
TTULO: Preparao e caracterizao do hidrxido de ndio
AUTOR: SRGIO ROBERTO MELO DOS SANTOS FILHO
ORIENTADOR: FABIANA VILLELA DA MOTTA
CO-AUTOR: MAURICIO ROBERTO BOMIO DELMONTE
CO-AUTOR: MARA TATIANE DE SOUZA TAVARES
CO-AUTOR: CARLOS ALBERTO PASKOCIMAS
Resumo:
O hidrxido de ndio um semicondutor com um gap (Eg) de aproximadamente 5,15
eV, apresentando propriedades eletrnicas e pticas atraentes devido suas caractersticas. As
nanoestruturas de hidrxido de ndio dopada com eurpio foram preparadas pelo mtodo
hidrotrmico assistido por micro-ondas, para diminuio de tempo de temperatura de sntese.
As nanoestruturas foram obtidas a uma temperatura baixa, onde imagens do microscpio
eletrnico de varredura (MEV) confirma que estas amostras so compostos de nanoestruturas
3D. Medies de difrao de raio X (DRX), refletncia difusa ptica e fotoluminescncia foram
usadas para caracterizar as amostras. Os espectros de emisso das amostras de hidrxido de
ndio dopado com eurpio sob excitao (350,7 nm) apresentou banda larga de emisso
referentes ao hidrxido de ndio (In (OH) 3) da matriz 5D0, 7F0, 5D0, 7F1, 5D0, 7F2, 5D0, 7F3 e
5D0, 7F4 transies de eurpio nas bandas de 582, 596, 618, 653 e 701 nm, respectivamente.
As intensidades relativas das emisses de Eu3+ aumentou medida que a concentrao desse
on aumentava de 0, 1, 2, 4 e 8% em moles de Eu3+, mas a luminescncia extinta
drasticamente da matriz de In(OH)3.
Palavras-chave: nanoestruturas, In(OH)3, eurpio, hidrotrmico, fotoluminescncia
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
56
CDIGO: ET0344
TTULO: Estudo da secagem e das propriedades nutricionais do feijo verde (Vigna unguiculata
L. Walp) desidratado em secador a micro-ondas e aps reidratao.
AUTOR: DEIVERSON PEREIRA CAPISTRANO
ORIENTADOR: ANA LUCIA DE MEDEIROS LULA DA MATA
Resumo:
A secagem uma das mais antigas e comuns operaes unitrias utilizadas nos mais
diversos processos dos mais diferentes tipos de indstrias (Menezes et al., 2010). O estudo da
mesma de grande relevncia principalmente para indstria alimentcia, uma vez que a
secagem um dos processos mais utilizados para a preservao de alimentos, pois promove a
retirada de grande parte da gua livre do alimento, minimizando a ocorrncia de reaes de
deteriorao qumica e dos ataques de micro-organismos. A desidratao osmtica a
desidratao parcial do alimento, o qual mergulhado em uma soluo hipertnica para que
haja o processo de transferncia de massa. A utilizao da tecnologia de micro-ondas se
mostra mais eficiente na realizao da secagem, pois, o tempo de realizao dessa operao
bastante reduzido em comparao a outros mtodos, o que motiva o seu uso. Este trabalho
tem como principal objetivo a Modelagem Matemtica do processo de secagem de feijo
verde (Vigna unguiculata L. Walp) in natura e com desidratao osmtica, utilizando a
tecnologia de micro-ondas. Os dados experimentais da cintica de secagem foram ajustados
pelas equaes de Lewis, Page, Modified Page, Henderson and Pabis, Yagcioglu et al. e
Simplified Fick?s diffusion (SFFD) equation. O tempo de secagem para as amostras que
passaram pelo pr-tratamento, desidratao osmtica, mostrou-se menor, indicando uma
economia energtica e maior eficincia do processo.
Palavras-chave: Secagem, modelagem, desidratao osmtica, micro-ondas.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
57
CDIGO: ET0347
TTULO: Polaritons em Metamateriais Quasiperiodicos
AUTOR: EVERSON FRAZO DA SILVA.
ORIENTADOR: MANOEL SILVA DE VASCONCELOS
Resumo:
Neste plano de trabalho daremos continuao ao estudo dos polaritons de plasmons,
que surgem da iterao da onda eletromagntica com as excitaes elementares (aqui os
plasmons) em materiais com ndice de refrao negativo, visando a aplicao no projeto
principal, no qual esse plano est vinculado, que trata sobre os cristais fotnicos com dois
tipos de metamateriais. A metodologia empregada ser baseada na matriz-transferncia.
Analizaremos os espectros de polariton considerando a fractalidade de seus espectros.
Palavras-chave: Metamateriais, Cristais fotnicos, Polaritons, Semicondutores.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
58
CDIGO: ET0348
TTULO: Estudo da interao do polinion poli (cido estireno sulfnico) e quitosana atravs do
mtodo turbidimtrico e espalhamento dinmico de luz.
AUTOR: JEDSON GLEYDSON ANDRADE DE MACDO
ORIENTADOR: JOSE LUIS CARDOZO FONSECA
Resumo:
Este trabalho visou estudar a interao do polinion poli (cido estireno sulfnico ?co cido
malico), sal de sdio- (AS), com o poliction, quitosana, avaliando a formao dos agregados
moleculares, conhecidos como complexos polieletrlitos (PECs), utilizando o mtodo de
turdibimetria. A visualizao do comportamento da estabilidade da mistura em uma faixa de
concentrao AS sugerida ( 0,1-0,008%, (massa/volume)) foi realizada a partir de um ensaio de
equilbrio de 12 horas, no qual, trs regies distintas foram observadas, dentre as quais a
regio de menor razo mssica 1 a 2 (concentrao de AS/ concentrao de quitosana),
possuindo valores de turbidez menores que o valor mximo. A concentrao de 0,03%, ou seja,
a razo mssica de 1,5 foi escolhida para o ensaio de cintica. Na cintica, no tempo de 800
segundos, a formao de PECs foi presenciada atravs do aumento da turbidez da mistura.
Palavras-chave: Quitosana; Complexos Polieletrlitos; Turbidez
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
59
CDIGO: ET0349
TTULO: DESCONTAMINAO DE EFLUENTES DE INDSTRIAS TXTEIS UTILIZANDO
SUBSTRATOS INORGNICOS
AUTOR: JOO EDSON TAVARES SOUSA DANTAS
ORIENTADOR: ROBSON FERNANDES DE FARIAS
Resumo:
Hoje a quantidade de produtos qumicos jogados nas guas de lagoas, rios e mares so
extremamente significativas e do ponto de vista ecolgico devastador o prejuzo para a
natureza, podendo ser observadas atravs de alteraes na qualidade do solo, ar e gua.
Normalmente o tratamento feito nessas guas residuais so insuficientes para eliminar
esses contaminantes, principalmente o corante. As tcnicas de tratamento fundamentadas em
processos de coagulao, seguidos de separao por flotao ou sedimentao, apresentam
uma elevada eficincia na remoo desse material particulado.
O presente trabalho insere-se no contexto anteriormente descrito e teve por
finalidade reportar o uso da dolomita como adsorvente para corantes utilizados em indstrias
txteis. Foram estudados os corantes ?azul indosol?, ?azul turquesa?, ?laranja indosol?. Os
estudos de adsoro foram efetuados utilizando-se solues aquosas desses corantes, sendo
as concentraes destas, monitoradas por espectroscopia na regio do ultravioletavisvel (UV
Vis), em equipamento Biospectro, modelo SP-220.
Palavras-chave: Adsoro, Corantes, ultravioleta-visvel.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
60
CDIGO: ET0350
TTULO: Solubilidade e estudo da reao de eterificao do sistema Glicerina/etilhexanol
AUTOR: PAULO JOADI GUERRA LIMA DE MEDEIROS
ORIENTADOR: ELISA MARIA BITTENCOURT DUTRA DE SOUSA
CO-AUTOR: GABRIEL ARAJO DE GOES
CO-AUTOR: MARCIONILA DE OLIVEIRA FERREIRA
Resumo:
O projeto tem por finalidade a produo de teres a partir da reao do 2-etilexanol
com glicerina. Foi feita a montagem do aparato experimental e experimentos de validao do
equipamento, utilizando glicerina e lcool benzlico, de acordo com a literatura. O
equipamento composto de um reator, tipo PARR, manmetro, vlvula de segurana,
termopar e vlvula de entrada de reagente. O reator est imerso em banho, utilizando-se
glicerina como fluido de aquecimento. O aquecimento do fluido no banho controlado atravs
de uma resistncia eltrica. utilizado um sensor de temperatura do tipo PT-100 para medir a
temperatura do banho, bem como um agitador mecnico acoplado a um inversor de
frequncia para controlar a agitao do fluido. As reaes foram realizadas em presena de
cido sulfrico (H2SO4) e Amberlyst-15, como catalisadores. Foram analisados temperatura,
tempo reacional, concentrao dos catalisadores e razo molar glicerol:lcool. A influncia
dessas variveis foi estudada em relao reao de eterificao e a partir dos resultados
obtidos pudemos concluir quais foram as condies favorveis para uma maior converso dos
reagentes em ter. A obteno de teres de glicerina a partir da reao entre glicerina e 2-
etilhexanol mostrou rendimentos que variaram de 20,83% a 52,81% dependendo das
condies de reao utilizadas. O melhor rendimento para as reaes sob baixas presses foi
obtido em temperatura de 80C e RM 1:2.
Palavras-chave: Eterificao. Solubilidade. Glicerina. H2SO4. Amberlyst-15.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
61
CDIGO: ET0351
TTULO: CONSTRUO DE UMA TCNICA EXPERIMENTAL PARA MEDIR RESISTNCIA ELTRICA
DE FILMES NANOMTRICOS
AUTOR: ABNER CARLOS COSTA DE MELO
ORIENTADOR: ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
Resumo:
Neste trabalho foi desenvolvida uma tcnica capaz de medir a resistncia eltrica de
filmes magnticos em funo do campo magntico aplicado. O campo magntico gerado por
eletrom. A medio deste campo magntico feita por um gaussmetro desenvolvido
durante a execuo deste trabalho. Foi utilizado a tcnica ?Delta?, esta tcnica consiste na
inverso do sentido da corrente eltrica no filme num certo intervalo de tempo pr-
configurado. As medies so feitas aplicando um campo magntico suficientemente alto para
saturar a amostra. Em seguida, campo magntico diminudo quasi-estaticamente at seu
valor mnimo. Isto faz com que a configurao de momentos magnticos da amostra seja
modificada daquela saturada. Durante este processo as medidas de resistncia eltrica so
realizadas, fornecendo informaes sobre as propriedades de transporte eletrnico da
amostra durante a reverso da magnetizao. As medidas de magnetoresistncia podem ser
usadas para extrair os valores de campo de saturao, campo de anisotropias magnticas,
coercividade, campo de Exchange bias, assim como a Magnetoresistncia Anisotrpica e a
Magnetoresistncia Gigante. Os primeiros resultados obtidos so de filmes da liga permalloy
(Fe20Ni80) com espessura de 100 nm, depositados sobre vidro, MgO(100)/Py(3nm) e
multicamadas Si(001)/IrMn(50nm)/ Py(15nm). Estes resultados mostraram a excelente relao
sinal-rudo da tcnica, alm de informaes relevantes sobre o sistema magntico em estudo.
Palavras-chave: magnetoresistncia, magnetoresistncia anisotrpica, filmes finos
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
62
CDIGO: ET0352
TTULO: Petrografia e textura de ortognaisses arqueanos de Santa Maria, RN
AUTOR: LUANNA CELLY SILVA DE AZEVEDO
ORIENTADOR: ZORANO SERGIO DE SOUZA
Resumo:
O terreno da Provncia Borborema, a norte do lineamento Patos, pode ser interpretado
pelas seguintes pocas: o Arqueano (3,45-2,7 Ga), o Paleoproterozco (~2,20 Ga) e o final do
Neoproterozico. No leste do Rio Grande do Norte h o ncleo Arqueano preservado, que faz
da geologia dessa regio distinta do restante do Estado devido a grande variedade de unidades
litolgicas e elementos estruturais. A pesquisa delimitou as litologias circundantes dos gnaisses
rseos de Santa Maria (RN), atravs de estudos no campo e feies petrogrficas tanto dos
gnaisses rseos, como outras litologias que so importantes para a compreenso da transio
geolgica do Arqueano para o Paleoproterozico.
Palavras-chave: Gnaisses rseos, Arqueano, Paleoproterozico, litologias, Santa Maria.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
63
CDIGO: ET0353
TTULO: Extrao supercrtica do leo de gergelim com vistas a aplicao em nanopartculas
polimricas
AUTOR: GABRIEL ARAJO DE GOES
ORIENTADOR: ELISA MARIA BITTENCOURT DUTRA DE SOUSA
CO-AUTOR: RICARDO HENRIQUE ROCHA DE CARVALHO
CO-AUTOR: PAULO JOADI GUERRA LIMA DE MEDEIROS
Resumo:
A extrao supercrtica um processo no qual se utiliza como solvente um fluido com
caractersticas fsico-qumicas intermedirias entre gs e lquido, tal estado atingido por meio
do controle de sua presso e temperatura de modo a ultrapassarem seu ponto crtico, a
tcnica bastante utilizada na indstria de frmacos e alimentos por fornecer produtos mais
puros, uma vez que se utilizam solventes de baixa toxidade e de fcil remoo aps o
processo. Este tipo de extrao tambm se destaca por necessitar de temperaturas mais
brandas conservando assim a integridade de componentes termossensveis, outra vantagem
da tcnica o baixo custo empregado em reagentes, j que o solvente utilizado pode ser
tratado e reutilizado.
O trabalho realizado teve como objetivo principal a extrao de leo de gergelim
(Sesamum indicum L.) da variedade branca utilizando dixido de carbono supercrtico na
presena de metanol como co-solvente, analisando as melhores condies de extrao para
um melhor rendimento, alm de analisar quimicamente o leo obtido. Os experimentos foram
realizados em ordem aleatria tendo como varivel de resposta o rendimento mssico de leo
extrado e como variveis independentes a presso, temperatura, e razo de co-solvente. Os
rendimentos (massa de leo extrado/massa de matria prima utilizada) variaram entre
19,33% e 34,23%, sendo o melhor resultado obtido a 250 bar, 70 C e 10% de co-solvente.
Palavras-chave: Extrao Supercrtica, Gergelim, leo, Sesamum indicum L.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
64
CDIGO: ET0358
TTULO: Impregnation of ZnO end TiO2 nanoparticles under palygorskite ceramic filter with
photocatalytic properties
AUTOR: EDUARDO DE OLIVEIRA GOMES
ORIENTADOR: FABIANA VILLELA DA MOTTA
Resumo:
Tem-se observado um crescimento acentuado no estudo da rea de nanocincia e
nanotecnologia em que inclui-se nessa rea, o estudo de nanocompsitos e suas propriedades.
Desde que o dixido de titnio (TiO2) apresenta alta atividade fotocataltica e tambm,
atividade antimicrobiana, sua aplicao tem sido amplamente explorada. Neste trabalho foi
feito uma comparao entre duas rotas de sntese para obteno de nanopartculas de TiO2
pelo mtodo hidrotrmico assistido por micro-ondas. Aps anlise de DRX e MEV foi analisado
o melhor material para aplicao em nanocompsitos de matriz polimrica poli(dimetil
siloxano) variando o teor em massa de nanopartculas de TiO2 0,5, 1, 1,5 e 2% pelo mtodo de
asperso. A atividade fotocataltica do nanocompsito impregnado com azul de metileno foi
avaliada pela tcnica de espectroscopia de UV-Vsivel, a partir da variao da intensidade de
absoro do pico principal a 660 nm com o tempo de exposio em cmara UV. Alteraes no
ngulo de contato foram analisadas antes e aps o ensaio de degradao UV. O efeito da
radiao ultravioleta na estrutura qumica da matriz de PDMS foi avaliado por
espectrofotometria no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). Os resultados
indicaram que a adio das nanopartculas de TiO2 em PDMS conferiram ao revestimento boa
atividade fotocataltica na decomposio do azul de metileno.
Palavras-chave: Micro-ondas, nanopartcula, nanocompsito, atividade fotocataltica.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
65
CDIGO: ET0363
TTULO: VULCANISMO NA FORMAO PENDNCIA, BACIA POTIGUAR-RN
AUTOR: PAULO RICARDO LOPES
ORIENTADOR: MARCELA MARQUES VIEIRA
Resumo:
A Bacia Potiguar apresenta trs eventos magmticos principais: Rio Cear Mirim, Cu e
Macau. O evento magmtico conhecido como Formao Rio Cear Mirim ocorre na forma de
diques de diabsio, com forte orientao E-W, no embasamento adjacente borda sul da
Bacia Potiguar. A ocorrncia de rochas vulcanoclsticas intercaladas aos sedimentos da poro
basal da Formao Pendncia, na poro emersa da bacia, tambm correlacionada com este
evento. A atividade vulcnica associada Formao Pendncia no havia sido identificada at
1990 quando Anjos et al (1990), ao analisarem lminas delgadas de testemunhos do poo 7-
RMO-4-RN, reconheceram uma sequncia de camadas de hiloclastitos. O projeto tem como
objetivo geral estudar as rochas vulcanoclsticas intercaladas poro basal da Formao
Pendncia, na Bacia Potiguar, quanto aos seus aspectos texturais, composicionais e
diagenticos, visando contribuir para uma melhor interpretao de sua gnese. A fim de
atingir este objetivo, 51 lminas delgadas obtidas a partir dos poos (1-SDM-1-RN; 3-FAC-5-RN;
1-RAP-3-RN e 7-RMO-4-RN) foram descritas. A poro da Formao Pendnica no
vulcanoclstica constitui-se, predominantemente, de arenitos conglomerticos pobremente
selecionados cujos arcabouos so compostos predominantemente de quartzo mono e
policristalino e, subordinadamente, de feldspatos, muscovita, micas, opacos e fragmentos de
rochas. Aplicando-se a classificao de McBride (1963), so quartzoarenitos.
Palavras-chave: Bacia Potiguar, lminas, Formao Pendncia e classificao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
66
CDIGO: ET0365
TTULO: Parmetros hidrodinmicos e hidrogeoqumicos do Sistema Aqufero Barreiras na
regio de Parnamirim, RN.
AUTOR: NADIA SOARES CARRASCOZA
ORIENTADOR: JOSE GERALDO DE MELO
Resumo:
O projeto uma continuidade de projeto anterior (2012). No trabalho anterior foram
obtidas informaes bsicas de cadastro de poos envolvendo distribuio espacial dos
mesmos, caractersticas construtivas (profundidade, dimetro de perfurao, dimetro de
revestimento, caractersticas e filtros e pr-filtros) e parmetros hidrulicos (vazo, nvel
esttico, nvel dinmico, vazo especfica), alm de informaes de carter ambiental.
Ressalta-se a importncia de desenvolvimento do presente estudo na avaliao dos recursos
hdricos da regio de Parnamirim e os impactos ambientais envolvidos. A cidade de
Parnamirim, situada na Regio Metropolitana de Natal, apresenta uma elevada taxa de
crescimento e a estrutura urbana composta por abastecimento de gua, saneamento e
drenagem no esto acompanhando esse crescimento gerando por conseguinte impactos nas
guas subterrneas que abastecem a populao. Neste sentido pretende-se desenvolver
estudos no domnio da regio para definio de reas produtoras de gua. Este recurso a ser
definido poder ser utilizado tanto no suprimento hdrico da cidade como no atendimento a
outros projetos do desenvolvimento regional.
Palavras-chave: gua subterrnea, Parnamirim, aqufero Barreiras, hidrogeologia urbana
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
67
CDIGO: ET0375
TTULO: Redes livres de escala
AUTOR: LARISSA DE FARIAS RIBEIRO
ORIENTADOR: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA
Resumo:
Atualmente os modelos de redes livres de escala esto em evidncia na literatura
cientfica devido a suas variadas aplicaes em diversos campos do conhecimento. A
caracterstica mais marcante destes modelos sua distribuio de conectividade ser do tipo lei
de potncia, o que gera conseqncias que no so encontradas nas redes aleatrias mais
bsicas, como por exemplo, o fato de ser uma rede de mundo pequeno. Um exemplo deste
tipo de modelo o de Barabsi-Albert, o qual possui duas regras bsicas para se obter este
tipo de distribuio: o crescimento da rede com o tempo e a ligao preferencial. Entretanto,
esses no so os nicos mecanismos capazes de gerar distribuio de conectividade em lei de
potncia. Outro tipo de mecanismo, chamado de cpia de vrtices, tambm resulta neste
mesmo tipo de comportamento. Considerando a importncia de estudar modelos distintos
que levam a resultados similares, esta pesquisa analisa o modelo de cpia de vrtices,
discutindo os tipos de redes geradas por ele e compara com as redes decorrentes do modelo
de Barabsi-Albert.
Palavras-chave: Modelo de Barabsi; Modelo cpia de vrtices; Lei de potncia.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
68
CDIGO: ET0378
TTULO: DESENVOLVIMENTO DE BARRA DE CEREAIS FORMULADAS COM MEL,PLEN, FIBRA
DO BAGAO DE CAJU E FRUTAS REGIONAIS
AUTOR: BARBARA ESCARLLET COUTINHO SEABRA
ORIENTADOR: CLAUDIA SOUZA MACEDO
Resumo:
A procura por alimentos que forneam, alm de energia para a realizao das funes
do organismo, benefcios a sade como forma de prevenir algumas doenas permite o
desenvolvimento de pesquisas relacionadas a alternativas que amenizem os sintomas e/ou
consequncias. Uma alternativa que vem se destacando consiste no aproveitamento dos
resduos de frutas como matria prima para a produo de alguns ingredientes funcionais
podendo ser includo em alguns produtos. A anlise sensorial uma ferramenta importante
nesse processo, conseguindo mediante a utilizao de mtodos especficos avaliar a qualidade
do produto atravs dos rgos dos sentidos. O objetivo deste desenvolver e caracterizar
sensorial, nutricional e fsico-qumica de formulaes de barra de cereais base de plen, mel,
prpolis, fibra de caju e frutas, gerando um produto inovador e agregando valor a agricultura
familiar. Para obteno da fibra de caju as etapas seguidas so: Seleo; Lavagem e
Santificao; Descastanhamento; Desintegrao e Filtrao; Prensagem da fibra mida. Para a
barra de cereal seguiram-se as etapas: Triturao do biscoito; Adio dos ingredientes secos;
Mistura; Preparo do xarope de aglutinao; Homogeneizao; Enformagem; Prensagem;
Repouso; Corte; Embalagem; Armazenamento. A anlise fsica qumica foi realizada em
triplicata, segundo a metodologia da A.O.A.C. (1998) e do IAL (2005). A avaliao sensorial e a
verificao de aceitabilidade do produto elaborado encontram-se em andamento.
Palavras-chave: Subprodutos apicultura prpolis anlise sensorial.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
69
CDIGO: ET0384
TTULO: Degradao Eletroqumica do Fenol presente na gua produzida da indstria do
petrleo.
AUTOR: ALEXSANDRO JHONES DOS SANTOS
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO MARTINEZ HUITLE
CO-AUTOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA
CO-AUTOR: JSSICA HORACINA BEZERRA ROCHA
Resumo:
A gua produzida da indstria do petrleo tem uma grande quantidade se substncias
orgnicas com alto grau de toxidade, dentre elas esto o BTEX, Hidrocarbonetos policclicos
aromticos e fenol. O fenol encontra-se na lista dos mais representativos poluentes ambientais
e est entre os 50 compostos qumicos produzidos em maior quantidade no mundo, (Bergauer
et al., 2005), e outros como o Benzeno, considerado cancergeno, por isso o tratamento
destes efluentes de extrema importncia. O presente trabalho trata-se da eletrooxidao de
uma soluo de 50 ppm de Fenol, usando Ti/PbO2 como eletrodo de trabalho de rea
geomtrica de 100 cm2, e Ti como catodo. A degradao do Fenol e dos intermedirios
formados durante a oxidao foi acompanhada atravs do voltamograma de onda quadrada e
espectrofotometria Uv- vis. Os resultados mostraram que a degradao do Fenol aumenta
proporcionalmente com o aumento da densidade de corrente aplicada, e totalmente
degradado em uma densidade de corrente de 30mA/cm2 no tempo de 180 minutos de
eletlise sob agitao magntica e temperatura ambiente.
Palavras-chave: oxidao eletroquimica, gua produzida, Fenol.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
70
CDIGO: ET0387
TTULO: AVALIAO MICROBIOLGICA DO LEITE CAPRINO PRODUZIDO NO RIO GRANDE DO
NORTE E DESENVOLVIMENTO DE DERIVADOS LCTEOS
AUTOR: AURELIANO SILVA DE MIRANDA
ORIENTADOR: CLAUDIA SOUZA MACEDO
CO-AUTOR: ANNA RAFAELLA BADU BELMONT
CO-AUTOR: ANA CAROLINA CRUZ CHAVES
CO-AUTOR: JOYCE BRUNA DE PAIVA SILVA
Resumo:
A identificao de novas tecnologias e produo de queijos regionais a partir da
tecnologia artesanal poder ser uma alternativa na gerao de novos derivados do leite de
cabra. Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade microbiolgica da matria-prima
utilizada e estabelecer uma proposta para o processamento do queijo caprino tipo coalho e
boursin seguindo os procedimentos de boas prticas de fabricao e garantia da qualidade.
Empregou-se leite de cabra pasteurizado e culturas lticas, seguindo o fluxograma
estabelecido neste estudo. A matria prima foi submetida a anlises de coliformes a 35C,
coliformes a 45C, E. coli, Staphylococcus coagulase positiva, contagem total de bactrias
mesfilas, contagem de bactrias psicrotrficas e Pseudomonas sp., e o produto final a teste
sensorial de aceitao e inteno de compra com 111 julgadores no treinados em campo. Os
resultados obtidos mostram que vivel a fabricao de produtos lticos derivados do leite
caprino. O resultado microbiolgico do leite caprino encontra-se dentro do limite preconizado
pela legislao.
Palavras-chave: microbiologia, processamento, queijo tipo coalho, anlise sensorial.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
71
CDIGO: ET0389
TTULO: Levantamento da infraestrutura industrial norte-rio-grandense - indstria de
extrao: petrleo, gs, carvo mineral, sal e minrios
AUTOR: ALLANA AZEVEDO DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: ZULMARA VIRGINIA DE CARVALHO
Resumo:
Partindo do princpio que inovar transformar conhecimento em riqueza
socioeconmica, o grupo de pesquisa Agentes de Inovao (AGI) buscar dominar recursos e
esquemas conceituais para atuar no campo da poltica e gesto da inovao e serem
interlocutores entre academia, governo, empresrios investidores e cidados.
Fortalecer a dinmica econmica local de forma que transborde desenvolvimento
socioambiental para a sociedade e gerar uma cultura de empreendedorismo inovador na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte so algumas das misses dos AGI.
Palavras-chave: Inovao, empreendedorismo, gesto.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
72
CDIGO: ET0390
TTULO: Desenvolvimento e Avaliao de Arquiteturas para Sistemas Baseados em Android
com nfase na Transmisso de Mdias.
AUTOR: GILIAN PABLO DE BARROS TEIXEIRA
ORIENTADOR: GIBEON SOARES DE AQUINO JUNIOR
Resumo:
O objetivo deste projeto de pesquisa avaliar e desenvolver arquiteturas para
sistemas baseados em dispositivos mveis, com foco no estudo de solues arquiteturais para
transmisses de dados multimdia em tempo real (udio e vdeo). Diversos aspectos
relacionados ao contexto de dispositivos mveis, protocolos voltados para transmisses de
multimdia e padres de codificao de formatos de mdias digitais foram levados em
considerao. Foram adotados o Real-Time Streaming Protocol (RTSP) e o Real-Time Transport
Protocol (RTP) como protocolos para as transmisses de mdias bem como os padres H.264,
H.263 e AMR-NB para codificao de vdeo e udio. A soluo baseia-se em uma arquitetura
Cliente-Servidor onde um usurio dispondo de um dispositivo mvel utilizando a plataforma
Android poder realizar transmisses de udio e vdeo atravs do sistema para diversos outros
telespectadores, reprodutores de mdias. A transmisso intermediada pelo servidor que,
alm de implementar o protocolo RTSP, trata da gerncia de clientes e transmisses,
segurana e escalabilidade.
Palavras-chave: Android, RTSP, RTP, H.264, transmisso, tempo-real.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
73
CDIGO: ET0393
TTULO: Determinao de Parmetros Fsicos Planetrios e Estelares
AUTOR: SUZIERLY ROQUE DE LIRA
ORIENTADOR: JOSE RENAN DE MEDEIROS
Resumo:
Neste trabalho, apresentamos um tratamento Wavelet para 6 curvas de luz obtidas
pelo satlite Kepler, visando um diagnostico completo da rotao, bem como a deteco de
traos indicadores da atividade estelar. So analisadas 2 estrelas sem indicao de
companheiros planetrios em torno das mesmas, 02 estrelas com planetas detectados e 2
estrelas binrias. Para todos esses alvos, computamos o Espectro Global dos Mapas Wavelets,
que nos fornecem alm do perodo central de variabilidade, perodos secundrios
potencialmente associados a ciclos de atividade.
Palavras-chave: wavelts; rotao; estrelas.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
74
CDIGO: ET0394
TTULO: Reduo de dimensionalidade utilizando o mapa auto-organizvel de Kohonen
combinado por comit
AUTOR: MARCIAL GUERRA DE MEDEIROS
ORIENTADOR: JOSE ALFREDO FERREIRA COSTA
Resumo:
Temos presenciado um aumento exponencial na capacidade computacional de coletar
e armazenar grandes quantidades de dados em variadas reas, como na cincia, no mercado e
na indstria. Porm, a compreenso e extrao de conhecimento, a partir de padres
escondidos, nestes dados, ainda possui grandes perspectivas de avano.
O SOM uma rede neural competitiva, com aprendizado no supervisionado, que
pode ser utilizada para reduzir a dimensionalidade de uma dada base de dados, ao mesmo
tempo que realiza quantizao vetorial. Uma grande vantagem do SOM, face a outros mtodos
de agrupamento, como o k-means, a possibilidade de visualizao, j que o treinamento do
mapa envolve uma projeo no linear que tenta, ao mximo, manter a topologia dos dados
originais no espao de sada da rede. Assim, padres prximos no espao de alta
dimensionalidade so projetados em posies relativamente prximas (neurnios) no grid de
sada do mapa, permitindo a visualizao e inferncia de agrupamentos.
Considerando-se mapas de mesmo tamanho, criados a partir de subconjuntos das
bases de dados originais, gerados a partir do meta-algortmo de comit, bootstrap bagging,
implementou-se o mtodo de fuso construtivo. Comprova-se que para uma determinada
porcentagem de bagging, ao fundir-se os mapas por este mtodo, possvel obter um melhor
ndice CDbw do que o evidenciado pela aplicao do SOM numa determinada base de dados.
Resultados so apresentados para bases de dados reais e sintticas.
Palavras-chave: Redes Neurais Artificiais, Ensemble, SOM, bagging, visualizao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
75
CDIGO: ET0398
TTULO: Iniciao Cientfica: aes desenvolvidas a partir do plano de trabalho o ensino de
Matemtica no RN (1920 a 1980)
AUTOR: JOO PAULO DELFINO DE LIMA
ORIENTADOR: LILIANE DOS SANTOS GUTIERRE
CO-AUTOR: JULIANA TEIXEIRA DORNELOS ALVES
Resumo:
Neste pster, apresentar as aes que desenvolveu enquanto bolsista da Iniciao
Cientfica, em 2013. O plano de trabalho do projeto de pesquisa do qual colabora intitula-se
Ensino da Matemtica no RN (1920 a 1980), cujos objetivos, entre outros, so: buscar
materiais referentes ao ensino de Matemtica no Estado do RN e participar de eventos da
rea. Assim, para cumprir estes objetivos, visitou, orientado pela professora, os arquivos das
Escolas Domstica de Natal, localizada na capital do RN, e da Escola Estadual Baro do Mipibu,
localizada em So Jos do Mipibu. No arquivo da Escola Domstica identificou trs cadernos de
Matemtica de alunos que l estudaram no ano de 1920 e no arquivo da Escola Baro
encontrou e digitalizou dirios de classes (1919), atas de aulas de campos e de reunies. Estas
fontes passaram a fazer parte do Grupo Potiguar de Estudos e Pesquisas em Histria da
Educao Matemtica (GPEP) e sero analisadas pela professora orientadora do projeto, a fim
de publicarmos uma histria sobre o ensino de Matemtica nestas renomadas instituies.
Salienta que, nesse ano, passou a ser membro do GPEP, fato este que est contribuindo para o
seu crescimento enquanto pesquisador. No tocante a participao de eventos, publicou
trabalhos no Encontro Nacional e Regional de Educao Matemtica. Finalmente, seu desejo
continuar estudando no GPEP, buscando fontes orais e escritas a fim de continuar
contribuindo para a escrita da histria do ensino em nosso Estado.
Palavras-chave: Ensino. Matemtica. Arquivo.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
76
CDIGO: ET0400
TTULO: Estudo numrico do efeito trmico em painis de alvenaria estrutural de blocos
AUTOR: JOS BRANDO DE PAIVA NETO
ORIENTADOR: JOEL ARAUJO DO NASCIMENTO NETO
CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE PINTO CAMPOS
Resumo:
O estudo desenvolvido trata da anlise numrica do efeito de temperatura em painis
de edifcios de alvenaria estrutural. Para o desenvolvimento das anlises foi utilizado o Mtodo
dos Elementos Finitos considerando-se a atuao de carregamento trmico conforme
variaes de temperatura registradas na estao climatlogica da UFRN. As anlises
compreenderam vrias tipologias de painis, quais sejam: painis sem abertura; painis com
abertura de janela com e sem vergas e contravergas; alm de painis com abertura de janela
com e sem grauteamento vertical ao lado da abertura. Adicionalmente, foram realizadas
modelagens considerando-se o efeito tridimensional das lajes e de paredes ortogonais. Os
resultados obtidos indicaram que, no caso especfico dos painis estudados, o emprego de
vergas e contravergas no essencial para combater os esforos ocasionados pela variao de
temperatura. Apesar disso, observou-se que ocorrem tenses de trao nos painis que
devem ser adequadamente avaliadas, de modo a garantir que no ocorrero patologias
provenientes do efeito de variao trmica dos painis de alvenaria. Por fim, comenta-se que
este estudo corresponde ao princpio de uma linha de pesquisa a ser desenvolvida no
Programa de Ps-Graduao em Engenharia Civil da UFRN.
Palavras-chave: Alvenaria estrutural. Edifcios. Modelagem. Efeito Trmico.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
77
CDIGO: ET0401
TTULO: Sntese e avaliao de materiais catalticos a base de carbetos refratrios no
tratamento de vapores pirolticos oriundos de diferentes biomassas.
AUTOR: ANDREWS DOS SANTOS ROCHAEL
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA
Resumo:
Carbetos so materiais binrios que possuem em sua estrutura tomos de carbono
ligados tomos de algum outro elemento qumico eletropositivo, mais comumente metais
refratrios, apresentando resistncias choques trmicos e altas temperaturas. O intuito
principal desse projeto estudar a aplicao de carbetos suportados em metais refratrios
(molibdnio, cobalto e silcio), como catalisadores na produo de combustveis lquidos. O
tratamento cataltico dos vapores de biomassas conduz a uma reduo dos compostos
oxigenados e cidos responsveis pelas modificaes nas propriedades fsico-qumicas do bio-
leo quando do seu armazenamento. A planta de pirlise em escala de laboratrio a ser
utilizada no processo encontra-se em fase de modificao visando melhoramento do sistema
de trocas trmicas e gerenciamento eletro-eletrnico visando melhor controle das variveis e
aumento do rendimento em bio-leo. Para o projeto, o carbeto de silcio adquirido
comercialmente foi caracterizado: DRX, MEV, EDS e TG/DTG. A reao do tratamento dos
vapores ocorrer em um reator de leito fixo (em fase final de construo) a ser instalado aps
pirolisador. Os parmetros a serem estudados sero: a natureza do catalisador, a temperatura
(450 - 600C) e vazo de gs inerte de 25 - 100 mL/min. Os produtos sero analisados por
cromatografia e um balano de massa ser elaborado.
Palavras-chave: Carbeto, Metais Refratrios, Silcio, Bio-leo, Bio-Combustveis.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
78
CDIGO: ET0403
TTULO: A Inovao Social como elemento de transformao da realidade e desenvolvimento
de uma sociedade
AUTOR: ADRIEL FELIPE DE ARAJO BEZERRA
ORIENTADOR: ZULMARA VIRGINIA DE CARVALHO
CO-AUTOR: WENDELLA SARA COSTA DA SILVA
Resumo:
No contexto do Estado do Rio Grande do Norte, as Leis 8.760 de 2006, 9.131 de 2008 e
a Lei 478/2012 so, em conjunto, trs instrumentos jurdicos em resposta aos incentivos
federais e que possibilitam o trabalho em um ambiente de inovao. O grupo Agentes de
Inovao (AGI) nasceu como uma resposta da UFRN s aes de mbito nacional e estadual no
que concerne ao incentivo gesto da inovao. Inicialmente, as aes do grupo eram focadas
apenas na infraestrutura laboratorial/empresas filhas da UFRN, porm a equipe sentiu a
necessidade de ampliar seus horizontes e entender a inovao em um nvel maior que o meio
acadmico. Acreditando que a inovao ?A transformao do conhecimento em riqueza
socioeconmica?, o AGI se tornou uma pea que visa integrar os setores empresarial,
acadmico e governamental, isto , fazer funcionar o Triple Helix Model, proposto por Henry
Etzkowitz.
Nosso trabalho teve foco na identificao de potencialidades e gargalos no mbito da
UFRN. Visto isso, realizamos o 2 Frum de Desenvolvimento e Empreendedorismo: UFRN
Semeando Inovao e o I Encontro de Tecnologias Sociais e Inovao, onde trabalhamos
amplamente com a Inovao, abrangendo a rea social.
Trabalhando com o vis social da inovao, fizemos estudos que demonstram a
relevncia da introduo da Inovao Social e as Tecnologias Sociais discusso sobre a
inovao, principalmente no meio governamental e de polticas pblicas devido ao impacto
gerado na sociedade e na realidade empresarial.
Palavras-chave: Inovao Social; Desenvolvimento; Incubao; Empreendedorismo.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
79
CDIGO: ET0409
TTULO: Estudo da sntese de enzimas celulases por Trichoderma reesei QM 9414 em processo
descontnuo alimentado
AUTOR: ANA TEREZA QUEIROZ DE BARROS
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO
CO-AUTOR: RODRIGO CAETANO GUEDES
Resumo:
No presente trabalho, avaliou-se a sntese de enzimas celulolticas em cultivo
descontnuo submerso utilizando uma linhagem de Trichoderma reesei QM 9414 em meio
contendo bagao do pednculo de caju submetido ao pr-tratamento com perxido de
hidrognio alcalino como substrato (H2O2) numa concentrao 10 g/L de celulose contida no
bagao. A cintica foi conduzida em incubador rotatrio em condies de pH inicial do meio de
cultivo em 4.8, temperatura de 28C e velocidade de agitao de 150 rpm, durante 120 horas.
Amostras foram coletadas em intervalos de 12 em 12 horas e nos sobrenadantes foram
analisadas as atividades enzimticas, FPase e CMCase, bem como anlise da produo de
acares redutores. Tambm foi quantificado o consumo de celulose com o tempo pela
digesto do resduo slido centrifugado (clulas + bagao), resultante da cintica de produo
da enzima, pela digesto com uma soluo de cido actico e cido ntrico, onde foi possvel
medir o rendimento do consumo de substrato. Nesta cintica foram obtidas atividades
mximas de 0,1836 UI/mL para Fpase e 1,2493 UI/mL para CMCase, tidas como satisfatrias e
que comprovaram a eficcia do pr-tratamento com perxido de hidrognio.
Palavras-chave: enzimas; reator em batelada; trichoderma reesei.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
80
CDIGO: ET0416
TTULO: Metamateriais quasi-peridicos
AUTOR: LUAN GARCIA COSTA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: MANOEL SILVA DE VASCONCELOS
Resumo:
O estudo das propriedades eletromagnticas em meios complexos tem sido, por
dcadas, objeto de interesse de muitos grupos de pesquisas no mundo. Em particular, a ideia
se ter materiais em que ambas as permeabilidade magntica e permissividade eltrica,
possuam valores reais e negativos, em certos intervalos de frequncia, foi idealizada
inicialmente por Veselago [1] in 1968, e depois realizada experimentalmente por Pendry et al.
[2] em 1999. Veselago em seu estudo terico mostrou que para uma onda monocromtica
plana e uniforme se propagando nestes materiais, a direo de propagao do vetor de
Poynting antiparalela a direo da velocidade de fase, contrariamente ao caso da
propagao de ondas planas em um meio convencional. Este tipo extico de material
conhecido na literatura como ?left hand materials? (tambm chamados de metamateriais)
devido a permitirem a propagao de ondas do tipo ?backward?, onde os vetores campo
eltrico, campo magntico e o vetor de Poynting formam um tripleto que seguem a regra da
mo esquerda em vez da regra da mo direita como ensinado nos cursos bsicos de
eletromagnetismo.
Palavras-chave: Metamaterial; Ondas eletromagnticas.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
81
CDIGO: ET0419
TTULO: Anlise Numrica do Ensaio de Indentao Esfrico em Filmes Finos
AUTOR: DIEGO ARAJO LEMOS
ORIENTADOR: AVELINO MANUEL DA SILVA DIAS
Resumo:
Este relatrio tem como objetivo descrever as atividades realizadas durante a pesquisa
de iniciao cientfica a respeito da anlise numrica do ensaio de indentao esfrica em
filmes finos. O estudo das propriedades mecnicas de filmes finos ainda gera dvidas no meio
cientfico e, recentemente, os ensaios de nanoindentao tm sido utilizados para avaliar as
propriedades mecnicas desses filmes. Porm, devido a algumas limitaes na anlise destes
ensaios, faz-se necessrio o uso de tcnicas numricas que avaliem os campos de tenses e
deformaes durante o ciclo de indentao. Esta pesquisa prope a utilizao dos mtodos
dos elementos finitos (MEF) atravs de um software comercial para simular os ensaios com
penetradores esfricos nos filmes finos e assim avaliar suas propriedades mecnicas.
Palavras-chave: Mtodo dos elementos finitos, MEF, filmes finos, indentao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
82
CDIGO: ET0424
TTULO: Diagnstico da sade pblica no RN face s mudanas climticas
AUTOR: ISADORA CRISTINA SOUZA DA SILVA
ORIENTADOR: MARIA HELENA CONSTANTINO SPYRIDES
CO-AUTOR: FELIPE INACIO XAVIER DE AZEVEDO
Resumo:
Os grandes centros industriais, as cidades e pases desenvolvidos apresentam uma
grande concentrao de poluentes atmosfricos. Cidades como So Paulo, Tquio, Nova
Iorque e Cidade do Mxico esto na lista das mais poluentes do mundo. Devido o acumulo de
partculas no ar, provocado pelo lanamento de poluentes dos veculos automotores,
indstrias entre outras, doenas respiratrias como a bronquite, rinite alrgica, alergias e asma
levam milhares de pessoas aos hospitais todos os anos, causando gastos com tratamentos.
Embasado em notrias referncias e estudos, esse trabalho buscou avaliar o grau de influncia
dos poluentes atmosfricos: material particulado (MP10) e dixido de enxofre (SO2) sobre o
nmero de casos notificados, por local de residncia, de algumas doenas do aparelho
respiratrio (asma, pneumonia, bronquite aguda e bronquiolite aguda) tomando como base a
cidade de So Paulo. Os dados sobre notificaes dessas doenas respiratrias foram obtidas
pelo sistema do DATASUS. J os dados sobre ndice de partculas existentes no ar provem do
site da CETESB, ambas no perodo de 2006 a 2011. Com isso foi realizada uma anlise de sries
temporais dos casos notificados, correlacionado os ndices de poluentes e a incidncia de
casos por doenas. Como anlise preliminar desse estudo, conclumos que ha influncia pelo
MP10 e SO2, pois, as notificaes de casos das doenas avaliadas, aumentam ou diminuem em
funo dos nveis de poluentes, partculas existentes na atmosfera.
Palavras-chave: Poluentes atmosfricos, Doenas respiratrias, Sries temporais.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
83
CDIGO: ET0425
TTULO: Redes Neurais Artificiais e Viabilidade de suas Aplicaes no Contexto das Cincias
Agrrias
AUTOR: GIULIAN SALVADOR DE LIMA REGIS
ORIENTADOR: JOSENALDE BARBOSA DE OLIVEIRA
Resumo:
Este trabalho teve por objetivo determinar aproximaes de funes utilizando
modelos matemticos e redes neurais artificiais (RNA), visando estimar a presso de
precompactao do solo em funo da umidade, densidade e porosidade. E a partir das
aproximaes geradas analisar os coeficientes de correlao entre a presso estimada pelos
modelos e a observada, bem como, com os parmetros utilizados em sua construo
individualmente. Os tratamentos do estudo consistiram de duas reas cultivadas, uma com
capim elefante e outra sob pomar, cultivada com a cultura do caju, as amostras indeformadas
do solo foram obtidas nas entrelinhas de plantio. A RNA utilizada foi do tipo Perceptron de
Mltiplas Camadas com algoritmo de treinamento de retropropagao do erro, utilizando a
ferramenta WEKA (Ambiente Waikato para Anlise de Conhecimento). Os resultados
mostraram que para o problema estudado o desempenho da RNA foi superior, apresentando
um coeficiente de correlao igual a 0,997, enquanto que o modelo matemtico obteve um
coeficiente de correlao igual a 0,972. Em relao aos parmetros individuais, a RNA obteve
correlao igual a 0,828; 0,918 e 0,962 para densidade, umidade e porosidade
respectivamente. Enquanto que o modelo matemtico obteve correlao igual a 0,481; 0,815
e 0,492 para os mesmos parmetros. Diante dos resultados obtidos, verifica-se a possibilidade
do uso eficiente de tcnicas de inteligncia computacional para apoio na tomada de deciso
em aplicaes agrrias.
Palavras-chave: Redes Neurais, Cincias Agrrias, Agroinformtica.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
84
CDIGO: ET0436
TTULO: Desenvolver mdulo de reserva inteligente de salas de aula e laboratrios
AUTOR: MRIO SRGIO FREITAS FERREIRA CAVALCANTE
ORIENTADOR: FREDERICO ARAUJO DA SILVA LOPES
CO-AUTOR: BIANOR GALDINO DE LIMA NETO
CO-AUTOR: LAYON LUCIANO LUCENA ALVES
Resumo:
A computao ubqua denota um modelo recente de interao humano-computador na qual o
processamento de informaes tem sido profundamente integrado s atividades e aos objetos
do dia-a-dia de modo que os elementos computacionais tornam-se invisveis ao usurio. O
objetivo desse trabalho desenvolver o SmartClass, uma aplicao ubqua responsvel por
gerenciar reservas de salas de aula e laboratrios. Alm disso, uma vez que uma sala est
sendo utilizada para algum evento, tal aplicao tambm capaz de modificar o ambiente de
sala de aula automaticamente. Desse modo, o sistema capaz de controlar de modo invisvel
dispositivos como ar-condicionado, lmpadas, projetor, computador, entre outros. Isso
permite um ambiente que integra de modo invisvel os dispositivos tornando possvel aos
participantes se preocuparem apenas com o evento em si, sem dividir a ateno com a
configurao do ambiente. A aplicao SmartClass foi desenvolvida em Java e utiliza
tecnologias como Arduno e o Context Toolkit.
Palavras-chave: Computao Ubqua, Sala de aula, Frequncia de alunos.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
85
CDIGO: ET0439
TTULO: Estudos de radiopropagao em sistemas de comunicaes sem fio
AUTOR: ARTHUR HENRIQUE FRANA FIGUEREDO LEO
ORIENTADOR: MARCIO EDUARDO DA COSTA RODRIGUES
Resumo:
O projeto de iniciao cientifica teve como objetivo o estudo da propagao das ondas
eletromagnticas com a finalidade da obteno do parmento da condutividade do solo, muito
importante para o desenvolvimento de novas tecnologias em sistemas de rdio digitais. Para
obteno deste parmetro de propagao, foram utilizados dois modelos de predio de
campo eltrico, o de Van der Pol e o de Lichun (baseado no primeiro, porm acrescentando
parmetros relativos urbanizao).
O trabalho apresentar a soluo baseada em Van der Pol. Neste modelo, h equaes
de propagao onde a condutividade do solo caracterizada como um dos parmetros; o
parmetro desejado, condutividade do solo, obtido por inverso das equaes, usando
valores de medidas de campo eltrico, realizadas em algumas rotas em Natal. Como
consequncia da pesquisa foi possvel produzir um artigo cientfico apresentado no congresso
internacional EuCAP 2013.
Palavras-chave: Condutividade do solo, ondas de superfcies e propagao sem fio.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
86
CDIGO: ET0443
TTULO: Sedimentos de fundo do baixo curso da bacia do Rio Doce, Natal/RN
AUTOR: INGRID DE CASTRO DOS SANTOS
ORIENTADOR: RAQUEL FRANCO DE SOUZA
CO-AUTOR: ALINE MARQUES DO NASCIMENTO
Resumo:
O trabalho de pesquisa objeto deste projeto desenvolvido no municpio de Natal, em
reas localizadas ao longo do baixo curso da bacia hidrogrfica do Rio Doce, ao qual se
encontram associadas lagoas e dunas. A regio da plancie fluvial do Rio Doce encontra-se em
Zona de Proteo Ambiental (ZPA-9). Esta ZPA uma das que ainda no esto regulamentadas
e nela so observados diversos problemas ambientais decorrentes do uso e ocupao do solo
desordenada. Este trabalho tem por objetivo determinar os teores de matria orgnica e
carbonato nas amostras sedimentares coletadas em cinco pontos, um na Lagoa de Extremoz e
quatro ao longo do Rio Doce, entre os meses de outubro a dezembro de 2012 e janeiro e
fevereiro de 2013. No laboratrio as amostras de sedimento foram quarteadas e separadas
para determinao de matria orgnica, sendo levadas mufla e aquecidas a 600 C por 5h; a
determinao do teor de carbonatos foi realizada por digesto qumica em cido actico (4%).
Como resultado destacaram-se os meses de outubro, novembro e dezembro com maiores
concentraes de matria orgnica e carbonato, meses os quais apresentaram precipitaes
pluviomtricas de no mximo 3mm, enquanto que nos meses de janeiro e fevereiro o mximo
de precipitaes pluviomtricas foi de 33mm, quando os teores de matria orgnica e
carbonato encontrados foram menores. Isto indica uma relao destes teores com as estaes
climticas da regio do Rio Doce e Lagoa de Extremoz.
Palavras-chave: Matria Orgnica, Carbonato, Rio Doce.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
87
CDIGO: ET0450
TTULO: Tcnicas de Controle Inteligente com Aplicaes Industriais
AUTOR: ALCEMY GABRIEL VITOR SEVERINO
ORIENTADOR: FABIO MENEGHETTI UGULINO DE ARAUJO
Resumo:
Atualmente na indstria so usados vrios tipos de controladores, sendo o PID
(Proporcional-Integral-Derivativo) o mais utilizado, devido sua fcil compreenso, sintonia e
manuteno. No entanto, esse tipo de controlador linear, enquanto que os sistemas reais e
as plantas industriais so no-lineares. Deste modo, o controle do processo insatisfatrio
pelo controlador PID. Tcnicas de Controle Inteligente so capazes de lidarem com parmetros
variantes no tempo, incertezas, alm de plantas industriais no-lineares, isto faz que cada vez
mais ganhem espao em diversas aplicaes. Dentre as tcnicas podemos destacar a Lgica
Fuzzy. Empregada na sntese de controladores, esta tcnica permite que eles tenham a
capacidade de lidarem com processos no-lineares e pouco compreendidos, com ambientes
de impreciso e de transportar a experincia de operadores humanos para mquina. Porm,
os controladores fuzzy possuem muitos parmetros que devem ser sintonizados, isto implica
em um alto gasto de tempo dedicado a sintonia manual, tornando a obteno de um bom
controlador um trabalho difcil. Para facilitar tal tarefa foram estudadas tcnicas de otimizao
numrica, especialmente meta-heursticas, na busca de um desempenho melhor do
controlador fuzzy e da sintonia automtica. Para otimizao de um controlador de nvel em
uma planta simulada, foram criadas duas rotinas computacionais, uma baseada na tcnica dos
Algoritmos genticos e outra na tcnica do Particle Swam Optimization.
Palavras-chave: Controle Inteligente, Sintonia, Fuzzy, Otimizao Numrica, AG, PSO.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
88
CDIGO: ET0452
TTULO: Caracterizao Geotcnica das Unidades Geolgicas da Regio Costeira Oriental do
Rio Grande do Norte
AUTOR: RSIA AMARAL ARAJO
ORIENTADOR: OLAVO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR
Resumo:
O litoral do RN caracterizado pela presena de uma formao geolgica denominada
?Formao Barreiras?, de origem sedimentar trcio-quartenria, constituda de camadas
intercaladas de arenitos argilosos, argilitos e arenitos ferruginosos, com coloraes variadas
devido a laterizao. Este trabalho tem como objetivo identificar propriedades geotcnicas dos
solos dessa formao visando contribuir para estudos de anlise de estabilidade. No
desenvolvimento do estudo foram realizados coletas de onze amostras em sete pontos
distintos para caracterizao desses solos. A partir dos resultados obtidos na caracterizao
pode se concluir que predominam areias argilosas e areias silto-argilosas, com exceo das
amostras identificadas como 3.2 e 7, que se apresentaram pedregulhosas. O valor mdio da
densidade dos solos(Gs) foi de 2,545. O solo apresenta LL variando de 23,5 % a 28,1 %, o que
indica que o solo apresenta baixa compressibilidade. O material pode ser classificado como de
baixa plasticidade tendo em vista que o IP mximo foi 8,3.
Palavras-chave: Formao Barreiras, Propriedades Geotnicas, Caracterizao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
89
CDIGO: ET0459
TTULO: Estratgias para Recuperao de Ramnolipdeos usando Carvo ativado
AUTOR: STEPHANIE CAROLINE BIVAR MATIAS
ORIENTADOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS
Resumo:
Os biossurfactantes so molculas sintetizadas por microrganismos, na sua maioria
bactrias, que tem capacidade de reduzir as tenses superficial e interfacial atravs de seu
acmulo na interface de fluidos imiscveis ou de um fluido e um slido, levando ao aumento de
sua disponibilidade e subsequente biodegradao. Eles tambm possuem uma ampla gama de
utilizaes que vo desde a indstria de alimentos, cosmticos, farmacutica, petroqumica,
aplicao em recuperao avanada de petrleo, entre outras aplicaes. O seu custo para sua
recuperao faz parte de 60% do custo total de obteno, o que no permite que ele seja to
utilizado quanto poderia. Dessa forma, fazem-se necessrias pesquisas para diminuir os custos
de recuperao e purificao. Um dos compostos biossurfactantes mais investigados so os
ramnolpdeos, que so biossurfactantes glicolipdicos, produzidos por Pseudomonas
aeruginosa, que foi utilizada nesta pesquisa para o estudo de recuperao e purificao
utilizando carvo ativado granular. Para produo dos ramnolpdeos foi utilizado um
incubador rotatrio, aps a produo do caldo com os biossurfactantes foi feita extrao
utilizando ter de petrleo, para posterior anlise cintica e quantificao. Os resultados
mostraram um baixo grau de adsoro para o caldo bruto e para o caldo extrado, fazendo
necessrio um estudo mais aprofundado dos fatores que influenciam no processo, como pH,
temperatura, massa de carvo e agitao.
Palavras-chave: Ramnolipdeos, extrao e purificao de biossurfactantes.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
90
CDIGO: ET0460
TTULO: sntese de carbetos e nitretos nanoestruturados de nibio a baixa temperatura em
reator tubular com alta rea especifica, suportados ou no em alumina
AUTOR: DANIEL DE ARAJO COSTA RODRIGUES
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA
Resumo:
O principal objetivo deste trabalho a sntese do carbeto de nibio nanoestruturado a
partir do precursor tris(oxalato)oxiniobato de amnio monohidratado
[(NH4)3NbO(C2O4)3.H2O] atravs da reao gs-slido em um reator de leito fixo. A primeira
etapa deste processo a elaborao de um precursor de nibio. A mistura de Nb2O5 com
KHSO4 foi fundida em um cadinho no bico de Bunsen e em seguida triturado manualmente e
lavado com gua deionizada quente a uma temperatura entre 60-80C num filtro vcuo. O
filtrado complexado com uma soluo equimolar de oxalato de amnio e cido oxlico que
deve estar aquecida. A soluo complexante juntamente com o filtrado evaporada
lentamente a 65-75C at a obteno de resduos slidos, denominado complexo de nibio.
para a confirmao dos resultados o material obtido foi caracterizado por DRX, TG-DTA para
identificao das fases presentes na amostra produzida, determinao das sensibilidades
trmicas de perdas de massa e avaliao das amplitudes e declives exotrmicos e
endotrmicos dos picos presente nas cartas termogravimtricas. A segunda parte do trabalho
consiste em submeter o precursor numa reao gs-slido com uma mistura gasosa de
metano e hidrogenio para se obter dessa forma o carbeto. Os parmetros reacionais foram
otimizados para uma temperatura mxima de 980 C com uma dT de 5C/min e mantido a
temperatura maxima por 120 minutos com uma vazo de 19,8 L/h. O carbeto obtido
caracterizado por DRX e granulometria a laser.
Palavras-chave: nanotecnologia, carbeto, niobio, precursor, reacao solido-gas.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
91
CDIGO: ET0462
TTULO: Lingotes processados por extruso de p de alumnio nanoestruturado reforado com
nanopartculas da ferrita NiFe2O4: Propriedades mecnicas e microestruturais
AUTOR: DANIELLE GOLEBIOWSKI REN
ORIENTADOR: MAURICIO MHIRDAUI PERES
CO-AUTOR: ALBERTO MOREIRA JORGE JUNIOR
CO-AUTOR: MAURICIO ROBERTO BOMIO DELMONTE
Resumo:
As pesquisas na rea de materiais compsitos mostram-se cada vez mais importantes
no desenvolvimento de novos materiais e no aprimoramento de suas propriedades fsicas e
qumicas. Este trabalho envolve a preparao de um tarugo slido constitudo por uma matriz
proveniente de alumnio em p com adio de nanopartculas de reforo de ferrita de nquel.
Foram processadas duas composies, sendo uma com a matriz de alumnio contendo 1% e
outra contendo 3% de nanopartculas de ferrita de nquel. Os ps compsitos de cada
composio foram processados por moagem de alta energia na UFRN e posteriormente
consolidados por extruso quente 400C na UFSCAR, obtendo-se lingotes cilndricos com
3mm de dimetro. Foi realizada analise de difrao de raios-X e microscopia eletrnica de
varredura nas amostras para confirmar que se tem duas fases distintas de materiais, o que o
torna um compsito. A anlise das propriedades mecnicas das amostras foi realizada atravs
de ensaios de compresso e de microdureza Vickers. Observou-se o aumento da tenso de
escoamento dos lingotes com o acrscimo de ferrita de nquel de 1 e de 3 % em peso
respectivamente, havendo ductilidade de 20,23% e 12,15% respectivamente. A continuidade
dessa pesquisa est prevista para a etapa 2 do projeto renovado por mais um ano de pesquisa
(edital Pibic 2013-2014), onde novas formulaes de ferrita de nquel no compsito sero
analisadas e comparadas com os dados obtidos no presente trabalho.
Palavras-chave: Compsito, extruso, p, nanopartculas, ferrita, alumnio.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
92
CDIGO: ET0465
TTULO: Uso da cinza de cafe em massas ceramicas
AUTOR: PAULO HENRIQUE CHIBRIO
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR
Resumo:
No processo de beneficiamento do caf metade gro e a outra metade casca. A
casca utilizada como combustvel nos fornos de secagem e beneficiamento nas fazendas de
caf, gerando uma cinza como resduo. As cinzas da casca de caf apresentam altas
concentraes de metais alcalinos e alcalinos-terrosos, apresentando os seguintes xidos K2O
e CaO. Este trabalho estuda a utilizao deste resduo na indstria de placas cermicas para
revestimentos, como fundente, em substituio ao feldspato. Foram definidas 10 formulaes
com iguais propores de argila e caulim provenientes da Bahia, e o resduo (variando de 30 a
5%), e confeccionados corpos-de-prova em matriz uniaxial de 60x20 mm com
aproximadamente 5 mm de espessura, com presso de compactao de 45MPa. As amostras
foram sinterizadas em quatros patamares de temperatura, 1100 C, 1150 C, 1185 C e 1200 C
durante 60 minutos. Foram realizados ensaios para caracterizao das matrias-primas por
fluorescncia de raios-X, difrao de raios-X, Anlise de Granulometria, Anlise trmica
diferencial e Anlise termogravimtrica e analisados os resultados de absoro de gua,
porosidade aparente, retrao linear, Difrao de Raios-X,anlise dilatomtrica, resistncia
flexo e Microscopia Eletrnica de Varredura. Os corpos de prova compactados com adio de
10% da cinza e sinterizados a 1200 C obtiveram resultados de absoro de gua de 0,18% e
resistncia flexo de 40,77 MPa.
Palavras-chave: Porcelanato, Resduos, Cinzas da casca de caf, Fundentes.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
93
CDIGO: ET0466
TTULO: Estudo de propriedades mecanicas do ao 444 recoberto com filmes de cromita de
lantanio
AUTOR: PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA
ORIENTADOR: WILSON ACCHAR
Resumo:
A cromita de lantnio (LaCrO3) tem sido o material mais utilizado como interconector
nas pilhas a combustvel de xido slido. A reduo da temperatura de operao em torno de
800 C das pilhas a combustvel de xido slido, tornou possvel o uso de interconectores
metlicos como alternativa aos LaCrO3 cermicos. Esses materiais apresentam vantagens em
relao aos interconectores cermicos tais como: alta condutividade trmica, eltrica, boa
ductilidade, baixo custo, boas propriedades fsicas e mecnicas. Neste trabalho foram
avaliadas as propriedades termo-mecnicas do substrato metlico e substrato metlico
recoberto com o filme de LaCrO3 via spray-pirlise, com o objetivo de demonstrar a
viabilidade da utilizao deste materiais como componente de uma pilha a combustvel de
xido slido. Os materiais foram caracterizados por meio de difrao de raios X, resistncia
mecnica e microscopia eletrnica de varredura (MEV). A difrao de raios X comprovou a
formao da fase LaCrO3 sobre o substrato metlico e a identificao das fases formadas aps
o ensaio de resistncia mecnica. Com auxlio do Microscpio Eletrnico de Varredura
comprovou-se a formao da camada do filme de LaCrO3. Observou-se tambm o
descolamento do filme de LaCrO3 aps ensaio mecnico.
Palavras-chave: Spray-pirlise; Cromita de Lantnio; Interconectores; Pilhas.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
94
CDIGO: ET0470
TTULO: Dinmica Nictemeral dos grupos funcionais fitoplanctnicos de um manancial tropical,
Lagoa de Extremoz, Rio Grande do Norte
AUTOR: THRSIA DA SILVA PINTO
ORIENTADOR: VANESSA BECKER
Resumo:
As dinmicas vertical e nictemeral do fitoplncton em um lago raso (Lagoa de
Extremoz, Rio Grande do Norte) foram investigadas em dois perodos climatolgicos distintos:
Outubro de 2012 (estao seca) e maro de 2013 (estao seca severa). O uso da comunidade
fitoplanctnica como Grupos Funcionais, tem sido, cada vez mais usada como indicadora
eficiente das caractersticas dos corpos aquticos. A Lagoa de Extremoz um manancial raso
mesotrfico usado para abastecimento. Assim, o objetivo do estudo foi avaliar a dinmica
nictemeral e vertical do fitoplncton na Lagoa de Extremoz ? RN, para compreender os fatores
direcionadores da comunidade fitoplanctnica. As coletas de amostras em cada perodo
ocorreram com intervalos de seis horas e em trs profundidades na camada d?gua e as
espcies de grupos funcionais foram agrupadas de acordo com Reynolds et al. (2002) e Padisk
et al. (2009). O lago mostrou desestratificao trmica e qumica em ambos os perodos. A
biomassa do fitoplncton foi maior na estao seca (Outubro de 2012) e a distribuio vertical
foi estratificada em ambas os perodos. Em ambas as amostragens houve menor biomassa
algal nos perodos noturnos. Grupos funcionais fitoplanctnicos tpicos de ambientes rasos e
misturados (S1, L0 e K) foram descritores durante todo o perodo do estudo, com maior
biomassa registrada sempre no grupo S1. A falta de sazonalidade observada pode ter
influenciado no padro de comportamento homogneo em ambas as amostragens.
Palavras-chave: Distribuio vertical; Lago tropical raso; cianobactrias.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
95
CDIGO: ET0475
TTULO: Difuso Trmica em Meios Slidos Contnuos via Diferenas Finitas
AUTOR: ARTHUR LEANDRO DE AZEVEDO SILVA
ORIENTADOR: EDMILSON LIRA MADUREIRA
Resumo:
O objetivo deste trabalho consiste na simulao numrica da evoluo de campos de
temperatura com o tempo em meios slidos contnuos. Com vistas aquisio dos resultados
voltados para a anlise em pauta, foi elaborado algoritmo em linguagem scilab baseado na
aproximao por diferenas finitas sobre a Equao Diferencial da Difuso do Calor. Para fins
de calibrao do cdigo computacional assim estruturado, resultados obtidos a partir de sua
utilizao foram comparados com os seus correspondentes, adquiridos mediante a aplicao
da verso analtica, fundamentada nas sries de Fourier, constatando-se boa concordncia de
resultados.
Palavras-chave: Difuso trmica, Mtodo das diferenas finitas, Simulao numrica.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
96
CDIGO: ET0476
TTULO: Sntese de membranas cermicas a base de Ce e Ru para deteco e transformao de
gases: caracterizao, sinterizao e avaliao de permeabilidade e propriedades catalticas.
AUTOR: JULIANA MEDEIROS CMARA
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA
CO-AUTOR: ANGLICA BELCHIOR VITAL
Resumo:
O projeto consiste no aperfeioamento dos parmetros de sntese das membranas
cermicas BaCeO3 e BaRuO3, sendo realizado um planejamento experimental baseado em:
pH; temperatura; agitao; concentrao dos reagentes e taxa de aquecimento. As rotas
metodolgicas para obteno da membrana (p) j realizadas foram o EDTA-Citrato e a Co-
precipitao em meio Oxalato, sendo ainda citada a Sntese Hidrotermal, a ser desenvolvida.
Na caracterizao da peroviskita foi empregada a tcnica de difrao de raios-x (DRX) para
identificao das fases cristalinas, determinao do tamanho do cristalito e refinamento
Rietveld pelo programa Maud. Dessa forma, foi possvel avaliar a influncia dos parmetros na
pureza e tamanho do cristalito, alm de avaliar o comportamento do material cristalino. Por
conseguinte, essas membranas so importantes para deteco de gases (substncias txicas) e
vm desempenhando o papel de filtro molecular devido sua permeabilidade, importante
para testes catalticos.
Palavras-chave: BaCeO3, EDTA-Citrato, Co-Precipitao em meio oxalato, Hidrotermal.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
97
CDIGO: ET0479
TTULO: Avaliar as potencialidades de pigmentos naturais para serem empregados em
embalagens biodegradveis para acondicionar alimentos
AUTOR: MARIA LUZA ALVES DE MACDO
ORIENTADOR: KATIA NICOLAU MATSUI
CO-AUTOR: FRANCISCO MANOEL DE MELO NETO
CO-AUTOR: ANA HELOISY PEREIRA DA SILVA
CO-AUTOR: HANNA KELLY DE MEDEIROS CRUZ S
Resumo:
O projeto avaliou a potencialidade do extrato de repolho roxo para ser empregado
como pigmento natural a ser incorporado em filmes biodegradveis base de amido de
mandioca. Muitos alimentos, quando iniciam o processo de decomposio, liberam compostos
volteis que alteram o pH do meio em que se encontram. Como o extrato incorporado ao filme
biodegradvel apresentou alterao na cor, de acordo com a mudana de pH do meio, este
pode ser empregado como indicador de no conformidade do produto, transformando o filme
biodegradvel de simples barreira inerte, em um filme que informa ao consumidor - ou seja,
o precursor de uma embalagem ativa e/ou inteligente. A primeira etapa do processo foi a
elaborao do filme pelo mtodo ?casting?. Em seguida, fez-se a extrao dos compostos
fenlicos do repolho roxo e anlises fsico-qumicas para a comparao entre as amostras. Por
ltimo, foi realizada a incorporao dos extratos ao filme e, em seguida, sua caracterizao
quanto absoro de gua, espessura mdia das amostras pr-condicionadas e atividade
indicadora de pH. Os filmes com adio de compostos fenlicos apresentaram espessura
mdia de 0,2470mm, desvio padro de 0,020mm e absorveram 1,98g de gua por m2.
Todos os filmes com adio de compostos fenlicos apresentaram-se translcidos, flexveis e
de cor violeta claro.
Palavras-chave: compostos fenlicos, filme de amido de mandioca, mudana de pH.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
98
CDIGO: ET0480
TTULO: Caractersticas antimicrobianas da quitosana no desenvolvimento de embalagens
ativas
AUTOR: RAFAELA OLIVEIRA GOMES
ORIENTADOR: BEATRIZ DE CASSIA MARTINS SALOMAO
CO-AUTOR: TIAGO AUGUSTO BULHOES BEZERRA CAVALCANTE
Resumo:
A quitosana um polissacardeo proveniente da quitina que forma filmes
transparentes, flexveis e com propriedades mecnicas de barreiras seletivas, e apresenta
propriedades antimicrobianas que podem ser incorporadas s embalagens ativas.
O objetivo deste trabalho estudar as caractersticas antimicrobianas da quitosana,
com o intuito de possibilitar sua incorporao em filmes biodegradveis destinados a
embalagem de alimentos, aumentado assim a vida de prateleira desses produtos.
Os testes para determinar a ao antimicrobiana das solues de quitosana,
consistiram no contato do inculo do fungo Rhizopus sp. com diferentes concentraes de
soluo de quitosana durante uma hora, seguido de plaqueamento por superfcie em meio de
cultura TSA (Agar Triptona de Soja) e incubao a 25C durante 5 dias. Os resultados
mostraram que a soluo de quitosana a 20 mg.mL-1 causou 1 reduo decimal na populao
do fungo estudado.
Palavras-chave: quitosana, ao antimicrobiana, Rhizopus sp.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
99
CDIGO: ET0484
TTULO: Aumento da mobilidade de deficientes visuais oferecendo novas habilidades
sensoriais
AUTOR: EVERTON DA SILVA DANTAS
ORIENTADOR: VALENTIN OBAC RODA
Resumo:
A locomoo um dos principais problemas das pessoas com deficincia visual. Para
amenizar este problema uma boa parte dessa populao faz uso de uma bengala, para ento
melhorar o sensoriamento e evitar acidentes, entretanto uma bengala no apresenta uma boa
preciso e a sua movimentao depende totalmente das condies fsicas do seu portador.
Visando essas limitaes, este projeto foca-se no desenvolvimento de um sistema sensorial
com a funo de localizar um objeto esttico no caminho do deficiente, informando-o, com
uma sinalizao, o objeto. O sistema sensorial poder ser equipado em sapatos, alertando o
deficiente quanto obstculos baixos, ou em um bon ou culos, alertando-o quanto a
obstculos no nvel da cabea.
A metodologia a ser utilizada no desenvolvimento do sistema de deteco de
obstculos consiste em um conjunto sensor ultrasnico da empresa Parallax e o
microcontrolador MSP 430 da empresa Texas Instruments. O sensor ser interfaceado ao MSP
e este por sua vez ser ligado a um circuito de sada que fornecer o sinal de alerta ao
deficiente visual.
Este sinal de alerta ser feito com sonorizao ou vibrao na medida em que o
utilizador se aproxima do obstculo, ou seja, ser estabelecida uma distncia limite entre o
deficiente e o objeto, e quando alcanada essas distncia, o sensor emitir uma sinalizao
que vai aumentando sua frequncia na medida em que o deficiente se aproxima, alertando-o
que o obstculo est prximo evitando assim uma coliso.
Palavras-chave: Deficientes visuais, sensoriamento, sistemas de auxlio navegao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
100
CDIGO: ET0494
TTULO: EFEITO DA MOAGEM DE ALTA ENERGIA E DO TEOR DE Fe NA ESTRUTURA E
DENSIDADE DO COMPSITO Al2O3-Fe
AUTOR: JEAN CARLOS DANTAS
ORIENTADOR: FRANCINE ALVES DA COSTA
CO-AUTOR: UILAME UMBELINO GOMES
Resumo:
O compsito Al2O3-Fe alia as propriedades de extrema dureza, alta resistncia ao
desgaste e elevada fragilidade da fase cermica excelente trabalhabilidade e elevada
tenacidade fratura da fase do ferro metlico. Estruturas densas e melhores propriedades
mecnicas podem ser alcanadas durante a sinterizao com fase lquida de ps modos por
moagem de alta energia. Neste trabalho,ps compsitos Al2O3-Fe na proporo de 5, 10 e
20% em massa de Fe foram preparados em um moinho planetrio de alta energia. Amostras
na forma cilndrica com 8 mm de dimetro e 6 mm de espessura foram prensadas a 100 MPa.
Tais amostras foram sinterizadas a 1300C por 1 hora em um forno resistivo sob atmosfera de
argnio. Medidas de densidade geomtrica foram efetuadas nas amostras a verdes e
sinterizadas. Anlises de microscopia tica e eletrnica de varredura foram usadas para
observar a microestrutura das amostras sinterizadas. A presena de impurezas foi averiguada
atravs de anlise de EDS.
Palavras-chave: Alumina, Ferro, moagem de alta energia, ps compsitos.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
101
CDIGO: ET0501
TTULO: Desenvolvimento de um modelo de simulao de ocupao de leitos em um hospital
privado de Natal/RN
AUTOR: WOLDERMACDOWELL ALVES PAQUEROTE
ORIENTADOR: DANIEL ALOISE
CO-AUTOR: HERICA DEBORA PRAXEDES DE FREITAS
Resumo:
A crise na sade do Brasil agrava-se a cada ano e hoje constitui um dos grandes
problemas dos Hospitais pblicos e particulares. Neles so realizadas aes dos mais variados
nveis de complexidade como atividades de atendimento ambulatorial, exames, cirurgias,
pronto‐ atendimento, internaes e afins. Os enfermos que recorrem s emergncias
aumentam progressivamente. Em contrapartida, no h oferta de leitos hospitalares na
mesma proporo, levando assim superlotao, queda da qualidade na assistncia prestada
aos pacientes, desgaste dos profissionais da rea da sade e dificuldade na gesto dos seus
leitos. Este trabalho apresenta uma proposta de pesquisa direcionada a construir um modelo
que possibilite definir alternativas de estrutura que possam contribuir com o gerenciamento
de leitos de um Hospital privado da cidade do Natal, buscando identificar possveis gargalos ou
deficincias. Consequentemente, efetuar alteraes nesse fluxo para obter um aumento na
capacidade de atendimento, reduzindo assim os seus custos, sem interferir na qualidade dos
servios prestados. Para isso, foi utilizada uma ferramenta de Simulao Computacional
baseada em eventos discretos, com a qual se pretende identificar os principais parmetros a
serem considerados para uma adequada alterao desse sistema.
Palavras-chave: Gesto Hospitalar. Pesquisa Operacional. Simulao Computacional.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
102
CDIGO: ET0516
TTULO: Hidrlise enzimtica dos resduos agroindustriais e urbanos de coco maduro e de
coco verde visando a produo de etanol celulsico
AUTOR: LAURA JESSYCA SANTIAGO DIAS
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO
CO-AUTOR: RUTHINEIA JESSICA ALVES DO NASCIMENTO
Resumo:
No cenrio atual de crescente busca de energias renovveis, em particular
biocombustveis, os resduos agroindustriais representam um imenso potencial como
substratos para viabilizar a produo de etanol celulsico.
No Brasil a expanso agroindustrial significativa, produzindo grande quantidade de
resduos, os quais podem ser utilizados como matria-prima em processos biolgicos para
produo de etanol. A casca de coco verde constitui-se uma biomassa lignocelulsica com
potencial para viabilizar a produo de etanol de segunda gerao.
Porm, um dos desafios em utilizar este tipo de biomassa, como fonte de etanol, a
necessidade da remoo da lignina e da hemicelulose para melhorar o rendimento do
processo de produo de etanol a partir desta biomassa. Para isso, necessrio realizar a
caracterizao fsica e qumica desta biomassa a fim de otimizar o dado processo, pois atravs
da caracterizao que possvel saber quanto de celulose h na biomassa, mostrando assim
se vivel ou no utiliz-la como matria-prima para produo de etanol.
A metodologia utilizada para a caracterizao deu-se como segue: lavagem, moagem,
peneirao, determinao da umidade, determinao dos extrativos, hidrlisa cida com cido
sulfrico 72%, determinao das cinzas totais.
Palavras-chave: etanol, biocombustvel, casca de coco verde.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
103
CDIGO: ET0517
TTULO: Estudo de estratgias de Produo e Purificao do antgeno 503 de Leishmaniai i.
chagasi expresso em Escherichia coli
AUTOR: MARCOS ANTNIO OLIVEIRA FILHO
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO
CO-AUTOR: LUAN TALES COSTA DE PAIVA VASCONCELOS
Resumo:
A leishmaniose considerada a quinta doena infectoparasitria de maior importncia
no mundo, possuindo ampla distribuio, principalmente, em regies tropicais e subtropicais.
Tendo em vista a necessidade de desenvolvimento de vacinas e kits de diagnstico, devido a
alta toxicidade dos tratamentos existentes e a inexistncia de vacinas, estudou-se estratgias
de operao em biorreator a fim de otimizar a produo do antgeno recombinante 503 de
Leishmania i. chagasi. Para esse fim, estudou-se a influncia da frequncia de agitao no
crescimento de Escherichia coli e expresso do antgeno 503 em biorreator de bancada. A
estratgia de operao em batelada alimentada com pulsos de lactose tambm foi avaliada.
Os resultados mostraram que a mxima expresso foi obtida na frequncia de agitao de 400
rpm e a estratgia de batelada alimentada favoreceu a expresso da protena de interesse.
Palavras-chave: Escherichia coli, protena recombinante, Leishmania i. chagasi.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
104
CDIGO: ET0524
TTULO: Determinao da concentrao de nitrato da gua do aude da Escola Agrcola de
Jundia para consumo humano.
AUTOR: YVES MATHEUS ALBUQUERQUE DE FARIAS
ORIENTADOR: HARIM REVOREDO DE MACEDO
Resumo:
O Rio Jundia, que corta a cidade de Macaba, influenciado por fatores
antropognicos, destacando-se a poluio por dejetos domsticos e industriais. Alm disso, h
prejuzo com o seu assoreamento: construes irregulares, destruio de mata ciliar e
lanamento de terra e lixo em suas guas. O resultado evidenciado pela reduo do leito do
rio, diminuio da qualidade da gua e de constantes inundaes que a cidade sofre quando
chove com maior intensidade. Devido proximidade do Rio Jundia com a EAJ, possvel que
haja influncia dos fatores antropognicos na qualidade da gua do aude localizado na EAJ,
objeto de estudo. O aude destina-se ao abastecimento da EAJ, consumo humano e animal,
cultivo de espcies aquticas e irrigao de culturas. Neste contexto faz-se necessrio o
monitoramento da gua do referido aude. O presente estudo objetiva analisar a qualidade da
gua do aude de abastecimento da EAJ e de um poo artesiano para consumo humano a fim
de detectar focos de contaminao, avaliando a concentrao de nitrato. A metodologia
utilizada foi a investigao in situ dos corpos aquticos atravs da coleta de amostras e anlise
da concentrao de nitrato. As amostras sero analisadas no Laboratrio de Qumica da EAJ. A
partir dos resultados, foi observado que as concentraes de nitrato na gua do aude esto
abaixo do limite permitido pelos rgos de controle, enquanto que a gua do poo artesiano
est com concentrao de nitrato acima do limite permitido.
Palavras-chave: Nitrato, aude, poo artesiano e gua doce.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
105
CDIGO: ET0525
TTULO: Desenvolvimento de Sistema de Máquina sem Mancais para
Aplicação como Coração Artificial
AUTOR: ITALO RAFAEL DE MELO FREITAS
ORIENTADOR: JOSSANA MARIA DE SOUZA FERREIRA
CO-AUTOR: ALEXANDRE LUZ XAVIER DA COSTA
Resumo:
Sabendo-se das dificuldades enfrentadas durante cirurgias de transplante cardíaco, que
encara o tempo como um inimigo para o sucesso da mesma, se faz necessária uma
alternativa que reverta essa situação. Entre as alternativas analisadas, levou-se
em consideração o uso de máquinas sem mancais controladas por um
DSP(Digital Signal Processing), para simular um coração artificial. Foi levado em
consideração o tipo de motor a ser utilizado, e assim feito um estudo sobre os
tipos de motores mais comuns, chegou-se a conclusão que o motor síncrono de
imã permanente seria o mais viável devido às suas características
construtivas. O DSP por sua vez é responsável pelo controle feito em toda a
planta, inicialmente utilizando o PID como algoritmo de controle que se certificará de
manter o rotor centralizado. Uma proteção adicional é incluída
para que a máquina não seja danificada nos casos de perda do controle, de
acionamento e desligamento da máquina, onde o controle demora um certo tempo
para atuar. Durante simulações utilizando o motor de imã permanente
foi possível obter informações relevantes que serão importantes
para a modelagem da máquina síncrona de imã permanente para a
aplicação desejada, o coração artificial.
Palavras-chave: MQUINA SEM MANCAIS, MOTOR, DSP, MANCAL MAGNTICO, CORAO
ARTIFICIAL.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
106
CDIGO: ET0540
TTULO: QTAIM e DTF Estudo do mecanismo estabelecido de nitrao eletroflica aromtica
AUTOR: MISON RICK LOPES DA SILVA
ORIENTADOR: CAIO LIMA FIRME
Resumo:
A transferncia de eltron nico (SET ? sigla em ingls single electron transfer) e o
polar so as duas propostas mecanicistas para nitrao eletroflica aromtica. Nossos estudos
DFT e QTAIM mostraram que o mecanismo SET vivel para todos os compostos aromticos
estudados, incluindo nitrobenzeno, em fase gasosa. A transferncia de carga mais elevado
nos pares ntimos, mas continua at que o complexo sigma. Assim, em vez de uma nica
transferncia eletrnica num passo de nitrao aromtica, existe uma contnua transferncia
de carga do complexo pi ao complexo sigma. Existe alta instabilidade no estado par ntimo
tripleto que mnimo no PES (superfcie de energia potencial) e investigamos a interseco
cnica entre o radical par ntimo tripleto e o singleto.
Palavras-chave: Nitrao aromtica, QTAIM, DFT, CASSCF,SET.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
107
CDIGO: ET0541
TTULO: Faltas de Alta Impedncia em Sistemas de Distribuio de Energia Eltrica
AUTOR: JSSIKA FONSECA FERNANDES
ORIENTADOR: FLAVIO BEZERRA COSTA
CO-AUTOR: ALEXANDRE MAGNUS FERNANDES GUIMARAES
Resumo:
Faltas de alta impedncia (FAI) so distrbios graves e preocupantes nos sistemas de
distribuio de energia eltrica. As FAIs acontecem quando um cabo energizado sofre um
rompimento de maneira indesejada, o qual, cai em ambiente de alta impedncia, provocando
uma falta com uma corrente abaixo do nvel de deteco dos dispositivos de proteo do
sistema, sendo estes incapaz de atuar, colocando assim em risco a vida de pessoas e causando
danos aos equipamentos eltricos. Portanto, mtodos de deteco e localizao de FAI vm
sendo foco de interesse de muitas pesquisas.
Uma vez que os dispositivos convencionais de proteo no so capazes de detectar
corretamente todos os tipos de FAIs, tornou-se fundamental a anlise de registros reais de
falta para encontrar um padro caractersticos dos tipos de FAI atravs de formas de ondas de
corrente e tenso com o objetivo de detectar corretamente as FAIs, garantido, assim, proteo
do publico em geral e dos equipamentos dos sistemas de alimentao. As FAIs possuem
caractersticas prprias, que variam de acordo com superfcie de contato.
Este projeto tem por objetivo a identificao do comportamento das FAI para diversos
tipos de superfcies de contato, por meio da anlise manual de registros oscilogrficos reais
provenientes de sistemas eltricos de distribuio, assim como a avaliao dos modelos de FAI
existentes na literatura, alm do estudo das principais tcnicas aplicadas ao diagnstico deste
tipo de falta.
Palavras-chave: Faltas de alta Impedncia, Mtodos de deteco e localizao de FAI.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
108
CDIGO: ET0549
TTULO: Acompanhamento da utilizao de Jogos Matemticos.
AUTOR: THABITA SOFIA GOMES BARBOSA
ORIENTADOR: ROSE MEIRE PENHA REVOREDO DE MACEDO
Resumo:
O presente projeto visa acompanhar a utilizao dos Jogos Matemticos
confeccionados para estudantes dos cursos tcnicos nas formas integradas e subsequentes da
EAJ, aplicando e revisando conceitos e frmulas referentes aos contedos matemticos
estudados nos cursos tcnicos (geometria plana e espacial, regra de trs, expresses
numricas, fraes e equaes de 1 e 2 graus). Os jogos foram confeccionados utilizando
materiais reciclados, observando conceitos bsicos para a compreenso das disciplinas
tcnicas. Os jogos desenvolvem o raciocnio lgico-matemtico, estimulam o pensamento
independente, a observao, a concentrao a criatividade e a capacidade de resolver
problemas.
Palavras-chave: Jogos. Matemtica. Acompanhamento.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
109
CDIGO: ET0550
TTULO: Confeco e utilizao de Jogos Matemticos.
AUTOR: ELLEN KAROLINE DE SOUZA
ORIENTADOR: ROSE MEIRE PENHA REVOREDO DE MACEDO
Resumo:
O presente projeto tem por objetivo confeccionar Jogos Matemticos para estudantes
dos cursos tcnicos nas formas integradas e subsequentes da EAJ, estimulando o processo
cognitivo dos alunos, no que tange a contextualizao dos conceitos, desenvolvendo clculos
mentais, observando seu uso como recurso pedaggico e revisando conceitos e frmulas
referentes ao ensino fundamental (geometria plana e espacial, regra de trs, expresses
numricas, fraes e equaes de 1 e 2 graus). Os jogos foram confeccionados utilizando
materiais reciclados, observando conceitos bsicos para a compreenso das disciplinas
tcnicas.
Palavras-chave: Jogos. Matemtica. Clculo.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
110
CDIGO: ET0569
TTULO: Controle e Automao de Portas Baseado em Arduino para um Ambiente de Domtica
Inteligente
AUTOR: PAULO LEONARDO SOUZA BRIZOLARA
ORIENTADOR: LEONARDO CUNHA DE MIRANDA
Resumo:
Sistemas de computao so quase onipresentes atualmente (ubquos). Apesar disso,
h uma carncia para sistemas que nos auxiliem nas tarefas em nossos lares e nos permitam
controlar os dispositivos domsticos. A domtica, uma rea multidisciplinar que tem como
objetivo o controle automatizado de residncias, busca atender essas necessidades.
Entretanto, um conjunto de entraves tecnolgicos e econmicos dificulta o uso das tecnologias
atuais com este propsito. O presente trabalho visa investigar as tecnologias atuais nesta rea
e desenvolver novas solues para viabilizar o uso da domtica a um baixo custo no contexto
brasileiro. Para tanto, foi escolhida como base tecnolgica a plataforma de prototipao
eletrnica Arduino, que utiliza hardware e software open source. Para guiar e comprovar o
desenvolvimento das tecnologias iniciais nesta rea, adotou-se como objetivo primrio a
elaborao de um sistema de controle e automao de portas residenciais.
Palavras-chave: Domtica, automao residencial, Arduino.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
111
CDIGO: ET0574
TTULO: Obteno e otimizao de sistemas auto-microemulsificantes (SMEDDS) para uso
biolgico
AUTOR: YURI DA COSTA KAMOSAKI
ORIENTADOR: FABIANO DO ESPIRITO SANTO GOMES
CO-AUTOR: ALICE BARROS CMARA
Resumo:
Sistemas Microemulsionados (SME) tm sido bastante estudados como veculos para
frmacos com a finalidade de aumentar a solubilidade destes no organismo. O objetivo deste
trabalho foi investigar as caractersticas fsico-qumicas dos SME, objetivando a melhoria da
solubilidade de frmacos. Foram utilizadas na preparao dos SME misturas de Tween 80 e
Span 20 como tensoativos, nas propores 3:1, 2:1 e 1:1, Etanol ou Propilenoglicol como
cotensoativo, com razo cotensoativo/tensoativo de 1,0 ou 0,5, Miristato de isopropila como
fase orgnica, e gua bidestilada. Diagramas pseudoternrios foram obtidos a fim de se obter
diversos sistemas auto-microemulsificantes, os quais no sofrem quebra aps diluio em
gua. Todos os sistemas obtidos foram caracterizados por tcnicas de reologia, dimetro de
gotculas e condutividade. Na reologia, todos os sistemas demonstraram serem fluidos
Newtonianos sendo que nas concentraes entre 30 e 40% de gua houve um aumento da
viscosidade, sugerindo a presena de estruturas bicontnuas ou lamelares. O dimetro das
gotculas esteve na faixa entre 10 a 100 nm. No houve variao significativa do tamanho das
gotculas aps sucessivas diluies em gua. Na condutividade observou-se a ocorrncia de
gotculas de gua/leo em composies contendo at 10% de gua e gotculas de leo/gua a
partir de composies com 55% de gua. Estes resultados demonstram que os SME obtidos
apresentam grande potencial como sistemas de liberao de frmacos.
Palavras-chave: Microemulso, Caracterizao fsico-qumica, Liberao de frmacos.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
112
CDIGO: ET0577
TTULO: Estudos da Funo de Massa MBF nos Aglomerados Galticos
AUTOR: EWERTON CSAR BARROS FILGUEIRA
ORIENTADOR: LUCIO MARASSI DE SOUZA ALMEIDA
CO-AUTOR: SERGIO FILIPE GADELHA ROZA
Resumo:
O estudo das funes de massa fundamental para a compreenso da distribuio de
matria no universo, e a partir dela tentar entender e conhecer a formao de grandes
estruturas: galxias, aglomerados e superaglomerados de galxias. Objetivamos realizar o
estudo das grandes estruturas do Universo, utilizando para isso anlise de dados das funes
de massa dos aglomerados, atravs de mtodos estatsticos como o chi-quadrado e a mxima
verossimilhana (gerando elipses de confiana estatstica para os parmetros cosmolgicos
estudados). Em essncia compararemos dados observacionais de aglomerados galcticos em
raio-X e dados da radiao csmica de fundo (do satlite WMAP) com as propostas tericas da
literatura, tanto para eleger o melhor candidato terico de funo de massa dos aglomerados,
quanto para eleger os melhores parmetros de diversos modelos cosmolgicos. Entre as
funes de massa tericas analisadas esto a de Juan Pan (2005), Sheth-Tormen (1999),
Jenkins (2001), Warren (2006), Tsallis (2007) e Tinker (2008), alm da funo Gaussiana
original de Press-Schechter (PS) e uma nova funo de massa, utilizando a distribuio de
?Burr? - uma funo de massa desenvolvida pelo professor orientador Lcio Marassi de Souza
Almeida, e que promete corrigir um problema de normalizao que permanece na literatura
desde 1974, alm de fornecer uma explicao vivel para a distribuio primordial do
Universo.
Palavras-chave: Funes de massa, Formao de grandes estruturas.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
113
CDIGO: ET0578
TTULO: A Funo de Massa dos Aglomerados Galticos Utilizando a Distribuio de Burr
AUTOR: SERGIO FILIPE GADELHA ROZA
ORIENTADOR: LUCIO MARASSI DE SOUZA ALMEIDA
CO-AUTOR: EWERTON CSAR BARROS FILGUEIRA
Resumo:
Press & Schechter(PS) em 1974 formalizou uma funo de massa com distribuio
gaussiana para o clculo do campo primordial de densidades aplicado a formao de grandes
estruturas do Universo, como os aglomerados e super aglomerados, apesar do formalismo de
PS estar baseado no crescimento linear inicial das densidades foi utilizado para descrever a
formao das grandes estruturas at os dias atuais, Contudo, os dados observacionais mais
acurados apresentam discrepncias em relao ao mtodo padro de Press & Schechter.
Nosso trabalho baseia-se na tentativa de encontrarmos uma distribuio de probabilidades
no-Gaussiana que se adque aos dados atuais, mantendo a simplicidade do mtodo original
de Press & Schechter. Realizamos estudos com a funo de massa de Burr (Marassi L. & Lima
J.A.S. 2007), e determinamos os melhores parmetros livres desta funo de forma a explicar
os atuais dados observacionais (de raios-X e da radiao csmica de fundo).
Palavras-chave: COSMOLOGIA, BURR, FUNES DE MASSA, AGLOMERADOS GALATICOS.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
114
CDIGO: ET0583
TTULO: Instrumentao de uma cortina atirantada de estacas espaadas
AUTOR: ARTHUR DOS SANTOS AZEVEDO BORJA DE BRITO
ORIENTADOR: YURI DANIEL JATOBA COSTA
CO-AUTOR: FELIPE MARIZ COUTINHO
CO-AUTOR: FABIANA ALVES DOS SANTOS
CO-AUTOR: LEONARDO HENRIQUE BORGES DE OLIVEIRA
Resumo:
O presente trabalho teve por objetivo estudar, por meio da realizao de
instrumentao geotcnica, o comportamento de uma cortina atirantada, composta por
estacas escavadas espaadas. Este tipo de conteno constitui uma soluo empregada com
muita frequncia na cidade de Natal ? RN. Foi instrumentada nesse estudo, uma cortina
composta por paramento de estacas com 8m e tirantes com 10m de comprimento. Os
instrumentos utilizados nesse estudo foram o inclinmetro, para medidas de deslocamentos
horizontais da cortina, e extensmetros eltricos de resistncia (strain gages), para medida de
carga nos tirantes. Os extensmetros foram instalados em trs sees ao longo do trecho
ancorado do tirante. As grandezas (deslocamento horizontal e cargas em tirantes) foram
medidas em cada estgio de execuo da obra. As leituras feitas com o inclinmetro
mostraram que os deslocamentos horizontais da cortina foram mais acentuados na parte
superior da mesma. Alm disso, notou-se que esses deslocamentos evoluram ao longo do
tempo, tendendo estabilizao. Com relao s cargas medidas atravs dos extensmetros
eltricos de resistncia, durante o ensaio de recebimento do tirante instrumentado, observou-
se que as cargas se distribuem de forma aproximadamente linear ao longo do trecho ancorado
do tirante. Aps a incorporao do tirante, esto sendo medidas, semanalmente, as cargas nas
sees instrumentadas do mesmo. Tm-se observado uma perda de carga no tirante ao longo
do tempo.
Palavras-chave: Estrutura de conteno, tirantes, instrumentao geotcnica.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
115
CDIGO: ET0589
TTULO: Comparao do desempenho dos mtodo tipo Newton
AUTOR: GUILHERME FRANCISCO DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: JULIA VICTORIA TOLEDO BENAVIDES
Resumo:
Pesquisa elaborada para meios de minimizao irrestrita vinculando os Mtodos de
Newton clssicos e estudo sobre Otimizao no-diferencivel e implementao dos
algoritmos comparando seus desempenhos e progressos.
Palavras-chave: Otimizao No Diferencivel, Mtodos de Decida, Otimizao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
116
CDIGO: ET0590
TTULO: Estudo cintico do processo de extrao do corante do jambo (Eugenia malaccensis)
AUTOR: MAYARA OHANA ALVES DE SOUZA
ORIENTADOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE
CO-AUTOR: THAS BEZERRA VERSSIMO MIGUEL
CO-AUTOR: GLENDA FERREIRA BESERRA DA SILVA
Resumo:
O jambo vermelho um fruto de safra sazonal com atributos pouco conhecidos,
destinado basicamente ao consumo in natura. O seu elevado desperdcio estimulou estudos
quanto ao pigmento presente na sua casca que indica a presena de antocianinas. Estes
componentes de natureza fenlica possuem atividade antioxidante. O objetivo desse trabalho
foi estudar a cintica de extrao do corante do jambo, aplicar os modelos cinticos existentes
na literatura e identificar aquele que melhor descreve a cintica de extrao, alm de
identificar e interpretar os parmetros que a influenciam. O estudo foi conduzido atravs da
realizao de extraes em um reator encamisado utilizando solventes acidificados e no
acidificados com a casca e a polpa do jambo como soluto mantendo a temperatura e a
velocidade de agitao constantes. Os extratos foram submetidos a anlises
espectrofotomtricas que indicaram pouca variao da atividade antioxidante (AA) frente
acidificao do solvente, e boas concentraes de compostos fenlicos totais (CFT) e de
antocianinas monomricas totais (AMT) em extraes da casca do jambo com solvente no
acidificado. O estudo cintico foi feito em condies timas de extrao tendo as seguintes
velocidades mdia da reao para AA, AMT com solvente acidificado, AMT da casca de jambo
com solvente no acidificado e CFT, respectivamente, -ra =1*Ca^(0,6), ?ra= 1*Ca^(0,57); -ra
=1*Ca^(2,2), -ra =1*Ca^(0,37).
Palavras-chave: Jambo, extrao, AA, CFT, AMT, cintica.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
117
CDIGO: ET0599
TTULO: Cincia, tecnologia, valores e relaes de gnero na rea tecnolgica da UFRN
AUTOR: RAPHAELA TBATA RABLO FREITAS
ORIENTADOR: CARLA GIOVANA CABRAL
Resumo:
Atravs de dados resultantes do projeto antecessor, Indicadores de Gnero, Cincia e
Tecnologia, o qual estabeleceu valores estatsticos sobre a cooperao feminina na rea
tecnolgica, mais especificamente, nos departamentos de engenharia. Por intermdio de
entrevistas fundamentadas em um questionrio, previamente, elaborado com o objetivo
avaliar as histrias de vida, os valores e as vises epistemolgicas (relacionadas a Cincia,
Tecnologia e Sociedade) pertencentes essas mulheres. Os 11 departamentos da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) serviram de campo para esse estudo, na qual a ideia
de cincia neutra e as diferenas de gnero ainda se fazem presentes. A presena feminina nas
engenharias ainda muito discreta, pois, de certa forma, ainda persista a viso tradicional a
qual separa o trabalho segundo uma questo histrica de gnero, limitando o ambiente de
atuao de algumas mulheres. Os objetivos desse trabalho so apurar dificuldades as quais
essas mulheres enfrentaram durante a escolha da carreira, se sofreram discriminao de
gnero e por fim agregar uma conscincia crtica de gnero na sociedade e principalmente no
ambiente acadmico, a fim de desmistificar essa viso que ainda corrente, especialmente,
em alguns crculos.
Palavras-chave: poltica cientfica; gnero, cincia e tecnologia; indicadores.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
118
CDIGO: ET0600
TTULO: Vises de cincia, tecnologia, valores e relaes de gnero na rea tecnolgica da
UFRN
AUTOR: LUCAS FAGUNDES DE LUCENA
ORIENTADOR: CARLA GIOVANA CABRAL
CO-AUTOR: RENATO ROBERTO ANTUNES DA SILVA
Resumo:
Nesse trabalho temos os resultados obtidos na pesquisa do projeto "Indicadores de
Cincia e Tecnologia: Visibilidade de Gnero nos Contextos da Inovao no Nordeste do
Brasil.? A investigao se utilizou de dados quantitativos, inicialmente coletados nos
departamentos do Centro de Tecnologia (CT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN). No intuito de discutir a relao entre gnero, cincia e tecnologia, foi aplicado um
questionrio semiestruturado abordando as discriminaes vivenciadas pelas professoras no
decorrer de toda a formao acadmica e vida profissional. Foram ainda analisados aspectos
dos cargos de chefia exercidos por algumas delas, qual relao elas fazem entre cincia,
tecnologia e sociedade, quais valores sociais e profissionais elas acreditam importantes para a
compreenso da reflexo social e tica na rea tecnolgica. Posteriormente essas entrevistas
foram analisadas epistemologicamente, e dessa analise se extraiu informaes sobre as vises
das professoras em relao a CTS.
Palavras-chave: CTS, gnero, cincia, tecnologia.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
119
CDIGO: ET0611
TTULO: OFICINAS PARA O ENSINO DA FSICA: ATIVIDADES LDICAS APLICADAS AO ENSINO DA
FSICA
AUTOR: ELIZA MIZZIARA MESQUITA DUARTE
ORIENTADOR: FRANCINETE DE LIMA
Resumo:
ALUNOS: Beatriz Paiva do Nascimento
Eliza Mizziara Mesquita Duarte
Guilherme Souza de Farias
ORIENTADOR: Prof. Dra. Francinete de Lima
Este trabalho tem como objetivo apresentar atravs de oficinas, algumas atividades
ldicas associadas ao ensino da Fsica para os alunos do Ensino mdio e Fundamental, pois
entendemos que a participao ativa essencial para que o processo ensino-aprendizagem
alcance seus objetivos. Nossas oficinas possuiro um carter ldico, onde tentaremos provocar
a surpresa dos participantes e o interesse pelo acontecimento de determinado fenmeno
fsico. Os experimentos sero construdos utilizando, essencialmente, materiais de baixo custo,
como por exemplo, cartolina, cola branca, fita crepe, canudinhos plsticos, copinhos
descartveis, etc. Nestas atividades abordaremos trs temas: Eletrosttica, ptica e
Aerodinmica. A oficina de Eletrosttica buscar introduzir conceitos de atrao e repulso
entre corpos carregados (ou descarregados) eletricamente, e tambm o tratamento dos
termos condutor e isolante. Organizaremos trs bancadas com materiais para a construo
dos experimentos, cada uma com um dos temas apresentados acima. Esta prtica produzir
grande estmulo busca de conhecimento dentro e fora das salas de aula, levando o aluno a
perceber a Fsica muito mais prxima do seu dia-a-dia do que aquela que visa apenas preparar
para os exames.
Palavras-chave: OFICINAS; FSICA; ATIVIDADES, EXPERIMENTOS; ENSINO.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
120
CDIGO: ET0612
TTULO: OFICINAS PARA O ENSINO DE FSICA: ATIVIDADES LDICAS APLICADAS AO ENSINO DA
FSICA
AUTOR: BEATRIZ PAIVA DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: FRANCINETE DE LIMA
Resumo:
ALUNOS: Beatriz Paiva
Eliza Mizziara Duarte
Guilherme Souza de Farias
ORIENTADOR: Prof. Dra. Francinete de Lima
Este trabalho tem como objetivo apresentar atravs de oficinas, algumas atividades
ldicas associadas ao ensino da Fsica para os alunos do Ensino mdio e Fundamental, pois
entendemos que a participao ativa essencial para que o processo ensino-aprendizagem
alcance seus objetivos. Nossas oficinas possuiro um carter ldico, onde tentaremos provocar
a surpresa dos participantes e o interesse pelo acontecimento de determinado fenmeno
fsico. Os experimentos sero construdos utilizando, essencialmente, materiais de baixo custo,
como por exemplo, cartolina, cola branca, fita crepe, canudinhos plsticos, copinhos
descartveis, etc. Nestas atividades abordaremos trs temas: Eletrosttica, ptica e
Aerodinmica. A oficina de Eletrosttica buscar introduzir conceitos de atrao e repulso
entre corpos carregados (ou descarregados) eletricamente, e tambm o tratamento dos
termos condutor e isolante. Organizaremos trs bancadas com materiais para a construo
dos experimentos, cada uma com um dos temas apresentados acima. Esta prtica produzir
grande estmulo busca de conhecimento dentro e fora das salas de aula, levando o aluno a
perceber a Fsica muito mais prxima do seu dia-a-dia do que aquela que visa apenas preparar
para os exames.
Palavras-chave: Oficinas, fsica, atividades, experimentos, ensino.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
121
CDIGO: ET0617
TTULO: Estudo da pemeabilidade de matrizes de cimento aditivadas com materiais
pozolnicos
AUTOR: MOISS CAVALCANTE DA CRUZ
ORIENTADOR: JULIO CEZAR DE OLIVEIRA FREITAS
Resumo:
Temperaturas acima de 110C podem provocar falhas no selo hidrulico na cimentao
primria de poos petrolferos. Esse fenmeno denominado retrogresso e ocorre devido a
converso do silicato de clcio hidratado em fases ricas em clcio, quando a matriz de cimento
submetida a temperaturas elevada. As consequncias deste processo a reduo da
resistncia compresso e aumento da permeabilidade da matriz de cimento. O presente
trabalho apresenta os resultados de um estudo experimental que procurou verificar a
influncia da relao molar CaO/SiO2 em misturas do cimento Portland e aditivos mineriais na
formao de C-S-H e na retrogresso de pastas cimentcias submetidas a elevada temperatura
e presso. Para tanto foram formuladas pastas cimentcias com a adio de metacaulim,
disperso coloidal de slica (nanoslica) em diferentes concentraes destes aditivos. Os
resultados de permeabilidade e DRX mostram que pastas cimentcias com relao molar entre
CaO/SiO2 prximas a 1 pode minimizar o efeito da retrogresso quando as pastas so
submetidas a temperaturas de 180C e presso de 6,89 MPa.
Palavras-chave: Materiais pozolnicos, C-S-H, retrogresso e permeabilidade.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
122
CDIGO: ET0626
TTULO: Rudo Barkhausen via tcnica indutiva: Desenvolvimento de software computacional
para controle de experimento e aquisio de dados
AUTOR: CARLOS AUGUSTO DE MORAES IGLESIAS
ORIENTADOR: FELIPE BOHN
Resumo:
A dinmica de paredes de domnio tem despertado um enorme interesse ao longo das
ltimas dcadas, no somente pela contribuio que a compreenso dos mecanismos
responsveis pela dinmica da magnetizao pode trazer ao campo da fsica bsica, mas
tambm pelo grande potencial tecnolgico de sistemas magnticos e sua aplicao em uma
larga gama de dispositivos. Existem vrios mtodos que podem ser empregados na
investigao dos processos de magnetizao e da dinmica de paredes de domnio, sendo que
uma importante ferramenta trata-se do chamado rudo Barkhausen. Como objetivo principal
deste trabalho, visa-se o desenvolvimento de um sistema de medidas de rudo Barkhausen de
alta resoluo via o tradicional mtodo indutivo. Este equipamento largamente empregado
para realizao de medidas em amostras ?bulk?, mas ainda pouco difundida no estudo do
rudo em filmes finos, devido grande sensibilidade e a alta resoluo requerida. Assim,
atravs da implementao de um sistema Barkhausen na UFRN, bem como sua otimizao,
ser possvel a realizao de uma vasta gama de estudos associados dinmica de paredes de
domnio e rudo Barkhausen em diferentes amostras de materiais ferromagnticos, em
particular, filmes finos.
Palavras-chave: Sistema de medidas de rudo Barkhausen via mtodo indutivo.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
123
CDIGO: ET0630
TTULO: Testando a Eletrodinmica de Euler-Heisenberg
AUTOR: JOS HERLANDO ALVES DA SILVA
ORIENTADOR: LEO GOUVEA MEDEIROS
Resumo:
No presente trabalho vamos tratar das extenses da Eletrodinmica de Maxwell
conhecidas como modelos de eletrodinmica no linear (EDNL). O estudo direcionado para
um caso particular da EDNL que o modelo de Euler-Heisenberg (EDEH). Assim como feito
para as equaes de Maxwell determinamos o potencial eletrosttico da carga pontual no
contexto de EDEH. Em seguida aplicamos este potencial na equao de Schrdinger
tridimensional em um contexto anloga ao tomo de Hidrognio. O prximo passo foi obter o
nvel de energia fundamental com as correes da EDEH e compar-lo com o caso usual dado
pelo potencial de Maxwell. Com isso conseguimos determinar um limite experimental superior
para a constante da EDEH.
Palavras-chave: Eletrodinmica de Euler-Heisenberg, tomo de Hidrognio.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
124
CDIGO: ET0633
TTULO: Determinao e Modelagem de Dados de Equilbrio de Fases para o Sistema Orgnico
cido Oleico e Etanol
AUTOR: ADOLFO LOPES DE FIGUEREDO
ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA
CO-AUTOR: OSVALDO CHIAVONE FILHO
CO-AUTOR: ANGLICA ALYNE FERNANDES MORAIS
Resumo:
A busca por combustveis biodegradveis, no txicos e de fontes renovveis, capazes
de reduzir a emisso de CO2 na atmosfera, torna o cido oleico um objetivo de estudo, pois
est presente em altos teores em vrios leos vegetais, matrias primas utilizadas na produo
de biodiesel. O conhecimento de dados de equilbrio para o sistema cido oleico + etanol de
suma importncia na otimizao e dimensionamento dos parmetros que regem o processo
de produo de biodiesel, na recuperao de etanol e na reao de transesterificao. Tendo
em vista a grande dificuldade operacional de se obter dados de equilbrio experimentais
devido complexidade do sistema, existe uma carncia de dados de equilbrio lquido- vapor
na literatura. Nesse contexto, o presente trabalho tem como principal objetivo a construo de
um diagrama de fases de equilbrio (temperatura versos concentrao mssica presso
ambiente constante) para o sistema cido oleio ? etanol, atravs da obteno de dados de
equilbrio, utilizando o ebulimetro de recirculao da fase vapor Othmer modificado, cujo
procedimento de utilizao foi definido de acordo com o descrito por Oliveira (2003). O
envelope de fases foi obtido para o sistema em questo, assim a modelagem termodinmica
utilizando os parmetros UNIQUAC estimados, mostrando-se de acordo com o esperado,
podendo ser utilizado no dimensionamento de extratores ou na simulao do processo de
produo do biodiesel atravs da rota etlica.
Palavras-chave: diagrama de equilbrio; cido oleico; modelagem termodinmica, etanol.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
125
CDIGO: ET0638
TTULO: Controle e Automao da Iluminao de Ambiente de Domtica Inteligente Baseado
em Arduino
AUTOR: ALISON DE ARAJO BENTO
ORIENTADOR: LEONARDO CUNHA DE MIRANDA
Resumo:
Com as novas tendncias tecnolgicas, nossa pesquisa buscou implementar um
sistema de controle de ambientes residenciais capaz de ofertar uma forma de interao
simples, remota e centralizada, alm de permitir uma melhor gesto dos recursos que a
residncia e os objetos nela presente podem oferecer. Neste escrito, expomos as estratgias e
mtodos utilizados para que alcanssemos uma nova forma de controle no que diz respeito a
ambientes domsticos, bem como os resultados obtidos com tal abordagem. Utilizamos, para
que tal meta fosse traada, tecnologias open-source robustas e de baixo custo, a citar a
plataforma Arduino e o mini computador Raspberry Pi. Utilizamos o conceito de internet of
things para expandir as possibilidades da aplicao no que diz respeito a instalao,
acessibilidade e facilidade de adaptao a novas tecnologias. Por fim, a nfase aplicada
soluo buscou sanar, inicialmente, desafios de controle com relao a iluminao presentes
em uma residncia, mas a necessidade de um componente de maior capacidade de
processamento resultou na convergncia de nossas capacidades no desenvolvimento de uma
central de controle WEB.
Palavras-chave: Domtica, Internet of things, IHC, Arduino, Raspberry Pi.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
126
CDIGO: ET0641
TTULO: Caracterizao da microalga Spirulina Platensis para a produo de Bio-leo
AUTOR: MARIANE BARRETO DAS CHAGAS
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA
Resumo:
Diversas tipos de biomassas vm sendo pesquisadas como fonte alternativa de energia
renovvel para a produo de biocombustveis ( Sarbatly & Suali, 2012). Dentre elas, as
microalgas tem sido atrativas pra produo de bio-leo alm de serem apontadas como
excelentes fixadoras de CO2, atravs da realizao da fotossntese e uma taxa de crescimento
elevada quando comparada com as oleaginosas. Dentre os processos de transformao de
biomassa, a pirlise um mtodo de converso termoqumica que vem sendo estudado por
proporcionar a formao de produto lquido (conhecido como bio-leo), carvo e gases. O
objetivo deste trabalho foi avaliar a taxa de crescimento, a produo de biomassa e a
composio bioqumica da microalga Spirulina platensis visando sua aplicao em tratamento
termoqumico para produo de bio-leo. Foram determinadas a taxa de crescimento e a
produo de biomassa ao longo de 15 dias de crescimento, assim como o teor de carboidratos
(7,15 %), lipdios totais (69,06 %), protenas (17,71 %) e cinzas (6,08 %). Analisando os
resultados observou-se uma produo de biomassa mxima (Xmax) de 0,41 g/L no 15 dia de
cultivo e uma taxa de crescimento (max) de 0,119 dia-1. As anlises de poder calorfico,
anlise elementar de CHN, FTIR forneceram dados importantes para confirmar o potencial
desta microalga para produo de bio-leo e a anlise de TG/DTG sugeriu as condies
operacionais que sero utilizadas nos futuros ensaios de pirlise.
Palavras-chave: Microalga Spirulina platensis; Cultivo, Bio-leo; Pirlise.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
127
CDIGO: ET0642
TTULO: Concepo de Recursos Didticos Baseados na Plataforma Arduino para Apoiar o
Ensino das Disciplinas de (Prtica de) Algoritmos e Estruturas de Dados I
AUTOR: DIEGO HENRIQUE DANTAS DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: LEONARDO CUNHA DE MIRANDA
Resumo:
O rpido avano da tecnologia e o acesso cada vez mais fcil a esta modifica constante
diversos cenrios da sociedade com o passar do tempo, um dos cenrios mais afetados por
estas mudanas a sala de aula, em que os professores precisam inovar cada vez mais para
fornecer um ambiente de ensino-aprendizagem atrativo e interativo aos alunos. Com a
percepo das dificuldades enfrentadas pelos alunos das disciplinas de AED I e PAED I, foram
tomadas medidas que proporcionem aos alunos um melhor entendimento do contedo destas
disciplinas. O presente projeto visa complementao dessas medidas atravs da concepo
de recursos didticos tecnolgicos contextualizados para as componentes curriculares
supracitadas. Estes recursos, compostos por um dispositivo de hardware baseado na
plataforma Arduino e um aplicativo para dispositivos mveis baseado na plataforma Android,
agiro em conjunto para fornecer um ambiente participativo e interativo de aprendizagem dos
contedos ministrados nessas disciplinas. No presente relatrio so apresentados o contexto
em que o projeto est inserido, seus objetivos, metodologia utilizada para atingir estes
objetivos, resultados e artefatos gerados, discusso acerca dos resultados do trabalho e dados
da literatura consultada, concluses e perspectivas de trabalhos futuros a serem realizados a
partir destes resultados.
Palavras-chave: Android, Arduino, Informtica Educacional, Interao Humano-Computador.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
128
CDIGO: ET0651
TTULO: Estudo do abatimento do teor de enxofre em derivados e efluentes do processamento
industrial do petrleo
AUTOR: RAFAEL VIANA SALES
ORIENTADOR: LUCIENE DA SILVA SANTOS
Resumo:
Em virtude dos inmeros problemas observados referentes s fraes de petrleo
com quantidades significativas de enxofre e da nova legislao, que exige combustveis
automotivos com menores teores deste elemento, tem se buscado meios eficazes na remoo
de compostos sulfurados em derivados de petrleo e efluentes petroqumicos. Pesquisas
recentes utilizando processo de adsoro empregando adsorventes seletivos, como carvo
ativado e zelitas, tm mostrado grande eficincia na remoo de sulfurados.
O foco da nossa pesquisa foi identificar tipos de carves ativados com alto potencial de
utilizao no processo de dessulfurizao em derivados de petrleo e efluentes petroqumicos,
contemplando a etapa de avaliao da capacidade de adsoro e comparao entre os tipos de
carves utilizados. Os resultados foram bastantes satisfatrios.
Palavras-chave: Carvo Ativado, Enxofre, Compostos Sulfurados.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
129
CDIGO: ET0652
TTULO: Controladores Digitais, Analgicos e Hbridos
AUTOR: FELIPE DIOGO SILVA DE MEDEIROS
ORIENTADOR: ALUIZIO ALVES DE MELO BENTO
Resumo:
Atualmente as reas de controle, microeletrnica e eletrnica de potncia esto
presentes em, praticamente, todas as aplicaes da eletrnica (industrial, mdica, qumica,
entretenimento, mobilidade, entre outras). Trabalhos voltados para o controle de fontes e
conversores chaveados apresentam opes de realizao de uma estratgia de controle nas
verses digital, analgicas e hbridas. O trabalho proposto investiga comparativamente trs
opes de realizao (implementao) de controladores para aplicao em conversores de
potncia chaveados: (1) controladores digitais baseados em FPGA; (2) controladores
analgicos baseados em circuitos discretos e/ou integrados; (3) controladores hbridos
baseados em DSP.
A anlise comparativa entre as trs realizaes considera o custo, o desempenho e a
robustez. Os controladores so testados em conversores chaveados com controle de corrente
e/ou tenso. O resultado dos trabalhos ir gerar contribuies cientificas como publicaes em
eventos e material didtico com apostilas, tutoriais e minicursos. Cada realizao apresenta
vantagens em diferentes aplicaes: a realizao analgica ainda a mais apropriada para
aplicaes sensiveis ao custo. A realizao com DSP se mostrou mais eficiente em aplicaes
industriais. E a realizao em FPGA se mostrou apropriada para sistemas, porque ser um
controlador genrico e pode ser incorporado em qualquer projeto de FPGA existente, o
controlador torna-se um produto a custo zero.
Palavras-chave: Eletrnica de Potncia, Fontes chaveadas, controladores, FPGA, DSP.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
130
CDIGO: ET0653
TTULO: Produo de NbC/TaC e estudo de suas aplicaes.
AUTOR: BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES
Resumo:
Diferentes matrizes e reforos para compsitos de matriz metlica (MMCs) tm sido
estudados ao longo dos anos, e continua ainda sob constante desenvolvimento para ser
aplicado amplamente na indstria. E, assim, pesquisas so desenvolvidas com vrias
combinaes de matrizes metlicas e ps cermicos, com o objetivo de obter materiais
compsitos com propriedades similares ou superiores aos convencionais. Carbetos, como NbC
e TaC, tm sido combinado ao p de Fe ou ao para obteno de compsitos sinterizados, e
novas tcnicas de produo desses carbetos de metais refratrios tm sido desenvolvidas,
sintetizando carbetos nanoestruturados que mostram melhoria de diversas propriedades dos
materiais quando comparados aos convencionais. As propriedades dos compsitos
sinterizados so determinadas no somente pela natureza e qualidade dos materiais
empregados, como tambm pela microestrutura do produto final resultante das tcnicas de
processamento MP e mtodo de sinterizao. Neste trabalho, nano-partculas de reforo
(NbC/TaC) foram sintetizadas a partir de seus precursores por reao gs-slido a baixa
temperatura, e inseridas as partculas grandes de Fe atravs de moagem de alta energia. E, em
seguida, os ps compsitos foram compactados e sinterizados a plasma com o objetivo de
melhorar as propriedades mecnicas e de uso do produto final. Imagens - MEV revelaram uma
estrutura de gro mais refinada e uma distribuio mais homognea de partculas de carbetos
para o compsito CMM.
Palavras-chave: Compsitos CMM, carbetos nanoestruturados, moagem, sinterizao a
plasma.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
131
CDIGO: ET0656
TTULO: Potencial Anticorrosivo de Substncias Nitrogenadas Solubilizadas em Sistemas
Microemulsionados
AUTOR: LUAN SILVEIRA ALVES DE MOURA
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL
CO-AUTOR: CARLOS ALBERTO MARTINEZ HUITLE
Resumo:
Nas pesquisas nanotecnolgicas atuais, os sistemas microemulsionados (SME) tm sido
o enfoque de pesquisas acadmicas, apresentando destaque como eficazes inibidores de
corroso ou como veculos para ao de substncias inibidoras. Neste trabalho elaborou-se um
SME para aplicao como inibidor de corroso em ao carbono AISI 1018, obtido a partir da
metodologia de titulaes e fraes mssicas em diagrama pseudoternrios contendo em sua
composio 20% de C/T na razo de 0,5 [butanol/Ultrol L90], 2% de querosene e 78% de gua
potvel. O SME-BUQA apresentou fcil obteno, resistncia ao aumento da temperatura e na
solubilizao de outras substancias anticorrosivas objetivando o aperfeioamento de
resultados. Como o SME do tipo leo em gua h um favorecimento como autoemulsificante
e o uso de gua potvel em sua composio auxilia na resistncia ao meio salino. A eficincia
foi avaliada em soluo de NaCl 3,5M pelo mtodo Potenciostato/Galvanostato (PGSTAT 302
verso 4.9). As mesmas medidas foram repetidas incorporando quatro compostos
nitrogenados. A partir das curvas de Tafel foi possvel determinar o l corroso (corrente), onde
o clculo da eficincia foi obtido atravs da concentrao do inibidor versus resistncia. Os
sistemas obtidos apresentaram resultados anticorrosivos superiores a 90% em algumas
concentraes. O tamanho, massa, geometria, facilidade de obteno e custo das substncias
envolvidas tambm foram avaliados como critrio para sugerir o SME.
Palavras-chave: Microemulso, anticorrosivos, compostos nitrogenados.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
132
CDIGO: ET0657
TTULO: Novos Materiais Cermicos Para Antenas de Microfitas.
AUTOR: GABRIEL MOURA CANTANHEDE
ORIENTADOR: LAERCIO MARTINS DE MENDONCA
Resumo:
Os substratos cermicos tm sido investigados por pesquisadores de todo o mundo e
tem alcanado um alto interesse na comunidade cientfica pelo fato de apresentarem altas
constantes dieltricas e um excelente desempenho nas estruturas empregadas. Tais cermicas
resultam em estruturas miniaturizadas, com dimenses bem reduzidas e de alta eficincia de
radiao. Neste trabalho, utilizou-se um novo material cermico, o titanato de zinco chumbo
(Zn0,8PB0,2TiO3), que foi utilizado como substrato dieltrico na construo de antenas de
microfita. O mtodo utilizado na construo da cermica foi a Sntese por Combusto Auto-
Sustentada a Alta Temperatura (do ingls Self-Propagating High-Temperature Synthesis - SHS).
O produto foi caracterizado atravs de anlises de dilatometria, difrao de raios-X e anlise
de microscopia de varredura eletrnica. Uma das contribuies caracteristicamente definidas
neste trabalho o desenvolvimento de um novo material dieltrico que foi utilizado como
substrato dieltrico na construo de antenas de microfita. Esses substratos dieltricos tm
alta permissividade relativa e baixa tangente de perda. Empregou-se no projeto e otimizao
das antenas de microfita o Ansoft HFSS e foram realizadas medies das caractersticas de
radiao em laboratrio, obtendo-se uma boa concordncia mtrica entre simulao e
experimentao.
Palavras-chave: Antenas de microfita, substratos cermicos, titanato de zinco chumbo.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
133
CDIGO: ET0658
TTULO: Estudo do efeito do combustvel na sntese de Fe3O4 para uso em biossensores
AUTOR: IGOR GUDERYAN NUNES LOPES GUIMARAES
ORIENTADOR: KALINE MELO DE SOUTO VIANA
Resumo:
Biossensor um dispositivo no qual um material de origem biolgica, tais como
enzimas, organelas, tecido animal ou vegetal, microrganismos, antgeno ou anticorpo, cidos
nucleicos, lectina, entre outros, imobilizado junto a um transdutor adequado (RICCARDI et.
al., 2002).
Os biossensores so pequenos dispositivos que utilizam reaes biolgicas para
deteco de analitos-alvo. Tais dispositivos combinam um componente biolgico, que interage
com um substrato alvo, a um transdutor fsico, que converte os processos de
biorreconhecimento em sinais mensurveis. Seu uso traz uma srie de vantagens, pois so
altamente sensveis e seletivos, relativamente fceis em termos de desenvolvimento, alm de
acessveis e prontos para uso.
As vantagens dos biossensores em relao s tcnicas convencionais no se limitam
sensibilidade e seletividade, mas ao fato de, geralmente, dispensarem um elaborado pr-
tratamento da amostra (praticidade), rapidez nas anlises e gastos mnimos de reagentes,
proporcionando assim, agilidade na obteno dos resultados, e reduo no custo financeiro.
Aplicaes dos biossensores podem ser encontradas em diferentes reas do conhecimento:
sade, pecuria, alimentos, agronmica e outras (FURTADO et. al., 2008).
Neste projeto ser estudada a obteno e a caracterizao da magnetita (Fe3O4) para
uso como biossensor.
Palavras-chave: biossensores, magnetita, reao de combusto, combustvel.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
134
CDIGO: ET0660
TTULO: Variabilidade da precipitao nos ltimos anos em comparao ltima normal
climatolgica nas capitais do Nordeste do Brasil
AUTOR: ISAMARA DE MENDONA SILVA
ORIENTADOR: DEUSDEDIT MONTEIRO MEDEIROS
CO-AUTOR: RENATA FERREIRA MOURA
CO-AUTOR: CLAUDIO MOISES SANTOS E SILVA
CO-AUTOR: REINALDO ANTONIO PETTA
Resumo:
A localizao do Nordeste do Brasil (NEB) desperta um enorme interesse no estudo das
variveis climatolgicas, porque esta regio se encontra no extremo nordeste da Amrica do
Sul, banhada pelo Oceano Atlntico ao norte e a leste, bem como est sob a influncia direta
da Zona de Convergncia Intertropical (ZCIT). Assim, apresentamos um estudo comparativo
entre a normal climatolgica de 1964-1990 e o perodo de 1991-2010, particularmente das
precipitaes nas capitais, onde verificamos que neste ultimo ciclo houve um aumento da
mdia pluviomtrica anual, indicando uma tendncia de mais chuvas para os prximos anos.
Ns apresentamos essa tendncia atravs de uma grande diversidade de grficos, onde
mostramos os comportamentos peridicos e sazonais. Os dados referentes a estes dois
perodos so provenientes do BDMEP (Banco de Dados Meteorolgicos para Ensino e
Pesquisa) do INMET. Os resultados mostram ainda que o perodo de 1991 a 2010 foi, em geral,
mais quente em relao normal climatolgica. Tambm foi possvel notar que os meses de
precipitao mais intensos, Abril para as capitais localizadas ao norte e Junho para as capitais
do Leste do NEB, apresentaram precipitao mais elevada, enquanto os meses secos foram
mais secos. Esses resultados sugerem que mudanas climticas podem estar associadas
formao de climas mais quentes e com maior sazonalidade de precipitao.
Palavras-chave: Climatolgica, BDMEP.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
135
CDIGO: ET0667
TTULO: Geologia e petrografia de complexo mfico-ultramfico-carbonattico a NW de So
Jos de Campestre, RN
AUTOR: PLINIO LIMA DA SILVA
ORIENTADOR: ZORANO SERGIO DE SOUZA
CO-AUTOR: JOS ALEXANDRE PAIXO DA CUNHA
Resumo:
A rea em estudo, Macio So Jos do Campestre, situa-se no leste do Rio Grande do
Norte, e representa o fragmento de crosta continental mais antigo da Amrica do Sul (3,41
Ga, Arqueano). Estes fragmentos so compostos por rochas metassupracrustais de diferentes
geraes de metagranitides diorticos a granticos. Ocorrncias de rochas carbonatticas
encontrada na rea de trabalho estudada, situa-se em duas regies distintas (nas reas
prximas as cidades de Tangar e So Jos do Campestre, RN). Foram adotadas as seguintes
etapas para estudo da rea: Pesquisa bibliogrfica; Interpretao de imagens de sensores
remotos; Excurses de campo; Descrio petrogrfica e textural usando microscpios; Anlise
por difrao de raios-X ou microscopia eletrnica de varredura; e relatrios. O estudo da rea
in loco mostra que essas rochas correspondem a complexos carbonatticos de diferentes
caractersticas quando so comparados com os corpos do nordeste (Tangar) e do sudeste
(So Jos do Campestre), e que so compostos por paragnaisses, rochas ultramficas,
formaes ferrferas, e ocorrncias de rochas carbonatticas. As rochas ultramficas e
intermedirias que esto relacionadas corresponderiam piroxenitos, ou granada piroxnio
diorito, sobretudo de escapolita gabro, que poderiam estar dispostas em um complexo de
diques. Salientamos a importncia do estudo petrogrfico/textural feito em campo para
caracterizar os corpos carbonatticos.
Palavras-chave: Rochas Ultramficas; Rochas Carbonatticas; Formaes Ferrferas.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
136
CDIGO: ET0669
TTULO: Mapeamento e anlise dos sedimentos dunares nas proximidades da comunidade de
Maracaja, municpio de Maxaranguape, litoral oriental do Rio Grande do Norte
AUTOR: MARYANE CHRISTINA SILVA DAMASCENO FERREIRA
ORIENTADOR: RICARDO FARIAS DO AMARAL
Resumo:
A costa do nordeste rica em recursos naturais, dentre eles se destacam as dunas,
importante ecossistema fornecedor de servios ambientais, mas que sofre uma forte presso
da ocupao humana. Por isso, estudos prvios e aes que visem ampliar o conhecimento
sobre estes ecossistemas para a sua conservao so necessrios. Nesse contexto, se insere a
Comunidade de Maracaja pertencente ao municpio de Maxaranguape/RN, que possui como
principal atrativo turstico os parrachos, mas no continente possui campos de dunas que
precisam ser protegidos. Esse trabalho teve o objetivo analisar as diferenas granulomtricas e
composicionais entre sedimentos coletados nas reas interdunares das dunas mveis, nas
dunas fixas a na praia. Para isto foram feitas coletas georreferenciadas, anlises
granulomtricas e estudos em microscpio petrogrfico dos sedimentos. Os resultados
mostraram que nas bases das dunas mveis a cor vermelha est associada a presena do oxido
de ferro adsorvido nos gros, enquanto que nas dunas fixas a cor resultado de argila,
possivelmente da Formao Barreiras. Em relao aos sedimentos de praia e duna, o primeiro
apresentou uma granulao mais grosseira que o ltimo. A vegetao encontra-se alterada por
atividades como a agricultura e o extrativismo vegetal. Foram mapeados 22 lagoas perenes e
mais de 70 lagoas intermitentes; ainda dois riachos perenes e oito riachos intermitentes, que
desguam no mar. Ambos apresentam com principal forma de uso o recreativo.
Palavras-chave: Campo de dunas, Anlise sedimentar, mapeamento, Maracaja/RN
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
137
CDIGO: ET0671
TTULO: EVOLUO DA POPULAO IDOSA DA REGIO NORDESTE: ANLISE DA ESTRUTURA
ETRIA E DA MORTALIDADE
AUTOR: MAYARA MIRNA CARDOSO LISBOA
ORIENTADOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA
CO-AUTOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS
Resumo:
O principal objetivo deste trabalho estudar a tendncia de crescimento da populao
idosa da regio Nordeste e da evoluo da mortalidade, nas ltimas dcadas (1991, 2000 e
2010), realizando uma anlise demogrfica espacial dos dados. A fonte dos dados foi o Sistema
de Informaes sobre Mortalidade ? SIM/Datasus/Ministrio da Sade e Atlas Brasil 2013
((PNUD/IPEA/FJP, 2013). Os dados censitrios de 2010 mostraram que os grupos etrios jovens
(< de 25 anos) foram menores que o observado em 2000, mostrando que a proporo de
jovens diminuiu enquanto o de idosos aumentou. Analisando a concentrao de idosos nas UF
da regio Nordeste foi observado que o estado da Paraba aquele que mais concentra
pessoas idosas, 12,0% do total de habitantes da UF, seguido pelos estados do Rio Grande do
Norte 10,8%, Cear 10,8%, Piau 10,6%, Pernambuco 10,6% e Bahia 10,3%. Conclui-se que a
anlise espacial dos indicadores do envelhecimento mostram importantes tendncias e
destaques, assim como a anlise da mortalidade proporcional, segundo causas de morte, para
as grandes regies brasileiras, nos anos 1990, 2000 e 2010. Associaes dos indicadores de
longevidade com outros socioeconmicos revelam desigualdades sociais no processo de
envelhecimento da regio.
Palavras-chave: Mortalidade.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
138
CDIGO: ET0672
TTULO: Desenvolvimentos de Novos Materiais Avanados
AUTOR: RILAYNE INZ ALVES BEZERRA
ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES
CO-AUTOR: ARIADNE DE SOUSA SILVA
Resumo:
No sistema W-Cu, as partculas diferem em tamanho, forma e densidade. Manter uma
distribuio homognea de partculas distintas aps a mistura um problema comum
encontrado neste sistema de materiais particulados, que influencia na sinterabilidade do
material e conseqentemente nas propriedades do sinterizado. No sistema W-Cu, comear a
partir de ps muito pequenos uma boa alternativa para melhorar a sua densificao. As
propriedades dos compsitos sinterizados so determinadas pela microestrutura final do
material, que dependem no somente da natureza e qualidade dos ps-elementares, mas
tambm das tcnicas de processamento e mtodo de sinterizao. Temperaturas de
sinterizao relativamente mais baixas, comparadas sinterizao em forno resistivo, so
normalmente adequadas para produzir materiais uniformemente densos, a plasma. Neste
trabalho, ps-compsitos W-20%Cu obtidos atravs de moagem de alta energia, foram
prensados uniaxialmente a seco sob presses de 400 MPa. Essas amostras foram sinterizadas a
plasma em uma temperatura de 540C com isoterma de 5 minutos na atmosfera de
hidrognio, utilizando um ctodo oco planar que tem como funo o confinamento do plasma.
Anlises da microestrutura final das amostras sinterizadas mostram resultados significativos
quanto a homogeneidade e microdureza do material. Uma estrutura fina homognea foi
obtida.
Palavras-chave: Sistema W-Cu, ps-compsitos, sinterizao a plasma.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
139
CDIGO: ET0674
TTULO: Incorporao de compostos funcionais em clulas de levedura
AUTOR: ANDRSA EMANUELLE DE MORAIS SILVA
ORIENTADOR: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI
CO-AUTOR: AURELIANO SILVA DE MIRANDA
CO-AUTOR: ANTONIO DE ANCHIETA CAMARA JUNIOR
CO-AUTOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA
Resumo:
As leveduras so fungos unicelulares que possuem parede celular rgida e vacolo de
grandes dimenses. A levedura mais conhecida a do gnero Saccharomyces cerevisiae que
tem se destacado por sua facilidade de manuteno em laboratrio e o conhecimento
biolgico desenvolvido. A fisetina um flavonoide que ocorre naturalmente em frutas como o
morango e alguns vegetais. Devido aos variados efeitos biolgicos j comprovados, tais como
atividade antioxidante e anticarcinognica, os flavonoides tm atrado a ateno dos
pesquisadores nos ltimos anos. Porm, sua biodisponibilidade reduzida quando submetidos
s perturbaes fsico-qumica no meio circundante. A incorporao da fisetina dentro de
clulas de levedura (S. cerevisiae) uma estratgia promissora para proteger e melhorar a
absoro deste composto bioativo. O objetivo deste trabalho foi de avaliar a internalizao da
fisetina em clulas de levedura atravs do choque osmtico a 30MPa, a qual foi avaliada
atravs de microscopia confocal laser. Os resultados qualitativos mostraram que o choque
osmtico promoveu a incorporao instantnea da molcula de fisetina no interior da
levedura, comprovando que a relao tempo versus incorporao da molcula diretamente
proporcional, provavelmente devido ao seu baixo peso molecular.
Palavras-chave: Leveduras, Fisetina, Incorporao, Compostos Fenlicos.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
140
CDIGO: ET0679
TTULO: Obteno da goma de cajueiro para microencapsulao de vrus extracelulares
AUTOR: IURI SILVA DE ARAJO
ORIENTADOR: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI
CO-AUTOR: GRACIANA CLECIA DANTAS
CO-AUTOR: ANTNIO RICARDO ALENCAR REIS
CO-AUTOR: ANDREA FARIAS DE ALMEIDA
Resumo:
O uso de gomas naturais provenientes dos exsudatos e extratos de plantas tem
tomado grande impulso devido suas mltiplas e lucrativas possibilidades de industrializao. O
polissacardeo do cajueiro possui diversas vantagens, permitindo o seu uso em inmeras
aplicaes tecnolgicas. Este trabalho tem como objetivo obter a goma de cajueiro seguindo
os mtodos descritos por Torquato et al. (2004) e Gallo et al. (2005), com algumas
modificaes. A goma ser usada no processo de microencapusalo de vrus extracelulares do
biopesticida viral SfMNPV. A microencapsulao por spray dryer baseia-se na obteno de uma
matriz que retm o composto de interesse na sua estrutura. Este processo vem sendo usado
h dcadas em diversos processos industriais para a obteno de materiais desidratados na
forma de ps finos. O processo de relativo baixo custo, quando comparado liofilizao, e
apresenta diversas vantagens como alta produtividade e rapidez, aplicabilidade para produtos
termicamente sensveis, dentre outras. O vrus extracelular do baculovirus SfMNPV a ser
encapsulado foi misturado goma de cajueiro a uma concentrao de 20% e seco em duas
temperaturas: 110C e 130 C.
Palavras-chave: Biopesticida, Spodoptera frugiperda, goma de cajueiro, baculovirus.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
141
CDIGO: ET0680
TTULO: Definio de mtricas para avaliao do Data Lock-In
AUTOR: THIAGO CESAR ALVES DE SENA
ORIENTADOR: NELIO ALESSANDRO AZEVEDO CACHO
Resumo:
Pesquisa terico-aplicada que analisa a compatibilidade entre plataformas de nuvens
publicas e privadas. Essa busca de compatibilidade interessante uma vez que evita o Data
Lock-In e permite uma fcil insero dessas plataformas no mbito comercial. Para anlise,
propomos um processo genrico para avaliao do aprisionamento entre plataformas de
nuvem atravs de uma abordagem de teste de compatibilidade. Nesse caso, o teste ser
utilizado para avaliar se as interfaces fornecidas pelas plataformas de nuvem so compatveis
ou no com uma interface especfica. No entanto, foi desenvolvido trs etapas. A primeira
responsvel por analisar o comportamento de uma das plataformas, a segunda avalia a
interface fornecida pela plataforma B, e a terceira avalia se o comportamento da plataforma B
o mesmo da plataforma A para os mtodos avaliados. Nessa ltima etapa, o monitoramento
ir garantir se a ao solicitada pelo caso de teste foi realizada como esperado na plataforma
avaliada. Para isso, deve ser implementado um monitor para cada caso de teste que foi
executado com sucesso na fase anterior. Aps a execuo dos casos de teste e seus
respectivos monitores entre uma plataforma pblica (Amazon EC2) e trs privadas (OpenStack,
Eucalyptus, OpenNebula), os resultados obtidos mostram que, dos 113 mtodos avaliados na
OpenStack, 26 so compatveis e 87 no so; na Eucalyptus, 34 so compatveis e 79 no e na
OpenNebula, 10 so compatveis enquanto 103 no so.
Palavras-chave: computao em nuvem, compatibilidade, monitores.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
142
CDIGO: ET0683
TTULO: Desenvolvimento de Software para sistemas embarcados, navegao e superviso de
Veculo Areo Autnomo para Varredura e Coleta de Dados em reas de Misses Espaciais
AUTOR: JOO VICTOR ARAJO TAVARES
ORIENTADOR: PABLO JAVIER ALSINA
Resumo:
Solues de varredura e vigilncia de reas de difcil acesso como mar, rios e at
mesmo plantaes esto utilizando cada vez mais Veculos Areos No Tripulados (VANTs)
devido a sua portabilidade e fcil aquisio no mercado. Alm disso, esses sistemas
mecatrnicos possuem cmeras digitais capazes de realizar processamento da imagem
necessrio sua aplicao especfica. Neste contexto, o Centro de Lanamento da Barreira do
Inferno (CLBI) realiza regularmente misses espaciais suborbitais, em que so lanados
foguetes balsticos. Dentro dos procedimentos logsticos adotados necessrio realizar uma
verificao de presena de alvos indesejados na rea de impacto prevista, tais como barcos ou
jangadas. Esta rea de impacto funo das caractersticas de voo do foguete e da trajetria
balstica escolhida, que atualmente fiscalizada por uma aeronave convencional do tipo
Bandeirantes solicitada pelo Centro de Lanamento. Entretanto nesta soluo h questes de
custo de horas de vo e de disponibilidade, uma vez que uma cronologia de lanamento pode
se estender por muitos dias ou mesmo por muitas tentativas de lanamento num mesmo dia.
Dessa forma, este trabalho pretende avaliar a viabilidade de uma soluo baseada em um
VANT, visando reduzir custos e automatizar o processo. Dessa forma, este projeto visa
desenvolver um VANT capaz de voar autonomamente e realizar todo o processamento de
imagens para identificar barcos ou jangadas na rea de impacto do foguete.
Palavras-chave: Veculo Aereo No Tripulado; Processamento de Imagem.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
143
CDIGO: ET0687
TTULO: Subespaos de Krylov: GMRES ? Mtodo de Resduo Minimal Generalizado
AUTOR: JOSIMARA TATIANE DA SILVA
ORIENTADOR: JULIA VICTORIA TOLEDO BENAVIDES
Resumo:
O principal objetivo deste trabalho expor o Mtodo do Resduo Mnimo Generalizado
(GMRES) proposto por Saad e Schultz em 1986 com otimizao irrestrita. O GMRES um
mtodo iterativo usado para resolver sistema linear da forma Ax = b. Queremos minimizar o
vetor resduo r = b ? Ax para obtermos uma soluo aproximada para este sistema. O GMRES
um mtodo de projeo e pertence famlia dos subespaos de Krylov. Antes de discutirmos
sobre o GMRES, apresentaremos um algoritmo de projeo oblqua, algumas definies e
teoremas importantes sobre subespaos de Krylov. Veremos o motivo pelo qual uma matriz
que contm uma base para o espao de Krylov da forma K_k = (b Ab ... A_(j-1)b) no
adequada para a implementao numrica. Assim, precisaremos de um mtodo para o clculo
de uma base ortonormal para um subespao de Krylov. Usamos neste trabalho o mtodo de
Arnoldi utilizado pelo GMRES.
Por fim, estudamos o GMRES, GMRES(m), GMRES(m) pr-condicionado e
implementamos exemplos no Matlab.
Palavras-chave: Subespaos de Krylov, Mtodos numricos, Mtodos de projeo, GMRES.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
144
CDIGO: ET0691
TTULO: Desenvolvimento de Tcnicas de Planejamento e Controle de Robs Bpedes com
Aplicao em rtese Ativa dos Membros Inferirores
AUTOR: CHRISTIAN RAPHAEL FRANCELINO BARI
ORIENTADOR: PABLO JAVIER ALSINA
Resumo:
O processamento em tempo real de grande volume de dados sensoriais e de
complexos algoritmos de percepo, planejamento e controle de robs pelos seus sistemas
computacionais embarcados um desafio tcnico no trivial, exigindo a adoo de
arquiteturas de hardware e software distribudas. Dentro deste contexto, foram desenvolvidas
e implementadas tcnicas de percepo, planejamento e controle que sero embarcadas no
prottipo de uma rtese ativa. O sistema consiste de um computador, nele foi implementado
um software organizado em blocos hierrquicos, foram implementados e testados alguns
blocos, mas ainda existem outros a serem desenvolvidos. Este computador se comunica com a
placa de potncia de controle onde foram determinados ganhos adequados para o controlador
e configurada a placa visando integralizao do sistema, pois ela responsvel pelo
acionamento dos motores e leitura de sensores de posio. A alimentao do sistema feita
por uma fonte externa. Concludo o software, tem se como futuros metas embarc-lo em um
computador, o uso de baterias para maior independncia. Alm disso, houve um estudo de
esforos mecnicos para planejamento esttico, financeiro e funcional, a anlise de circuitos
eletrnicos que se adequariam melhor ao projeto e tambm o uso de outros sensores para
possibilitar transposio de obstculos.
Palavras-chave: rtese ativa, Sistema robtico Autnomos, Sensoriameto.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
145
CDIGO: ET0692
TTULO: Substncia que contm heterotomos como inibidor de corroso solubilizada em
Sistemas Microemulsionados.
AUTOR: JULIO CESAR ROLEMBERG MENACHO
ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA
Resumo:
O leo da Passiflora Edulis (OPE), obtido de suas sementes, possui caractersticas que
favorecem sua utilizao tanto na alimentao humana e animal, como tambm na indstria
de cosmticos, frmacos, sabes e outras. A saponificao do OPE viabiliza a obteno de um
sistema microemulsionado (SME) majoritariamente derivado da planta. A grande vantagem de
se utilizar SME com a presena de leos vegetais e tensoativos obtidos a partir de seu prprio
leo devido ao fato de ser biodegradvel e ter baixo custo. O objetivo maior deste trabalho
caracterizar o sistema microemulsionado para utilizar como inibidor de corroso. A obteno
do tensoativo partindo do leo da Passiflora Edulis teve um rendimento de 98%. O SME
composto por Passiflora Edulis saponificada (tensoativo), n-butanol (cotensoativo), leo da
Passiflora Edulis (Fase leo) e gua destilada (fase gua). Com a obteno do sistema escolheu-
se o ponto 30% de C/T (de razo 1,0), 60% de Fa e 10% de Fo. Este ponto foi caracterizado por
dimetro de partcula que apresentou um dimetro aproximadamente de 1,7 nm; tenso
superficial de 26,48 mN/n; viscosidade foi de 9,3 cP; resistncia a temperatura 100C e pH foi
de 8,74. Atravs das tcnicas de caracterizao foi possvel confirmar que, o sistema
microemulsionado a partir da Passiflora Edulis ser vivel e eficiente no processo de inibio
corroso.
Palavras-chave: Sistema Microemulsionado, Passiflora Edulis, Inibidor de Corroso.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
146
CDIGO: ET0715
TTULO: Anlise da escalabilidade paralela de mtodos de Runge-Kutta
AUTOR: EDUARDO ANDR NEVES
ORIENTADOR: SAMUEL XAVIER DE SOUZA
Resumo:
A necessidade de realizar processos mais rpidos sempre ir existir na computao.
Desde o incio da era computacional vem se tentando criar processadores cada vez mais
rpidos para suprir esta necessidade, porm existe uma barreira para a construo desses
processadores velozes que ainda no foi resolvida. Para contornar esse problema o foco do
desenvolvimento da arquitetura de computadores foi mudada, ao invs de ter um nico
processador super-rpido, temos agora vrios ncleos em um nico processador realizando
tarefas em paralelo, dando incio assim a era multicore.
As equaes diferenciais ordinrias (EDO?s) so uma tcnica que modela vrios
fenmeno fsicos, biolgicos, ecolgicos e muitos outros fenmenos naturais. As EDO?s so
integradas numericamente para simular o comportamento destes fenmenos ao longo do
tempo. Entre os algoritmos para resolver EDO?s est o mtodo de Runge-Kutta. Este mtodo
utiliza informaes da derivada de uma funo, aproximando o prximo passo ao instante
futuro da funo real, dessa forma simulando uma trajetria real.
Os mtodos de Runge-Kutta no foram implementados de modo a aproveitar o
processamento paralelo, dessa forma visada a implementao do mtodo para que ele
ocorra de forma concorrente e que a sua preciso no seja prejudicada. Sendo esta melhora
no tempo de simulao do mtodo de Runge-Kutta o objetivo principal do trabalho.
Palavras-chave: Runge-Kutta; Multicore; Computao Paralela; EDO's.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
147
CDIGO: ET0719
TTULO: Escalonamento de tarefas e tolerncia a falhas na execuo de aplicaes reais sobre
clusters multi-cores
AUTOR: BREVIK RAFAEL FERREIRA DA SILVA
ORIENTADOR: IDALMIS MILIAN SARDINA
Resumo:
Clusters multicores tem se tornado uma plataforma popular em computao paralela
ou de alto desempenho. Na lista publicada no Top500 de supercomputadores, a maioria das
mquinas representam arquiteturas de clusters com processadores multicores. Intuitivamente,
os processadores multicores podem dividir a carga de trabalho distribuindo as tarefas nos
diferentes cores ou ncleos de processamento com fim de diminuir o tempo de execuo final
da tarefa proposta. Um dos principais desafios da computao de alto desempenho executar
aplicaes paralelas de grande porte com maior desempenho e livre de falhas. Entretanto,
para obter melhores resultados primordial o aproveitamento eficiente dos recursos
disponveis, explorando por exemplo o uso das diferentes memrias compartilhadas e
distribudas em novas arquiteturas multicores. Este trabalho prope uma abordagem hbrida
para o escalonamento tolerante a falhas sobre clusters baseados em processadores
multicores. Um estudo de caso proposto para uma aplicao paralela modelada por um
Grafo Acclico Direcionado (GAD) usando programao paralela hbrida OpenMP e MPI. O
estudo proposto deve analisar as vantagens que este modelo pode trazer para estas
arquiteturas, comparado com a abordagem anterior.
Palavras-chave: computao paralela, programao hbrida, escalonamento, mpi, opemp.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
148
CDIGO: ET0726
TTULO: Teste e Aperfeioamento de Mtodos Computacionais para o Problema de
Roteamento e Agendamento de Viagens do PRAE ? Porta a Porta
AUTOR: LEANDRO ROCHINK COSTA
ORIENTADOR: CAROLINE THENNECY DE MEDEIROS ROCHA
Resumo:
O Programa de Acessibilidade Especial - Porta a Porta (PRAE) tem como objetivo
oferecer transporte s pessoas com mobilidade reduzida comprovada desde um ponto de
origem at o seu destino. Esses destinos so, na maioria dos casos, para hospitais, clinicas e
instituies de ensino. O agendamento dos usurios feito atravs de ligaes telefnicas.
Atualmente, toda a logstica das viagens feita de forma manual pelos funcionrios do PRAE.
Esse problema conhecido na literatura como dial-a-ride problem (DARP). Para desenvolver as
ferramentas de suporte a deciso foi adotada como base a Metaheurstica do tipo Variable
neighbourhood search (VNS) proposta por Parragh (2010). Para isso foi usada a linguagem de
programao C++. Como resultado foram alocados pelo algoritmo 18 pedidos (total de 66
solicitaes), enquanto o tcnicos do PRAE alocaram 11 pedidos (total de 26 solicitaes).
Palavras-chave: Heursticas, Dial-a-ride problem, Variable neighbourhood search.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
149
CDIGO: ET0730
TTULO: INFLUNCIA DA TCNICA DE DISPERSO NA SINTERIZAO DE PS COMPSITOS Mo-
Cu OBTIDOS A PARTIR DE PS HEPTAMOLIBDATO DE AMNIA E COBRE
AUTOR: RODOLFO ALBUQUERQUE BUARQUE DE ASSUNO
ORIENTADOR: FRANCINE ALVES DA COSTA
CO-AUTOR: RONYCLEI RAIMUNDO DA SILVA
CO-AUTOR: LEONARDO RESENDE
CO-AUTOR: UILAME UMBELINO GOMES
Resumo:
O Mo-Cu um material compsito onde a fase mole do cobre (Cu) reforada pela
fase dura do refratrio molibdnio (Mo). A alta resistncia ao desgaste do Mo aliada alta
condutividade trmica e eltrica do Cu faz do compsito Mo-Cu um excelente material para
contato eltrico e dissipador de calor usados em aplicaes eltricas e eletrnicas. A
metalurgia do p atravs da rota de preparao de p, prensagem e sinterizao com fase
lquida uma tcnica vivel para consolidao desse material. Todavia, a densificao desse
material dificultada pela insolubilidade de ambos Mo e Cu, bem como pelo alto ngulo de
contato do Cu lquido sobre o Mo. Neste trabalho, um p de Mo-25%Cu foi obtido a partir da
decomposio e reduo por hidrognio de um p de heptamolibdato de amnia (HMA)-
15,34% de cobre modo em moinho planetrio de alta energia. Durante a moagem, amostras
de ps foram coletadas aps 2, 10 e 15 horas e os ps foram modos at 20 horas. A
velocidade de moagem usada foi de 400 rpm e a razo em massa de p para bola foi de 1:5. O
recipiente e as bolas usadas so de metal duro e o ciclohexano foi usado como ambiente de
moagem. O p preparado foi decomposto e reduzido a 800 C por 30 minutos em um forno
tubular resistivo sob uma atmosfera de hidrognio passante. Ambos os ps modos e
reduzidos foram caracterizados atravs de DRX, MEV, MO, EDS.
Palavras-chave: Metalurgia do p; Compsito; Heptamolibdato de amnia e Cobre.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
150
CDIGO: ET0733
TTULO: Sistema de apoio deciso para o problema de roteamento e agendamento de
viagens do Programa de Acessibilidade Especial - Porta a Porta (PRAE).
AUTOR: THIAGO CORREIA PEREIRA
ORIENTADOR: CAROLINE THENNECY DE MEDEIROS ROCHA
Resumo:
O problema abordado nesse projeto foi o problema de agendamento de solicitaes
do Programa de Acessibilidade Especial - Porta a Porta (PRAE) do municpio de Natal, que
possui um dficit no atendimento s solicitaes, que so majoritariamente para fins mdicos.
O PRAE tem como objetivo oferecer transporte s pessoas com mobilidade reduzida desde um
ponto de origem at o seu destino. Esses destinos so, na maioria dos casos, hospitais e
clnicas para tratamentos de sade. Atualmente, toda a logstica das viagens feita de forma
manual pelos funcionrios do PRAE. Como ferramenta de suporte a deciso, desenvolveu-se
um sistema computacional composto por um ambiente web, integrado a uma base de dados
com informaes dos usurios e suas solicitaes bem como um mdulo otimizador
responsvel por fornecer uma soluo logstica para o problema. Como resultado, obteve-se
uma ferramenta para auxiliar a gesto e logstica do PRAE e otimizar o uso dos recursos
disponveis.
Palavras-chave: Metaheursticas, Dial-a-ride problem, Sistema de apoio deciso.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
151
CDIGO: ET0736
TTULO: ESTUDOS SOBRE CAMPOS EM ANTENAS CILNDRICAS E ESFRICAS
AUTOR: PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES
Resumo:
O presente relatrio apresenta o estudo feito ao determinar os campos
eletromagnticos para antenas cilndricas a partir do mtodo de linha de transmisso
transversa no sistema de coordenadas cilndricas para a sua aplicao na rea de lanamento
de foguetes em pesquisa aeroespacial e uso em militar no lanamento de msseis.
Palavras-chave: LTT, antenas cilndricas, mtodo dos momentos.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
152
CDIGO: ET0740
TTULO: Anlise de tipos de escoamentos com o auxlio da dinmica dos fluidos computacional
AUTOR: ALEXANDRE BARBOSA BRUNO
ORIENTADOR: ROBERTO CARLOS MORO FILHO
Resumo:
O estudo da mecnica dos fluidos possui grande importncia no entendimento e na
resoluo de diversos problemas de engenharia, por estar presente em inmeras situaes,
como: na circulao sangunea, no prprio movimento do ar ou mesmo no escoamento de
gases em uma tubulao. Porem, em sua maioria, tais problemas so difceis ou at mesmo
impossveis de serem resolvidos de maneira analtica, devido complexidade das contas
envolvidas. Tendo em vista essa situao, esse trabalho tem como objetivo a escolha de alguns
desses problemas, escoamento ao redor de um cilindro, escoamento entre placas planas e
escoamento em tubeira de foguete, para resoluo com o auxilio da tcnica de volumes
finitos, possibilitando que o aluno se familiarize com a aplicao de tal tcnica fundamental e
desenvolva um conhecimento ainda maior no ramo da mecnica dos fluidos.
Palavras-chave: Simulao Numrica, Mecnica dos Fluidos, Cilindro, tubeira.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
153
CDIGO: ET0744
TTULO: Medio de consumo energtico de uma rtese ativa para membros inferiores.
AUTOR: FLVIO PINHEIRO DA COSTA
ORIENTADOR: MARCIO VALERIO DE ARAUJO
CO-AUTOR: LENNEDY CAMPOS SOARES
Resumo:
A medio da corrente eltrica de dispositivos robticos bastante utilizada para
estimar o consumo energtico, portanto esse parmetro pode ser usado para melhorar a
eficincia, e no caso de dispositivos que usam baterias como fonte de energia, possvel
estimar a autonomia da bateria. Para medir a corrente eltrica foi desenvolvida uma placa
usando um microcontrolador e sensores de corrente e tenso eltrica. Os valores das
correntes medidas so enviados para um computador em tempo real para analise e
visualizao. Essa placa de aquisio de corrente tem como aplicao estimar o consumo
energtico de atuadores eltricos responsveis por acionar as juntas de uma rtese ativa para
membros inferiores durante uma marcha ou outro tipo de movimento. Este trabalho faz o
levantamento do valor da corrente eltrica em funo do ngulo da junta da rtese ativa e
posteriormente levanta o consumo energtico. A placa de medio apresentou resultados
satisfatrios, visto que a mesma capaz de fazer at oito medidas simultneas da variao da
corrente eltrica.
Palavras-chave: Medio da corrente, consumo energtico, eficincia, rtese ativa.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
154
CDIGO: ET0745
TTULO: Escalonamento de tarefas e tolerncia a falhas na execuo de aplicaes reais sobre
clusters multi-cores
AUTOR: LVIA DE MESQUITA TEIXEIRA
ORIENTADOR: IDALMIS MILIAN SARDINA
CO-AUTOR: WELISSON MOURA DOS SANTOS
Resumo:
Clusters multicores tem se tornado uma plataforma popular em computao paralela
ou de alto desempenho. Na lista publicada no Top500 de supercomputadores, a maioria das
mquinas representam arquiteturas de clusters com processadores multicores. Intuitivamente,
os processadores multicores podem dividir a carga de trabalho distribuindo as tarefas nos
diferentes cores ou ncleos de processamento com fim de diminuir o tempo de execuo final
da tarefa proposta. Um dos principais desafios da computao de alto desempenho executar
aplicaes paralelas de grande porte com maior desempenho e livre de falhas. Entretanto,
para obter melhores resultados primordial o aproveitamento eficiente dos recursos
disponveis, explorando, por exemplo, o uso das diferentes memrias compartilhadas e
distribudas em novas arquiteturas multicores. Este trabalho prope uma abordagem hbrida
para o escalonamento tolerante a falhas sobre clusters baseados em processadores
multicores. Um estudo de caso proposto para uma aplicao paralela modelada por um
Grafo Acclico Direcionado (GAD) usando programao paralela hbrida OpenMP e MPI. O
estudo proposto deve analisar as vantagens que este modelo pode trazer para estas
arquiteturas, comparado com a abordagem anterior.
Palavras-chave: computao paralela, programao hbrida, escalonamento, mpi, opemp.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
155
CDIGO: ET0756
TTULO: Estudo das propriedades tecnolgicas do aditivo bentonita sdica como extendedor
em pastas de cimento com baixa densidade
AUTOR: RAMN VICTOR ALVES RAMALHO
ORIENTADOR: MARCIANO FURUKAVA
CO-AUTOR: LENILTON VIDAL AGOSTINHO
CO-AUTOR: FABRCIO PEREIRA FEITOZA DA SILVA
CO-AUTOR: LUCAS THIAGO DANTAS
Resumo:
A cimentao garante a estabilidade mecnica do poo e o isolamento hidrulico entre
o tubo de revestimento e a formao.O aglomerante hidrulico mais utilizado para cimentao
de poos o cimento Portland. Para que a pasta de cimento atenda aos requisitos
estabelecidos para sua aplicao, em poos com baixo gradiente de fratura, necessria a
adio de aditivos extendedores para adequar suas propriedades e reduzir sua densidade.
Nesse trabalho foi observado o comportamento daspropriedades tecnolgicas do aditivo
extendedorbentonita sdica quando adicionados ao sistema cimentante. As pastas foram
formuladas fixando-se a densidade em 13,0 lb/gal. As concentraes das pastas contendo
bentonita sdica foram 1,0; 2,0; 3,0 e 4,0 % BWOC (byweightofcement). Para avaliar a atuao
e eficincia do aditivo nos sistemas de pasta de cimento, foram realizados ensaios reolgicos
temperatura ambiente, ensaios de estabilidade aps cura a 38 C (API RP 10B) e ensaios de
resistncia compresso (NBR 9831). Os resultados mostraram que a partir da concentrao
de 3% de bentonita, permitiu-se a produo de pastas estveis, apesar da alta razo
gua/cimento. Tambm se observou que o aumento da concentrao dos aditivos ocasionou
um acrscimo gradativo dos parmetros reolgicos. E por fim, atravs dos ensaios de
resistncia compresso foi possvel perceber que as pastas apresentaram um ganho de
resistncia mecnica.
Palavras-chave: Bentonita, Cimento Portland, Cimentao de poos de petrleo.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
156
CDIGO: ET0757
TTULO: Estudo fluidodinmico e cintica de secagem do leite de cabra em secador de leito de
jorro
AUTOR: CAIO ELLER PAZZINI
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS
CO-AUTOR: THAYSE NAIANNE PIRES DANTAS
CO-AUTOR: FRANCISCO ESCOLSTICO DE SOUZA JNIOR
CO-AUTOR: THIAGO MICELI COSTA RIBEIRO
Resumo:
O leito de jorro promove uma boa mistura gs-slido e elevada taxa de circulao de
partculas relativamente grandes em uma ampla faixa de distribuio de tamanho. Tem vrias
aplicaes como secagem de materiais granulares, de pastas e suspenses, recobrimento de
materiais, granulao de fertilizantes, entre outras. caracterizado por trs regies distintas:
anel, jorro e fonte. As regies distinguem-se entre si basicamente pelo tipo de movimento das
partculas slidas e porosidade. O movimento das partculas nas trs regies cclico e
graas a isso que o leito de jorro promove a boa mistura entre as fases gs e slido e possui
tantas aplicaes. Devido importncia do movimento do slido se faz necessrio o estudo do
comportamento fluidodinmico do leito visto que este limita s condies de processo,
principalmente quando envolve uma terceira fase, como a presena de uma pasta, lquido ou
suspenso. Nesta pesquisa estudou-se a distribuio do gs entre as regies da fonte e do anel
em um secador de leito de jorro utilizando partculas de polietileno de alta densidade. Avaliou-
se o efeito da adio de trs tipos de pastas (gua, leite de cabra reconstitudo e uma
suspenso de resduo de acerola) sobre as variveis fluidodinmicas do leito. Conforme os
resultados a adio das pastas promoveu aumento no dimetro do jorro, diminuio da taxa
de circulao de slidos e maior distribuio do gs na regio do jorro.
Palavras-chave: leite; secagem; fluidodinmica; leito de jorro.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
157
CDIGO: ET0758
TTULO: Cosmologia Relacional
AUTOR: ALEX CLESIO NUNES MARTINS
ORIENTADOR: LEO GOUVEA MEDEIROS
Resumo:
A Mecnica Relacional (MR) pode ser considerada como uma extenso da mecnica
Newtoniana em conjunto com a lei de gravitao universal. A mesma considera a interao da
matria local com a matria distante e com isso implementa o chamado princpio de Mach.
Contudo, a Mecnica Relacional usual parte do pressuposto que o universo esttico. Por
outro lado, dados observacionais indicam que o universo est em expanso. Assim, o objetivo
deste trabalho foi o de desenvolver a MR no contexto de um universo em expanso.
Mostramos que todos os sucessos da MR usual permanecem vlidos na MR de um universo
em expanso. Alem disso, estudamos alguns problemas clssicos como o pndulo simples e a
queda livre de um corpo e verificamos que os resultados so condizentes aos experimentos
realizados na Terra, se desprezarmos os efeitos de rotao terrestre.
Palavras-chave: Mecnica relacional; expanso do universo.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
158
CDIGO: ET0761
TTULO: Apoio ao Mapeamento geolgico/sedimentolgico e caracterizao geofsica da
Plataforma Continental
AUTOR: GIANKARLO ROCHA FREIRE FERNANDES DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: HELENICE VITAL
CO-AUTOR: MARY LUCIA DA SILVA NOGUEIRA
CO-AUTOR: JOSIBEL GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
Resumo:
Este trabalho visa apresentar o processamento utilizado em dados de ssmica de alta
resoluo, adquiridos na poro norte da Plataforma Continental do Estado do Rio Grande do
Norte, adjacente ao municpio de Areia Branca. Tendo por finalidade a produo de um fluxo
de processamento que corresponda de maneira eficaz identificao das sismo-fcies
presentes em cada dado. A escolha da rea de estudo se deu devido presena de um vale
inciso denominado vale inciso Apodi-Mossor a uma profundidade que varia entre 15m e 25m
na plataforma continental. A metodologia envolve conhecimentos acerca do software de
aquisio, softwares SIG(sistema de informao geogrfica) e softwares de processamento
assim como das operaes de processamento adequadas para este tipo de dado ssmico a fim
de auxiliar na interpretao dos dados, Gerando por fim, um fluxo de processamento que
propiciou identificar sismo-fcies de relevncia, para o mapeamento e caracterizao geofsica
da rea de estudo.
Palavras-chave: Processamento ssmico; alta resoluo; Plataforma Continental.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
159
CDIGO: ET0764
TTULO: METODOLOGIA EXPERIMENTAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ANTENAS DE
MICROFITA UTILIZANDO METAMATERIAIS
AUTOR: SAULO LOIOLA RGO
ORIENTADOR: CRISTHIANNE DE FATIMA LINHARES DE VASCONCELOS
CO-AUTOR: DANIEL RODRIGUES DE LUNA
Resumo:
Este trabalho apresenta uma investigao dos parmetros da antena patch de
microfita com substratos e superestratos utilizando metamateriais. O comportamento dos
metamateriais obtido atravs do uso do split-ring resonators (SRR) impressos em um
substrato dieltrico e complementary split-ring resonators (CSRR) tambm impresso numa
superfcie metlica (como o plano de terra). O efeito da frequncia de ressonncia, perda de
retorno e largura de estrutura metamaterial so investigadas. Simulaes foram feitas usando
Ansoft HFSS software atrves dos mtodos dos elementos finitos (FEM). Os prtotipos foram
construdos e medidos gerando uma boa concordncia entre simulao e medio.
As novas antenas de microfita com metasubstratos (MAMs) tem sido projetadas
devido a sua capacidade de minituarizao. Uma abordagem efetiva no projeto de MAMs
empregar metamateriais anasitrpicos homogneos como substratos no projeto de patch
antenas. As abordagens analticas so usadas para extrair a permissividade eltrica efetiva (eff)
e permeabilidade magntica (ueff) baseadas nos metaresonators tais como SRR e CSRR.
Obetivamos com este trabalho investigar a perfomance da geometria da antena de uma
antena de microfita patch (o plano de terra impresso com um arranjo de CSRR) com um
superestrato (com outro arranjo de superestrato). A geometria da antena usada no
desenvolvimento das antenas microfitas com patch retangular e circular (com e sem
superestrato).
Palavras-chave: Ansoft HFSS; Antena de microfita; Metasubstrato; split-ring resonators.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
160
CDIGO: ET0765
TTULO: Desenvolvimento de meios metamateriais
AUTOR: GABRIELA MARIA FIGUEIRDO DE FREITAS
ORIENTADOR: CRISTHIANNE DE FATIMA LINHARES DE VASCONCELOS
CO-AUTOR: KAIO MRCIO DA COSTA BANDEIRA
Resumo:
Na dcada de 1960, surgiu uma cogitao a respeito de materiais que tivessem
propriedades incomuns como o ndice de refrao negativo ou propagao de onda em meios
left handed. Tardou-se mais de 30 anos at que um grupo de pesquisadores conseguiu fabricar
em laboratrio esse material, nomenado-o de Metamaterial. Na sntese destes somente sua
estrutura fsica alterada, podendo ser construdos a partir de materiais comuns dieltricos,
condutores ou combinado esses. Essas propiedades se consegue apartir de arranjos feitos
utilizando Split ring resonator (SRR). Assim, quando uma onda eletromagntica com frequncia
prxima a frequncia de ressonncia dos SRR?s incide sobre o mesmo, a estrutura torna-se
magneticamente negativa.
Hoje h diversas aplicaes de antenas, tais como: celulares, tablets, satlites, avies,
automveis, VANT (drones), entre outros. Contudo, com as exigncias da modernizao
necessita-se cada vez mais de antenas pequenas com o intuito de miniaturizar e de
economizar energia. Uma forma de se obter isso seria utilizar a mesma antena para vrios
tipos de servios em um mesmo dispositivo. Com o uso de metamaterial servindo de substrato
para essas antenas possvel faz-la ressonar em at trs faixas de frequncia diferentes, isso
foi provado com estudos e snteses feitos pela nossa base de pesquisa. Outros efeitos que o
uso do metamaterial pode trazer ao ser aplicado s antenas o de aumento da largura de
banda, melhora do desempenho, entre outros.
Palavras-chave: Miniaturizao; Metamaterial; Multiplas Faixas de Frequencias; SRR.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
161
CDIGO: ET0766
TTULO: Estudo da formao de estruturas em grande escala sob influncia de energia escura.
AUTOR: MANOEL FELLIPE MACIEL COSTA
ORIENTADOR: RONALDO CARLOTTO BATISTA
Resumo:
Atravs de observaes sabemos que o universo est em expanso acelerada e essa
acelerao devido a uma energia desconhecida, chamada de energia escura. Para tal energia,
a maior candidata a Constante Cosmolgica de Einstein. Simulaes feitas em
supercomputadores e observaes de colises de aglomerados de galxias e curvas de rotao
de galxias elpticas favorecem um cenrio em que galxias e aglomerados de galxias so
formados em meio a halos de matria escura fria. Estudar as propriedades desses halos de
matria escura fria na presena de energia escura , ento, de fundamental importncia. Para
isso, consideramos o halo de matria escura como um modelo de fluido perfeito que est em
equilbrio hidrosttico e utilizamos o perfil de densidade de Navarro-Frenk-White (NFW) para
obtermos a presso do halo. Atravs desse modelo, e modificando as equaes da Esfera de
Navarro-Frenk-White adicionando os termos de energia escura nas equaes, podemos
estudar o comportamento da presso do halo de matria escura e como esses modelos de
energia escura modificam a massa do halo.
Palavras-chave: Cosmologia; Energia escura; Aglomerados de galxias.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
162
CDIGO: ET0785
TTULO: Apoio ao mapeamento e Caracterizao dos recifes de coral e de arenitos submersos
da Plataforma Continental Jurdica Brasileira
AUTOR: VANESSA COSTA FONTES
ORIENTADOR: HELENICE VITAL
CO-AUTOR: MIGUEL EVELIM PENHA BORGES
Resumo:
O conhecimento do fundo marinho essencial para o planejamento e resoluo de
conflitos e gesto do ambiente costeiro. Deste modo fundamental se atingir um nvel de
conhecimento deste fundo equiparvel s informaes disponveis para a rea costeira
emersa, permitindo a integrao entre a representao dos ambientes continentais e
marinhos e seu manejo integrado. Visando atingir este objetivo foram realizadas atividades de
campo em duas reas selecionadas: Vale-inciso Apodi-Mossor (Plataforma Setentrional do
RN) e Enseada de Ponta Negra (Plataforma Oriental do RN). Foram utilizados equipamentos
hidroacsticos e coleta de sedimentos de fundo, a fim de se mapear o fundo do mar.
Procedimentos de processamento de dados e tratamento de amostras foram realizados
posteriormente em laboratrio. A coleta de sedimentos e sua anlise em laboratrio
permitiram elaborar um mapeamento faciolgico, identificando a composio mineralgica
(bioclstico/siliciclstico) e granulomtrica dos sedimentos para as duas reas de estudo. Os
resultados indicam que enquanto na plataforma setentrional a plataforma interna bem
marcada por sedimentos siliciclsticos e a externa por bioclsticos, na plataforma oriental essa
diferenciao no to marcante.
Palavras-chave: fundo marinho, Vale-inciso Apodi-Mossor, Enseada de Ponta Negra.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
163
CDIGO: ET1370
TTULO: TUBOS QUASIPERIDICOS DE CANTOR.
AUTOR: PAULA COSTA DO VALLE GONDIM
ORIENTADOR: PAULO DANTAS SESION JUNIOR
Resumo:
Um dos maiores desafios no meio industrial na busca por eficincia energtica a
isolao trmica, o que remete ao transporte de fluidos em tubulaes, onde busca-se
materiais cada vez mais baratos e com maior capacidade isolante. Nesse contexto, esta
pesquisa consistiu na modelagem matemtica e simulao numrica de um modelo de
tubulao baseado na srie matemtica de Cantor, que utiliza dois materiais: o vidro celular,
material comum na indstria, e a fibra de sisal, material de baixo custo e facilmente
encontrado na regio do Rio Grande do Norte. A relevncia deste trabalho est em avaliar e
possibilitar o barateamento e aumento da eficincia trmica de tubos isolantes para uso
industrial.
Palavras-chave: Termofluidodinmica; Isolamento trmico; Tubulaes; Fibra de sisal.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
164
CDIGO: ET1373
TTULO: Desenvolvimento de algoritmos de otimizao para localizao de mdulos de carga e
distribuio
AUTOR: RODRIGO ALVES RANDEL
ORIENTADOR: DANIEL ALOISE
Resumo:
Este trabalho tem como finalidade mostrar a resoluo de um problema de
distribuio logstica de carga atravs de um algoritmo que utiliza mtodos heursticos para
encontrar a sua soluo. O problema abordado tem carter multinvel, mais especificamente
com dois nveis, e foi dividido em duas partes:
(i) escolha dos depsitos que seriam abertos no primeiro nvel;
(ii) escolha de satlites, intermedirios na entrega, que estaro abertos no segundo nvel.
O objetivo do problema encontrar os locais onde devem ser abertos depsitos e
satlites a fim de minimizar o custo total de distribuio, composto pelos custos fixos dos
locais abertos e dos custos de transporte das cargas pelas rotas. Foi utilizada a construo de
uma heurstica construtiva, que junto a um algoritmo de fluxo a custo mnimo encontrado na
literatura, oferece uma primeira soluo para o problema.
Palavras-chave: Logstica; Distribuio; Heurstica; Otimizao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
165
CDIGO: ET1375
TTULO: Elaborao de um modelo preliminar de geometria do Aqfero Barreiras e zona no
saturada adjacente a partir de um banco de dados hidrogeofsicos do litoral leste do Rio
Grande do Norte.
AUTOR: ALEXANDRE RICHARDSON OLIVEIRA MONTEIRO
ORIENTADOR: LEANDSON ROBERTO FERNANDES DE LUCENA
Resumo:
O presente projeto compreende os estudos referentes ao Aqufero Barreiras, no qual
est localizado no litoral oriental do Rio Grande do Norte. Esse aqufero est associado com a
Formao Barreiras de idade cenozica, na qual compreende litologicamente por rochas
sedimentares desde argilitos at arenitos conglomerticos, capeados por uma variedade de
sedimentos quaternrios. O Aqufero Barreiras considerado o principal manancial hdrico da
bacia sedimentar costeira, pois alm de abranger todo o litoral leste potiguar, abastece a
maioria das cidades da faixa leste do Rio Grande do Norte (cerca de 80%), incluindo a capital,
Natal. Para o desenvolvimento do projeto, foram utilizadas sondagens geoeltricas e
informaes de poos disponveis de forma a igualmente alimentar um banco de dados
hidrogeofsicos referente a tal rea. A consolidao desse banco de dados viabilizou a criao
de um modelo hidrogeolgico, mostrando as zonas saturadas e no saturadas do Aqufero
Barreiras. Tal modelo ir auxiliar na avaliao da vulnerabilidade natural e potencialidades
hidrogeolgicas deste manancial, alm de vrias outras atividades e pesquisas, tais como: a
locao de poos tanto para abastecimentos de comunidades pblicas e rurais quanto para
irrigao; identificao de reas mais susceptveis contaminao; controle de ocupao de
reas mais sensveis contaminao.
Palavras-chave: Aqufero Barreiras; Litoral leste do Rio Grande do Norte.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
166
CDIGO: ET1378
TTULO: Continuao de Estudos de Antenas Planares e Cilndricas em Anel
AUTOR: PAULO RAMON OLIVEIRA DE LIMA
ORIENTADOR: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES
CO-AUTOR: ANDR HYAGO XAVIER DA COSTA
Resumo:
Recentemente as antenas planares tem despertado interesses devido as suas
caractersticas e vantagens que oferecem quando comparadas com os demais tipos de
antenas.
Na rea de comunicaes mveis a necessidade de antenas planares e cilndricas faz
com que estas sejam cada vez mais utilizadas. Devido ao intenso desenvolvimento desta rea
se faz necessrias antenas que operem em multifrequncias e em banda larga. As antenas de
microfita apresentam largura de banda estreita devido s perdas no dieltrico geradas pela
irradiao. Outra limitao a degradao do diagrama de irradiao devido gerao de
ondas de superfcies no substrato. Algumas tcnicas esto sendo desenvolvidas para minimizar
esta limitao da banda, como o caso do estudo de materiais do tipo PBG (Photonic Band
Gap) para compor o material dieltrico.
O tema deste trabalho de pesquisa o estudo e desenvolvimento de antenas
retangulares e cilndricas com material fotnico PBG atravs do mtodo LTT ? Linha de
Transmisso Transversa, no domnio da transformada de Fourier.
A anlise desenvolvida utiliza um componente de propagao na direo r, radial
(transversa a direo z), tratando assim as equaes gerais dos campos eltricos e magnticos
em funo dos vetores campo magntico e campo eltrico na direo r. So usados substratos
isotrpicos, semicondutores e PBG e os resultados so comparados com os apresentados na
literatura e os resultados simulados.
Palavras-chave: Mtodos numricos, Mtodo LTT, Fotnica, Material PBG, Microfita.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
167
CDIGO: ET1380
TTULO: Concepo de Recursos Didticos Baseados na Plataforma Kinect para Apoiar o Ensino
das Disciplinas de (Prtica de) Algoritmos e Estruturas de Dados I
AUTOR: PHELLIPE ALBERT CAVALCANTE DAS NEVES VOLKMER MEDEIROS
ORIENTADOR: LEONARDO CUNHA DE MIRANDA
Resumo:
A partir da segunda metade da IC, ou seja, desde o envio do relatrio parcial de IC, as
atividades realizadas em relao a IC concentraram-se na codificao da ferramenta
computacional e na discusso entre os membros do projeto da melhor organizao de suas
funcionalidades e layout.
Palavras-chave: RELATRIO FINAL DE INICIAO CIENTFICA.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
168
CDIGO: ET1391
TTULO: Construo e Validao de Modelos Multivariados aplicados aos frmacos produzidos
pelo NUPLAM-UFRN
AUTOR: JBINE TALITTA NUNES NICCIO
ORIENTADOR: KASSIO MICHELL GOMES DE LIMA
Resumo:
O trabalho utilizou a espectroscopia NIR e calibrao multivariada para determinar o perfil de
dissoluo de quatro princpios ativos (isoniazida, rifampicina, etambutol, pirazinamida), em
comprimidos antituberculostticos, produzidos pela UFRN. Os mtodos analticos utilizados
convencionalmente em controle de qualidade de medicamentos so o teste de dissoluo e a
cromatografia lquida de alta eficincia (CLAE). Estes mtodos so lentos,
destrutivos, invasivos e apresentam um alto custo de operao. Espectros NIR de reflectncia
difusa (medidos em triplicata, com mdia de 50 varreduras) de 38 amostras foram medidos
com um espectrofotmetro FT-NIR Bomem MB 160 na faixa 800-2500 nm. O teste de
dissoluo foi realizado em 900 mL de cido clordrico 0,1 N sob 37 0,5C, 45 min, em pH 6,8.
A medio dos frmacos foi realizada por HPLC (Shimadzu - Japo) e um sistema isocrtico LC-
20AT, SPD-m20A, detector de absorbncia duplo, amostrador automtico SIL-20A. A influncia
de vrios pr-tratamentos espectrais (suavizao Savitzky Golay, MSC, D1, D2) e mtodos de
regresso (PLS1 e PLS2, calculados usando Unscrambler 9.1) sob erros de predio so
comparados. O R para os perfis de dissoluo de equipamentos laboratoriais versus os valores
preditos (NIR) variaram de 0,88 a 0,98. Erros de previso (RMSEP) utilizando modelos PLS2
variaram entre 8,57 e 9,99, indicando que o mtodo NIR uma ferramenta alternativa e no-
destrutiva para medies da dissoluo de frmacos em comprimidos.
Palavras-chave: NIR; FRMACOS; PLS; CALIBRAO MULTIVARIADA; QUIMIOMETRIA
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
169
CDIGO: ET1399
TTULO: Resposta linear de sistemas isotrpicos sob campos estticos
AUTOR: DIEGO FELIPE MEDEIROS DA CMARA
ORIENTADOR: TARCIRO NORTARSON CHAVES MENDES
Resumo:
O projeto consiste na realizao de estudo semiclssico, via modelo de Lorentz, das
propriedades eletromagnticas de meios lineares sob campos magnticos estticos,
especialmente no que se refere s propriedades ticas de disperso e propagao da luz. O
campo magntico esttico usado para induzir uma anisotropia tica em um meio
originalmente isotrpico, introduzindo eixos principais de propagao de radiao e simulando
o comportamento de materias naturalmente anisotrpicos.
Palavras-chave: Refrao, Eletrodinmica, Anisotrpia.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
170
CDIGO: ET1407
TTULO: Desenvolver algoritmos para identificar perda de calibrao em ventiladores
mecnicos para pacientes com Esclerose Lateral Amiotrfica
AUTOR: PABLO HOLANDA CARDOSO
ORIENTADOR: RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM
Resumo:
O cuidado em assistncia domiciliar uma realidade para os pacientes com ELA. No
entanto, um paciente pode necessitar de cuidados e monitoramento constante, desgastando o
cuidador. Problemas deste tipo podem ser minimizados atravs de sistemas ubquios, uma vez
que podem monitorar ininterruptamente o paciente e com isso comunicar ao corpo mdico
responsvel sobre as manifestaes clnicas do mesmo. Visando isto, o presente trabalho tem
como objetivo desenvolver um sistema de monitoramento de assistncia domiciliar voltado
para pacientes com ELA.
Palavras-chave: ELA; viso computacional; sistema embarcado; lgica Fuzzy.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
171
CDIGO: ET1413
TTULO: Viabilidade de Prototipagem e Construo do Veculo Areo
AUTOR: DENIS ALEXANDRE DE RUBIM COSTA NEGCIO
ORIENTADOR: LUCIANA DE FIGUEIREDO LOPES LUCENA
Resumo:
O projeto teve como objetivo analisar e definir a metodologia de desenvolvimento de
um Veculo Areo No Tripulado (VANT), mais precisamente, o do N-VANT. Alm de definir os
fatores de influncia e analisar a viabilidade econmica do projeto. A motivao deste estudo
se deve ao fato de que uma empresa ou centro de pesquisa que possua tecnologias ?prontas?
para serem comercializadas ou licenciadas, deve lanar mo da valorao como recurso de
auxlio definio da viabilidade ou precificao dos produtos. Foi realizado inicialmente um
levantamento de mtodos utilizados na fabricao de VANT?S pelo Brasil com o objetivo de
definir a metodologia do projeto. A partir da aplicao das metodologias de viabilidade
econmica observou-se que os resultados demonstraram a inviabilidade do prottipo. Sendo
assim, a introduo deste no mercado no seria interessante, mas sendo de grande interesse o
seu estudo cientfico e utilizao como arma da Defesa Nacional.
Palavras-chave: Viabilidade Econmica, Veculo Areo No Tripulado, Economia.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
172
CDIGO: ET1415
TTULO: ESTUDO DOS MECANISMOS NANOTRIBOLOGICOS EM MATERIAIS DE AO E
POLIMERICOS COM UTILIZAO DE TENSOATIVO.
AUTOR: MOISS ALEX FERREIRA DA COSTA NEIVERT
ORIENTADOR: EFRAIN PANTALEON MATAMOROS
Resumo:
Os sistemas de superfcies planas polimricas sob ao de uma fora compressiva
apresentam diversas caractersticas que comprometem sua aplicao na vedao e separao
de materiais em processos mecnicos. Dentre elas, destacam-se o deslizamento das esferas
metlicas que gera um aumento vibracional do sistema e compromete o seu funcionamento; o
aumento da temperatura causado pelo polmero de vedao e, a contaminao do sistema no
meio salino, gua, petrleo, diversos leos e lubrificante. Nesse trabalho, foi realizado um
estudo triboqumico da borracha acrilonitrila - butadieno - NBR cuja anlise de DRX apresentou
regies amorfas e cristalinas caracterizando a borracha e a carga empregada no composto. A
aplicao de solues de tensoativos na borracha permite diminuir a tenso superficial entre
borracha e o objeto. Essa tenso foi medida atravs de um tensimetro visando melhor
escolher a substncia tensoativa orientado pela literatura que favorea a superfcie de forma
que ela permanea quase inalterada na borracha e de boa molhabilidade no metal. O objetivo
deste trabalho foi utilizar um tensoativo visando formar um filme protetor sobre a NBR que
diminua o comprometimento desse material quando submetido a foras compressivas.
Realizaram-se anlises tribolgicas de temperatura e vibrao e foi constatado que a soluo
de tensoativo com uma taxa de concentrao alfa, variando de 2% a 100%, juntamente com a
NBR obteve uma diminuio do desgaste, temperatura e vibrao.
Palavras-chave: Tensoativos, Tribologia, Tenso Superficial, Lubrificantes.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
173
CDIGO: ET1418
TTULO: 3D Muse - Um aplicativo de gerao automatizada de galerias de arte 3D
AUTOR: ANDOUGLAS GONALVES DA SILVA JNIOR
ORIENTADOR: RUMMENIGGE RUDSON DANTAS
Resumo:
Este trabalho descreve a construo de um sistema de aquisio e manipulao de
fotos, que sero utilizadas para construo de imagens de museus virtuais em um modelo
panormico. O sistema adquire fotos a partir de smarthphone e as envia para um desktop que
inicia o pedido para aquisio das fotos no smarthphone. As fotos so processadas no desktop
e montadas em formato panormico e enviadas para o servidor Web do museu que est sendo
virtualizado.
Palavras-chave: museus virtuais, panormicas, android.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
174
CDIGO: ET1419
TTULO: Sistema Mvel para Monitoramento de Pacientes com Esclerose Lateral Amiotrfica
AUTOR: MARCEL DA CMARA RIBEIRO DANTAS
ORIENTADOR: RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM
Resumo:
A Esclerose Lateral Amiotrfica (ELA) uma doena neurodegenerativa, caracterizada
por fraqueza muscular progressiva que leva o paciente ao bito, usualmente devido a
complicaes respiratrias. A degenerao dos neurnios motores inferiores e superiores,
atingindo a medula espinhal, o tronco enceflico e o crtex motor resultam na definio da
ELA como doena do neurnio motor. No momento que os msculos ventilatrios so
comprometidos os indivduos apresentam restries pulmonares, caracterizadas por reduo
da Capacidade Vital (CV) e do Volume Corrente (VC) com, conseqente, insuficincia
respiratria crnica. A Ventilao No-Invasiva (VNI) consta na administrao de ventilao
mecnica aos pulmes sem que haja a necessidade de vias areas artificiais, podendo ser
oferecida ao paciente por meio de ventiladores mecnicos ou atravs de aparelhos
denominados Presso Positiva Bifsica nas Vias Areas (Bilevel). Todavia os dispositivos que
realizam a ventilao mecnica ao longo do tempo podem perder calibrao, ou precisar de
ajustes, neste sentido prejudicando a melhoria da qualidade de vida dos pacientes acometidos
com a ELA. O ELA Home Care surge como uma soluo para garantir acompanhamento do
paciente por toda a equipe de sade remotamente em tempo real, fazendo a transferncia de
informaes automaticamente de modo a garantir um acompanhamento efetivo.
Palavras-chave: Monitoramento Remoto, ELA, Sistemas Embarcados, Computao Mvel.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
175
CDIGO: ET1421
TTULO: Levantamento e anlise das empresas filhas da UFRN Centro de Biocincias
AUTOR: RODRIGO NASCIMENTO DE SOUZA
ORIENTADOR: EFRAIN PANTALEON MATAMOROS
Resumo:
Na Sociedade do Conhecimento em que vivemos a economia gira em torno do capital
intelectual e das criaes deste ? em especial as criaes tecnolgicas, que tm um alto valor
agregado. Tendo isso como pressuposto, surge a questo: como transformar conhecimento
em riqueza scioeconmica? Nessa direo, os projetos ?Levantamento e anlise da
infraestrutura laboratorial da UFRN? e ?Levantamento e anlise das empresas filhas da UFRN?
se complementam e visam compilar elementos para a poltica de inovao da universidade.
Nesse sentido, os projetos tm o objetivo de alimentar ainda mais a discusso sobre inovao
com o intuito de fazer com que o Rio Grande do Norte fortalea sua poltica cientfica e
tecnolgica ? o que causar um benefcio direto para a economia do Estado e para a vida das
pessoas que nele vivem ? e para a criao de uma cultura de inovao tanto na universidade
quanto no Estado.
Nosso trabalho teve foco na identificao de potencialidades e gargalos no mbito da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo isso em vista, realizamos uma pesquisa
parcial sobre os laboratrios que trabalham com Energias Renovveis e realizamos o 2 Frum
de Desenvolvimento e Empreendedorismo: UFRN Semeando Inovao, alm do I TESI (I
Encontro de Tecnologias Sociais e Inovao), onde trabalhamos com a Inovao de uma forma
mais ampla, abrangindo a rea social.
Palavras-chave: Inovao; Empreendedorismo; Incubao de Empresas.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
176
CDIGO: ET1428
TTULO: Sntese de Filmes Zeolticos
AUTOR: BRENA DINIZ CARDOSO
ORIENTADOR: SIBELE BERENICE CASTELLA PERGHER
Resumo:
O projeto intitulado ?Sntese e Caracterizao de Materiais Hbridos Micro e
Mesoporosos? um projeto que engloba vrias aes do laboratrio de Peneiras Moleculares
(LABPEMOL) da UFRN. Este projeto de pesquisa cientfica e de inovao na rea de
nanotecnologia e microscopia eletrnica. Para a execuo do projeto contamos com a
infraestrutura do CETENE, principalmente a Microscopia Eletrnica de Transmisso e
Varredura. Dentro deste projeto uma das aes a ?Sntese de Filmes Zeolticos? que trata da
sntese de filmes zeolticos sobre membranas cermicas para serem aplicadas a processos de
separao.
Palavras-chave: Materiais hbridos miro e mesoporosos; zelita A; membranas.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
177
CDIGO: ET1430
TTULO: Estudo de Modelos Computacionais Baseados em Conhecimento de Reconhecimento
de Face
AUTOR: DANIEL FASANARO DE CARVALHO
ORIENTADOR: JOSE JOSEMAR DE OLIVEIRA JUNIOR
Resumo:
Os sistemas biomtricos esto sendo utilizados em larga escala dentro de ambientes
comerciais e industriais com diversos fins. Dentre as diversas possibilidades de caractersticas
fsicas que podem ser utilizadas no desenvolvimento dos mesmos, temos um crescente
nmero de trabalhos que utilizam o reconhecimento da face. Deste modo, foram
implementados programas que possuem funes bsicas para processamentos de imagens e
que sero utilizados no desenvolvimento do programa principal do sistema, que ser capaz de
realizar a autenticao de usurios com base no reconhecimento da face.
Palavras-chave: reconhecimento de padres, biometria, viso computacional.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
178
CDIGO: ET1431
TTULO: DESENVOLVIMENTO DE DESENHO DE PROCESSOS E PRODUTOS RESULTANTES DA
ADIO DE PS ALIMENTCIOS OBTIDOS DE RESDUOS DE FRUTAS TROPICAIS E BIOAROMAS
DOS RESDUOS DE CAMARO NA FABRICAO DE MERENDA ESCOLAR.
AUTOR: JANAINA SANTOS DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIR SELVAM
Resumo:
A falta de hbito de aproveitamento integral dos alimentos est, muitas vezes,
relacionado ao desconhecimento do valor nutricional das diversas partes dos alimentos e a
ndices altos de desperdcio destes alimentos. A presente pesquisa tem o objetivo de
desenvolvimento e desenho de processos, produtos e rotas tecnolgicas de baixo
investimento para o aproveitamento de casca de banana, abacaxi e maracuj para serem
utilizados na merenda escolar. Os resultados mostraram a viabilidade econmica da aquisio
de miniempresas para produtos formulados a partir do aproveitamento integral de partes do
alimento proporcionando um produto final com melhores benefcios nutricionais na merenda
escolar. Esta pesquisa ainda mostrou a interessante composio do albedo de maracuj,
principalmente, quanto ao contedo de fibras, assim como a viabilidade de elaborao de
produtos obtidos a partir das cascas de diversas frutas tropicais com o intuito do
aproveitamento integral do alimento e melhoramento do valor e qualidade nutricional do
produto final.
Palavras-chave: aproveitamento, maracuj, cascas, produtos formulados.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
179
CDIGO: ET1433
TTULO: Levantamento e anlise das empresas filhas da UFRN
AUTOR: LVIO CSAR DE LIMA CALDAS
ORIENTADOR: EFRAIN PANTALEON MATAMOROS
Resumo:
A pesquisa uma ao conjunta entre os diversos agentes de inovao
(agi.orgfree.com), vinculados ao NIT, e que visam ser o elo principal entre a universidade, o
governo e o setor produtivo. atravs da prospeco das empresas filhas da UFRN e
juntamente com a anlise de informao cientfico-tecnolgica do potencial estratgico da
universidade que se pretende promover o crescimento e desenvolvimento sustentvel da
regio. Inserido na pesquisa, existem diversas aes de ensino e extenso que geram frutos. O
principal fruto dessa pesquisa o frum de desenvolvimento e empreendedorismo: UFRN
semeando inovao. O frum pretende criar uma nova cultura nos investimentos em
pesquisas focando a interao entre investidores, pesquisadores e empresrios tecnolgicos.
O objetivo geral do frum viabilizar que os produtos, frutos de pesquisas e de empresas
filhas da UFRN, se tornem inovaes tecnolgicas. Juntamente com o NATA-IMD, a pesquisa
auxilia e d suporte a incubao e empreendedorismo, estimulando as empresas a interagirem
com a universidade, ensinando como valorar seus produtos atravs de consultoria em:
propriedade intelectual; transferncia de tecnologia; extensionismo para competitividade a
partir dos processos de avaliao da conformidade, metrologia, normalizao e
regulamentao tcnica. A expectativa que a sinergia entre AGI, NIT e NATA possa evoluir
para a criao da Agncia UFRN de Inovao.
Palavras-chave: Inovao, Empreendedorismo, Incubao, Empresas Filhas.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
180
CDIGO: ET1434
TTULO: INFLEUNCIA DA COMPOSIO E DA ESTRUTURA TXTIL NAS PROPRIEDADES DE
IMPACTO DE COMPSITOS POLISTER
AUTOR: JULIO CESAR FERNANDES FONSECA
ORIENTADOR: VIVIANE MUNIZ FONSECA
Resumo:
Os materiais denominados como txteis tcnicos podem ser definidos como estruturas
especificamente projetadas e desenvolvidas para utilizao em produtos, processos ou
servios em diversos setores industriais, tendo como objetivo o seu desenvolvimento de forma
a satisfazer requisitos funcionais bem determinados, distinguindo-se, nesse aspecto, dos
materiais txteis convencionais, nos quais as necessidades estticas e de conforto assumem
importncia primordial.
Para cada tipo de tecnologia txtil existe um elevado nmero de estruturas passveis
de serem produzidas, e os parmetros a serem definidos podem tanto ser diversificados
atravs da tcnica de obteno, como tambm o uso de fibras e o design das estruturas, sendo
que a escolha da estrutura mais adequada a cada tipo de aplicao depende principalmente do
conjunto das restries impostas pela prpria aplicao em si.
Com base no exposto, neste trabalho pretende-se desenvolver estruturas hbridas com
fibras de aramida, polipropileno e fibra de vidro. A idia de base da fabricao destes txteis
tcnicos dada pela combinao de propriedades de duas estruturas produzidas sob forma de
compsito numa s operao. Desta forma obtm-se um efeito de sinergia de propriedades,
onde cada uma das estruturas esto contribuindo com as suas caractersticas particulares para
a obteno de uma estrutura com propriedades superiores s dos seus componentes
individuais.
Palavras-chave: compsito, txtil, reforo, aramida, fibra de vidro, polipropileno.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
181
CDIGO: ET1435
TTULO: OTIMIZAO DO PROCESSO DE PERMEABILIDADE AO OXIGNIO DA PEROVSKITA
BaCe(x)Pr(1-x)O3 PARA OXIDAO PARCIAL DO METANO
AUTOR: PATRICIA LOPES PALHARES
ORIENTADOR: CARLSON PEREIRA DE SOUZA
Resumo:
A importncia do uso de material cermico na indstria tem impulsionado as pesquisas
tecnolgicas voltadas para a produo e aplicao desse material. Em especial, esse trabalho
tem como objetivos produzir precursores de crio dopados com praseodmio para a confeco
de membrana perovskita BaCe(x)Pr(1-x)O3, visando otimizao do processo de
permeabilizao ao oxignio para oxidao parcial do metano. As propriedades da membrana
cermica so de extrema relevncia, viabilizando os estudos realizados e justificando o
interesse da pesquisa. Dentre elas, destacam-se a alta dureza, estabilidade trmica, resistncia
corroso e temperatura. O projeto est direcionado ao estudo da sntese dessas
membranas, bem como manipulao de parmetros que possam ser influentes na etapa de
sntese e nos testes finais de permeao ao oxignio, a fim de que seja produzido um material
final de qualidade, que atinja o objetivo da pesquisa, com menores gastos de tempo e energia
possveis. Para a confeco dos discos, utilizou-se o mtodo de complexao EDTA/citrato,
devido sua eficcia comprovada na literatura, e para a caracterizao do material, tcnicas
de difrao de raios x (DRX) e microscopia eletrnica de varredura (MEV) mostraram-se
tambm fundamentais e eficazes. Como esperado, foi possvel a obteno da fase desejada,
entretanto os testes de permeabilidade ainda no foram realizados, em virtude da falta dos
equipamentos necessrios para os mesmos.
Palavras-chave: perovskita, EDTA - citrato, permeabilidade, praseodmio, oxidao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
182
CDIGO: ET1437
TTULO: Avaliao da morfoanatomia da epiderne foliar de plantas de Atriplex nummularia
utilizada na fitoextrao de sais de solo salino-sdico sob irrigao
AUTOR: IANE VALESKA ARAJO DE AZEVDO
ORIENTADOR: KARINA PATRICIA VIEIRA DA CUNHA
Resumo:
A resposta da planta seca caracterizada por mudanas fundamentais na estrutura
das membranas e de organelas celulares. Desse modo, o presente trabalho tem o objetivo
estudar alteraes morfolgicas de tricomas vesiculares em epiderme de folhas adultas de
Atriplex nummularia Lindl. Cultivada em solo salino-sdico sob diferentes regimes hdricos. Foi
instalado um experimento em casa de vegetao utilizando-se vasos com 20 kg de solo salino-
sdico sob quatro regimes de umidade do solo (35, 55, 75 e 95% da capacidade de campo), em
que foram cultivadas plantas de Atriplex nummularia. Amostras de folhas adultas foram
coletadas aos 134 dias aps o transplantio e imediatamente fixadas em soluo de FAA 50 por
um perodo mnimo de 24-48 horas. As imagens das epidermes foram obtidas utilizando
cmera digital acoplada a microscpio ptico e analisadas utilizando programa de anlise de
imagem. Foram analisados os tricomas vesiculares quanto a sua: densidade absoluta; dimetro
externo das clulas pedunculares; dimetro externo de clulas vesiculares; e (4) volume
vesicular. Os tricomas vesiculares de Atriplex nummularia so sensveis a variaes do teor de
gua no solo. Os menores dimetros e volumes mdios de vesculas foram encontrados na
epiderme de plantas cultivadas a 35% da capacidade de campo. No foram observadas
diferenas significativas entre os dimetros e volumes mdios das vesculas de plantas
cultivadas a 55, 75 e 95% da capacidade de campo.
Palavras-chave: salinidade; fitoextrao; anatomia foliar; tricomas vesiculares.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
183
CDIGO: ET1440
TTULO: Preparao e Caracterizao de MOF-5 contendo CU / BTC
AUTOR: NILMAR PORTELA ALVES
ORIENTADOR: ELEDIR VITOR SOBRINHO
Resumo:
O gs natural (GN) vem cada vez mais ganhado espao na matriz energtica
contempornea por apresentar boas propriedades energticas e ser um combustvel de
combusto mais limpa. Contudo para as devidas aplicaes do mesmo faz-se necessrio um
tratamento para eliminao de contaminantes, principalmente CO2 e H2S. Em meio a essa
realidade e as crescentes preocupaes ambientais com a emisso de gases agravantes ao
aquecimento global para atmosfera, a busca por processos de purificaes do GN que possam
estocar o CO2 extrado torna-se cada vez mais uma necessidade. Uma nova classe de materiais
porosos, as redes metalorgnicas (Metal Organic framework ou MOF), vm recentemente se
destacando, principalmente, nos estudos de estocagem de gases (CO2, CH4 e H2) devido as
excelentes propriedades apresentadas como elevada porosidade e as mais altas reas
superficiais j reportadas para estruturas cristalinas. Com isso percebe-se o grande potencial
destes materiais para uma separao seletiva e estocagem do CO2 proveniente do GN. Um dos
mais estudados, at ento, destes materiais o MOF-5, o qual se tentar reproduzir sua
sntese relatada em literatura com algumas modificaes nas condies reacionais e
posteriormente realizar sua caracterizao para confirmao da eficincia da metodologia
utilizada.
Palavras-chave: MOF-5, rede metalorgnica, caracterizao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
184
CDIGO: ET1441
TTULO: Aplicao de Viso Monocromtica no Futebol de Robs da UFRN
AUTOR: CADU CALIXTO DE CARVALHO DOS SANTOS
ORIENTADOR: DIOGO PINHEIRO FERNANDES PEDROSA
Resumo:
Este trabalho prope demonstrar o trabalho desenvolvido no semestre de 2012.2 no
Laboratrio de Robtica, no time POTI de futebol de robs.
Palavras-chave: POTI FUTEBOL DCA UFRN ENGENHARIA COMPUTAO.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
185
CDIGO: ET1444
TTULO: Desenvolvimento de sistema de micropartculas de magnetita com alta
susceptibilidade magntica inicial para uso em sistemas de vetorizao de antibiticos para
tratamento de infeces por Helicobacter pylori.
AUTOR: KATIA LIRA DA SILVA
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO
Resumo:
Partculas magnticas (PM) esto sendo empregadas para diversos usos na rea
biomdica, tais como: separao celular; hipertermia; estudo da mobilidade gastrintestinal e
vetorizao de frmacos. O objetivo do presente trabalho desenvolver um sistema contendo
partculas magnticas revestidas com slica e complexadas com um frmaco para potencial uso
na rea biomdica com foco na vetorizao magntica e hipertermia. As partculas foram
produzidas pelo mtodo da coprecipitao de sais de ferro em meio bsico e posteriormente
submetidas ao processo de revestimento com a slica. A caracterizao do sistema obtido foi
realizada inicialmente por microscopia ptica e espectroscopia no infravermelho. Dessa forma,
espera-se que sistemas com caractersticas apreciveis para vetorizao e hipertermia sejam
produzidos e possam ser utilizados visando uma terapia promissora.
Palavras-chave: Vetorizao; magntica; slica; hipertermia.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
186
CDIGO: ET1460
TTULO: Estudo da presena de metais pesados no sedimento do rio Pitimb e sua relao com
o uso do solo
AUTOR: KIM HUDSON NUNES DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO FERREIRA MOREIRA
CO-AUTOR: RENATA CRISTINA DE ARAUJO LIMA
Resumo:
A bacia do rio Pitimb tem sido submetida aos problemas decorrentes do processo de
urbanizao e os impactos provocados pela poltica de uso e ocupao do solo vigente,
caracterizada pela ineficcia de controle pelos poderes pblicos e tambm pela precariedade
da infraestrutura de saneamento bsico na bacia. O objetivo deste trabalho analisar o
sedimento encontrado ao longo do curso do rio Pitimb em relao presena de metais
pesados (Al, Cu, Pb, Cd, Fe, Ni e Zn). Para isso as amostras coletadas em 09 pontos distribudos
em boa parte de sua extenso foram submetidas digesto cida (Mtodo USEPA 3050B) e
em seguida analisadas atravs de ensaios de espectrofotometria de absoro atmica. Os
resultados obtidos para os metais analisados apresentam em sua maioria valores muito
pequenos, com exceo do Al, Fe e Zn, onde valores elevados podem ser atribudos atividade
humana, como lanamentos de efluentes industriais e domsticos, presena de sucata
metlica nas redondezas e lanamento de resduos atravs do escapamento de veculos.
Palavras-chave: Rio Pitimbu, Sedimento, Digesto cida, Metais Pesados.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
187
CDIGO: ET1464
TTULO: Mecnica Quntica em Dimenses Extras: A Quantizao da Corda Bosnica
AUTOR: ZAIRA BRUNA BORGES DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: ANDRE CARLOS LEHUM
Resumo:
Nesse trabalho, procuramos apresentar os principais elementos da quantizao da
corda bosnica no calibre do cone-de-luz. Na quantizao da corda aberta, obteremos os
operadores de criao e aniquilao e veremos que as oscilaes na direo X−
correspondem aos operadores transversais de Vira- soro. A dimensionalidade do espao
fixada quando definimos que a teoria deve ser um invariante de Lorentz, chegamos ento ao
total de 26 dimenses do espao-tempo. Com base nos operadores obtidos na quantizao da
corda aberta, obtivemos os operadores para a quantizao da corda fechada e da fixao do
calibre do cone-de-luz chegamos a restrio L⊥0 − L ̄⊥0 = 0 ao
espectro da corda fechada. Nesse espectro est incluso o grviton, o quantum do campo
gravitacional.
Palavras-chave: Corda Bosnica, Corda Aberta, Corda Fechada.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
188
CDIGO: ET1469
TTULO: Metalizao mecnica de Placas cermicas para brasagem Metal-Cermica
AUTOR: JOO PAULO DE FREITAS GRILO
ORIENTADOR: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO
Resumo:
La1-xSrxCo1-yFeyO3-δ (LSCF) e ZrO2-Y2O3 (YSZ) so materiais intensivamente
investigados como catodo e eletrlito de clulas a combustvel de xido slido (SOFCs). Em
uma SOFC, as camadas funcionais destes xidos devem apresentar caractersticas
microestruturas adequadas, como porosidade controlada (catodo) e mxima densificao
(eletrlito). Neste trabalho, filmes porosos de LSCF foram preparados sobre substratos densos
de YSZ contendo Co3O4 como aditivo de sinterizao. O processo de deposio dos filmes
ocorreu por brush painting de uma suspenso cermica contendo ps de LSCF sintetizados por
uma combinao entre as rotas citrato e hidrotermal. Os filmes de LSCF foram sinterizados a
1000-1100 C por 3 h. As meia-clulas LSCF/YSZ-Co3O4 obtidas foram caracterizadas por
microscopia eletrnica de varredura. Com o aumento da temperatura de sinterizao dos
filmes observou-se uma considervel reduo de suas porosidades e uma melhoria da
aderncia na interface filme/substrato.
Palavras-chave: LSCF, YSZ, brush painting, microestrutura, SOFC.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
189
CDIGO: ET1485
TTULO: Estudo da influncia do nvel de oxidao de compostos orgnicos sobre o tempo de
mineralizao pelo processo foto-Fenton
AUTOR: CARLA NAIANA PIRES DA SILVA
ORIENTADOR: DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA
Resumo:
Neste trabalho, estudou-se a degradao de diferentes famlias de hidrocarbonetos
presentes na gasolina diluda em sistemas aquosos, na presena e na ausncia de NaCl. Os
experimentos de degradao foram feitos seguindo o processo foto-Fenton e foram utilizados
um reator de geometria anular, iluminado por uma lmpada UV de vapor de mercrio e um
reator solar do tipo filme descendente. A fim de se obter a melhor concentrao de reagentes
e melhorar eficincia na degradao da gasolina foram variadas as concentraes de ons
ferrosos, NaCl e perxido de hidrognio. Constatou-se que a luz solar obteve tambm timos
resultados, mostrando assim, que esta luz natural uma soluo substituta para a luz artificial
na utilizao do processo foto-Fenton com um maior custo-benefcio.
Palavras-chave: guas contaminadas, Processo foto-Fenton, Hidrocarbonetos, Reatores.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
190
CDIGO: ET1487
TTULO: Ferramenta para modelagem e prototipao de IU para mltiplas plataformas usando
ALADIM
AUTOR: ANDREZA DA COSTA MEDEIROS
ORIENTADOR: JAIR CAVALCANTI LEITE
Resumo:
O mercado de smartphones e tablets tem tido um crescimento expressivo nos ltimos
anos, com novas plataformas surgindo no mercado, como Tizen e FirefoxOS, alm das j
estabelecidas Android e iOS. No entanto, essa variedade de linhas de produtos e sistemas
operacionais para dispositivos mveis introduziu aos desenvolvedores de software o dilema de
escolher para qual plataforma se deve desenvolver primeiro. O nmero de usurios de cada
plataforma operacional grande, e a quota de mercado ainda est razoavelmente distribuda,
tornando a seleo ainda mais difcil. Outro problema surge quando se pretende desenvolver
para mais de uma plataforma, uma vez que necessrio repetir alguns dos esforos atravs do
ciclo de desenvolvimento de software, tais como codificar, testar e implantar aplicaes
usando diferentes padres, linguagens de programao, SDKs e mercados de distribuio.
Diante desse cenrio, este trabalho prope um estudo com empresas que
desenvolvam aplicativos para mltiplas plataformas mveis. Por meio de entrevistas com
desenvolvedores e stakeholders, o projeto visa entender como eles tm reagido s constantes
mudanas tecnolgicas nas plataformas para dispositivos mveis, examinando os fatores que
influenciam nas decises e solues adotadas, o impacto do desenvolvimento multiplataforma
nos processos de software em empresas e tambm as dificuldades no processo de
aprendizado de desenvolvedores.
Palavras-chave: Desenvolvimento multiplataforma, Dispositivos mveis.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
191
CDIGO: ET1499
TTULO: Percolao Por Invaso e estatsticas no extensivas
AUTOR: DANIEL NOBRE PINHEIRO
ORIENTADOR: DARLAN ARAUJO MOREIRA
Resumo:
O termo ?percolao? tem origem no latim e significa filtragem. Designa-se por
percolao o estudo de problemas que envolvem transferncia de matria ou energia atravs
de meios desordenados. Trata-se de assunto de tal abrangncia que seus resultados podem
ser aplicados, para citar alguns exemplos, no estudo de propagao de epidemias, na
modelagem da propagao de fogo em florestas, no estudo de malhas eltricas, e na
distribuio de leos ou gases dentro de rochas porosas. Os modelos bsicos de estudos de
percolao podem ser divididos em dois tipos: percolao por stios e percolao por ligaes.
Em ambos os casos, diz-se que o sistema percola se houver um aglomerado de stios ou
ligaes que formam um caminho contnuo entre dois lados opostos do sistema. Utilizando-se
de um modelo bsico em rede quadrada L x L, investigamos como a formao do aglomerado
percolante influenciada pelo uso de distribuies de nmero aleatrio no uniformes.
Usando parmetros associados a cada tipo de distribuio de probabilidade como parmetros
de ordem, discutimos a variao do valor da dimenso fractal do aglomerado percolante.
Neste estudo, utilizamos distribuies de probabilidades Gaussiana, Exponencial, e Uniforme
para gerar valores associados a cada stio do sistema.
Palavras-chave: Percolao; Distribuio de probabilidade; Dimenso fractal.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
192
CDIGO: ET1501
TTULO: Circuitos digitais e comunicao para redes de sensores
AUTOR: CAMILA DE OLIVEIRA SILVA
ORIENTADOR: SEBASTIAN YURI CAVALCANTI CATUNDA
Resumo:
O presente relatrio mostra os resultados adquiridos durante o projeto Circuitos
digitais e comunicao para redes de sensores. Busca-se neste projeto identificar as principais
caractersticas da tecnologia sem-fio ZigBee, bem como abordar os mtodos de utilizao dos
dispositivos XBee para o nosso projeto. O projeto realizado nesse segundo semestre buscou
dar aos alunos a possibilidade de adquirirem conhecimentos na rea de uma tecnologia sem-
fio no muito utilizada, mas com algumas vantagens em relao s outras tecnologias usadas
atualmente.
Palavras-chave: ZigBee, XBee, sem-fio, wireless, radiofrequncia.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
193
CDIGO: ET1504
TTULO: PROPRIEDADES FSICO QUMICAS TXTEIS DE PLA TRATADOS POR PLASMA
AUTOR: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR
Resumo:
Foi utilizada a tecnologia de plasma para modificao de tecidos utilizados em indumentrias
dos profissionais de cuidados de sade (batas, luvas e mscaras) assim como cortinados
hospitalares. Nesse sentido sero utilizados nanorevestimentos de prata e de TiO2 para tornar
as superfcies antibacteriana, autolimpante, proteco UV, repelncia de gua, anti-estticas e
de resistncia mecnica. Por outro lado superfcies de polmeros utilizados em implantes
cirrgicos sero modificados por plasma de Ar+N2+O2+H2. Nesse caso um estudo sistemtico
ser realizado variando a concentrao dos diferentes gases do plasma visando aplicaes
biomdicas (modificao da molhabilidade, tenso superficial, biocompatibilidade,
hemocompatibilidade, adeso celular e bacteriaina).
Palavras-chave: Plasma, materiais biocompativeis, PLA.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
194
CDIGO: ET1515
TTULO: Sntese de Zeitas Deslaminadas e Pilarizadas
AUTOR: ANDERSON WANDERLEY VIDAL
ORIENTADOR: SIBELE BERENICE CASTELLA PERGHER
Resumo:
Este projeto tem como objetivo estudar a sntese de zelitas deslaminadas a partir de
materiais laminares como a MCM-22, para obter materiais zeolticos com alta rea especfica,
como a ITQ-2, ITQ-6 e outros similares.
Palavras-chave: Sntese, zelitas deslaminadas.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
195
CDIGO: ET1527
TTULO: Estudo de tcnicas de preparao de amostras para caracterizao microscpica.
AUTOR: VANDICLEYA ALVES MOREIRA
ORIENTADOR: EDSON NORIYUKI ITO
Resumo:
No mbito dos materiais, a busca por melhores propriedades incentiva o
desenvolvimento de novos materiais com melhores desempenhos. Na rea dos polmeros,
mais especificamente, o desenvolvimento de compsitos e blendas um importante meio
para a obteno de novas aplicaes de materiais polimricos combinadas melhoria de
propriedades. Junto ao desenvolvimento de novos materiais, est a necessidade de
caracterizao destes e a microscopia eletrnica uma das principais tcnicas de
caracterizao utilizadas ultimamente. A microscopia eletrnica possibilita a caracterizao
morfolgica e o estudo da composio qumica e da estrutura atmica dos materiais. E um dos
parmetros mais importantes diretamente relacionados com a qualidade das anlises por
meio da microscopia eletrnica a preparao de amostra. Este plano de trabalho trata sobre
o estudo das tcnicas de preparao de amostras polimricas e biolgicas para microscopia
eletrnica. Dentre as tcnicas de preparao, o foco do trabalho est na ultramicrotomia e
crio-ultramicrotomia.
Palavras-chave: Microscopia eletrnica, ultramicrotomia, crio-ultramicrotomia.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
196
CDIGO: ET1534
TTULO: Levantamento e anlise da infraestrutura laboratorial da UFRN Centro de Biocincias
AUTOR: CARO FERNANDO FONSCA BRAGA
ORIENTADOR: EFRAIN PANTALEON MATAMOROS
Resumo:
Apresenta os trabalhos desenvolvidos pelo grupo Agentes de Inovao no perodo de
maio a dezembro de 2012, que visaram o estudo dos conceitos relativos a inovao, alm de
partipaes e eventos e cursos da rea para proporcionar o desenvolvimento da cultura de
inovao no meio acadmico e conseguinte expandi-lo para a sociedade. Tendo a premissa
que o futuro para o Brasil est em criar novos mercados gerando novos produtos h
necessidade de se ter um apoio governamental e financeiro para que isso seja uma realidade,
como a Lei de Inovao que impulsionou a questo da inovao para todas as empresas e
instituies brasileiras, obrigando-as a ter um Ncleo de Inovao Tecnolgica para
desenvolver esse quesito no mbito acadmico e ainda dando incentivos fiscais e financeiros a
empresas que buscam criar inovao.
Palavras-chave: Inovao, incubao, desenvolvimento, empreededorismo.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
197
CDIGO: ET1537
TTULO: MALHAS COMPUTACIONAIS
AUTOR: JULINE ALVES MARINHO DE CARVALHO
ORIENTADOR: ROBERTO CARLOS MORO FILHO
Resumo:
O desenvolvimento do tratamento da transferncia radiativa num contexto astrofsico
parece ter-se iniciado no incio do sculo em conjunto com a sistematizao dos fundamentos
da radiometria, feita sobretudo a pensar em fontes de radiao trmica. A grandeza
fundamental usada na descrio da transferncia radiativa em astrofsica ? intensidade
especfica ? mesmo uma generalizao para o caso de propagao da radiao no espao do
conceito de radincia de uma fonte trmica. A teoria da transferncia radiativa de energia foi
ento desenvolvida como uma extenso do modelo radiomtrico para a propagao da
radiao em meios desordenados que assenta uma ltima anlise no conceito de propagao
em linha reta da radiao no perturbada por interao com o meio.
Palavras-chave: Radiao, Mtodo de Schwarzschild, transferncia.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
198
CDIGO: ET1540
TTULO: Estudo de diagramas de fases ternrios e pseudoternrios
AUTOR: TAYTYANNE RASSA NICCIO LIBRIO
ORIENTADOR: VANESSA CRISTINA SANTANNA
Resumo:
Na perfurao de poos de petrleo utiliza-se um fluido denominado de fluido de
perfurao. Em virtude da importncia desse fluido na operao de perfurao de poos de
petrleo, busca-se desenvolver fluidos de perfurao com propriedades melhoradas. Devido
maior estabilidade dos fluidos microemulsionados frente aos fluidos base de emulso, os
sistemas microemulsionados vm sendo estudados para aplicao em diferentes reas da
indstria de petrleo com bastante sucesso. Para esse estudo foi obtido um sistema
microemulsionado, a partir de diagrama de fases, e este foi caracterizado reologicamente para
verificar a aplicabilidade como fluido de perfurao. Foram utilizados como constituintes para
o fluido de perfurao: gua, n-parafina, tensoativo no-inico, viscosificante (goma xantana)
e adensante (baritina). A anlise reolgica ( temperatura ambiente) foi realizada utilizando-se
a concentrao de 4% de viscosificante, determinando-se os parmetros reolgicos
viscosidade plstica, limite de escoamento e grau de tixotropia. A partir dos resultados
obtidos, verificou-se a eficincia da goma xantana como viscosificante.
Palavras-chave: Microemulso, tensoativo, diagrama de fases, reologia.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
199
CDIGO: ET1541
TTULO: Extrao de Antocianinas de Produtos Regionais
AUTOR: THERESA RAQUEL FERNANDES DANTAS
ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA
Resumo:
A acerola (Malpighia glabra L.) e a goiabeira (Psidium guajava L.), devido aos seus
valores nutritivos, excelente aceitao para o consumo in natura e grande aplicao industrial,
vm sendo estudadas.
O projeto teve o intuito de caracterizar e identificar os principais constituintes
qumicos presentes nas matrias-primas avaliados aps tcnicas de extrao (LPSE, ultrassom
e Soxhlet) e tendo uma avaliao da atividade antioxidante e das antocianinas.
Os valores obtidos para o rendimento de cada extrao mostram que as tcnicas
aplicadas resultaram em valores distintos de rendimento (extrao Ultrassom ? 30 minutos,
para a casca de goiaba, obteve-se um rendimento de 0,51 0,13%, j na extrao por
Soxhlet fazendo uso do mesmo solvente, o rendimento chega a 6,2 1,3%, para a acerola).
Os resultados obtidos da quantificao da atividade antioxidante dos extratos,
determinada pelo ensaio do DPPH, mostraram que todas as amostras tm uma boa atividade
sequestradora do radical DPPH (mnimo de 85,548% para a casca de acerola, com processo de
extrao Ultrassom e concentrao 1mg/mL; mxima de 93,723% para a casca de goiaba, com
processo de Soxhlet e concentrao de 10mg/mL).
Em relao aos teores de antocianinas para a acerola, os extratos apresentaram
valores maiores que os relatados na literatura, que encontraram valores de 1,97 a
46,44mg/100g. E, para a goiaba, os valores correspondem aos encontrados na literatura.
Palavras-chave: Malpighia glabra L., Psidium guajava L., antocianinas.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
200
CDIGO: ET1545
TTULO: Caracterizao quantitativa de minerais e adio de compostos orgnicos residuais
para composio complementar do fertilizante produzido a partir da palha de feijo verde:
Parte II
AUTOR: BHIANCA LINS DE AZEVEDO COSTA
ORIENTADOR: ANA LUCIA DE MEDEIROS LULA DA MATA
Resumo:
No Brasil uma grande quantidade de resduos agrcolas so descartados diariamente e
considerados lixo pelos produtores. Dentre esses resduos, existem aqueles provenientes da
catao da palha (casca) do feijo-verde. O feijo-verde (Vigna unguiculata (L) Walp) a
alternativa de renda para os produtores rurais e alimento para a populao do nordeste
brasileiro, tornando-se um tpico prato dessa regio.
No entanto, depois da retirada dos gros do feijo, toda a palha desprezada ou
utilizada como alimento animal, indiscriminadamente, ignorando-se a sua utilizao como
subproduto. No estado do Rio Grande do Norte a produo, no ano de 2006, chegou a
aproximadamente 52000 toneladas/ano de feijo verde com casca, correspondente a 19305
toneladas/ano de casca desprezada (IBGE, 2007).
Diante desse contexto, foi proposto um uso alternativo, como fertilizante, para este
resduo to rico em nutrientes. A proposta consistiu em desenvolver um fertilizante
alternativo, desidratado, base desse resduo agrcola regional.
Assim, esse projeto tem como objetivo aprimorar a tcnica de secagem solar j
realizada desse subproduto, fazendo uso de uma secagem via micro-ondas com o intuito de
acelerar a secagem e assim otimizar o processo. Alm disso, foram realizadas algumas anlises
dessa palha seca, tais como: determinao de Ph, teor de umidade, anlise de cinzas e
determinao do teor de potssio e fsforo com o intuito de caracterizar esse subproduto
como fertilizante.
Palavras-chave: Palha do feijo-verde, fertilizante, micro-ondas, secagem.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
201
CDIGO: ET1546
TTULO: Levantamento e anlise da infraestrutura laboratorial da UFRN Centro de Cincias da
Sade
AUTOR: ISAAC SAMIR COSTA DA SILVA
ORIENTADOR: CARLOS ALEXANDRE CAMARGO DE ABREU
Resumo:
O presente projeto de pesquisa parte da proposta para obteno de apoio financeiro
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico ? FNDCT, no mbito do Plano
Nacional de Cincia e Tecnologia da CHAMADA PBLICA MCT/FINEP/Ao Transversal PRO-
INOVA ? NCLEOS DE APOIOS GESTO DA INOVAO ? 11/2010.
Assim, sendo a inovao um objetivo relevante da poltica industrial na medida em que
as empresas que inovam do uma contribuio maior para o desenvolvimento econmico, o
NAGI/RN pretende intervir para corrigir deficincias das empresas/indstrias estaduais por
meio de mobilizao e capacitao da direo estratgica das empresas para inovao,
realizao de diagnstico da situao de inovao das empresas e assessoria empresarial para
elaborao de planos/projetos de gesto da inovao visando sua implementao.
Para atingir o objetivo desta chamada, quanto estruturao e implementao de um
Ncleo de Apoio Gesto da Inovao no Rio Grande do Norte - NAGI/RN, a proposta de
execuo metodolgica deste projeto foi construda a partir das consideraes dos seguintes
parceiros: FIERN, SESI, SEDEC, UFRN, UFERSA, UERN, IFRN e SEBRAE/RN, tendo o SENAI/RN
como entidade proponente e executora.
A partir da constituio do ncleo, espera-se atender as empresas do RN, ofertando
programas de capacitao e assessoria, que visam potencializar e capacitar as empresas na
prtica de inovar, com o intuito de estabelecer processos de interao entre o NAGI/RN e
empresas assistidas.
Palavras-chave: Estudo de mercado, inovao e estratgias de gesto.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
202
CDIGO: ET1548
TTULO: Atualizao do Software Embarcado do Futebol de Robs da UFRN
AUTOR: PETRCIO RICARDO TAVARES DE MEDEIROS
ORIENTADOR: DIOGO PINHEIRO FERNANDES PEDROSA
Resumo:
Foi implementado um programa para teste de comunicao com o transceiver
NRF24L01+, o qual utilizado nos robs do projeto do Futebol de Robs da UFRN com intuito
de verificar a quantidade de informao perdida atravs da variao da distncia entre o
transmissor e o receptor (rob).
Palavras-chave: transceiver, comunicao, robtica, microcontrolador.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
203
CDIGO: ET1554
TTULO: Tratamento tercirio de esgotos com remoo e recuperao de nutrientes.
AUTOR: VTOR HUGO ARAJO PINTO
ORIENTADOR: CICERO ONOFRE DE ANDRADE NETO
Resumo:
Nos dias atuais o desperdcio e escassez de gua gera a necessidade de despertar
novos meios de seu reaproveitamento, tendo dito isso, juntamente com aspectos relacionados
distribuio e gerenciamento de recursos hdricos, faz-se necessrio o desenvolvimento de
novas tecnologias para o reaproveitamento hdrico. Frente a esse realidade este relatrio
apresenta alguns aspectos do projeto de pesquisa que utiliza um sistema aerbio de
tratamento de esgotos encontrado e desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, tendo como principais caractersticas o baixo custo e fcil operao, para transformar
esgoto domstico simples em gua reutilizvel com finalidades menos nobres. Esse sistema
capaz de produzir efluente final com as seguintes caractersticas: nitrognio amoniacal de
26,3mg/L, nitrognio orgnico de 1,3 mg/L, nitrito de 0,1 mg/L, nitrato de 11,6 mg/L, OD de
1,8 mg/L, turbidez de 1,1 UT, pH de 6,77, temperatura de 29,3C, alcalinidade de 121 mg/L,
DQO de 32 mg/L e SST de 1,1mg/L. Efluentes com essas caractersticas j se mostram
apropriados para serem utilizados em alguns meios, tais como: meio urbano, agricultura, em
alguns processos industriais. Salientando que, alm desses aspectos, a baixa concentrao de
slidos suspensos totais e demanda qumica de oxignio facilitam, caso necessrio, uma
posterior implementao de uma unidade de desinfeco, para eliminar bactrias e ovos de
helmintos, o que daria mais possveis utilizaes para esse efluente.
Palavras-chave: Reso; Novas Tecnologias; Gerenciamento de Recursos Hdricos.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
204
CDIGO: ET1561
TTULO: QUALIDADE AMBIENTAL DO SOLO SOB DIFERENTES USOS NO ENTORNO DO AUDE
DOURADO NO MUNICPIO DE CURRAIS NOVOS/RN
AUTOR: LEOCLEDNA FERNANDES DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: KARINA PATRICIA VIEIRA DA CUNHA
Resumo:
A zona ripria do reservatrio Dourado, localizado na regio semirida do estado do
Rio Grande do Norte, constituda por diversos tipos de uso do solo que podem disponibilizar
diferentes tipos de poluentes para o reservatrio e contribuir para a degradao da gua desse
importante manancial de abastecimento. Este trabalho tem como objetivo avaliar fsica e
quimicamente a qualidade de solos sob diferentes tipos de uso na zona ripria do reservatrio
Dourado e determinar o potencial de cada tipo de uso do solo atuar como fonte difusa de
poluentes para o reservatrio. Na zona ripria do reservatrio foram estudadas seis reas
diferenciadas pelo uso do solo, sendo duas reas sob mata nativa (MT1 e MT2); duas reas
plantadas com capim-elefante (CP1 e CP2); uma rea sob influncia da pecuria (PEC) e uma
rea de horta (HOR). Os resultados mostraram que o uso do solo da zona ripria do
reservatrio Dourado para cultivo agrcola (CP1 e CP2), horticultura (HOR) e pecuria (PEC)
causaram alteraes nos atributos fsicos e qumicos do solo que sugerem reduo de sua
qualidade ambiental e consequentemente aumento de seu potencial em comprometer a
qualidade da gua do reservatrio. So necessrias prticas de manejo conservacionistas do
solo para a manuteno de um adequado equilbrio ecolgico da zona ripria do reservatrio
Dourado.
Palavras-chave: atributos fsicos; atributos qumicos; semirido.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
205
CDIGO: ET1562
TTULO: Argilas Pilarizadas com La para desidrogenalo do metanol
AUTOR: JSSICA ALVES RAMALHO
ORIENTADOR: SIBELE BERENICE CASTELLA PERGHER
Resumo:
Este estudo teve como objetivo preparar catalisadores base de argilominerais
pilarizados com polihidrxications de alumnio e impregnados com lantnio. Alm disso,
pretendeu-se observar a influncia de diferentes quantidades impregnadas de nitrato de
lantnio hexahidratado nas propriedades dos materiais. Para tal, utilizaram-se os seguintes
mtodos analticos: difrao de raios X, com a finalidade de avaliar o espaamento basal das
argilas; adsoro de nitrognio, a fim de avaliar a rea especfica e a distribuio de poros do
material; microscopia eletrnica de varredura, com o intuito de observar a morfologia do
material. Os resultados permitiram inferir que as argilas foram impregnadas com La, sendo
que ao incorporar este metal na argila natural, o espaamento basal da mesma aumentou. J
para as argilas pilarizadas, comprovou-se a impregnao de La devido diminuio da rea
especfica das mesmas. Alm disso, observou-se que a impregnao com La no alterou a
morfologia dos materiais.
Palavras-chave: argilas, pilarizao, (Al-La)PILC.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
206
CDIGO: ET1564
TTULO: Condicionamento programvel de sinais para definio de um n sensor
AUTOR: THIAGO MATEUS BEZERRA DA SILVA
ORIENTADOR: SEBASTIAN YURI CAVALCANTI CATUNDA
Resumo:
A interface entre sensores e sistemas de medio foi a linha sobre a qual caminhou
este projeto. Como parte dessa interface est o conversor analgico-digital (A/D). Como
extenso fundamental desse sistema est a comunicao. Frente isso, utilizamos conversores
de 12 bits integrados a um microcontrolador de baixo custo, o ADUC7024, e um sistema de
comunicao wireless de baixa complexidade e potncia e regido por especificaes bem
definidas, que o ZigBee. Essas ferramentas foram partes do sistema de condicionamento de
sinais responsveis pela converso supracitada e pela transmisso da informao.
Palavras-chave: condicionamento de sinais, converso A/D, comunicao, sensores.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
207
CDIGO: ET1580
TTULO: Modelo multicriterio para seleo de matrias-primas
AUTOR: JSSICA CABRAL DE ARAJO
ORIENTADOR: LUCIANO FERREIRA
Resumo:
O Problema de Escalonamento de veculos (VSP) se trata de um problema de
designao trivial, no qual cada viagem est associada a apenas um veculo. Ele est baseado
na atribuio de veculos a viagens, com o objetivo de minimizar os custos operacionais que
podem ser definidos de vrias maneiras: tempo ocioso, quantidade de combustvel consumido
e nmero de motoristas exigidos, por exemplo. Estas opes permitem que o VSP seja definido
como um problema de deciso multicritrio.
Com o objetivo de testar os limites da heurstica, foi implementado um algoritmo
gerador de viagens aleatrias que produziu instncias de tamanhos variados. Essas instncias
sero inseridas no algoritmo do SIMPLEX e resolvidas, obtendo-se assim, a soluo tima para
cada uma delas. Posteriormente, sero resolvidas tambm pelo algoritmo do mtodo hngaro.
Possibilitando assim uma anlise mais precisa da relao entre o tamanho da instncia e a
proximidade das solues oferecidas pelos dois mtodos.
Palavras-chave: Problema de Designao; Heurstica; Mtodo Hngaro.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
208
CDIGO: ET1581
TTULO: Influncia de disperso coloidal de slica no comportamento reolgico e mecnico de
sistemas de pastas leves para aplicao em poos petrolferos com baixo gradiente de fratura
AUTOR: PEDRO HENRIQUE PINTO CAMPOS
ORIENTADOR: JULIO CEZAR DE OLIVEIRA FREITAS
Resumo:
Poos de petrleo, com baixo gradiente de fratura, so cimentados utilizando pastas
de cimento com baixos valores de densidades para evitar que a presso hidrosttica, exercida
pela pasta de cimento, seja superior a presso de fratura da formao.Existem trs maneiras
de reduzir a densidade das pastas de cimento: atravs de aditivos estendedores de gua,
microesferas e pasta espumada. O aditivo estendedor de gua mais utilizado a bentonita
sdica, que uma argila com uma boa capacidade de absoro de gua e expanso do seu
volume, porm a grande desvantagem desse aditivo que o aumento de sua concentrao
implica na reduo de resistncia mecnica. Atualmente a utilizao de partculas em escala
nanomtrica tem recebido uma ateno especial, principalmente pelo fato de obter novas
funcionalidades. Seguindo essa tendncia, esse trabalho tem o objetivo de utilizar uma
disperso coloidal slica como aditivo estendedor em pastas leves para aplicao em poos de
petrleo. Os resultados mostraram que o aumento da concentrao da disperso coloidal de
slica foi eficiente na melhoria dos parmetros reolgicos e mecnicos das pastas de cimento
estudadas.
Palavras-chave: petrleo; cimento; slica; pasta leve.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
209
CDIGO: ET1585
TTULO: SNTESE DE PS COMPSITOS Nb-Cu NANOCRISTALINOS POR MOAGEM DE ALTA
ENERGIA E DENSIFICAO POR SINTERIZAO
AUTOR: IEDA CECILIA SALDANHA BEZERRA
ORIENTADOR: FRANCINE ALVES DA COSTA
Resumo:
Os compsitos W-Cu, W-Ag, Mo-Cu e Mo-Ag so materiais usados como contatos eltricos,
dissipadores de calor e absorvedor de microondas. Isto se deve a alta resistncia ao desgaste e
a eroso por arco eltrico do tungstnio (W) e molibdnio (Mo) associado excelente
condutividade trmica e eltrica do cobre e da prata. O nibio (Nb), sendo um metal
refratrio, possui propriedades semelhantes s apresentadas pelo W e Mo. Ento, esperado
que o compsito Nb-Cu seja um forte candidato para atuar como substituto desses materiais
em tais aplicaes. Nesse intuito, ps compsitos Nb-10%Cu foram modos por 2, 6, 10, 16 e
20 horas sob velocidade de 200, 300 e 500 rpm para averiguar a influncia da moagem de alta
energia nas caractersticas das partculas e na estrutura cristalina das fases Nb e Cu, bem
como, o efeito do p obtido na densificao e propriedades das estruturas sinterizadas.
Amostras cilndricas com 8 mm de dimetro e 2,5 mm de espessura foram prensadas a 200,
400, 500 MPa em um prensa uniaxial. Compactados de ps foram sinterizados a 1100oC por 60
minutos sob um vcuo de 103 torr. A taxa de aquecimento de 10oC/min foi usada. Medidas de
densidade das estruturas sinterizadas foram efetuadas usando o mtodo geomtrico
(massa/volume). Os resultados da moagem mostram que ambas as fases (Nb e Cu) so
amorfizadas aps 16 horas. A densidade das estruturas sinterizadas aumenta com a presso de
compactao e diminui com a elevao da velocidade de moagem de 200 para 500 rpm.
Palavras-chave: Moagem de alta energia, condutividade eltrica, compsito Nb-Cu.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
210
CDIGO: ET1586
TTULO: Gerenciamento de ferramentas de usinagem para ambiente de laboratrio - II
AUTOR: BRUNO CESAR ROCHA VITORIA
ORIENTADOR: ADILSON JOSE DE OLIVEIRA
Resumo:
A seleo de ferramentas de usinagem, considerando a diversidade de geometrias de
peas e a variedade de ferramentas nos catlogos de fabricantes, pode ser uma rdua
atividade. Para auxiliar essa seleo, o gerenciamento de ferramentas exerce um importante
papel com a reduo de custos por meio de informaes precisas e atualizadas. A literatura
cientfica sobre o tema escassa e est focada em empresas de grande porte. Esta pesquisa
tem como objetivo determinar um mtodo de anlise e de definio de ferramentas para
suportar o desenvolvimento de um banco de dados para o gerenciamento de ferramentas para
ambientes de laboratrio de usinagem. Foram definidas peas-conceito prismticas e de
revoluo a partir das geometrias que comumente so fabricadas e, posteriormente, realizou-
se uma seleo otimizada. Com essas informaes, criou-se o banco de dados desejado o qual
suporta a base para escolha de ferramentas dos estudantes e usurios do Laboratrio de
Usinagem da UFRN. Esse banco de dados suporta um Centro de Usinagem e o Torno, ambos
equipados com Comando Numrico Computadorizado (CNC). A consulta ocorre em trs
plataformas diferentes segundo a funo de cada uma: tcnica, logstica e estratgica. H
disponibilidade de dados como parmetros de usinagem, caractersticas geomtricas da
ferramenta, estoque de ferramentas e custo, o que contribui para determinao de novos
processos, estabelecimento de metas e o discernimento quanto aos investimentos realizados.
Palavras-chave: Gerenciamento de ferramentas, usinagem, item perecvel, banco de dados.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
211
CDIGO: ET1592
TTULO: Sntese e Caracterizao de Redes Metal-Orgnicas
AUTOR: ANDRESSA JALES DE SOUZA
ORIENTADOR: BRAULIO SILVA BARROS
CO-AUTOR: JSSICA NAYARA DA SILVA CMARA
Resumo:
Redes metalorgnicas com ons metlicos Zn2+ e Cu2+ e ligantes orgnicos tipo
dicarboxilato foram preparados pelos mtodos hidrotrmico e solvotrmico com aquecimento
convencional ou assistido por microondas. Foram estudados os efeitos das condies de
sntese, assim como a presena de base-orgnica e/ou molcula de molde ?template? na
formao de estruturas cristalinas hibridas. Durante a sntese hidrotrmica observou-se que a
obteno de redes metalorgnicas depende da presena de uma molcula de molde, neste
caso o benzeno. Para a sntese solvotrmica foi escolhido o DMF como solvente orgnico. Esta
metodologia tambm se mostrou eficaz na obteno de estruturas cristalinas hibridas
?metalorgnicas?. Anlises realizadas por microscopia eletrnica de varredura revelaram que a
presena de base-orgnica e/ou molcula de molde no interfere na morfologia dos materiais
obtidos. O uso das microondas propiciou uma reduo no tempo de obteno destes materiais
de dias para apenas poucos minutos, o que extremamente interessante para futuras
aplicaes tecnolgicas.
Palavras-chave: Redes metalorgnicas, sntese, estruturas cristalinas.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
212
CDIGO: ET1594
TTULO: Seleo e distribuio de aerogeradores para uma grande rea de Natal
AUTOR: FELIPE MOLITOR DE SOUZA
ORIENTADOR: EDUARDO JOSE CIDADE CAVALCANTI
Resumo:
A cidade de Natal, situada no Rio Grande do Norte, tem a vantagem de possuir timos
ventos para implantao de usinas elicas. Com o objetivo de estudar estes ventos fez-se uma
anlise de seu potencial elico com base em dados da velocidade do vento coletados no INPE
para uma altura de 16 metros durante dois anos. Construiu-se um pequeno aerogerador que
se adaptasse s caractersticas elicas da regio. Utilizou-se o mtodo iterativo para o projeto
do rotor deste aerogerador e comparou-se este mtodo com o de Jansen e Smulders, que
mais simples. A construo foi ento realizada dentro das instalaes da UFRN, visando o baixo
custo.
Palavras-chave: Aerogerador, construo, mtodo iterativo, mtodo de Jansen e Smulders.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
213
CDIGO: ET1599
TTULO: SNTESE E PROPRIEDADES LUMINESCENTES DE NANOPARTICULAS DE CLOROAPATITA
DOPADAS COM EURPIO
AUTOR: ROSIVANIA SILVA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: BRAULIO SILVA BARROS
CO-AUTOR: JSSICA NAYARA DA SILVA CMARA
CO-AUTOR: ISADORA MARIA VICENTE DA SILVA
Resumo:
A possibilidade de desenvolver materiais nanoestruturados capazes de funcionar como
matriz para marcadores luminescentes tem atrado bastante ateno do meio acadmico nos
ltimos tempos. Por isso, este trabalho visa sntese e a caracterizao de nanopartculas de
cloroapatita dopadas com ons eurpio. Anlises de difrao de raios-X dos ps sintetizados
mostraram que a fase cristalina do material proposto foi obtida com sucesso. Adicionalmente,
os espectros de emisso apresentaram as transies caractersticas do on eurpio,
comprovando assim a presena do dopante na matriz. Por meio do MEV comprovou-se o
carter nanomtrico das partculas. Desta forma, pode-se inferir que o material sintetizado
tem elevado potencial para funcionar como matriz de marcadores luminescente em
decorrncia da no toxicidade da matriz, assim como do elevado tempo de luminescncia
proporcionado pelo dopante.
Palavras-chave: cloroapatita; lantandeo; marcador luminescente.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
214
CDIGO: ET1603
TTULO: Secagem de alimentos usando secador pneumtico e determinao de parmetros do
processo.
AUTOR: MARCELL SANTANA DE DEUS
ORIENTADOR: SEBASTIAO RIBEIRO FERREIRA
Resumo:
Com o aumento da competitividade dos setores agroindustriais e o crescimento da
produo nacional do milho, o produtor tende a buscar nveis mais elevados para atender aos
modernos padres de qualidade. Atualmente, as principais certificaes de qualidade para
produtos agropecurios avaliam no somente o produto acabado, mas todo o processo
produtivo e seus impactos sociais e ambientais. Uma das maiores dificuldades na escolha de
um secador a grande variedade existente de equipamentos e processos de secagem. Anlise
do sistema de secagem focada num equipamento de melhor eficincia na remoo da
umidade do produto e tempo de processamento.
Este projeto visou estudar a secagem de produtos alimentcios com um secador flash
(pneumtico), que por sua vez um dos mais usados na indstria. A secagem deve ser rpida
(menos de 10 s), para estudar a cintica de secagem, determinar alguns parmetros
importantes do processo com o intuito de modelar, simular e otimizar o secador flash.
Palavras-chave: Secagem; Secador Flash; Engenharia Qumica; Engenharia de Alimentos.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
215
CDIGO: ET1613
TTULO: Modelagem Matemtica e Laboratorial da Perda de Injetividade
AUTOR: PEDRO GLAUTO DE FARIAS E SILVA
ORIENTADOR: ADRIANO DOS SANTOS
Resumo:
Visa a construo de um programa computacional, desenvolvido em ambiente
LabView, para estudo laboratorial da perda de injetividade, problema muito comum na injeo
de gua em poos exploradores de petrleo. Utiliza o mtodo dos trs pontos, que consiste
em fazer medies de presso ao longo de uma amostra de rocha, com o intuito de determinar
dois parmetros fundamentais para o estudo: o coeficiente de dano formao e o coeficiente
de filtrao profunda. Avalia o funcionamento do programa ao comparar os resultados obtidos
com os descritos na literatura. Conclui que o programa desenvolvido se mostra apto para
aquisio e tratamento dos dados laboratoriais.
Palavras-chave: LabView; dano formao; filtrao profunda.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
216
CDIGO: ET1615
TTULO: Anlise da interao entre edifcios de alvenaria estrutural e estrutura de suporte em
concreto armado
AUTOR: KLAUS ANDRE DE SOUSA MEDEIROS
ORIENTADOR: JOEL ARAUJO DO NASCIMENTO NETO
Resumo:
O efeito estudado surge ao se considerar interao entre paredes de alvenaria
estrutural e as vigas que lhes servem de suporte. As anlises consistiram na modelagem em
elementos finitos (discretizados em elementos de rea ou elementos barra) das paredes e das
vigas, sendo consideradas situaes de paredes com e sem aberturas, posicionadas na parte
central e na extremidade da viga. O efeito de grauteamento e da ortotropia da alvenaria,
associada geometria do bloco, tambm foram objeto de anlise. Quando possvel, os
resultados da modelagem numrica foram comparados com aqueles obtidos a partir de
modelos simplificados. Dessa forma, avaliaram-se as limitaes desses modelos simplificados,
alm dos aspectos relativos modelagem numrica por elementos finitos do sistema parede-
viga. Os resultados indicaram que o grauteamento vertical e a ortotropia da alvenaria so
benficos ao comportamento do conjunto, pois reduziram as solicitaes na viga de apoio. Da
mesma forma, constatou-se a grande limitao dos modelos simplificados para a aplicao em
projetos usuais de edifcios de alvenaria estrutural, sendo, inclusive, contra a segurana no
caso da existncia de aberturas excntricas em relao ao vo da viga de apoio.
Palavras-chave: Alvenaria estrutural; Estrutura de suporte; Interao; Efeito arco.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
217
CDIGO: ET1618
TTULO: Avaliao do Controle da Secagem do Rejeito de Indstrias de Polpas Locais
AUTOR: RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA NETO
ORIENTADOR: DOMINGOS FABIANO DE SANTANA SOUZA
Resumo:
A avaliao de secadores convectivos no seguinte trabalho foi dividida em etapas
tericas e experimentais. Onde, a princpio, o estudo foi focalizado na modelagem matemtica
para secagem de slidos orgnicos ou mesmo inorgnicos. Partindo do aprofundamento
terico do fenmeno de secagem de gros, e j tendo implementado um modelo matemtico
em linguagem fortran 90, foi escolhido um rejeito presente na regio, o bagao da polpa do
maracuj, para nortear o trabalho no mbito experimental. Nesta etapa do trabalho, foi
determinada, experimentalmente, parmetros importantes para avaliao de secadores
convectivos, dos quais: umidade de equilbrio, pela secagem via infra-vermelho; como
tambm, a isoterma de soro em secador de leito fixo tipo bandeja, nas condies de
operao de temperatura do ar a 70C e velocidade do ar a 6 m/s. Ao trmino destas
determinaes paramtricas, aplicou-se esses valores ao modelo implementado, e a prxima
etapa resumiu-se em simular a secagem do produto escolhido computacionalmente para obter
um banco de dados a respeito da secagem. Para finalizar o trabalho, a secagem do maracuj
foi feita experimentalmente a fim da validao do modelo, com as mesmas condies de Tar=
70C e Var=6 m/s, no secador de leito fixo. Aps a validao experimental, foi aplicada leis de
controle para controlar a temperatura de entrada do ar por meio do mtodo de curva de
reao e determinando os valores das constantes pela tabela de Ziegler-Nichols.
Palavras-chave: Secadores Convectivos; modelagem; leito fixo; simular; controle.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
218
CDIGO: ET1619
TTULO: SNTESE E ESTUDOS ESPECTROQUMICOS DE COMPLEXOS DE FUMARATOS DE
LANTANDEOS
AUTOR: LUIZ HENRIQUE MEDEIROS DA COSTA
ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA
Resumo:
Os cloretos de lantnio, neodmio e rbio foram preparados a partir dos seus
respectivos xidos com adio de cido clordrico em suspenso aquosa. Em seguida colocados
em dessecador. Os compostos foram caracterizados atravs da titulao complexomtrica com
EDTA, termogavimetria (TG) e condutncia molar. As curvas TG foram realizadas em ar
sinttico e atravs dela verificamos suas estabilidades trmicas, bem como o processo de
decomposio trmica. Os resultados obtidos pela titulao e pela TG possibilitaram
estabelecer a estequiometria dos complexos, que se apresentaram como: LaCl3.7H2O,
NdCl3.6H2O e ErCl3.7H2O. A condutncia molar, em gua, nos informou um tipo de eletrlito
1:3. Realizamos tambm a sintese dos maleatos de lantandeos, a partir dos cloretos. Tendo
como perspectivas, a caracterizao dos sais complexos de maleatos.
Palavras-chave: Lantandeos, Condutncia molar, Maleatos de lantandeos.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
219
CDIGO: ET1621
TTULO: Identificao Automtica de Ambientes por Reconhecimento de Caractersticas
Naturais
AUTOR: EMANUELLE SOARES MACDO
ORIENTADOR: DIOGO PINHEIRO FERNANDES PEDROSA
Resumo:
O trabalho realizado consistiu na criao de uma ferramenta para gerao, visualizao
e gerenciamento de marcas para aquisio de informaes do ambiente onde o usurio se
encontra.A ferramenta consiste em dois programas:o primeiro deles um software voltado
para aparelhos celulares(smartphones) e o segundo um aplicativo web para criao e gesto
das marcas(QR codes).O funcionamento do sistema segue os seguintes passos:(a)inicialmente
o gestor do aplicativo web cria marcas e depois atrela cada uma destas marcas a um local
especfico do ambiente(b) em seguida,o gestor cadastra toda informao necessria para
descrever quele local (arquivos de texto,vdeo,udio),(c)a partir da,qualquer usurio pode
usar a ferramenta do celular(tambm um aplicativo web) para obter as informaes desejadas,
usando a cmera do celular para fotografar a imagem da marca desejada. O software
embarcado no celular reconhece os QR code atravs de bibliotecas especficas.Ao
reconhecer,o sistema retorna as informaes do ambiente que so atribudas quela marca e
que foram cadastradas pelo gestor.O software tem como principal objetivo auxiliar pessoas a
obter informaes sobre ambientes desconhecidos. Para tal,fora utilizado o conceito de
programao nas nuvens utilizando Windows Azure,e interfaces de integrao compatveis
com Windows Phone.Testes experimentais foram realizados no interior do Departamento de
Engenharia de Computao e Automao da UFRN, com bons resultados da ferramenta.
Palavras-chave: Windows Azure, smartphone, cloud computing, informao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
220
CDIGO: ET1628
TTULO: Produo de alimentos a partir de residuais de casca de camaro e frutas tropicais
utilizando defumador com tecnologia sustentvel e limpa
AUTOR: ANDRESSA CRISTINA FAGUNDES DE OLIVEIRA ROCHA
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIR SELVAM
Resumo:
O objetivo deste trabalho visa produzir um biscoito do tipo cookie de qualidade
nutricional adequada e com custo mnimo para crianas da merenda escolar. Devido a grande
oferta de matria-prima regional e consequente desperdcio, foi feito um estudo preliminar de
um produto convencional de biscoito de farinha de trigo produzido pelo SEBRAE e comparado
ao novo produto proposto, com enriquecimento nutricional utilizando a farinha da casca de
banana e do maracuj. Para otimizar a produo e aceitao do produto final, foram
analisados os dados de anlise de investimento e de viabilidade econmica atravs de
planilhas de simulao tanto para o produto convencional quanto para o novo produto
desenvolvido neste trabalho.
Palavras-chave: Biscoito enriquecido, Cookie, Farinha da casca de banana.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
221
CDIGO: ET1629
TTULO: Desenvolvimento de um lubrificante de base vegetal para aplicaes industriais
AUTOR: KANDICE SUANE BARROS RIBEIRO
ORIENTADOR: SALETE MARTINS ALVES
Resumo:
Nos ltimos tempos, o crescente aumento da utilizao de produtos bases
provenientes do petrleo tm causado uma grande repercusso a respeito da poluio e do
potencial associado a produtos de bases alternativas, iniciando assim, o estudo sobre os
biolubrificantes e sua viabilidade no ramo da tribologia. Oriundas de uma preocupao tanto
econmica quanto ambiental, novas tecnologias tm surgido a fim de viabilizar o uso dos
biolubrificantes que se tornaram rapidamente objetivo de estudo visto seu desempenho e a
reduo de impactos ambientais. Nessa perspectiva, um dos principais objetivos desta
pesquisa foi realizar a sntese de lubrificantes industriais a partir da epoxidao dos leos de
soja e de girassol comerciais via cido peractico em catlise cida (cido Sulfrico) Anlises
fsico-qumicas foram realizadas visando a obteno de dados da composio qumica,
densidade e viscosidade dos leos sintetizados e da eficincia da reao de epoxidao dos
leos atravs do ndice de iodo e comparando essas caractersticas com a dos leos minerais e
sintticos comerciais. O desempenho tribolgico foi avaliado pelo HFRR (High Frequency
Reciprocating Rig). Segundo resultados obtidos o mtodo da epoxidao eficiente na
formulao de biolubrificantes com caractersticas similares ou superiores a dos leos
minerais, tornando-os aptos como boa alternativa aos minerais em algumas aplicaes
industriais.
Palavras-chave: Epoxidao, leo vegetal, biolubrificante.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
222
CDIGO: ET1636
TTULO: Implementao de um jogo organizacional
AUTOR: MARCELA VERAS FONTES
ORIENTADOR: ANDRE MAURICIO CUNHA CAMPOS
Resumo:
O projeto tem como objetivo a implementao de um jogo educativo para crianas
entre 7 e 8 anos que ser implementado utilizando o sensor de movimentos da Microsoft, o
kinect. O sensor foi escolhido porque a interao homem mquina maior, inovando o campo
da jogabilidade e se tornando mais atrativo para o usurio.
Palavras-chave: jogo educativo, kinect, C#, Lua, Moai.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
223
CDIGO: ET1653
TTULO: Avaliao de Mtodos de Deteco e Classificao de Faltas em Linhas de Transmisso
AUTOR: SMARA DE CAVALCANTE PAIVA
ORIENTADOR: FLAVIO BEZERRA COSTA
Resumo:
Muitos so os trabalhos para melhoraria dos sistemas eltricos de potncia, seja para
melhorar a eficincia energtica da rede de distribuio e transmisso ou para aumentar a
proteo do sistema contra distrbios na qualidade da energia eltrica, aumentando assim a
segurana do sistema para as pessoas.
Dentre estes trabalhos, existem os que se preocupam em detectar faltas e/ou
distrbios, os que classificam este distrbio e aqueles que objetivam a localizao do ponto da
linha de transmisso que ocorreu estes problemas. Em vrios destes trabalhos vem sendo
implementados mtodos automticos para anlise destas faltas e/ou distrbios, fazendo uso
de diversas ferramentas matemticas. Dentre as quais destacam-se as transformadas
Wavelets, que costumam ser usadas tanto individualmente como em conjunto.
Este Projeto faz uso das transformadas Wavelets para anlise de faltas em linhas de
transmisso. Para isso foram alterados alguns parmetros como os tipos de faltas, podendo
ser monofsicas, bifsicas, bifsicas-terra ou trifsicas; a resistncia da falta; a localizao da
falta, podendo ser de 2 a 178 km e ao ngulo da falta, que pode variar de 0 a 180.
Palavras-chave: Linha de Transmisso, localizao e deteco de faltas.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
224
CDIGO: ET1655
TTULO: COMPORTAMENTO MECNICO DE PASTAS DE CIMENTO PARA POOS DE PETRLEO
AUTOR: RENATA DE OLIVEIRA ARAUJO
ORIENTADOR: JULIO CEZAR DE OLIVEIRA FREITAS
Resumo:
O emprego de aditivos minerais como substituintes parciais do cimento Portland na
preparao de pastas cimentcias uma prtica cada vez mais difundida em tecnologia do
cimento devido aos benefcios tcnicos e econmicos proporcionados. Alm da reduo dos
gastos com cimento, tais aditivos so adicionados com a finalidade de aprimorar o
comportamento dos materiais cimentcios: para os concretos e argamassas no estado fluido,
incrementam a consistncia e coeso das misturas; no estado endurecido, aumentam a
resistncia compresso e diminuem a permeabilidade por meio de reaes qumicas ou por
efeitos fsicos (preenchimento de poros). Sabe-se tambm que, s altas temperaturas
encontradas em poos petrolferos, ocorre uma diminuio na resistncia compressiva das
pastas de cimento e um aumento na permeabilidade das mesmas como consequncia da
converso do silicato de clcio hidratado em fases ricas em cal (fenmeno conhecido como
retrogresso da resistncia). O presente trabalho prope aplicaes de fontes alternativas
como agentes anti-retrogresso da resistncia mecnica de pastas de cimento expostas a
elevadas temperaturas e moduladores de resistncia a condies ambientes. Essas novas
fontes podero substituir os aditivos utilizados convencionalmente pelas companhias do setor
petrolfero.
Palavras-chave: Cimento Portland, Pozolanas, Retrogresso e Cimentao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
225
CDIGO: ET1658
TTULO: SECAGEM SOLAR DE ALIMENTOS UTILIZANDO SECADOR SOLAR DE BAIXO CUSTO
AUTOR: MARCIO JOSE ALVES MONTEIRO FILHO
ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA
Resumo:
Apresenta-se um secador solar de exposio direta para a produo de frutas secas,
fabricado a partir de um tambor de polietileno reciclado, de 200 litros, usado para
armazenamento de gua ou lixo. O tambor foi seccionado ao meio, em seu eixo longitudinal, e
teve suas metades unidas formando uma estrutura tipo calha. Sero descritos os processos da
construo e montagem do secador solar proposto, que tem como principal caracterstica seu
baixo custo, e foi idealizado para uso de pessoas com baixa renda, para o processamento de
frutas amplamente disponveis em nossa regio (manga, banana, goiaba, caju, abacaxi, tomate
e outros) em frutas secas e farinhas, contribuindo significativamente para aumentar a vida til
desses alimentos. As nozes e farinhas podem ser utilizadas para consumo prprio e para
trabalhos de marketing e gerao de renda. Sero realizados testes que iro diagnosticar a
viabilidade do uso de secador solar para os diversos tipos de frutas tropicais. Sero tambm
comparados parmetros como tempos de secagem e eficincia trmica, obtidos no prottipo
com os encontrados na literatura especializada em desidratao de alimentos. Os tempos de
secagem obtidos no secador foram competitivos com os obtidos em outros modelos de
secadores desenvolvidos no LMHES.
Palavras-chave: energia solar, secador solar, tambor de polietileno, de baixo custo.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
226
CDIGO: ET1659
TTULO: Estudo de modelos de valorao para empresas incubadas Ncleo de Aplicao de
Tecnologias Avanadas
AUTOR: PABLO PEKOS COSTA ORRICO
ORIENTADOR: CARLOS ALEXANDRE CAMARGO DE ABREU
Resumo:
O visa fazer estudos para conhecer a infraestrutura de Pesquisa e Desenvolvimento
(P&D) da UFRN e o atendimento aos requisitos tcnicos de qualidade dos laboratrios
internos. O foco do estudo busca informaes das Spin off, do conhecimento acadmico, mais
especificamente levantar informaes sobre organizaes, equipamentos, materiais,
fornecedores, sistemas de metrologia, normas e regulamentos tcnicos, bem como a interface
com outros laboratrios, empresas, prestao de servios e informaes tecnolgicas. O
estudo abrange tambm a elaborao de um modelo de valorao para empresas incubadas
no NATA (Ncleo de Aplicao de Tecnologia Avanadas). Os Agentes de Inovao tem o papel
mais importante dentro deste projeto, porque ele o executor e quem desenvolve todos os
estudos necessrios para que seja alcanado o objetivo j previsto anteriormente. A tentativa
de modificar a cultura empreendedora inovadora o desafio desses Agentes, mostrando para
sociedade universitria formas diferentes de pensar com relao a empresas incubadas,
inovao e o papel dos prprios Agentes de Inovao.
Palavras-chave: Valorao de empresas incubadas, inovao e laboratrios.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
227
CDIGO: ET1663
TTULO: ISOLAMENTO TRMICO QUASIPERIDICO
AUTOR: DIEGO TAVARES VOLPATTO
ORIENTADOR: PAULO DANTAS SESION JUNIOR
Resumo:
Um dos maiores desafios no meio industrial na busca por eficincia energtica a
isolao trmica, o que remete ao transporte de fluidos em tubulaes, onde se busca
materiais cada vez mais baratos e com maior capacidade isolante. Nesse contexto, esta
pesquisa consistiu na modelagem matemtica e simulao numrica de um modelo de
tubulao baseado na srie matemtica de Fibonacci, que utiliza dois materiais: o vidro celular,
material comum na indstria, e a fibra de sisal, material de baixo custo e facilmente
encontrado na regio do Rio Grande do Norte. A relevncia deste trabalho est em avaliar e
possibilitar o barateamento e aumento da eficincia trmica de tubos isolantes para uso
industrial.
Palavras-chave: Termofluidodinmica; Isolamento trmico; Tubulaes; Fibra de sisal.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
228
CDIGO: ET1668
TTULO: Determinao da eficincia de suportes catalticos de aluminatos de zinco na
produo de biodiesel
AUTOR: DANIELLE ALVES RIBEIRO DA SILVA
ORIENTADOR: KALINE MELO DE SOUTO VIANA
Resumo:
Os xidos metlicos mistos do tipo espinlio uma importante classe de materiais
catalticos mundialmente investigados em diferentes campos de aplicaes. Diversos mtodos
de sntese tm sido utilizados para a obteno de ps com partculas nanomtricas de
aluminato de zinco, dentre os quais podemos citar a sntese hidrotrmica, coprecipitao e sol-
gel. A sntese por reao de combusto destaca-se como uma tcnica promissora, auto-
sustentvel, no envolve muitas etapas e produz ps com elevado grau de pureza,
homogeneidade qumica e quase sempre em escala nanomtrica. O presente projeto realizou
a sntese por reao de combusto convencional e a caracterizao de suportes catalticos de
ZnAl2O4 para obteno de biodiesel a partir de leo de soja. A Caracterizao estrutural dos
catalisadores foi realiza por difrao de raios-X (DRX), espectroscopia de infravermelho (FTIR) e
anlise qumica por espectroscopia de difrao de raios-X (EDX); Caracterizao morfolgica
dos ps de ZnAl2O4 por microscopia eletrnica de varredura (MEV), anlise textural e
distribuio granulomtrica; Caracterizao do leo de soja e do catalisador (ZnAl2O4) a ser
utilizado na produo do biodiesel, testes de transesterificao em escala de bancada, onde o
percentual de biodiesel produzido foi determinado por cromatografia gasosa. Ao final deste
trabalho, pode-se concluir que o aluminato de zinco um bom catalisador para produo de
biodesel nas condies utilizadas neste trabalho.
Palavras-chave: aluminato de zinco, catalisador, biodiesel, leo de soja.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
229
CDIGO: HS0109
TTULO: O Ensino da Matemtica nas Escolas do Rio Grande do Norte (1960 a 1980).
AUTOR: JULIANA TEIXEIRA DORNELOS ALVES
ORIENTADOR: LILIANE DOS SANTOS GUTIERRE
CO-AUTOR: JOO PAULO DELFINO DE LIMA
Resumo:
Apresentarei nesse congresso as atividades de iniciao cientfica (IC) desenvolvidas no
decorrer do ltimo ano, atreladas ao projeto que trata do ensino de Matemtica nas escolas
do RN, entre os anos de 1960 1980. Esse projeto tem como principal objetivo descrever e
analisar toda a trajetria do ensino da Matemtica, durante o perodo citado. Assim, na fase
inicial, estudei e fiz fichamentos de textos de alguns livros, para que pudesse me integrar com
o assunto da pesquisa. Posteriormente, visitei arquivos, a saber: o arquivo da Biblioteca
Central Zila Mamade da UFRN, onde encontramos algumas reportagens de jornais sobre
eventos de educao da poca; os arquivos pessoais do professor de Matemtica Evaldo
Rodrigues de Carvalho (in memoriam), no qual conseguimos ter acesso a trs livros de sua
autoria; os arquivos da Escola Estadual Baro de Mipibu, onde encontramos dirios de classe
(1919) e livros de atas. Alm destes, destacamos nossa descoberta por trs cadernos de
Matemtica (1920), que se encontram na Escola Domstica de Natal. E para enriquecer minha
produo cientfica, participo dos estudos realizados pelo Grupo Potiguar de Estudos e
Pesquisas em Histria da Educao Matemtica (GPEP), grupo recm-criado na UFRN,
coordenado pela professora orientadora do projeto. Portanto, considero que o projeto foi
concludo com grande xito, mas sabemos que ele tem muito mais a ser desvendado e
acrescentado, por isso, juntamente com os membros do GPEP obteremos novas descobertas.
Palavras-chave: Ensino; Matemtica; Atividades; Pesquisa; Arquivo.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
230
CDIGO: HS0122
TTULO: ELABORANDO UM INSTRUMENTO PARA AVALIAR O CLIMA ESCOLAR
EM ESCOLAS DA REDE PBLICA EM NATAL-RN
AUTOR: LORENA MACDO ANDRADE NEVES DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA MEDEIROS DE AZAMBUJA ELALI
CO-AUTOR: RAQUEL FARIAS DINIZ
Resumo:
Com vistas a investigar a inter-ao estudante-escola em instituies pblicas de Natal-
RN previa-se aplicar uma verso adaptada da escala de Moss (1974). Constatada a
incompatibilidade entre tal instrumento e a realidade local (questes distantes do cotidiano
vivenciado) optou-se por desenvolver um instrumento especfico, realizando um estudo piloto
em trs etapas: levantamento de variveis; elaborao de instrumento; pr-teste. Alm da
literatura (Haynes, Emmons, & Comer, 1993; Loukas, 2009; Moos & Tricketti, 1974; Sinclair,
1970; Tamayo, 1999) o levantamento de variveis recorreu a entrevistas coletivas com alunos
e funcionrios, utilizando questes relacionadas permanncia na instituio, interao entre
estudantes/professores/funcionrios e sensaes atribudas ao lugar, sendo identificadas
narrativas relacionadas a bem-estar, cooperao/competitividade, vnculos/pertena,
normas/punies, necessidade de melhoria do espao para realizar atividades, desejo de
abandono/permanncia e desconforto/prazer. A aplicao do questionrio se deu em 3
escolas pblicas de Natal/RN, e ocorreu em 2 momentos distintos, ao longo de 2012.1 e
durante 2013.1. Embora o instrumento tenha possibilitado uma avaliao inicial da
problemtica, ainda precisa ser aperfeioado.Espera-se que a partir deste seja possvel ampliar
o entendimento sobre o modo como grupos podem sentir-se em relao s dimenses do
clima escolar, o que poder levar a intervenes coerentes s realidades investigadas.
Palavras-chave: Inter-aes Pessoa-Ambiente;Clima escolar; Estudantes.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
231
CDIGO: HS0123
TTULO: Participao social na poltica de desenvolvimento local
AUTOR: VNIA HELOISE DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: GUILHERME REIS PEREIRA
Resumo:
A pesquisa buscou estudar a participao das entidades da sociedade civil nas polticas
pblicas, especialmente as de desenvolvimento local no Serid do Rio Grande do Norte. No
desenvolvimento da pesquisa tornou-se necessrio estudar as principais teorias sobre os
movimentos sociais e como essas teorias procuram explicar os movimentos sociais
atualmente. A pesquisa se baseou na anlise de documentos oficiais, trabalhos acadmicos,
participao em reunies e entrevistas com lideranas da sociedade civil. Os resultados do
trabalho mostram a existncia de um nmero considervel de associaes e sindicatos, alm
de uma sociedade geradora de capital social que est relacionado com o Movimento de
Educao de Base da Igreja Catlica e com o Servio de Apoio aos Projetos Alternativos
Comunitrios (SEAPAC). Identifica-se ainda uma identidade territorial da populao seridoense
em razo das restries ambientais e econmicas.
Palavras-chave: Sociedade civil, capital social, participao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
232
CDIGO: HS0263
TTULO: Argumentao e Informatividade nas prticas de escrita do BC&T/UFRN
AUTOR: MARLIA CAMPOS SABINO
ORIENTADOR: JOSE ROMERITO SILVA
Resumo:
Neste trabalho, verificamos produes textuais de alunos do Bacharelado em Cincias
e Tecnologia (BC&T/UFRN) em trs atividades aplicadas nas disciplinas Prticas de Leitura e
Escrita I (PLE I) e Prticas de Leitura e Escrita II (PLE II). Selecionamos tais atividades, aps uma
varredura nos exerccios elaborados pelos docentes de PLE I e PLE II, no semestre letivo
2012.1, por apresentarem propostas com problemas no que se refere a informatividade.
Objetivamos investigar a relao entre as propostas das atividades e o grau de atendimento ao
comando destas, considerando o nvel de desempenho discente nas produes responsivas.
Buscamos confirmar a hiptese de que a forma de administrao do grau de informatividade
nos enunciados dos comandos influencia as produes escritas dos alunos. A anlise est
situada no mbito da Lingustica Funcional Centrada no Uso, conforme defendida por
pesquisadores como Tomasello (2003), Bybee (2010), Furtado da Cunha et al. (2003).
Utilizamos, ainda, as contribuies tericas de Benveniste (1976), Travaglia (2006), Roncarati
(2010), entre outros autores. Com isso, pretendemos comprovar o quo importante
gerenciar adequadamente o contedo informacional a dada situao interativa, bem como
acompanhar de forma mais atenta as produes responsivas discentes. Almejamos, ainda,
contribuir para o aprimoramento das prticas de escrita dos docentes e graduandos do BC&T.
Palavras-chave: Informatividade. Produo textual. Lingustica Cognitivo-Funcional.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
233
CDIGO: HS0296
TTULO: Avaliao da relao existente entre a formao de adolescentes em Cursos Tcnicos
Integrados ao Ensino Mdio na Escolha Profissional de Nvel Superior.
AUTOR: MAURO BEZERRA MONTELLO
ORIENTADOR: LIGIA SOUZA DE SANTANA PEREIRA
Resumo:
A proposta de estudo objetiva identificar a relao entre a formao de nvel tcnico e
os interesses de estudantes da Escola Agrcola de Jundia na escolha profissional. Pretende
compreender a repercusso pessoal e profissional no que se refere oportunidade de ainda
durante a adolescncia e o Ensino Mdio o estudante se aproximar de um campo profissional
especfico e desenvolver habilidades para atuar. Inicialmente foi elaborado um questionrio e
aplicado aos alunos do 3 ano da Escola Agrcola de Jundia para identificar qual estava sendo a
percepo deles em relao ao futuro profissional. Responderam ao questionrio 19 alunos,
sendo 11 do sexo masculino e 8 do sexo feminino. Destes, 17 estavam em formao tcnica e
2 apenas no Ensino Mdio. Todos pretendem ingressar em curso superior, de forma que 8
fazem curso preparatrio. Do grupo participante, 18 afirmaram ter dvidas acerca de temas
que envolvem o ingresso em faculdades/universidade (ENEM, SISU, Prouni, Fies e sistema de
cotas). A anlise do questionrio revelou que diversos alunos apresentam dificuldades na
escolha profissional e tm interesse em mltiplas profisses. Desta forma, foram planejadas
atividades para melhorar a compreenso sobre a escolha profissional, facilitando-a e
ampliando as suas possibilidades de sucesso. Ser realizado um seminrio sobre as dvidas
apresentadas e atividades de orientao vocacional individual e em grupo atravs de
instrumentos e tcnicas psicolgicas.
Palavras-chave: Orientao Profissional/Vocacional; Ensino Mdio.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
234
CDIGO: HS0297
TTULO: Juventude e ruralidade
AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA COSTA
ORIENTADOR: NILDETE MARIA DA COSTA FERREIRA
CO-AUTOR: EWERTON FRANA DE FARIAS
CO-AUTOR: DANIELE DE MACEDO COSTA
CO-AUTOR: JOANICE E SILVA MIRANDA
Resumo:
A pesquisa se baseou na necessidade de se conheceras expectativas dos discentes que
buscam sua profissionalizao nos cursos tcnicos, notadamente o curso de agropecuria,
agroindstria, aquicultura e informtica. A proposta partiu tambm do entendimento de que
as configuraes na lgica de acumulao do capital alterou a dinmica do meio rural e em
consequncia, a vida de suas populaes, principalmente a dos jovens, influenciando nas suas
perspectivas profissionais. O rural se coloca como espao de vida concreta, englobando a
assimilao de novos cdigos globais, mas tambm da reaproximao e revalorizao da
cultura local. Nesse sentido, buscaremos com esse projeto identificar, a partir desse contexto e
das experincias vividas, como essa juventude percebe a EAJ, Como objetivo do envolvimento
dos discentes na execuo do projeto esperamos, principalmente, que os mesmos: i) adquiram
experincia de iniciao pesquisa cientfica; ii) apliquem os conhecimentos adquiridos em
sala de aula; iii). Aplicamos sete entrevistas com os discentes que esto domiciliados na EAJ e
que residem ou tem origem rural. Cujos resultados preliminares nos indicam que a maioria
deles esto na EAJ porque querem adquirir aprendizagem e novas tcnicas para que
futuramente venha a alcanar um emprego e usufruir de uma vida social melhor.
Palavras-chave: juventude, EAJ, curso tcnico.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
235
CDIGO: HS0308
TTULO: A relao Locuo Adjetiva/Adjetivo - Plano de sade = Plano saudvel?
AUTOR: IURY MAZZILI GOMES DANTAS
ORIENTADOR: JOSE ROMERITO SILVA
Resumo:
A locuo adjetiva uma construo sinttica com funo adjetival formada por uma
preposio mais um substantivo, figurando como modificador nominal. Pelo fato de, em
muitos casos, a locuo adjetiva possuir um adjetivo simples correspondente, a tradio
gramatical costuma tratar locues adjetivas e seus adjetivos correlatos como um par
permutvel, ou seja, cuja escolha de uma forma ou de outra no acarreta nenhuma mudana
funcional. essa ideia que vemos defendida, por exemplo, em Almeida (1999) e em Azeredo
(2010). Entretanto, no assim que ocorre no uso da lngua, o qual tem demonstrado haver
diferenas discursivas relevantes entre as duas formas. Exemplo disso a amostra ?culos de
sol?, em que ?de sol? no poderia ser substitudo por ?solares?, uma vez que resultaria em um
sentido diverso e estranho. Desse modo, o objetivo do trabalho dar continuidade a um
projeto de pesquisa acerca do par locuo adjetiva/adjetivo, analisando-se as possibilidades ou
no de permuta entre essas formas, bem como as motivaes para a escolha de uma
construo ou de outra. Para tanto, sero utilizadas as contribuies tericas da Lingustica
Funcional Centrada no Uso, conforme se encontram em autores como Croft (1991), Ford et al.
(2003), Givn (2009), Bybee (2010), entre outros. O material de anlise composto de textos
da seo Guia de revistas Veja. Esperamos, com este trabalho, contribuir para o ensino de
lngua materna com uma anlise mais aprofundada da categoria em questo.
Palavras-chave: Locuo adjetiva; Adjetivo; Lingustica Funcional Centrada no Uso.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
236
CDIGO: HS0313
TTULO: Avaliao dos cursos profissionalizantes integrados ao ensino mdio na Escola
Agrcola de Jundia.
AUTOR: GABRIEL ANTONIO DA CRUZ CARNEIRO
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA CESARIO LUCAS
Resumo:
O presente projeto se prope a investigar aspectos facilitadores e entraves presentes
nos processos formativos a partir da perspectiva discente. Para realizao da atividade foi
realizada reviso de literatura para compreender aspectos histricos, sociais e pedaggicos
que perpassam os cursos tcnicos integrados ao Ensino Mdio. Posteriormente, foi elaborado
um questionrio semi-aberto para verificar a adequao do instrumento. Foram entrevistados
37 discentes, representando mais de 50% do total de alunos do 2 ano do Ensino Mdio
Integrado ao Curso Tcnico. Destes, 20 cursavam Informtica e 17 Agroindstrias, sendo 25 do
sexo feminino e 12 do sexo masculino. Os dados parciais deste estudo revelam que metade
dos estudantes entrevistados (51%) concilia os cursos de formao tcnica e bsica com
facilidade, entretanto 70% entendem que o horrio sobrecarregado;75% afirmam que a
aprendizagem na rea tcnica satisfatria. Os estudantes apontaram que os fatores que mais
contribuem para reprovao escolar a liberdade/autonomia que a escola proporciona, o
intenso acmulo de atividades e a falta de tempo para estudo fora de sala. A recuperao
semestral e o planto pedaggico foram citados como as melhores estratgias para evitar a
reprovao escolar. Neste sentido, fundamentando-se nas informaes levantadas e aquelas
que ainda sero colhidas e discutidas podemos refletir e buscar encaminhamentos que
acrescentem maior efetividade e coerncia formao profissional na EAJ.
Palavras-chave: Avalizao - Curso- Profissionalizante - Integrado EAJ.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
237
CDIGO: HS0334
TTULO: Jundia : opo ou obrigao?
AUTOR: EWERTON FRANA DE FARIAS
ORIENTADOR: NILDETE MARIA DA COSTA FERREIRA
CO-AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA COSTA
CO-AUTOR: JOSE ROBERTO DE LIMA
Resumo:
Essa proposta de trabalho faz parte do projeto de pesquisa "Ruralidades e juventude"
que est sendo desenvolvido na Escola Agrcola de Jundia, sob a coordenao da professora
Nildete Maria da Costa Ferreira.
A proposta partiu de que as configuraes na lgica de acumulao do capital alterou a
dinmica do meio rural e em conseqncia, a vida de suas populaes, principalmente a dos
jovens. Nesse sentido, buscaremos com esse projeto identificar, como essa juventude percebe
a EAJ, qual seu papel na realizao dos sonhos do jovem rural?
Traamos como objetivo central compreender melhor o papel da EAJ na formao
profissional do jovem de origem rural. fizemos uma reviso do roteiro de entrevista buscando
aprimor-lo, entendendo estes jovens como medidas de mudanas no campo. Por se tratar de
um estudo predominantemente qualitativo. Entrevistamos alguns alunos do curso
subseqente de agropecuria com perguntas bem abertas, mas tambm fomos unidade de
assistncia ao educando (UAE), para coletarmos dados importantes tais como, de onde vieram,
a maioria desses jovens e qual renda da Familiar. Atravs desses dados montamos uma tabela
feita no Excel.O resultados parciais foram que maioria desse jovens vieram do interior do
estado do Rio Grande do Norte e 50% deles da zona rural, e tem renda familiar entre 1 a 2
salrios mnimos por famlia, assim no pesando em voltar aps o termino do curso para atuar
em sua comunidade ou cidade, visando sim um ingresso num curso superior.
Palavras-chave: JUVENTUDE, RURAL, JUNDIA.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
238
CDIGO: HS0335
TTULO: DA CIDADE COLONIAL A METRPOLE MODERNIZADA - LIMA BARRETO E AS
REFORMAS URBANAS NO INICIO DO SCULO XX
AUTOR: REBECA GRILO DE SOUSA
ORIENTADOR: GEORGE ALEXANDRE FERREIRA DANTAS
Resumo:
As transformaes urbanas mobilizadas por Pereira Passos no Rio de Janeiro do incio
do sculo XX remodelavam a urbe de aspectos coloniais para uma cidade embelezada e
salubre. Neste espao de efervescncia de mudanas urbanas, imagticas e sociais, pululavam
questionamentos sobre a cidade em construo e a cidade que deveria ser construda, tendo
em vista que as reformas se concentravam no centro antigo e na zona sul da cidade enquanto
a zona norte da cidade passava a abrigar as classes populares atingidas pelas demolies de
moradias e pelo aumento dos aluguis no centro antigo fluminense. A viso do suburbano,
uma testemunha das transformaes urbanas aqui representada pelo escritor Lima Barreto;
sua obra apresenta a viso particular da cidade que, por vezes, era a mesma partilhada por
aqueles que nada puderam interferir na nova cidade em construo. Para tanto, as
representaes sobre a dimenso material da cidade nas duas verses do romance barretiano
Clara dos Anjos foram confrontadas com as representaes em peridicos e outras publicaes
literrias da poca que se ativeram ao mesmo aspecto. Barreto apresentou o Rio de Janeiro
remodelado por Pereira Passos como uma reproduo da Paris de Haussmann. O autor no se
opunha a modernizao da urbe, mas esta deveria atender aos condicionantes fsicos, sociais,
e culturais cariocas. O estudo da histria urbana prope, tambm, a reflexo e
contextualizao sobre os processos de transformaes urbanas recentes.
Palavras-chave: Representaes, Lima Barreto, Rio de Janeiro, transformao urbana.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
239
CDIGO: HS0379
TTULO: Trocas migratrias e polarizao do RN no contexto regional
AUTOR: RAFFAEL BIZERRA DE SOUSA
ORIENTADOR: RICARDO OJIMA
Resumo:
O trabalho aqui proposto relata o comportamento de algumas variveis perante a
anlise de dados do Censo Demogrfico, que mostra ao decorrer do tempo, alguns fatores
para a observao dessa dinmica de movimentao de uma populao, referente ao
deslocamento da populao de um estado, por alguns fatores sociais e econmicos.
Palavras-chave: Migrao, Populao, SPSS.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
240
CDIGO: HS0386
TTULO: Viagens pitorescas e imagens tropicais: as representaes da cidade colonial das
provncias do norte na obra de William John Burchell (1825-1830).
AUTOR: BARBARA GONDIM LAMBERT MOREIRA
ORIENTADOR: GEORGE ALEXANDRE FERREIRA DANTAS
Resumo:
Com a abertura dos Portos em 1810, O Brasil adquiriu importncia estratgica,
cientfica e comercial no cenrio europeu, recebendo grande contingente de artistas e
cientistas estrangeiros. A figura do naturalista ingls William John Burchell destaca-se dentre
esse grupo, sobretudo por seu pioneirismo ao percorrer parte das provncias do norte do Brasil
e retratar sua paisagem natural e ncleos urbanos. A pesquisa apresentada busca
compreender o papel da obra de Burchell na construo das representaes sobre a paisagem
urbana oitocentista, contribuindo ao debate sobre a formao das representaes sobre a
cidade colonial. A anlise fundamentou-se na reviso bibliogrfica, com enfoque na
problematizao do material iconogrfico produzido por Burchell como fonte historiogrfica
sobre o assunto e na anlise da iconografia elencada por meio de sua leitura formal e
interpretativa. Os primeiros resultados apontam dissonncias entre a obra de Burchell e o
corpus iconogrfico dos demais viajantes. Burchell apercebe-se da unidade arquitetnica
colonial; porm, acura o olhar e distingue outras influncias em nossa arquitetura, (como a
herana indgena) e avana acima da homogeneizao to recorrente na historiografia do
tema. As cidades do norte do Brasil so por vezes apresentadas em intenso movimento, um
contraponto aos discursos dos poucos viajantes que a percorreram, demonstrando que o olhar
de Burchell vai se adequando e apreendendo sobre o Brasil medida que segue viagem.
Palavras-chave: viajantes estrangeiros, paisagens urbanas, sculo XIX.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
241
CDIGO: HS0397
TTULO: Engenheiro Moacyr Maia: traos iniciais de sua trajetria profissional e acadmica e
de sua relao com as concepes inovadoras da moradia.
AUTOR: MASA CORTEZ DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA
Resumo:
O engenheiro civil Moacyr Maia atuou profissionalmente em Natal a partir de meados
do sculo XX. Aps se formar na antiga Escola de Engenharia de Pernambuco (EEP), no Recife,
filiou-se aos Institutos de Aposentadorias e Penses (IAPs), rgos que contriburam para a
disseminao da arquitetura e urbanismo modernistas no pas por meio de sua poltica
habitacional. Nos IAPs, Maia concebeu varias obras, dentre as quais se destaca o Conjunto
Nova Tirol, pioneiro para o contexto local. Objetiva-se apontar elementos iniciais que
possibilitem entender a participao de sua trajetria acadmica e profissional na introduo
de novas concepes de moradia na cidade. Para tanto, procedeu-se a sistematizao e anlise
de dados sobre seu percurso, coletados em documentos da EEP, numa coletnea de
depoimentos publicados e no Banco de Dados do HCUrb. Percebeu-se que sua formao foi
decisiva para a posterior atuao. O acervo bibliogrfico da EEP contava com livros e
peridicos atualizados que possibilitou o contato do engenheiro com uma nova arquitetura.
Juntamente a isso, o exerccio profissional foi delineado tambm pelo ambiente em que
trabalhou, no caso a cidade de Natal. As idias de modernidade foram adequadas s
caractersticas da realidade local. Assim, a proximidade com novos preceitos em sua formao
e o iderio presente na sociedade natalense delinearam os traos de sua atuao.
Palavras-chave: engenheiros, IAPs, circulao de idias.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
242
CDIGO: HS0404
TTULO: Debates ideolgicos e cartografia na construo da nao brasileira nos sculos XIX e
XX: consideraes de um estudo.
AUTOR: DSIO RODRIGO DA ROCHA SILVA
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA
Resumo:
A construo do saber se pauta na resoluo de questionamentos que proporcionam o
desenvolvimento de mtodos para cognio da realidade. No Brasil, ao final do Imprio, a
informao sobre o territrio e a prpria possibilidade de concepo de sua identidade,
estabeleceu-se dentro de um projeto de fortificao do Estado Nao que tinha por finalidade
um possvel desenvolvimento econmico visando a minoria abastada e seu domnio poltico.
Levantar elementos para compreender o papel das mudanas histrico-espaciais, na produo
cartogrfica e dos debates sobre as questes ideolgicas do momento pelo qual passava o
Brasil na delimitao territorial o objetivo deste trabalho. Tomou-se como base os saberes e
discursos referentes ao territrio e suas repercusses na cartografia poca, evidenciando o
contexto em que foram criadas e sua importncia no contorno da rea de domnio nacional.
Para isso, buscou-se nas concepes dominantes de pensamento no pas, nos sculos XIX e XX,
as finalidades do uso das representaes do espao. Ao que tange a discusso, foram
levantadas informaes que tornam vlida a argumentao inicial levantada. Entre elas, pode-
se citar os debates no IHGB, um dos principais agentes difusores de ideias no perodo
abordado pelo estudo. O IHGB contribuiu para a elaborao de um projeto que permitiu o
esforo de construir a concepo de uma nao. Assim, percebe-se a participao das
instituies no conhecimento e na forma de uso do espao nacional.
Palavras-chave: Territrio Brasileiro; Cartografia; Concepes Dominantes;
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
243
CDIGO: HS0412
TTULO: Dois engenheiros e as transformaes estticas e funcionais dos IAPs: contribuies
para a construo de suas trajetrias profissionais
AUTOR: KELLY JESUS SODRE
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA
Resumo:
O estudo sobre o papel dos Institutos de Aposentadoria e Penso na produo de
moradias urbanas para trabalhadores evidenciou a participao dos profissionais envolvidos, a
importncia da circulao de ideias e a contribuio dos engenheiros na modernizao da
concepo de moradia e aplicao de novos conceitos na arquitetura e no urbanismo na
capital potiguar. Entre os profissionais que atuaram em Natal encontram-se o pernambucano
Joaquim Victor de Hollanda e seu filho Dirceu Victor Gomes de Hollanda. Identificar os
subsdios para entender a insero destes profissionais na introduo de inovaes na
arquitetura moderna o objetivo do trabalho. Utilizaram-se dados levantados no Banco de
Dados ?Empreendimentos - HCUrb? do Grupo de Pesquisa Histria da Cidade, do Territrio e
do Urbanismo e em conversas informais com familiares. Constatou-se que Joaquim
Hollanda foi convidado por Rafael Fernandes e Janurio Cicco na dcada de 1930 para projetar
a fachada da Maternidade de Natal. Na cidade construiu exemplares como a Vila da Marinha;
atuou junto ao IPASE, o Instituto dos Servidores Estaduais, como construtor e avaliador de
imveis. Dirceu Hollanda atuou junto ao IAPB, Instituto dos Bancrios, nas mesmas funes.
Com o auxlio dos engenheiros, os IAPs inovaram suas obras. Os Hollanda participaram dessas
mudanas na cidade j que construram, tambm fora dos IAPs, obras de destaque,
contribuindo para as transformaes estticas e funcionais na arquitetura em Natal.
Palavras-chave: IAPs, Hollanda, IPASE, IAPB, inovaes arquitetnicas, engenheiros.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
244
CDIGO: HS0427
TTULO: A influncia da formao de adolescentes em Cursos Tcnicos
Concomitantes/Integrados ao Ensino Mdio na Escolha Profissional de Nvel Superior.
AUTOR: MARJORYE ISIDIO DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: LIGIA SOUZA DE SANTANA PEREIRA
Resumo:
Com a mudana dos processos seletivos para ingressar na faculdade,a escolha do
Enem como mtodo de avaliao em algumas faculdades,foi elaborado um mecanismo de
sondagem(questionrio) que foi aplicado aos alunos do 3 ano da Escola agrcola de Jundia.
Neste questionrio era perguntado,a idade,se fazia curso tcnico,qual profisso escolhida para
exercer no futuro,se apresentava duvida em relao aos processos seletivos utilizados por
algumas faculdades privadas ou no, se faz um curso preparatrio para poder ingressar na
universidade ou faculdade e se pretendia fazer faculdade/universidade ao trmino do ensino
mdio.Esse questionrio foi aplicado a 19 alunos,todos pretendem ingressar em um curso
superior,18 tinham duvida a cerca de temas que envolvem o ingresso em
faculdades/Universidade, avaliando o questionrio obtivemos uma grande quantidade de
pessoas que possuem mais de uma opo de curso,sobre as duvidas os tpicos mais
questionados foram: ENEM,SISU,Prouni,Fies e sobre o sistema de cotas.Foi planejado uma
serie de atividades para melhorar o bem estar do aluno e tirar as suas duvidas, as atividades
propostas so: um seminrio sobre os temas que os alunos mais tiveram duvidas,um teste
vocacional para ajudar os alunos a ver suas aptides naturais, um jogo interativo sobre as
profisses que visa mostrar outras opes para os jovens e por ultimo quando estiver prximo
do ENEM pretende-se fazer uma atividade de relaxamento com os alunos que iro fazer o
exame.
Palavras-chave: SISU, Prouni, ENEM, cotas, Escola agrcola de Jundia, curso superior.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
245
CDIGO: HS0458
TTULO: Anlise e Avaliao de Projetos de Arquitetura Sustentvel
AUTOR: LEONARDO FERNANDES DIAS
ORIENTADOR: MAISA FERNANDES DUTRA VELOSO
Resumo:
A pesquisa analisa projetos de arquitetura que adotam princpios de sustentabilidade e
visa desenvolver, no bolsista de iniciao cientfica, senso crtico e analtico sobre a produo
contempornea da arquitetura brasileira, especialmente quanto qualidade ambiental, e
habilidades para construo e aplicao de instrumentos analticos em amostra de projetos e
obras que afirmam aplicar princpios de sustentabilidade. As anlises realizadas basearam-se
em um formulrio desenvolvido com base na literatura, no qual so considerados os
contedos textuais - memoriais dos projetos e materiais de divulgao - e os contedos
imagticos - desenhos arquitetnicos e imagens ilustrativas dos projetos. Como resultado
direto das pesquisas, tem-se a anlise dos seguintes projetos: o Edifcio Eldorado Business
Tower (SP), a Casa Alvorada (RS), a Escola Estadual Bairro Luz (SP) e a Sede da FATMA/FAPESC
(SC). Estes projetos acrescentaram elementos importantes pesquisa, permitindo identificar
bons exemplos de estratgias sustentveis, desde solues de conforto ambiental simples e
eficazes, como as utilizadas na Casa Alvorada at o uso de aparatos tecnolgicos sofisticados,
como o caso do edifcio Eldorado Business Tower. Atravs do cruzamento das anlises,
respaldadas pela bibliografia especfica consultada, tambm foram identificadas algumas
divergncias quanto ao pleno atendimento dos princpios de sustentabilidade, que incluem
alm da dimenso ambiental, a dimenso social e econmica.
Palavras-chave: Sustentabilidade; Projeto de Arquitetura; Arquitetura.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
246
CDIGO: HS0464
TTULO: Coleta, Cadastro e Anlise de Projetos de Arquitetura Sustentvel
AUTOR: WEKSLEY DAS CHAGAS CAVALCANTE
ORIENTADOR: MAISA FERNANDES DUTRA VELOSO
Resumo:
A pesquisa consiste essencialmente na realizao de uma coleta de dados e anlise de
empreendimentos com propostas sustentveis da regio metropolitana de Natal, alm da
atualizao do Banco de Dados denominado PROJEDATA, vinculado pesquisa. Tais atividades
visam o estmulo ao senso crtico, o aprendizado e capacitao no uso de ferramentas
analgicas e digitais no mbito da arquitetura e experincias de campo, para os bolsistas de
iniciao cientfica, e tambm um enriquecimento do banco de dados agregado. As anlises
foram feitas com embasamento na literatura especializada na rea de arquitetura sustentvel
ou ecoarquitetura, tendo como resultado um relatrio aprofundado sobre os aspectos
sustentveis do condomnio Veredas do Lago Azul, nico dos pesquisados no universo de
estudo a estabelecer um padro sustentvel em sua quase totalidade, exceto pelos quesitos
acessibilidade a transportes e a servios e distncia do local de trabalho da maioria de seus
potenciais moradores.
Palavras-chave: Sustentabilidade; Projeto; Arquitetura.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
247
CDIGO: HS0469
TTULO: Introduo aos Estudos de Msica Popular
AUTOR: RENAN VINICIUS ALVES RAMALHO
ORIENTADOR: LAURO WANDERLEY MELLER
Resumo:
Na dcada de 90, a cidade do Recife presenciou o surgimento de uma nova forma de
pensar a cultura local. Tendo por nome Mangue Beat, tal movimento props uma abertura no
arcasmo em que, segundo seus protagonistas, vivia a cultura pernambucana, para influncias
exgenas. Desse modo, esses artistas se inseriram no debate em torno dos discursos
representacionais da cultura local concernentes regionalidade e s suas identidades. Diante
disso, por meio de novas paisagens (o mangue frente ao serto; a cidade, ou manguetown,
frente ao rural), novas estticas sonoras (hibridaes entre ritmos locais e rock, funk, hip-hop)
e inspirados ainda pela produo literria de Josu de Castro, o Mangue Beat colocou em
cheque os padres culturais rgidos e estereotipados das representaes tradicionais
enrijecidas por uma economia simblica conservadora. No presente artigo analisaremos a
emergncia de tais questes na produo fonogrfica e performtica do grupo Nao Zumbi.
Palavras-chave: Manguebeat; Chico Science; Msica Brasileira; Identidade nordestina.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
248
CDIGO: HS0474
TTULO: Juventude e o "novo rural"
AUTOR: JOSE ROBERTO DE LIMA
ORIENTADOR: NILDETE MARIA DA COSTA FERREIRA
CO-AUTOR: EWERTON FRANA DE FARIAS
CO-AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA COSTA
Resumo:
Nessa pesquisa sero analisadas as perspectivas profissional dos jovens da zona rural,
que esto saindo do mesmo para estudar na escola Agricola de Jundiai em busca de
oportunidade de estudo, que facilitara a sua entrada no mercado de trabalho. At bem
recentemente, a juventude rural passava despercebida pelas pesquisas acadmicas e projetos
voltados para o universo rural (CARNEIRO,1998). So jovens agricultores e agricultoras que
buscam nos estudos na cidade o meio de progredir o trabalho no campo. So jovens que saem
do campo sazonalmente para estudar e retornam a comunidade onde residem aps o trmino
dos estudos, como forma de contribuir para o desenvolvimento da unidade de produo
familiar com implicaes de que a vida no campo; ou ainda, buscam fazer um curso de
graduao. Assim posto, e considerando a EAJ como espao de preparao de profissionais
para atuarem no meio rural, h necessidade de melhor entender os motivos que levaram
jovens de origem rural a buscarem se profissionalizarem nessa instituio. A pesquisa um
estudo de caso e de caracter descritivo. Estamos fazendo uma reviso da literatura sobre os
temas (juventude e novas ruralidades, Juventude e Permanncia jovem e assentamento) e
coletando dados primrios e secundrios, atravs de entrevistas com os discentes que residem
ou que tem origem rural, e de consulta a documentos da EAJ. Os resultados da pesquisa
poder contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem da EAJ.
Palavras-chave: EAJ, juventude, profissionalizao, rural.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
249
CDIGO: HS0498
TTULO: Patrimnio Arquitetural Modernista de Natal
AUTOR: NICHOLAS SARAIVA MARTINO
ORIENTADOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO
CO-AUTOR: NATHLIA DE ARAJO PINHEIRO
Resumo:
Foram exploradas caractersticas morfolgicas de residncias modernistas construdas
entre as dcadas de 1950 e 1970 em Natal, conforme casos registrados no acervo iconogrfico
resultante de dcadas de estudos realizados ou orientados por componentes do grupo de
pesquisa em Morfologia e Usos da Arquitetura, MUsA. Buscou-se identificar tipos distintos
conforme a produo vinculada a fatores temporais, locacionais, autoria, outros. Casos
considerados representativos desses tipos esto sendo inseridos em uma base de dados virtual
- resultado das minhas buscas por recursos de armazenamento em nuvem e eventual
descoberta da plataforma de dados , Google Fusion Tables - visando a divulgao desse acervo
georreferenciado na rede mundial de computadores. A pesquisa ancorou a produo de um
artigo cientfico - apresentado em dois eventos durante o ano - e contribuiu para a produo
de estudos apresentados no 4 Seminrio de Documentao e Conservao do Movimento
Moderno - DoCoMoMo Norte/Nordeste.
Palavras-chave: Arquitetura Potiguar, Arquitetura Moderna, Google Fusion Tables, SIG.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
250
CDIGO: HS0535
TTULO: ANLISE E SISTEMATIZAO DOS DADOS FSICO-AMBIENTAIS E PREDIO DO RUDO
NA REA DE INFLUNCIA DO ESTDIO ARENA DAS DUNAS, NO BAIRRO DE LAGOA NOVA, EM
NATAL/RN
AUTOR: RENATO NASCIMENTO GOMES
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO
Resumo:
A poluio sonora provoca uma degradao na qualidade do meio ambiente e se
apresenta como um dos problemas ambientais mais frequentes nas grandes cidades,
acarretando srios danos para os seus habitantes. So diversas as fontes sonoras, e o rudo
gerado pelo trnsito o mais comum. Desta forma, desenvolveu-se um trabalho que resultou
em uma anlise de rudo de trfego no bairro de Lagoa Nova, Natal/RN, tendo em vista que o
mesmo est passando atualmente por modificaes no espao urbano devido construo do
novo estdio para a Copa do Mundo FIFA de futebol, alm de obras de mobilidade em seu
entorno. Foi realizada a contagem classificada dos veculos (leves e pesados) e medio do
nvel de presso sonora Leq (dBA) em 14 pontos de medio, no horrio da manh (7hs s 8hs)
e noite (20hs s 21hs) , totalizando 6 medies de 10 minutos por ponto.
Como resultado observou‐se a correlao fortemente positiva entre o volume
de trfego e o Leq (dBA) medido. As medies de nvel de presso sonora em campo
revelaram tambm que os nveis de rudo esto acima do recomendado pelas normas em
todos pontos medidos, e h vias com saturao viria com relao ao volume de veculos.
Palavras-chave: Poluio Sonora, Rudo de Trfego, Mapeamento Sonoro.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
251
CDIGO: HS0562
TTULO: Vulnerabilidade sociodemogrfica na RM de Natal: expanso urbana e meio ambiente
no eixo sul
AUTOR: LUCIEIDE CARNEIRO DA SILVA
ORIENTADOR: RICARDO OJIMA
Resumo:
As cidades brasileiras tradicionalmente tm sido caracterizadas pela sua concentrao
na faixa litornea do pas, resqucio do seu processo histrico de colonizao, e pelo
adensamento populacional nas capitais e principais cidades, fruto de um intenso e acelerado
processo de transio urbana que ocorreu no pas em meados do sculo 20. O bioma da Mata
Atlntica, que representa praticamente toda a faixa litornea brasileira, abrigava 57% da
populao brasileira sendo que, destes, 90% vivendo em reas classificadas como urbanas,
segundo os dados do Censo Demogrfico 2010 (Ojima; Martine, 2012).
Atravs das mudanas dos modos de produo pretritos, especialmente nas formas
de urbanizao existentes no modo de produo capitalista recente, a cidade tornou-se o lcus
simultneo de conflito e redeno dos grandes dilemas sociais contemporneos (Lefebvre,
2009). Portanto, ao tentarmos compreender a cidade e os centros urbanos nos estudos
populacionais, devemos considerar tambm as diferentes formas de produo do espao
urbano atravs de suas intencionalidades e do simbolismo que reproduzem desigualdades
socioespaciais.
Palavras-chave: Mobilidade Espacial; Vulnerabilidade; Disperso; Planejamento Urbano.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
252
CDIGO: HS0591
TTULO: Migraes e urbanizao dispersa na Regio Metropolitana de Natal
AUTOR: DENISE EVELYN MENDONA PIMENTEL
ORIENTADOR: RICARDO OJIMA
Resumo:
Este trabalho trata sobre a questo da expanso urbana da RM Natal, especificamente
o eixo sul (Natal-Parnamirim-Nsia Floresta) com objetivo de analisar os processos migratrios
desta regio que tem como caracterstica sua baixa densidade. Partindo de uma anlise
sociodemogrfica, buscamos avaliar o processo de expanso urbana e o comportando do setor
imobilirio nesta regio, assim como os possveis riscos sociais e ambientais decorrentes deste
fenmeno. Sabendo dos investimentos esperados para a copa de 2014, esta pesquisa tem
como intuito contribuir com questes relevantes para o desenvolvimento de polticas pblicas
especficas, assim como fazer apontamentos das possveis vulnerabilidades e antecipar os
custos sociais e ambientais decorrentes desse processo.
Palavras-chave: Disperso urbana; Migrao; Mobilidade urbana; Vulnerabilidade.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
253
CDIGO: HS0616
TTULO: PERCEPO DAS ESTRATEGIAS DE ENSINO DO CURSO A DISTANCIA DE FISICA PELOS
ESTUDANTES DO CURSO
AUTOR: ANGELO RICARDO DE MEDEIROS
ORIENTADOR: AUTA STELLA DE MEDEIROS GERMANO
Resumo:
O presente trabalho teve como objetivo investigar como os alunos da licenciatura a
distncia em Fsica da UFRN utilizam e avaliam as diferentes estratgias de ensino e apoio
sua aprendizagem. Foi elaborado um roteiro para entrevistas, com questes sobre a rotina de
estudos dos alunos e o papel do polo (tutoria e atividades presenciais), materiais, professores
e estratgias do ambiente virtual, nessa rotina e nos resultados da aprendizagem. Foram
realizadas entrevistas por Skype com cinco alunos do polo de Currais Novos e uma do polo de
Macau. Os seis alunos afirmaram inserir computador e moodle em sua rotina de estudos. A
maioria v o tutor como fundamental, particularmente no incentivo e motivao
permanncia no curso. Mencionaram o uso de diversas ferramentas do moodle, sendo que
todos identificam o frum como a mais utilizada, e o incluem entre as que mais ajudam na
aprendizagem. O chat a segunda mais citada, contudo, houve ponderaes sobre seu uso. O
material impresso tem papel central, complementado por livros e internet. O laboratrio,
embora valorizado, vem sendo pouco utilizado. As metodologias associadas s disciplinas que
mais gostaram foram: laboratrio virtual, oficinas presenciais, vdeo aulas, vdeo, portflio,
simulados, pesquisas, laboratrio, chat, questionamentos aos alunos, avaliaes online com
consulta, e uso de mapas conceituais na avaliao. Espera-se com o estudo realizado contribuir
para as reflexes e aprimoramento pedaggico do curso.
Palavras-chave: ensino a distancia; compreenso de dinmicas estabelecidas no curso.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
254
CDIGO: HS0677
TTULO: Montagem de base de dados sobre bitos e populao para o Brasil
AUTOR: ANDR DO NASCIMENTO NERI
ORIENTADOR: FLAVIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO FREIRE
Resumo:
Em relao modelagem estatstica ou demogrfica um fator de extrema importncia
a estruturao dos seus dados, como esto armazenados e se possuem erros. Tratando-se do
assunto mortalidade sabe-se que existe uma grande deficincia nos dados e um problema
adicional so os estimadores, pois quando se calculam estimativas nos nveis municipais os
pequenos nmeros causam flutuaes aleatrias nos estimadores. Sendo assim importante
tentar corrigir os eventuais sub-enumeraes. Para calcular as estimativas da mortalidade nos
nveis municipais foi preciso a criao de bancos de dados contendo informaes sobre o
nmero de bitos e populao residente no ano de 2000 e 2010 em todos os municpios do
Brasil. Essas informaes foram extradas do departamento de informtica do Sistema nico
de Sade do Brasil (DATASUS), e organizadas por sexo e faixa etria de acordo com o ano
selecionado, foi feito a distribuio pr-rata nos dados com objetivo de redistribuir para outras
idades as informaes sobre bitos ignorados. O projeto tem por objetivo principal, combinar
mtodos demogrficos e estatsticos para corrigir os sub-registros e minimizar os efeitos de
flutuaes aleatrias nas estimativas municipais.
Palavras-chave: Banco de Dados; Dados; Estruturao;
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
255
CDIGO: HS0681
TTULO: Mapeamento de publicaes acadmicas do campo interdisciplinar Gnero, Cincia e
Tecnologia em universidades pblicas do Nordeste
AUTOR: CLUDIA ANDRADE VICENTE
ORIENTADOR: CARLA GIOVANA CABRAL
Resumo:
O campo Gnero e Cincia - GC surgi aps a Segunda - Guerra Mundial, no incio da
dcada de 60, com a emerso da segunda onda de feminismo. Um perodo onde as mulheres
lutavam pelo direito do corpo, sentimentos e principalmente pelo direito de trabalhar. Dentro
desse contexto, vrias teses e dissertaes foram produzidas na regio do nordeste brasileiro
com a combinao dos seguintes temas Cincia, Gnero, Mulher, Histria, Trabalho,
Tecnologia. A fim de quantificar e qualificar esses trabalhos, esta pesquisa realizou um
mapeamento das teses e dissertaes produzidas de 1980 a 2012 nas universidades pblicas
da regio nordeste do Brasil. E para isso, para adquirir esses trabalhos, foi realizado um
mapeamento usando como palavras-chave as combinaes dos temas citados acima nos
seguintes bancos de dados on-line: Coordenadoria de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel
superior - CAPES, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertaes do Instituto Brasileiro de
Informao em Cincia e Tecnologia (IBICT) e os sites das bibliotecas Digitais das universidades
pesquisadas. Aps esse levantamento, quantificou-se um total de 35 trabalhos, entre teses e
dissertaes. Sendo dois trabalhos sobre Gnero, Cincia e Tecnologia, dois a respeito de
Gnero e Cincia, um abordando Gnero e Histria das Cincias e 12 so sobre Trabalho e
Gnero.
Palavras-chave: Cincia, tecnologia, gnero, mulher, trabalho.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
256
CDIGO: HS0750
TTULO: ANLISE EXPLORATRIA ESPACIAL DO PERFIL SOCIOAMBIENTAL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, CENSOS 1991, 2000 E 2010
AUTOR: MARCOS SAMUEL MATIAS RIBEIRO
ORIENTADOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS
CO-AUTOR: MAYARA MIRNA CARDOSO LISBOA
CO-AUTOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA
CO-AUTOR: EKZA TATIANE PALHARES DE ARAJO
Resumo:
O presente estudo tem por objetivo apresentar, de forma simplificada, a situao
socioambiental do estado do Rio Grande do Norte, analisando os 167 municpios que o
constitui, abordando os fatores socioambientais considerados importantes e influentes para a
sade pessoal e higinica da sociedade. Com base no Atlas IDHM 2013 publicado em julho
deste ano, realizada uma comparao com os censos de 1991, 2000 e 2010, analisando, de
forma evolutiva, atravs de uma anlise exploratria espacial, a melhoria dos ndices
trabalhados. Como resultado, comparando em nvel de mdia do Brasil, foi observado que o
estado apresenta evoluo consideravelmente importante, entretanto ainda abaixo da mdia
esperada, com exceo do indicador coleta de lixo, que se encontra acima da mdia brasileira.
importante ressaltar que, mesmo diante das diferenas e desigualdades regionais, o
Nordeste lidera melhorias em alguns subndices que constituem o IDHM (ndice de
Desenvolvimento Humano por Municpio). A anlise dos dados realizada, apresentando
tanto a realidade do estado no contexto das demais UF do Nordeste, bem como a distribuio
espacial para o estado do RN, correlacionando com outros fatores sociais, tornando visveis os
problemas gerados pela carncia de melhorias nos fatores socioambientais que ainda carecem
da aplicao de eficientes polticas pblicas e sociais pelos administradores diante a situao a
qual os municpios se deparam.
Palavras-chave: Fatores socioambientais; Atlas 2013; Rio Grande do Norte.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
257
CDIGO: HS0763
TTULO: ARQUITETURA MODERNA NATALENSE, IDENTIFICANDO OS CONES DA PRODUO
LOCAL
AUTOR: MARIA HELOSA ALVES DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO
CO-AUTOR: BRBARA RODRIGUES MARINHO
Resumo:
Em busca de construir um banco de dados a partir de um histrico de produo
cientfica e acadmica do grupo de pesquisa Morfologia e Usos da Arquitetura, sobre a
arquitetura de Natal e demais localidades do Rio Grande do Norte, o resumo a seguir descreve
a pesquisa que identifica ?Os cones da Arquitetura Moderna Natalense?.
O estudo voltou-se a reunir um conjunto de edificaes representativas da arquitetura
modernista natalense, atravs de um conjunto de referncias consultadas (trabalhos
acadmicos e bibliografia), nos quais foi observada a recorrncia com que determinadas
edificaes foram referidas, fator considerado relevante para caracteriz-las como parte do
elenco de exemplares mais significativos do acervo modernista da cidade do Natal.
Com um olhar voltado ao contexto regional, foram explorados autores dos estados
Paraba e Pernambuco, buscando distinguir critrios valorativos capazes de reforar a
definio de cones Modernistas Natalenses.
A pesquisa busca compilar e dar visibilidade ao acervo documental que j foi
produzido e encontra-se no acervo documental da MUsA, e tambm embasar futuras
publicaes acerca do patrimnio modernista potiguar, como tambm disponibilizar as
informaes hoje disponveis em mdias diversas em um sistema de informaes geogrficas
de uso pblico, ancorado na rede mundial de computadores.
Palavras-chave: Natal-RN; Arquitetura Moderna; Documentao Edilcia.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
258
CDIGO: HS1484
TTULO: Elaborao e implementao de ferramentas no auxlio do ensino de lgebra Linear
AUTOR: JOO FELIPE BARROS PONTES
ORIENTADOR: JOSSANA MARIA DE SOUZA FERREIRA
Resumo:
A lgebra linear, disciplina ministrada em diversos cursos de engenharia e inclusive no
bacharelado em cincias e tecnologias (BC&T), apresenta um nvel de reprovao considervel.
Cerca de 50 a 60% dos discentes no so aprovados nessa disciplina, devido a grande
abstrao que a lgebra apresenta inicialmente a estudantes inexperientes no assunto.
Entretanto, vem sendo desenvolvido um projeto na Escola de Cincias e Tecnologias
(EC&T) que auxilia na soluo desse problema que atinge boa parte dos graduandos. Logo,
pesquisas bibliogrficas esto acontecendo a fim de desenvolver mecanismos que auxiliem os
alunos a visualizarem melhor o contedo proposto em sala de aula. O projeto, aposta na ideia
de que se houver uma maior proximidade do discente com a matria abordada, atravs de
ferramentas e aplicativos grficos, haver uma maior compreenso e facilidade de absorver o
assunto.
Para isso, inicialmente um software capaz de interagir com o usurio, no mbito da
lgebra linear, atravs da modelagem de espaos vetoriais e vetores em computao grfica
est sendo desenvolvido.
Portanto, em breve sero postas em prtica todas essas ferramentas desenvolvidas ao
longo da pesquisa na EC&T. Com o intuito de auxiliar na aprendizagem aos estudantes do
BC&T, no s no componente proposto.
Palavras-chave: lgebra Linear.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
259
CDIGO: HS1555
TTULO: Diagnosticando os espaos livres da cidade de Natal
AUTOR: LORENA GOMES TORRES DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: VERONICA MARIA FERNANDES DE LIMA
Resumo:
A pesquisa tem o objetivo de estudar os espaos livres da cidade de Natal, atravs de
uma mostra constituda pelos bairros de Ponta Negra, Capim Macio, Lagoa Nova, Nova
Descoberta, Tirol e Vale Dourado. Num primeiro momento, foi realizado um levantamento
bibliogrfico, seguido de leituras e discusses dos principais conceitos que embasam o tema:
espaos livres, espaos livres pblicos, sistemas de espaos livres e urbanidade. Em seguida foi
feita a pesquisa de campo para levantamento e anlise dos aspectos fsico- espaciais dos
espaos livres encontrados na amostra escolhida. (Essa etapa foi feita conjuntamente com
alunos da disciplina Planejamento e Projeto Urbano e Regional 04).
Foram ento realizadas as anlises dos atributos do suporte biofsico, dos atributos
perceptivos e fundos cnicos e marcos histricos as possibilidades de acessos e
vnculos de planejamento. A partir disso, foi iniciada a construo do diagnstico da rea de
estudo e o mapeamento dos resultados. Com as anlises pode-se inferir que evidente a
necessidade de se repensar esses espaos livres existentes integrando-os, para que se tornem
um sistema de espaos livres, e no sejam vistos como espaos isolados. Os sistemas
de espaos livres pblicos tm grande importncia para a melhoria da qualidade de vida
urbana, proporcionando um maior conforto ambiental e a eficincia para drenagem de guas,
e a prestao de servios de sade pblica.
Palavras-chave: espaos livres; urbanidade; espaos livres em Natal.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
260
CDIGO: HS1607
TTULO: Percepo do ambiente de escolas para ensino fundamental e mdio pelos estudantes
AUTOR: ILANNA MEDEIROS ALVES
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA MEDEIROS DE AZAMBUJA ELALI
Resumo:
Considerando as condies de uso/manuteno do ambiente fsico como indicadoras
das relaes entre a comunidade educativa e a instituio, refletindo-se no comportamento e
aprendizado dos estudantes, a pesquisa realizada investigou a percepo de trs escolas por
estudantes e profissionais. O trabalho, baseou-se na Avaliao Ps-Ocupao com uso de
multimtodos e utilizou: walkthrough, vistoria tcnica, questionrios com estudantes e
entrevistas/questionrios com coordenadores/professores/funcionrios. Os questionrios
dividiram-se em: ?avaliao do espao fsico? (perguntas sobre infraestrutura) e ?avaliao da
interao com a instituio? (questes sobre clima social) ? este projeto de bolsista est
centrado nessa primeira etapa. Foram avaliadas as Escolas Estaduais: Floriano Cavalcante (pr-
teste), Mascarenhas Homem e Castro Alves. Apesar dos muitos problemas estruturais
verificados tecnicamente, as escolas foram bem avaliadas pelos usurios. A maioria dos
estudantes demonstrou acomodao/conformao em relao s deficincias existentes, tm
apego afetivo ao local e bom relacionamento com colegas e profissionais. Mais crticos com
relao a problemas estruturais, os profissionais relacionam sua (in)satisfao a questes
amplas, como poltica salarial e (in)salubridade. Como sugesto, foram propostas mudanas de
carter fsico nas escolas, que poderiam possibilitar melhoria no comportamento e na inter-
relao entre usurios e ambiente scio fsico.
Palavras-chave: Avaliao Ps-Ocupao; Ambiente escolar; Relao pessoa-ambiente.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
261
CDIGO: HS1627
TTULO: Gneros discursivos virtuais e ensino ? utilizao dos Blogs como ferramenta de
ensino de Lngua Inglesa
AUTOR: JSSICA LOPES DE CASTRO RIBEIRO
ORIENTADOR: MARCELA APARECIDA CUCCI SILVESTRE
Resumo:
Este trabalho tem como finalidade investigar a funcionalidade dos gneros textuais
para o ensino de lngua inglesa, utilizando os gneros ligados s mdias virtuais como principais
colaboradores das atividades realizadas em classe. Com o surgimento dos computadores e da
Internet, houve necessidade de adequao dos gneros, fazendo com que outros viessem a
surgir. Esses gneros emergentes so os gneros virtuais e, em sua maioria, esto ligados
Internet. Como exemplo de gneros virtuais pode-se citar o chat, o blog e o e-mail. Para a
realizao deste projeto, livros e artigos acadmicos foram estudados para conhecer as teorias
sobre a aplicao dos gneros discursivos em sala de aula, a maneira como as diferentes
estruturas e caractersticas dos gneros ajudam no aprendizado da lngua estrangeira e,
tambm, como os alunos reagem a esse novo meio de ensino da lngua. A pesquisa foi baseada
nos textos dos alunos da disciplina ?Prticas de Leitura e Escrita em Lngua Inglesa? do curso
de Cincias e Tecnologia da UFRN, que utilizaram os gneros perfil, resumo e verbete para
compor um blog acadmico hospedado na WEB. Depois da fase de elaborao dos blogs, os
alunos foram convidados a responder um questionrio, em que expunham suas maiores
dificuldades e opinies sobre a produo dos textos e a realizao do trabalho. A anlise dos
textos e a reao dos alunos em relao a esse novo mtodo de ensino sero discutidas nesta
apresentao.
Palavras-chave: Gnero textual, blog, lngua inglesa.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
262
CDIGO: OU1568
TTULO: Desenvolvimento de Pesquisa de Opinio em Relao Disciplina Fundamentos de
Matemtica.
AUTOR: PETROS DANIEL FERNANDES DE MEDEIROS FLIX
ORIENTADOR: SIMONE BATISTA
Resumo:
Desde a criao da Escola de Cincias e Tecnologia, as taxas de reteno das disciplinas
em geral so elevadas, apesar dos esforos conjuntos das pessoas envolvidas. Na extinta
disciplina "Fundamentos de Matemtica" as taxas de reteno tambm foram elevadas, e um
dos objetivos dessa pesquisa tentar levantar dados para uma possvel anlise de conjuntura
atravs de aplicao e anlise de um questionrio relacionado a disciplina, alm de tentar
identificar os fatores que levaram a essas taxas.
Palavras-chave: Pesquisa de Opinio, Fundamentos de Matemtica, Estatstica.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
263
CDIGO: SB0001
TTULO: PRODUO ARTESANAL DE LICOR DE ERVA AROMTICA: ERVA CIDREIRA
AUTOR: MARIA DAS DORES DOS SANTOS ARAUJO
ORIENTADOR: JOS BARROS DA SILVA
CO-AUTOR: NAIARA FERNANDA MARTINS
CO-AUTOR: SEOMARIA NUNES RODRIGUES DE OLIVEIRA
Resumo:
O licor conhecido como uma bebida obtida pela mistura de lcool etlico, gua,
acar e substncias que lhe do aroma e sabor, em medidas adequadas, sem que haja
fermentao durante sua elaborao. Dentre as matrias-primas utilizadas na produo dos
licores, as popularizadas ervas aromticas ou medicinais, tal qual a Erva Cidreira, se
apresentam com vasta possibilidade de utilizao no processo de elaborao desta bebida,
tendo em vista a sua composio e, especialmente, a presena dos aromas, sensorialmente,
aceitveis. O alquimista catalo, Aunaud Villeneuve, no ano de 1250 conseguiu extrair pela
primeira vez as substncias aromticas das ervas deixando-as em macerao no lcool puro.
As propriedades digestivas do licor e outros benefcios proporcionados aos consumidores,
certamente, so melhorados quando o produto obtido a partir de ervas j testadas e aceitas
pela comunidade, inclusive, ricas em princpios fitoterpicos. O presente trabalho tem como
objetivo elaborar licores a partir de folhas de erva cidreira (Lippia alba) colhidas na Escola
Agrcola de Jundia, dando continuidade a uma linha de trabalho a qual envolve plantas
aromticas e frutas e com a participao de tcnicos e alunos do Tcnico em Agroindstria.
Obs.: Este resumo foi o enviado para a inscrio no CIC, o qual est compatvel com o plano de
trabalho em desenvolvimento.
Palavras-chave: Palavras chave: Licor, ervas aromticas, produo artesanal.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
264
CDIGO: SB0043
TTULO: CARACTERIZAO DA CURVA DE EMBEBIO DAS SEMENTES DO DENDEZEIRO (Elaeis
guineensis Jacq. ARECACEAE)
AUTOR: RICHELIEL ALBERT RODRIGUES SILVA
ORIENTADOR: FABIO DE ALMEIDA VIEIRA
CO-AUTOR: CYNTHIA AZEVEDO GURGEL GUERRA
CO-AUTOR: LUCIANA GOMES PINHEIRO
CO-AUTOR: KYVIA PONTES TEIXEIRA DAS CHAGAS
Resumo:
As sementes apresentam um padro trifsico de hidratao, ocorrendo maior
absoro de gua no incio e diminuio na etapa final. O dend (Elaeis guineenses) uma
oleaginosa nativa do continente Africano, com potencial de explorao para o consumo
domstico e produo de biodiesel. Objetivou-se nesse estudo analisar a curva de embebio
das sementes do dend. As sementes foram coletadas manualmente em uma populao
localizada na rea da Unidade Acadmica Especializada em Cincias Agrrias da UFRN. Em
seguida, foram conduzidas para o Laboratrio de Gentica e Melhoramento Florestal da
UAECIA. Utilizou-se 100 sementes selecionadas visualmente, sendo adotado o delineamento
inteiramente casualizado com cinco repeties e 20 sementes por parcela (Becker com gua
destilada). Foram realizadas as pesagens das sementes nos intervalos de 0, 2, 4, 12 horas e
posteriormente a cada 48 h, totalizando 576 h. Inicialmente a absoro de gua foi elevada no
intervalo entre 0 e 2 h (9,3%), aumentando-se gradativamente nos perodos seguintes.
Verificaram-se maiores picos de absores nos perodos de 24, 144 e 480 h, apresentando
16,2, 26,7 e 35%, respectivamente. A curva de embebio das sementes do dend contribuiu
para descrever o padro de absoro de gua, servindo de auxlio para experimentos de
germinao e propagao da espcie.
Palavras-chave: Palmeiras, sementes, hidratao, padro trifsico.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
265
CDIGO: SB0053
TTULO: EFEITO DA ADUBAO COM FERTILIZANTES ORGNICOS E MINERAIS E DA
INOCULAO DE FUNGOS MICORRZICOS NO BALANO NUTRICIONAL DO PINHO MANSO
(Jatropha curcas L.).
AUTOR: PATRICIA FIDELIS DA SILVEIRA
ORIENTADOR: APOLINO JOS NOGUEIRA DA SILVA
CO-AUTOR: COSME JALES DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: RICARDO ALENCAR DA SILVA
CO-AUTOR: AFRANIO CESAR DE ARAUJO
Resumo:
O objetivo do trabalho foi determinar o balano nutricional dos macronutrientes na
parte area da cultura do pinho manso, em funo da adubao com fertilizantes orgnicos e
minerais e da inoculao de fungo micorrzico arbuscular. O experimento foi implantado na
Unidade Acadmica Especializada em Cincias Agrrias Escola Agrcola de Jundia (UFRN). O
solo da rea experimental um Argissolo Amarelo Distrfico e o delineamento experimental
utilizado foi o de blocos ao acaso em esquema fatorial de 4 x 3 x 2, correspondendo a quatro
tratamentos de adubao de fundao (T1 ? 100% de adubao mineral; T2 ? 65% adubao
mineral + 35% esterco bovino; T3 ? 35% adubao mineral + 65% esterco bovino; T4 ? 100%
adubao orgnica com esterco bovino), trs tratamentos com adubao orgnica de
cobertura (UV ? urina de Vaca; BL ? biofertilizante lquido; EP ? efluente de piscicultura) e dois
tratamentos de micorrizao (C/FMA - com fungo micorrzico arbuscular e S/FMA - sem fungo
micorrzico arbuscular), com trs repeties. As adubaes de cobertura com urina de vaca,
biofertilizante lquido e efluente de piscicultura foram realizadas colocando-se 500 mL de cada
fertilizante orgnico por planta, na dosagem de 20%. Sero realizadas anlises qumicas do
tecido vegetal da planta para determinao dos macronutrientes N, P, K, Ca e Na na parte
area das plantas do pinho manso, para avaliar o balano nutricional destes nutrientes.
Palavras-chave: Fertilizantes orgnicos, Argissolo Amarelo, Glomus fasciculatum.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
266
CDIGO: SB0062
TTULO: Qualidade da gua na alevinagem de Tilpia em sistema de Bioflocos
AUTOR: TIAGO EUZEBIO BRITO CAVALCANTI
ORIENTADOR: FABIANA RODRIGUES DE ARRUDA CMARA
Resumo:
Atualmente verifica-se em relao ao cultivo de peixes e crustceos uma tecnificao
surpreendente, tendo uma maximizao extraordinria tanto em espao como em quantidade
produzida, tambm vale salientar a persistncia dos produtores e pesquisadores s
adversidades que teimam mesmo que temporariamente ou mesmo periodicamente em
assolar o setor aqucola. O presente trabalho est sendo executado na Estao de Aquacultura
Sebastio Monte situado na Escola Agrcola de Jundia ? EAJ, com o objetivo de avaliar o
desempenho zootcnico de alevinos de tilpia. Para incio do experimento foi necessrio o
desenvolvimento prvio do bioflocos, utilizando uma caixa de 3000 L com densidade de 2kg de
peixes juvenis/m3 e aps 7 dias o bioflocos foi transferido para 9 caixas de 500 L, onde se dar
incio ao experimento com alevinos de Tilpia, com trs tratamentos e trs rplicas. Os
parmetros de qualidade de gua durante os sete dias de cultivo para produo do bioflocos
variaram de 7,6 a 8,5 para o pH; 2,3 a 4,5 mg/L para o oxignio dissolvido; 0,0018 a 0,003 mg/L
para a amnia txica; 0,0 a 3,5ppm para o nitrito e a temperatura variou de 28 a 31C. Os
juvenis de tilpia ganharam em mdia 10g/peixe em 7 dias de cultivo. Os alevinos vm sendo
alimentados com rao (10% da biomassa) com 50% de protena para adaptao dos
organismos nas caixas, posteriormente ser feita a biometria de cada tratamento e anlises
fsicas e qumicas, para dar incio ao experimento.
Palavras-chave: Aquicultura, Nutrientes, sistema heterotrfico, alevinos.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
267
CDIGO: SB0063
TTULO: EFEITO DA ADUBAO COM FERTILIZANTES ORGNICOS E MINERAIS E DA
INOCULAO DE FUNGOS MICORRZICOS NO CRESCIMENTO DE PINHO MANSO (Jatropha
curcas L.) E NAS PROPRIEDADES QUMICAS DO SOLO.
AUTOR: LAURA DANIELLE DE FARIAS SILVEIRA
ORIENTADOR: APOLINO JOS NOGUEIRA DA SILVA
CO-AUTOR: COSME JALES DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: AFRANIO CESAR DE ARAUJO
CO-AUTOR: RICARDO ALENCAR DA SILVA
Resumo:
O objetivo do trabalho foi determinar as possveis mudanas nas propriedades
qumicas do solo e no crescimento do pinho manso, em funo da adubao com fertilizantes
orgnicos e minerais e da inoculao de fungo micorrzico arbuscular. O experimento foi
implantado na Unidade Acadmica Especializada em Cincias Agrrias Escola Agrcola de
Jundia (UFRN). O solo da rea experimental um Argissolo Amarelo Distrfico e o
delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso em esquema fatorial de 4 x 3 x 2,
correspondendo a quatro tratamentos de adubao de fundao, trs tratamentos com
adubao orgnica de cobertura e dois tratamentos de micorrizao, com trs repeties. O
fungo micorrzico utilizado foi o da espcie Glomus fasciculatum Gerd. & Trappe. As adubaes
de cobertura com urina de vaca, biofertilizante lquido e efluente de piscicultura foram
realizadas colocando-se 500 mL de cada fertilizante orgnico por planta, na dosagem de 20%.
Sero realizadas anlises qumicas do solo para determinao do P, K, Ca, Mg, Na, Al, pH e
condutividade eltrica, bem como medidas biomtricas como altura da planta, dimetro do
caule e o dimetro da copa ao longo do ciclo da cultura.
Palavras-chave: Urina de vaca, biofertilizante lquido, efluente de peixe.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
268
CDIGO: SB0082
TTULO: ESTUDO FENOLGICO DA PALMEIRA CARNABA [Copernicia prunifera (Mill) H. E.
Moore] EM UMA POPULAO REMANESCENTE EM MACABA, RN.
AUTOR: TALITA GEOVANNA FERNANDES ROCHA
ORIENTADOR: FABIO DE ALMEIDA VIEIRA
CO-AUTOR: RICHELIEL ALBERT RODRIGUES SILVA
CO-AUTOR: EDUARDA XIMENES DANTAS
Resumo:
Estudos fenolgicos dos ecossistemas florestais tm sido realizados em todo o mundo
basicamente em dois nveis de abordagem: populaes ou comunidades. Este trabalho teve
como objetivo avaliar o comportamento fenolgico da C. prunifera em uma populao
remanescente, no Campus da Unidade Acadmica Especializada em Cincias Agrrias da UFRN,
no municpio de Macaba, RN. Foram amostrados os eventos fenolgicos de queda foliar,
brotamento, botes florais, flor, frutos imaturos e frutos maduros de 20 indivduos, entre maio
de 2010 e dezembro de 2012. As relaes entre a ocorrncia de cada fenofase e as variveis
climticas (temperatura do ar, precipitao, umidade relativa e radiao) foram testadas por
meio da correlao de Spearman. Os eventos vegetativos de enfolhamento e desfolhamento
foram contnuos, sugerindo que os indivduos so completamente assincrnicos com perda de
folhas e emisso de folhas novas durante todo o tempo. O desfolhamento se pronunciou mais
no perodo de maior temperatura, menor umidade relativa do ar, menor precipitao e
radiao, enquanto que o enfolhamento foi maior nos perodos de menor temperatura. A
florao foi verificada no inicio dos meses de junho e dezembro. A influncia das variveis
climticas na frutificao foi significativa apenas para os frutos verdes, sendo correlacionada
com a temperatura. Supe-se que a espcie estudada foi influenciada por aspectos da
morfologia e fisiologia, com os fatores ambientais interferindo secundariamente.
Palavras-chave: Copernicia prunifera, fenofase, variveis climticas.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
269
CDIGO: SB0088
TTULO: Arborizao e Jardinagem da Unidade de Compostagem de Resduos Orgnicos da
EAJ.
AUTOR: ANA PAULA JANUARIO DIAS
ORIENTADOR: ERMELINDA MARIA MOTA OLIVEIRA
CO-AUTOR: MARIO FERREIRA DA SILVA
Resumo:
O objetivo do presente trabalho foi de elaborar e executar a arborizao e jardinagem
para Unidade de Compostagem de Resduos Orgnico implantada na Escola Agrcola de Jundia
(EAJ), onde a referida Unidade ainda no apresenta boa aparncia visual de quem passa na RN
ao lado, constatando-se uma necessidade de arborizao e criao de jardim na referida
Unidade, que contribua para melhor aparncia visual e funcional da referida Unidade. At o
momento, foi estudada a rea a ser arborizada, pesquisas de formas de arborizao, como
tambm as espcies e meios de propagao para dar inicio a produo das mudas. As
prximas atividades sero: Desenho de um croqui, como tambm preparao da rea a ser
utilizado, da execuo do jardim. Aps a definio dos materiais a serem adquiridos ser
iniciada as etapas de preparo das mudas, plantio e manuteno do jardim. Ao final da
implantao ser registrado por meio de fotos que sero comparadas com aquelas registradas,
inicialmente, na caracterizao da rea.
Palavras-chave: Gesto de resduos orgnicos; conservao do solo; arborizao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
270
CDIGO: SB0118
TTULO: Perdas de solo por eroso hdrica em Neossolo Quartzarnico da Unidade Acadmica
Especializada em Cincias Agrrias de Macaba/RN.
AUTOR: MARIO FERREIRA DA SILVA
ORIENTADOR: GUALTER GUENTHER COSTA DA SILVA
Resumo:
O solo um recurso natural que tem um papel integrador dentro dos ecossistemas. A
eroso acelerada do solo um importante fator de degradao das terras (Weill & Sparovek,
2008). Dentre os principais problemas relacionados eroso hdrica pode-se destacar a perda
de solo, gua e nutrientes e, consequentemente, o assoreamento e contaminao dos cursos
dgua (Pruski, 2009). O manejo adequado do solo uma forma estratgica de evitar ou
atenuar os principais problemas causados pela eroso hdrica. Este trabalho teve como
objetivo monitorar duas parcelas-padro para quantificar as perdas de solo por eroso hdrica
em NEOSSOLO QUARTZARNICO da Escola Agrcola de Jundia-EAJ e avaliar a distribuio
mensal das chuvas, utilizando dados da EMPARN e da Estao Climatolgica da UFRN. O
experimento instalado composto de duas parcelas-padro (4x24 m) distintas (solo sob
pastagem e sem cobertura vegetal) cercadas com chapas galvanizadas. Na extremidade
inferior das parcelas, foram colocadas calhas coletoras, que conduzem a enxurrada at os
tanques coletores dos sedimentos. Em eventos de chuva considerada erosiva, foi constatado
perdas de solo na parcela sem cobertura vegetal, o que sugere que os eventos de chuvas
erosivas no tiveram potencial suficiente para causar arraste de sedimentos na parcela de solo
coberto sob pastagem. Depois de agitar foram retiradas trs amostras de volume
predeterminado para analise em laboratrio, onde os resultados sero apresentados no
prximo semestre.
Palavras-chave: Parcelas-padro; perda de solo; chuva.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
271
CDIGO: SB0136
TTULO: Estrutura do dossel e acmulo de massa de capim-piat submetido a duas
intensidades de pastejo
AUTOR: EMMANUEL LIEVIO DE LIMA VERAS
ORIENTADOR: GELSON DOS SANTOS DIFANTE
CO-AUTOR: CARLA LAILANE DIAS DE LIMA
CO-AUTOR: ELIZAMA FERREIRA DE OLIVEIRA NUNES
CO-AUTOR: NATHLIA RAFAELA FIDELIS CAMPOS
Resumo:
Objetivou-se avaliar as caractersticas estruturais do dossel do pasto de Brachiaria
brizantha cv. Piat. O experimento foi conduzido na Escola Agrcola de Jundia-UFRN, em
Macaba, RN, entre Setembro de 2012 e Maio de 2013. A rea foi de 0,72 ha mantida sob
pastejo com lotao intermitente em duas intensidades de pastejo. O delineamento
experimental foi em blocos casualizados com dois tratamentos e quatro repeties. A altura
do pasto foi determinada por rgua graduada em centmetros no pr e ps-pastejo e a massa
de forragem obtida por meio do corte rente ao solo em quatro pontos aleatrios no piquete,
utilizando-se um quadrado de 1 m. Foram separados os componentes morfolgicos em
lmina foliar, colmo e material morto, bem como quantificada a massa de forragem total e
clculo do acmulo de matria seca (MS). Os valores mdios de massa de colmo e material
morto no pr-pastejo foram de 1.172 e 1.518 kg/ha de MS, respectivamente. A taxa de
acmulo obtida foi de 20,5 Kg/ha.dia de MS para dossel manejado a 15 cm, e 32,5 Kg/ha.dia de
MS para o dossel manejado a 25 cm, onde o tratamento manejado a 15 cm apresentou um
maior acmulo de matria seca. O tratamento manejado a 15 cm apresentou maior densidade
populacional de perfilhos e maior acmulo de matria seca, alm de uma maior densidade
populacional de perfilhos em comparao a altura de ps-pastejo de 25 cm. A cultivar uma
boa opo para produo de ovinos em pasto especialmente se manejada com altura de
resduo menor.
Palavras-chave: Acmulo, Brachiaria brizantha, manejo, produtividade.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
272
CDIGO: SB0139
TTULO: Efeito da palicao de Biofilme Base de Amido Associado a Duas Fontes de Clcio e
Permanganato de Potssio na Vida til Ps-Colheita de Mamo Papaya
AUTOR: RAMON RIBEIRO SANTOS
ORIENTADOR: JULIO GOMES JUNIOR
CO-AUTOR: APOLINO JOS NOGUEIRA DA SILVA
CO-AUTOR: VILSON ALVES DE GIS
Resumo:
Objetivo-se estudar o efeito da aplicao de biofilmes a base de amido (1,5% e 3,0%)
associado a duas fontes de clcio (Cloreto de Clcio e Propionato de Clcio a 1,5% e 3,0%) na
conservao ps-colheita de mamo papaya. Os revestimentos comestveis so finas camadas
de material, aplicados e formados diretamente na superfcie do produto, sendo usados para
substituir o revestimento de cera de proteo natural e para reduzir a perda de gua de frutas
e hortalias. O clcio um componente integrante da parede celular e da lamela mdia
conferindo rigidez e firmeza de polpa mais elevada. Naturalmente sua perda nesses tecidos,
proporcionada pela ao de enzimas de degradao (poligalacturonases e
pectinametilesterases) amolecem e reduzem a firmeza de polpa e, consequentemente, sua
vida de prateleira. Anlises de natureza qumica e fsicas foram feitas. O armazenamento se
deu temperatura ambiente (30 C e UR de 60% ? 65%) e as anlises qumicas e fsicas (perda
de peso, carotenoides, clorofila total e taxa respiratria) foram realizadas a cada 2 (dois) dias.
A pesquisa ainda encontra-se em execuo e no foram realizadas anlises estatsticas, no
havendo, portanto, resultados finais da pesquisa. Mas detectou-se falta de aderncia da
soluo a base de amido sobre a superfcie dos frutos, o que pode resultar na falta de efeito
positivo na conservao ps-colheita dos frutos armazenados.
Palavras-chave: Mamo (Carica papaya L.), amido, permanganato de potssio, biofilme.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
273
CDIGO: SB0140
TTULO: Efeito da Aplicao de Biofilme a Base de Amido Associado a Duas Fontes de Clcio e
Permanganato de Potssio na Vida til Ps-Colheita de Mamo Papaya
AUTOR: DIEGO RUBENS SANTOS GARCIA
ORIENTADOR: JULIO GOMES JUNIOR
CO-AUTOR: APOLINO JOS NOGUEIRA DA SILVA
CO-AUTOR: VILSON ALVES DE GOIS
Resumo:
Objetivo-se estudar o efeito da aplicao de biofilmes a base de amido (1,5% e 3,0%)
associado a duas fontes de clcio (Cloreto de Clcio e Propionato de Clcio a 1,5% e 3,0%) na
conservao ps-colheita de mamo papaya. Os revestimentos comestveis so finas camadas
de material, aplicados e formados diretamente na superfcie do produto, sendo usados para
substituir o revestimento de cera de proteo natural e para reduzir a perda de gua de frutas
e hortalias. O clcio um componente integrante da parede celular e da lamela mdia
conferindo rigidez e firmeza de polpa mais elevada. Naturalmente sua perda nesses tecidos,
proporcionada pela ao de enzimas de degradao (poligalacturonases e
pectinametilesterases) amolecem e reduzem a firmeza de polpa e, consequentemente, sua
vida de prateleira. Anlises de natureza qumica e fsicas foram feitas. O armazenamento se
deu temperatura ambiente (30 C e UR de 60% ? 65%) e as anlises qumicas e fsicas
(firmeza de polpa e acares solveis totais) foram realizadas a cada 2 (dois) dias. A pesquisa
ainda encontra-se em execuo e no foram realizadas anlises estatsticas, no havendo,
portanto, resultados finais da pesquisa. Mas detectou-se falta de aderncia da soluo a base
de amido sobre a superfcie dos frutos, o que pode resultar na falta de efeito positivo na
conservao ps-colheita dos frutos armazenados.
Palavras-chave: Mamo (Carica papaya L.), amido, permanganato de potssio, biofilme.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
274
CDIGO: SB0146
TTULO: Potencial Erosivo das Chuvas na Mesorregio Litornea do Estado do Rio Grande do
Norte.
AUTOR: MIGUEL CLAUDIO QUEIROZ REGO
ORIENTADOR: ERMELINDA MARIA MOTA OLIVEIRA
CO-AUTOR: MARIO FERREIRA DA SILVA
Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo elaborar um modelo computacional para
estimativa da erosividade da chuva, levando em conta que os estudos sobre a erosividade da
chuva so de extrema importncia para o desenvolvimento de pesquisas e aperfeioamento
de tcnicas para facilitar a identificao das chuvas erosivas, e suas consequncias, sobre o
solo. Para o desenvolvimento do trabalho, esto sendo utilizados dados pluviogrficos da
Estao Climatolgica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)/Natal-RN com
registros pluviogrficos do perodo de Maro de 2013, com previso at o trmino do ano. A
partir dos pluviogramas sero calculadas as variveis (energia cintica, intensidade da chuva e
a intensidade mxima no perodo de 30 minutos), que sero utilizadas para estimativa do
potencial erosivo das chuvas. Todos os clculos sero implementados utilizando-se o Programa
Java, composto de interfaces de entrada e de sada de dados, sendo bastante preciso e de fcil
manipulao. Os potenciais erosivos das chuvas anteriores so do perodo de agosto (2009)
at julho (2011), sendo classificado com capacidade erosiva mxima (Janeiro e Abril - 2011) e
muito baixa (Fevereiro e Abril- 2010). Os resultados do potencial erosivo do presente ano
sero apresentados no trmino do ano em relatrio final de pesquisa.
Palavras-chave: Potencial erosivo, pluviogramas, precipitao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
275
CDIGO: SB0192
TTULO: Qualidade interna de ovos de codornas alimentadas com rao contendo farinha de
maracuj
AUTOR: WELLINGTON VICENTE DA SILVA
ORIENTADOR: ELISANIE NEIVA MAGALHAES TEIXEIRA
CO-AUTOR: THAYRIS EDUARDO DANTAS
CO-AUTOR: ALYNE CRISTINA SILVA BATISTA
CO-AUTOR: ALEX MULLER ARAUJO DUMONT
Resumo:
Objetivou-se com o presente estudo avaliar a incluso da farinha de maracuj (Fma) na
rao sobre a qualidade de ovos de codornas japonesas na fase de postura. Utilizou-se 224
codornas, distribudas em delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos, 7
repeties de 8 aves. Os nveis da Fma estudados foram 0, 1, 2 e 3%. Foram avaliados:
Unidade Haugh; peso de albmen; porcentagem de albmen; peso da gema; porcentagem da
gema; altura do albmen; altura da gema; gravidade especfica e colorao da gema. A
incluso da Fma no afetou as caractersticas estudadas, no entanto verificou-se efeito linear
(P>0,05) crescente dos nveis da Fma sobre a altura da gema. A incluso da Fma na rao no
prejudica a qualidade interna dos ovos de codornas e promove aumento da altura da gema.
Palavras-chave: Ovo, Protena animal, alimento alternativo.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
276
CDIGO: SB0196
TTULO: Levantamento de animais atropelados em rodovia do Rio Grande do Norte
AUTOR: JOS JONAS LEITE DE ANDRADE
ORIENTADOR: VIVIANE DA SILVA MEDEIROS
Resumo:
O estudo teve por objetivo quantificar e classificar animais atropelados na RN 160 de
acordo com sua classe, gnero e espcie nas proximidades da Escola Agrcola de Jundia no
municpio de Macaba ? RN. Para a coleta de dados, foram feitas rondas dirias entre os meses
de fevereiro e dezembro de 2012 saindo da Escola agrcola at a sua divisa e um trecho sem
registro que d acesso ao Instituto de Neurocincias. Durante a pesquisa, foram encontrados
125 animais sendo a maioria anfbios com 75 indivduos e rpteis com 26 espcimes
representando 60 % e 20,8 % dos animais encontrados, respectivamente. O horrio onde
ocorreu mais atropelamentos entre a noite e o amanhecer, j que maior parte dos animais
foi encontrada durante a manh. provvel que a presena de perodo chuvoso indique maior
aparecimento de animais atropelados, porm apenas um ano um perodo curto para se fazer
esta afirmao. necessrio dar continuidade a pesquisa.
Palavras-chave: Atropelamento, rondas.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
277
CDIGO: SB0213
TTULO: Acmulo de forragem de gramneas tropicais manejadas sob lotao intermitente por
ovinos de corte
AUTOR: NATHLIA RAFAELA FIDELIS CAMPOS
ORIENTADOR: GELSON DOS SANTOS DIFANTE
CO-AUTOR: FRANCISCA FERNANDA DA SILVA ROBERTO
CO-AUTOR: CARLA LAILANE DIAS DE LIMA
CO-AUTOR: ITANIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO
Resumo:
Objetivou-se neste trabalho, avaliar o acmulo e massa de forragem no pr e ps-
pastejo de duas gramneas tropicais. O experimento foi conduzido na Escola Agrcola de
Jundia ? UFRN, em Macaba, RN, no perodo de maro a outubro de 2012. Foram avaliadas
duas cultivares de gramneas forrageiras (tratamentos): Brachiaria brizantha cvs. Piat e
Marandu. O delineamento experimental foi em arranjo fatorial (2 pastagens x 2 alturas de
resduo) com subparcelas (ciclos de pastejo). A rea utilizada foi de 2,88 ha, sendo subdividida
em dois blocos de 1,44 ha, cada um com 12 piquetes de 0,06 ha, sendo manejada sob lotao
intermitente por ovinos de corte (agentes de desfolhao) com duas intensidades de pastejo
(resduos de 15 e 25 cm). A massa de forragem foi obtida por meio de cortes rentes ao solo,
utilizando-se um quadrado de 0,5 m em seis pontos aleatrios de cada piquete. As amostras
foram pesadas e colocadas em estufa de circulao forada a 55C por 72h para determinao
da matria seca (MS) e massa de forragem total. O acmulo de forragem foi obtido a partir da
diferena entre a massa de forragem no pr-pastejo atual e no ps-pastejo anterior. O
acmulo total de massa seca do perodo experimental foi obtido por meio do somatrio da
produo de todos os ciclos de pastejo. Os pastos manejados a 25 cm apresentaram maior
acmulo em relao aos de 15 cm. Ao avaliar os acmulos nas duas cultivares, o capim-
marandu apresentou valores superiores em relao ao piat.
Palavras-chave: Brachiaria brizantha, marandu, piat, ps-pastejo, produtividade.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
278
CDIGO: SB0214
TTULO: Composio morfolgica do capim massai submetido lotao intermitente por
ovinos de corte
AUTOR: MANOEL AMARO DE OLIVEIRA NETO
ORIENTADOR: GELSON DOS SANTOS DIFANTE
CO-AUTOR: JOSE GUTHEMBERG FERNANDES ALVES
CO-AUTOR: LEONARDO SANTANA FERNANDES
CO-AUTOR: ITANIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO
Resumo:
Objetivou-se com este trabalho avaliar a composio morfolgica do capim massai
pastejado por ovinos na condio de pr-pastejo. O experimento foi conduzido na Escola
Agrcola de Jundia ? UFRN, em Macaba, RN, no perodo de novembro de 2012 a maro de
2013. Os tratamentos consistiram de animais recebendo trs diferentes suplementos proteicos
(fenos de leucena e gliricdia e farelo de soja) e um tratamento controle sem suplementao. O
delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro tratamentos e trs
repeties. A rea utilizada foi de 0,96 ha, sendo esta dividida em quatro mdulos de 0,24 ha e
subdividida em seis piquetes de 0,04 ha cada, submetidos lotao intermitente por ovinos
com 7 dias de ocupao e 35 de descanso. Para realizao das coletas de forragem, foi
utilizado um quadrado de 0,5 m2 em quatro pontos de trs piquetes por modulo, realizando-
se os cortes em diferentes alturas (0-15 e >15 cm). Posteriormente foram separados
manualmente os componentes morfolgicos em folha, colmo e material morto e colocados em
estufa de circulao forada a 55C por 72h para determinao da matria seca (MS).
Observou-se que a participao do colmo foi inferior aos demais constituintes na massa de
forragem total, apresentando um valor mdio de 8,3% entre os tratamentos nos trs ciclos de
pastejo. Houve uma diminuio na participao de folha e aumento de material morto ao
longo do experimento caracterizando assim a estao seca e o hbito de pastejo dos ovinos.
Palavras-chave: colmo, folha, forragem, material morto, Panicum maximum, pr-pastejo
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
279
CDIGO: SB0227
TTULO: Divulgao e popularizao da Fsica (nfase em da Eletricidade, magnetismo e Fsica
moderna)
AUTOR: CARLIANDRA DE ARAUJO DANTAS DE MACEDO
ORIENTADOR: ANDRE STUWART WAYLAND TORRES SILVA
Resumo:
A pesquisa cientfica gera avano na sociedade, mas parte dela no entende a
linguagem utilizada pelos pesquisadores. A partir dessa observao promoveram-se iniciativas
de popularizao e divulgao da fsica com materiais de baixo custo; por meio de uma
metodologia que prope aguar os jovens atravs da internet. A internet foi escolhida como
ferramenta, pois permite o compartilhamento de informaes e interaes distncia; alm
de possibilitar medir os acessos obtidos, atravs do painel administrativo da pgina
(https://www.facebook.com/ConectadosComACiencia) mostrando quem ?curtiu?, alcanou e
falou sobre a mesma, permitindo um levantamento de gnero e idade dos assinantes. O
projeto visa construo de modelos da fsica relacionados aos contedos da 2 e 3 srie do
ensino mdio, os vdeos sobre estes, tiveram 1841 visualizaes e comentrios positivos. O
projeto participou da Ao Integrada; plano que visa conexo do assunto abordado em
escolas de ensino infantil e a cincia, atravs da elaborao de experimentos que expliquem
fenmenos estudados por elas. Para a visita do NEI, foram feitas experincias que explicam as
causas de alguns fenmenos naturais, como terremoto e tornados, de modo que as crianas
possam reproduzir esses experimentos em sala de aula. A participao do NEI mostrou a
motivao das crianas em aprender e o vdeo de divulgao da visita obteve 788 visualizaes
e alcance de 928 pessoas entre 17/06/2013 a 23/06/2013, resultado bastante positivo.
Palavras-chave: Divulgao, Fsica, baixo custo, internet, redes sociais.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
280
CDIGO: SB0229
TTULO: Miniestaquia de pinho-manso (Jatropha curcas L.)
AUTOR: HOSANA LOURENO DA SILVA
ORIENTADOR: FABIO DE ALMEIDA VIEIRA
CO-AUTOR: ENALDO DOS SANTOS SEGUNDO
Resumo:
O pinho-manso uma planta arbrea da famlia Euphorbiaceae, que apresenta baixo
custo de produo e resistncia ao estresse hdrico. Alm disso, suas sementes apresentam
alto teor de leo, sendo promissora para produo de biocombustveis. Tem-se conhecimento
de que o uso da estaquia como mtodo de propagao aconselhado para o estabelecimento
e crescimento mais rpido de espcies florestais. Para que o mtodo tenha sucesso preciso
que ocorra um bom enraizamento, fazendo com que as estacas se estabeleam de maneira
adequada no substrato utilizado, garantindo um melhor desenvolvimento. Neste sentido, o
trabalho teve como objetivos verificar o desenvolvimento das estacas (enraizamento,
calejamento, sobrevivncia e mortalidade) em substrato tipo vermiculita, sem o uso de
hormnio vegetal. As estacas foram seccionadas em trs diferentes posies na planta (apical,
intermediria e basal) e colocadas em cinco bandejas, cada uma com cinco repeties de dez
estacas. As avaliaes foram realizadas por um perodo de trinta dias. Os dados obtidos foram
analisados no programa Bioestat 5.0 e submetidos anlise de varincia e as mdias
comparadas pelo teste Tukey a 5%. Estacas basais apresentaram maiores ndices de
enraizamento e sobrevivncia em relao s estacas apicais e intermedirias. Estacas apicais e
intermedirias apresentaram maiores ndices de mortalidade. Portanto, recomenda-se a
propagao da espcie com o uso de estacas obtidas de ramos prximos base da planta.
Palavras-chave: pinho-manso, biocombustveis, estaquia.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
281
CDIGO: SB0238
TTULO: ELABORAO DE SORVETES A PARTIR DO LEITE DE CABRA FERMENTADOS COM
GROS DE KEFIR.
AUTOR: MICHELLY WESKY GOMES DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: ERONILSON VIEIRA DA SILVA
Resumo:
Kefir uma bebida probitica originria da regio do Cucaso, obtida pelo leite
fermentado por uma colnia de lactobacilos e leveduras, o mesmo proporciona diversos
benefcios ao nosso organismo. O presente trabalho foi desenvolvido visando elaborar
sorvetes base do leite de cabra fermentado com gros de kefir. O plano de trabalho est
sendo realizado na Unidade de Processamento de Leite e Derivados da Escola Agrcola de
Jundia. Para o desenvolvimento da bebida fermentada, inicialmente foi retirada uma amostra
do leite de cabra in natura para as anlises fsico-qumicas (pH, acidez) e as anlises realizadas
no analisador de leite ultrassnico ? ekomilk (teor da gordura, gua adicionada, slidos no
gordurosos, ponto de crioscopia, densidade, e quantidade de protenas); em seguida
pasteuriza-se o leite de forma lenta (65C por trinta minutos), aps esse processo resfria-se o
leite e inocula-o com os gros de kefir. A fermentao lctica ocorre por 24 horas
temperatura ambiente, aps mede-se o pH e a acidez dornic da bebida fermentada. Como o
projeto ainda est em desenvolvimento, o prximo passo ser a elaborao de sorvetes a
partir do leite fermentado obtido e posterior anlises sensoriais e consequentemente a
mensurao da aceitabilidade do mesmo.
Palavras-chave: kefir; fermentao; leite de cabra; probitico.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
282
CDIGO: SB0269
TTULO: Avaliao da qualidade e valor nutritivo de alimentos para ruminantes nas
mesorregies de Angicos e Apodi no RN
AUTOR: DANIELE DE MACEDO COSTA
ORIENTADOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS
CO-AUTOR: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL
CO-AUTOR: TEOTONIO LUCAS SABINO FERNANDES
CO-AUTOR: PRISCILA TORRES NOBRE
Resumo:
Este projeto tem como um dos objetivos avaliar a composio qumica e o valor
nutritivo dos alimentos utilizados em sistemas de produo de ruminantes nas mesorregies
Apodi e Angicos. Dentre os alimentos avaliados, est a palma forrageira. Esta uma planta
resistente a seca alm de ser uma forrageira estratgica em diversos sistemas de produo de
ruminantes nas mesorregies estudadas. Alm disso, esto sendo realizados o
acompanhamento, utilizando entrevistas, com pequenos produtores de ruminantes, para
obter informaes nutricionais dos alimentos destes animais, principalmente de caprinos e
ovinos. Dentre os resultados parciais obtidos durante a realizao deste trabalho, est o relato
da perda de parte do rebanhos por causa da seca e do roubo de animais, o que indica a
necessidade de polticas pblicas de produo de forragem e de segurana no campo. Espera-
se, ao final do trabalho em julho de 2014, identificar o perodo ideal de colheita da palma
forrageira e modelar o crescimento das plantas em funo da disponibilidade de gua, com o
objetivo de fortalecer a cadeira de produo de ovinos e caprinos e conferir mais
sustentabilidade as mesmas.
Palavras-chave: nutriao de ruminantes; palma forrageira; agricultura familiar.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
283
CDIGO: SB0272
TTULO: PRODUO E MANEJO DE RAINHAS NA PRODUTIVIDADE APCOLA
AUTOR: GICELI DE SOUZA SILVA
ORIENTADOR: GUNTHINIA ALVES DE LIRA
CO-AUTOR: HELDER DA CMARA RAIMUNDO
CO-AUTOR: ANDR LUIZ MACHADO TRAJANO
Resumo:
A regio nordeste vem sofrendo nos ltimos anos um perodo de seca prolongado,
com incidncia de poucas chuvas o que leva o homem do campo a se desfazer de animais e at
mesmo abandonar as atividades de campo quando tem a oportunidade de emprego na cidade.
A apicultura tambm sofre com essa realidade, pois a falta de um manejo adequado aliado a
condies adversas vem causando um enorme transtorno aos apicultores que j perderam
cerca de 80% dos enxames o que representa para muitos a perda total de sua fonte de renda.
Esse projeto teve por objetivo multiplicar enxames usando rainhas produzidas no setor de
apicultura da Unidade Acadmica Especializada em Cincias Agrrias ? UFRN, buscando assim
revitalizar a atividade apcola com agricultores familiares das regies Agreste e Mato Grande
no Rio Grande do Norte. O experimento esta sendo conduzido no Setor de Apicultura da UFRN,
Campus de Jundia e esto sendo produzidas rainhas a partir de 10 colmias selecionadas por
produtividade de mel utilizando-se o mtodo de baseados no mtodo de Doolittle. Devido o
grande incidncia de chuvas ocorridas no ms de julho na regio, a pesquisa ainda encontra-se
em andamento para coleta de dados.
Palavras-chave: Apis mellifera, produtividade, apicultura, enxameao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
284
CDIGO: SB0275
TTULO: PERFIL SENSORIAL DE MIS DE Apis mellifera L., PRODUZIDOS NAS REGIES AGRESTE,
SERTO CENTRAL E MATO GRANDE NO RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: MARCIA CLAUDIA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: GUNTHINIA ALVES DE LIRA
CO-AUTOR: HELDER DA CMARA RAIMUNDO
Resumo:
O Brasil tem um grande potencial apcola, devido diversificao de sua flora e
variabilidade climtica existente possibilitando assim uma maior diversidade organolptica,
proporcionando grande variao nas caractersticas fsico-qumicas e nos padres de qualidade
para o consumidor. O mel pode sofrer alteraes naturais ou provocadas e por
desconhecimento dos produtores ou propositada, acabam lesando o consumidor.
importante que os alimentos passem pelo controle de qualidade para se avaliar o estado de
conservao, valor nutritivo e contaminao qumica no intuto de se detectar fraudes. O
objetivo desse trabalho caracterizar atravs do Perfil Sensorial, amostras de mis produzidos
por Apis melfera L. colhidos nas regies Agreste, Trairi, Oeste e Mato Grande, fraudes de mel
produzidas no laboratrio e adquiridas no comercio local, para se avaliar o conhecimento o
consumidor em identifica-las. O trabalho foi realizado no setor de apicultura com a
participao de 52 voluntrios, onde 32,69% consideraram a invertase mel, 19,23% no
consideraram a mistura de amido sendo mel, 50% reconhecem na cristalizao uma fraude e
26,92% no conhecem mel de abelha indgena. Pode-se concluir que se faz necessrio orientar
e conscientizar o consumidor das caractersticas organolpticas do mel para evitar a aquisio
de fraudes e incentivar o seu consumo pelas caractersticas naturais que o mel apresenta.
Palavras-chave: Anlise sensorial, caracterizao de meis, apicultura.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
285
CDIGO: SB0276
TTULO: PRODUO E CLASSIFICAO DO PLEN APCOLA COLETADO DE ABELHAS Apis
mellifera L. em MACABA-RN.
AUTOR: ADDYSON SALES DE ALMEIDA
ORIENTADOR: GUNTHINIA ALVES DE LIRA
CO-AUTOR: HELDER DA CMARA RAIMUNDO
CO-AUTOR: ANDR LUIZ MACHADO TRAJANO
Resumo:
A produo de plen tem sido incrementada pela demanda ocasionada pelo consumo
humano, pelo seu uso em dietas suplementares fornecidas s colnias em pocas de escassez,
ou para estimular a postura da rainha. A coleta de plen tem-se mostrada renda suplementar
na apicultura. A produo de plen no Brasil ainda tem muito a crescer, tendo em vista o
potencial que apresenta e por representar um incremento significativo para a cadeia apcola,
porm pesquisas vm sendo desenvolvidas no intuito de se conhecer melhor o segmento,
produzir um plen de qualidade, caracterizar e aumentar a produtividade para que se possa
atender a crescente demanda. O Rio Grande do Norte, apesar de no apresentar Unidade de
Processamento de Plen certificada, a produo e o processamento acontecem junto a
pequenos grupos em locais improvisados. O objetivo desse trabalho foi produzir e classificar o
plen apcola de Apis mellfera produzido em Macaba-RN. O estudo foi conduzido no Setor de
Apicultura da UFRN, Campus de Jundii. O plen foi coletado utilizando-se 10 colmias,
padronizadas quanto ao nmero de quadros de cria e alimento, por meio de coletor frontal
contendo rgua de 4,5mm de orifcios. A coleta realizada 2 vezes por semana. O plen
coletado levado ao laboratrio armazenado em freezer por 72 horas, desidratado por 12h,
limpo e classificado. As bolotas classificadas por um conjunto de peneiras com diferentes
malhas (0,5; 1,0; 2,0 e maior que 2,0 mm). A pesquisa ainda encontra-se em andamento
Palavras-chave: Apicultura, Produtividade, Produtos da colmia, UFRN.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
286
CDIGO: SB0282
TTULO: Efeito do Zinco orgnico sobre a imunidade, deposio no osso e resistncia de pele
de frangos de corte aos 42 dias de idade alojados em cama nova ou reutilizada
AUTOR: GILNARA CAROLINY ARAJO DOS SANTOS
ORIENTADOR: ELISANIE NEIVA MAGALHAES TEIXEIRA
CO-AUTOR: EVELYN RAYSSA COSTA E SILVA
CO-AUTOR: ANA LUIZA GUERREIRO
CO-AUTOR: JAYRA CONCEIO CNDIDO DA SILVA
Resumo:
Objetivou-se avaliar o efeito dos nveis de zinco orgnico (ZnO) na rao de frangos de
corte aos 42 dias, sobre a imunidade, resistncia da pele e deposio desse mineral no osso. O
experimento foi conduzido no setor de avicultura da Unidade Especializada em Cincias
Agrrias da EAJ/UFRN. Foram utilizados 576 pintos de 1 dia da linhagem comercial Cobb,
distribudos em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 4x2 com quatro
nveis de ZnO 0; 40; 80 e 120 ppm e dois ambientes, cama nova (CNo) e cama reutilizada (CRe),
resultando em 8 tratamentos com 6 repeties de 12 aves. Aos 42 dias de idade foram
abatidos por deslocamento cervical duas aves para pesagem de rgos linfides, avaliao da
pele e de Zn no osso. Os nveis de 61,50 e 85,30 ppm de zinco orgnico melhora a imunidade e
aumenta a deposio de zinco na tbia de frangos de corte aos 42 dias, respectivamente. O
ZnO aumenta a resistncia de pele dos frangos. O uso de CRe melhora o desempenho de
frangos de corte de 1 a 42 dias de idade.
Palavras-chave: Monogstricos, Nutrio, Zinco.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
287
CDIGO: SB0285
TTULO: Avaliao da sustentabilidade de sistemas de produo de palma forrageira
AUTOR: MARIA EUTIKIA TORRES DE MORAIS
ORIENTADOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS
CO-AUTOR: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL
CO-AUTOR: DANIELE DE MACEDO COSTA
CO-AUTOR: NIVEA REGINA DE OLIVEIRA FELISBERTO
Resumo:
O cultivo de cactceas, especialmente a palma gigante e a mida, para alimentar os
animais no perodo seco do ano vem crescendo no Rio Grande do Norte. Sendo de grande
importncia o acompanhamento dos custos e receitas de um sistema de produo de palma
forrageira. O experimento foi conduzido na Unidade Acadmica Especializada em Cincias
Agrrias, na UFRN- Campus de Macaba. Na qual foi realizado o plantio no espaamento 1,0 x
0,25m (10.000 plantas/ha). Em cada etapa destas foi identificado e anotado todos os custos de
produo efetivos e estimados. As receitas do sistema sero computadas pela estimativa da
produo multiplicada pelo valor da palma forrageira comercializada para alimentao animal.
Assim, ser possvel desenvolver um aplicativo em planilha eletrnica para estimar o custo de
produo; calcular o custo de oportunidade do capital investido e a sustentabilidade da
utilizao de palma forrageira. No momento, a avaliao encontra-se em andamento mas os
resultados parciais indicam que necessrio um total de R$9.350,00/hectare com a
implantao do sistema de irrigao, R$4.000.00/hectare na compra se claddios para plantio
e R$ 1.700,00/hectare para aquisio de fertilizantes orgnicos. Assim, o investimento inicial
de R$ 13.350,00 no sistema de irrigao e na aquisio de claddios superior ao disponvelna
linha de crdito do PRONAF para investimento que de no mximo R$12.000,00/agricultor.
Palavras-chave: custo de produo; cactceas.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
288
CDIGO: SB0291
TTULO: Qualidade de alimentos volumosos e concentrados utilizados em produo de
ruminantes no RN
AUTOR: TEOTONIO LUCAS SABINO FERNANDES
ORIENTADOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS
CO-AUTOR: NVEA REGINA DE OLIVEIRA FELISBERTO
CO-AUTOR: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL
CO-AUTOR: MARIA EUTIKIA TORRES DE MORAIS
Resumo:
Vivemos em uma regio (Nordeste) em que a falta de chuvas acarreta problemas de
alimentao dos animais, especialmente os ruminantes. Com isso, realizamos uma pesquisa na
Unidade Acadmica Especializada em Cincias Agrrias (UECIA/ UFRN) Macaba/RN,
objetivando estudar e avaliar o tratamento e desenvolvimento da palma forrageira, e assim
dar qualidade na alimentao desses animais, uma vez que a palma forrageira um alimento
vivel em pocas de seca. Dessa forma, realizamos inicialmente atividades como medidas
morfometrias de palmas (dados colocados em planilhas), onde em cada bloco so marcadas
quatro plantas com fitas de cores diferentes, sendo que os blocos de avaliao so de plantas
(palmas) midas e gigantes e a Morfometria realizada atravs da altura, do comprimento, da
largura, do permetro, a Espessura e do nmero de aureolo (NA). Foi feita tambm a aplicao
de calcrio para preparo e correo de solo, alm do uso de adubos qumicos como nitrognio,
fosforo e potssio, coletas de razes e corte de claddios para anlises em laboratrio. Por fim,
todas as atividades e seus respectivos resultados esto ocorrendo de acordo com o que foi
previsto e a pesquisa continua em andamento, para que haja um resultado mais aprofundado
e preciso.
Palavras-chave: Nutrio de Ruminantes.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
289
CDIGO: SB0298
TTULO: Caracterizao morfomtrica de anfibios encontrados na Escola Agrcola de Jundia -
Macaba RN
AUTOR: VICTOR HUGO GALDINO
ORIENTADOR: VIVIANE DA SILVA MEDEIROS
CO-AUTOR: RAIMUNDA MARIA DE LIMA FELIX
Resumo:
A ranicultura uma atividade agropecuria ligada aquicultura que vem crescendo em
produtividade e possui uma srie de especificidades biolgicas e tcnicas em relao s demais
atividades agrcolas. O cultivo de r touro gigante, a principal espcie utilizada nos ranrios
brasileiros, difundida em todo o pas devido facilidade de adaptao e a alta fertilidade. Esta
adaptao quase perfeita pode nos trazer transtornos, pois sendo uma espcie alctone a r
touro pode causar algum dano as espcies autctones. Para a coleta e posterior identificao
dos anfbios foram realizadas rondas no horrio noturno entre 18h00min s 20h30min 5 dias
por semana (Segunda Sexta feira). Os materiais utilizados foram: Balana digital, paqumetro,
lanterna, GPS, pu, lupa e cmera fotogrfica. Com este material foi feita a biometria. Em
seguida os animais foram procurados em lugares encharcados e midos prximos ao aude e o
rio Jundia. A terceira e a ultima etapa foi utilizao de catlogos, livros de anlises para
identificao dos encontrados, j que os animais coletados passavam por uma biometria e
registro. Foram coletados at agora 35 anfbios (r de bananeira, sapos cururus, rs pimentas e
rs manteigas).
Palavras-chave: Identificao/ Anuros / Espcies /
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
290
CDIGO: SB0302
TTULO: Relato da populao sobre a presena de anfibios comestveis
AUTOR: RAIMUNDA MARIA DE LIMA FELIX
ORIENTADOR: VIVIANE DA SILVA MEDEIROS
CO-AUTOR: VICTOR HUGO GALDINO
Resumo:
A Criao de r touro gigante- Lithobates catesbeianus teve incio no Brasil na dcada
de 30. Esta escolha foi feita pelo fato da r-touro, adaptar-se muito bem nas condies
climticas brasileiras, conseguindo atingir a maturidade reprodutiva em menor tempo que
qualquer r comestvel nativa, sendo que era/ possvel atingir em um ano, aproximadamente
200g, estando pronta para depositar em cada perodo reprodutivo de 3.000 a 5.000 ovcitos;
aos dois anos sua produo duplica e ao final do terceiro ano a desova atinge de 15.000 a
20.000. O cultivo de r touro gigante, a principal espcie utilizada nos ranrios brasileiros, hoje
em quase todo o pas, tem incentivado algumas pesquisas que relatam a fuga desta espcie
dos criadouros, o que pode provavelmente a disputa com espcies nativas. Para identificao
dos animais conhecidos pela populao como comestveis ser aplicado questionrio com
perguntas estruturadas e semiestruturadas s comunidades prximas a reas alagadas, rios,
lagoas, nas proximidades da EAJ, em assentamentos, para identificar a presena de anfbios
comestveis, e se so autctones ou alctones. Ainda este semestre aplicaremos os
questionrios s comunidades referidas para obteno das respostas a estas questes.
Palavras-chave: Espcies exticas, rs-comestveis.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
291
CDIGO: SB0311
TTULO: ELABORAO DE UM INSTRUMENTO ORIENTATIVO PARA OS MANIPULADORES DO
REFEITRIO E FUNCIONRIOS TERCEIRIZADOS DO CAMPUS MACABA-RN
AUTOR: MARIA HELOISA MOREIRA VASCONCELOS
ORIENTADOR: CLAUDIA SOUZA MACEDO
Resumo:
O direito do consumidor em ter acesso a um alimento seguro garantido pelo
Ministrio da Sade. A informao sobre preveno e cuidado dos consumidores que utilizam
os servios de estabelecimentos que servem alimentos uma forma adequada de se evitar
alguns dos transtornos provocados pelas doenas transmitidas por alimentos. A elaborao de
instrumento (folders) que venha esclarecer dvidas sobre as principais doenas veiculadas por
alimentos e suas consequencias aos consumidores fazem-se importante na orientao quanto
aos cuidados e preveno destas doenas, consequentemente possibilitando uma melhoria do
alimento consumido. Desta forma, foram criados 9 (nove) folders com os seguintes temas:
"Higiene das mos", "Qual a temperatura ideal dos alimentos?", "Diferena entre alimentos
contaminados x estragado", "Higiene de frutas e hortalias", "Cuidados com o lixo", "Higiene
dos alimentos", "Higiene pessoal", "Higiene ambiental" e "O que so sobras?", tendo como
base a RDC N 216/2004 da ANVISA, que tem como objetivo orientar os manipuladores de
alimentos. Sendo o refeitrio um local freqentado por alunos e funcionrios do campus
Macaba-UFRN, torna-se de grande importncia a divulgao atravs de um instrumento
informativo que venha a servir de orientao para evitar transtornos a sade destes
consumidores e que venha a minimizar os riscos de contaminao.
Palavras-chave: segurana alimentar, higiene, folderes, alimentos, RDC n 216/2004.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
292
CDIGO: SB0323
TTULO: Projeto Ara: tecnologias ecolgicas do sistema de agrofloresta de manejo do solo
AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA
ORIENTADOR: JOANICE E SILVA MIRANDA
Resumo:
As diretrizes nacionais de Assistncia Tcnica e Extenso Rural ? ATER, organizam as
aes extensionistas com base nos princpios de uma metodologia participativa, numa
abordagem que incorpora o dilogo entre os conhecimentos locais e a constante interface com
a pesquisa e o ensino, numa busca constante de respostas para a formao de novos saberes
movimentados nos ambientes endgenos indispensveis ao desenvolvimento sustentvel.
A aplicao e incorporao de aes e saberes que desenvolvam pesquisas e
tecnologias especficas podem acontecer de forma a possibilitar uma maior participao do
educando na pesquisa de modo a potencializar e dinamizar aes em rede, inserindo-os como
sujeitos do projeto, sem a preocupao de disputar espaos ou recursos.na perspectiva da
revalorizao do espao rural local.
O projeto trata da questo da tecnologia de recuperao e manejo do solo, como
tambm do plantio de vrias espcies de rvores e outras culturas, tecnicamente
consorciadas. Para essa prtica agroflorestal a orientao e o acompanhamento dos
professores especializados nos estudos do manejo do solo e suas tecnologias pertinentes
inerente ao xito do projeto.Neste sentido, para alcanar seus objetivos necessria a
interao entre o ensino-pesquisa-extenso com base no princpio da participao, ou gesto
participativa, para que assim se promova interfaces dessas experincias e os seus potenciais
desenvolvidos.
Palavras-chave: solo - recuperao - agrofloresta ecologia.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
293
CDIGO: SB0324
TTULO: PROJETO ARA: pesquisando e recuperando o solo da Unidade Acadmica
Especializada em Cincias Agrrias?
AUTOR: SALVIANO MARTINS DOS SANTOS
ORIENTADOR: JOANICE E SILVA MIRANDA
Resumo:
As aes de ensino, pesquisa e extenso com base nos princpios de uma metodologia
participativa incorpora o dilogo interativo de seus conhecimentos numa busca constante
de respostas para a formao de novos saberes. Essas interfaces possibilitam transformao
da realidade e so consideraes que devemos atentar, principalmente porque com a
movimentao dos espaos polticos locais, dos seus saberes e dos seus recursos que iremos
descobrir ou mesmo definir polticas indispensveis ao desenvolvimento sustentvel.
Como Unidade Acadmica Especializadas em Cincias Agrrias, de carter
essencialmente agrcola, os estudos mais amplos que desenvolvam pesquisas e tecnologias
especficas podem acontecer de forma que potencializem e dinamizem aes endgenas
inserindo os prprios educandos como agentes e sujeitos do projeto de pesquisa cientfica na
perspectiva da promoo acadmica dos educandos e na revalorizao do espao rural local.
Neste sentido, o projeto est relacionado questo da tecnologia de recuperao e manejo do
solo, como tambm do plantio de vrias espcies de rvores e outras culturas, tecnicamente
consorciadas. Dessa forma, imprescindvel que se crie aes poltico-pedaggicas locais para
que recuperao ambiental e a to propagada sustentabilidade seja vivenciada cientificamente
e, consequentemente que se apoie outros projetos internos ligados biodiversidade dos
espaos dessa rea agrcola necessitada de desenvolvimento cientfico.
Palavras-chave: pesquisa.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
294
CDIGO: SB0328
TTULO: Estudo do uso do bagao do caju desidratado na alimentao de pintos de corte
caipiras.
AUTOR: JAYRA CONCEIO CNDIDO DA SILVA
ORIENTADOR: ELISANIE NEIVA MAGALHAES TEIXEIRA
CO-AUTOR: EVELYN RAYSSA COSTA E SILVA
CO-AUTOR: GILNARA CAROLINY ARAJO DOS SANTOS
CO-AUTOR: ANA LUIZA GUERREIRO
Resumo:
Objetivou-se avaliar a composio qumica do bagao de caju desidratado para pintos
caipiras. O experimento foi realizado no setor de avicultura da Escola Agrcola de Jundia-
EAJ/UFRN. Foram utilizados 16 pintos caipiras da linhagem gigante negro, distribudos em
delineamento inteiramente casualizado, divididos em 4 gaiolas que possua
4 divisoes comportando 1 ave em cada. Foram avaliados dois tratamentos T1= 100% rao
basal e T2= 70% rao basal + 30% rao teste. Os animais receberam rao e gua ad libitum.
Foi realizado um ensaio de metabolismo com coleta total de excretas. As coletas foram feitas
em 4 dias pela manha e tarde. As excretas foram congeladas em freezer e depois levadas para
o Laboratrio de Nutrio Animal da UFRN- LNA para realizar as anlises. O caju desidratado
apresentou 31,16% de Matria Seca; 9,82% Matria Mineral; 3,58% de Extrato Etreo; 52,11%
Fibra em Detergente Neutro e 21,49% de protena bruta.
Palavras-chave: Caju, nutrio, monogstricos.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
295
CDIGO: SB0340
TTULO: EFEITO DE PROGRAMAS DE ILUMINAO NA PRODUO DE OVOS DE CODORNAS
(Coturnix coturnix)
AUTOR: ANA LUIZA GUERREIRO
ORIENTADOR: JANETE GOUVEIA DE SOUZA
CO-AUTOR: ELISANIE NEIVA MAGALHAES TEIXEIRA
CO-AUTOR: GILNARA CAROLINY ARAJO DOS SANTOS
CO-AUTOR: RAFAELA DE OLIVEIRA CAPISTRANO
Resumo:
Objetivou-se avaliar o efeito de programas de iluminao contnuo e intermitente no
desempenho zootcnico de codornas (Coturnix coturnix) criadas em semi abertos. O
experimento foi conduzido em galpo de alvenaria semi aberto, dividido em trs ambientes,
isolados de forma que a iluminao de um tratamento no interferisse no outro. O perodo de
avaliao foi de 90 dias (3 perodos de 28 dias). Foram utilizadas 300 codornas com idade de
36 semanas, em delineamento inteiramente casualizado, com 10 repeties de 10 aves em
cada programa. Os programas de iluminao utilizados foram: o contnuo, com fotoperodo
mdio de 16 h e escotoperodo de 9h. O intermitente 1, com duas fotofases fracionadas em
16h e um escotoperodo de 9h. E o intermitente 2, com trs fotofases em 16h e um
escotoperodo de 9h. Avaliou-se o consumo de rao (g/ave/dia), produo de ovos
(ovos/ave/dia x 100), peso e massa dos ovos (g) e converso alimentar expressa pelo peso de
ovo (g/g) e por dzia (g/dz) ao final de cada perodo. As mdias dos tratamentos foram
submetidas anlise de varincia e as diferenas, comparadas pelo teste SNK (5%). As mdias
entre os perodos foram submetidas anlise de regresso. O consumo de rao, a produo
de ovos, o peso e a massa de ovos no foram influenciados (p<0,05) pelos programas de luz.
Quanto aplicao do programa de iluminao intermitente, observa-se que sua utilizao
pode ser mais econmica que o programa de iluminao contnuo.
Palavras-chave: Codornas, desempenho zootcnico, programas de iluminao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
296
CDIGO: SB0355
TTULO: Produo e anlises de derivados do leite de cabra em p obtido pelo processo foam-
mat drying
AUTOR: ANA CLARA TEIXEIRA FERNANDES
ORIENTADOR: ROBSON ROGRIO PESSOA COELHO
Resumo:
Esta pesquisa tem como objetivo obter leite de cabra em p atravs da utilizao do
processo conhecido como ?foam-mat?, dentro de padres microbiolgicos e caractersticas
fsico-qumicas e sensoriais aceitveis, alm de utiliz-lo na produo de outros derivados.
Foram testadas diferentes formulaes de emulsificante (lecitina de soja) e
espessantes (goma guar, ultra spersem) nas seguintes porcentagens: 2, 3 e 5%. A formulao
foi obtida por homogeneizao desses com o leite at a formao da espuma. Em seguida, as
diferentes formulaes foram dispostas em bandeja de ao inox formando uma camada de 0,3
cm de altura. A secagem da espuma foi conduzida em estufa com circulao de ar nas
temperaturas de 70 e 80 C. Aps a desidratao as amostras foram retiradas das bandejas
para serem trituradas e homogeneizadas em processador domstico, sendo posteriormente
acondicionadas em embalagens de polietileno de baixa densidade para as anlises
laboratoriais.
Em seguida, foi feita uma anlise sensorial para fins comparativos do leite em p
diludo com o controle (leite in natura). Este teste foi realizado com 16 julgadores no
treinados, de ambos os sexo, de idade entre 15 a 24 anos. Sendo 9 mulheres e 7 homens de
nvel mdio ao nvel tcnico da Escola Agrcola de Jundia.
Com resultados obtidos podemos dizer que as amostras ficaram com consistncia
diferente ao controle (muito concentrado). As amostras 102 e 103 apresentam mais
aceitabilidade entre os julgadores em relao a 105.
Palavras-chave: Foam-mat drying (desidratao em camada de espuma).
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
297
CDIGO: SB0360
TTULO: ELABORAO DE SORVETES A PARTIR DO LEITE DE VACA FERMENTADO COM GROS
DE KEFIR.
AUTOR: KATHYUCIA CAROLINE FERREIRA DA SILVA GAMA
ORIENTADOR: ERONILSON VIEIRA DA SILVA
Resumo:
O kefir originado das Montanhas do Cucaso Setentrional h muitos sculos, sendo
utilizado para fermentar leite, sucos de frutas e gua adicionada de aucares ou mis. A ao
fermentadora dos gros de kefir faz com que seja incrementado valor nutricional e funcional
ao produto, proporcionando ao organismo uma srie de benefcios. Por isso decidiu-se fazer o
sorvete com o leite fermentado com os gros kefir. Ao elaborarmos esse produto com gros
de kefir atravs de um alimento consumido no nosso cotidiano, tentamos levar mais benefcios
para as pessoas que o consumirem. O plano de trabalho est sendo desenvolvido na Unidade
de Processamento de Leite da Escola Agrcola de Jundia. Na elaborao do sorvete feito com o
leite fermentado, inicialmente, caracterizou-se fsico-quimicamente o leite de vaca in natura,
em seguida foi feita a pasteurizao lenta do mesmo, aps inoculou-se o leite com os gros de
kefir. Deixou-se sob fermentao lctica por 24 horas. Decorrida a fermentao, mediu-se a
acidez e o pH do leite fermentado. Durante o estudo foi avaliado o poder fermentativo dos
gros em funo da massa de inculo. Deste modo, objetivou-se com o presente trabalho
elaborar um sorvete de leite vaca fermentado usando a cultura probitica kefir e avaliar suas
caractersticas sensoriais.
Palavras-chave: Palavras-Chave: Kefir, prbiotico, fermentao, funcional.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
298
CDIGO: SB0362
TTULO: Enriquecimento protico da casca, entrecasca e raspa de mandioca para alimentao
de ruminantes
AUTOR: GEOVANNA MARIA BEZERRA DE MEDEIROS SILVA
ORIENTADOR: LCIA DE FTIMA ARAJO
Resumo:
O Brasil um dos maiores produtores de mandioca do mundo com produo
aproximada de 26,5 milhes de toneladas, com rendimento mdio de 14ton/h. Atualmente
existe uma grande demanda no aproveitamento de resduos industriais que visam reduzir o
impacto ambiental e tambm gerar recursos. Considerando que a produo de mandioca
voltada para a fabricao de farinha de mesa se concentra na sua grande maioria em
propriedades rurais e que neste contexto existe uma necessidade de gerar recursos alm de
uma preocupao com o destino dos resduos gerados. No entanto, objetivou-se com este
trabalho avaliar o aproveitamento dos resduos da mandioca para a fabricao de rao animal
quando enriquecidos com fontes de protena, uma vez que so pobres neste nutriente.
Estudou-se a capacidade nutricional do farelo do bagao da mandioca, farelo de farinha de
mesa e o farelo de varredura onde os teores de protena foram: bruta foi de 1,6; 3,7 e 3,0%,
respectivamente. Estes resultados demonstram a necessidade de desenvolver e adaptar
tecnologias, que propiciem aumentos dos teores proteicos nos resduos da mandioca, atravs
da aplicao de processos biotecnolgicos, obtendo um bioproduto de alto valor agregado.
Este bioproduto (resduos da mandioca enriquecidos com a levedura Saccharomyces
cerevisiae) pode ser produzido na propriedade rural uma vez que o processo utilizado
prtico, economicamente vivel, tornando-se uma alternativa que venha incrementar os
sistemas de produo animal na regio.
Palavras-chave: Biotecnologia, fermentao semisslida, alimentao alternativa.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
299
CDIGO: SB0377
TTULO: Acompanhamento da qualidade de gua no cultivo do camaro de gua doce
Macrobrachium rosenbergii em tanques rede, em diferentes densidades de estocagem.
AUTOR: CARLA MICHELLY DA COSTA FERNANDES
ORIENTADOR: CIBELE SOARES PONTES
Resumo:
Um dos maiores obstculos no desenvolvimento do cultivo de M. rosenbergii a tpica
heterogeneidade do tamanho dos indivduos em sua populao, o que ocorre pela influncia
da dominncia social na morfologia do macho. Esta caracterstica, que acentuada pelo
aumento da densidade populacional tpico dos cultivos comerciais, o reflexo de uma
estrutura social complexa, composta por trs diferentes morfotipos: os machos pequenos, os
machos de quela laranja e os machos de quela azul. Mas h uma diferena entre eles, como a
morfologia, comportamento e fisiologia, sendo que isso ocorre uma interferncia ao
crescimento dos mesmos, gerando um resultado de menor produtividade. Atualmente, uma
das prticas utilizadas para diminuir os problemas causados pela heterogeneidade de tamanho
desses camares sobre os parmetros zootcnicos do seu cultivo a utilizao de populaes
monosexo de machos. E um mtodo para haver um melhoramento avaliar diariamente a
qualidade da gua de cultivo do camaro M. rosenbergii, em tanques rede, em cultivo
monosexo e misto, em diferentes densidades de estocagem, e sempre estar medindo a
variao do nvel de oxignio trs vezes ao dia. E o projeto ser desenvolvido em 24 tanques-
rede acondicionados em tanques de alvenaria, na estao de aquicultura da Escola Agrcola de
Jundia, abastecido do Aude do Bbado.
Palavras-chave: Camaro, M. rosenbergii, cultivo, crescimento, tanque redes.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
300
CDIGO: SB0426
TTULO: Implementao de uma Soluo Automatizada de Ligstica Individualizada Baseada em
Esquema de Reconhecimento Visual de Etiquetas Codificadas
AUTOR: LUCAS LIMA MARQUES DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: SEVERINO PAULO GOMES NETO
Resumo:
Nosso projeto visa ter uma soluo automatizada de etiquetas codificadas em cdigos
visuais afim de implementar esse projeto em aeroportos e assim diminuir e facilitar o
desembarque dos passageiros na hora de pegar as bagagens e evitar as filas nas esteiras de
bagagens. Tem como resoluo usar um cdigo visual (QR Code) na bagagem do passageiro e o
mesmo ficar com uma copia para na hora do desembarquem apresentar em um ponto
dedicado a receber o cdigo e assim um programa ir criar uma chamada aonde aparecera o
nome do passageiro e o mesmo poder ir a esteira e pegar a sua bagagem sem ter que ficar
esperando em p. O QR Code foi escolhido por ser o mais rpido na hora de decodificao e
tambm por ser o que armazena o maior nmero de caracteres.
Palavras-chave: etiquetas codificadas; reconhecimento visual.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
301
CDIGO: SB0432
TTULO: Avaliao das caractersticas e funcionalidade da pitanga roxa desidratada
AUTOR: PATRICIA MARIA ROCHA
ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA
CO-AUTOR: KATIA CRISTINA BORGES DE MEDEIROS
Resumo:
A pitanga roxa (Eugenia uniflora L.), ao contrrio da variedade vermelha, uma fruta
ainda pouco conhecida e estudada. Possui intensa colorao roxa, sabor extico, alm de ser
perecvel, o que limita sua comercializao. A desidratao por atomizao uma tcnica de
conservao de alimentos, que possibilita a oferta do produto em qualquer poca do ano.
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto das condies de secagem sobre
as caractersticas e funcionalidade da pitanga roxa desidratada. Para isso, foram avaliados trs
nveis de temperatura do ar de secagem (110, 130 e 150C) e quatro concentraes do agente
carreador goma arbica (5, 10, 15 e 20%), totalizando 12 ensaios. Os resultados mostram que
o p de pitanga roxa com 15% de goma arbica a 150C foi o que apresentou maior
rendimento (89,57%). Todos os ps apresentaram boa solubilidade, que variou de 78,21% a
91,50%. Os teores de compostos fenlicos totais e atividade antioxidante apresentaram
valores expressivos, com destaque para a pitanga desidratada produzida com 5% de goma
arbica. A amostra com 5% de goma arbica a 150C apresentou maior teor de antocianinas
totais (376,07 mg/100 g amostra). De maneira geral, os extratos estudados apresentaram
atividade inibitria intermediria da alfa-amilase (20-50%) e foram capazes de inibir a enzima
alfa-glicosidase na ordem de 43,79% a 73,97%. Os resultados encontrados apontam a pitanga
roxa como ingrediente alimentar com alto potencial bioativo.
Palavras-chave: pitanga roxa, fenlicos, atividade antioxidante, inibio enzimtica.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
302
CDIGO: SB0438
TTULO: Crescimento da palma forrageira em resposta a adubao orgnica, em dois solos Rio
Grande do Norte
AUTOR: MARIA VITRIA SERAFIM DA SILVA
ORIENTADOR: ERMELINDA MARIA MOTA OLIVEIRA
Resumo:
A pesquisa foi realizada na casa de vegetao da Escola Agrcola de Jundia - Unidade
Acadmica Especializada em Cincias Agrrias ? UECIA, UFRN, Campus Macaba/RN,
objetivando avaliar o efeito da adubao orgnica, na presena ou ausncia de adubao
mineral (fsforo e potssio) no crescimento palma mida (Nopalea cochenillifera) em
NEOSSOLO QUARTZARNICO. Os tratamentos corresponderam a um arranjo fatorial 4 x 2,
sendo, quatro doses de adubao orgnica (0; 10; 20; 30 t h-1 ) com ou sem adio de
adubao fosfatada e potssica, dispostos em delineamento em blocos casualizados, com trs
repeties. As variveis de crescimento avaliadas foram altura de plantas, nmero de
claddios por planta, ordem de claddios, comprimento, largura, permetro, espessura, e rea
dos claddios. As mensuraes das variveis foram iniciadas 90 dias aps o plantio. Foram
realizadas duas medies, nas quais se observa diferena entre os tratamentos com e sem
adubao mineral.
Palavras-chave: claddio, fertilizantes, micronutrientes, Neossolo.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
303
CDIGO: SB0448
TTULO: Avaliao do impacto da secagem sobre o resduo de camu-camu
AUTOR: EDILENE SOUZA DA SILVA
ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA
Resumo:
O fruto amaznico camu-camu conhecido por sua elevada concentrao de cido
ascrbico e sua produo destinada principalmente ao mercado externo. Durante seu
processamento, so produzidos resduos da fruta, ainda pouco investigados do ponto de vista
funcional. Paralelo a isso, h uma preocupao, cada vez maior com os subprodutos
provenientes da indstria de alimentos, no sentido de seu aproveitamento racional e
investigao de seu valor tecnolgico e funcional. Dessa forma, este trabalho objetivou
produzir o resduo desidratado do camu-camu e avaliar sua funcionalidade atravs da
determinao de seus compostos bioativos para potencial aplicao como ingrediente
funcional. Os resultados encontrados para o resduo seco indicam teor fenlico total, cido
ascrbico e carotenoides elevados para o resduo liofilizado. Foram observadas perdas
decorrentes do processo de secagem convectiva para atividade antioxidante e teor de
carotenoides quando comparadas ao resduo in natura.
Palavras-chave: camu-camu, resduo, funcionalidade, secagem convectiva, liofilizao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
304
CDIGO: SB0481
TTULO: Dinmica nictemeral dos grupos funcionais fitoplanctnicos em um reservatrio
tropical no semirido brasileiro
AUTOR: VIVIANE AUGUSTA DE MEDEIROS
ORIENTADOR: VANESSA BECKER
Resumo:
Os grupos funcionais tm como base os atributos fisiolgicos, morfolgicos e
ecolgicos das espcies mostrando-se um modo mais eficaz para analisar mudanas da
biomassa fitoplanctnica. O objetivo desse estudo foi avaliar a dinmica fitoplanctnica em um
reservatrio tropical no semirido do RN, em um ciclo de 24 horas. A coleta ocorreu a cada
seis horas em novembro/12, no ponto mais profundo (Zmax 3,2m), em duas profundidades
(superfcie e fundo). O reservatrio, no apresentou estratificao trmica ou qumica. O
perodo amostrado foi considerado perodo seco. A ACP mostrou uma tendncia espacial,
entre profundidades, sendo explicada pelo eixo 1, relacionada s variveis pH, temperatura e
oxignio dissolvido com a superfcie, e o fsforo total e amnia com as unidades amostrais do
fundo. O eixo 2 explicou a tendncia diria, estando a zona euftica relacionada com os
horrio diurnos e o nitrato com as amostras noturnas. A biomassa foi baixa (~0,52 mg.L-1 na
superfcie e 0,63 mg.L-1 no fundo). Os grupos funcionais mais representativos foram os grupos
W1, W2, L0 e J, representados por Euglena spp., Trachelomonas sp., Merismopedia tenuissima
e Crucigenia quadrata, respectivamente.Nos primeiros horrios, em ambas profundidades, os
grupos W1 e W2 foram predominantes, sendo substitudos no horrio noturno pelos grupos L0
e J. Em sntese a biomassa baixa e os grupos funcionais descritores do sistema foram reflexo
de um sistema com alta matria orgnica, raso, trbido e misturado.
Palavras-chave: Grupos funcionais, nictemeral, semirido.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
305
CDIGO: SB0487
TTULO: INFLUNCIA DA COLETA DE PRPOLIS VERDE NA PRODUO DE MEL DE COLMIA DE
ABELHAS MELFERAS AFRICANIZADAS (Apis mellifera)
AUTOR: SEVERINO MOREIRA DA SILVA
ORIENTADOR: MARIA DA PIEDADE MEDEIROS
Resumo:
O objetivo deste trabalho avaliar a produo de mel de abelhas metalferas
produtora de prpolis verde, coletados mensalmente. Para a realizao deste experimento
sero escolhidos aleatoriamente quatro ncleos apcolas com 5 colmias cada, padro
Langstroth, habitadas com abelhas melferas que sero instaladas na Escola Agrcola de
Jundia, sendo sorteadas duas colnias para a coleta de prpolis e mel e outras trs para a
coleta de mel. As coletas de prpolis sero realizadas sempre que os coletores estiverem
cheios ou decorridos trinta dias. As colheitas de mel sero procedidas sempre que os favos das
melgueiras estivessem com operculao superior a 90%. Para a anlise dos dados de produo
de prpolis, ser utilizado um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial
2x4 (2 pocas do ano e 5 locais de produo), enquanto que para avaliar os efeitos da coleta
de prpolis na produo de mel, nos diferentes ncleos, os dados foram analisados segundo o
modelo fatorial 2 x 5 (2 com ou sem retirada de prpolis e 4 locais de produo). O trabalho
iniciou com certo atraso devido a falta de recursos e como a produo de mel inicia-se ao
menos depois de 3 meses, no se tem ainda resultados para serem avaliados e publicados.
Palavras-chave: Prpolis verde, resina, mel, abelha.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
306
CDIGO: SB0489
TTULO: PRODUO DE PRPOLIS VERDE POR ABELHA MLIFERA (Apis mellifera) PRODUZIDA
ATRAVS DE ALECRIM DO CAMPO (Baccharis dracunculifolia) NA MATA DA ESCOLA AGRCOLA
DE JUNDIA.
AUTOR: ANTONIA FLAVIA SOARES
ORIENTADOR: JORGE DOS SANTOS CAVALCANTI
Resumo:
A prpolis, uma substncia resinosa, gomosa e balsmica produzida pelas abelhas
melferas (Apis mellifera) a partir de exsudatos coletados de brotos, flores e exsudados de
plantas (BRASIL, 2001). As abelhas transportam estas substncias at a colmia e as modificam
por meio da adio de ceras, plen e produtos do seu metabolismo, como a enzima -
glicosidade. A composio da prpolis extremamente complexa. Suas caractersticas
constitutivas podem variar de acordo com a espcie de abelha e poca do ano em que
coletada (BANKOVA, 2005). Contudo, a origem botnica (BANKOVA et al., 2000; BANKOVA,
2005) parece ser o fator mais importante a ser considerado na tentativa de explicar a
variabilidade qumica entre diferentes amostras de prpolis. Objetivo estudar a produo de
prpolis verde de abelhas melferas, utilizando como substrato alecrim do campo, numa regio
de mata virgem, localizado na Escola Agrcola de Jundia, durante todo o ano, para observar as
mudanas ocorridas na produo e qualidade do prpolis verde . Durante todo o ano sero
estudados a composio florstica dos 04 ncleos, a visitao das abelhas, ao alecrim do campo
, no horrio de 06:00 s 08:00 horas da manh, alm da produo e qualidade do prpolis. As
anlises estatsticas sero realizadas atravs do teste do quiquadrado. O trabalho iniciou com
certo atraso devido a falta de recursos, portanto, no h condies, ainda, de mostrar
resultados deste experimento.
Palavras-chave: Prpolis verde, resina, abelha.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
307
CDIGO: SB0500
TTULO: Aproveitamento da raspa de mandioca enriquecida com levedura na presena e
ausncia de uma fonte protica no nitrogenada
AUTOR: FRANCISCO ELIELTON SILVA MORAIS
ORIENTADOR: LCIA DE FTIMA ARAJO
Resumo:
No Rio Grande do Norte, a mandioca ganha relevncia por sua tolerncia s severas
condies climticas do semirido. Cultivar essa raiz para alimento do homem ou dos
rebanhos torna-se opo econmica para muitos pequenos agricultores. A raspa da mandioca
tem aceitao dos criadores para alimentao animal, principalmente para rebanho bovino
leiteiro. Com a necessidade de um alimento energtico que apresente grande quantidade de
carboidratos rapidamente fermentveis, objetivou-se neste trabalho a produo de um
suplemento protico atravs do enriquecimento da raspa de mandioca por levedura na
ausncia ou presena de uria para ruminantes visando melhor aproveitamento do nitrognio
no protico fornecido. A composio qumica e NDT da raspa de mandioca apresentam em
mdia: matria seca (88%); protena bruta (3,7%); fibra bruta (4,2%); extrato no nitrogenado
(77%); matria mineral (2,0%); extrato etreo (0,80%) e nitrognio digestvel total (80,0%);
carboidratos (35%) e amido. Observa-se que o teor protico da raspa de mandioca muito
baixo, por esta razo pode ser enriquecida com microrganismos como, a levedura que utiliza
os carboidratos solveis para sntese de protenas. Em confronto com os concentrados
convencionais os resduos da mandioca enriquecidos com levedura e/ou uria equipara seu
valor nutricional, pois sero adicionadas protenas microbianas, minerais como fosfato,
potssio, clcio, alm de vitaminas do complexo B, importantes para o crescimento dos
animais.
Palavras-chave: Resduos agroindustriais, alimentos de ruminantes, fermentao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
308
CDIGO: SB0503
TTULO: EFEITO NA PRODUO DE MEL DE COLMIA DE ABELHAS MELFERAS AFRICANIZADAS
(Apis mellifera) QUANDO SO RETIRADAS MENSALMENTE PRPOLIS DAS COLMIAS
AUTOR: ALDINETE NUVEM FONTOURA
ORIENTADOR: JORGE DOS SANTOS CAVALCANTI
Resumo:
As colheitas de mel foram procedidas sempre mensalmente. Os resultados mostram
que no houve efeito significativo da interao entre os fatores da poca na produo de mel.
No foram observadas diferenas significativas quando comparadas as produes de mel com
e sem retirada de prpolis. Nesse contexto, pode-se inferir que os resultados obtidos
demonstram que a atividade apcola na regio poder aumentar o seu rendimento financeiro,
visto que o apicultor poder, alm do mel, passar a produzir prpolis, sem mudanas
significativas no manejo dos apirios, pois durante as revises normais de suas colnias ele
realizar as operaes para a produo da prpolis.
Palavras-chave: mel, coleta, efeitos de producao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
309
CDIGO: SB0558
TTULO: Isotermas de dessoro das sementes de girassol secas em leito fixo e leito de jorro
AUTOR: WESLLEY MORAIS DE ARAJO
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS
CO-AUTOR: JUDITH TEIXEIRA DIEB
CO-AUTOR: ALCIVAN ALMEIDA EVANGELISTA NETO
Resumo:
O cultivo de oleaginosas vem crescendo como fonte de leo e biocombustvel. Dentre
as oleaginosas destaca-se o girassol. Para reduzir as perdas na produo devido ao ataque de
pssaros e insetos os gros so colhidos muito midos o que pode provocar a formao de
fungos comprometendo sua qualidade. Assim, os gros so submetidos a processos de
secagem que garantam condies adequadas de conservao e armazenamento. Neste
trabalho estudaram-se as isotermas de dessoro de gros de girassol secos em estufa com
circulao forada de ar (40, 50, 60 e 70 C) e no leito de jorro (70, 80 e 90C) para cargas de
1,5, 2,0 e 2,5 kg. Foram obtidos dados de equilbrio higroscpico a 22C dos gros secos
segundo os diferentes processos e condies operacionais. Para o mesmo tipo de processo, a
variao na condio da temperatura de secagem no interferiu no comportamento das
isotermas de dessoro. Todavia a forma de processamento, em leito fixo ou no jorro,
provocou mudanas no comportamento higroscpico, certamente devido a possveis
alteraes na estrutura dos gros. Estas alteraes podem ser decorrentes do atrito entre as
partculas no secador de leito de jorro. Aos dados de equilbrio foram aplicados os modelos de
Luikov, Gab e Oswin. Os modelos representaram bem o comportamento experimental. A partir
do modelo de Gab foram determinadas as umidades da monocamada, 0,03 e 0,05 g/g para os
gros secos no leito de jorro e na estufa, respectivamente.
Palavras-chave: Girassol; secagem; estufa; dessoro; adsoro; modelagem.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
310
CDIGO: SB0579
TTULO: ADOO DE BOAS PRTICAS DE FABRICAO EM REFEITRIO NO CAMPUS MACABA-
RN COMO UM PASSO PARA A PRODUO DE ALIMENTOS SEGUROS
AUTOR: JOAO CARLOS TAVEIRA
ORIENTADOR: CLAUDIA SOUZA MACEDO
CO-AUTOR: ANA CAROLINA CRUZ CHAVES
Resumo:
Este trabalho uma continuao do projeto nomeado ?Diagnstico das condies
higinico-sanitrias e a temperatura das refeies servidas na UAN do campus Macaba-RN?,
no qual o objetivo principal elaborar procedimentos operacionais que auxiliem na correta
manipulao de alimentos, bem como, distribuio e conservao. J foi realizado o relatrio
fotogrfico na tentativa de identificar, as conformidades e no conformidades, assim como o
estado crtico de cada rea. Em seguida, foi delineado um plano ao corretiva para usando
como instrumento normativo a RDC N 216/2004. Para obter um alimento seguro faz-
se necessrio estabelecer procedimentos. Por isso, durante perodo de 30 dias, a temperatura
das refeies servidas no caf da manh, almoo e jantar foi aferida, tanto no incio da
distribuio como o final. De acordo como os resultados encontrados, verificou-se uma
diferena de temperatura critica com relao ao tempo inicial e final, principalmente, no
horrio do almoo, onde o alimento ficava exposto por maior tempo em temperatura
inadequada, consequentemente tornando-o inadequado para consumo. O baixo grau de
conhecimento dos manipuladores diretamente envolvidos no preparo de alimentos pode levar
a atitudes errneas que compromete a qualidade da refeio servida. Por isso, a
conscientizao sobre manipulao correta e adoo de prticas simples so considerados
requisitos bsicos para a produo de alimentos seguros no refeitrio do campus Macaba-RN.
Palavras-chave: temperatura dos alimentos, manipuladores, plano de ao corretiva.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
311
CDIGO: SB0594
TTULO: COMERCIALIZAO DE PESCADO EM FEIRAS LIVRES NO MUNICPIO DE PARNAMIRIM -
RN
AUTOR: ISABEL CRISTINA LIMA AVELINO
ORIENTADOR: FBIO MAGNO DA SILVA SANTANA
Resumo:
Pesquisa que analisa a comercializao de pescado em feiras livres no municpio de
Parnamirim - RN. A pesca possui papel relevante na economia deste municpio. Sua economia
est mais voltada para a agricultura e as indstrias. A variedade de produtos e preos se
destaca entre os fatores que fazem que a feira livre seja importante na comercializao. A
mesma tem graves problemas que comprometem a qualidade do produto e coloca em risco a
sade do consumidor. Considerando que tem um papel importante na tradio, os feirantes
tm papel importante na comercializao de produtos alimentcios e a gravidade das doenas
de origem alimentar para a sade da populao, este projeto, visa formar profissionais mais
engajados com a realidade dos procedimentos higinico-sanitrios em feiras-livres e
oportunizar a sua atuao na orientao de feirantes, alm de apresentar a realidade sobre a
comercializao do pescado nestes locais. Com a aplicao de Check-List e questionrios
haver a coleta de dados. Pretende-se contribuir com a comercializao de alimentos com
qualidade, de forma a trazer benefcios sade da populao, e aos feirantes considerando
que o sinnimo de qualidade atrai a preferncia do consumidor. O projeto ainda est em
andamento e as visitas ainda no foram feitas. Sendo impossvel de se chegar a uma concluso
no momento.
Palavras-chave: Pescado, comercializao, parnamirim, feira livre, alimentos, consumidor.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
312
CDIGO: SB0625
TTULO: COMERCIALIZAO DE PESCADO EM FEIRAS LIVRES NO ALECRIM, NATAL - RN
AUTOR: JOSE WILLIANS DANTAS ALVES
ORIENTADOR: FBIO MAGNO DA SILVA SANTANA
Resumo:
Objetivo geral:
Obter diagnstico da comercializao de pescado da feira-livre do bairro do Alecrim, Natal.
Objetivo parcial:
Avaliar a adequao dos feirantes nos requisitos gerais de higiene na comercializao do
pescado e prticas de manipulao;
Verificar os ambientes de higienizao pessoal dos feirantes e do pescado e orientar quanto
aos riscos de contaminao do produto.
RESULTADO PARCIAL DO ?CHECK LIST?
Equipamentos
Foi constatado que no existe gua potvel disponvel.
Apenas uma das bancas verificadas existia pessoa exclusiva para cobrar.
Existem apenas trs banheiros qumicos no local.
Nenhuma das bancas verificadas tem a matricula de feirante visvel.
2/3 das bancas verificadas estavam em locais sujos e sem lixeiras por perto.
Feirantes
1/3 dos feirantes no usavam avental.
1/3 dos feirantes usavam apenas ?bon? para proteo da cabea.
Nenhum dos feirantes usava luvas para proteo das mos.
Pescados
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
313
Os produtos no tinham identificao
Os produtos eram refrigerados apenas no estoque, dentro de caixas de isopor com gelo.
No usavam utenslios adequados como: facas imprprias, tabuas de carne de madeiras e os
produtos eram expostos em cima de bancas de madeira.
Palavras-chave: Feirantes, comercializao, produtos, alimentcios, sade.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
314
CDIGO: SB0637
TTULO: Determinao da quantidade de rao para camaro pitu em sistema de berrio
AUTOR: VERUSKA DINAR DE LIMA SILVA
ORIENTADOR: KARINA RIBEIRO
CO-AUTOR: ARMANDO PIRES CHACON JNIOR
CO-AUTOR: JONATHAN MDSON DOS SANTOS ALMEIDA
Resumo:
Macrobrachium carcinus so populaes que vem sendo fortemente explorada pela
pesca artesanal em todo o Brasil. Os pescadores artesanais visam o comrcio para o consumo
humano e ou para mercado de iscas vivas para a pesca esportiva. Entretanto, a captura deste
animal diminuiu significativamente nas ltimas dcadas, observa-se assim que essa atividade,
considerada como uma fonte de alimento e sustento para as populaes de pescadores est
longe de se constituir um futuro sustentvel. Desta forma, faz-se necessrio estudos que
venham difundir tcnicas que motivem a produo das espcies. O objetivo do presente
trabalho consiste em avaliar a melhor dieta para os animais na fase de berrio de M. carcinus.
O experimento foi realizado na UFRN/EAJ. Foram utilizados 120 animais com peso mdio de
0,037g durante vinte dias. Os animais foram distribudos em doze aqurios, com capacidade
7,5 l. Na alimentao, foi disposta apenas biomassa de artmia; apenas flake; e biomassa de
artmia + flake em propores iguais, respectivamente para os tratamentos T1, T2 E T3. A
frequncia alimentar foi dividida em quatro vezes ao dia. Embora no tenha apresentando
diferena significativa, observou-se uma maior taxa de crescimento (peso) nos animais do
tratamento 1. Em relao a taxa de mortalidade o tratamento 1 foi o que apresentou a maior
taxa, cerca de 37,5%, seguido do tratamento 2 ( 15%) e o tratamento 3( 12,5%).
Palavras-chave: Macrobrachium carcinus, alimentao, frequncia alimentar.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
315
CDIGO: SB0639
TTULO: COMERCIALIZAO DE PESCADO EM FEIRAS LIVRES NO MUNICPIO DE LAJES - RN
AUTOR: FRANKLYN JOAN DE OLIVEIRA TEIXEIRA
ORIENTADOR: FBIO MAGNO DA SILVA SANTANA
Resumo:
Considerando o papel relevante dos feirantes na comercializao de produtos
alimentcios e a gravidade das doenas de origem alimentar para a sade da populao, este
projeto, visa formar profissionais mais engajados com a realidade dos procedimentos
higinico-sanitrios em feiras-livres, mais os primeiros passos e reviso de literatura, tambm
esta sendo aplicado check-list para apoiar a comercializao sob controle higinico
necessrio o conhecimento profundo da realidade das feiras, dever ser realizado um
diagnstico dos aspectos higinico-sanitrios da comercializao e manipulao de produtos
alimentcios nas feiras livres deste municpio, pesquisas em outros estados para fazer uma
comparao com o nosso trabalho para vermos formas de melhorias,sua atuao na
orientao de feirantes, alm de apresentar a realidade sobre a comercializao do pescado
nestes locais. Pretende-se contribuir com a comercializao de alimentos com qualidade, de
forma a trazer benefcios sade da populao, e aos feirantes considerando que o sinnimo
de qualidade. O trabalho ainda no tem concluses porque ainda esta em andamento, no foi
obtidos resultados por que no foram feitas as visitas no momento, por isso no no foi
chegado as concluses.
Palavras-chave: procedimentos higinico-sanitrios em feiras-livres.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
316
CDIGO: SB0708
TTULO: Tecnologia de sementes de Desmanthus virgathus: espcies da caatinga com
potencial para a forragicultura no RN.
AUTOR: KAMILA EMMANUELLA XAVIER DE AZEVEDO
ORIENTADOR: MARCIO DIAS PEREIRA
Resumo:
A jureminha de relevncia para a agricultura. Objetivou-se determinar as
caractersticas biomtricas de frutos e sementes; a curva de embebio das sementes e
determinar as melhores condies para a germinao. Avaliaram-se os aspectos morfolgicos
das sementes e frutos; a curva de embebio de gua das sementes foi determinada sob 3
tratamentos: sementes intactas (T); escarificadas (E); e cortadas com estilete no lado oposto
ao hilo (C) e foram embebidas: entre papel dispostas em caixa gerbox (EP); rolo de papel (RP);
e imersas em gua (IA). A embebio ocorreu em cmaras de BOD a 30 C. Para a realizao
das curvas, as sementes foram pesadas secas antes da embebio (0 h), e posteriormente em
intervalos de: 2, 4, 8, 10, 12, 24, 48, 72 e 96 h. No teste de germinao as sementes foram
distribudas em substratos diferentes e acondicionadas em cmaras BOD s temperaturas: 25,
30 e 35 C. Foram avaliados os seguintes testes: germinao (G), primeira contagem de
germinao (PCG) e o ndice de velocidade de germinao (IVG). Foi utilizado o DIC e os dados
foram submetidos anlise de varincia e as mdias comparadas pelo teste de Tukey a 5%.
Observaram-se variaes quanto aos aspectos biomtricos estudados, a curva de absoro de
gua das sementes de jureminha teve maior absoro de gua nas sementes (E) e (IA), e
maiores (G) e (IVG) foram observadas na temperatura de 30 C. A temperatura de 25 C no foi
favorvel (G) das sementes.
Palavras-chave: Jureminha; morfologia; germinao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
317
CDIGO: SB0718
TTULO: Densidade adequada para camares da espcie Macrobrachium amazonicum criados
em tanques redes.
AUTOR: ARMANDO PIRES CHACON JNIOR
ORIENTADOR: KARINA RIBEIRO
CO-AUTOR: JONATHAN MDSON DOS SANTOS ALMEIDA
CO-AUTOR: VERUSKA DINAR DE LIMA SILVA
Resumo:
O objetivo desse trabalho foi avaliar a melhor densidade para criao do camaro
amaznico em tanque-redes, quando utilizados trs diferentes densidades, com 10, 20 e 30
camares por m2, o sistema utilizou doze tanque-redes, e um sistema de quatro repeties
para cada tratamento, o experimento teve durao de dois meses e a rao foi ofertada trs
vezes ao dia, uma no inicio da manha outra no comeo da tarde e ao fim da mesma,
quinzenalmente foram aferidos os parmetros que avaliavam a qualidade da gua, como
analise de amnia, nitrito, temperatura, oxignio e PH, e foram feitas trs biometrias durante
o experimento, uma no incio do projeto com o intuito de homogeneizar os camares
utilizados, uma ao passar de um ms, para controle de dados e uma ao final do experimento,
em cada biometria eram avaliados a mortalidade dos camares, a biomassa contida em cada
tanque e o tamanho de cada animal. No passar dos 60 dias, foram avaliados que o tratamento
1, teve mortalidade de apenas 1 camaro, o tratamento 2 teve mortalidade de 8 camares , e
o tratamento 3 apresentou uma mortalidade de 4 camares, e uma rplica do tratamento
quatro, apresentou fuga de todos os animais, o que a tornou invivel, os camares tiveram
um aumento de tamanho bem significativo passando de uma mdia de 3,5 cm para 5,5 cm ,
enquanto ao peso, notou-se que a biomassa maior foi a do tratamento 1 , devido a sua menor
mortalidade e maior desempenho.
Palavras-chave: tanque-redes; amaznico; densidade; biomassa.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
318
CDIGO: SB0729
TTULO: CARACTERIZAO QUMICA E FSICA DO SOLO DA REA DE EXPERIMENTAO
FLORESTAL SOB PLANTIO DE EUCALIPTO DA ESCOLA AGRCOLA DE JUNDIA
AUTOR: JUCIER MAGSON DE SOUZA E SILVA
ORIENTADOR: GUALTER GUENTHER COSTA DA SILVA
Resumo:
A avaliao da fertilidade de um solo, refere-se a determinao da quantidade de
nutrientes que se encontram no solo em forma disponvel para as plantas. A anlise qumica
do solo o principal critrio para avaliar sua fertilidade, e consequentemente, a necessidade
de adubao. O presente trabalho teve como objetivo realizar a caracterizao qumica e fsica
do solo em que foram plantados trs clones de eucalipto, na rea de experimentao florestal
da Escola Agrcola de Jundia (Macaba - RN). Para a caracterizao foram coletas amostras de
solo nas profundidades de (0 ? 20, 20 ? 40 e 40 ? 60 cm) dentro de cada parcela, em pontos
aleatrios (15 amostras simples), sendo posteriormente homogeneizadas para formar as
amostras compostas, que foram enviadas ao laboratrio da EMPARN para serem analisadas.
As amostras de solo apresentaram acidez mdia em todas as profundidades. Os teores dos
nutrientes Ca, P, Mg, e Al se encontraram em nveis mais baixos; enquanto, Na e K
apresentaram teores considerados elevados. Quanto granulometria, as maiores quantidades
de areia foram encontradas nas camadas mais superficiais do solo (0 ? 20 cm), para silte e
argila as maiores quantidades encontram-se nas camadas mais profundas (20 ? 40 e 40 ? 60
cm). O solo da rea de experimentao florestal apresenta, quimicamente, mdia acidez e
baixa fertilidade, exceto o teor de K (mdia a alta), e fisicamente, elevado percentual de areia
(classe textural arenosa).
Palavras-chave: Fertilidade do solo, Caracterizao qumica e fsica.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
319
CDIGO: SB0732
TTULO: Tecnologia de sementes de Mimosa caesalpiniaefolia: espcies da caatinga com
potencial para a forragicultura no RN.
AUTOR: JEFFERSON MATEUS ALVES PEREIRA DOS SANTOS
ORIENTADOR: MARCIO DIAS PEREIRA
Resumo:
A Mimosa caesalpiniaefolia (Sabi) uma espcie nativa da regio do semi-rido
Nordestino, que vem nos ltimos anos sendo amplamente utilizada pelos agricultores devido
as suas importantes caractersticas, como o seu alto poder calorfico, alta resistncia fsico-
mecnica e seu potencial para forragem. O objetivo deste trabalho foi analisar as
caractersticas morfolgicas dos frutos e sementes, sendo elas: comprimento dos frutos,
nmero de sementes por fruto, largura dos frutos, peso dos frutos, espessura dos frutos e
peso das sementes; a curva de embebio das sementes intactas, escarificadas e pinadas em
diferentes substratos; e tambm avaliou as diferentes temperaturas (25, 30 e 35C) e
substratos (sobre papel, rolo de papel, entre areia e sobre areia) na influencia da taxa de
germinao, primeira contagem de germinao e a velocidade de germinao. O comprimento
do fruto, nmero de sementes por fruto e os pesos de frutos e sementes apresentaram
grandes variaes, j as demais caractersticas biomtricas apresentaram-se bastante
uniformes. As sementes intactas absorveram mais gua quando embebidas em copo com
gua, as escarificadas em substrato sobre papel e as sementes pinadas no substrato rolo de
papel (porm mais lenta e em menor quantidade que os outros pr-tratamentos). A maior
germinao e velocidade de germinao foram observadas na temperatura de 25C em todos
os substratos.
Palavras-chave: germinao, morfolgicas, sementes.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
320
CDIGO: SB0749
TTULO: ADAPTAES FISIOLGICAS E ANATMICAS DA ESPCIE Tabebuia aurea Mart.
SALINIDADE.
AUTOR: GRACIELLE RAISSA FERNANDES DAMASCENO
ORIENTADOR: SIDNEY CARLOS PRAXEDES
CO-AUTOR: MARASA COSTA FERREIRA
CO-AUTOR: MARVIAEL PONCIANO DA SILVA
CO-AUTOR: WILDEMAR DAMASCENO FERREIRA CAMARA
Resumo:
A caatinga tem bastante importncia e necessita de maior profundidade de estudos
para seu melhor conhecimento. Rica em espcies endmicas e que se adaptam muito bem
condies limitantes, a mesma se caracteriza por elevada temperatura e baixa pluviosidade
anual, acarretando, dentre outros, riscos de salinizao dos solos. O trabalho tem como
objetivo estudar o efeito da salinidade no desenvolvimento de muda de Craibeira (Tabebuia
aurea Mart.), durante os estdios iniciais de desenvolvimento, caracterizando as alteraes
fisiolgicas e anatmicas e sua adaptao. Foi realizado na casa de vegetao da Escola
Agrcola de Jundia, Macaiba ? RN. Foram plantadas sementes da espcie em 100 sacos de
polietileno, 15 dias aps a semeadura, houve a seleo de mudas e os tratamentos salinos
foram aplicados juntamente com a gua de irrigao; testou-se quatro nveis de salinidade: 0,
1,46, 2,92, 5,85 g L- de NaCl. As plntulas submetidas aos tratamentos foram coletadas 20 dias
aps o incio dos mesmos, sendo 4 mudas por tratamento; deu-se um espao de 20 dias para a
prxima coleta e assim por diante. As plntulas foram divididas em folhas, razes e parte area,
para determinao da rea foliar, comprimento da parte area, comprimento da maior raiz,
nmero de folhas. As plntulas de Craibeira conseguiram se desenvolver mesmo submetidas
condio estressante do fator salinidade, porm se percebeu que em concentraes maiores o
NaCl reduziu o crescimento em relao ao tratamento controle.
Palavras-chave: Caatinga, salinizao, estdios iniciais, adaptao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
321
CDIGO: SB0767
TTULO: SUPERAO DE DORMNCIA EM SEMENTES DE SABI (Mimosa caesalpiniaefolia
Benth.)
AUTOR: NOELLY GABRIELA CATARINA DIAS ARAJO PEREIRA FERREIRA SANTOS DE MEDEIROS
ORIENTADOR: MAURO VASCONCELOS PACHECO
Resumo:
A produo de mudas de espcies nativas em quantidade e qualidade adequadas tem
sido um dos maiores empecilhos para a instalao de plantios florestais no Brasil, devido a
muitas sementes dessas espcies, como o sabi (Mimosa caesalpiniaefolia Benth.)
apresentarem dormncia, o que dificulta sua propagao. Diante do exposto, o presente
trabalho tem por objetivo avaliar tratamentos pr germinativos para superao de dormncia
em sementes de sabi. O trabalho foi desenvolvido no Laboratrio de Sementes Florestais da
UECIA/UFRN no Campus de Macaba - RN. As sementes foram submetidas aos tratamentos:
testemunha, escarificao mecnica, imerso em gua a 80 e 100 C, fervura por 10, 30 e 60
segundos e escarificao qumica com cido sulfrico por 20, 30 e 40 minutos. Aps os
tratamentos, as sementes foram semeadas em folhas de papel toalha umedecidas e
organizadas na forma de rolos e, em seguida, incubados em germinador temperatura de 25
C. Foram avaliadas as seguintes determinaes e variveis: teor de gua, germinao,
primeira contagem e ndice de velocidade de germinao, alm de comprimento e massa seca
de plntulas. O experimento foi conduzido em DIC com quatro repeties, sendo os dados
analisados pelos testes estatsticos: Shapiro-Wilk, Kruskal-Wallis e Teste t (<0,001). O
tratamento de escarificao mecnica proporciona maior germinao e vigor em sementes de
sabi, sendo o mtodo mais eficiente para superar a dormncia.
Palavras-chave: Sementes florestais, escarificao, germinao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
322
CDIGO: SB0771
TTULO: Degradabilidade ruminal da matria seca, da frao fibrosa e da protena bruta de
fenos de moringa (Moringa oleifera Lam.)
AUTOR: JONATAS MARTINS PESSOA
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR
CO-AUTOR: KAREN LUANNA MARINHO CATUNDA
Resumo:
O semirido nordestino enfrenta longos perodos de estiagem que resultam numa
baixa produo de biomassa e na escassez de forragem em quantidade e qualidade. Diante
disto, se faz necessrio o uso da conservao de forragens, pois est capaz de possibilitar o
aproveitamento da produtividade de forrageiras durante o perodo de chuvas, para
posteriormente serem utilizadas na estiagem. A moringa (Moringa oleifera Lam.) tem se
destacado dentre as espcies forrageiras aptas fenao e adaptadas ao semirido. No
entanto, ainda se observa a carncia de estudos mais aprofundados quanto sua utilizao na
nutrio animal. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar a degradabilidade ruminal
in situ da matria seca (MS), fibra em detergente neutro (FDN) e protena bruta (PB) do feno
triturado de moringa. Os valores da degradabilidade in situ da MS, FDN e PB foram,
respectivamente, 57,41%, 43,36% e 54,31%. A degradao efetiva ponderada pelas taxas de
passagem de 2%/h, 5%/h e 8%/h da MS foram respectivamente: 43,63%, 34,15% e 29,34%; da
FDN: 28,86%, 21,09% e 17,64%; e da PB: 26,22%, 17,83% e 14,88%. O feno triturado de
moringa apresentou mdia porcentagem de degradao ruminal para todas as fraes, e
velocidade lenta de degradao da PB quando comparada com as fraes de FDN e MS.
Palavras-chave: Semirido, conservao de forragem, degradabilidade in situ.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
323
CDIGO: SB0782
TTULO: EFICINCIA DO TESTE DE FRIO NA AVALIAO DA QUALIDADE FISIOLGICA DE
SEMENTES DE ADENANTHERA PAVONINA L.
AUTOR: SILVIO RODRIGUES LESSA DE ANDRADE FILHO
ORIENTADOR: MAURO VASCONCELOS PACHECO
CO-AUTOR: JOSENILDA APRIGIO DANTAS
CO-AUTOR: LEONARDO COSTA SANTOS COELHO DA SILVA
Resumo:
Adenanthera pavonina L. uma espcie natural da sia totalmente adaptada e
distribuda ao longo do Brasil, por isso necessrio mais estudos para obter-se um maior
conhecimento sobre a qualidade fisiolgica de suas sementes. O trabalho teve como objetivo
estudar o desempenho de sementes de olho de pombo submetidas ao teste de frio e verificar
a eficincia do mesmo. Foram utilizadas sementes de cinco lotes, as quais foram submetidas s
seguintes determinaes e testes: teor de gua, teste de germinao, teste de frio, primeira
contagem da germinao, ndice de velocidade de germinao, comprimento e massa seca de
plntulas, teste de emergncia, teste de envelhecimento acelerado e teste de condutividade
eltrica. O teste de frio permite detectar diferenas na qualidade fisiolgica das sementes de
diferentes lotes. O ranqueamento fisiolgico dos lotes obtido no teste de frio apresenta
resultados compatveis com aqueles obtidos nos demais testes de vigor.
Palavras-chave: sementes florestais, vigor, estresse, anlise de sementes.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
324
CDIGO: SB0788
TTULO: Efeito aleloptico de extratos aquosos de folhas e frutos de mamona na germinao
de sementes de girassol.
AUTOR: IARA BEATRIZ SILVA AZEVEDO
ORIENTADOR: DAMIANA CLEUMA DE MEDEIROS
CO-AUTOR: ALEX LVARES DA SILVA
Resumo:
A mamona (Ricinus communis L.) uma planta originria da sia Meridional, mas
atualmente apresenta uma ampla distribuio, principalmente nas regies tropicais e
subtropicais. uma dicotilednea pertencente famlia Euphorbiaceae, caracterizada pela
presena de sementes ricas em leo (48% a 0%), porm txicos devidos principalmente a uma
protena chamada ricina, j suas folhas apresentam uma menor concentrao desta toxina. A
maioria desses compostos provm do metabolismo secundrio e esto simultaneamente
relacionados a mecanismos de defesa das plantas contra ataques de microrganismos e insetos.
A alelopatia est fortemente associada com a competio existente entre os organismos por
recursos naturais do meio, tais como, gua, luz e nutrientes. Neste trabalho foram utilizados os
seguintes extratos e foram distribudos da seguinte forma: Tratamento 1: 0% controle,
Tratamento 2: 20% extrato da folha, Tratamento 3: 40% extrato da folha, Tratamento 4: 60%
extrato da folha, Tratamento 5: 80% extrato da folha, Tratamento 6: 20% extrato do fruto +
semente, Tratamento 7: 40% extrato do fruto + semente, Tratamento 8: 60% extrato do fruto
+ semente e Tratamento 9: 80% extrato do fruto + semente. No presente estudo, utilizando
diferentes concentraes do extrato de mamonas, percebe-se que tais concentraes
influenciam na germinao da semente de girassol, de maneira a inibir o fenmeno da
germinao.
Palavras-chave: Ricinus communis L.; Helianhus annuus L.; germinao.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
325
CDIGO: SB1366
TTULO: Reproduo dos Peixes Marinhos: fatores ambientais e induo hormonal dos peixes
AUTOR: RAYANE SILVA DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: DRLIO INCIO ALVES TEIXEIRA
Resumo:
Situao da Piscicultura marinha
A produo pesqueira nos ltimos anos tem se estabilizado em torno de 100 milhes
de toneladas, tanto devido situao criada pela Zona Econmica Exclusiva (ZEE) quanto pela
elevao dos custos das operaes pesqueiras que se encontram em um nvel mximo de
explotao ou sobreexplotadas.
Segundo os dados da FAO (2009) a aqicultura tem representado grande parte dos
incrementos da produo pesqueira mundial, suprindo a grande demanda de pescado, em
funo desta estagnao de captura. Deste modo, se estima um elevado incremento na
produo entre os anos de 2010 a 12050 que faz com que a produo de peixes marinhos
provenientes da aqicultura contribua cada vez mais com a oferta de protena para o consumo
humano.
A piscicultura marinha encontra-se em fase inicial, de modo que a contribuio dos
peixes marinhos na produo mundial de espcies aquticas cultivveis no chega a 5%. Nos
ltimos anos, pases do sudeste asitico, especialmente a China, costa do Mediterrneo e
Estados Unidos tm investido sobremaneira no cultivo de espcies marinhas, atualmente os
maiores produtores de Salmo, Robalo (Centropomus sp), Peixe-leite, Tainha (Mugil sp), Pargo
(Lutjanus sp.), Garoupa e Linguado (Paralichthys sp). Estudos que viabilizem esta atividade
consistem em fortalecer a nvel mundial, uma alternativa promissora capaz de estabelecer o
desenvolvimento sustentvel da pesca, suprindo as necessidades da populao em nvel de
subsistncia e comercial.
Palavras-chave: Reproduo, Diapterus rhombeus, Lutjanus analis.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
326
CDIGO: SB1401
TTULO: Prevalncia dos parasitos em peixes dulccolas do Rio Grande do Norte II
AUTOR: NADJA JACYARA LAURENTINO E SILVA
ORIENTADOR: ELIZETE TERESINHA SANTOS CAVALCANTI
Resumo:
Este trabalho investigou a prevalncia de metazorios parasitas nos peixes dulccolas:
piau, Leporinus piau (Fowler, 1941) e sardinha, Triportheus angulatus (Spix & Agassiz, 1829)
coletados no aude Marechal Dutra e rio Acau, respectivamente, no estado do Rio Grande do
Norte, durante o perodo de agosto de 2012 a junho de 2013. Foram capturados e examinados
54 peixes no total, sendo 34 da espcie L. piau (16 fmeas, nove machos, e nove com sexo
indefinido) e 20 da espcie T. angulatus (trs fmeas, sete machos e 10 exemplares com sexo
indefinido). O comprimento total dos peixes coletados variou de 9,5 a 25,0cm (19,73 5,1)
para fmeas, 11 a 23,5cm (16,88 4,33) para machos, e 8,0 a 9,7cm (8,88 0,58) para
exemplares de sexo indefinido, em L. piau, e variou de 15,5 a 14,9cm (14,97 0,50) para
fmeas, 11,5 a 15,5cm (13,81 1,45) para machos, e 11,5 a 17,0cm (13,5 1,66) para
exemplares de sexo indefinido, em T. angulatus. Dos 34 exemplares de L. piau, 20 estavam
parasitados, e dos 20 exemplares de T. angulatus, oito estavam parasitados. Foi identificado o
nematodeo da espcie Procamallanus (Spirocamallanus) saofranciscencis, tanto no L. piau,
quanto no T. angulatus. Foi registrada uma prevalncia de 47%, intensidade mdia de dois
parasitos por peixe e abundncia mdia de 0,94 parasitos por peixe amostrado em L. piau e
uma prevalncia de 40%, intensidade mdia de 1,87 parasitos por peixe e abundncia mdia
de 0,75 parasitos por peixe amostrado para o peixe T. angulatus.
Palavras-chave: Procamallanus, endoparasitos, Semirido, Nordeste.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
327
CDIGO: SB1405
TTULO: Avaliao do desempenho produtivo de codornas japonesas utilizando gua
magnetizada
AUTOR: JOSE PAULO DE ARAUJO SOBRINHO
ORIENTADOR: JANETE GOUVEIA DE SOUZA
CO-AUTOR: ERNESTO GUEVARA BEZERRA SILVA
CO-AUTOR: GILNARA CAROLINY ARAJO DOS SANTOS
CO-AUTOR: RAFAELA DE OLIVEIRA CAPISTRANO
Resumo:
Objetivou-se com o experimento avaliar o efeito da utilizao da gua magnetizada no
desempenho produtivo das codornas de postura. Para a realizao desse experimento foram
utilizadas 300 codornas de postura em um delineamento ao acaso, divididas em boxes com
numerao de 1 a 10, cada um contendo 30 aves, onde as aves dos boxes de 1 a 5 receberam a
gua normal e dos boxes de 6 a 10 receberam a gua magnetizada. Os animais foram avaliados
durante o perodo de 21 dias, onde os dados do fornecimento da gua foram coletados
diariamente, alm do consumo de rao para o calculo da converso alimentar (consumo de
rao/ganho de peso) e o peso inicial e final das aves. Os dados foram coletados e submetidos
a anlise estatstica e verificou-se que no houve diferena significativa utilizando a gua
magnetizada ou no.
Palavras-chave: gua, Desempenho, Consumo, Magnetizada.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
328
CDIGO: SB1510
TTULO: Capacidade de suporte de pastagens tropicais manejadas sob pastejo intermitente por
ovinos de corte no RN
AUTOR: HEWERTON CLAYTON BEZERRA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: GELSON DOS SANTOS DIFANTE
Resumo:
Objetivou-se avaliar a capacidade de suporte e as variaes estacionais na taxa de
lotao de quatro gramneas tropicais manejadas sob pastejo intermitente. O experimento foi
conduzido na rea fsica da EAJ ? Campus da UFRN em Macaba/RN, em reas de pastagens
estabelecidas no ano de 2010. Foram avaliadas quatro cultivares de gramneas forrageiras
(Panicum maximum e Brachiaria brizantha). O delineamento experimental foi o de blocos com
duas repeties. O mtodo de pastejo empregado foi o de lotao rotativa. Como agentes de
desfolhao foram utilizados ovinos sem raa definida (SRD). Durante a poca das guas,
Foram selecionados os animais e distribudos aleatoriamente nas unidades experimentais. Os
animais-teste foram pesados semanalmente e os animais-reguladores mensalmente para
acompanhamento do ganho de peso e ajuste da taxa de lotao. O ajuste da taxa de lotao
foi feito semanalmente em funo da disponibilidade de forragem, mantendo-se, no mnimo
seis animais teste por piquete. Os resultados encontrados mostram os pesos iniciais e finais
dos animais-testes, os ganhos de pesos dirios e as taxas de lotao, durante os perodos de
seca e das chuvas. As cultivares avaliadas podem produzir ganhos satisfatrios para ovinos em
pastejo na poca das guas na regio Nordeste do Brasil. Na poca de seca, os capins Massai,
Marandu e Piat se apresentaram como opes forrageiras para produo de ovinos, embora
o capim Aruana no se mostrou adaptado as condies desse perodo.
Palavras-chave: aruana, marandu, massai e piat.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
329
CDIGO: SB1597
TTULO: Parmetros de digesto de silagens de Milho Cultivados na Regio de Macaba-RN
AUTOR: JOS DANTAS MORAES
ORIENTADOR: MARCONE GERALDO COSTA
Resumo:
O referido projeto no foi executado devido a alguns motivos que impossibilitaram o
seu desenvolvimento, podendo eu participar de outro projeto que referia-se da COMPOSIO
TECIDUAL DO PERNIL DE CORDEIROS ALIMENTADOS COM DIFERENTES CULTIVARES DOS
GNEROS BRACHIARIA E PANICUM. Onde Objetivou-se com esse trabalho avaliar a composio
tecidual do pernil de ovinos SRD alimentados em diferentes cultivares de Brachiaria brizanta e
Panicum maximum durante a poca das guas. Foram utilizados 32 animais machos inteiros,
distribudos em quatro tratamentos e oito repeties. Os tratamentos eram representados
pelas cultivares, sendo elas Marandu, Aruana, Piat e Massai. Os cordeiros pastejaram durante
133, 129, 143 e 142 dias respectivamente. Os animais foram abatidos com peso mdio de 32,4
kg.
Aps o abate, as carcaas foram seccionadas ao meio e o pernil da meia carcaa
esquerda foi retirado e dissecado em msculo, osso, gordura (subcutnea e intramuscular) e
outros tecidos. Realizada a dissecao do pernil, a proporo de msculo: osso: gordura foi
calculada para determinao da composio tecidual. Apenas o peso da perna reconstituda
apresentou diferena significativa com relao composio tecidual do pernil. A utilizao de
pastagens cultivadas pode ser uma alternativa vivel no que diz respeito composio tecidual
do pernil, por apresentar uma boa relao msculo: osso: gordura.
Palavras-chave: componentes, musculosidade, pastejo, vsceras.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
330
CDIGO: SB1637
TTULO: PRODUO DE Artmia sp. PARA UTILIZAO COMO ALIMENTO VIVO NA
LARVICULTURA DE PEIXES MARINHOS
AUTOR: MYRLA MYKAELY DE MELO SILVA
ORIENTADOR: FABIANA RODRIGUES DE ARRUDA CMARA
Resumo:
A Artemia um alimento rico em protenas, lipdeos e cidos graxos essenciais e
esteris, oferecem outros nutrientes bsicos para o crescimento dos animais aquticos. O
objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho zootcnico de Artemia sp. alimentadas com
diferentes dietas microalgais cultivadas em diferentes concentraes de nitrato. Neste
trabalho foram testadas trs dietas microalgais com as espcies Isochrysis sp, Chaetocero
calcitrans e Chaetoceros muelleri. Estas microalgas foram divididas em trs tratamentos com
trs repeties, para cada espcie. Durante o experimento, os tratamentos foram
diferenciados pela concentrao de nitrato a partir do meio Guillard f/2 modificado. Deste
modo, T1 foi determinado como o tratamento controle, sem alterao na composio do meio
Guillard f/2 para cultivos em fase intermediria; T2 foi o tratamento com concentrao de
Nitrato reduzida metade e T3, o tratamento com o dobro da concentrao de nitrato do
meio Guillard. Os resultados obtidos em relao a sobrevivncia e peso das artmias aps o
10 dia do experimento, demosntram melhores resultados no desempenho zootcnico dos
organismos alimentados com Isochrysis sp. cultivadas em meio com concentrao reduzida de
nitrato, onde foi registrado peso mdio de 0,33g e ausncia de diferena significativa na
sobrevivncia entre os tratamentos, com valor mdio de 73,3%.
Palavras-chave: Artemia sp, microalgas.
XXIV CONGRESSO DE INICIAO CIENTFICA
PR-REITORIA DE PESQUISA
331
CDIGO: SB1649
TTULO: PRODUO DE GENTIPOS DE GIRASSOL PARA PRODUO DE BIODIESEL NO
MUNICPIO DE MACABA-RN
AUTOR: ALEX LVARES DA SILVA
ORIENTADOR: DAMIANA CLEUMA DE MEDEIROS
Resumo:
A produo de oleaginosas no nosso pas, especialmente no nordeste brasileiro, vem
se tornando uma atividade de grande importncia agrcola devido s condies
edafoclimticas que permitem sua produo nos mais diversos ecossistemas, e principalmente
pela demanda mundial de biocombustveis. O girassol (Helianthus annuus L.) uma planta
com caractersticas muito especiais, principalmente no que diz respeito ao seu potencial para
aproveitamento econmico. A escolha do substrato deve ser feita levando em considerao
no somente as caractersticas fsicas e qumicas exigidas pela espcie a ser plantada, mas
tambm aspectos econmicos, pois alm de propiciar adequado crescimento planta, o
material utilizado na composio do substrato deve ser abundante na regio e ter baixo custo.
Com o objetivo de avaliar a qualidade de mudas de girassol em funo de diferentes tipos de
substratos. Foram testados seis tipos de substratos: areia lavada, composto orgnico,
Topstrato (substrato comercial), areia lavada + esterco bovino (3:1), areia lavada + hmus de
minhoca (3:1) e areia lavada + cama de frango (3:1), com quatro repeties. O substrato
Topstrato, amplamente difundido na produo de mudas das mais variadas espcies vegetais,
proporcionaram maior crescimento nas mudas de girassol.
Palavras-chave: Helianthus annuus L., produo de mudas, substratos.
Você também pode gostar
- Relatório Bromatologia Determinação de ProteínasDocumento12 páginasRelatório Bromatologia Determinação de ProteínasMaise FrancoAinda não há avaliações
- Laminas Cursos Microlins PortalDocumento23 páginasLaminas Cursos Microlins PortalACERVO PEDAGÓGICOAinda não há avaliações
- Projecto de Redes para Supermercado PDFDocumento126 páginasProjecto de Redes para Supermercado PDFShimon Whoami Demicovitch100% (1)
- Relatório Referente À Aula Prática Ensaio PeroxidaseDocumento10 páginasRelatório Referente À Aula Prática Ensaio PeroxidaseBianca Silva CordeiroAinda não há avaliações
- Relatorio DqoDocumento6 páginasRelatorio DqoQuímica ModularAinda não há avaliações
- GE - Casa de PazDocumento42 páginasGE - Casa de PazMarcos D. Quirino100% (5)
- Transmissão MasseyDocumento172 páginasTransmissão MasseyJéssica Tupy Paulo Henrique100% (12)
- D&D5E Tesouro Da Rainha DragãoDocumento97 páginasD&D5E Tesouro Da Rainha DragãoPriscila ReigadaAinda não há avaliações
- Síntese, Caracterização de Uma Base de Schiff de Quitosana e Complexos de Cobre Utilizadas Como Eletrodo ModificadoDocumento7 páginasSíntese, Caracterização de Uma Base de Schiff de Quitosana e Complexos de Cobre Utilizadas Como Eletrodo ModificadoCarlosAinda não há avaliações
- Peptídeos AntimicrobianosDocumento80 páginasPeptídeos AntimicrobianosKarla Oliveira OrtizAinda não há avaliações
- Extraã - Ã - o Da Piperina de Pimenta-Do-ReinoDocumento2 páginasExtraã - Ã - o Da Piperina de Pimenta-Do-ReinoJessica CarvalhoAinda não há avaliações
- Biossensor Eletroquímico Baseado Na Enzima Tirosinase para A Determinação de Fenol em EfluentesDocumento4 páginasBiossensor Eletroquímico Baseado Na Enzima Tirosinase para A Determinação de Fenol em EfluentesJulia Rinaldi de Macedo CortezAinda não há avaliações
- Trabalho Ecoinovar 175Documento12 páginasTrabalho Ecoinovar 175Lígia CastilhoAinda não há avaliações
- Produção de Beta TCPDocumento12 páginasProdução de Beta TCPRhelvis1Ainda não há avaliações
- Study and Optimization of Oxygenated Apatite - 2023-11-05 22-48-55Documento9 páginasStudy and Optimization of Oxygenated Apatite - 2023-11-05 22-48-55khannongsdAinda não há avaliações
- DISSERTAÇÃO ProduçãoBiogásPartirDocumento101 páginasDISSERTAÇÃO ProduçãoBiogásPartirLucas Lima QueirozAinda não há avaliações
- Dissertacao AvaliacaoProcessoProducao PDFDocumento84 páginasDissertacao AvaliacaoProcessoProducao PDFAdriano RafaelAinda não há avaliações
- Resíduo de Sabugo de Milho Empregado para Síntese de Carvão Ativado: Suporte Na Imobilização de EnzimaDocumento5 páginasResíduo de Sabugo de Milho Empregado para Síntese de Carvão Ativado: Suporte Na Imobilização de EnzimaMateus SantosAinda não há avaliações
- Artigo 142Documento3 páginasArtigo 142rafaelaAinda não há avaliações
- DesnaturaçãoDocumento9 páginasDesnaturaçãoMoisés Wuhigo CuambaAinda não há avaliações
- Admin, 493Documento18 páginasAdmin, 493Antonio GadelhaAinda não há avaliações
- Inativação de LipasesDocumento4 páginasInativação de LipasesGraziela DantasAinda não há avaliações
- Enxerto BifásicoDocumento12 páginasEnxerto BifásicoRhelvis1Ainda não há avaliações
- Relatório - BioquímicaDocumento9 páginasRelatório - BioquímicaGirlaineSantosAinda não há avaliações
- Uso de Sistemas Aquosos Bifásicos Formados Por Peg + Fosfato de Sódio para Pré-Purificação de Proteases de Ora-Pro-Nóbis (Pereskia Aculeata Miller)Documento6 páginasUso de Sistemas Aquosos Bifásicos Formados Por Peg + Fosfato de Sódio para Pré-Purificação de Proteases de Ora-Pro-Nóbis (Pereskia Aculeata Miller)Mateus SantosAinda não há avaliações
- Relatório 3 BioquímicaDocumento10 páginasRelatório 3 Bioquímicajeneffer alice reisAinda não há avaliações
- Bromatometria 2Documento3 páginasBromatometria 2Thiago Oliveira FernandesAinda não há avaliações
- Tratamento II - AULA 04 LGADocumento42 páginasTratamento II - AULA 04 LGAElissandra NascimentoAinda não há avaliações
- Policaprolactona - (PCL)Documento20 páginasPolicaprolactona - (PCL)Taeline FabrisAinda não há avaliações
- Electrochemical Determination of Hydrogen Peroxide Using A Novel Prussian Blue-Polythiophene-Graphene Oxide Membrane-Modified Glassy Carbon ElectrodeDocumento16 páginasElectrochemical Determination of Hydrogen Peroxide Using A Novel Prussian Blue-Polythiophene-Graphene Oxide Membrane-Modified Glassy Carbon ElectrodeArya Zimmar Sant'AnnaAinda não há avaliações
- Dis Ppgeq 2016 Simoes Jana PDFDocumento134 páginasDis Ppgeq 2016 Simoes Jana PDFBiel Santana de CastroAinda não há avaliações
- Tratamento de Efluente de Laticínio Por Processo Oxidativo Avançado Tipo Fenton-FotocatalisadoDocumento7 páginasTratamento de Efluente de Laticínio Por Processo Oxidativo Avançado Tipo Fenton-FotocatalisadoCarlosAinda não há avaliações
- Fermentação de Alto Desempenho Avaliação Da Concentração Máxima de Etanol em Células de LeveduraDocumento37 páginasFermentação de Alto Desempenho Avaliação Da Concentração Máxima de Etanol em Células de LeveduraSabrina Ciane CondiAinda não há avaliações
- PARTIÇÃO DE LIPASE DA AMÊNDOA DO PEQUI (Caryocar Brasiliense Camb.) EM SISTEMAS AQUOSOS BIFÁSICOS FORMADOS POR 2-PROPANOL + SULFATO DE AMÔNIO + ÁGUA.Documento6 páginasPARTIÇÃO DE LIPASE DA AMÊNDOA DO PEQUI (Caryocar Brasiliense Camb.) EM SISTEMAS AQUOSOS BIFÁSICOS FORMADOS POR 2-PROPANOL + SULFATO DE AMÔNIO + ÁGUA.Mateus SantosAinda não há avaliações
- Relatório 1 - PH e Tampões - Parte 4Documento3 páginasRelatório 1 - PH e Tampões - Parte 4Junior CastagnolliAinda não há avaliações
- Aula Fisiologia MicrobianaDocumento33 páginasAula Fisiologia MicrobianaALICE CRISTINA RODRIGUESAinda não há avaliações
- Documento 1Documento13 páginasDocumento 1SofíaAinda não há avaliações
- 3 Saaa2008001555 PDFDocumento100 páginas3 Saaa2008001555 PDFHomildo FortesAinda não há avaliações
- Relatorio - de Pesquisa Sobre Suido Cultura em LimeiraDocumento7 páginasRelatorio - de Pesquisa Sobre Suido Cultura em LimeiraPéricles Beserra SirianoAinda não há avaliações
- Relatorio Todos Os ResultadosDocumento43 páginasRelatorio Todos Os ResultadosMarcelo Henrique Ayala GomesAinda não há avaliações
- Tratamento de Dejetos de Suínos em Filtro Anaeróbio de Fluxo AscendenteDocumento40 páginasTratamento de Dejetos de Suínos em Filtro Anaeróbio de Fluxo AscendenteIsadora Benevides MirandaAinda não há avaliações
- Relatório Final - Obtenção de Catalisador Com Estrutura Do Tipo Perovskita Utilizando Hidróxido de Amônio Como Agente PrecipitadorDocumento14 páginasRelatório Final - Obtenção de Catalisador Com Estrutura Do Tipo Perovskita Utilizando Hidróxido de Amônio Como Agente PrecipitadorjefersonqueirozAinda não há avaliações
- Modelo1 Resumo ExpandidoDocumento5 páginasModelo1 Resumo ExpandidoJessica LimaAinda não há avaliações
- Prática 03Documento3 páginasPrática 03Christopher IngramAinda não há avaliações
- Resumo 08.12.20 Caio VictorDocumento1 páginaResumo 08.12.20 Caio Victorcaio victorAinda não há avaliações
- 2014 Eve RspaulinoDocumento6 páginas2014 Eve RspaulinoJéssica BragaAinda não há avaliações
- R6 - Anal - Inst.Exp-1Documento5 páginasR6 - Anal - Inst.Exp-1Millena OrtizAinda não há avaliações
- Produção de Carvão Ativado A Partir de Endocarpo de Coco Da Baía...Documento103 páginasProdução de Carvão Ativado A Partir de Endocarpo de Coco Da Baía...Pablo Virgolino FreitasAinda não há avaliações
- Relatorio 1 Analize de MetaisDocumento5 páginasRelatorio 1 Analize de MetaisTiago MB2112Ainda não há avaliações
- TCC AdsorcaoColunaLeitoDocumento97 páginasTCC AdsorcaoColunaLeitoSilva AdriannyAinda não há avaliações
- INFORME-2-AA (Terminado)Documento20 páginasINFORME-2-AA (Terminado)NICOLAS HANS BAEZ BARRIENTOSAinda não há avaliações
- Análise Térmica PiróliseDocumento51 páginasAnálise Térmica PiróliseROGERIO BARBOSA DA SILVAAinda não há avaliações
- Apresentação Atividade MetanogênicaDocumento20 páginasApresentação Atividade MetanogênicaVERA OLIVEIRAAinda não há avaliações
- Lab Organica .2Documento7 páginasLab Organica .2pedro lucenaAinda não há avaliações
- Efeito Da Incorporação de Nanopartículas de TiO2 Na Estrutura e Propriedades de Blendas de Polipropileno e Poli (Hidroxibutirato) Submetidas A Testes de Envelhecimento AceleradoDocumento7 páginasEfeito Da Incorporação de Nanopartículas de TiO2 Na Estrutura e Propriedades de Blendas de Polipropileno e Poli (Hidroxibutirato) Submetidas A Testes de Envelhecimento AceleradoPaola GriebelerAinda não há avaliações
- Perfil de Voláteis de Algerin Por Headspace Microextração em Fase Sólida e HidrodestilaçãoDocumento6 páginasPerfil de Voláteis de Algerin Por Headspace Microextração em Fase Sólida e HidrodestilaçãoLeidiana Elias XavierAinda não há avaliações
- Apresentação Ácido CítricoDocumento28 páginasApresentação Ácido CítricoRaulAinda não há avaliações
- Craft Beer Brand MK Plan by SlidesgoDocumento18 páginasCraft Beer Brand MK Plan by SlidesgoRegilene SaturninoAinda não há avaliações
- Xii 087Documento4 páginasXii 087lucas112358Ainda não há avaliações
- 3º Estágio Reposição Análise de Alimentos - Thalison GustavoDocumento3 páginas3º Estágio Reposição Análise de Alimentos - Thalison GustavoAchou que eu tava brincando?Ainda não há avaliações
- Relatório Sintese Da DibenzalacetonaDocumento7 páginasRelatório Sintese Da DibenzalacetonaBeatriz MonteiroAinda não há avaliações
- Influência Da Glicose Sobre o Consumo de FenolDocumento7 páginasInfluência Da Glicose Sobre o Consumo de FenolcarolinaAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Otmização Da Nitrificação Com ConhcasDocumento8 páginasArtigo Sobre Otmização Da Nitrificação Com ConhcasAdriano da CruzAinda não há avaliações
- Biorreator à Membrana: avaliação do efeito da eletrocoagulação aplicado ao tratamento de efluente da indústria de papelNo EverandBiorreator à Membrana: avaliação do efeito da eletrocoagulação aplicado ao tratamento de efluente da indústria de papelAinda não há avaliações
- Trabalho Resenha de o Capital Cap 23Documento12 páginasTrabalho Resenha de o Capital Cap 23Sheila Carvalho de SouzaAinda não há avaliações
- Nutrição - 1 - Introdução A Nutrição PDFDocumento19 páginasNutrição - 1 - Introdução A Nutrição PDFAnderson FerroBemAinda não há avaliações
- CorymbiaDocumento59 páginasCorymbiaCarmen de MattosAinda não há avaliações
- O Vodu HaitianoDocumento6 páginasO Vodu HaitianoJohanna Salud OcupacionalAinda não há avaliações
- Saúde Coletiva - Unidade 01Documento55 páginasSaúde Coletiva - Unidade 01Weslei Leonardo LopesAinda não há avaliações
- Impermeabilização de BanheirosDocumento8 páginasImpermeabilização de BanheirosLéo RomeroAinda não há avaliações
- Memória, Emoção e Cognição: Percorrendo Caminhos Na Construção de Conhecimentos No Ensino de Química Articulado Com Linguagens Artísticas Sonoras e VisuaisDocumento44 páginasMemória, Emoção e Cognição: Percorrendo Caminhos Na Construção de Conhecimentos No Ensino de Química Articulado Com Linguagens Artísticas Sonoras e VisuaisIsaac WalonAinda não há avaliações
- Circuitos Pneumáticos - ExercíciosDocumento24 páginasCircuitos Pneumáticos - ExercíciosPedro Adolfo GalaniAinda não há avaliações
- 2.artes - 2021 - Arte EgípciaDocumento55 páginas2.artes - 2021 - Arte EgípciaMelissa DomingosAinda não há avaliações
- ZAT CompletoDocumento106 páginasZAT CompletogajoqueAinda não há avaliações
- Práticas Sobre A Linguagem Scheme: Abordagem FuncionalDocumento30 páginasPráticas Sobre A Linguagem Scheme: Abordagem FuncionalHercilio Duarte100% (1)
- Jogos Políticos em RPGDocumento16 páginasJogos Políticos em RPGgiovaniAinda não há avaliações
- Aula 13 - 6º MAT - Possibilidades e ProbabilidadeDocumento5 páginasAula 13 - 6º MAT - Possibilidades e ProbabilidadeJeane Silva100% (1)
- Artigo Sobre o Trabalho ColaborativoDocumento10 páginasArtigo Sobre o Trabalho ColaborativoAlex Silvio de MoraesAinda não há avaliações
- Verdade e ValidadeDocumento11 páginasVerdade e Validadefonseca75Ainda não há avaliações
- Slides Port 4Documento5 páginasSlides Port 4Silvania Maria de FreitasAinda não há avaliações
- Interações Moleculares - Patrick - Química FarmacêuticaDocumento7 páginasInterações Moleculares - Patrick - Química FarmacêuticaN.Ainda não há avaliações
- Apostila Parker Vazamento Zero Manual 4020-4Documento22 páginasApostila Parker Vazamento Zero Manual 4020-4JOAO PAULO LEMOSAinda não há avaliações
- Lei #6287 DE 28/12/2017Documento7 páginasLei #6287 DE 28/12/2017Thiago NunesAinda não há avaliações
- Aula 1 Análise SensorialDocumento91 páginasAula 1 Análise SensorialElisangela Cardoso de Lima BorgesAinda não há avaliações
- Arruela Lisa Aço Inox - DIN125-1Documento3 páginasArruela Lisa Aço Inox - DIN125-1engenharia metalicaAinda não há avaliações
- Carta de Leitor AlunoDocumento42 páginasCarta de Leitor AlunoSIMONE DE ALMEIDA ANTONIO AMEALAinda não há avaliações
- Moodernismo Brasileiro CSDocumento7 páginasMoodernismo Brasileiro CSsaluafayalAinda não há avaliações
- BluesDocumento6 páginasBluesRyou KurokibaAinda não há avaliações
- Raciocinio LógicoDocumento16 páginasRaciocinio LógicoBruno VirginioAinda não há avaliações