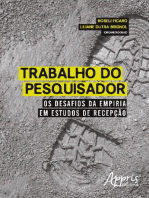Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Técnica Da Observação Nas Ciências Sociais
A Técnica Da Observação Nas Ciências Sociais
Enviado por
Jefferson Tomaz0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações11 páginasmetodologia; observação
Título original
A técnica da observação nas ciências sociais
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentometodologia; observação
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações11 páginasA Técnica Da Observação Nas Ciências Sociais
A Técnica Da Observação Nas Ciências Sociais
Enviado por
Jefferson Tomazmetodologia; observação
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 11
A TÉCNICA
DA OBSERVAÇÃO
NAS CIÊNCIAS HUMANAS*
Marcos Antonio da Silva**
A observação constitui o principal modo de contatar o real, a forma
de se situar, se orientar e perceber o outro, se auto-reconhecer e de
como emitir conhecimento sobre tudo o que compõe o mundo material
e o das idéias. Um dos maiores legados do desenvolvimento das ciências
humanas e sociais ao longo do século passado é a convicção de que o
ato de observar as pessoas contribui para compreendê-las. Observá-las
brincando, trabalhando, conversando, silenciando, rindo ou chorando,
tomando-as individualmente, como grupo ou multidão. Para alguns
pesquisadores esse procedimento somente deve ocorrer em laboratório,
enquanto outros defendem que em qualquer situação na qual seja
adotado se deve preservar o âmbito no qual ela ocorra da forma mais
“natural” possível.
Para alguns pesquisadores, e de conformidade com suas convic-
ções, o objeto da investigação sob controle impede a eclosão de uma
subjetividade comprometedora. Outros acham que o meio natural nem
existe quando este se refere ao homem, porque de tão socializado e
tão modificado por sua ação, já não se pode falar em natureza pura e
simples. Mas todos concordam, em alguma medida, que observando as
pessoas elas poderão contar quem são em seu cotidiano, como vivem
em seus contextos, pelo que vivem e como se expressam, e em que e
porque acreditam ou não em algo ou alguém, o que pensam do modo
como vivem com elas mesmas e com os outros, quais os seus gostos,
suas orientações e suas desordens e assim por diante.
É claro que a observação é uma característica humana que an-
tecede a ciência moderna, enquanto ferramenta de sobrevivência e de
aprendizado, portanto, preenche todos os campos da vida: a observação
dos poetas, dos pintores, dos romancistas, dos cineastas, dos políticos,
, Goiânia, v. 16, n. 2, p. 413-423, jul./dez. 2013. 413
dos publicitários, dos juízes, dos atores, das mulheres, dos vizinhos, dos
idosos, dos padres e pastores, do pai, da mãe, das crianças, dos profes-
sores. Pode-se afirmar que tudo o que foi produzido e o ainda por vir a
ser certamente decorre de uma série de observações, inicialmente, para
mais adiante tornar-se algo relacionado às idéias (um conceito, uma
teoria, uma regra, uma tendência, uma concepção, um paradigma) ou
material (a tecnologia, objetos e formas variadas de uso e deleite).
Também se observam os animais e os objetos da cultura mate-
rial, os elefantes e as estrelas, as centopéias e os átomos, as células e as
ondas do mar. Mas observar os homens é bem diferente do que obser-
var os outros seres e as outras coisas. É muito mais difícil, entre outros
motivos, porque as pessoas observadas por sua vez também observam
e podem, por exemplo, não querer ou não gostar disso. Ou podem dis-
simular a forma de ser e estar no mundo decorrente do momento em
que se encontra e se percebe vigiada. Portanto, para observar os seres
humanos é preciso ter, além de um apurado bom senso, critérios bem
definidos, método e decorrentes técnicas e, principalmente, ética.
Segundo a ciência, para observar as pessoas, deve-se buscar a
maneira mais correta de fazer isso, ter um método, que pode variar mui-
to daqui e dali, mas é sempre necessário. Afinal, não se pode fazer ob-
servação de qualquer modo: é preciso parar e pensar sobre o que vai ser
observado, por que vai ser observado e como vai ser observado. Tam-
bém é preciso levar sempre em conta que o observado é um ser humano
que precisa ser respeitado e protegido dos excessos de olhos curiosos
e meticulosos dos cientistas, por isso a observação supõe sempre um
problema ético. Nem todos precisam observar com método, mas certa-
mente todos precisam preocupar-se com o cuidado e o respeito pelo ser
humano observado.
Nesse artigo se discute algumas questões conceituais e metodoló-
gicas relativas à observação. Além de ser um procedimento científico, a
observação é pensada aqui também como uma dimensão importante na
formação do/a pesquisador/a e do/a professor/professora. Todo/a aquele/a
que envereda pela investigação não pode dispor desta ferramenta. O pro-
fessor é, sobretudo, aquele que olha atentamente para seus investigados/
as e alunos/as na certeza de que estes têm sempre algo a revelar sobre si
mesmos. Ninguém revela melhor ao investigador/a e professor/a sobre
as dificuldades dos investigados/as e alunos/as do que os/as próprios/as.
Assim, é preciso aprender a observar. E, sendo capaz de observar
bem, ser capaz de relacionar o fato observado com as teorias (desen-
414 , Goiânia, v. 16, n. 2, p. 413-423, jul./dez. 2013.
volvidas por várias ciências que, de alguma maneira, são resultantes de
anteriores observações) e que dia após dia com critérios bem definidos
contribuirão para que outros tantos pesquisadores, professores ou pen-
sadores atentos ao mundo a sua volta contribuam com suas diferentes
óticas para desvendar outros tantos campos do conhecimento e assim
fazer deste mundo um lugar bem mais agradável para a existência.
A OBSERVAÇÃO COMO TÉCNICA
O ato de observar é fundamental para desenvolver as capacidades
humanas, e na essência é o mecanismo que possibilita um ciclo de iden-
tificar, conhecer, reconhecer e proporcionar a síntese freqüente sobre
o conhecimento dos fenômenos que nos cerca. Yuni e Urbano (2006,
p.40), assinalam que:
Nuestro cuerpo está habilitado para captar el mundo externo a
través de la información que le aportan los sentidos. Esta infor-
mación se internaliza y organiza el cerebro a través de la sen-
sación, que nos permite decodificar el mundo en que vivimos y
reconocerlo en términos de imágines, sonidos, testuras, sabores
y olores.
Assim os sentidos delineiam cada ambiente e cada aspecto da
cada cultura que existe, e contribuem para que os indivíduos se posi-
cionem em relação ao significado, significante, signo, sinal e as repre-
sentações que compõem as organizações sociais. Em termos de senso
comum o cotidiano é perfeitamente percebido, decodificado e se cons-
tituem em referências do estar, do ser em relação a si mesmo e frente
aos outros. Portanto, é fundamental para continuar a existir apuradas
observações que permitem existir e transitar entre lugares comuns e
complexidades, entre diferenças que compõem a natureza que a todos
contem. Enfim, nas relações estabelecidas sempre se está a observar,
mesmo sem uma intenção, sem uma premeditação.
Nesta direção, é fundamental diferenciar a observação casual da
científica, porque aquela independe de procedimentos a serem valida-
dos e que se constituam em dados confiáveis para efeito de conhecer os
fatos em sua dimensão de complexidade (VIANNA, 2003, p. 9). Porque
é diferente a ótica daquele que somente se propõe a olhar, daquele que
intenta conhecer as nuanças da realidade. Ademais, o próprio ato de
, Goiânia, v. 16, n. 2, p. 413-423, jul./dez. 2013. 415
observar, em sua dimensão de técnica científica, não se constitui em
simples atividade e que se tem como alternativa de contornar problemas
na obtenção de dados, mas o seu contrário. Enquanto instrumento me-
todológico, por excelência, requer que no processo de investigação não
se descarte o grau de interferências a alterar, certamente, os cenários
observacionais e as ações que lhes integram.
Para ser científica a técnica exige, desde a dilatação do tempo da
investigação até uma meticulosa revisão teórica (VIANNA, 2003, p.
10), que resulte durante o processo de estudo, em medidas alternativas e
que, necessariamente, não haviam sido previstas, e quando de sua con-
clusão, em procedimentos de análise de conteúdo (que possibilite a va-
lidação dos resultados obtidos). Esta atividade antes de tudo carece de
simulacros sobre o que se quer conhecer, e deve levar em consideração
as características próprias daqueles que integram a realidade investiga-
da. Não são poucos os limites e, decorrentes, riscos de enveredar pela
adoção de procedimentos de observação e que podem comprometer à
aceitação dos relatos que resultam de seu emprego. Portanto, a neces-
sidade de antes de iniciar a pesquisa, partir para um detalhado estu-
do sobre o emprego da técnica, que implica em saber: o que? Como?
Quando? Por quê? Quem? E, o que observar?
Conforme Gil (1999, p. 110), a observação é um “[...] elemento
fundamental para a pesquisa [...] chega a ser mesmo considerada como
método de investigação.”, devido aos graus de exigência e que requer
estar precisamente definida em termos de procedimento. Mas, enquanto
técnica implica em
[...] coleta de dados para conseguir informações e utiliza os sen-
tidos na atenção de determinados aspectos da realidade. Não
consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos
e ou fenômenos que se deseja estudar (MARCONI; LAKATOS,
1999, p. 90).
E não se reduz o grau de exigências para que seja o mais preci-
sa possível. É reconhecida como técnica básica na pesquisa de campo
(ITURRA, [198-?], p. 157) enquanto fator primordial na investiga-
ção social. Porque permite identificar e “[...] obter provas a respeito
de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas
que orientam o seu comportamento [...]”, e nesse sentido mais apro-
xima o investigador da realidade. Mas, que exige do investigador cui-
416 , Goiânia, v. 16, n. 2, p. 413-423, jul./dez. 2013.
dados especiais, a começar pela condição de que todo aquele se dispõe
ou que participa na vida da população que estuda tem a “[...] tendência
espontânea para acreditar no que as pessoas lhe dizem [...]” (ITURRA,
[198-?], p. 157).
Se por um lado, o ato de observar exige que se utilizem os sentidos
para obter conhecimentos sobre os fatos, por outro somente se atinge a
dimensão científica se atender ao objetivo de uma pesquisa que implique
planejamento sistematizado e cujos resultados podem ser verificados,
controlados e que se submetam a critérios de validação (SELLTIZ apud
GIL, 1999, p. 110). Significa que, enquanto técnica prevista na investi-
gação, há de se propor regras (critérios) para não ocorrer polarizações
(difíceis de ser superadas, porque ocasionam a perda da objetividade) ou
“conduções” (manipulações) em relação aos resultados.
Marconi e Lakatos (1999) assinalam como vantagens da obser-
vação os seguintes fatores: contempla a abrangência dos fenômenos,
fácil de ser empregada, a coleta de atitudes comportamentais simples,
não depender de introspecção e reflexão, portanto, possibilita a evidên-
cia de fatos não contemplados por outras técnicas. Aonde os fatos “[...]
são percebidos diretamente, sem qualquer intermediação [...]” (GIL,
1999, p. 110), com a minimização da subjetividade (se criteriosamente
delineado). E, sobre os limites, Marconi e Lakatos (1999) assinalam:
tendência de julgar os fenômenos a partir da ótica do observador (ten-
dência a olhar os fatos pela própria cultura), devido a outras ocorrências
não presenciadas (o tempo reservado para a investigação), a imprevi-
sibilidade de fatores, a variabilidade de acontecimentos e aspectos da
vida cotidiana não acessível (e ocultado pelos observados) no momento
em que o estudo se processa.
MODALIDADES DE OBSERVAÇÃO E SUAS CARACTERÍSTICAS
Assistemática
Gil (1999), denomina a observação assistemática como simples
e atribui como sua característica primordial a condição de pesquisador
tornar-se alheio (ser espectador, o que nem sempre é tarefa fácil de
cumprir) ao indivíduo ou grupo que se pretende investigar, que observa,
mas de forma espontânea. Conforme Marconi e Lakatos (1999, p. 91),
admitem que se caracteriza como uma atividade não estruturada e co-
nhecida também pelas seguintes denominações,
, Goiânia, v. 16, n. 2, p. 413-423, jul./dez. 2013. 417
[...] espontânea, informal, ordinária, simples, livre, ocasional e
acidental [e] consiste em recolher e registrar os fatos da reali-
dade sem que o pesquisador utilize meios técnicos especiais [...]
mais empregada em estudos exploratórios [sem] planejamento e
controle previamente elaborados.
E que depende do observador, da sensibilidade em captar os fe-
nômenos do entorno, de sua “[...] perspicácia, preparo e treino, além de
ter uma atitude de prontidão [...]” (MARCONI; LAKATOS, 1999, p.
91-92), em outras palavras, saber o que vai ser observado, aproveitar a
ocasião, mas sem deixar de atentar para a importância do uso das infor-
mações (ótica de investigador) e ter o cuidado de manter os registros o
mais próximos da realidade observada.
Conforme Gil (1999, p. 112), esta modalidade é mais adequa-
da se “[...] dirigida ao conhecimento de fatos ou situações que tenham
certo caráter público, ou que pelo menos não se situe estreitamente no
âmbito das condutas privadas [...]”, o que possivelmente implicaria em
adotar a técnica da observação participante, conforme critérios tratados
mais adiante neste texto.
Também conhecida como não-estruturada, embora não se des-
carta uma quase-estrutura, ao se considerar que: “[...] Se ela se pretende
científica, se baseia em uma hipótese, mesmo que menos explícita [...] o
pesquisador não está sem segundas intenções ainda que queira evitar os
a priori. (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 178). Significa que em alguma
medida tem-se que ter alguma referência para que possa se constituir
em técnica, assim, científica.
Sistemática
Por exigir instrumentos para acessar as informações, naturalmente
é estruturada, portanto, denominada de planejada e controlada, conforme
Marconi e Lakatos (1999). O controle é sua principal característica, mas
sem resvalar por demasiado rigor. Promove a objetividade no processo de
coleta de dados e contribui para evitar a influência do investigador. E pode
utilizar recursos no processo de observação que podem ser desde “[...]
quadros, anotações, escalas, dispositivos mecânicos [...]” (MARCONI;
LAKATOS, 1999, p. 92), e outros conforme o contexto a ser investigado.
Para Gil (1999), adotar a observação sistemática implica em
“[...] estabelecer, antecipadamente, as categorias necessárias à análise
418 , Goiânia, v. 16, n. 2, p. 413-423, jul./dez. 2013.
da situação [...]”, o que requer um estudo exploratório sobre o que se
pretende conhecer (em profundidade) e carece de ocorrer à aceitação do
investigador por parte do grupo investigado quanto ao que se quer obter
como resultados da pesquisa.
Ao se adotar esta técnica ela deve ser “[...] orientada por uma preo-
cupação definida de pesquisa, e que essa busca, seja também, organizada
com rigor [...] O pesquisador deve principalmente estar atento a tudo o
que diz respeito à sua hipótese e não simplesmente selecionar o que lhe
permitiria confirmá-la”. (LAVILLE; DIONNE, 1999, p.182). Ou seja,
atentar aos contrapontos para que o caráter científico continue manifesto.
Não-Participante
No emprego desta técnica o pesquisador permanece de fora da
realidade estudada (também denominada observação passiva), ou seja,
conforme Marina e Lakatos (1999, p. 92), o observador:
[...] presencia o fato mais não participa dele; não se deixa envol-
ver pelas situações; faz mais o papel de espectador [...] [porém]
consciente, dirigida, ordenada para um fim determinado. O pro-
cedimento tem caráter sistemático.
No entanto, evitar uma aproximação com o grupo estudado não
elimina a condição de envolver-se com o objeto da investigação, haja
vista que a escolha do que é/será investigado por si só já implica em
tomada de posição pelo investigador.
Participante
Conforme Iturra ([198-?], p. 149), a observação participante
“[...] é o envolvimento directo que o investigador de campo tem com
um grupo social que estudo dentro dos parâmetros das próprias nor-
mas do grupo [...]”. Pressupõe o envolvimento do investigador com a
realidade investigada e inclui a participação nas atividades da comuni-
dade investigada, como um de seus membros. De certa forma, ocorre
o comprometimento da objetividade, devido à mútua influência, por
simpatias, pelo contraponto entre referências de quem observa e dos
que são observados (MARCONI; LAKATOS, 1999). O mundo social
deriva das experiências vividas pelos que dele participam e desse modo
, Goiânia, v. 16, n. 2, p. 413-423, jul./dez. 2013. 419
não é objetivo por conta de seus vários significados, nesta direção é que
Burgess (1997), afirma o investigador como o principal instrumento da
investigação, porque a ele cabe tomar as decisões para que os resultados
sejam validados científicamente.
A observação participante pressupõe o
[...] envolvimento que despe o investigador do seu conhecimen-
to cultural próprio, enquanto veste o do grupo investigado; é o
exercício que tenta ultrapassar o etnocentrismo cultural1 espon-
tâneo com que cada ser humano define o seu estar na vida [...]
(ITURRA, [198-?], p. 149)
Porque é uma técnica qualitativa, implica em possíveis limita-
ções, caso o investigador não estabeleça fronteiras quanto ao encami-
nhamento do estudo e há de se reconhecer que, de certa forma, que
senão integrante da comunidade investigada sempre será um estranho
no grupo e que tem objetivos para diante de apresentar encaminha-
mentos para a realidade investigada, que no mínimo consiste em am-
pliar a sua trajetória de pesquisador. E, além do mais, sempre estará
condicionada ao acolhimento, por parte dos investigados (ITURRA,
[198-?].
Gil (1999, p. 113) estabelece duas formas distintas de observação
participante: “[...] (a) natural, quando o observador pertence à mesma
comunidade ou grupo que investiga; e (b) artificial, quando o obser-
vador se integra ao grupo com o objetivo de realizar uma investiga-
ção [...]”, neste caso mais sujeitado a maiores restrições (os limites de
aceitação de acordo com o que será investigado e as conseqüências da
investigação).
É uma modalidade que exige uma permanência do investigador
junto ao investigado e em que os
[...] observadores participantes tipicamente buscam mergulhar na
totalidade do fenômeno sob estudo. Podem tentar observar todos
os grandes eventos que estão ocorrendo, falar com o maior nú-
mero de participantes possível, e assim por diante. No entanto,
obviamente ninguém consegue observar tudo; alguma seletivida-
de é inevitável. Se tal seletividade for incontrolada, há o risco de
reunir um conjunto de observações tendenciosas [...] (BABBIE,
2003, p. 156).
420 , Goiânia, v. 16, n. 2, p. 413-423, jul./dez. 2013.
Individual ou em Equipe?
A observação individual promove a subjetividade, embora não se
descarta quem admita o contrário, independente destas alternativas pode
acarretar inferências mal sucedidas e distorções nos resultados ([198-?],
p. 149), por isso é mais aconselhável que se realize em equipe, que ao
submeter o fenômeno a mais de um olhar e, conseqüentemente, a mais
de um ponto de vista, possibilita o confronto dos dados (MARCONI;
LAKATOS, 1999). E, neste caso, elimina o risco de incorrer em limites
de grau de importância e valores decorrentes de uma visão unilateral.
Na Vida Real ou Laboratório?
A observação da vida real (fatos do cotidiano) é quando se ob-
tém registros coletados no ambiente e como estes ocorrem, de forma
espontânea, sem prévio planejamento (MARCONI; LAKATOS, 1999),
em sua dimensão natural. Já em laboratório é quando a informação
pretendida visa “[...] descobrir a ação e a conduta que tiveram lugar em
condições cuidadosamente dispostas e controladas. Entretanto, muitos
aspectos importantes da vida humana não podem ser observados sob
condições idealizadas no laboratório” (MARCONI; LAKATOS, 1999,
p. 94), por se apresentar como artificial exige que se estabeleçam con-
dições “[...] o mais próximo do natural, que não sofram influências in-
devidas pela presença do observador ou por seus aparelhos de medição
e registro.” (MARINA; LAKATOS, 1999, p. 94), conforme os instru-
mentos utilizados possibilitam observações mais refinadas e desde que
possíveis de ser validadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma vez definido o tipo de observação que se quer adotar, é
preciso estabelecer os cuidados metodológicos e éticos a serem segui-
dos. O observador precisa preparar-se para observar bem, o que requer
preparação rigorosa e muita atenção com as pessoas envolvidas. Só se
justifica “entrar” nas situações de vida das pessoas, o que implica em
compartilhar momentos da vida dela e até mesmo “retirar” algo delas,
se estiver convencido dos motivos pelos quais deve fazer isso (se trará
mais benefícios do que riscos) e de que está tomando todo o cuidado
para preservar as pessoas observadas.
, Goiânia, v. 16, n. 2, p. 413-423, jul./dez. 2013. 421
Em tempos de câmeras filmadoras espalhadas por toda parte e de
programas de televisão como os reality shows (Big Brother), tanta pre-
ocupação parece excessiva, uma vez que milhares de pessoas “obser-
vam” o cotidiano de algumas, ultrapassando em muito os limites da pri-
vacidade e da intimidade do outro. Mas é exatamente porque se vive em
um mundo assim é que se necessita cuidar mais para desenvolver uma
observação atenta, cuidadosa e respeitosa com as pessoas observadas.
Para tanto, é importante que o pesquisador entenda que ele deve
se preparar bem para desenvolver um olhar atento na observação. Além
disso, deve reconhecer que, como observador, ele tem um olhar ativo, e,
assim, prestar sempre atenção nas possíveis interferências de seu olhar
sobre o que está observando. É sabido que os preconceitos e as opiniões
orientam o olhar do observador a ponto de obscurecer ou de superva-
lorizar ou subestimar determinados aspectos da realidade, o que pode
comprometer a observação. A única maneira de lidar com isso, já que
é ilusório supor uma postura de neutralidade, é refletir bastante sobre
o que está em causa em um processo de observação, não apenas com
relação ao observado, mas como ser um observador. Entender isso é
fundamental para a adoção dessa técnica.
THE TECHNIQUE OF OBSERVATION IN THE HUMANITIES
Abstract: the paper focuses on the observation of their daily use,
ownership of the real, as a tool for knowledge production. Highlights
its use as a technique is to a large contribution to research in the huma-
nities. Cautioned that its use requires methodological care, new proce-
dures, the common sense and established criteria, resulting in method
and techniques, and especially ethical because the delicate complexity
of the human condition in its various contexts. It outlines some of the
main viewing modes and their characteristics. Concluded that the tech-
nique requires training by whomever is willing to use it as a resource
for research and what it takes to let go of the optical to bring their own
culture results more approximate reality.
Keywords: Observation. Reality. Limits. Technical Research.
Nota
1 ������������������������������������������������������������������������������������
Considerar como referência a sua própria cultura e por isso julgar outras manifesta-
ções culturais com graus de importância e valores a partir de suas convicções e que
contribui para comprometer as avaliações decorrentes.
422 , Goiânia, v. 16, n. 2, p. 413-423, jul./dez. 2013.
Referências
BABIE, Earl. Métodos de pesquisas de survey. Tradução de Guilherme Cezarino. Belo
Horizonte: Ed. da UFGM, 1999.
BURGESS, Robert G. A pesquisa de terreno: uma introdução. Oeiras, Portugal: Celta,
1997.
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas,
1999.
ITURRA, Raúl. Trabalho de campo e observação participante em Antropologia. In:
SILVA, Augusto Santos; PINTO, José Madureira. Metodologia das Ciências Sociais.
Porto, Portugal: Afrontamento, [198-?].
LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A construção do saber. Tradução de Heloísa
Monteiro e Francisco Settineri. Porto Alegre: Ed. da UFMG, 1999.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 4. ed.
São Paulo: Atlas, 1999.
VIANNA, Heraldo Marelim. Pesquisa em educação: a observação. Brasília: Plano
Editora, 2003.
YUNI, José Alberto; URBANO, Claudio Ariel. Técnicas para investigar: recursos
metodológicos para la preparación de proyectos de investigación. 2a ed. Córdoba,
Argentina: Brujas, 2006.
* Texto recebido em: 28.04.2013. Aprovado em: 29.11.2013.
** Professor da Unidade Acadêmico-Administrativa de Educação e do Mestrado em
Ecologia e Produção Sustentável da Pontifícia Universidade Católica de Goiás.
E-mail: marcos.edu@pucgoias.edu.br.
, Goiânia, v. 16, n. 2, p. 413-423, jul./dez. 2013. 423
Você também pode gostar
- A PRODUÇÃO ACADÊMICA E A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO:: concepções, sentidos e construçõesNo EverandA PRODUÇÃO ACADÊMICA E A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO:: concepções, sentidos e construçõesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Exercícios - Os Tipos de ConhecimentosDocumento4 páginasExercícios - Os Tipos de ConhecimentosSleepy Song75% (8)
- Metodologia Do Trabalho CientíficoDocumento140 páginasMetodologia Do Trabalho CientíficoThiago Laurindo 2Ainda não há avaliações
- Metodologia da pesquisa: Técnicas de investigação, argumentação e redaçãoNo EverandMetodologia da pesquisa: Técnicas de investigação, argumentação e redaçãoAinda não há avaliações
- Metodologia Da PesquisaDocumento72 páginasMetodologia Da PesquisaRafael Matheus100% (2)
- Apostila IcDocumento17 páginasApostila IcJúnior PereiraAinda não há avaliações
- Metodologia Do EstudoDocumento148 páginasMetodologia Do EstudoDiego Souza100% (1)
- Instituto MVC Clima OrganizacionalDocumento35 páginasInstituto MVC Clima Organizacionalimenezes100% (19)
- Orientacao e Trabalho de Conclusao de Curso (TCC)Documento123 páginasOrientacao e Trabalho de Conclusao de Curso (TCC)Alexandre BarrozoAinda não há avaliações
- A Observação Do Cotidiano Escolar - Maria de L. R. TuraDocumento14 páginasA Observação Do Cotidiano Escolar - Maria de L. R. TuraThais Guedes Guida100% (1)
- Trabalho do Pesquisador: Os Desafios da Empiria em Estudos de RecepçãoNo EverandTrabalho do Pesquisador: Os Desafios da Empiria em Estudos de RecepçãoAinda não há avaliações
- Apostila Gestão EmpresarialDocumento415 páginasApostila Gestão EmpresarialJhonatan Nunes GonçalvesAinda não há avaliações
- O Ofício Do Etnólogo Ou Como Ter Anthropological Blues - Roberto Da Matta (Fichamento)Documento5 páginasO Ofício Do Etnólogo Ou Como Ter Anthropological Blues - Roberto Da Matta (Fichamento)DeenAliouAinda não há avaliações
- Introdução Às Ciências SociaisDocumento54 páginasIntrodução Às Ciências SociaisPatrícia Baptista100% (4)
- Pesquisas em Ciencias Sociais Unidade IIIDocumento20 páginasPesquisas em Ciencias Sociais Unidade IIIEmanuel santosAinda não há avaliações
- Autocontrole Ético, Macrocomportamento e Fenômenos Culturais:: Um Estudo Experimental com Estudantes UniversitáriosNo EverandAutocontrole Ético, Macrocomportamento e Fenômenos Culturais:: Um Estudo Experimental com Estudantes UniversitáriosAinda não há avaliações
- Conhecimento e imaginação: Sociologia para o Ensino MédioNo EverandConhecimento e imaginação: Sociologia para o Ensino MédioNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Apostila SolidWorksDocumento258 páginasApostila SolidWorksHelvécioCaldeiraJuniorAinda não há avaliações
- Manual Ufcd 0428 - Lingua Inglesa - Estudo de Mercado e Marketing MixDocumento87 páginasManual Ufcd 0428 - Lingua Inglesa - Estudo de Mercado e Marketing MixVitor Ferreira0% (1)
- Metodologia Cientifica. Disciplina 1Documento27 páginasMetodologia Cientifica. Disciplina 1Cleomara Aciole100% (1)
- Paradigma - Qualitativo (1 Edição - Atualizada) PDFDocumento70 páginasParadigma - Qualitativo (1 Edição - Atualizada) PDFSandrine CostaAinda não há avaliações
- Aula 1 - Introdução - Ciência e Senso Comum - Bases Epistemológicas Da Psicologia (1MB) - Terça-Feira - Manhã (01.março)Documento25 páginasAula 1 - Introdução - Ciência e Senso Comum - Bases Epistemológicas Da Psicologia (1MB) - Terça-Feira - Manhã (01.março)Marlon SantiagoAinda não há avaliações
- Livro Digital - Metodologia Científica 3Documento25 páginasLivro Digital - Metodologia Científica 3lutombos100% (1)
- Arquivo Livro Pesquisa em EducaçãoDocumento145 páginasArquivo Livro Pesquisa em EducaçãoEduardo JorgeAinda não há avaliações
- Orientacao e Trabalho de Conclusao de Curso (TCC) - Unidade 1Documento20 páginasOrientacao e Trabalho de Conclusao de Curso (TCC) - Unidade 1Julio SilvaAinda não há avaliações
- Ciência e Conhecimento CientíficoDocumento5 páginasCiência e Conhecimento CientíficoLenioAinda não há avaliações
- ApostilaMTP MDULOIDocumento29 páginasApostilaMTP MDULOIingletrodriguesmiranda57Ainda não há avaliações
- Material de Apoio de MicDocumento26 páginasMaterial de Apoio de Michercullano0 junnior Chihombola100% (7)
- Livro - Texto - Unidade IIDocumento18 páginasLivro - Texto - Unidade IIRafael SoaresAinda não há avaliações
- Tipos de ConhecimentoDocumento13 páginasTipos de ConhecimentoHugo OliveiraAinda não há avaliações
- Aula 1 Metodologia Da CiênciaDocumento12 páginasAula 1 Metodologia Da CiênciaassiscampinaAinda não há avaliações
- Introdução À PesquisaDocumento9 páginasIntrodução À PesquisaRodrigo SaboresdaPattyAinda não há avaliações
- 2 Parte - Compilação Dos Conteúdos - STC 7Documento4 páginas2 Parte - Compilação Dos Conteúdos - STC 7Arlindoeva LeitaomadeiraAinda não há avaliações
- pressupostos-teoricos-e-metodologicos-de-trabalhos-cientificos-visao-global-sobre-conhecimento-ciencia-e-pesquisa (1)Documento9 páginaspressupostos-teoricos-e-metodologicos-de-trabalhos-cientificos-visao-global-sobre-conhecimento-ciencia-e-pesquisa (1)dideoliveira77Ainda não há avaliações
- Investigação Científica2004Documento8 páginasInvestigação Científica2004Mirian LuckAinda não há avaliações
- Metodologia Do Trabalho Científico - PEDDocumento105 páginasMetodologia Do Trabalho Científico - PEDJuliaAinda não há avaliações
- PDF - Elaboração e Estruturação de ProjetosDocumento29 páginasPDF - Elaboração e Estruturação de ProjetosSteffi de CastroAinda não há avaliações
- Relação Entre Ciência e PesquisaDocumento24 páginasRelação Entre Ciência e PesquisaEdila Tais Souza100% (1)
- Senso Comum e Conhecimento CientíficoDocumento6 páginasSenso Comum e Conhecimento CientíficoCorvinvsAinda não há avaliações
- 1º Trabalho - As Diferentes Formas de ConhecimentoDocumento19 páginas1º Trabalho - As Diferentes Formas de ConhecimentoLewis llAinda não há avaliações
- Materia de Psicologia Integraçao de Saude (Conhecimento)Documento17 páginasMateria de Psicologia Integraçao de Saude (Conhecimento)maya machadoAinda não há avaliações
- Metodologia Científica Aula Parte IDocumento90 páginasMetodologia Científica Aula Parte IcarlosAinda não há avaliações
- RODRIGUES, Alexsandro. Cartografia e Pesquisas Com Os Cotidianos - Um Encontro MetodológicoDocumento13 páginasRODRIGUES, Alexsandro. Cartografia e Pesquisas Com Os Cotidianos - Um Encontro MetodológicoMarcelle MedeirosAinda não há avaliações
- Senso Comum e Conhecimento CientíficoDocumento3 páginasSenso Comum e Conhecimento CientíficoAna Raquel SiqueiraAinda não há avaliações
- Pesquisa AtivaDocumento20 páginasPesquisa Ativaflavio benites100% (1)
- Metodologia Novo..Documento151 páginasMetodologia Novo..Santiago Dos Santos FragosoAinda não há avaliações
- Observação Participante NaDocumento8 páginasObservação Participante NaNoe MatosoAinda não há avaliações
- Investigacao em Educacao 1a AulaDocumento22 páginasInvestigacao em Educacao 1a AulaSara BarbeitoAinda não há avaliações
- Metodologia CientificaDocumento107 páginasMetodologia Cientificarenatogs69Ainda não há avaliações
- Metodologia Cientifica 1pdfDocumento61 páginasMetodologia Cientifica 1pdfErik HenriqueAinda não há avaliações
- Metodologia Da PesquisaDocumento47 páginasMetodologia Da PesquisaEli Vagner RodriguesAinda não há avaliações
- Observaã Ã o ParticipanteDocumento14 páginasObservaã Ã o ParticipanteLais Vitoria MenezesAinda não há avaliações
- Istm 3a - Mic 01Documento27 páginasIstm 3a - Mic 01Jrónimo AntónioAinda não há avaliações
- Metodologia Científica - Capítulo 1Documento25 páginasMetodologia Científica - Capítulo 1Gustavo MoraesAinda não há avaliações
- 12 Introducao A Pesquisa LuziaDocumento7 páginas12 Introducao A Pesquisa LuziaNayane TeixeiraAinda não há avaliações
- A1 - ResumoDocumento10 páginasA1 - ResumoPatricia FrancoAinda não há avaliações
- TEMA_02_E_BOOK_1Documento31 páginasTEMA_02_E_BOOK_1Driele DuarteAinda não há avaliações
- O Ofício Do Etnólogo Ou Como Ter Anthropological Blues - Roberto Da Matta (Fichamento)Documento5 páginasO Ofício Do Etnólogo Ou Como Ter Anthropological Blues - Roberto Da Matta (Fichamento)Valclecio Torres Dos PassosAinda não há avaliações
- O Pesquisador In-Mundo e o Processo de Produção de Outras Formas de Investigação em Saúde - A Abrahão E MerhyDocumento12 páginasO Pesquisador In-Mundo e o Processo de Produção de Outras Formas de Investigação em Saúde - A Abrahão E MerhyalinempaixaoAinda não há avaliações
- MepDocumento92 páginasMepGJONES80Ainda não há avaliações
- Modelo para ResenhaDocumento4 páginasModelo para ResenhaAdriano MachadoAinda não há avaliações
- Metodologia CientíficaDocumento23 páginasMetodologia CientíficaDelvacyr CostaAinda não há avaliações
- Aula 1-6Documento25 páginasAula 1-6Antolí JbAinda não há avaliações
- Avaliação PrimeiraDocumento7 páginasAvaliação Primeiranarazevedo4337Ainda não há avaliações
- Ciencia Tecnologia e ValoresDocumento3 páginasCiencia Tecnologia e ValoresDaiane NascimentoAinda não há avaliações
- Intervenção em orientação vocacional / profissional: Avaliando resultados e processosNo EverandIntervenção em orientação vocacional / profissional: Avaliando resultados e processosAinda não há avaliações
- Cooperacao e Aprendizagem PDFDocumento198 páginasCooperacao e Aprendizagem PDFSandrine CostaAinda não há avaliações
- Pesquisa em Educação Questões de Teoria e de MétodoDocumento12 páginasPesquisa em Educação Questões de Teoria e de MétodoSandrine CostaAinda não há avaliações
- Supervisão e Avaliação Docente - Estudo Do CCAPDocumento76 páginasSupervisão e Avaliação Docente - Estudo Do CCAPramiromarquesAinda não há avaliações
- O Contributo Das Atividades Lúdicas Na Aprendizagem deDocumento100 páginasO Contributo Das Atividades Lúdicas Na Aprendizagem deSandrine CostaAinda não há avaliações
- A Análise de Conteúdo - Jorge Vala PDFDocumento28 páginasA Análise de Conteúdo - Jorge Vala PDFSandrine CostaAinda não há avaliações
- O Kama Sutra Guia BasicoDocumento2 páginasO Kama Sutra Guia BasicoJefferson DaniloAinda não há avaliações
- Folha de RedaçãoDocumento2 páginasFolha de RedaçãoCHIVAS FFAinda não há avaliações
- AVC Gestao de ProjetosDocumento2 páginasAVC Gestao de ProjetosAna PaulaAinda não há avaliações
- História Oral de Negros No Futebol BrasileiroDocumento432 páginasHistória Oral de Negros No Futebol BrasileiroMaximomr100% (1)
- Lista PEDocumento6 páginasLista PEjjedilsonn100% (1)
- Apresentação Monografia - OkDocumento19 páginasApresentação Monografia - OkGeilson FernandesAinda não há avaliações
- Materiais Inovadores - TemasDocumento2 páginasMateriais Inovadores - TemasAndrec FerrazAinda não há avaliações
- Métricas e Métodos DigitaisDocumento4 páginasMétricas e Métodos DigitaisMaria Gabriela PósAinda não há avaliações
- Fortaleza Na Lente Da Sociolinguística VariacionistaDocumento5 páginasFortaleza Na Lente Da Sociolinguística VariacionistaFábio Araújo de OliveiraAinda não há avaliações
- Plano Estratégico de Marketing - PARA O DEPARTAMENTODocumento68 páginasPlano Estratégico de Marketing - PARA O DEPARTAMENTODemi LsonAinda não há avaliações
- Modelo Relatório de Estágio IDocumento29 páginasModelo Relatório de Estágio IThaiza CarmoAinda não há avaliações
- Apresentação - Evolução Da População Portuguesa Na 2. Metade Do Séc. XX (10.º)Documento100 páginasApresentação - Evolução Da População Portuguesa Na 2. Metade Do Séc. XX (10.º)profgeofernandoAinda não há avaliações
- SEI GOVERNADORIA 000029602445 EditalDocumento10 páginasSEI GOVERNADORIA 000029602445 EditalKkrneiro EiroAinda não há avaliações
- 106-Texto Do Artigo-531-1-10-20211229Documento18 páginas106-Texto Do Artigo-531-1-10-20211229Sarah Sousa Landim AraujoAinda não há avaliações
- MODELO DE RELATÓRIO FINAL - PIBIC - ICMBio - 2021 - 2022Documento4 páginasMODELO DE RELATÓRIO FINAL - PIBIC - ICMBio - 2021 - 2022Murillo NascimentoAinda não há avaliações
- Aula 3 - Tabelas Bidimensionais PDFDocumento3 páginasAula 3 - Tabelas Bidimensionais PDFKhézia MouraAinda não há avaliações
- Análise Das Operações de Carregamento e Descarregamento de Produtos em Uma Distribuidora de Bebidas Através Do Projeto de ExperimentosDocumento8 páginasAnálise Das Operações de Carregamento e Descarregamento de Produtos em Uma Distribuidora de Bebidas Através Do Projeto de ExperimentosdanilocutiAinda não há avaliações
- Tese - o Sarau Paulistano Na Contemporaneidade - Nilton Franco PDFDocumento324 páginasTese - o Sarau Paulistano Na Contemporaneidade - Nilton Franco PDFPedro de Oliveira RodriguesAinda não há avaliações
- Manual de Psicologia Do Trabalho - 2023Documento147 páginasManual de Psicologia Do Trabalho - 2023Caudêncio CarlosAinda não há avaliações
- Prova Objetiva: Psicólogo JudiciárioDocumento16 páginasProva Objetiva: Psicólogo JudiciárioPeixinhoYT akatAinda não há avaliações
- TCC Moderna - Movendo-Se em Direção A Terapias Baseadas em ProcessosDocumento8 páginasTCC Moderna - Movendo-Se em Direção A Terapias Baseadas em ProcessosJuliana Marian De LimaAinda não há avaliações
- Ap3 ContDocumento1 páginaAp3 Contcleuber cristiano de sousaAinda não há avaliações
- Industrialização Na Península ItapagipanaDocumento22 páginasIndustrialização Na Península ItapagipanaWellington BarrosAinda não há avaliações
- Projeto de Extensão I PsicopedagogiaDocumento5 páginasProjeto de Extensão I PsicopedagogiaArleno PerdigãoAinda não há avaliações
- Julia FurlanDocumento27 páginasJulia FurlanJoseana Simone Deckmann LimaAinda não há avaliações