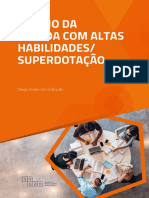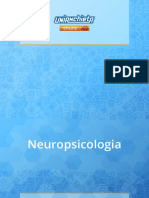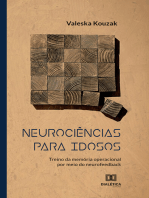Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Medit e Neuro Cap 12
Enviado por
Atanael soaresTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Medit e Neuro Cap 12
Enviado por
Atanael soaresDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Meditação da Plena Atenção, Neurociências e Saúde
12
Cérebro, Mente e Neuroimagens: funcionalidade e limites
Arthur Shaker Fauzi Eid
O diálogo entre as Neurociências e o método e prática da Meditação da
Plena Atenção tem se beneficiado pelo avanço das técnicas eletromecânicas
de registros das atividades do cérebro.
O estudo das oscilações elétricas do cérebro trouxe o
electroencefalograma (as ondas alfa, beta, gama, delta); a microestimulação
elétrica do cérebro possibilitou identificar correlações entre áreas e funções
cerebrais e a relevância do córtex cerebral e da formação reticular do
mesencéfalo nos processos mentais humanos. Técnicas de visualização
buscaram apreender a relação entre as atividades cerebrais e o seu
metabolismo, através da medição do consumo de oxigênio e glicose pelos
neurônios em vários processos de atividade cerebral, como no repouso ou em
cálculos mentais complexos. O surgimento da tomografia por emissão de
pósitrons, que iria permitir perceber concentrações de glicose radioativa em
áreas mais ativas do cérebro, e posteriormente a técnica das imagens
funcionais por ressonância magnética, abriu dados para novas percepções
sobre certas relações entre áreas cerebrais e funções cognitivas.
Inúmeras pesquisas científicas têm surgido a partir do uso dessas
técnicas de registro, procurando investigar como cérebro funciona, e se
transforma, quando sob a atividade meditativa. A compreensão dos padrões de
funcionamento e transformação do cérebro pode trazer benefícios para o
conhecimento científico e para o lide com doenças como o mal de Alzheimer,
câncer, síndrome de pânico, Transtorno Obsessivo Compulsivo, ansiedade,
estresse, depressão, fibromialgia, entre outras. Pacientes, monges e
praticantes têm tido seus cérebros escaneados, plugados, e esses registros
interpretados sob vários ângulos. Se por um lado esses registros dariam base
para proposições científicas sobre o funcionamento do cérebro, por outro lado
colocam questões: qual o grau de confiabilidade nesses registros? Com quais
fundamentos e métodos lemos esses registros? Quais os limites e riscos de
interpretação que esses registros colocam?
Tomo como ponto de partida as observações de David Dobbs (Mente e
Cérebro, no.19, p.65-71) sobre a precisão e a utilidade dos resultados da
ressonância magnética funcional (fMRI), questionando a suposta equivalência
entre mente e cérebro.
O debate envolve aspectos técnicos e filosóficos, e se refere, por um
lado, à precisão do fMRI (pois mede indiretamente a atividade neuronal, pelo
aumento no fluxo sanguíneo vinculado à atividade); por outro, sobre a
pertinência em correlacionar funções mentais complexas à regiões do cérebro.
Um primeiro ponto do debate diz respeito à leitura sobre a resposta
hemodinâmica (fluxo sanguíneo):
“Para começar, a ação neuronal leva milionésimos de segundos,
enquanto o afluxo de sangue continua por dois a seis segundos; o aumento
detectado no fluxo sanguíneo, portanto, pode estar ‘alimentando’ mais de uma
operação”.
“Além disso, uma vez que cada voxel (termo que une ‘volume’ e ‘pixel’)
encerra milhares de neurônios, pode ser necessário a ativação de milhares ou
mesmo milhões deles para acender uma região; é como se a seção inteira de
um estádio tivesse de gritar para ser ouvida”.
“Ao mesmo tempo, é possível que em alguns casos um pequeno grupo
de neurônios puxando pouco sangue, ou um circuito fino de neurônios
conectado a regiões mais amplas, possam executar funções tão cruciais
quanto um grupo maior em outro lugar, mas tanto passar desapercebidos
quanto aparecer como uma atividade menor. Do mesmo, alguns neurônios
talvez funcionem de maneira mais eficiente que outros, consumindo menos
sangue. Todos esses fatores podem significar que uma imagem de fMRI
representa erroneamente a neurodinamica real.
Processar os gigabytes de dados brutos do scan para que se tornem
imagens requer outros cuidados. Os pesquisadores devem selecionar e ajustar
os diversos algoritmos para extrair uma imagem precisa, compensando no
meio do caminho as variações na configuração do crânio e do cérebro, o
movimento dos pacientes dentro do aparelho, ruído na informação e assim por
diante. Essa ‘cadeia de interferências’, chamada assim em artigo recente da
Nature Neuroscience, oferece muita oportunidade para erro.
Por fim, a maior parte dos estudos com fMRI utiliza um processamento
univariável que modifica a natureza distributiva da neurodinâmica, segundo
aqueles que questionam a técnica. As críticas aumentam porque os algoritmos
univariáveis (literalmente ‘uma variável’) consideram os dados que entram de
cada voxel durante um scan como uma soma, tornando impossível saber como
a atividade em um voxel particular ocorreu (de uma vez só, por exemplo, ou em
vários pulsos) ou como se relacionou sequencialmente com a atividade em
outros voxels. O processamento univariado vê todas as partes funcionando –
portanto, as múltiplas áreas ressaltadas na maioria das imagens-, mas não de
modo a mostrar como um a região segue ou responde a outra. Essa situação
faz da observação de uma imagem de fMRI algo como ouvir um quarteto de
cordas, escutando (condensado em único som depois da música ter terminado)
apenas a quantidade total de som produzido por cada instrumento durante a
execução, em vez de escutar como os músicos tocam juntos e respondem uns
aos outros. Métodos estatísticos conhecidos como análise multivariada podem
separar a atividade de cada voxel e analisar os intercâmbios entre as regiões
do cérebro, mas a complexidade de tais análises até agora limitou seu uso”
(p.67-68).
Prosseguindo:
“Alguns críticos (incluindo Faux (Steven Faux, chefe do Depto. de
Psicologia da Universidade Drake), e o psicólogo William R. Hurt, professor
emérito da Universidade de Michigan em Ann Harbor, argumentam que muitas
das funções cognitivas estudadas com o trabalho de fMRI são tão abstratas e
vagas que descrevem pouco mais que um sistema nervoso conceitual. No topo
da lista de dúvidas de Faux está a chamada função executiva do cérebro. ‘Esse
é um dos procedimentos favoritos’, diz ele, ‘medir o executivo central’. Mas o
que é isso?’
Muitos psiquiatras e neurologistas concordam que a função executiva
seja a faculdade real, e a produção de imagens e os estudos físicos indicam
que ela provém de um circuito no córtex pré-frontal e no córtex cingulado
anterior (uma área pequena entre os dois lobos frontais). A função executiva
organiza os pensamentos e dá às pessoas a habilidade de planejar e levar a
termo suas resoluções. Mas especialistas em cérebro têm suspeitas sobre a
alta frequência com que a função executiva é citada nos testes com fMRI, as
regiões envolvidas ‘acendem’ constantemente. Diversos pesquisadores
poderão concluir com muita rapidez que a função executiva é, portanto,
responsável, quando na verdade as regiões podem estar acendendo
simplesmente porque a função executiva está na base de tantas atividades
cerebrais que pode muito bem permanecer ‘ligada’ ”(p.69).
Não desconsiderando a utilidade do fMRI, coloca-se a necessidade da
cautela na leitura desses dados, pois envolve a controvérsia sobre questões
conceituais e tangíveis:
“Essa dualidade é inerente às tentativas dos cientistas de conectar a
mente, efêmera, ao cérebro corpóreo. Uma preocupação básica é de que a
fMRI seja um novo capítulo da velha tentativa de relacionar processos mentais
específicos a regiões particulares do cérebro.
Poucos pesquisadores acreditam seriamente que as funções do cérebro
sejam tão compartimentadas. Como diz Raichel (Marcus E. Raichle,
neurologista da Universidade de Washington): ‘Nenhuma pessoa racional
sugeriria que há um único lugar da ‘emoção’ por exemplo. Mesmo assim, a
maioria dos estudos de fMRI colocou seu foco em como determinado processo
mental ativa certas áreas. Isso provocou a acusação mordaz de que os estudos
com fMRI constituem uma nova ‘frenologia’, uma versão moderna da prática do
século XIX de interpretar a estrutura do crânio de uma pessoa como um mapa
da inteligência e do caráter dele ou dela” (p.70).Ou, como cientistas alertam
sobre os limites do eletroencefalograma, este “revela pouco sobre a
intrincadíssima atividade do encéfalo. Segundo eles, seria como se
tentássemos analisar todos os lances de uma partida de futebol apenas
ouvindo as reações da torcida presente no estádio”. (Amabis & Martho, p. 472)
Dobbs conclui pela esperança positiva de que o avanço da tecnologia do
fMRI atual, protocolos de processamento mais padronizado e revisão de pares,
e melhora dos algoritmos multivariados (para revelação de interações entre as
regiões do cérebro) reduzam os equívocos metodológicos, permitindo que
algum dia o fMRI possa mostrar a verdadeira natureza do cérebro, qual uma
orquestra, “com diferentes seções.tocando em diversos momentos, volumes e
timbres, dependendo do efeito necessário, interagindo em combinações
infindáveis para criar uma variedade infinita de música” (p.71).
Reencontramos novamente o problema de identificação dos CNC, a
relação mente-cérebro. Numa outra linha de análise crítica, Jane O’Grady toma
como ponto de partida analítico um artigo publicado na revista Times (fev.
2009): “Can a machine change your mind?” (Uma máquina pode mudar sua
mente?”) Uma quantidade enorme de artigos tem surgido com a proposição de
que seria “apenas uma questão de tempo” para a superação da lacuna entre o
conteúdo físico do cérebro e a consciência, que se tornará apenas uma
questão científica, e não mais filosófica. Já na década de 50 do século
passado, filósofos como JJC Smart advogavam que em breve estados
específicos da consciência poderiam ser traduzidos como idênticos a estados
cerebrais.
Esta perspectiva do reducionismo científico (que Ramachandram
considera um “recurso necessário” de investigação científica) não deixa fora
algo importante? Wittgenstein imaginou um cenário onde cientistas abrem o
cérebro de alguém, enquanto eles e esta pessoa ao mesmo tempo observam
os registros neurológicos (disparos dos neurônios, sinapses, etc.). Mas essa
pessoa, diferente dos cientistas, está observando (ou experienciando) duas
coisas, ao invés de uma: pode observar que quando ele sente ou pensa sobre
algo, certas atividades cerebrais ocorrem. Ela experiencia ou pensa de certos
modos e experiencia o observar do seu cérebro de certo modo. Os cientistas
experienciam apenas o cérebro funcionando. E que se esta pessoa observasse
no futuro esse vídeo gravado, ela estaria na mesma situação atual dos
cientistas (salvo se ela tivesse memória perfeita ou se a experiência fosse
muito breve): ela teria de deduzir o que ela estaria pensando sobre, ou
sentindo naquela ocasião.
Quando identificamos a mente com o cérebro, os estados mentais como
estados cerebrais, e conferimos a este cérebro um estatuto de objeto material,
terminamos por considerar que não faria diferença qual cérebro está sendo
observado, e por quem, mas isto faz toda a diferença. E “ler” o cérebro implica
que o observador tem de “deduzir” o que está ocorrendo mentalmente na
mente do observado, e essa atividade de “dedução” cognitiva é bastante
problemática, pois depende das condições de conhecimento do observador.
Este teria de inferir correlações cérebro/estado mental, se apoiando nos relatos
do possuidor do cérebro, e em induções de cérebros em contextos similares,
etc. É certo que sem os processos cerebrais a consciência não ocorreria, mas
o que seja a consciência e seus conteúdos, é apenas aquilo que está no
cérebro, pergunta a autora?
Talvez as Neurociências possam no limite obter correlações ou
causações, mas não identidade entre processos cerebrais e estados mentais.
E, segundo a autora, correlações são mais factíveis para os estados mentais
relacionados ao corpo, mas quando se trata dos conteúdos intencionais dos
estados mentais, as inferências se complicam, pois envolvem dimensões sutis
do universo mental da pessoa. É perfeitamente aceitável que cientificamente
água é H2O, relâmpago é uma descarga elétrica, calor é movimento molecular,
independente do ponto de vista de determinado observador, mas “não
podemos subtrair o sujeito quando lidamos com a consciência. Consciência é
inevitavelmente subjetivo, e também sobre como coisas parecem ser para a
consciência da pessoa” (p.6). Certo que há correlações com propriedades
cerebrais, “mas o que a pessoa experiência vai além dessas propriedades
cerebrais. Uma descrição científica do quê acontece no cérebro quando
alguém tem certo pensamento ou experiência parece deixar de lado
inevitavelmente do que se trata o pensamento ou a experiência. Mais uma vez,
algo é deixado fora, algo que, se a pessoa estivesse observando seus próprios
estados cerebrais, iria além de disparos neurais e movimentos sinápticos”. E,
segundo autora, o que é mais preocupante sobre os proponentes de uma
ciência que pretende reduzir o mental ao neural, e o ser humano a um objeto
meramente físico, é que “força a consciência a ser apenas uma equivalência
com disparos eletro-químicos cerebrais, e que o que as pessoas leigas
entendem sobre suas sensações, memórias e crenças seriam apenas uma
‘psicologia ignorante e ultrapassada’, a ser abandonada e substituída por uma
‘nomenclatura científica correta’ ”.
Concluindo, segundo a autora, “as novas ciências neuro-sociais são a
mais recente das muitas tentativas de naturalizar o homem, de tornar todos os
aspectos de nossas vidas compreensíveis meramente como objetos de
explanação científica”, confinando a um mundo de átomos, perdendo-se a
qualidade fundamental das significações. E “nosso mundo seria
progressivamente esvaziado de significado, moralidade, dignidade e liberdade,
e se rejeitarmos nossa ‘psicologia ignorante’ em favor de uma terminologia
científica sobre estados cerebrais, não apenas conheceríamos menos (e não
mais) sobre nós mesmos; teríamos menos sobre o quê saber, porque seríamos
menos” (p.8).
O cerne da questão está em não perdermos a primazia da experiência
em primeira pessoa. Talvez se possa, e se deva, buscar conjugar (e não opor)
as observações e contribuições trazidas pelas pesquisas das Neurociências,
com as significações (e relatos) vindos das experiências da própria pessoa.
Claro que esses relatos tendem a ser nublados pelos níveis de distorção com
que a pessoas “vê” sua própria experiência de estados mentais. Essa distorção
perceptiva é a raiz do sofrimento humano, segundo os ensinamentos do
Buddha. Relatos mentais trazidos por meditantes experientes podem qualificar
melhor esses relatos, e é isso que tem norteado algumas pesquisas das
Neurociências, comparando relatos e evidências de meditantes e não-
meditantes. Se é plausível a colocação de Ramachandram de que relatos
científicos e experiências da própria pessoa são duas linguagens de tradução
de um fenômeno, e que pode ser benéfico trabalhar com as duas, ressalva seja
feita de que a experiência da mente vivida pela própria pessoa é algo
incomensuravelmente mais profundo e denso de significações do que os
registros mecânicos do cérebro. Isso porque, em última instância, apenas a
mente pode conhecer a mente. E esse é o propósito do treinamento da
Meditação da Plena Atenção (Mindfulness), e de todo o ensinamento do
Buddha. Mente é cognição, e conhecendo nossa própria mente pela
contemplação direta dos agregados do corpo, sensações, percepção,
formações mentais e consciência momento a momento, aprendemos a liberar a
mente das raízes não-saudáveis da cobiça, ódio e delusão. Purificando a
mente dessas tendências condicionadas, experienciamos progressivamente
níveis mais profundos de felicidade, bem estar e saúde, rumo a Nibbana, a
mente pura e iluminada.
Atentos aos limites e perigos, acompanhando a evolução das pesquisas
neurocientíficas, podemos conjugar os benefícios das Neurociências e da
Meditação da Plena Atenção, na construção do caminho de Saúde Integral.
Não conseguiremos, devido à lei da impermanência, evitar a decadência do
corpo e a morte, mas aprendemos a habilidade de atravessar esta vida com
sabedoria e a harmonia possível, tendo como guia a Estrela-Norte de Nibbana.
Referências
Amabis, José M., Martho, Gilberto R. Biologia dos organismos 2. SP: Editora
Moderna, 1998.
Dobbs, David. Limites da imagem. Desvendando o cérebro. Mente e Cérebro,
edição especial, no. 19, pags. 65-71. SP: Duetto Editorial.
Logothetis, Nikos K. e Wandell, Brian A. Interpreting the BOLD signal, em
Annual Review of Physiology, vol. 66, pags 735- 769, março de 2004.
Mayhew, John E. W. A measured look at neuronal oxygen consumption. Em
Science, vol 229, pags. 1023-1024, 14 fevereiro de 2003.
Uttal, William R. The new phrenology. MIT Press, 2003.
Você também pode gostar
- A Mente Humana PDFDocumento334 páginasA Mente Humana PDFmarcosleao100% (3)
- Princípios de Agricultura SintrópicaDocumento53 páginasPrincípios de Agricultura SintrópicaAndriê MarcheseAinda não há avaliações
- Trabalho para Gracieta-1Documento5 páginasTrabalho para Gracieta-1Dominic GittinAinda não há avaliações
- Estudo Do CérebroDocumento10 páginasEstudo Do CérebroMiqueias AnthunesAinda não há avaliações
- Psicologia Junguiana A Luz Da NeurocienciaDocumento4 páginasPsicologia Junguiana A Luz Da NeurocienciaTAGAinda não há avaliações
- 3202-Texto Do Artigo - Arquivo Original-14053-1!10!20140926Documento10 páginas3202-Texto Do Artigo - Arquivo Original-14053-1!10!20140926Edileene 'Ainda não há avaliações
- Conexões Matriciais - Perceptron Enquanto DiagramaDocumento27 páginasConexões Matriciais - Perceptron Enquanto DiagramaValdeir FilhoAinda não há avaliações
- Vitor Geraldi Haase - O Que É Neuroplasticidade - Atividade Física - NeurogêneseDocumento18 páginasVitor Geraldi Haase - O Que É Neuroplasticidade - Atividade Física - Neurogêneseachukos100% (2)
- A Neuroplasticidade Como Instrumento PsicopedagogicoDocumento17 páginasA Neuroplasticidade Como Instrumento PsicopedagogicoFabiane LemosAinda não há avaliações
- Projeto MonografiaDocumento7 páginasProjeto MonografiaAngélica DisconziAinda não há avaliações
- O Paradigma Conexionista Na Aquisição LexicalDocumento11 páginasO Paradigma Conexionista Na Aquisição LexicalVinícius Adriano de FreitasAinda não há avaliações
- NEUROCIÊNCIA NA REABILITAÇÃO TCC Endocanabioide PDFDocumento40 páginasNEUROCIÊNCIA NA REABILITAÇÃO TCC Endocanabioide PDFLéia Carvalho Método RSC100% (1)
- Resenha Critica 1 Historia Da NeurociênciaDocumento10 páginasResenha Critica 1 Historia Da NeurociênciaAnderson GaldinoAinda não há avaliações
- Neuropsicologia 2012Documento57 páginasNeuropsicologia 2012Mariana MartinsAinda não há avaliações
- Resumo NeuropsicoDocumento20 páginasResumo NeuropsicoLeticia FernandaAinda não há avaliações
- Cicatrizes Neurobiologicas Do TEPTDocumento11 páginasCicatrizes Neurobiologicas Do TEPTanaclaudia85Ainda não há avaliações
- Cérebro Encolhe Sinapses para FazerDocumento5 páginasCérebro Encolhe Sinapses para FazerZé Fernando100% (1)
- Neurônio EspelhoDocumento22 páginasNeurônio EspelhoHeart Dance TherapyAinda não há avaliações
- A Neuropsicologia e A Arteterapia Como Reabilitação Nos Transtornos de Ansidedade PDFDocumento16 páginasA Neuropsicologia e A Arteterapia Como Reabilitação Nos Transtornos de Ansidedade PDFPatrícia PatyAinda não há avaliações
- Edrf - Brsl-23swdrfgty-EwinfoDocumento6 páginasEdrf - Brsl-23swdrfgty-EwinfoLuisAinda não há avaliações
- Neurociencias PDFDocumento5 páginasNeurociencias PDFPatricia RebeloAinda não há avaliações
- A Educação Muda o CérebroDocumento6 páginasA Educação Muda o CérebroAline SantosAinda não há avaliações
- Redes Neurais ArtificiaisDocumento23 páginasRedes Neurais ArtificiaisAndrielle Azevedo de PaulaAinda não há avaliações
- Conceitos Fundamentais de NeurociênciasDocumento539 páginasConceitos Fundamentais de NeurociênciasAna Júlia CampeloAinda não há avaliações
- A Mente e o Universo Multidimensional Do Cérebro - Poder Do Eu SuperiorDocumento10 páginasA Mente e o Universo Multidimensional Do Cérebro - Poder Do Eu Superiorcarlos matosoAinda não há avaliações
- Conceitos Fundamentais de NeurociênciasDocumento529 páginasConceitos Fundamentais de NeurociênciasLuiza Sudário100% (3)
- Kandel NeuropsicologiaDocumento15 páginasKandel NeuropsicologiaLeonardo FariaAinda não há avaliações
- Engrama Cerebral - PesquisaDocumento4 páginasEngrama Cerebral - PesquisaLeonardo Do CarmoAinda não há avaliações
- REDES NEURAIS: O Cérebro Humano Simulado Por Um Computador: ArticleDocumento5 páginasREDES NEURAIS: O Cérebro Humano Simulado Por Um Computador: ArticleCLAUDIONOR MIRANDA DA SILVAAinda não há avaliações
- Kourany - Science - For Better or Worse, A Source of Ignorance As Well As Knowledge PTDocumento26 páginasKourany - Science - For Better or Worse, A Source of Ignorance As Well As Knowledge PTVictor OliveiraAinda não há avaliações
- jOGOS E COGNIÇÃO AULA 1Documento14 páginasjOGOS E COGNIÇÃO AULA 1Francieli Schmitt100% (1)
- Psico WorkDocumento12 páginasPsico WorkAtanasio Luis QuinguilimaneAinda não há avaliações
- Livro - Aprendendo Um Esporte - o Processamento de Informações - Cap - 8Documento36 páginasLivro - Aprendendo Um Esporte - o Processamento de Informações - Cap - 8Célio SouzaAinda não há avaliações
- Https Repositorio - Usp.br Directbitstream 3070039Documento30 páginasHttps Repositorio - Usp.br Directbitstream 3070039Paulo Renzo Guimaraes JuniorAinda não há avaliações
- Resenha Out of Our Heads Alva NöeDocumento10 páginasResenha Out of Our Heads Alva NöeValéria MarquesAinda não há avaliações
- Introducao A Psicologia Cognitiva SlidesDocumento12 páginasIntroducao A Psicologia Cognitiva SlidesOscar FariaAinda não há avaliações
- MIC - fMRI No Estudo Da MemoriaDocumento10 páginasMIC - fMRI No Estudo Da MemoriaInêsTomásAinda não há avaliações
- Projeto Interdisciplinar FINALIZADO 4SEMESTRE - AnatomiaDocumento26 páginasProjeto Interdisciplinar FINALIZADO 4SEMESTRE - AnatomiabcyoungGuiAinda não há avaliações
- Artigo para o LivroDocumento23 páginasArtigo para o LivroJosé Glaucio Ferreira de FigueiredoAinda não há avaliações
- Altas Habilidades e SuperdotaçãoDocumento13 páginasAltas Habilidades e SuperdotaçãoMariana Pereira VieiraAinda não há avaliações
- Revista Facima Ano 2 Aplicacoes BeneficiosDocumento15 páginasRevista Facima Ano 2 Aplicacoes BeneficiosantoniocljAinda não há avaliações
- Cébro e ComportamentoDocumento10 páginasCébro e ComportamentoLucas LuizAinda não há avaliações
- Neuropsicologia Linha Do TempoDocumento4 páginasNeuropsicologia Linha Do TempoClara BarcauiAinda não há avaliações
- NeurocienciasspdfDocumento5 páginasNeurocienciasspdfPatricia RebeloAinda não há avaliações
- Uma Reflexão A Respeito Da Evolução HumanaDocumento24 páginasUma Reflexão A Respeito Da Evolução HumanaaparecidalopesAinda não há avaliações
- NeuropsicologiaDocumento5 páginasNeuropsicologiaYasmin LéiaAinda não há avaliações
- Neurociência X AprendizagemDocumento20 páginasNeurociência X Aprendizagemmarta dantasAinda não há avaliações
- Neuroplasticity - StatPearls - NCBI BookshelfDocumento6 páginasNeuroplasticity - StatPearls - NCBI Bookshelfvenus bezerraAinda não há avaliações
- 26212-Texto Do Artigo-96115-1-10-20210506Documento5 páginas26212-Texto Do Artigo-96115-1-10-20210506Igor MeloAinda não há avaliações
- 00 - o Coração EnergéticoDocumento25 páginas00 - o Coração EnergéticoMatheus Rocha100% (1)
- Redes Neurais PDFDocumento35 páginasRedes Neurais PDFDaniel Moraes100% (1)
- Relação Entre o Cérebro Humano e o Comportamentoum Olhar NeuropsicológicoDocumento13 páginasRelação Entre o Cérebro Humano e o Comportamentoum Olhar NeuropsicológicoDaiany GomesAinda não há avaliações
- Mapeamento Do Cérebro Segundo A Tecnologia PET e As EmoçõesDocumento39 páginasMapeamento Do Cérebro Segundo A Tecnologia PET e As EmoçõesSotnas Santos100% (5)
- 1) Aspectos Históricos Da Neuropsicologia e o Problema Mente-CérebroDocumento5 páginas1) Aspectos Históricos Da Neuropsicologia e o Problema Mente-CérebroPriscila QueirozAinda não há avaliações
- 6 Eixoiii4Documento10 páginas6 Eixoiii4Rafael TorreAinda não há avaliações
- Princípios Da NeurociênciaDocumento36 páginasPrincípios Da NeurociênciaLuciane VieiraAinda não há avaliações
- Neuropsicologia Forense Funções CognitivasDocumento7 páginasNeuropsicologia Forense Funções CognitivasDeux EmesAinda não há avaliações
- Unidade1 Neuropsicologia PDFDocumento23 páginasUnidade1 Neuropsicologia PDFRuth MonteiroAinda não há avaliações
- Texto - 1 - Slides - Neurociências - Métodos de Estudos Da Relação Entre Cérebro, Comportamento e CogniçãoDocumento29 páginasTexto - 1 - Slides - Neurociências - Métodos de Estudos Da Relação Entre Cérebro, Comportamento e CogniçãoÉrica ArrudaAinda não há avaliações
- Texto 2 - Fisiologia Da AprendizagemDocumento24 páginasTexto 2 - Fisiologia Da AprendizagemRhamonSilvaAinda não há avaliações
- Neurociências para idosos: treino da memória operacional por meio do neurofeedbackNo EverandNeurociências para idosos: treino da memória operacional por meio do neurofeedbackAinda não há avaliações
- SuchartDocumento105 páginasSuchartAtanael soaresAinda não há avaliações
- CaminhoDocumento48 páginasCaminhoJoão Pedro Souza MatosAinda não há avaliações
- Medit e Neuro Texto 10 PDFDocumento4 páginasMedit e Neuro Texto 10 PDFGilson HotmailAinda não há avaliações
- Medit e Neuro Texto 5Documento9 páginasMedit e Neuro Texto 5Atanael soaresAinda não há avaliações
- A SABEDORIA DO INTELECTO E O CAMINHO MÍTICO Arhur ShakerDocumento9 páginasA SABEDORIA DO INTELECTO E O CAMINHO MÍTICO Arhur ShakerAtanael soaresAinda não há avaliações
- Medit e Neuro Cap 12Documento7 páginasMedit e Neuro Cap 12Atanael soaresAinda não há avaliações
- A Travessia Buddhista Da Vida e Da Morte I e II Com CapaDocumento41 páginasA Travessia Buddhista Da Vida e Da Morte I e II Com CapaAtanael soaresAinda não há avaliações
- Medit e Neuro Texto 5Documento9 páginasMedit e Neuro Texto 5Atanael soaresAinda não há avaliações
- SuchartDocumento105 páginasSuchartAtanael soaresAinda não há avaliações
- Meditacao para PrincipiantesDocumento161 páginasMeditacao para PrincipiantesClaudia Bertê Goetz100% (1)
- Ensinamentos Fáceis, Verdades ProfundasDocumento53 páginasEnsinamentos Fáceis, Verdades ProfundasHarrison RivelloAinda não há avaliações
- Meditação - O Coração Do Budismo (Mestres Da Theravada - Floresta)Documento38 páginasMeditação - O Coração Do Budismo (Mestres Da Theravada - Floresta)idbestloginAinda não há avaliações
- SuchartDocumento105 páginasSuchartAtanael soaresAinda não há avaliações
- Saude MeditacaoDocumento115 páginasSaude MeditacaoAwoIfawendeAinda não há avaliações
- Gosto Liberdade PDFDocumento57 páginasGosto Liberdade PDFfdcAinda não há avaliações
- Arvores-Para-Uso-Em SAFsDocumento5 páginasArvores-Para-Uso-Em SAFsTainá NascimentoAinda não há avaliações
- Medit e Neuro Cap 9Documento9 páginasMedit e Neuro Cap 9Atanael soaresAinda não há avaliações
- Cartilha SAFs AssentamentosDocumento21 páginasCartilha SAFs AssentamentosMaurício Möller de OliveiraAinda não há avaliações
- BUDISMO Ensinamentos Básicos IntrodutóriosDocumento24 páginasBUDISMO Ensinamentos Básicos Introdutóriosfabriciofjv10Ainda não há avaliações
- Solos AgroflorestaDocumento5 páginasSolos AgroflorestaIsa BrasAinda não há avaliações
- Cartilha Inspeção Do Solo - Ana PrimavesiDocumento72 páginasCartilha Inspeção Do Solo - Ana PrimavesiNaiara CélidaAinda não há avaliações
- Medit e Neuro Cap 8Documento5 páginasMedit e Neuro Cap 8Atanael soaresAinda não há avaliações
- Medit e Neuro Cap 7Documento12 páginasMedit e Neuro Cap 7Francisca GonçalvesAinda não há avaliações
- Saude MeditacaoDocumento115 páginasSaude MeditacaoAwoIfawendeAinda não há avaliações
- Superando A Ilusão Do Eu Revisado e Diagramação Final 2aedição Distr Gratuita PDFDocumento86 páginasSuperando A Ilusão Do Eu Revisado e Diagramação Final 2aedição Distr Gratuita PDFRoberto Carvalho100% (1)
- Cartilha - Agric Agroflorestal1Documento46 páginasCartilha - Agric Agroflorestal1HELTONRGS5498Ainda não há avaliações
- Medit e Neuro Cap 11Documento16 páginasMedit e Neuro Cap 11Atanael soaresAinda não há avaliações
- Meditação Da Plena AtençãoDocumento5 páginasMeditação Da Plena AtençãoRenesomGomesAinda não há avaliações
- 10 - OS 210119978 Emergencial LantimeDocumento1 página10 - OS 210119978 Emergencial LantimeMarcio MorenoAinda não há avaliações
- Estudo Completo Da CorDocumento19 páginasEstudo Completo Da CorRubem MorepaAinda não há avaliações
- Atividade - MauraDocumento4 páginasAtividade - MauraDonilio Vinicius LisboaAinda não há avaliações
- Catálogo MargiriusDocumento202 páginasCatálogo MargiriusVitor FigueiredoAinda não há avaliações
- Fichamento de Politica IiiDocumento10 páginasFichamento de Politica IiiYan MarquesAinda não há avaliações
- Projeto 3 Idade - Qualidade de VidaDocumento12 páginasProjeto 3 Idade - Qualidade de VidaClauDinho Moraes0% (1)
- Manual de Reiki Essencial IDocumento14 páginasManual de Reiki Essencial IO Sítio de Neptuno100% (1)
- Apostilar Italo 2022Documento42 páginasApostilar Italo 2022yasAinda não há avaliações
- Cifra Club - Djavan - AzulDocumento6 páginasCifra Club - Djavan - AzulEduardo Ramos de LimaAinda não há avaliações
- A Inclusão Escolar de Uma CriançaDocumento13 páginasA Inclusão Escolar de Uma CriançaConrado PlothowAinda não há avaliações
- Clima Organizacional - OkDocumento7 páginasClima Organizacional - OkBrenda GirardAinda não há avaliações
- Material de ConsultaDocumento7 páginasMaterial de ConsultaÉlida AlvesAinda não há avaliações
- Alexander - Suporte Técnico-Curriculo 2019Documento1 páginaAlexander - Suporte Técnico-Curriculo 2019alex silvaAinda não há avaliações
- Vampiro Requiem 2ed Idade Das Trevas PDFDocumento124 páginasVampiro Requiem 2ed Idade Das Trevas PDFNicolas MartinsAinda não há avaliações
- Trabalho A LetraDocumento4 páginasTrabalho A LetraDiego CostaAinda não há avaliações
- Air Bike Semana 1Documento7 páginasAir Bike Semana 1Victor Carvalho NogueiraAinda não há avaliações
- Doris Lessing O Planeta 8Documento94 páginasDoris Lessing O Planeta 8Alessandra Maria Cino100% (1)
- Apostila CFP Exame 46 - Mod 1Documento194 páginasApostila CFP Exame 46 - Mod 1contatoAinda não há avaliações
- Etapas de Uma Obra PDFDocumento25 páginasEtapas de Uma Obra PDFFernanda Pereira100% (1)
- CorretaDocumento4 páginasCorretaThiago SouzaAinda não há avaliações
- Atividades de FisicaDocumento4 páginasAtividades de Fisicaleda_professoraAinda não há avaliações
- Turma - 2021 - Plano de Pormenor de Nassapo-3Documento27 páginasTurma - 2021 - Plano de Pormenor de Nassapo-3AmaroAinda não há avaliações
- Familiarização Do TBMDocumento33 páginasFamiliarização Do TBMMarcos MartinsAinda não há avaliações
- Port Teste Anpad Fevereiro 2022Documento11 páginasPort Teste Anpad Fevereiro 2022hugo lemosAinda não há avaliações
- Sonetos Selecionados PDFDocumento7 páginasSonetos Selecionados PDFJoao BarbosaAinda não há avaliações
- A Revolucao Nacional de 1926Documento27 páginasA Revolucao Nacional de 1926Sónia FernandesAinda não há avaliações
- 14 Projeto Fluxo de CaixaDocumento13 páginas14 Projeto Fluxo de CaixaAmanda Dreger PeresAinda não há avaliações
- He - A Visibilidade Da Enfermagem, Dando Voz À Profissão - Revisão IntegrativaDocumento7 páginasHe - A Visibilidade Da Enfermagem, Dando Voz À Profissão - Revisão IntegrativaHenrique NetoAinda não há avaliações
- Não Sou o Único A Olhar o CéuDocumento1 páginaNão Sou o Único A Olhar o CéuMárcioAinda não há avaliações