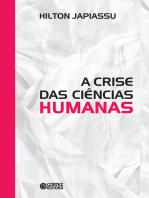Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Catlin, Adorno On Antisemitism and Racism
Enviado por
gouvedel0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações13 páginasTítulo original
Catlin, Adorno on Antisemitism and Racism
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações13 páginasCatlin, Adorno On Antisemitism and Racism
Enviado por
gouvedelDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 13
210/10
Catlin, Adorno on Antisemitism and Racism
Teoria Crítica Provincializante: Do anti-anti-semitismo ao anti-racismo
No retrato intelectual esboçado até agora, considerei as experiências pessoais e as percepções
teóricas de Adorno sobre o anti-semitismo, juntamente com outras formas de violência
racializada. Neste processo, tentei entrelaçar vertentes do trabalho filosófico, científico-social e
aforístico de Adorno, que muitas vezes não são considerados em conjunto, e mostrar que o
corpus e a biografia de Adorno oferecem exemplos ricos para pensá-los em conjunto. A tentativa
de dialogar o anti-semitismo com outras formas de violência social reflecte percepções
contemporâneas da filosofia e da teoria social, às quais nos voltaremos agora.
O livro de Elad Lapidot, Judeus fora de questão (2020), oferece uma provocativa 'crítica ao anti-
anti-semitismo', perguntando por que a filosofia tem atendido tão atentamente a 'Questão
Judaica', enquanto permanece deliberadamente ignorante e silenciosa sobre outras questões
sociais, como outras ideologias raciais, que permanecem intimamente ligadas a ela e que
merecem, sem dúvida, consideração semelhante como patologias fundamentais da sociedade
moderna. Lapidot identifica provocativamente os judeus reais como estando “fora de questão” –
tão distantes estão eles como sujeitos sociais e históricos “reais” de análise, e tão persistente tem
sido a figura do “judeu” e dos “judeus” como um elemento fundamental conceito abstrato no
pensamento ocidental, inclusive na Teoria Crítica da Escola de Frankfurt.
O desafio que Lapidot levanta é traçar um rumo entre vários relatos de anti-semitismo, em última
análise, insatisfatórios. Primeiro, a teoria de Sartre segundo a qual o anti-semita “inventa” o judeu,
que levanta e deixa sem resposta a questão de saber por que razão os judeus, em particular,
foram tão especificamente perseguidos na história ocidental. Este argumento, e as suas falhas,
são parcialmente partilhados pela teoria projetiva do anti-semitismo de Horkheimer e Adorno; daí
a sua tentativa de complementá-lo com vários outros fatores históricos ao longo dos “Elementos”.
Reconhecendo este problema, Hannah Arendt, nas suas Origens do Totalitarismo (1951), rejeitou
as teorias do “anti-semitismo eterno” por oferecerem pouco poder explicativo no que diz respeito
ao novo anti-semitismo exterminador do regime nazi; teorias puramente de “bode expiatório” ou
“projetivas” levantaram a questão: “Por que os judeus?” Por que não os ciclistas?' Isso levou
Arendt, no outro extremo, a insistir na primeira seção de Origens que as circunstâncias da história
judaica "real" levaram os judeus a se tornarem os representantes conspícuos da modernidade,
dos estados-nação, do liberalismo e do capitalismo, todos embora careçam do poder político e
das instituições actuais para garantir os seus direitos, cidadania e protecção. Tais relatos correm
o risco de culpar as vítimas e imputam uma racionalidade e consciência implausíveis aos anti-
semitas. O epílogo do livro histórico de David Nirenberg, Antijudaísmo, de 2013, avalia essas
duas principais teorias uma contra a outra, finalmente concedendo vantagem a Horkheimer e
Adorno por compreender a natureza essencialmente projetiva e irracional do anti-semitismo, com
“o judeu” servindo durante milhares de anos como um contraste através do qual o Ocidente
(cristão) se pensa, mesmo com pouca experiência ou conhecimento dos judeus “reais”. Estes
relatos concordam que - mesmo que o anti-semitismo dependa de mecanismos psicológicos
irracionais, individuais, estes são activados em momentos históricos de acordo com a mudança
dos contextos sócio-políticos. Por exemplo, nos seus importantes estudos sobre a cultura imperial
alemã, Shulamit Volkov (1978) desenvolveu a noção de anti-semitismo como um “código cultural”
que desempenhava funções específicas para distinguir classes sociais novas e antigas.
Reconhecendo as funções sociais, políticas e culturais do anti-semitismo, permanece sempre a
questão de saber por que razão os anti-semitas têm como alvo os judeus e não algum outro
grupo social.
Porém, como já vimos, Horkheimer e Adorno reconheceram que os anti-semitas muitas vezes
também têm como alvo outros grupos marginais, e esta é uma das razões pelas quais
consideraram o anti-semitismo juntamente com outras formas de “barbárie” na civilização
“iluminada”. É claro que as noções monolíticas de “civilização” ou “cultura” têm sido desafiadas há
muito tempo pelos teóricos pós-coloniais, e é útil ver a Dialética como um desafio à valorização
irreflexiva da civilização ocidental, mesmo quando Adorno, em particular, permaneceu ligado às
suas formas culturais de elite. A noção de Auschwitz como uma “Zivilisationsbruch”, uma
interpretação defendida desde a década de 1980 por Diner, capta o que para Adorno foi uma
ruptura absoluta “metafísica”, bem como cultural, na civilização pós-Auschwitz. Por esta razão, ao
longo dos seus escritos 'depois de Auschwitz', Adorno rejeitou a ideia ingênua de ressuscitar a
'boa' cultura alemã (pré-nazista), como o proeminente historiador liberal Friedrich Meinecke
(1963) aconselhou em 1946 para desnazificar a Alemanha e restaurar a sua alardeada cultura de
Dichter und Denker através dos “círculos de Goethe”. Adorno critica duramente esta ideia de
restaurar a cultura ocidental em Minima Moralia:
A ideia de que depois desta guerra a vida continuará “normalmente” ou mesmo que a cultura
poderá ser “reconstruída” – como se a reconstrução da cultura não fosse realmente a sua
negação – é idiota. Milhões de judeus foram assassinados, e isto deve ser visto como um
interlúdio e não como a catástrofe em si. O que mais esta cultura está esperando? (1974: 55)
Nesta linha mordaz, quase cínica, Adorno sugere que o Holocausto está enraizado em estruturas
tão profundas e fundamentais da modernidade ocidental que não pode ser superado através da
reconstrução da mesma civilização que produziu tanto horror. Ele elabora mais tarde no mesmo
trabalho:
Aquele que regista os campos de extermínio como um acidente técnico na procissão triunfal da
civilização, o martírio dos judeus como irrelevante do ponto de vista histórico mundial, não só fica
aquém da visão dialética, mas inverte o significado da sua própria política: manter a calamidade
final sob controlo. (1974: 234)
Adorno via Auschwitz como uma pedra de tropeço que se interpunha no caminho das políticas
aliadas do pós-guerra, que incitavam os alemães a ultrapassar rapidamente a era nazi em
direcção à reconstrução, minimizando assim a mancha moral que deixaria em todos os níveis da
sociedade alemã (ver Olick 2005).
Por mais que fosse importante sublinhar a visão de Adorno sobre o significado singular de
Auschwitz e do anti-semitismo que contribuiu para a sua criação nos anos do pós-guerra, numa
sociedade que mal tinha sequer começado a contar com a sua cumplicidade no genocídio, hoje a
noção de um 'singular' a “ruptura civilizacional” tornou-se altamente problemática. O historiador
Dirk Moses e outros sublinharam o eurocentrismo do termo – como se o status quo ante pré-
Auschwitz da civilização ocidental não fosse construído sobre uma miríade de formas de violência
e exclusão, na verdade a violência extrema de muitos impérios europeus conduzida não “contra”
civilização, mas em nome mesmo de uma “missão civilizadora” para com os povos negros,
pardos e indígenas em todo o mundo. Enzo Traverso (2017) e outros chamaram assim a Escola
de Frankfurt de insuficientemente sintonizada com os problemas do conceito de civilização;
apenas Herbert Marcuse, na opinião de Traverso, reconheceu os problemas do eurocentrismo, do
império e da dominação racial através da sua defesa aberta contra a Guerra do Vietname, uma
guerra que o velho conservador Horkheimer na verdade apoiou. Sem dúvida, este é um ponto
cego, mas não, eu diria, uma crítica tão condenatória à teoria de Horkheimer e Adorno como
afirma Traverso; pois também poderia ser sugerido que um capítulo faltante, mas implícito, da
Dialética, situando-se em algum lugar entre o capítulo de Odisseu sobre a violência do homem
“iluminado” contra a natureza e contra si mesmo e o capítulo final sobre o anti-semitismo, é um
capítulo sobre a violência colonial – a progressão histórica encontrada em As Origens de Arendt.
The End of Progress: Decolonizing the Normative Foundations of Critical Theory (2016), de Amy
Allen, percorreu um longo caminho no sentido de abrir a Teoria Crítica da Escola de Frankfurt às
críticas pós-coloniais de noções como progresso e civilização, sem abandonar os seus projectos
emancipatórios originais. Parte desta “provincialização” da Teoria Crítica como uma tradição
europeia específica implica considerar o anti-semitismo juntamente com outras formas de
alteridade projetiva, incluindo racismo, sexismo, capacitismo e violência sexual e baseada no
género. Enraizado como os teóricos de Frankfurt pensavam que o anti-semitismo estava na
“projecção pática” de sujeitos autoritários, e não no comportamento dos judeus reais, o trabalho
de intervenções políticas, sociais e educacionais relativas a todas as formas de “alteração”
violenta acima mencionadas permanecem intimamente interligados, mesmo quando o anti-
semitismo como ideologia mantém uma especificidade e um poder que sugere que não pode ser
reduzido ou confundido com eles.
Adorno, anti-semitismo e memória do Holocausto numa era global
É impressionante observar nos debates contemporâneos a persistência de muitas das mesmas
questões sobre a singularidade e o universalismo que caracterizam as reflexões de Adorno de
décadas atrás sobre a relação entre Auschwitz e a “catástrofe permanente” geral da modernidade
capitalista. Traverso escreveu em 2022 que na agora hegemónica cultura da memória alemã “o
Holocausto tornou-se um desvio patológico de um caminho ocidental linear”: enfatizar
excessivamente a singularidade do Holocausto como parte de um “caminho especial” alemão
permite que ele seja tratado como uma exceção ou anomalia , que parecia “confortavelmente
atípico e sociologicamente inconsequente” (Postone 2003: 86, parafraseando Bauman). Histórica
e conceitualmente isolado desta forma, Auschwitz não consegue implicar o resto da modernidade;
caracterizá-lo como um desvio único tornou-se parte do esforço para ressuscitar e reforçar a
anterior civilização liberal-democrática europeia que permitiu a ascensão do fascismo e o
caminho para Auschwitz, em vez de desafiar as suas tendências internas para a violência e a
exclusão. Como Traverso conclui corretamente, “todos os genocídios são “cesurae da
civilização”” e, portanto, “os Judeus aniquilados pelos Nazistas… não merecem nem mais nem
menos compaixão e recordação do que os Arménios destruídos no Império Otomano à beira do
colapso, a União Soviética cidadãos que morreram nos Gulags, os camponeses ucranianos
extintos no Holodomor, os congoleses mortos nas plantações de borracha de Leopoldo II', etc.
Como argumentou o historiador global Sebastian Conrad (2021), a tarefa que a Alemanha
enfrenta hoje não é reconhecer a memória do Holocausto ou a violência colonial, mas como
reconhecer ambas.
Como vimos, o Adorno maduro da década de 1960 referiu-se a Auschwitz como formando “uma
unidade infernal” com Hiroshima, Vietname, “a tortura como instituição permanente” e histórias
globais catastróficas. Num dos seus últimos textos, “Marginaliato Theory and Praxis”, Adorno
expandiu a frase “depois de Auschwitz” para “depois de Auschwitz e Hiroshima” (2005: 268). Na
sua obra-prima Dialética Negativa, ele até abordou as conhecidas reflexões de Aimé Césaire
sobre os dois pesos e duas medidas da indignação face à violência na Europa versus a violência
em colónias distantes com a sua observação de que reivindicações moralistas como “a tortura
devem ser abolidas; os campos de concentração não deveriam existir' são 'verdadeiros como
impulso' já que 'registram que em algum lugar a tortura está ocorrendo', pois a concentração 'tudo
isso continua na África e na Ásia e só é reprimido porque a humanidade civilizada é tão
desumana como sempre contra aqueles que ela descaradamente rotulados como incivilizados”
(1973: 285). Um ano depois, na sua palestra de 1967, “Aspectos do Novo Extremismo de Direita”,
Adorno invoca de forma semelhante uma ligação histórica entre o “horrível” colonialismo europeu
em África, as atrocidades nazis e os aspectos antidemocráticos do anticomunismo da Guerra Fria
(Adorno 2020: 19). Eu argumentaria, portanto, que Traverso exagera nas suas críticas quando
afirma que, ao contrário de Marcuse, que no “Prefácio Político” de 1966 à segunda edição de
Eros e Civilização ligou explicitamente os crimes coloniais em África e no Vietname e os guetos
domésticos americanos do Mississipi e do Harlem com Crimes nazistas em campos de
concentração, 'A ideia de tal comparação nunca passou pela cabeça de Adorno e Horkheimer',
cuja Teoria Crítica ele acusa, junto com seu antecessor Marx, de abrigar um 'inconsciente
colonial' (Traverso 2017: 175) . Adorno voltou repetidamente a Auschwitz como um fundamento
moral negativo devido à sua concretude e horror irrefutável. No entanto, enfatizar excessivamente
a singularidade de Auschwitz em relação a outras atrocidades globais seria perder
completamente o sentido das décadas de reflexão filosófica, moral e política de Adorno sobre o
assunto, que é enfática nas suas tentativas de ligar Auschwitz a histórias mais longas de
dominação, racionalidade e alteridade racial. Como disse Jay Bernstein, “Auschwitz não é
metafísica ou epistemicamente privilegiada; mesmo sendo teodicéia negativa, Auschwitz não é
único, mas, terrivelmente, exemplar” (Bernstein 2001: 395).
Esta compreensão de Auschwitz como historicamente particular, mas universalmente implicante,
reflecte-se no Novo Imperativo Categórico de Adorno contra a repetição de Auschwitz ou qualquer
coisa “semelhante” a ele na sua Dialética Negativa de 1966 (1973: 365). Em sua palestra de rádio
de 1966, “Educação depois de Auschwitz”, daquele mesmo ano, Adorno propõe “nunca mais
Auschwitz” (2005: 191) como o ideal mais importante da educação pós-guerra, mas ao mesmo
tempo também menciona o genocídio arménio de 1915 como um precedente para o Holocausto,
entre outras razões porque partes dos militares alemães foram informadas sobre isso e tolerou
isso (192). Ao situar “Auschwitz” em relação a outras histórias catastróficas e tornar
explicitamente o Novo Imperativo Categórico universal e aplicável a outros eventos
“semelhantes”, Adorno deixa claro que a proibição inclui outros genocídios (Skirke 2020). Mas,
como argumentou Dirk Moses, também não devemos restringir a nossa preocupação moral a
ações que “chocam a consciência da humanidade” (2021a: 13) de acordo com a categoria
exclusivamente “transgressiva” de genocídio, quando muito mais violência endémica continua a
ser praticada. em nome da consecução da “segurança permanente”, incluindo a violência por
motivos políticos e as guerras “humanitárias” ou “direcionadas” em curso. O imperativo “Nunca
Mais” de Adorno estende-se não só para além de Auschwitz e do anti-semitismo, mas também
para além da categoria de genocídio.
Ao mesmo tempo, um documento interessante no arquivo de Adorno aponta para as limitações da
sua proximidade com a relativização explícita do Holocausto empreendida por muitos dos seus
estudantes de esquerda na década de 1960 (ver Kundnani 2009).1 Quando Adorno foi convidado
para se encontrar com uma associação estudantil socialista em Bremen, em 1967, enviaram-lhe
antecipadamente as perguntas que desejavam que ele respondesse: O que pensava ele sobre
Kurt Georg Kiesinger, um antigo membro do partido nazi, tornar-se chanceler da Alemanha
Ocidental? Não seria isto uma prova de continuidades sinistras entre o Terceiro Reich e a
República Federal? Não parecia sugerir “que não ocorreu uma derrubada radical do fascismo na
Alemanha Ocidental”? A Alemanha Ocidental não tinha mudado de um estado “pós-fascista” para
um estado “pré-fascista”? As suas questões finais revelam as limitações dos seus
enquadramentos marxistas, que parecem entender toda a violência e imperialismo como
enraizados no capitalismo, bem como as analogias grosseiras entre o imperialismo nazi e o
imperialismo americano pelas quais o movimento estudantil era notório: 'Pode Auschwitz ser
entendido como a consequência última do capitalismo tardio?” “O Vietname pode ser comparado
a Auschwitz? Existe uma diferença potencialmente crucial?’ Infelizmente, o arquivo não contém as
respostas de Adorno. Contudo, a partir de muitos outros escritos e palestras sobre os temas que
consideramos, podemos reconstruir as respostas complexas que ele poderia ter dado. Na sua
poderosa palestra radiofónica de 1959, “O Significado de Trabalhar através do Passado”, Adorno
afirmou corajosamente que “o Nacional-Socialismo continua vivo” na Alemanha “dentro” da sua
democracia e apelou a um reconhecimento público mais intensivo dos legados do nazismo para
uma nação. em que “a vontade de cometer o indizível sobrevive nas pessoas, bem como nas
condições que as encerram” (2005: 89-90). Adorno não admitia a equivalência entre Auschwitz e
atrocidades como a Guerra do Vietname, que pareciam animar a ira política dos estudantes de
Bremen, mas insistiu em reconhecer ambos como ultrajes morais e em mantê-los unidos como
produtos da mesma catastrófica ordem social capitalista tardia.
Esta ambivalência fundamental sobre “Auschwitz” no pensamento de Adorno cristaliza-se,
caracteristicamente, numa “constelação” dialética: a figura da “unidade infernal” que Adorno
afirmava unir tais atrocidades modernas. Essa conexão ocorre no nível conceitual da teoria social:
processos semelhantes de alteridade, instrumentalização e violência estatal ocorrem em
diferentes grupos de vítimas e perpetradores. No entanto, Adorno não chega a avançar o que Dirk
Moses e outros estudiosos do genocídio hoje chamam de “histórias emaranhadas”, enfatizando,
por exemplo, o Holocausto na Europa Oriental como um produto do expansionismo colonial
alemão com certas continuidades nas atitudes raciais e no pessoal dos genocídios coloniais da
Alemanha. em África – a sugestão de um caminho “de Windhoek a Auschwitz” (Zimmerer 2011).
A afirmação de Adorno de que Auschwitz se encontra numa “unidade infernal” com a “catástrofe
permanente” de outras formas de violência moderna sugere que só podemos compreender a
particularidade histórica do Holocausto nazi à luz dos processos sociais e políticos de longo prazo
que o permitiram e conectá-lo a outras histórias catastróficas. As contribuições de Adorno e
Horkheimer para a teoria do anti-semitismo foram desenvolvidas de forma produtiva por vários
dos principais teóricos do anti-semitismo contemporâneo (Claussen, Ziege, Rensmann e Postone,
entre outros) e mobilizadas durante décadas, especialmente por partes da esquerda alemã, para
enfatizar a características únicas do anti-semitismo moderno como distinto de outras formas de
racismo: que para os anti-semitas os judeus não são simplesmente inferiores, mas são apontados
como singularmente poderosos e ameaçadores e, portanto, sujeitos a violência particular e
extermínio genocida. Muitas vezes, no entanto, este foco na especificidade do anti-semitismo tem
implicado um quadro “competitivo” que estabelece e defende uma hierarquia de preconceito e
vitimização, em vez de identificar padrões comuns e solidariedades políticas no quadro
interseccional mais construtivo que o resto deste capítulo irá propor. .
Revisitando a teoria do anti-semitismo da Escola de Frankfurt à luz dos debates actuais
A relação entre anti-semitismo e racismo tem sido uma questão de muito debate nos últimos
anos, culminando num conflito entre a definição de anti-semitismo da Aliança Internacional para a
Memória do Holocausto (IHRA), amplamente adoptada, que inclui o chamado novo anti-semitismo
enraizado nas críticas ao Estado de Israel, e a alternativa Declaração de Jerusalém sobre o Anti-
semitismo, que em vez disso enfatiza as ligações entre o anti-semitismo e outras formas de
racismo (ver discussão em Penslar 2022). A Declaração de Jerusalém afirma no seu primeiro
ponto que “O que é verdade para o racismo em geral é verdade para o antissemitismo em
particular”, e os seus autores elaboram que “embora o antissemitismo tenha certas características
distintivas, a luta contra ele é inseparável da luta global contra todas as formas de discriminação
racial, étnica, cultural, religiosa e de género”. Entre estas duas definições influentes, a primeira
endossada por muitos estados e autoridades, a segunda por um grupo menor de académicos
progressistas, reside a questão intratável do conflito Israel-Palestina. Enquanto a definição da
IHRA defende a legitimidade de Israel como um Estado judeu e liga especificamente o sofrimento
judaico no Holocausto ao anti-semitismo contemporâneo, a Declaração de Jerusalém sugere que
as “lições universais do Holocausto” também podem ser legitimamente aplicadas a outros grupos
vitimizados, incluindo os palestinianos.
Ajustando-se às suas raízes como um Kampfbegriff político do século XIX, o “anti-semitismo” hoje
não é um termo científico-social neutro, mas muitas vezes um termo de disputa, acusação e
abuso. Na arena acadêmica, a utilidade do conceito de anti-semitismo foi criticada pelo historiador
do Holocausto David Engel, cujo influente ensaio de 2009 'Longe de uma definição de anti-
semitismo' argumentou que o conceito cria mais antolhos conceituais do que insights sobre por
que o antissemitismo A violência acontece onde e quando acontece. Engel caracteriza
corretamente o anti-semitismo como “uma convenção sócio-semântica criada
no século XIX e sustentada ao longo do século XX para fins comunitários e políticos, e não
académicos” (2009: 53).
Foi um desses debates, sobre a fronteira entre a crítica legítima a Israel e o anti-semitismo, que
levou a apelos à retirada do convite do proeminente teórico camaronês Achille Mbembe de um
festival cultural alemão na primavera de 2020, sob a acusação de anti-semitismo e de "relativizar
o Holocausto". ' ', dando início ao que foi chamado de 'Debate dos Historiadores 2.0' (para uma
visão geral, ver Catlin 2021 e a entrevista Catlin 2022). Este debate reativou para uma sociedade
alemã muito mais diversificada e globalizada algumas das questões centrais do primeiro “Debate
dos Historiadores” (Historikerstreit) de 1986-7, que dizia respeito à particularidade do Holocausto
face às atrocidades estalinistas. Mas mais do que isso, o debate recente centrou-se nos efeitos
do programa oficial alemão de “antissemitismo”, em cujo nome muitos pensadores proeminentes
foram efectivamente excluídos da vida pública alemã, desde a filósofa judia-americana
progressista Judith Butler (que apoia BDS – Boicote, Desinvestimento e Sanções de Israel) a
teóricos pós-coloniais como Mbembe, e vozes do Sul Global, como os coletivos de arte
indonésios no festival de arte documenta de 2022 em Kassel, algumas de cujas obras de arte
incluíam de fato caricaturas anti-semitas ( para uma discussão detalhada, consulte Rothberg
2022a).
A percepção do fechamento da liberdade de expressão levou a proeminente intelectual pública
Susan Neiman, uma autodenominada 'intelectual judia cosmopolita' que se identifica com a
'tradição do judaísmo universalista' de seus pais que fizeram campanha pelos direitos civis dos
afro-americanos na década de 1960 (Führer 2021) , para se preocupar que tais judeus-alemães
Luminares como Albert Einstein e Hannah Arendt não seriam autorizados a falar na Alemanha
hoje devido às suas opiniões críticas sobre Israel (Neiman 2020). Neiman liderou assim uma
iniciativa que apelava à 'Weltoffenheit' (abertura ao mundo) na sociedade alemã, depois de
programas oficiais de anti-anti-semitismo terem começado a provincializar a esfera pública alemã,
isolando-a até mesmo de artistas e intelectuais judeus que violavam a posição oficial. declarou
por Angela Merkel em 2008 que “a segurança de Israel faz parte da Staatsraison alemã”. Uma
das primeiras consequências da resolução anti-BDS do Bundestag de 2019 foi o encerramento de
um grupo de leitura sobre “Desaprender o Sionismo” liderado por estudantes de arte judeus-
israelenses em Berlim – o início de uma campanha que alguns gostaram de uma “caça às
bruxas”. (Mashiach 2020). Num ensaio cortante de 2021 escrito num “tom inspirado em Arendt”
(Stone 2022), o estudioso do genocídio Dirk Moses (2021b) criticou a forma como a memória
oficial alemã do Holocausto, que outrora “serviu uma função importante na desnazificação do
país”, tinha “sobrevivido 'sua utilidade' e endurecido em um 'catecismo' que defende rigidamente
a política israelense e muitas vezes usado contra muçulmanos e
outras minorias consideradas “os novos anti-semitas”. O catecismo posiciona os alemães
filosemitas moralmente redimidos como os novos protetores dos judeus, enquanto a culpa do
Holocausto é ‘subcontratados’ a grupos de migrantes (ver Özyürek 2023, também discutido na
entrevista Catlin 2022).
Dado que Adorno tem sido frequentemente invocado como fonte de inspiração para a cultura
alemã contemporânea da memória do Holocausto (Scholl 2017), vale a pena reconsiderar a forma
como o seu trabalho pode contribuir para os debates mais recentes. Como escreveu o filósofo
germano-israelense Omri Boehm: “O ponto central [do Historikerstreit dos anos 1980] foi o
compromisso da Alemanha com o universalismo ético – um compromisso que, argumentou
[Jürgen] Habermas, a Alemanha só poderia assumir reconhecendo a singularidade do seu crime”.
(2021). Mas hoje, escreve Boehm, vemos “a Alemanha colocar a sua obrigação para com o
Estado judeu acima da sua obrigação para com o direito internacional”. Boehm apela assim a um
universalismo verdadeiramente radical que, tal como o pensamento de Adorno, incorpore as
lições de Auschwitz mas, em vez de as reificar numa máxima rígida, continue a adaptar
reflexivamente o seu significado para uma sociedade em constante mudança. Como Enzo
Traverso escreve numa linha semelhante: “Trinta e cinco anos depois da Historikerstreit, o Estado
alemão substituiu o anti-semitismo “redentor” nazi (Friedländer) por uma espécie de filosemitismo
“redentor” que significa não a luta contra o racismo, mas a segurança israelita. inscrito na lei”.
“Hoje”, conclui Traverso, “o filosemitismo tornou-se o “código cultural” de uma Alemanha
reunificada e pós-nacional, considerando os judeus como amigos especiais e defendendo Israel
como um dever moral”.
Habermas, um antigo assistente de Adorno, parece ter aprendido com os excessos e a
calcificação da cultura da memória do Holocausto, que ele ajudou a estabelecer como a base
moral da Alemanha do pós-guerra, há décadas. Respondendo ao último Historikerstreit, ele
enfatizou que, como forma de racionalidade comunicativa e de processo contínuo de
aprendizagem social, a memória histórica não deveria ficar “congelada”, mas deveria mudar, à
medida que a sociedade alemã se tornou muito mais diversificada do que era na década de 1980:
“A memória da nossa história colonial, até recentemente suprimida, é uma extensão importante”,
disse, concluindo que “os imigrantes adquirem uma voz de concidadão, que a partir de agora
conta em público e pode transformar e desenvolver a nossa cultura política” (2021: onze). É com
tal consciência que o Estado alemão nos últimos anos começou a pedir desculpas formalmente
pelo seu genocídio colonial na Namíbia e que o discurso do Presidente Steinmeier em 2021 na
abertura do Fórum Humboldt reconheceu de forma semelhante a necessidade de a sociedade
alemã se abrir e efetivamente adoptar a “memória multidireccional” dos seus crimes coloniais e da
Shoah. Como Peter E. Gordon (2020) escreveu num contexto americano: 'Se cada crime é único
e a imaginação moral é proibida de comparação, então a própria injunção “Nunca Mais” perde o
seu significado, uma vez que nada pode acontecer “de novo”. '.
No meio destes debates em curso, os escritos dos teóricos da Escola de Frankfurt oferecem um
quadro mais complexo e interseccional do que o sugerido pela sua apropriação como teóricos da
especificidade do anti-semitismo. Esses debates nos levam de volta a um problema antigo. Nos
“Elementos” de Adorno e Horkheimer, argumentaram que, de acordo com a sua teoria do anti-
semitismo como “falsa projecção”, “não existe anti-semitismo autêntico e certamente não existe
anti-semitismo nato” (2002: 140). Portanto, “a cegueira do anti-semitismo, a sua falta de intenção”
significa que, até certo ponto, as suas “vítimas são intercambiáveis” (140). Enquanto na edição
final do texto de 1947 eles escreveram “vagabundos, judeus, protestantes, católicos”, na primeira
edição de 1944, em vez de “vagabundos”, escreveram “Negros, clubes de luta livre mexicanos”
(272). Na sua forma mais radical, a teoria projetiva do anti-semitismo enraizada no regime
autoritário O sujeito (e não os verdadeiros judeus) significa que as vítimas são intercambiáveis: o
antissemitismo, tal como outras formas de violência, funciona como uma “válvula de escape”
através da qual “a raiva é descarregada sobre aqueles que são visíveis e desprotegidos” (140).
Tais passagens levantam a questão da relação entre o racismo em geral e o anti-semitismo em
particular. Num ensaio de 2017, Steven Aschheim criticou duramente a Dialética por manter tal
ambivalência sobre a singularidade do anti-semitismo e das vítimas judaicas, mesmo na sua
versão revista de 1947, à luz do que até então era bem conhecido sobre o genocídio
singularmente exterminador dos judeus da Europa. Para Aschheim, “Elements” oferece um
“carrinho de compras a-histórico de possibilidades” que emprega “noções generalizadas e muitas
vezes vagas” em vez de análises históricas e sociais específicas (2017: 441). Lars Rensmann
(2017: 290) também argumentou que os autores “confundem” a especificidade do antissemitismo
e podem parecer sugerir “uma falsa universalidade em que tudo é arbitrariamente intercambiável:
seres humanos, perpetradores, vítimas, preconceitos” (ver discussão crítica em Catlin 2020). Em
seu ensaio 'Blindness and Insight' (2012) sobre 'o Judeu conceitual', Jonathan Judaken vai ainda
mais longe ao criticar os autores por desenvolverem uma figura filosemítica do 'Judeu' como uma
fonte de resistência à dominação ou um local positivo de crítica racionalidade que corre o risco de
ser tão mítica e estereotipada quanto a figura negativa que os autores criticam. Por outras
palavras, Horkheimer e Adorno adoptam por vezes o que Zygmunt Bauman (1998) chamou de um
retrato “alosemita” e alterista do judeu, que oscila ambivalentemente entre estereótipos e uma
espécie de valorização mítica que é, no entanto, fetichista.
Embora esta ambiguidade possa ser vista como uma deficiência no trabalho de Horkheimer e
Adorno, também é possível lê-la como uma força potencial como um local de abertura teórica e
interseccionalidade presciente. A ocasional falta de distinção entre judeus e outras vítimas de
preconceito projectivo oferece uma abertura teórica através da qual podemos ligar as percepções
de Adorno e Horkheimer sobre o anti-semitismo e os assuntos anti-semitas a outros casos de
racismo e às lutas contra eles. A lente da “personalidade autoritária”, apoiada por pesquisas mais
recentes, demonstra que, de facto, os anti-semitas violentos são muitas vezes também racistas,
misóginos, homofóbicos e transfóbicos, etc. Os manifestos de assassinos em massa como
Anders Brevik polemizam tanto contra os judeus como contra as pessoas de cor, enquanto as
teorias da conspiração sobre a “grande substituição”, como as defendidas pelo atirador da
Sinagoga Árvore da Vida em Pittsburgh, ligam estes dois ódios, sugerindo que não- a imigração
branca é financiada por financiadores judeus liberais como George Soros. Devido aos riscos de
confundir racismo e anti-semitismo, este lado mais global e interseccional das reflexões destes
teóricos ainda não foi suficientemente desenvolvido na Teoria Crítica contemporânea. No entanto,
à luz dos debates contemporâneos e da evolução dos estudos históricos sobre as ligações entre
o Holocausto e as formas anteriores de racismo científico e colonialismo, é chegado o momento
de articular as ligações que Adorno e Horkheimer já sugeriram. Tanto ao nível conceptual da
natureza projetiva do anti-semitismo e do racismo como ao nível das complicações históricas
entre a perpetração das atrocidades modernas, o quadro no qual vemos os escritos da Escola de
Frankfurt sobre o anti-semitismo pode e deve ser expandido muito para além do Holocausto.
Historiadores do genocídio, incluindo Dan Stone e Dirk Moses, aprofundaram a nossa
compreensão das “histórias emaranhadas” que levaram ao Holocausto, desenvolvendo e
corrigindo o esboço histórico dado pela primeira vez em Origens, de Hannah Arendt, conectando,
nas suas três partes, a ascensão do anti-semitismo moderno, o colonialismo europeu e a ditadura
nazi e a sua perseguição aos judeus e outros grupos. O trabalho de Michael Rothberg (2009)
deu-nos um quadro “multidirecional” para apreciar a aprendizagem mútua e os empréstimos
culturais que podem acontecer entre a memória de traumas historicamente distintos, abrindo
caminho para além do quadro da “memória competitiva” e do excesso de memória. preocupamo-
nos com a “relativização” do Holocausto que, de facto, limita a compreensão do Holocausto e a
sua relevância contínua para o mundo contemporâneo. Por exemplo, estudos recentes
mostraram que os oficiais nazis inspiraram-se nas leis anti-negras e anti-miscigenação da
América na sua elaboração das Leis anti-judaicas de Nuremberga (Whitman 2017). Houve
também continuidades em termos de pessoal, ciência racial e técnicas de controlo populacional
entre a guerra colonial de Hitler na Europa de Leste e a violência colonial anterior da Alemanha
no Sudoeste de África, incluindo o genocídio dos povos indígenas Herero e Nama em 1904-7
(Erichsen e Olusoga 2010).
Afirmar, com a Declaração de Jerusalém, que “o que é verdade para o racismo em geral é
verdade para o antissemitismo em particular”, não é afirmar o inverso e apagar a especificidade
do antissemitismo; pelo contrário, trata-se de iluminar a categoria mais ampla de opressão racial
através da experiência particular do anti-semitismo. Embora realce distinções importantes entre
estas patologias sociais, a penúltima secção deste capítulo pretende desenvolver as ideias de
Adorno e Horkheimer e defender a iluminação mútua destas formas de alteridade projetiva à luz
de algumas das suas características comuns e das suas histórias emaranhadas.
Movendo o estudo do antissemitismo para além do “judeopessimismo”
Num estudo recente sobre o líder americano-israelense de extrema direita Meir Kahane, o
estudioso de estudos judaicos Shaul Magid argumenta que o pensamento de Kahane tinha como
premissa um sentido profundo de “judeopessimismo” – na postulação de uma divisão ontológica
intransponível entre um mundo fundamentalmente antissemita e a figura do judeu como vítima
permanente. Nesta perspectiva, a visão de Kahane sobre a persistência e centralidade do anti-
semitismo na história reflecte a forma como muitos dos chamados afropessimistas
compreenderam a estrutura profunda e aparentemente intratável do racismo anti-negro. No relato
de Magid, Kahane era um antiassimilacionista e segregacionista; ele evitou projetos liberais de
inclusão e assimilação judaica porque acreditava que não havia solução nem para o racismo
branco-negro nem para o anti-semitismo além da separação de grupos e da independência
encontradas no estado judeu de Israel. Para Kahane, o anti-semitismo era um “ódio ontológico
aos judeus que supera outras formas de racismo” (Magid 2021: 87).
Por outro lado, afropessimistas como Alexander Weheliye criticaram o eurocentrismo e o
judaocentrismo de figuras como Giorgio Agamben, na sua influente obra Remnants of Auschwitz
(1998), postulando Auschwitz como 'a encarnação mais absoluta da politização de Zoe pela
modernidade'. – mera vida biológica, ou vida nua (Weheliye 2014: 53). Weheliye critica
acertadamente a forma como “a abordagem dogmática de Agamben a insistência numa
instanciação estritamente jurídica do estado de exceção reinstitui o holocausto como a
manifestação mais severa e paradigmática da vida nua” (85). Como ele cita David Scott: “Por que
deveríamos ser obrigados a nos submeter à inflação semiótica
que faz do Holocausto o cenário primordial do crime original e do campo de extermínio o
paradigma fundamental do poder ocidental moderno? Que ansiedade ocidental – que desejo –
impulsiona esta exorbitância filosófico-política?’ (64). Weheliye prossegue concluindo:
“poderíamos muito bem afirmar que a escravatura racial representa o nomos biopolítico da
modernidade, particularmente tendo em conta o seu estatuto historicamente antecedente face ao
Holocausto e as muitas maneiras diferentes como destaca os modos contínuos e não
excepcionais de violência fisiológica”. e violência psíquica exercida sobre sujeitos negros desde
os primórdios da modernidade” (38).
O que está em jogo neste “ainda bem”? O que fundamenta o desejo comum daquilo que Anson
Rabinbach (2015) chamou de “excepcionalismo negativo” no cerne dos discursos afropessimistas
e judeopessimistas e das suas reivindicações exclusivas à violência “fundacional” da
modernidade ocidental? Wendy Brown (1993) criticou de forma persuasiva essas reivindicações
de identidade baseadas em queixas como “apegos feridos” a-históricos, através dos quais os
sujeitos e grupos se agarram às suas lesões passadas em vez de trabalharem para as reparar
em solidariedade com coligações politicamente mais produtivas. Neste espírito, é preocupante ver
em alguma recepção de Adorno até ao presente, particularmente na Alemanha, o uso do seu
trabalho sobre o anti-semitismo para promover agendas ideológicas específicas que traem o
impulso universalista, anti-nacionalista e anti-identitário do seu filosofia da não-identidade
articulada mais claramente na Dialética Negativa.
Como vimos, Adorno dificilmente se identificou como judeu até ser perseguido pelo regime
nazista como tal. Enquanto estava exilado nos Estados Unidos, ele se tornou parte de uma
comunidade de emigrados judeus, mas não religiosamente praticantes; como Horkheimer
explicou o funeral não-judeu de Adorno, a extensão do seu judaísmo foi que ele “se identificou
com os perseguidos” (citado em Claussen 2008: 365). Eric Oberle (2018) teorizou esta relação
como “identidade negativa”, que não é menos real por ser imposta de fora, mas que, no entanto,
resiste à identificação positiva e certamente à política de identidade nacional ou de grupo. Como
escreveu Adorno numa nota em 1963: “Quem pertence aos perseguidos deixou de possuir
qualquer forma ininterrupta de identificação. Os conceitos de terra natal [Heimat], país, estão
todos destruídos. Resta apenas uma terra natal da qual ninguém está excluído: a humanidade”
(citado em Claussen 2008: 25).
Dada a centralidade e a proeminência da oposição a todas as formas de identitarismo e
etnonacionalismo no pensamento de Adorno após a sua experiência traumática do fascismo, é
impressionante ver alguns leitores proeminentes de Adorno apresentá-lo como um apoiante do
sionismo. Num ensaio polêmico publicado no blog do jornal de direita Telos em 2014 e depois
anexado como epílogo de seu livro de 2018 sobre Adorno, Wahrheit und Katastrophe, Dirk
Braunstein (2018), o atual diretor do Arquivo do Instituto de Pesquisa Social, Adorno escrevendo
para sua amiga vienense Lotte Tobisch entre aspas em meio à guerra de 1967:
Estamos terrivelmente preocupados com Israel. Num canto da minha consciência sempre
imaginei que isso não iria bem no longo prazo, mas fiquei completamente surpreso que isso
estivesse acontecendo tão rapidamente. Só podemos esperar que os israelitas ainda serão
militarmente superiores aos árabes durante algum tempo, para que possam controlar a situação.
(Citado em Braunstein 2018: 328) Nesta passagem, Adorno expressa solidariedade e
preocupação com a situação de incontáveis sobreviventes do Holocausto que eram comuns entre
a sua geração de refugiados – especialmente porque ele se via como “aquele que escapou por
acidente, alguém que por direitos deveriam ter sido eliminados” (1973: 363). Em 1956, durante a
Crise de Suez, Adorno expressou de forma semelhante a sua preocupação com a segurança de
Israel em cartas a Gershom Scholem e Julius Ebbinghaus (Adorno e Scholem 2015; Jacobs 2014:
137). No entanto, como sugeriu Peter Gordon, talvez seja revelador que Adorno nunca tenha
encontrado tempo para aceitar os convites de Scholem para visitar Israel, e estas passagens de
preocupação compreensível não apoiam a conclusão implícita de Braunstein de que Adorno era
um sionista ou apoiava o Estado israelita como tal. (Gordão 2016). Na verdade, ele certamente
não teria apoiado os seus vários governos de extrema-direita nas décadas seguintes, nem
políticas etnonacionalistas como a Lei do Estado-Nação Judaica de 2018, que codificou a
superioridade judaica sobre os palestinianos. “A verdade é que Adorno sempre se irritou com o
comunalismo”, escreve Gordon. “Qualquer que seja a sua longevidade histórica ou utilidade
política, o etnonacionalismo foi para Adorno uma rendição aos instintos da horda, não um ideal
futuro” (Gordon 2016).
Braunstein invoca esta passagem para criticar o que ele considera uma “leitura errada” de Adorno
pelo estudioso de Estudos Iranianos da Universidade de Columbia, Hamid Dabashi. Num ensaio
intitulado “Gaza: Poesia depois de Auschwitz” (2014), Dabashi sugeriu que a famosa máxima de
Adorno sobre a poesia depois de Auschwitz também poderia ser aplicada à guerra de 2014 em
Gaza, que resultou no bombardeamento israelita matando mais de dois mil palestinianos,
enquanto militantes palestinianos sete mataram dois israelenses, a maioria deles soldados.
Dabashi escreveu provocativamente: 'Depois de Gaza, nem um único israelense vivo pode
pronunciar a palavra “Auschwitz” sem que soe como “Gaza”. Auschwitz como fato histórico é
agora arquivado. Auschwitz como metáfora é agora palestiniano. Dabashi vê “cristalizadas em
Israel” as preocupações sobre a violência dos Estados modernos “que Adorno viu, diagnosticou e
temeu”.
Braunstein contesta veementemente a releitura de Adorno “depois de Gaza” feita por Dabashi
como “propaganda” e “instrumentalismo furioso”, alegando que “o tema que preocupou Adorno
durante toda a sua vida depois de Auschwitz” não era um objectivo universal de prevenir futuras
atrocidades, mas especificamente de combater o “anti-semitismo”. . Certamente Braunstein tem
razão em denunciar qualquer inversão simplista ou “analogia vazia” em que “os judeus são os
nazis de hoje”. No entanto, o ensaio de Dabashi não foi um apelo às armas, mas um apelo ao
direito de lamentar os civis palestinianos esmagados pelas ruínas das suas próprias casas
bombardeadas – um direito que é cada vez mais negado à grande diáspora palestiniana na
Alemanha (Doughan e Toukan 2022). Embora Braunstein escreva que Adorno “resiste a esta
manipulação póstuma para se tornar um anti-sionista”, Adorno também claramente não toleraria a
violência contra civis feita em nome do sionismo. O problema mais grave da polémica de
Braunstein é que defende “Auschwitz” como propriedade moral exclusiva de uma perspectiva
provinciana alemã que privilegia o anti-semitismo em detrimento de outras formas de opressão
que, como vimos, também preocupava profundamente Adorno. Aqui diz-se que um determinado
“judeopessimismo” alemão monopoliza interpretações legítimas de Adorno. No entanto, como
Susan Neiman (2013) certa vez brincou, glosando uma máxima do pensador búlgaro Tzvedan
Todorov: “Os alemães deveriam falar sobre a particularidade do Holocausto, os judeus sobre a
sua universalidade” Anson Rabinbach explorou em profundidade por que uma geração de judeus
europeus, incluindo Adorno, Arendt e Zygmunt Bauman, fez exatamente isso, apresentando
teorias históricas e sociais altamente universalistas do Holocausto a partir de um investimento
geracional em tornar o Holocausto universalmente relevante, em vez de provincializá-lo como o
domínio exclusivo da história judaica ou alemã (2003).
O crítico literário palestino Edward Said referiu-se certa vez a si mesmo como “o último intelectual
judeu... o único verdadeiro seguidor de Adorno”. Deixe-me colocar desta forma: sou judeu-
palestino” (Shavit 2000). Said elogiou Adorno por exemplificar o intelectual como um “exilado
permanente” que esfrega sua própria sociedade contra a corrente e permanece um “pária
permanente, alguém que nunca se sentiu em casa e sempre esteve em desacordo com o meio
ambiente, inconsolável com o passado, amargo sobre o presente e o futuro” (1996: 56, 47). A
teórica crítica turca-judia Seyla Benhabib (2018) argumenta de forma semelhante que o trabalho
da Escola de Frankfurt sobre o exílio e a migração desafia o confinamento à sua história
particular; Os migrantes de hoje não são os mesmos de ontem, mas a experiência dos judeus nas
décadas de 1930 e 1940 inspirou os direitos humanos e as convenções antigéniocidas, agora
essenciais para proteger outros grupos perseguidos. Assim, o ensaio de Hannah Arendt de 1943,
“Nós Refugiados”, sobre uma experiência particular de perseguição e exílio de judeus alemães,
foi reeditado em alemão numa edição de bolso best-seller em 2015, durante a crise dos
refugiados sírios. Adorno escreveu uma vez que “o pensamento aberto aponta para além de si
mesmo” (2005: 293); Usando seu pensamento e sua vida como modelo, teríamos também que
acrescentar que a experiência e a perseguição judaicas apontam para além de si mesmas. Estes
casos mostram a “multidirecionalidade vivida” em ação (Sultan Doughan em Catlin 2022; ver
elaboração em Rothberg 2022b).
Uma outra razão para revisitar o trabalho da Escola de Frankfurt sobre o anti-semitismo é que,
para invocar Keynes, os factos mudaram. A historiografia do Terceiro Reich e do Holocausto
expandiu-se enormemente e transformou-se para além dos modelos fixados em 'Auschwitz' como
'a própria capital do Holocausto' (Hayes 2003) e reflectida na compreensão judaocêntrica do
regime nazi de Saul Friedländer (1997). como impulsionado pelo zelo do “anti-semitismo redentor”
como religião política. Empire of Destruction: A History of Nazi Mass Killing (2021), de Alex J. Kay,
começa esta história num lugar muito anterior e inesperado: a fome sistemática de alemães
deficientes durante o racionamento da Primeira Guerra Mundial. As continuidades de pessoal, a
ideologia racial-científica eugénica e os critérios de “incapacidade para o trabalho”, “comedores
inúteis” e “vida indigna de vida” estabeleceram mais tarde ligações directas entre a Operação T4
contra os deficientes e o posterior genocídio dos Judeus. Aqui Kay ecoa uma afirmação feita por
Henry Friedlander décadas atrás: “a eutanásia não foi simplesmente um prólogo, mas o primeiro
capítulo do genocídio nazista” (Friedlander 1995: xii; Kay 2021: 40). Num outro capítulo, Kay
mostra como os nazis também mantinham uma “identificação geral de Roma com os
guerrilheiros” (2021: 115) e os mataram com base nisso, tal como os primeiros assassinatos de
judeus no Oriente foram justificados com base na “igualação 'Judeus com partidários' (175) –
embora estes grupos fossem de facto 'menos propensos a serem partidários' (182). Da mesma
forma, “embora as motivações económicas estivessem no centro das propostas para fazer morrer
de fome [cerca de 7] milhões de cidadãos soviéticos, as considerações raciais moldaram o
discurso quando se tratava do que era considerado possível ou não” (126). Em todos estes
casos, a “ideologia supremacista racial tornou-se o meio pelo qual os seres humanos
alegadamente supérfluos foram identificados” (127). Na preparação para o genocídio dos judeus
europeus, o pensamento racial exterminacionista combinado com a ameaça paranóica do
partidarismo, Dirk Moses (2021a) chamou a busca nazi de “segurança permanente” no Oriente.
Décadas atrás, o historiador Arno Mayer (1988), ele próprio um ex-criança judia refugiada de
Luxemburgo, argumentou que apenas a nova ameaça do “judaico-bolchevismo” na guerra
imperial expansionista nazista no Oriente, e não simplesmente o antigo fenômeno do
antissemitismo como preconceito ou ideologia, poderia explicar a virada para o extermínio. Judeo-
Bolchevismo (2018), de Paul Hanebrink, enfatiza de forma semelhante o poder deste conceito
mítico no imaginário nazi, o que explica a razão pela qual os judeus foram mortos como
partidários que se supunha estarem associados, na ideologia e na imaginação nazis, à máquina
de guerra soviética. Como Enzo Traverso (2022) escreveu mais recentemente nesta tradição:
Durante a guerra, estas três dimensões do nazismo [anti-comunismo, colonialismo e anti-
semitismo] fundiram-se resultando num processo único: a destruição da URSS, a colonização da
Europa Central e Oriental e o extermínio dos judeus tornaram-se objectivos inseparáveis. Para a
ideologia nazi, a URSS reuniu duas formas de alteridade que moldaram a história ocidental
durante dois séculos: o judeu e o sujeito colonial. Esta reavaliação enquadra-se em outros
estudos, como o recente trabalho de Richard Overy, Blood and Ruins (2022), que reformula a
guerra não como um choque entre democracia e tirania ou liberdade e totalitarismo – quadros que
funcionam melhor para as frentes europeias do que para o Pacífico – mas sim como como uma
luta entre impérios em exercício (Grã-Bretanha, França, União Soviética e Estados Unidos) e
insurgentes (Japão, Itália e Alemanha) sobre colónias, “espaço vital” e esferas de influência. Em
Agosto de 1941, após uma viagem pela Ucrânia recentemente ocupada, Hitler elogiou “o colono
alemão” e proclamou: “O que a Índia foi para a Inglaterra, os territórios da Rússia serão para nós”
(Lower 2005: 24). ‘A fome e a colonização fosse a política alemã”, escreveu Timothy Snyder de
forma semelhante: “discutiu, acordou, formulou, distribuiu e compreendeu” (2010: 163).
Estes relatos equivalem ao que Saul Friedländer, escrevendo em 1985, chamou de
“interpretações globais do nazismo” construídas sobre quadros históricos universais como o
“fascismo”, o “totalitarismo” ou, como é cada vez mais o caso hoje, o “império” (1989: 4 ). Contra
os proponentes alemães de escrever a história “quotidiana” do nazismo, como Martin Broszat,
Friedländer insistiu no “caráter sui generis” do regime, enfatizando “a centralidade dos impulsos
anti-semitas de Hitler” no Judeocídio (31). No entanto, embora Friedländer tenha conseguido
distinguir a particularidade e o significado do genocídio dos judeus outras atrocidades nazis, a sua
tese única de “anti-semitismo redentor” também obscureceu o contexto essencial mais amplo da
implacável guerra colonial anti-soviética no Oriente, cujas condições a tornaram possível.
Mesmo dentro da história judaica, a ênfase de Friedländer na singularidade do anti-semitismo
nazista é complicada pelo trabalho de Steven Zipperstein (2018) sobre o Pogrom de Kishinev
(então parte do Império Russo) de 1903 e o trabalho de Jeffrey Veidlinger (2021) sobre os
pogroms ucranianos de 1918–21. , em que mais de cem mil judeus foram mortos, sendo que
ambas foram "catástrofes" fundamentais (iídiche, khurban) por direito próprio, com as suas
próprias práticas memoriais e factores contextuais particulares que activaram anti-semitismo de
longa data em assassinato em massa. Veidlinger mostra que a esmagadora proporção de vítimas
do Holocausto da Europa Oriental experimentaram a sua perseguição como uma repetição destes
precedentes agora largamente esquecidos, e argumenta mesmo que deveríamos ver o
Holocausto como tendo começado com estas tradições pré-nazis de assassinato em massa anti-
semita na Europa Oriental. Europa. O retrato que emerge desta historiografia recente não é nem
o de um “anti-semitismo eterno” indiferenciado, nem o do Holocausto como um afastamento
excepcional e radical, mas sim de configurações contingentes de violência racial que formam
ligações e continuidades ao longo da história europeia e para além dela.
Conclusão: Rumo a um Adorno “multidirecional”
Adorno escreveu na sua obra final e inacabada, Teoria Estética: “Mesmo antes de Auschwitz, era
uma mentira afirmativa, dada a experiência histórica, atribuir qualquer significado positivo à
existência” (2002: 152). No entanto, "depois de Auschwitz", o potencial genocida das sociedades
modernas tornou-se claramente manifesto e identificado com este campo de extermínio e com as
ideologias anti-semitas exterminadoras que levaram ao assassinato de aproximadamente um
milhão de vítimas judias, o maior número de qualquer local no Holocausto. . Graças, em parte, ao
trabalho de figuras como Adorno no seu papel de intelectual público, Auschwitz
continua a servir hoje como um lembrete único, universalmente poderoso e reconhecido da
brutalidade de que a sociedade moderna é capaz, e continua a deixar uma mancha indelével
nessa forma social como um genocídio que continua a 'chocar a consciência da humanidade'
(Moses 2021a : 4) Enquanto muitos outros horrores que esta mesma ordem produziu foram
ignorados ou esquecidos.
Consistente com a proibição geral de Adorno sobre prescrições para a vida ética numa sociedade
falsa (ver a Palestra do Prémio Adorno de 2012 de Judith Butler), os seus escritos teóricos sobre
o anti-semitismo oferecem pouco em termos de resposta à velha questão, “o que deve ser feito?”
As suas palestras para estudantes e público público, no entanto, oferecem alguns insights
práticos. Apesar de todas as suas dúvidas autónomas sobre o poder da racionalidade para
permitir a subjetividade moral em textos como Dialética, mais tarde ele defendeu frequentemente
o cultivo da moralidade através da autonomia e da racionalidade na tradição iluminista: “O único
poder genuíno que se opõe ao princípio de Auschwitz é a autonomia, se eu poderia usar a
expressão kantiana: o poder da reflexão, da autodeterminação, da não cooperação” (Adorno
2005: 195). Nesse projeto, Adorno combinou o poder da racionalidade crítica com insights
psicanalíticos e a crítica da ideologia marxista-materialista. Na sua palestra de 1962, ainda não
traduzida, “Combating Antisemitism Today”, Adorno chegou a uma notável conclusão freudiana:
apenas o “Iluminismo militante” pode quebrar o “encanto” do preconceito anti-semita, trazendo os
seus mecanismos inconscientes à luz da razão, da reflexão e da opinião pública. debate (Adorno
1986: 382). Da mesma forma, ele disse numa palestra de 1967 que a propaganda e a substância
ideológica dos movimentos antissemitas de direita só podem ser combatidas com o “poder
penetrante da razão, com a verdade genuinamente não ideológica” (Adorno 2020: 40). Os mitos
sobre os quais o anti-semitismo projectivo ainda hoje se sustenta não podem ser combatidos com
mais manipulação, mas apenas com o esclarecimento e a reflexão crítica que Adorno considerava
que, em última análise, exigiam a transformação radical da sociedade capitalista tardia.
Finalmente, o anti-semitismo não pode ser combatido independentemente do reconhecimento e
da abordagem de outras formas de violência histórica, discriminação e perseguição que formam a
“unidade infernal” que Adorno identificou entre Auschwitz e outros acontecimentos na “catástrofe
permanente” da sociedade moderna. O Adorno “multidirecional” que apresentei apoiaria o apelo
de Michael Rothberg à “solidariedade diferenciada” como a forma mais adequada de prosseguir
uma ética e política de não-identidade para o mundo contemporâneo: “Diante da implicação
complexa” em várias atrocidades históricas , “uma política multidirecional de solidariedade
diferenciada e de longa distância tem maior valor do que uma política baseada na identificação,
na pureza ou na separação absoluta entre locais e histórias” (2019: 203). A “sociedade
emancipada” que Adorno imaginou “na qual as pessoas poderiam ser diferentes sem medo” ainda
requer “a realização da universalidade na reconciliação das diferenças” (1974: 103).
Você também pode gostar
- Hannah Arendt - Antissemitmismo, Imperialismo e TotalitarismoDocumento12 páginasHannah Arendt - Antissemitmismo, Imperialismo e TotalitarismoYue_TenouAinda não há avaliações
- Desobediência Epistêmica - Walter MignoloDocumento38 páginasDesobediência Epistêmica - Walter MignoloDheneffer NascimentoAinda não há avaliações
- Resenha: As Novas Bases Do Estudo e Da Prática HumanistasDocumento3 páginasResenha: As Novas Bases Do Estudo e Da Prática HumanistasCamila Lourenço de SouzaAinda não há avaliações
- Teoria Crítica e Estética ModernaDocumento8 páginasTeoria Crítica e Estética ModernaEliasManoelSilvaAinda não há avaliações
- Resenha Origens Do TotalitarismoDocumento5 páginasResenha Origens Do TotalitarismoAdriano Sousa100% (2)
- Tópico 5Documento5 páginasTópico 5Haru LynxAinda não há avaliações
- Wilhelm Dilthey e a autonomia das ciências histórico-sociaisNo EverandWilhelm Dilthey e a autonomia das ciências histórico-sociaisAinda não há avaliações
- (Artigo) Grosfoguel - Racismo Epistêmico PDFDocumento4 páginas(Artigo) Grosfoguel - Racismo Epistêmico PDFIsabella CLAinda não há avaliações
- Jeffrey HERF. O Modernismo Reacionário.Documento11 páginasJeffrey HERF. O Modernismo Reacionário.Leonardo Biazotto100% (1)
- Crítica Da Moral Como PolíticaDocumento9 páginasCrítica Da Moral Como PolíticaDik Grace M. MulliganAinda não há avaliações
- Einstein Socialista: entrevistas, manifestos e artigos do maior cientista do século XXNo EverandEinstein Socialista: entrevistas, manifestos e artigos do maior cientista do século XXAinda não há avaliações
- O Lugar de Marx e Engels Na Modernidade Raça, Colonialismo e Eurocentrismo Blog Da BoitempoDocumento1 páginaO Lugar de Marx e Engels Na Modernidade Raça, Colonialismo e Eurocentrismo Blog Da BoitempoDriEiko Eiko MatsumotoAinda não há avaliações
- Humanismo e Crítica DemocráticaDocumento3 páginasHumanismo e Crítica DemocráticaJean Paul Costa SilvaAinda não há avaliações
- 231 - O Ilusionista Herbert MarcuseDocumento6 páginas231 - O Ilusionista Herbert MarcuseNathan MagnoAinda não há avaliações
- Robin Phillips OIlusionista PDFDocumento11 páginasRobin Phillips OIlusionista PDFAndréAinda não há avaliações
- Roteiro IV - Fundamentos DHs II - 2023-2Documento24 páginasRoteiro IV - Fundamentos DHs II - 2023-2Juan Luis Condori Gutierrez UnfvAinda não há avaliações
- Passageiros da tempestade: fascistas e negacionistas no tempo presenteNo EverandPassageiros da tempestade: fascistas e negacionistas no tempo presenteAinda não há avaliações
- RANCIÈRE Quem É o Sujeito Dos Direitos Do HomemDocumento19 páginasRANCIÈRE Quem É o Sujeito Dos Direitos Do HomemClara LisboaAinda não há avaliações
- Diciplina História ComteporaneaDocumento11 páginasDiciplina História ComteporaneaCTA centro de treinamento avançadoAinda não há avaliações
- Resenha Pessimismo Sentimental SahlinsDocumento8 páginasResenha Pessimismo Sentimental SahlinsBruna Kloppel100% (1)
- Lukes IndividualismoDocumento15 páginasLukes IndividualismoÍtalo Teles100% (1)
- Kabengele-Munanga - Algumas Considerações Sobre 'Raça', Ação Afirmativa e Identidade Negra No Brasil Fundamentos AntropologicosDocumento12 páginasKabengele-Munanga - Algumas Considerações Sobre 'Raça', Ação Afirmativa e Identidade Negra No Brasil Fundamentos AntropologicoswandersonnAinda não há avaliações
- Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homensNo EverandDiscurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homensNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (219)
- (!!!) Teoria e Debate Descobrindo e EncobrindoDocumento3 páginas(!!!) Teoria e Debate Descobrindo e EncobrindoDaniel de Faria GalvãoAinda não há avaliações
- Os Selvagens e A Massa - Renato Da SilveiraDocumento58 páginasOs Selvagens e A Massa - Renato Da SilveiraJazznunesAinda não há avaliações
- Resenha Livro Linhagens Do Presente, Aijaz AhmadDocumento6 páginasResenha Livro Linhagens Do Presente, Aijaz AhmadThaíseSantanaAinda não há avaliações
- HannahArendt TrabalhoObraAção ApresentaçãoAdrianoCorreiaDocumento5 páginasHannahArendt TrabalhoObraAção ApresentaçãoAdrianoCorreiaFernanda Coelho de PaulaAinda não há avaliações
- GROSFOGUEL, Ramon. Dilemas Dos Estudos Étnicos Norte-Americanos PDFDocumento4 páginasGROSFOGUEL, Ramon. Dilemas Dos Estudos Étnicos Norte-Americanos PDFAna Luísa Machado de CastroAinda não há avaliações
- Prova 3 Per. 3º Ano - SociologiaDocumento3 páginasProva 3 Per. 3º Ano - SociologiaetiepserAinda não há avaliações
- O discurso do pioneirismo e a invenção do Sul do Brasil: eurocentrismo e decolonialidadeNo EverandO discurso do pioneirismo e a invenção do Sul do Brasil: eurocentrismo e decolonialidadeAinda não há avaliações
- Adauto Novaes - Intelectuais em Tempos de IncertezaDocumento8 páginasAdauto Novaes - Intelectuais em Tempos de IncertezaAuana DinizAinda não há avaliações
- NegacionismoDocumento21 páginasNegacionismoLidiane Friderichs100% (1)
- FURET, François. A Oficina Da HistóriaDocumento198 páginasFURET, François. A Oficina Da HistóriaThéo Sophia100% (5)
- A Ofensiva Teorica Do Anti-Humanismo em Zizek e Alain Badiou - Ruy Fausto PDFDocumento5 páginasA Ofensiva Teorica Do Anti-Humanismo em Zizek e Alain Badiou - Ruy Fausto PDFFlávio LyraAinda não há avaliações
- As Origens Do Totalitarismo de Hannah ARENDTDocumento26 páginasAs Origens Do Totalitarismo de Hannah ARENDTRafael Henrique Censon100% (3)
- Paulo de Tarso na filosofia política atual e outros ensaiosNo EverandPaulo de Tarso na filosofia política atual e outros ensaiosAinda não há avaliações
- Dos Usos Da Cultura - Civilização, Cultura e SubjetividadesDocumento20 páginasDos Usos Da Cultura - Civilização, Cultura e SubjetividadesJosiane LinoAinda não há avaliações
- Ideologia e Contraideologia Temas e Vari PDFDocumento5 páginasIdeologia e Contraideologia Temas e Vari PDFMauro L.Ainda não há avaliações
- Della Torre - Adorno e o Novo Radicalismo de Direita LabemusDocumento10 páginasDella Torre - Adorno e o Novo Radicalismo de Direita LabemusNATASHA SILVAAinda não há avaliações
- Aime Cesaire - Humanismo e ColonialidadeDocumento2 páginasAime Cesaire - Humanismo e ColonialidadeGugu QueirósAinda não há avaliações
- Pierre Clastres (In Os Antropólogos)Documento17 páginasPierre Clastres (In Os Antropólogos)bconde28Ainda não há avaliações
- Gandhi, Leela. 1998. Postcolonial TheoryDocumento11 páginasGandhi, Leela. 1998. Postcolonial TheoryThays RodriguesAinda não há avaliações
- Consideraçoes Sobre o Revisionismo, Notas de Pesquisa Sobre As Tendencias Atuais Da Historiografia BrasileiraDocumento14 páginasConsideraçoes Sobre o Revisionismo, Notas de Pesquisa Sobre As Tendencias Atuais Da Historiografia BrasileiraannalocaloiraAinda não há avaliações
- O Histórico Do Socialismo Internacional E A Sua Visão No BrasilNo EverandO Histórico Do Socialismo Internacional E A Sua Visão No BrasilAinda não há avaliações
- NIETZCHE E O MULTICULTURALISMO - OriginalDocumento21 páginasNIETZCHE E O MULTICULTURALISMO - OriginalJavier LifschitzAinda não há avaliações
- Grandes Guerras: de Sarajevo a Berlim, uma nova perspectiva sobre os dois maiores conflitos do século XXNo EverandGrandes Guerras: de Sarajevo a Berlim, uma nova perspectiva sobre os dois maiores conflitos do século XXAinda não há avaliações
- Cult Especial 9 - Hannah Arendt (Autores, Vários)Documento30 páginasCult Especial 9 - Hannah Arendt (Autores, Vários)Lupercio SilvaAinda não há avaliações
- Dos Meios Às Medições - Cap 3Documento30 páginasDos Meios Às Medições - Cap 3Eliaquim FerreiraAinda não há avaliações
- Racismo Estrutural: Uma perspectiva histórico-críticaNo EverandRacismo Estrutural: Uma perspectiva histórico-críticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A Escola de Frankfurt - Investigação Social e MarxismoDocumento5 páginasA Escola de Frankfurt - Investigação Social e MarxismoJonas de PinhoAinda não há avaliações
- Introdução A QTPDocumento88 páginasIntrodução A QTPTiago PinheiroAinda não há avaliações
- Soberania, direito e violência: democracia e(m) estado de exceção permanenteNo EverandSoberania, direito e violência: democracia e(m) estado de exceção permanenteAinda não há avaliações
- O feiticeiro da tribo: Vargas Llosa e o liberalismo na América LatinaNo EverandO feiticeiro da tribo: Vargas Llosa e o liberalismo na América LatinaAinda não há avaliações
- PEREIRA, W. P. O Julgamento de Nuremberg e o de Eichmann em Jerusalém - o Cinema Como Fonte, Prova Documental e Estratégia PedagógicaDocumento18 páginasPEREIRA, W. P. O Julgamento de Nuremberg e o de Eichmann em Jerusalém - o Cinema Como Fonte, Prova Documental e Estratégia PedagógicaDiogo LemosAinda não há avaliações
- 21 Ideias do Fronteiras do Pensamento para Compreender o Mundo AtualNo Everand21 Ideias do Fronteiras do Pensamento para Compreender o Mundo AtualNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Texto - Wendy Brown Nas Ruínas Do NeoliberalismoDocumento7 páginasTexto - Wendy Brown Nas Ruínas Do NeoliberalismogouvedelAinda não há avaliações
- Edward M. Harris - Notas Sobre Uma Carta de Chumbo Do Atenenian AgoraDocumento4 páginasEdward M. Harris - Notas Sobre Uma Carta de Chumbo Do Atenenian AgoragouvedelAinda não há avaliações
- E. R. DODDS - Os Gregos e o IrracionalDocumento11 páginasE. R. DODDS - Os Gregos e o IrracionalgouvedelAinda não há avaliações
- Notas Sobre Duas Concepções de VerdadeDocumento10 páginasNotas Sobre Duas Concepções de VerdadealmozzerAinda não há avaliações
- Ella HASELSWERDT - Re-Queering SafoDocumento7 páginasElla HASELSWERDT - Re-Queering SafogouvedelAinda não há avaliações
- Genevieve LLOYD - O HOMEM DA RAZÃODocumento13 páginasGenevieve LLOYD - O HOMEM DA RAZÃOgouvedelAinda não há avaliações
- Emily Greenwood - Reconstruindo A Filologia ClássicaDocumento8 páginasEmily Greenwood - Reconstruindo A Filologia ClássicagouvedelAinda não há avaliações
- BLOCH, Ernst e Theodor W. ADORNO. - Algo Está Faltando, Uma Discussão Entre Ernst Bloch e Theodor Adorno Sobre As Contradições Do Desejo UtópicoDocumento10 páginasBLOCH, Ernst e Theodor W. ADORNO. - Algo Está Faltando, Uma Discussão Entre Ernst Bloch e Theodor Adorno Sobre As Contradições Do Desejo UtópicogouvedelAinda não há avaliações
- As Guerras Persas - Cap 11Documento16 páginasAs Guerras Persas - Cap 11gouvedelAinda não há avaliações
- D. E. McCoske - Atena Negra, Poder BrancoDocumento7 páginasD. E. McCoske - Atena Negra, Poder BrancogouvedelAinda não há avaliações
- Marcuse, H. - Tecnologia - Dominação e Princípio de Libertação e H. Marcuse - EnsaioDocumento12 páginasMarcuse, H. - Tecnologia - Dominação e Princípio de Libertação e H. Marcuse - EnsaiogouvedelAinda não há avaliações
- DAVIS, Ângela - Os Legados de MarcuseDocumento6 páginasDAVIS, Ângela - Os Legados de MarcusegouvedelAinda não há avaliações
- Os Jovens Não Deveriam Ter Seus Próprios Celulares Antes Dos 12 Ou 13 AnosDocumento5 páginasOs Jovens Não Deveriam Ter Seus Próprios Celulares Antes Dos 12 Ou 13 AnosgouvedelAinda não há avaliações
- Ser Humano É Ser Na Linguagem - Marcos Bagno - UNBDocumento17 páginasSer Humano É Ser Na Linguagem - Marcos Bagno - UNBgouvedelAinda não há avaliações
- CANETTI, Elias - O Dia Quinze de JulhoDocumento5 páginasCANETTI, Elias - O Dia Quinze de JulhogouvedelAinda não há avaliações
- ÁSIA - Oriente MédioDocumento161 páginasÁSIA - Oriente Médiogouvedel100% (1)
- (1947) Horkheimer e Adorno - SOBRE A GÊNESE DA BURRICEDocumento2 páginas(1947) Horkheimer e Adorno - SOBRE A GÊNESE DA BURRICEEspaço Literário100% (1)
- A Literatura Da Cultura de MassaDocumento20 páginasA Literatura Da Cultura de MassajaircowbAinda não há avaliações
- Fichamento Marcos Nobre - A Teoria CríticaDocumento17 páginasFichamento Marcos Nobre - A Teoria CríticaPedro MorgadoAinda não há avaliações
- FICO Carlos A Historia Que Temos Vivido PDFDocumento18 páginasFICO Carlos A Historia Que Temos Vivido PDFTales NogueiraAinda não há avaliações
- Ciência, Reflexão e Crítica Nos Estudos de MídiaDocumento14 páginasCiência, Reflexão e Crítica Nos Estudos de MídiaVideo KingAinda não há avaliações
- 05 O Corpo Na Dança: Uma Reflexão A Partir Dos Olhares Da Indústria CulturalDocumento19 páginas05 O Corpo Na Dança: Uma Reflexão A Partir Dos Olhares Da Indústria CulturalKiran GorkiAinda não há avaliações
- Cohn G, 1990. Difícil Reconciliação - Adorno e A Dialética Da Cultura.Documento10 páginasCohn G, 1990. Difícil Reconciliação - Adorno e A Dialética Da Cultura.Fabio QueirozAinda não há avaliações
- Sociologia ContemporâneaDocumento16 páginasSociologia ContemporâneaVictóriaAinda não há avaliações
- O Mundo Como Fantasma e Matriz: Considerações Filosóficas Sobre o Rádio e A Televisão - Uma Tradução Crítica de "O Antiquismo Do Homem", de Günther AndersDocumento83 páginasO Mundo Como Fantasma e Matriz: Considerações Filosóficas Sobre o Rádio e A Televisão - Uma Tradução Crítica de "O Antiquismo Do Homem", de Günther AndersThiago Scarelli100% (1)
- Universidade Federal de Goiás Programa de Pós-Graduação em Educação Doutorado em EducaçãoDocumento198 páginasUniversidade Federal de Goiás Programa de Pós-Graduação em Educação Doutorado em EducaçãoStorm DKAinda não há avaliações
- O Adventista e As JoiasDocumento9 páginasO Adventista e As JoiasAndré Reis67% (3)
- MASS, Olmaro. A Filosofia Como Exercício de Abertura Ao Nao-IdenticoDocumento147 páginasMASS, Olmaro. A Filosofia Como Exercício de Abertura Ao Nao-IdenticoitaloAinda não há avaliações
- Educação e Emancipação HumanaDocumento14 páginasEducação e Emancipação Humanaglautonvarela6090Ainda não há avaliações
- Disserta o de Mestrado Ricardo Constante MartinsDocumento200 páginasDisserta o de Mestrado Ricardo Constante MartinsAluizio Palmar0% (1)
- Ilha Do Medo - ..... Leitura PsicanaliticaDocumento22 páginasIlha Do Medo - ..... Leitura PsicanaliticaFabioGerolinAinda não há avaliações
- Entre A Razão e A ExperiênciaDocumento427 páginasEntre A Razão e A ExperiênciaDaiane L.Ainda não há avaliações
- Theodor Adorno - Teoria Da SemiculturaDocumento12 páginasTheodor Adorno - Teoria Da SemiculturaluisnascimentoAinda não há avaliações
- DuarteRodrigo - Dizer o Que Não Se Deixa Dizer PDFDocumento144 páginasDuarteRodrigo - Dizer o Que Não Se Deixa Dizer PDFRizzia RochaAinda não há avaliações
- Jorgelarrosa-Pedagogia Profana1-1 PDFDocumento10 páginasJorgelarrosa-Pedagogia Profana1-1 PDFhelio_bacAinda não há avaliações
- Tese Do Eduardo Guerreiro Sobre Adorno e MísticaDocumento343 páginasTese Do Eduardo Guerreiro Sobre Adorno e MísticaSilvio Alves100% (1)
- P e S Volume 13 Numero 2 2001Documento178 páginasP e S Volume 13 Numero 2 2001frazaomeirellesAinda não há avaliações
- A Indústria CulturalDocumento19 páginasA Indústria CulturalErica Fernandes100% (12)
- A Arte e Outros Inutensílios (Paulo Leminski)Documento8 páginasA Arte e Outros Inutensílios (Paulo Leminski)sisanpecasAinda não há avaliações
- Galvano Della Volpe - Crítica de Um Paradoxo Tardo-RomânticoDocumento4 páginasGalvano Della Volpe - Crítica de Um Paradoxo Tardo-RomânticoCleilson BrazAinda não há avaliações
- As Estéticas e Suas Definições Da ArteDocumento15 páginasAs Estéticas e Suas Definições Da ArteWalmirRodriguesAinda não há avaliações
- Construir, Morar, Pensar, Releitura Heidegger - Fernando FuãoDocumento22 páginasConstruir, Morar, Pensar, Releitura Heidegger - Fernando FuãoKarliane MassariAinda não há avaliações
- A Relação Dialética - KowarzikDocumento17 páginasA Relação Dialética - KowarzikAdriano SantosAinda não há avaliações
- Infancia e Adolescencia Na Cultura Do ConsumoDocumento177 páginasInfancia e Adolescencia Na Cultura Do ConsumoCláudia Maria Perrone100% (1)
- O Que É Um Ensaio-TeoricoDocumento13 páginasO Que É Um Ensaio-TeoricoGuilherme OliveiraAinda não há avaliações
- Experiencia e Pobreza Da ExpDocumento3 páginasExperiencia e Pobreza Da ExpliliancorAinda não há avaliações