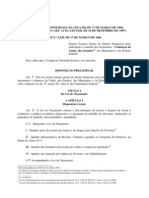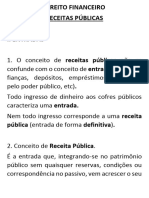Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
AFO - Nota de Aula Sobre Direito Financeiro
AFO - Nota de Aula Sobre Direito Financeiro
Enviado por
Marciano MenezesDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
AFO - Nota de Aula Sobre Direito Financeiro
AFO - Nota de Aula Sobre Direito Financeiro
Enviado por
Marciano MenezesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Prof. ANDR LUS DE CARVALHO andreua@tcu.gov.
br
DIREITO FINANCEIRO
2.1. Atividade Financeira do Estado. Conceito, Caractersticas e Finalidades.
a) Conceito: "consiste em obter (receita pblica), criar (crdito pblico), gerir (oramento p-
blico) e despender (despesa pblica) o dinheiro indispensvel s necessidades, cuja satisfao
o Estado assumiu ou cometeu queloutras pessoas de direito pblico" (Aliomar Baleeiro) .
b) Finalidades: a atividade financeira do Estado est vinculada satisfao de trs necessidades
pblicas bsicas, inseridas na ordem jurdico-constitucional:
i. Prestao de servios pblicos;
ii. Exerccio regular do poder de polcia;
iii. Interveno no domnio econmico.
2.2. Direito Financeiro. Conceito e Delimitao.
a) Conceito: Direito Financeiro o conjunto das normas legais que regulam a atividade financeira
do Estado;
b) Delimitao: Conforme a CF /88 --- art. 24, I e 1 e 2 --- compete Unio, aos Estados e ao
Distrito Federal legislarem concorrente mente sobre Direito Financeiro. Em se tratando de legisla-
o concorrente, estatui a CF que a Unio limitar-se- a estabelecer normas gerais ( 1). Essa
competncia da Unio no exclui a competncia suplementar dos Estados e do DF para legisla-
rem sobre Direito Financeiro ( 2). Se no existirem normas gerais estatudas pela Unio, os Es-
tados e o DF exercero competncia legislativa plena (3). Nessa hiptese, a supervenincia
da lei federal, tratando-se de normas gerais, suspender a eficcia da lei estadual ou distrital, no
que lhe for contrria ( 4). Interpretando o disposto no artigo mencionado com o art. 32, 1, CF,
h que se concluir no sentido de que o DF possui, em termos de legislao concorrente, as mes-
mas competncias dos Estados. De acordo com alguns doutrinadores, amparados pelo que dis-
pe o art. 30, II, CF, os Municpios tambm podero legislar sobre questes de Direito Financeiro.
2.3. Despesa pblica. Conceito. Aspectos Jurdicos. Aspectos Econmicos. Classificao. Proces-
samento. Empenho, Liquidao e Pagamento.
a) Conceito: segundo Aliomar Baleeiro, a expresso despesa pblica tem dois significados:
i. Designa o conjunto dos dispndios do Estado, ou de outra pessoa de direito pblico, para
o funcionamento dos servios pblicos;
ii. ii. Significa a aplicao de certa quantia, em dinheiro, por parte da autoridade ou agente
pblico competente, dentro duma autorizao legislativa, para execuo de fim a cargo do
governo.
b) Aspectos Jurdicos: a despesa pblica insere-se no contexto da legalidade, tendo em vista a
necessidade de sua previso na lei oramentria anual ( 5, 6 e 9 do art. 165 e arts. 167 e
169, todos da CF /88) ;
c) Aspectos Econmicos: o dispndio, caracterizando um gasto para os cofres do Poder Pblico
de um lado, e, de outro, consumo para os beneficirios; a riqueza pblica que representa um
bem econmico, reunido no acervo das rendas obtidas pela iniciativa do prprio Estado (do seu
domnio privado) e tambm da arrecadao por ele obtida pelo exerccio do seu ius imperii;
d) Aspectos Polticos: quando se opera a satisfao de uma necessidade pblica eleita pelo
Estado na escala de prioridades e efetivada por meio dos servios pblicos;
e) Requisitos (PUF LeLe): os requisitos das despesas pblicas so baseados em critrios econ-
micos e sociais, quais sejam: a) utilidade; b) legitimidade; c) legalidade; d) publicizao; e)
fiscalizao.
f) Classificao: a classificao da despesa pblica pode se dar pelos critrios da periodicidade,
da competncia constitucional, pelo aspecto econmico e, finalmente, pelo critrio legal:
i. Critrio da periodicidade: as despesas pblicas podem ser ordinrias ou extraordinrias:
1. despesas ordinrias: so aquelas despesas que constituem, normalmente, a rotina dos ser-
vios pblicos e que so anualmente renovadas, isto , a cada oramento;
2. despesas extraordinrias: so aquelas destinadas a atender a servios de carter espordi-
co, oriundos de conjunturas excepcionais e que, por isso mesmo, no se renovam todos os
anos.
ii. Critrio da competncia constitucional: as despesas pblicas se dividem em despesas federais,
estaduais e municipais:
1. despesas pblicas federais: so aquelas para realizao dos fins e servios pblicos que
competem privativamente Unio, nos termos do art. 21 da CF;
2. despesas pblicas estaduais: so aquelas relacionadas com as atribuies conferidas aos
Estados-membros, i.e., as que no se inserem no mbito de competncia da Unio e dos Mu-
nicpios, na forma do 1 do art. 25 da CF/88;
3. despesas pblicas municipais: so aquelas relacionadas com o exerccio da competncia
municipal, prevista no art. 30 da CF /88.
iii. Critrio da classificao econmica: nesse critrios as despesas pblicas se dividem em des-
pesa-compra e despesa- transferncia:
1. despesa-compra: aquela realizada para compra de produtos e servios (aquisio de bens
de consumo, folha de pagamento do funcionalismo etc.);
2. despesa-transferncia: aquela que no corresponde aplicao governamental direta, li-
mitando-se a criar rendimentos para os indivduos sem qualquer contraprestao destes (juros
da dvida pblica, penses, subvenes sem encargos etc.).
iv. Critrio legal: encontra-se no art. 12 da Lei 4.320/64, recepcionada pelo 9 do art. 165 da CF.
As despesas pblicas se classificam em correntes e de capital:
1. despesas pblicas correntes: abrangem as de custeio, que correspondem s dotaes para
manuteno de servios anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de
conservao e adaptao de bens imveis ( 1) , e as transferncias correntes, que corres-
pondem s dotaes para despesas sem contraprestao direta em bens ou servios, inclusive
para contribuies e subvenes destinadas a atender manifestao de outras entidades de
direito pblico ou privado ( 2);
2. despesas pblicas de capital: abrangem os investimentos em obras ( 4); as inverses fi-
nanceiras, que so conformes s dotaes para aquisio de imveis, aquisio de ttulos re-
presentativos de capital de empresas em funcionamento, constituio ou aumento de capital de
entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros etc. ( 5), e transfe-
rncia de capital, que so correlatas s dotaes para investimentos ou inverses financeiras
que outras pessoas de direito pblico ou privado devam realizar, independentemente de con-
traprestao direta em bens ou servios, bem como as dotaes para amortizao da dvida
pblica ( 6).
g) Processamento: Empenho, Liquidao e Pagamento.
i. Empenho: segundo o art. 58 da Lei 4.320/64, empenho " o ato emanado de autoridade
competente que cria para o Estado obrigao de pagamento pendente ou no de implemento
de condio" .O empenho deve ser prvio. Ele, o empenho, visa garantir os diferentes credores
do Estado, na medida em que representa reserva de recursos na respectiva dotao inicial ou
no saldo existente. O empenho limita-se a diminuir de determinado item oramentrio a quantia
necessria ao pagamento do dbito, o que permitir unidade oramentria (agrupamento de
servios com dotaes prprias) o acompanhamento constante da execuo oramentria, no
s evitando as anulaes por falta de verba, como tambm possibilitando o reforo oportuno de
determinada dotao, antes do vencimento da dvida. Materializa-se pela emisso da "nota de
empenho", na qual constar o nome do credor, a representao e a importncia da despesa,
bem como a deduo desta do saldo da dotao prpria (art. 61);
ii. Liquidao: a segunda etapa na realizao de uma despesa pblica e consiste na verifica-
o do direito adquirido pelo credor tendo por base os ttulos e documentos comprobatrios do
respectivo crdito (art. 63). Da mesma forma que o empenho, a liquidao nada cria, limitando-
se a tornar lquida e certa a obrigao preexistente;
iii. Pagamento: a terceira e ltima etapa na realizao de uma despesa pblica, consiste, ini-
cialmente, na ordem de pagamento, que outra coisa no seno o despacho da autoridade
competente determinando o pagamento da despesa (art. 64); por fim, tem-se a etapa do pa-
gamento que, uma vez efetivada em decorrncia de regular liquidao da despesa e por ordem
da autoridade competente (art. 62), extingue a obrigao de pagar.
2.4. Receitas Pblicas. Conceito. Classificao, Fontes e Estgios. Receitas Patrimoniais. Recei-
tas Tributrias. Imposto. Taxa. Emprstimos Compulsrios. Contribuio de Melhoria. Preo.
Contribuies Sociais. Receitas Creditcias. Crdito Pblico. Emprstimos Pblicos. Dvida Pbli-
ca.
a) Conceito: conforme Aliomar Baleeiro, "receita pblica a entrada que, integrando-se no patri-
mnio pblico sem quaisquer reservas, condies ou correspondncia no passivo, vem acrescer o
seu vulto, como elemento novo e positivo". O conceito de receita pblica no se confunde com o
de entrada. Todo ingresso de dinheiro aos cofres pblicos caracteriza uma entrada. Contudo, nem
todo ingresso corresponde a uma receita pblica (entrada definitiva). H entradas que ingressam
provisoriamente nos cofres pblicos, podendo neles permanecer ou no. Destinam-se a ser de-
volvidas. Da as entradas provisrias.
b) Classificao: as receitas pblicas podem ser classificadas segundo o critrio de regularidade
ou relativa periodicidade, da origem, da diviso dos servios pblicos (Jeze), da vantagem
auferida pelo Poder Pblico (Seligman) e, finalmente, o critrio legal:
i. Critrio da periodicidade ou da regularidade: as receitas podem ser extraordinrias, que so
aquelas auferidas em carter excepcional e temporrio, em funo de determinada conjuntura
(arts. 148, II, e 154, II, todos da CF); e ordinrias, que so as que ingressam com regularida-
de, por meio do normal desenvolvimento da atividade financeira do Estado.
ii. Critrio da origem: por esse critrio, a receita pode ser classificada em originria ou de eco-
nomia privada e derivada ou de economia pblica. Receita originria aquela que advm
da explorao, pelo Estado, da atividade econmica. So as resultantes do domnio privado do
Estado; receita derivada caracterizada por constrangimento legal para sua arrecadao.
So os tributos, as penas pecunirias, o confisco e as reparaes de guerra;
iii. Critrio da diviso dos servios pblicos: Jeze baseou sua classificao em quatro grupos:
a) os servios administrativos de interesse geral, que provocam despesa, mas no produ-
zem quaisquer receitas, correspondem aos impostos;
b) servios administrativos de interesse geral, mas que aproveitam mais a alguns, havendo
tributao especial, dizem respeito s taxas;
c) servios industriais e comerciais de fim financeiro em regime de livre concorrncia refe-
rem-se aos preos;
d) exploraes comerciais ou industriais destinadas obteno do maior proveito fiscal pos-
svel em regime de monoplio correspondem ao tipo hbrido, preo-imposto;
iv. Critrio da vantagem auferida pelo Poder Pblico: Seligman, colocando em confronto a
vantagem do particular e o interesse pblico, chega ao seguinte quadro:
a) preos guase-privados: vantagem particular como considerao exclusiva ao lado de inte-
resse pblico acidental;
b) preos pblicos: vantagem particular menor, mas preponderante, ao lado de interesse
pblico de alguma importncia;
c) taxas: vantagem particular mensurvel associada a interesse pblico ainda mais impor-
tante;
d) contribuies especiais: alguma vantagem particular, consorciada com interesse pblico
preponderante;
e) impostos: interesse pblico como considerao exclusiva e vantagem particular apenas
acidental.
v. Critrio legal: decorre da Lei 4.320/64. Importante assinalar que a lei no perfilhou a con-
ceituao doutrinria de receita pblica. A lei no elege como requisito indispensvel configu-
rao da receita pblica o ingresso de dinheiro sem contrapartida no passivo nem o acrscimo
patrimonial da entidade poltica.
O art. 11 e pargrafos permite identificar receita pblica como todo ingresso de recursos fi-
nanceiros ao tesouro pblico, com ou sem contrapartida no passivo e independentemente de
aumento patrimonial.
De fato, os emprstimos pblicos, compulsrios ou voluntrios, acham-se seguramente conti-
dos na categoria de receitas de capital.
O citado art. 11 classifica a receita por categorias econmicas em: receitas correntes e recei-
ta de capital. Por fora do princpio da unidade de tesouraria, previsto no art. 56, todo ingresso
de dinheiro deve ser centralizado no tesouro pblico e contabilizado, ou como receita corrente,
ou como receita de capital. No h como contabiliz-lo a ttulo de mera entrada de caixa ou sob
rubrica de "receita provisria", figura inexistente na Lei 4.320/64.
Pode-se dizer que, em sua generalidade, as receitas correntes abarcam as decorrentes do po-
der impositivo do Estado (tributos em geral), bem como aquelas decorrentes da explorao de
seu patrimnio e as resultantes de explorao de atividades econmicas (comrcio, indstria,
agropecuria e servios) consoante se depreende do 1 do art. 11.
As receitas de capital, por sua vez, compreendem: as provenientes de realizao de recursos
financeiros oriundos de constituio de dvidas; as oriundas de converso em espcie, de bens
e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito pblico ou privado destinados a
atender a despesas de capital e, ainda, o supervit do oramento corrente ( 2 do art. 11).
c) Estgios da Receita Pblica: so estgios da receita pblica: previso; lanamento; arreca-
dao e recolhimento aos cofres pblicos.
A previso corresponde estimativa da receita a ser arrecadada pelo Estado (v. art. 12 da LRF).
importante que se esclarea que, embora a doutrina trate a previso como um estgio da re-
ceita, no Brasil, no vigora o princpio da anualidade no que tange ao oramento pblico.
O lanamento o ato pelo qual se verifica a procedncia do crdito fiscal, a pessoa que lhe
devedora, e inscreve o dbito desta. Segundo o CTN, o lanamento o procedimento administra-
tivo tendente a verificar a ocorrncia do fato gerador da obrigao correspondente, a matria tri-
butvel, o clculo do montante devido e a identificao do respectivo sujeito passivo. Existem trs
modalidades de lanamento:
i) de oficio (ou Direto): o lanamento efetuado unilateralmente pela Administrao, sem a
interveno do contribuinte. Ex.: IPTU e IPVA;
ii) por declarao ( ou misto) : o lanamento efetuado pela Administrao com a colabora-
o do prprio contribuinte ou de uma terceira pessoa, obrigada por lei a prestar informaes
sobre a matria de fato indispensvel sua efetivao. Ex. : IR;
iii) por homologao (ou autolanamento): o lanamento efetuado pelo prprio contribuinte
e apenas posteriormente homologado pela Administrao. Ex.: ISS, ICMS e IPI.
A arrecadao a fase na qual o Estado recebe dos contribuintes, atravs das reparties fis-
cais, de agentes ou da rede bancria, os valores que lhe so devidos, quer sejam multas, tributos
ou qualquer outro crdito.
O recolhimento a entrega, pelos agentes arrecadadores (reparties fiscais, agentes, rede
bancria), dos recursos arrecadados conta nica do Tesouro Pblico. A propsito, tal recolhi-
mento conta nica do ente uma exigncia do princpio da unidade de caixa ( ou unidade de
tesouraria) , que est assinalado no art. 56 da Lei 4.320/64: o recolhimento de todas as receitas
far-se- em estrita observncia ao princpio da unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmen-
tao para a criao de caixas especficas.
d) Receitas Originrias: so aquelas que resultam da atuao do Estado, sob o regime de direito
privado, na explorao da atividade econmica. So as resultantes do domnio privado do Estado.
O que as caracterizam so sua percepo pelo Estado absolutamente despida do carter coerciti-
vo prprio, porque atua sob o regime de direito privado .
i. Modalidades de receitas originrias segundo as fontes:
1. Receitas Patrimoniais: so as receitas geradas pela explorao do patrimnio do Estado.
O patrimnio estatal compe-se de patrimnio mobilirio e de patrimnio imobilirio. O pa-
trimnio mobilirio composto por ttulos representativos de crdito e de "aes" que repre-
sentam parte do capital de empresas. Esses valores mobilirios rendem juros ou dividendos;
as rendas do patrimnio imobilirio so representadas por foros de terreno de marinha, lau-
dmios, taxas de ocupao dos terrenos de marinha;
2. Receitas industriais. comerciais e de servios: so as geradas pelo Estado no exerccio
da atividade empresarial.
e) Receitas Tributrias: so aquelas advindas da economia pblica, representadas pelos tributos e
suas espcies: impostos, taxas, contribuio de melhoria e contribuies especiais, que se subdi-
videm em sociais e econmicas, nos termos da CF/88.
i. Tributo: " toda prestao pecuniria compulsria, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que no constitua sano de ato ilcito, instituda em lei e cobrada mediante ativida-
de administrativa plenamente vinculada';
ii. Imposto: sob a rbita legal, o imposto se caracteriza como o tributo que tem como fato ge-
rador, ou hiptese de incidncia, uma situao independente de qualquer atividade estatal
especfica, relativa ao contribuinte (art. 16 do CTN);
iii. taxa: tributo vinculado cuja hiptese de incidncia consiste numa atuao estatal direta e
imediatamente referida ao obrigado. No Brasil, as taxas podem ser cobradas por dois funda-
mentos: 1) pelo exerccio do poder de polcia e 2) pela utilizao, efetiva ou potencial, de ser-
vios pblicos especficos e divisveis, prestados ao contribuinte ou postos sua disposio
(art. 145, II, CF/88);
iv. emprstimo compulsrio: a partir da CF/88, entende-se o emprstimo compulsrio como
espcie do gnero tributo. Sua instituio est a cargo da Unio e dever ser veiculada por lei
complementar;
v .Contribuio de Melhoria: " o tributo vinculado cuja hiptese de incidncia consiste numa
atuao estatal indireta e mediatamente (mediante uma circunstncia intermediria) referida
ao obrigado" .
vi. preo: " a contraprestao paga pelos servios pedidos ao Estado ou pelos bens por ele
vendidos e que constitui a sua receita originria' (Alberto Deodato). Preo sinnimo de tarifa
ou preo pblico. O Preo uma obrigao ex voluntate. Seu regime jurdico de direito pri-
vado, informado pelo princpio da autonomia da vontade. Apesar disso, o preo pode ser con-
siderado ou no, caso a caso, uma receita originria.
vii. Contribuio Social: a contribuio social espcie tributria vinculada atuao indireta
do Estado. tem como fato gerador uma atuao indireta do Poder Pblico mediatamente
referida ao sujeito passivo da obrigao tributria.
Entre ns as contribuies sociais subdividem-se em duas subespcies: as previstas no art.
149 da CF e as mencionadas no art. 195 da CF .
'. Segundo entendimento do STF (RE 146.733-9/SP, rel. Min. Moreira Alves), "... No tocante
s contribuies sociais (...) no s as referidas no art. 149 (...) tm natureza tributria, (...)
mas tambm as relativas seguridade social previstas no art. 195. ..Por terem esta natureza
tributria que o art. 149, que determina que as contribuies sociais observem o inc. III do
art. 150 (cuja letra b consagra o princpio da anterioridade), exclui dessa observncia as con-
tribuies para a seguridade social previstas no art. 195, em conformidade com o. disposto no
6 deste dispositivo, que, alis, em seu 4, ao admitir a instituio de outras fontes desti-
nadas a garantir a manuteno ou expanso da seguridade social, determina se obedea ao
disposto no art. 154, I, norma tributria, o que refora o entendimento favorvel natureza tri-
butria dessa contribuies sociais"
As contribuies sociais de interveno no domnio econmico e de interesse das categorias
profissionais ou econmicas (art. 149 da CF) constituem exaes fiscais submetidas disci-
plina do art. 146, III, da CF. No se pode esquecer que a CIDE sofreu alteraes nos termos
da EC 33/2001 (veja a alterao na CF/88).
As contribuies sociais de interveno no domnio econmico so as seguintes:
1) Taxa de Marinha Mercante (TMM), hoje, Adicional de Frete para Renovao da Marinha
Mercante (AFRMM). Constitui contribuio social para custear a interveno da Unio nas ati-
vidades de apoio ao desenvolvimento da marinha mercante.
2) Contribuio ao Instituto do Acar e do lcool (IAA) . devida pelos produtores de acar
e do lcool para o custeio da atividade intervencionista da Unio na economia canavieira na-
cional.
3) Contribuio do Instituto Brasileiro do Caf -IBC. Ela devida pelos exportadores de caf,
em valorf1Xado em dlar, relativamente a cada saca de 60 (sessenta) quilos.
As contribuies sociais de interesse de categorias profissionais ou econmicas so as se-
guintes:
1) Contribuio sindical. Tem fundamento no art. 8, IV (in fine) c/c art. 149 da CF. Cumpre
lembrar que a contribuio sindical, que tem base legal, no se confunde com a contribuio
confederativa, prevista no art. 8, IV (Ia parte) da CF, de natureza no tributria e que s pode
ser cobrada de sindicalizados.
2) Contribuies sociais arrecadadas para a manuteno do SENAI, do SENAC, do SESC, do
SESI, da OAB etc. Essas exaes constituem as chamadas contribuies parafiscais. A para-
fiscalidade nada mais do que a delegao do poder impositivo para as entidades paraesta-
tais. Contribuies parafiscais representam ingressos coativos que em nada se diferenciam
dos tributos em geral, a no ser pela delegao a um determinado rgo ou entidade para-
estatal para, com o produto de sua arrecadao, promover a consecuo de seus objetivos
institucionais.
As contribuies sociais para financiamento da seguridade social, que no se confundem com
as contribuies sociais gerais, no se submetem ao princpio da anterioridade, mas regra
nonagesimal (art. 195, 6 da CF).
A Constituio Federal define a seguridade social como um conjunto integrado de aes de
iniciativa dos poderes pblicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos
sade, previdncia e assistncia social (art. 194). O campo de abrangncia da seguridade
social bem maior que o da previdncia social. A seguridade social financiada por toda so-
ciedade, de forma indireta, atravs de recursos oramentrios da Unio, dos Estados, do DF
e dos Municpios, e, de forma direta, por meio das contribuies sociais. A EC 20/1998 esta-
tuiu nova base para o financiamento direto da Seguridade Social.
f) Receitas Creditcias
Crdito Pblico: "consiste numa srie de mtodos pelos quais o Estado obtm dinheiro sob obri-
gao jurdica de pagar juros por todo o tempo durante o qual retenha os capitais, que se enten-
dem passveis de restituio em prazo certo, ou indefinido, a critrio do devedor' (Aliomar Baleei-
ro). " a aptido econmica e jurdica de que desfruta o Ente Pblico para, de acordo com a confi-
ana que possa gozar perante outros entes pblicos ou privados, nacionais ou estrangeiros ou
junto ao povo, obter recursos de que carece para atender despesas do interesse pblico, medi-
ante promessa de reembolso". So elementos essenciais ao Crdito Pblico: a) a confiana; b)
o tempo.
i. Classificao: os crditos pblicos podem ser classificados em crdito externo, existente pe-
rante pessoa no-nacional, e crdito interno, existente junto a pessoa fsica ou jurdica ou rgos
pblicos ou privados nacionais;
ii. Emprstimo Pblico: emprstimo pblico a materializao do crdito pblico e consiste na "
operao pela qual o Estado recorre ao mercado interno ou externo em busca dos recursos de
que carea, em face, normalmente, da insuficincia da receita fiscal, assumindo a obrigao de
reembolsar o capital acrescido de vantagens, em determinadas condies estipuladas" .
1. Natureza Jurdica: tem sido mltipla a compreenso da natureza jurdica do emprstimo pbli-
co, da as diversas teorias:
a. Contrato de mtuo de dinheiro: submetido ao comando do CC, em seu art. 1256, na condi-
o de emprstimo de coisa fungvel;
b. Contrato sob condio potestativa: aquela que o devedor poder suspender as obrigaes
assumidas, em situaes excepcionais, a seu critrio;
c. Contrato especial: aquele em que '. somente o Estado fixa as condies
(Contrato de Adeso); d. Contrato de Direito, Pblico (Contrato Administrativo}: altervel unila-
teralmente;
e. Ato de Soberania: exercido em razo do ius imperii, mediante edio de lei que poder ter
sucessivas alteraes ditadas pelo Estado no exerccio desse poder (Doutrina de Drago), des-
cumprindo o pactuado;
f. A Situao de carter legal ou legislativo: tem os mesmos efeitos do Ato de Soberania.
2. Classificao: pode ser classificado quanto forma, quanto origem e quanto ao prazo.
a. Quanto forma: so os ttulos da dvida pblica (ttulo de crdito), tambm denominados :
i. Voluntrios: aqueles obtidos junto ao mercado de capitais ou mediante a emisso de ttu-
los;
ii. Patriticos ou Semi-obrigatrios: assim considerados pela circunstncia de serem adquiri-
dos sob coao indireta;
iii. Obrigatrios ou Coativos: emprstimos forados, de subscrio obrigatria, embora no
propriamente os chamados emprstimos compulsrios, que tm conotao de tributo.
b. Quanto origem:
i. Internos: aqueles obtidos dentro do seu prprio territrio;
ii. Externos: aqueles obtidos fora de suas fronteiras.
c. Quanto ao prazo:
i. A longo prazo: resgatveis em exerccio diferente daquele do contrato. Podem ser nomi-
nados de perptuos, quando sem data de resgate, ficando o Estado, no entanto, apagar as
rendas pactuadas. Tais emprstimos podem ser remveis ou irremveis;
ii. A, curto prazo ou temporrio: aquele cujo resgate ocorrer dentro do exerccio financeiro.
iv .Dvida Pblica: atualmente, a conceituao legal encontra-se na LRF, em seu art. 29, as-
sim exposto:
1. "Dvida pblica consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade,
das obrigaes financeiras do ente da Federao, assumidas em virtude de. leis, contra-
tos, convnios ou tratados e da realizao de operaes de crditos, para amortizao
em prazo superior a doze meses, bem como as operaes de crdito de prazo inferior a
doze meses, cujas receitas tenham constado do oramento e os precatrios judiciais no
pagos durante a execuo do oramento em que houverem sido includos";
1 ) Dvida fundada (ou consolidada) amortizvel: quando reembolsvel pelo Estado
de forma parcelada ou peridica, com pagamento de prestaes e juros ou s de ju-
ros, inscrita como dvida pblica, autorizada pelo Poder Legislativo, observadas as re-
gras emanadas anualmente do Senado Federal (corresponde aos investimentos de
capital), CF, art. 52, V a IX.
2) Dvida fundada (ou consolidada) perptua: aquela cujo resgate ficar a critrio
do Estado, visto que no definido o prazo na ocasio do contrato de emprstimo. Sua
escriturao ser feita com individualizao e as especificaes necessrias, de forma
a permitir o acompanhamento da posio de cada ano.
2. " Dvida pblica mobiliria: dvida pblica representada por ttulos emitidos pela Uni-
o, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municpios".
da competncia do Congresso Nacional, com sano do Pres. da Rep. (art. 48, XIV, da
CF/88) dispor sobre o montante da dvida mobiliria federal.
da competncia do Senado Federal dispor:
a) sobre o montante da dvida mobiliria dos Estados, DF e Municpios,
b) sobre o montante da dvida consolidada da Unio, Estados, DF e Municpios.
3. Dvida flutuante: aquela contrada a curto prazo ou mesmo por prazo indetermina-
do, para atender a necessidades momentneas de caixa ou para a administrao de
bens de terceiros. Conforme a Lei 4.320/64, essa dvida compreende (art. 92):
I os restos a pagar (processados);
II os servios da divida a pagar;
III os depsitos; e
IV os dbitos de tesouraria.
2.5. Oramento Pblico. Conceito. Natureza Jurdica. Elementos Essenciais. Classificao. Princ-
pios Oramentrios. Regime Constitucional. Vedaes Constitucionais em Matria Oramentria.
Normas Gerais de Direito Financeiro. Crditos Adicionais.
a) Conceito: classicamente, o oramento conhecido como uma pea que contm a aprovao
prvia da despesa e da receita para um perodo determinado. O oramento fixa despesa e estima
receita;
b) natureza Jurdica: formalmente, lei nua (de efeito concreto), estimando as receitas e fixando
as despesas, necessrias execuo da poltica governamental; materialmente, ato-condio.
c) Classificaco: no modelo oramentrio brasileiro, so observados quatro critrios de classifica-
o da despesa: classificao institucional, classificao funcional (funcional-programtica), eco-
nmica e classificao por elementos; por sua vez, as receitas pblicas so classificadas por ca-
tegorias econmicas, por fontes, pela origem e segundo a existncia ou no de vinculao.
A classificao institucional ou departamental um dos critrios mais antigos de classificao
de despesa. Sua finalidade principal evidenciar as unidades administrativas responsveis pela
execuo da despesa. um critrio indispensvel para afixao de responsabilidades e os con-
seqentes controles e avaliaes. Essa classificao tem como vantagens a possibilidade de
comparar imediatamente os vrios rgos, em termos de dotaes recebidas; de identificar o
agente responsvel pelas dotaes autorizadas pelo Legislativo, para dado programa; ser o ponto
de
.partida para o estabelecimento de um programa de contabilizao de custos dos vrios servios
ou unidades administrativas; permitir, combinada com a classificao funcional, focalizar num ni-
co ponto a responsabilidade pela execuo de determinado programa.
A classificao funcional a mais moderna das classificaes oramentrias, alterada pelo
MTO-2000, substituiu a classificao funcional-programtica, criando agora uma classificao
funcional e uma estrutura programtica. Sua finalidade bsica mostrar as realizaes do gover-
no, o resultado final de seu trabalho em prol da sociedade, e viabilizar um melhor sistema de re-
gistro das Contas Nacionais.
J a classificao econmica tem como objetivo dar indicaes sobre os efeitos que o gasto
pblico tem sobre a economia como um todo. Foi o critrio adotado pela Lei 4.320/64. Por sua
vez, a classificao por elementos a mais analtica das classificaes e tem como finalidade
bsica o controle contbil dos gastos, tanto em nvel interno (rgos e unidades oramentrias)
quanto do prprio controle externo, exercido pelo Legislativo.
No tocante s receitas, a classificao por categorias econmicas, adotada pela Lei 4.320/64,
art. 11, informa que existem as seguintes categorias: receitas correntes e receitas de capital.
A classificao da receita por fontes inicia j na subdiviso das Receitas Correntes e de Capi-
tal. Tal pode ser visto no anexo 3 da Lei.
J a classificao da receita por origem tem como finalidade evidenciar a parcela de recursos
prprios e a de recursos transferidos necessrios para cobrir o programa de realizaes de cada
entidade. Ela dividida em trs grupos: recursos do Tesouro, recursos de outras fontes e transfe-
rncias de recursos do Tesouro e de outras fontes.
J a classificao segundo a Existncia, ou no, da vinculao decorre da necessidade prti-
ca de se demonstrarem as parcelas de recursos que j esto comprometidos com o atendimento
de determinadas finalidades e aqueles que podem ser livremente alocados a cada elaborao
oramentria.
d) Tipos de oramentos:
i. Oramento Legislativo: adotado nos pases de regime parlamentarista, onde h competn-
cia privativa do Poder Legislativo para elabor-lo;
ii. Oramento Executivo: predomina onde h hipertrofia do Poder Executivo, sendo por este
preparado, com exclusividade, sem qualquer influncia do Legislativo, ou deferido a este com-
petncia para vot-lo em prazos determinados e sem direito a modific-lo;
iii. Oramento Misto: quando a iniciativa cabe ao Poder Executivo, porm sua aprovao
submetida ao Poder Legislativo, inclusive o seu controle e julgamento. o caso do Brasil. Por-
tanto, existe uma estreita colaborao entre esses dois poderes.
iv .Oramento Fixo: aquele de durao permanente, somente revogado quando outro for ins-
titudo, o qual, em face da situao de permanentes mutaes financeiras e sociais dos pases,
tornou-se impraticvel;
v .Oramento Varivel: o mais racional, porque prevalece para um perodo certo, altervel
segundo as necessidades conjunturais. tambm conhecido por oramento ordinrio ou
nuo;
vi. Oramento de Previso: um documento de transio, que supre a falta do oramento ordi-
nrio, tanto que adotado sem maior detalhamento, haja vista a sua provisoriedade;
vii. Oramento de Atualidade: quando ocorre uma bipartio, sendo um de rotina, ordinrio,
usual e o outro de capital para atender o desenvolvimento econmico;
viii. Oramento Sinttico: assim denominado pela sua flexibilidade ao emprego e distribuio
de verbas globais, como acontece em pequenos Municpios;
ix. Oramento analtico: o mais tradicional e completo, detalhado por elementos, subelemen-
tos, itens ou subitens;
x. Oramento-Programa: um plano de trabalho do governo, no qual se especificam as propo-
sies concretas que se pretende realizar durante o ano inteiro.
e) Elementos Essenciais: o oramento possui aspectos tcnico, poltico e jurdico, quais sejam:
i. Aspecto tcnico: o oramento evidencia a linha de gesto governamental;
ii. Aspecto poltico: esse aspecto vem inserido na prpria CF que atribui ao oramento as fun-
es primordiais de reduzir as desigualdades inter-regionais e sociais, segundo parmetro po-
pulacional. , pois, o instrumento de interveno do Estado no domnio econmico, voltado
para a valorizao do trabalho humano em consonncia com os ditames da justia social;
iii. Aspecto jurdico: o oramento apresenta as mesmas caractersticas em qualquer nvel das
pessoas polticas.
f) Princpios oramentrios: os principais princpios oramentrios so os da unidade, da universa-
lidade, do oramento bruto, da anualidade ou periodicidade, da no-afetao das receitas, da dis-
criminao ou especializao, da exclusividade, do equilbrio, da programao etc.:
i. Princpio da unidade: consiste na reunio ou agrupamento de todos os gastos e recursos do
Estado em um nico documento. Assim, a partir da CF/88, o oramento anual integrado pelo
oramento fiscal, compreendendo as receitas e despesas de todas as unidades e entidades
da administrao direta e indireta; o oramento de investimento das empresas estatais; e o
oramento das entidades de seguridade social.
ii. Princpio da universalidade: de acordo com esse princpio, o oramento (uno) deve conter
todas as receitas e todas as despesas do Estado;
iii. Princpio do oramento bruto: todas as parcelas da receita e da despesa devem aparecer no
oramento em seus valores brutos, sem qualquer tipo de deduo. A regra pretende impedir a
incluso, no oramento, de importncias lquidas, isto , a incluso apenas do saldo positivo ou
negativo resultante do confronto entre as receitas e as despesas de determinado servio pbli-
co". Esse princpio est consagrado no art. 6 da Lei 4.320/64: "Todas as receitas e despesas
constaro da Lei de Oramento pelos seus totais, vedadas quaisquer dedues" ;
iv. Princpio da Anualidade (ou Periodicidade): o oramento pblico deve ser elaborado e auto-
rizado para um perodo determinado de tempo, geralmente um ano;
v .Princpio da no-afetao das Receitas: significa que nenhuma parcela da receita geral po-
der ser reservada ou comprometida para atender a certos e determinados gastos. Recursos
excessivamente vinculados so sinnimos de dificuldades, pois podem significar sobra em pro-
gramas de menor importncia e falta em outros de maior prioridade. Atualmente, com base em
dispositivo introduzido pela EC 3/1993, permitida aos Estados e Municpios a vinculao da
receita de seus impostos e de suas participaes na Receita Federal (FPE, FPM etc.) para
prestao de garantia ou contragarantia Unio ou para pagamento de dbitos para com esta;
vi. Princpio da Especializao (ou Discriminao): de acordo com esse princpio, as receitas e
as despesas devem aparecer no oramento de maneira discriminada, de tal forma que se pos-
sa saber , pormenorizadamente, a origem dos recursos e sua aplicao;
vii. Princpio da Exclusividade: " A lei oramentria anual no conter dispositivo estranho
previso da receita e f'1Xao da despesa, no se incluindo na proibio a autorizao para
abertura de crditos suplementares e contratao de operaes de crdito, ainda que por ante-
cipao de receita, nos termos da lei' ;
viii. Princpio do Equilbrio: deve haver equilbrio entre receitas e despesas. Isso ocorre formal-
mente, embora com freqncia no ocorra materialmente.
ix. Princpio da Clareza: as informaes devem ser claras de modo a permitir que pessoas lei-
gas tambm entendam.
x. Princpio da Publicidade: viabiliza a transparncia e o controle.
xi. Princpio da uniformidade: as informaes devem ser uniformes (consistentes), ao longo do
tempo, de modo a permitir comparaes temporais
xii. Princpio da Exatido: as informaes devem ser precisas e exatas.
xiii. Princpio da Programao: com ele, o oramento funciona como auxiliar efetivo da admi-
nistrao, especialmente como tcnica de ligao entre as funes de planejamento e de ge-
rncia. Tem como corolrio o princpio da quantificao: no permitido conceder nem utilizar
crditos ilimitados.
g) Regime Constitucional:
h) das vedaes constitucionais em matria oramentria:
art. 167 da CF, so vedados:
1) O incio de programas ou projetos no-includos na LOA, bem como a realizao de despe-
sas ou a assuno de obrigaes diretas que excedam os crditos oramentrios ou adicionais
(princpio da legalidade);
2) regra de ouro: a realizao de operaes de crdito que excedam o montante das despe-
sas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante crditos suplementares ou especiais com
finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Com essa vedao,
o legislador estabelece um limite para a realizao de operaes de crdito. Estas no podem
superar o valor das despesas de capital fixadas no oramento. A contratao de operaes de
crdito em montante superior ao referido limite s poder acontecer com a anuncia do Poder
Legislativo, atravs do quorum qualificado da maioria absoluta.
3) A vinculao de receita de impostos a rgo, fundo ou despesa, ressalvadas a repartio
do produto da arrecadao dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinao de
recursos para as aes e servios pblicos de sade (EC 29/2000) e para manuteno e des-
envolvimento do ensino, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, 2, e 212, e a
prestao de garantias s operaes de crdito por antecipao de receita, previstas no art.
165, 8, bem como o disposto no 4 do art. 167:
Pargrafo includo pela Emenda Constitucional n 3, de 17/03/93:
" 4 E permitida a vinculao de receitas prprias geradas pelos impostos a que se referem os
artigos 155 e 156, e dos recursos de que tratam os artigos 157, 158, 159, I, a e b, e II, para pres-
tao de garantia ou contragarantia Unio e para pagamentos de dbitos para com esta."
4) A abertura de crdito suplementar ou especial sem prvia autorizao legislativa e sem indi-
cao dos recursos correspondentes.
5) A transposio, o remanejamento ou a transferncia de recursos de uma categoria de pro-
gramao para outra ou de um rgo para outro, sem prvia autorizao legislativa, bem como
a utilizao, sem autorizao legislativa especfica, de recursos do oramento fiscal e da segu-
ridade social para suprir necessidade ou cobrir dficit de empresas, fundaes e fundos, inclu-
sive dos mencionados no art. 165, 5.
6) A concesso ou a utilizao de crditos ilimitados. Esta regra expressa a necessidade de o
oramento ser quantificado. As autorizaes de despesas, consubstanciadas por meio dos
crditos oramentrios ou dotaes oramentrias, no podero ser ilimitadas, devendo estar
limitadas monetariamente.
7) A instituio de fundos de qualquer natureza, sem prvia autorizao legislativa. Constituem-
se, os Fundos, em um ente meramente contbil para o qual so alocados recursos visando
realizao de determinados objetivos ou servios (ex. FUNDEF). Importa lembrar:
i. que os fundos especiais constituem exceo ao princpio da unidade de tesouraria;
ii. que a instituio de um Fundo exige a edio de LEI ORDINRIA, mas, nos termos do art.
165, 9, II da CF, as condies para a instituio e funcionamento dos Fundos devem ser
regulamentadas por meio de LEI COMPLEMENTAR (v. arts. 71 a 74 da Lei 4.320/64);
8) A transferncia voluntria de recursos e a concesso de emprstimos, inclusive por anteci-
pao de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituies financeiras, para pa-
gamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do DF e dos Mu-
nicpios (includo pela EC 19/1998 - v. art. 35 da LRF);
9) A utilizao dos recursos provenientes das contribuies sociais de que trata o art. 195, I,
"a", e II, para a realizao de despesas distintas do pagamento de benefcios do regime geral
de previdncia social de que trata o art. 201 (includo pela EC 20/1998);
10) art. 167, 1 - Nenhum investimento cuja execuo ultrapasse um exerccio financeiro po-
der ser iniciado sem prvia incluso no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize a incluso,
sob pena de crime de responsabilidade;
i) Normas Gerais de Direito Financeiro:
j) Crditos Adicionais: os crditos adicionais destinam-se realizao de despesa no prevista ou
insuficiente dotadas na Lei Oramentria, em razo de erros de planejamento ou de fatos im-
previstos, bem como para utilizao dos recursos que ficaram sem despesas correspondentes
em caso de veto, emenda ou rejeio da LOA.
A iniciativa das leis referentes a crditos adicionais privativa do Chefe do Executivo, que dever,
obrigatoriamente, justificar as razes das novas adies ao oramento.
(VIDE QUADRO AO FINAL DO TRABALHO)
2.6. Sistema Tributrio Nacional. Princpios Constitucionais Tributrios. Repartio Constitucional
de Competncias Tributrias. Fundos de Participao.
a) Princpios Constitucionais Tributrios: alm dos princpios implcitos, esto expressos na Cons-
tituio Federal de 1988 os princpios da legalidade tributria, da anterioridade, da isonomia tribu-
tria, da capacidade contributiva, da vedao de efeitos confiscatrios, da imunidade recproca, da
imunidade genrica, da imunidade de trfego interestadual e intermunicipal, da uniformidade de
tributo federal em todo o territrio nacional, da uniformidade de tributo estadual ou municipal
quanto procedncia ou destino de bens e servios de qualquer natureza, da igualdade de trata-
mento dos ttulos da dvida pblica federal, estadual ou municipal e dos vencimentos pagos pelas
trs entidades polticas, da imunidade do imposto sobre a renda relativamente a proventos de
aposentadoria e penso percebidos por pessoas com idade superior a sessenta e cinco anos e da
vedao de a Unio decretar iseno de impostos das entidades periferias.
i. Princpio da Legalidade Tributria: art. 150, I, CF/88: " Sem prejuzo de outras garantias as-
seguradas ao contribuinte, vedado Unio, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Munic-
pios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabelea."
ii. Princpios da irretroatividade e da Anterioridade: art. 150, III, a e b, CF/88: "Sem prejuzo
de outras garantias asseguradas ao contribuinte, vedado Unio, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municpios: III- cobrar tributos: a) em relao a fatos geradores ocorridos antes
do incio da vigncia da lei que os houver institudo ou aumentado; b) no mesmo exerccio fi-
nanceiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou."
iii. Princpio da isonomia tributria: art. 150, II, CF /88: II Sem prejuzo de outras garantias as-
seguradas ao contribuinte, vedado Unio, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Munic-
pios: III - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situao equi-
valente, proibida qualquer distino em razo de ocupao profissional ou .funo por eles
exercida, independentemente da denominao jurdica dos rendimentos, ttulos ou direitos."
No pode haver iseno sem obedincia ao princpio da isonomia. A lei isentiva no pode im-
portar no estabelecimento de uma situao de desigualdade jurdica formal, estabelecendo
tratamento desigual de pessoas que se encontram sob os mesmos pressupostos fticos, sob
pena de inconstitucionalidade.
iv .Princpios da pessoalidade e da capacidade contributiva: tm carter programtico e visam a
realizar a justia fiscal. Diz o art. 145. 1, da CF: "Sempre que possvel, os impostos tero ca-
rter pessoal e sero graduados segundo a capacidade econmica do contribuinte, facultado
administrao tributria, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimnio, os rendimentos e as ativi-
dades econmicas do contribuinte". A graduao s se refere a impostos.
v. Princpio da vedao do efeito confiscatrio: art. 150, IV, da CF: Sem prejuzo de outras ga-
rantias asseguradas ao contribuinte, vedado Unio, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municpios: IV - utilizar tributo com efeito de confisco."
fora de dvida que tributo de efeito confiscatrio no se confunde com aquele confisco rela-
cionado com a infrao (ex: art. 243, p. u., da CF) e que o nico admitido pela doutrina e ju-
risprudncia.
vi. Princpio da imunidade recproca: " Sem prejuzo de outras garantias asseguradas ao contri-
buinte, vedado Unio, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municpios: VI- instituir im-
postos sobre: a) patrimnio, renda ou servios, uns dos outros."
Essa imunidade, que abarca somente impostos, no exclui a atribuio por lei, s entidades
polticas, da condio de responsveis pelos tributos que lhe cabe reter na fonte nem as dis-
pensa do cumprimento das obrigaes acessrias (*), conforme preceituado no 1 do art. 9
do CTN . A imunidade, ao contrrio da iseno, deve ser interpretada de forma ampla, mas
no pode essa interpretao ampla ir ao ponto de ignorar a prpria restrio expressa na Carta
Magna.
(*)obrigaes acessrias so as prestaes positivas ou negativas previstas na legislao tri-
butria no interesse da arrecadao e fiscalizao de tributos, podendo ser institudas em rela-
o a terceiras pessoas, direta ou indiretamente, relacionadas com o sujeito passivo.
REGIME DOS CRDITOS ADICIONAIS
TIPOS
FINALIDADE AUTORIZAO
LEGISLATIVA
ABERTURA
E
INCORPORAO
VIGNCIA PRORROGAO DEVE INDICAR
FONTE
DE RECURSOS
SUPLEMENTAR
Reforar despesas
j previstas no
oramento
H necessidade de
autorizao na prpria
LOA ou em lei especfi-
ca
Por Decreto do Executivo:
incorpora-se ao oramen-
to, em adio dotao a
que visa reforar.
No exerccio em
que foi aberto
(at 31/12)
improrrogvel
SIM
ESPECIAL
Atender a despe-
sas no previstas
no oramento
H necessidade de
autorizao em lei es-
pecfica
Por Decreto do Executivo:
incorpora-se ao oramen-
to, mas conserva sua es-
pecificidade, demonstran-
do-se no oramento de
modo separado.
No exerccio em
que foi aberto
(at 31/12).
Pode ser prorrogado para
o exerccio seguinte,
quando o ato de autoriza-
o tiver sido PROMUL-
GADO nos ltimos 4 me-
ses do exerccio. Nesse
caso, reaberto no limite do
seu saldo incorporado
ao oramento do exerccio
seguinte (crdito com vi-
gncia plurianual).
SIM
EXTRAORDINRIO
Atender a despe-
sas imprevisveis e
urgentes (como as
decorrentes de
guerra, comoo
interna ou calami-
dade)
Independe de autoriza-
o
Na Unio, a abertura se d
por meio de MP.
Nos estados, DF e muni-
cpios, d-se por MP (se
houver previso de MP da
Carta da UF) ou por De-
creto do Executivo.
Caso a abertura se d por
meio de decreto, este
deve ser enviado imedia-
tamente ao Legislativo.
Incorpora-se ao oramen-
to, mas conserva sua es-
pecificidade, sendo de-
monstrado de modo sepa-
rado.
No exerccio em
que foi aberto
(at 31/12)
Pode ser prorrogado para
o exerccio seguinte,
quando o ato de autoriza-
o tiver sido PROMUL-
GADO nos ltimos 4 me-
ses do exerccio (quando a
MP ou o Decreto de aber-
tura tiver sido editado nos
ltimos 4 meses do exer-
ccio). Nesse caso, rea-
berto no limite do seu sal-
do incorporado ao ora-
mento do exerccio se-
guinte (crdito com vign-
cia plurianual).
NO
Você também pode gostar
- Resumo LRFDocumento8 páginasResumo LRFDanilo SantosAinda não há avaliações
- Direito Das Coisas Civil Iv Resumo ComplDocumento58 páginasDireito Das Coisas Civil Iv Resumo ComplWill De PaulaAinda não há avaliações
- Direito Financeiro PDFDocumento40 páginasDireito Financeiro PDFFernando Jaciara E IsaqueAinda não há avaliações
- Plano de Estudo - Marxismo-Leninismo-MaoismoDocumento47 páginasPlano de Estudo - Marxismo-Leninismo-MaoismoThiago Radd LimaAinda não há avaliações
- A Consolidacao Das Monarquias Na Europa ModernaDocumento12 páginasA Consolidacao Das Monarquias Na Europa ModernaClaudianoSilva100% (1)
- Direito Fiscal IDocumento32 páginasDireito Fiscal IDinis FigueiredoAinda não há avaliações
- Lei 4320 ComentadaDocumento139 páginasLei 4320 Comentadarosalopesbarbosa50% (2)
- Os Antropólogos e Suas Linhagens PDFDocumento10 páginasOs Antropólogos e Suas Linhagens PDFClever SenaAinda não há avaliações
- RESUMO Ciência Política e Teoria Geral Do EstadoDocumento7 páginasRESUMO Ciência Política e Teoria Geral Do Estadoprigio96% (26)
- Questionário 1 - Dir. Financeiro - Camila Cristina - 190134305Documento5 páginasQuestionário 1 - Dir. Financeiro - Camila Cristina - 190134305Camila CristinaAinda não há avaliações
- Teoria Monista e Teoria DualistaDocumento3 páginasTeoria Monista e Teoria DualistaClaudio JuniorAinda não há avaliações
- Despesa PúblicaDocumento12 páginasDespesa Públicaallanploy127100% (1)
- Direito FinanceiroDocumento44 páginasDireito FinanceiroDanDan_XPAinda não há avaliações
- Financeiro UNID6 DESPESADocumento55 páginasFinanceiro UNID6 DESPESAClairton SilvaAinda não há avaliações
- Despesa PúblicaDocumento8 páginasDespesa PúblicaJoao FelixAinda não há avaliações
- Resumo-Direito Financeiro e TributárioDocumento236 páginasResumo-Direito Financeiro e TributárioNivaldo torresAinda não há avaliações
- Aula 12 - Crédito Público e Dívida Pública - Versão 2022Documento43 páginasAula 12 - Crédito Público e Dívida Pública - Versão 2022Sofia Midlej Cardoso FerreiraAinda não há avaliações
- Finance IDocumento4 páginasFinance IMatheus AndradeAinda não há avaliações
- Direito Tributário - Aulas 7 e 8Documento27 páginasDireito Tributário - Aulas 7 e 8Samuel OliveiraAinda não há avaliações
- Finanças Públicas - Material para LeituraDocumento12 páginasFinanças Públicas - Material para LeituraDhara BuzaidAinda não há avaliações
- Despesa Pública - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocumento7 páginasDespesa Pública - Wikipédia, A Enciclopédia LivretchutchutchuAinda não há avaliações
- Novo (A) Documento Do Microsoft WordDocumento3 páginasNovo (A) Documento Do Microsoft WordRenanLiraAinda não há avaliações
- DEF0215 Direito Financeiro (Scaff) - Sara Do Carmo Silva 192-24 (2020)Documento58 páginasDEF0215 Direito Financeiro (Scaff) - Sara Do Carmo Silva 192-24 (2020)Julia Raquel CoimbraAinda não há avaliações
- AULA 2 - DESPESA PÚBLICA e RECEITA PÚBLICADocumento6 páginasAULA 2 - DESPESA PÚBLICA e RECEITA PÚBLICALarissaAinda não há avaliações
- 1.1 Direito Financeiro: Conceito e Objeto. (1.c)Documento29 páginas1.1 Direito Financeiro: Conceito e Objeto. (1.c)Mariana Rosa MoraisAinda não há avaliações
- Despesa Pública PDFDocumento7 páginasDespesa Pública PDFGildete nunes de sousaAinda não há avaliações
- Financeiro UNID5 RECEITADocumento19 páginasFinanceiro UNID5 RECEITAClairton SilvaAinda não há avaliações
- Despesas PúblicasDocumento7 páginasDespesas PúblicasYuri Lima100% (1)
- FDF Tributario Receitas PublicasDocumento7 páginasFDF Tributario Receitas PublicasNilton RaiceAinda não há avaliações
- Direito Financeiro E Finanças PúblicasNo EverandDireito Financeiro E Finanças PúblicasAinda não há avaliações
- Questões de Orçamento Público ComentadasDocumento22 páginasQuestões de Orçamento Público Comentadasbusnelo100% (4)
- Sebenta de Dto Financeiro e FiscalDocumento104 páginasSebenta de Dto Financeiro e FiscalJogiana Araujo AlvesAinda não há avaliações
- Exercícios de Fixação - 10.11 - Via AlunosDocumento9 páginasExercícios de Fixação - 10.11 - Via Alunoslairtonsouza53Ainda não há avaliações
- 1554848052e Book 585pdfDocumento40 páginas1554848052e Book 585pdfGleiton Rubens SantanaAinda não há avaliações
- LRF para Concursos Com Prof. Anderson FerreiraDocumento38 páginasLRF para Concursos Com Prof. Anderson FerreiraClairton LimaAinda não há avaliações
- Documento de ?Documento18 páginasDocumento de ?2209884Ainda não há avaliações
- Execução Do Orçamento de ReceitaDocumento2 páginasExecução Do Orçamento de Receitaelton jaime inguaneAinda não há avaliações
- Trabalho Receitas PúblicasDocumento4 páginasTrabalho Receitas PúblicasFábio CostaAinda não há avaliações
- Sebenta DT Fiscal 20-04-2007 PDFDocumento153 páginasSebenta DT Fiscal 20-04-2007 PDFLukembissi KumonaAinda não há avaliações
- A Despesa PúblicaDocumento10 páginasA Despesa PúblicaFelipe Gama100% (1)
- AULA 07. Despesa PúblicaDocumento11 páginasAULA 07. Despesa PúblicaceliobsiAinda não há avaliações
- Crescimento Progressivo Da Despesa Pública - 1Documento15 páginasCrescimento Progressivo Da Despesa Pública - 1andradeufpaAinda não há avaliações
- Análide Da Classificação Das Receitas e Despesas PúblicasDocumento4 páginasAnálide Da Classificação Das Receitas e Despesas PúblicasTeresa AraújoAinda não há avaliações
- Contabilidade Pública DicasDocumento23 páginasContabilidade Pública DicasAlexandre SasakiAinda não há avaliações
- Fichamento - Aula 1 - (Conceito Tributo)Documento4 páginasFichamento - Aula 1 - (Conceito Tributo)Vítor VilaçaAinda não há avaliações
- Despesas de FuncionamentoDocumento15 páginasDespesas de FuncionamentoNelson Aminosse ZavaleAinda não há avaliações
- Exercício1 Receitas e DespesasDocumento3 páginasExercício1 Receitas e DespesasADRIANO TRINDADE100% (1)
- Direito Financeiro - ResumidoDocumento42 páginasDireito Financeiro - ResumidoDiogo Do ValeAinda não há avaliações
- Receitas e Despesas PúblicasDocumento46 páginasReceitas e Despesas PúblicasCarlos MeneguiniAinda não há avaliações
- Princípios Tributários e Espécies de Tributos (Taxas, Contirbuições e Empréstimos)Documento250 páginasPrincípios Tributários e Espécies de Tributos (Taxas, Contirbuições e Empréstimos)Leonardo Delfino CesarAinda não há avaliações
- Apostila 6 - 2021 PDFDocumento8 páginasApostila 6 - 2021 PDFPedro AfonsoAinda não há avaliações
- Texto Ativo Lei 4320-64 CF-88 DL200-67Documento25 páginasTexto Ativo Lei 4320-64 CF-88 DL200-67Filipi DuriganAinda não há avaliações
- Orçamento Publico Aula 5Documento16 páginasOrçamento Publico Aula 5clayton_51Ainda não há avaliações
- Ativ 30598Documento7 páginasAtiv 30598Joaao SouzaAinda não há avaliações
- Direito Fiscal IDocumento9 páginasDireito Fiscal IÉrica SilvaAinda não há avaliações
- SERTDocumento4 páginasSERTElisangelaAinda não há avaliações
- Direito Financeiro e Teoria Geral Do Direito TributárioDocumento22 páginasDireito Financeiro e Teoria Geral Do Direito TributárioluizflslimaAinda não há avaliações
- Resumo - Direito FinanceiroDocumento19 páginasResumo - Direito FinanceirombeltraminAinda não há avaliações
- Apostila de Direito Tributário - LFGDocumento26 páginasApostila de Direito Tributário - LFGLilian MirandaAinda não há avaliações
- Caderno de Erros - AfoDocumento11 páginasCaderno de Erros - AfoThay SoaresAinda não há avaliações
- Espécies TributáriasDocumento16 páginasEspécies TributáriasGiovanna VenturaAinda não há avaliações
- Conceito, Objeto e Autonomia Do Direito FinanceiroDocumento9 páginasConceito, Objeto e Autonomia Do Direito FinanceiroAndréAinda não há avaliações
- Direito Tributário I - Atualizado PDFDocumento20 páginasDireito Tributário I - Atualizado PDFjusinfocusAinda não há avaliações
- O acerto do Supremo no julgamento da ADI n.º 5.679No EverandO acerto do Supremo no julgamento da ADI n.º 5.679Ainda não há avaliações
- Apostila 2â Fase CivilDocumento23 páginasApostila 2â Fase CivilAnnaPaulaSantos0% (1)
- Recurso Sentido Estrito Lei Maria PenhaDocumento9 páginasRecurso Sentido Estrito Lei Maria PenhadhermogênioAinda não há avaliações
- Simulado Direito CivilDocumento103 páginasSimulado Direito CivilEvandro SoutoAinda não há avaliações
- Direito Do Trabalho-ExercíciosDocumento155 páginasDireito Do Trabalho-ExercíciosfjamorimAinda não há avaliações
- Apostila de Direito FinanceiroDocumento67 páginasApostila de Direito FinanceiroPri BasAinda não há avaliações
- A Constituição de 1988, O Poder Judiciário E O Acesso À Justiça Samantha Ribeiro Meyer-Pflug Marques Karim Regina Nascimento PossatoDocumento25 páginasA Constituição de 1988, O Poder Judiciário E O Acesso À Justiça Samantha Ribeiro Meyer-Pflug Marques Karim Regina Nascimento PossatoEduardoAinda não há avaliações
- Manual Caseiro - Direitos Humanos - 2020 PDFDocumento138 páginasManual Caseiro - Direitos Humanos - 2020 PDFDaniel Da Silva LopesAinda não há avaliações
- Conceito Fundamental Direito Administrativo-Rui Cirne LimaDocumento6 páginasConceito Fundamental Direito Administrativo-Rui Cirne LimaAlencar Deck ViganoAinda não há avaliações
- TrabalhoDocumento7 páginasTrabalhoLuana NayméAinda não há avaliações
- Lei Responsabilidade Fiscal SilvaDocumento10 páginasLei Responsabilidade Fiscal SilvamaduliveiraxAinda não há avaliações
- REGIMENTO INTERNO DO CMDCA ModeloDocumento30 páginasREGIMENTO INTERNO DO CMDCA ModeloLuis Fernando RodriguesAinda não há avaliações
- Marx, Weber e DurkheimDocumento2 páginasMarx, Weber e DurkheimVanessa FeyAinda não há avaliações
- O Liberalismo Antigo e ModernoDocumento4 páginasO Liberalismo Antigo e ModernoMárcio de Carvalho BitencourtAinda não há avaliações
- Questões CPMDocumento3 páginasQuestões CPMCristiano GuimaraesAinda não há avaliações
- Textos Jurídicos Variados-JunhoDocumento21 páginasTextos Jurídicos Variados-JunhoReinaldo GóesAinda não há avaliações
- E-Book Pré-CampanhaDocumento28 páginasE-Book Pré-Campanhabarbaramariasc01Ainda não há avaliações
- Ser001 Unidade 1Documento33 páginasSer001 Unidade 1Patricia MendonçaAinda não há avaliações
- Diario Oficial Do Estado Do Piaui Publicacao N 163Documento186 páginasDiario Oficial Do Estado Do Piaui Publicacao N 163lucelia2002Ainda não há avaliações
- Da I Rita Preto Sebenta de Direito Administrativo I Das Auals Da DR Fernanda Paula 20152016Documento81 páginasDa I Rita Preto Sebenta de Direito Administrativo I Das Auals Da DR Fernanda Paula 20152016Margarida MarquesAinda não há avaliações
- Trabalho de Reforma Do Sector Publico em Grupo-1Documento16 páginasTrabalho de Reforma Do Sector Publico em Grupo-1Abdul Momade BuanaAinda não há avaliações
- Reserva de Regulação Da Administração Pública Francisco DefantiDocumento27 páginasReserva de Regulação Da Administração Pública Francisco Defantirodrigo.brtlnAinda não há avaliações
- Avaliação FinalDocumento12 páginasAvaliação Finalfeliphe.carvalho52Ainda não há avaliações
- A Economia Solidária Uma Crítica Marxista - Claus GermerDocumento16 páginasA Economia Solidária Uma Crítica Marxista - Claus GermerLucas TurmenaAinda não há avaliações
- Os Militantes Invisíveis Dos Partidos Brasileiros - Opinião - EL PAÍS BrasilDocumento8 páginasOs Militantes Invisíveis Dos Partidos Brasileiros - Opinião - EL PAÍS BrasilAloma DiasAinda não há avaliações
- Notas Sobre Cidadania e Modernidade Nelson Coutinho1Documento25 páginasNotas Sobre Cidadania e Modernidade Nelson Coutinho1Rute SouzaAinda não há avaliações
- Constitucional 4Documento45 páginasConstitucional 4marialuizakunertAinda não há avaliações
- Fichamento "Debate Poulantzas e Miliband"Documento9 páginasFichamento "Debate Poulantzas e Miliband"Vinícius Oliveira SantosAinda não há avaliações
- Caderno de QuestõesDocumento29 páginasCaderno de QuestõesDriese GomesAinda não há avaliações
- Princípio Reforçado Da Juricididade JAO REF IV 1 PDFDocumento45 páginasPrincípio Reforçado Da Juricididade JAO REF IV 1 PDFJosé Avilez OgandoAinda não há avaliações