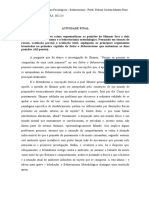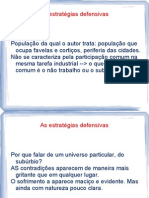Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Razão e Emoção Uma Leitura Analítico-Comportamental
Razão e Emoção Uma Leitura Analítico-Comportamental
Enviado por
Júlia Carolina0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações8 páginasTítulo original
Razão e Emoção Uma Leitura Analítico-comportamental
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações8 páginasRazão e Emoção Uma Leitura Analítico-Comportamental
Razão e Emoção Uma Leitura Analítico-Comportamental
Enviado por
Júlia CarolinaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 8
Razo e emoo: uma leitura analtico-comportamental
de avanos recentes nas neurocincias
Rosngela Arajo Darwich
Universidade da Amaznia
Resumo
Achados recentes das neurocincias apresentam uma viso integrada do funcionamento humano que envol-
ve a presena de relaes entre os grandes sistemas orgnicos, entre estados fisiolgicos e cognitivos e entre
razo e emoo. Este artigo objetiva contrastar tais estudos a aspectos centrais do modelo interpretativo
skinneriano, destacando o papel de relaes entre processos respondentes e operantes para a compreenso
da interdependncia entre razo e emoo. Investiga-se a importncia de respostas emocionais e do com-
portamento verbal para a expresso de respostas tidas como racionais e, de uma maneira geral, para a
seleo do repertrio comportamental, verbal e no-verbal. Ressalta-se que o atual movimento de supera-
o de propostas dualistas de compreenso do ser humano pelas neurocincias aproxima-se da perspectiva
analtico-comportamental de investigao de respostas abertas e encobertas no contexto de relaes indiv-
duo-ambiente.
Palavras-chave: razo e emoo; relaes respondente-operante; anlise do comportamento; neurocincias
Abstract
Reason and emotion: a behavior-analytic interpretation of recent advances in neurosciences. Recent findings
of the neurosciences present an integrated view of the human functioning, one that encompasses the relationships
among the great organic systems, between physiological and cognitive states and between reason and emotion.
The aim of this paper is to contrast such studies with central aspects of the Skinnerian explanatory system,
highlighting the role of relations between respondent and operant processes for an understanding of the
interdependence between reason and emotion. The importance of emotional responses and verbal behavior
for rational responding and, moreover, for the selection of verbal and non-verbal behavioral repertoire, is
discussed. It is argued that the current movement in the neurosciences towards overcoming dualistic views of
the human being is compatible with the behavior-analytic approach to overt and covert responses in the
context of individual-environment relations.
Keywords: reason and emotion; operant-respondent interaction; behavior analysis; neurosciences
U
m rapaz est lendo um livro na penumbra quando
sua me entra no aposento e abre as cortinas. De
acordo com a anlise do comportamento, pode-se
levantar a hiptese de que a resposta de permanecer lendo,
apesar da pouca luminosidade, foi reforada positivamente
(pelo acrscimo de um estmulo reforador luz exterior). Se o
rapaz, no entanto, levantar-se, fechar novamente as cortinas
e acender a luz, as cortinas abertas poderiam mais provavel-
mente caracterizar o contato com uma contingncia de puni-
o positiva (pelo acrscimo de um estmulo aversivo luz
exterior). Alm disso, se o rapaz, aps alguns segundos de
leitura, apagar novamente a luz e abrir as cortinas, seria pos-
svel considerar que ele preferiu a situao envolvendo a
presena de luz exterior.
Tendo em vista que mesmo a resposta de tomar uma
deciso ou de escolher foi selecionada anteriormente por
suas conseqncias, restaria perguntar quais aspectos
ambientais so importantes para a compreenso do que
decidido. De acordo com Catania (1998), estmulos
discriminativos sinalizam as conseqncias de uma respos-
ta (p. 24) ou, em outros termos, estabelecem a ocasio na
qual respostas acarretam conseqncias (p. 129). No caso
aqui apresentado, ento, quais seriam esses estmulos
discriminativos? Apenas os dois tipos de luz?
No mbito das neurocincias, achados em diferentes re-
as vm apontando para a necessidade de compreenso do
ser humano enquanto uma unidade. Damsio (1996) reconhe-
ceu que indivduos que sofrem uma determinada leso cere-
Estudos de Psicologia 2005, 10(2), 215-222
216
bral passam a apresentar deficincias tanto em suas reaes
emocionais quanto na capacidade de tomar decises e, com
tal base, apresentou a proposta de que emoo e razo so
interdependentes. Tal proposta, que parece ser coerente com
a perspectiva que, na anlise do comportamento, valoriza o
papel de respostas emocionais para a compreenso do con-
trole ambiental por contingncias operantes, desenvolvida,
a seguir, por meio de uma reviso de princpios de ambas as
reas de estudo.
Razo e emoo da perspectiva da anlise do
comportamento
Compreender relaes de dependncia entre razo e emo-
o da perspectiva da anlise do comportamento implica con-
siderar interinfluncias entre a presena de respostas emoci-
onais e a emisso de operantes. Tal perspectiva investigada,
a seguir, no contexto de anlise: (a) da discriminao verbal
de uma resposta emocional, a qual remete relao entre
comportamento verbal e conhecimento consciente; (b) da
interinfluncia entre comportamento verbal e ocorrncia de
respostas emocionais; (c) de respostas emocionais como efei-
to colateral de contingncias operantes e, por conseguinte,
com funo discriminativa para a emisso de operantes; e (d)
do favorecimento de alteraes de operantes e de respostas
emocionais por meio do conhecimento consciente de rela-
es de contingncia.
Para a anlise do comportamento, comportamentos aber-
tos (observveis publicamente) e encobertos (como os pen-
samentos e os sentimentos) so compreendidos por meio
das relaes historicamente estabelecidas pelo indivduo
com contingncias ambientais. Contingncias respondentes
so caracterizadas pela relao da resposta com um estmu-
lo antecedente, enquanto contingncias operantes enfatizam
a relao da resposta com um estmulo conseqente (Skinner,
1953/1965). A proposta skinneriana de anlise
comportamental afasta-se de referncias s condies bio-
lgicas justamente porque a integrao do indivduo to-
mada como princpio filosfico bsico: alteraes em rela-
es com o ambiente externo implicam modificaes no in-
divduo como um todo (Tourinho, Teixeira, & Maciel, 2000).
Percebe-se, portanto, a busca de investigao de relaes
indivduo-ambiente independentemente de mediadores men-
tais e fisiolgicos (Srio, 1990).
Em linhas gerais, Skinner (1945) instituiu o monismo como
viso de homem, em contraposio a perspectivas dualistas,
ao lado da proposta de estudo de comportamentos encober-
tos por meio dos mesmos princpios explicativos de compor-
tamentos abertos. Alm disso, a adoo do modo causal de
seleo por conseqncias implica que o comportamento
resultante da atuao de um mesmo mecanismo em trs n-
veis de variao e seleo filognese, ontognese e cultura
(e.g., Skinner, 1981/1984). Como tal modo causal no restrito
explicao de operantes, ele tambm pretende dar conta de
relaes respondentes.
Vale ressaltar que termos como resposta emocional, emo-
o e sentimento referem-se, de uma maneira geral, a fenme-
nos complexos, com componentes respondentes e operantes
1
.
No que tange discriminao de uma dada resposta emocio-
nal, Holland e Skinner (1961/1975) afirmaram que um estmulo
doloroso ou amedrontador pode eliciar respostas que fazem
parte do comportamento respondente observado em emo-
es como medo, ansiedade, raiva, mas tambm em estados
de febre e resultantes de esforo fsico extremo. Assim sen-
do, ainda que a identificao de alteraes respondentes nas
condies corporais seja importante para a discriminao de
uma resposta emocional, tal conhecimento principalmente
dependente do reconhecimento de predisposies para a
emisso de operantes (Skinner, 1953/1965; Catania, 1998).
Percebe-se, portanto, que a participao em uma comu-
nidade verbal capacita o indivduo a identificar diferentes
respostas emocionais e, neste sentido, a tornar-se consci-
ente do que sente. Skinner (1953/1965) afirmou que o com-
portamento que chamamos de conhecer deve-se a um tipo
particular de reforo diferencial. Mesmo na comunidade mais
rudimentar questes como ... o que voc est fazendo?
compelem o indivduo a responder a seu prprio comporta-
mento aberto (p. 287), o que tambm vlido para a aquisi-
o de conhecimento de eventos privados. Vale ressaltar
que, ao compreender o estar consciente e o estar inconsci-
ente como relaes comportamentais, o behaviorismo re-
jeita ... o inconsciente como um agente e, obviamente, tam-
bm rejeita a mente consciente como um agente (Skinner,
1974/1976, p. 169).
Um outro ponto a ser considerado refere-se influncia
do comportamento verbal sobre a ocorrncia de alteraes
nas condies corporais, nos moldes respondentes. Wilson
e Hayes (2000) indicaram que o comportamento verbal pos-
sui natureza bidirecional (ou simtrica, de acordo com o mo-
delo de equivalncia de estmulos de Sidman) e, portanto,
que a ordem da apresentao de um estmulo neutro e de um
incondicionado, no caso de relaes verbais, indiferente
para o condicionamento do respondente em questo. Assim,
diante de uma instruo envolvendo duas palavras, uma que
elicia respostas condicionadas na maioria das pessoas e ou-
tra sem sentido, esta, inicialmente neutra, passa a eliciar as
mesmas respostas, ainda que apresentada aps aquela
2
.
Wilson e Hayes (2000) chamaram ainda a ateno para o
fato de relatos verbais alterarem contingncias que podem
ser descritas, dando exemplos de situaes de terapia onde o
autoconhecimento possui uma natureza emocional. Indican-
do que o relato de um trauma sofrido no passado traz consigo
algumas das funes do trauma original em funo da
bidirecionalidade da linguagem, os autores parecem concor-
dar com a anlise que Skinner (1953/1965) fez de tais situa-
es, explicando a ansiedade presente pela histria de puni-
o, e a oportunidade de falar sobre o assunto na ausncia de
novas conseqncias aversivas como um procedimento de
extino (respondente) da resposta emocional.
Alm disso, o efeito de condies emocionais sobre o
desempenho mantido pelas conseqncias verificado, por
exemplo, no caso de o operante verbal encoberto estou ansi-
oso, eliciar novas alteraes corporais relacionadas ao que
R.A.Darwich
217
est sendo nomeado como ansiedade. Neste sentido, Skinner
(1991) indicou que, sendo autoperpetuadora e auto-
intensificadora a partir da punio de um operante, a respos-
ta de ansiedade implica alteraes orgnicas que, a longo
prazo, so responsveis por danos sade
3
.
Em linhas gerais, independentemente da presena de dis-
criminao consciente de relaes de contingncia,
interinfluncias entre comportamento verbal e respostas emo-
cionais demonstram a necessidade da anlise valorizadora da
integrao do indivduo em suas relaes com o ambiente.
A importncia de tal perspectiva de anlise tambm
demonstrada pela relao entre contingncias operantes e
seus efeitos colaterais [e.g., Skinner, 1953/1965]. De acordo
com Catania (1998), o prprio termo comportamento emocio-
nal refere-se a
mudanas correlacionadas em uma srie de classes de respostas
(por exemplo, se um estmulo pr-aversivo altera, simultane-
amente, a taxa de batimentos cardacos, a respirao, a pres-
so sangnea, a defecao e o comportamento operante man-
tido por reforo, diz-se que ele produz um comportamento
emocional). (p. 388)
Percebe-se, portanto, que o estmulo com funo pr-
aversiva, enquanto evento antecedente ocorrncia da res-
posta, apresenta funo discriminativa, mas tambm
eliciadora. No mesmo sentido, Sidman (1995) enfatizou o
papel dos efeitos colaterais das contingncias operantes,
indicando que o ambiente, ao selecionar operantes, tambm
elicia respostas emocionais cujo alcance no deve ser su-
bestimado. Sidman (2001) resumiu sua posio nos seguin-
tes termos:
em Coero e suas implicaes, eu extrapolei a partir dos
estudos de laboratrio de muitos pesquisadores e comparei duas
maneiras poderosas de influenciar as pessoas reforamento
positivo versus punio; fui capaz de confirmar que os efeitos
colaterais da punio so responsveis pela maior parte dos
elementos que tornam a vida desagradvel e, s vezes, at
mesmo sem valor. (p. 300)
Holland e Skinner (1961/1975) apontaram mltiplos efei-
tos de estmulos aversivos, como possibilitar o condiciona-
mento de esquiva, eliciar respondentes e condicionar outros
estmulos a eliciar respondentes. Por outro lado, Skinner (1974/
1976) ressaltou que
A exultao que uma pessoa sente quando completa uma tarefa
difcil apenas um dos estados associados com o reforo posi-
tivo. Diz-se tambm que uma pessoa sente prazer (o reforo
prazeroso), satisfao (relacionada, etimologicamente, ... com
saciao), alegria ou felicidade. (p. 175)
Keller e Schoenfeld (1950/1973) indicaram, ainda, que a
intensidade extrema de um estmulo aversivo pode ser toma-
da como emocional, o que dificulta a separao entre funo
discriminativa e eliciadora. Seria como se os estmulos
discriminativos, que antecipam o reforamento positivo, pro-
duzissem ... uma agradvel e alegre antecipao; aqueles
que antecipam reforamento negativo causariam uma desa-
gradvel antecipao de medo ou ansiedade (p. 269). As-
sim sendo, possvel considerar que respostas emocionais
condicionadas a uma dada situao adquirem funo
discriminativa, tendo em vista que passam a estabelecer a
ocasio em que uma resposta ser reforada, sinalizando con-
seqncias ambientais semelhantes s envolvidas em seu
condicionamento
4
.
Na medida em que conhecimento verbal ou consciente
de relaes de contingncia no necessrio para que o
ambiente assuma o controle sobre o comportamento, altera-
es nas condies corporais, caractersticas de respostas
emocionais, podem assumir funo discriminativa mesmo
quando no so verbalizadas. Holland e Skinner (1961/1975)
demonstraram, por meio de procedimentos de esquiva sina-
lizada com animais no-verbais, que, na ansiedade, a fre-
qncia do comportamento [positivamente] reforado com
alimento diminui e a freqncia de comportamento de esqui-
va aumenta (p. 238).
Holland e Skinner (1961/1975) apontaram ainda que a
baixa freqncia inicial [de esquiva] sugere que a ansiedade
necessria para um comportamento de esquiva adequado.
Isto parece com o estabelecer uma condio de privao an-
tes de um reforo positivo (p. 231). E, ainda: do mesmo
modo [que as condies de privao], as condies de emo-
o alteram a probabilidade de toda uma classe de respostas
(p. 215). Neste sentido, verifica-se uma aproximao com o
conceito de operaes estabelecedoras, posto que estas es-
tabelecem as condies sob as quais as conseqncias po-
dem tornar-se efetivas como reforadoras ou punidoras
(Catania, 1998, p. 14). Como exemplos de operaes
estabelecedoras, Catania destacou, no entanto, apenas
privao, saciao, procedimentos que estabelecem estmulos
formalmente neutros como reforadores condicionados ou
como estmulos aversivos condicionados, e apresentaes de
estmulo que mudam a condio reforadora ou punitiva de
outros estmulos (como quando uma chave de fendas que j
estava disponvel torna-se um reforador na presena de um
parafuso que precisa ser enroscado). (pp. 388-389)
Aproximando-se mais claramente da perspectiva de
Holland e Skinner (1961/1975), Dougher e Hackbert (2000)
destacaram que eventos que eliciam fortes reaes emocio-
nais ... so exemplos de operaes estabelecedoras com efei-
to a longo prazo (p. 16).
Por fim, o contexto que relaciona respostas emocionais e
comportamento verbal esclarece como a aquisio de conhe-
cimento consciente de relaes de contingncia pode favo-
recer alteraes comportamentais. Em uma tentativa de de-
monstrar como os princpios bsicos da anlise do comporta-
mento poderiam ser incorporados prtica clnica, Skinner
(1974/1976) associou a relevncia da psicoterapia possibili-
dade de o terapeuta avaliar relaes comportamentais que
permanecem inconscientes ao cliente. Neste sentido, Skinner
afirmou que a psicoterapia particularmente importante
quando as contingncias responsveis por um relato verbal
so to poderosas que a prpria pessoa no sabe que est
com medo. O terapeuta a ajuda a descobrir seu temor (p.
Emoes e sentimentos: comportamento e neurocincias
218
191). Deve-se considerar, em uma situao assim, que o
terapeuta tem acesso sensao que permanece inconscien-
te ao cliente na medida em que percebe que ele emite uma alta
freqncia de respostas de esquiva.
Este artigo iniciou com um exemplo de interao indiv-
duo-ambiente que questiona o fato de a emisso de um
operante ser relacionada apenas ao contato com estmulos
discriminativos presentes no ambiente externo. Diante da
possibilidade de ler sob luz exterior ou artificial, a resposta
final do rapaz refletiu a escolha pela primeira condio, mas
pretende-se argumentar que diferentes reaes emocionais
aos dois tipos de luz podem ser tidas como imprescindveis,
enquanto eventos com funo discriminativa, para a respos-
ta de decidir. Tal perspectiva corresponde a posicionamentos
atualmente defendidos pelas neurocincias, conforme deta-
lhado a seguir.
Razo e emoo da perspectiva das neurocincias
Afastando-se de conceitos mdicos tradicionais, os mais
recentes achados experimentais e anlises interpretativas das
neurocincias so indicativos da necessidade de compreen-
so do organismo de forma integrada. Nestes termos,
verificada a existncia de relao entre: (a) os grandes siste-
mas orgnicos; (b) estados fisiolgicos e cognitivos; e (c)
razo e emoo.
A psiconeuroimunologia empenha-se em compreender o
funcionamento orgnico atravs da demonstrao de rela-
es entre emoes e estados de sade e doena a partir da
interao dinmica entre os sistemas nervoso central,
endcrino e imunolgico (Achterberg, 1996; Gauer &
Rumjanek, 2003). Negando, pois, a hiptese tradicional de
que os grandes sistemas orgnicos desempenham funes
especficas e de forma independente, tal rea de estudo teve
incio em torno de 1974, quando Robert Ader verificou expe-
rimentalmente a supresso condicionada da funo imune
em ratos atravs de um procedimento voltado ao condiciona-
mento e extino da resposta de nusea ingesto de gua
com sacarina (um estmulo inicialmente neutro), aps o seu
pareamento com injeo de ciclofosfamida (estmulo
incondicionado). Como esta droga, alm de eliciar nuseas,
apresenta uma funo imunossupressora, a morte de alguns
dos sujeitos durante a fase de extino foi tomada como um
indicativo de condicionamento tambm da resposta imune e,
portanto, de inter-relaes entre o sistema nervoso central e
o imunolgico (Azar, 1998).
A identificao de interconexes entre substratos neurais
da emoo no crebro e o funcionamento dos sistemas
endcrino e imunolgico exemplifica os novos rumos toma-
dos pela medicina contempornea. Verificou-se que situaes
crnicas de estresse, que comumente envolvem estados de
depresso, ansiedade ou raiva, podem ocasionar o entupi-
mento das coronrias, colite, dermatite, lceras, inflamaes,
diabetes e cncer (Sabattini, 2000). Alm disso, percebeu-se
que o hipotlamo secreta hormnios que atuam sobre a
hipfise, que faz o mesmo com diversas glndulas-alvo, afe-
tando a secreo de hormnios que alteram as reaes infla-
matrias dos tecidos e inclusive a produo de anticorpos,
caracterizando uma imunodepresso produzida por estresse
(Gauer & Rumjanek, 2003). Ressalta-se a a importncia do
hipotlamo para a expresso emocional e para as interconexes
entre os grandes sistemas orgnicos, posto que ele controla
o sistema endcrino e interfere nas funes viscerais (Amaral
& Oliveira, 1998).
Pesquisas demonstraram, nos anos 1980, no entanto, que
a relao entre emoes e sistema imunolgico no ocorre
exclusivamente atravs do sistema endcrino estruturas
do sistema nervoso central tm um papel na regulao da
funo do timo ... o que estimula a produo das clulas T
(Achterberg, 1996, p. 165). Alm disso, leses cerebrais e
estimulao eltrica de partes do crebro podem influenciar a
produo de anticorpos (Brown, 1997). Cabe ressaltar que,
enquanto neurnios produzem e secretam neurotransmissores
no sistema nervoso e glndulas produzem e secretam
hormnios no sistema endcrino, no sistema imunolgico,
linfcitos, macrfagos, clulas dendrticas e NK (natural
killer) produzem e secretam tanto neurotransmissores e
hormnios como tambm citocinas ou interleucinas, algumas
das quais regulam funes nervosas e endcrinas (Gauer &
Rumjanek, 2003). Na medida em que clulas imunolgicas re-
cebem e enviam mensagens qumicas ao sistema nervoso
central, considera-se, entre os dois sistemas, a existncia de
um crculo ciberntico de feedback (Norris, 1989).
O sistema imunolgico, alm de assumir a funo de de-
fesa imunolgica, exerce um papel distinto na homeostasia
sendo a prpria defesa aparentemente uma tentativa de res-
gate do equilbrio orgnico
5
. De uma maneira geral, tal siste-
ma capacita o organismo a interpretar e a reagir a estmulos
externos invisveis aos rgos dos sentidos, atuando como
se fosse um rgo sensorial, mas alm de perceber a ocorrn-
cia de mudanas, como, por exemplo, a entrada de
microorganismos e a multiplicao desordenada de clulas
no desenvolvimento de cncer, tambm reage a elas e apren-
de a partir delas, analisando, lembrando e passando suas
experincias a futuras geraes de clulas. Em muitos senti-
dos, portanto, o sistema imunolgico pode ser considerado
como um sistema cognitivo que detecta mudanas e as inte-
gra aos sistema nervoso e endcrino (Gauer & Rumjanek,
2003). Por tais motivos, o sistema imunolgico parece ser o
elo que explica as interaes entre fenmenos psicossociais
e importantssimas reas de patologia humana, como doen-
as de auto-agresso, infecciosas, neoplsicas e alrgicas
(Moreira & Mello Filho, 1992, p. 125).
O funcionamento do sistema nervoso, por outro lado,
dependente de reflexos incondicionados e condicionados,
os quais envolvem a presena de um estmulo sensorial exter-
no (sonoro, luminoso, olfativo ou ttil) ou interno (relaciona-
do a vsceras, ossos ou articulaes) que atinge um receptor
e assim provoca modificao das condies orgnicas e res-
posta motora, secretora ou neurovegetativa que pode, por
exemplo, alterar reaes imunolgicas (Amaral & Sabattini,
1999). H indcios experimentais de que estmulos externos e
mesmo estmulos imaginados que eliciam respostas emocio-
nais acarretam alteraes ao nvel do sistema imunolgico
associadas a doenas como o lpus eritematoso sistmico,
R.A.Darwich
219
artrite reumatide, alergias e tumores (Apanius, 1998; Buske-
Kirschbaum, Kirschbaum, & Hellhammer, 1994; Norris, 1989).
A condio corporal de relaxamento, por outro lado, leva
liberao de encefalinas e endorfinas e a um conseqente
fortalecimento imunolgico. A realizao regular de exercci-
os fsicos beneficia igualmente o funcionamento do organis-
mo como um todo, na medida em que a canalizao das ener-
gias desperdiadas pelas tenses emocionais o reequilibra.
Vale ainda acrescentar que aspectos imunolgicos tambm
podem alterar o comportamento, posto que a recepo de
citocinas por determinados neurnios causa fadiga, falta de
apetite, febre e letargia (Gauer & Rumjanek, 2003).
Pavlov (1904/1980), quando da demonstrao do condi-
cionamento de resposta de salivao presena do som de
uma campainha (estmulo neutro que se torna condicionado
ao ser pareado com comida, um estmulo incondicionado para
a resposta de salivao), j indicava que a mudana afetava
no apenas a resposta de salivao, mas tambm a secreo
e a motricidade digestiva, por exemplo. De acordo com Amaral
e Sabattini (2000), o chamado efeito placebo pode ser com-
preendido atravs do mesmo princpio, considerando-se que
a expectativa (condicionamento) do sistema nervoso em rela-
o aos efeitos de uma droga pode anular, reverter, ampliar
reaes farmacolgicas e mesmo fazer com que efeitos suge-
ridos ou esperados ocorram aps a administrao de subs-
tncias inertes. Amaral e Sabattini demonstraram a ocorrn-
cia de anulao da ao farmacolgica de acetilcolina, em
ces, em conseqncia de um procedimento de condiciona-
mento respondente que envolvia um som como estmulo ini-
cialmente neutro. Como a acetilcolina gera hipotenso, tal
resposta continuou a ser apresentada na presena apenas do
som e mesmo quando, na presena do som, injetava-se
adrenalina, uma substncia geradora de hipertenso.
Partindo da hiptese de que as emoes so processos
fisiolgicos que dependem de mecanismos anatmicos, as
teorias que foram sendo propostas em direo fundamenta-
o moderna da expresso emocional na biologia do crebro
culminaram, na metade do sculo passado, com a noo de
sistema lmbico, por MacLean
6
. O sistema lmbico passou a
representar uma espcie de revoluo no pensamento cient-
fico porque abarca no apenas estruturas subcorticais, como
tambm reas do neocrtex. Atualmente compreende-se a
expresso e a modulao das emoes atravs de interaes
entre reas subcorticais e corticais, atentando-se tambm a
funes relacionadas aos hemisfrios cerebrais (Amaral &
Oliveira, 1998). De acordo com Achterberg (1996),
o hipotlamo (que ... tem importante papel regulador na fun-
o imunolgica) est intimamente conectado s partes do
crebro envolvidas na emoo, isto , o sistema lmbico. Este,
por sua vez, forma uma rede de conexo com os lobos frontais,
a parte mais evoluda do prprio crtex e que, acredita-se,
primordial para a imaginao e para o planejamento do futuro.
O crebro , na verdade, uma verdadeira malha de circuitos
interconectados, e a atividade que ocorre em determinada par-
te dele afeta de certo modo toda a configurao. (p. 165)
Teorias contemporneas da emoo, desenvolvidas no
mbito das neurocincias, consideram o sentimento como
sendo uma sensao consciente do estado corporal que
caracteriza a emoo. Verifica-se uma distino clara entre
emoo, relacionada a aspectos fisiolgicos, e sentimen-
to, relacionado a aspectos cognitivos, envolvendo circui-
tos neuronais subcorticais e corticais, respectivamente
(Iversen, Kupfermann, & Kandel, 2000). Damsio (2000)
afirmou, at mesmo, que as emoes no podem ser co-
nhecidas pelo indivduo que as est tendo antes de existir
conscincia (p. 353), sendo que a reflexo sobre o senti-
mento situa-se uma etapa adiante (p. 359). Tais teorias, na
medida em que apontam a necessidade de integrao de
estados fisiolgicos e cognitivos para a compreenso das
emoes, aproximam-se da proposta analtico-
comportamental que ressalta a importncia do comporta-
mento verbal para a discriminao (ou conscincia) de
emoes pelo indivduo que as apresenta.
A integrao de razo e emoo foi proposta por
Damsio (1996) a partir da observao de que indivduos
com dano no lobo pr-frontal passam a apresentar deficin-
cias tanto na capacidade de sentir emoes quanto no con-
trole sobre aes que comumente so tidas como resultan-
tes apenas do uso da razo. Apesar da capacidade intelec-
tual de tais indivduos permanecer intacta, seu raciocnio
prtico alterado e suas relaes pessoais deterioram-se.
Seguindo a idia de Damsio, Palmini (2004) indicou que o
que determina a direo da tomada de decises no seria ...
o conhecimento terico de quais conseqncias poderiam
decorrer de uma deciso num ou noutro sentido, mas sim o
que o indivduo sentiria se, de sua deciso, decorresse tal
ou qual conseqncia (p. 83).
Damsio (1996) concluiu que os sentimentos, juntamente
com as emoes que os originam, no so um luxo. Servem de
guias internos e ajudam-nos a comunicar aos outros sinais
que tambm os podem guiar (p. 15). Verifica-se, assim, uma
aproximao seguinte afirmativa de Skinner (1977): desde
que muitos eventos que devem ser levados em conta ao se
explicar o comportamento esto associados a estados corpo-
rais que podem ser sentidos, o que sentido pode servir
como uma pista para as contingncias (p. 5).
Em suma, os enunciados de Damsio (1996) e de Skinner
(1977) refletem a importncia do contato com caractersticas
particulares do ambiente externo e com ocorrncias fisiolgi-
cas, independentemente da participao de envolvimento de
comportamento verbal ou conhecimento consciente das rela-
es de contingncia em vigor. Compreende-se, assim, o pa-
pel de respostas emocionais na explicao de respostas
operantes, verbais e no-verbais.
Consideraes finais
Skinner (1974/1976) indicou que estudos desenvolvidos
pela fisiologia resultariam em uma explicao para a lacuna
temporal existente entre a presena de um estmulo conse-
qente emisso de um operante e a repetio futura de
Emoes e sentimentos: comportamento e neurocincias
220
respostas da mesma classe. Em tal contexto, no entanto, ele
chamou a ateno para a possibilidade de teorias mentalistas
influenciarem os fisiologistas a buscar respostas para a expli-
cao de alteraes comportamentais em correlatos neurais
de imagens, lembranas ou conscincia.
Para a anlise do comportamento, a apresentao, a reti-
rada ou a no apresentao de um estmulo reforador ou
aversivo contingente emisso de um operante acompa-
nhada de respostas emocionais que se faro presentes em
situaes futuras semelhantes. Pode-se, portanto, contar com
eventos com funo discriminativa tanto no ambiente exter-
no, quanto no ambiente interno, no caso de indivduo ser
capaz de reagir emocionalmente. Desta maneira, a determina-
o da funo reforadora ou aversiva do estmulo conse-
qente dependente da capacidade do indivduo responder
como um todo, inclusive com respostas emocionais, s situ-
aes com as quais entra em contato.
A perspectiva aqui em questo foi apontada por
Damsio (1996) nos seguintes termos: a atualizao efeti-
va das ... potencialidades [de estratgias de raciocnio] de-
pende provavelmente ... de um exerccio continuado da ca-
pacidade de sentir emoes (p. 12). Tal posicionado sus-
tentado na medida em que se considere que a memria de
uma situao sentida faz com que, conscientemente ou no,
evitemos acontecimentos associados com sentimentos ne-
gativos e procuremos situaes que possam causar senti-
mentos positivos (Damsio, 2004, p. 191). Assim sendo,
leso no lobo pr-frontal, conforme descrita por Damsio
(1996), parece prejudicar o controle de operantes por con-
tingncias atuais na medida em que impossibilita reaes
emocionais (Darwich & Galvo, 2001).
Tal argumento relaciona-se ao reconhecimento de que
muitas estruturas cerebrais envolvidas na expresso e mo-
dulao das emoes aparentam ter um papel importante no
que se costuma chamar de memria, como tambm o caso
da amgdala e do hipocampo. De acordo com Amaral e Oli-
veira (1998), uma leso na amgdala leva perda do sentido
afetivo da percepo (o reconhecimento de pessoas anteri-
ormente conhecidas permanece, mas no lembranas acer-
ca do afeto anteriormente dispensado a elas); a destruio
do hipocampo, tambm envolvido no controle de respostas
emocionais, impossibilita que qualquer nova informao seja
recuperada em termos de lembrana. Alm disso, atribui-se
ao giro cingulado a coordenao de odores e vises com
memrias agradveis de emoes anteriores. Esses so al-
guns dentre inmeros exemplos de inter-relaes que tradu-
zem a complexidade humana.
Cabe ressaltar que Skinner (1969), anteriormente aos enor-
mes avanos das neurocincias, j afirmava que
a distino fisiolgica entre a cabea e o corao est, eviden-
temente, desatualizada, o mesmo ocorrendo presumivelmente
com a diferena entre o sistema autnomo e o esqueltico
nervoso. Podemos dar a idia de abandonar a razo quando
camos numa raiva cega, mas a cabea est to envolvida
nisso quanto o corao, o esqueleto tanto quanto o sistema
nervoso autnomo. (p. 299)
Conclui-se, de forma semelhante, que tomar uma deci-
so pode dar a idia de envolver apenas a cabea (razo),
mas o corao (emoes) est igualmente envolvido (e, da
mesma forma, a musculatura esqueltica, a musculatura lisa e
as glndulas e, portanto, o indivduo como um todo). Em
suma, a influncia de aspectos emocionais sobre a expresso
de operantes indica que condicionamentos respondentes po-
dem justificar ao menos parcialmente as modificaes ocorri-
das no indivduo quando de seu contato com reforamento.
Vale ressaltar, por fim, que as anlises das neurocincias,
embasadas na dicotomia mente-corpo, esto sendo revistas.
Damsio (2000), por exemplo, passou a apresentar a seguinte
perspectiva:
mantenho dois nveis de descrio, um para a mente e outro
para o crebro. Essa separao mera questo de higiene
intelectual e, mais uma vez, no resulta de dualismo. Ao man-
ter nveis separados de descrio, no estou sugerindo que
existem substncias separadas, uma mental e a outra biolgica.
Estou apenas reconhecendo a mente como um nvel superior
de processo biolgico, que requer e merece sua prpria descri-
o, devido natureza privada de seu aparecimento e porque
esse aparecimento a realidade fundamental que desejamos
explicar. (pp. 408-409)
O dualismo referente a dois tipos de substncia, a men-
tal e a biolgica, parece ter sido, portanto, superado a favor
da segunda, o que aproxima a anlise de Damsio (2000) da
viso de homem adotada por Skinner. Por outro lado, quanto
a uma diferena fundamental entre eles, deve-se atentar ao
fato de que Damsio, reconhecendo a mente em termos de
um nvel superior de processo biolgico, apresenta a com-
preenso de seu aparecimento como sendo a realidade fun-
damental que desejamos explicar. A este respeito, Skinner
(1945) adiantou-se novamente: ao definir a natureza de pen-
samentos e sentimentos como sendo fsica, e no mental,
caracterizou ambos como sendo comportamentos encober-
tos e, operantes ou respondentes, sujeitos s mesmas leis
que os comportamentos abertos.
Ao que tudo indica, portanto, o modelo skinneriano de
seleo por reforamento seria esclarecedor para pesquisa-
dores que, ao perceberem a integrao do organismo aos
mais variados nveis, permanecem buscando em seu interior
a explicao para a forma como ele se comporta em suas
relaes com o ambiente. Em acrscimo, o desenvolvimento
das neurocincias parece corresponder expectativa de
Skinner (1974/1976) de que descobertas ao nvel de ocorrn-
cias internas, referentes ao funcionamento biolgico dos or-
ganismos, tenderiam a ser coerentes com as concluses
advindas de estudos ao nvel de relaes indivduo-ambien-
te externo realizadas pela anlise do comportamento.
Agradecimentos
Agradecimentos ao Professor Olavo de Faria Galvo,
orientador do curso de mestrado, e ao Professor Emmanuel
Zagury Tourinho, atual orientador do curso de doutorado da
autora.
R.A.Darwich
221
Referncias
Achterberg, J . (1996). A imaginao na cura (C. E. M. de Moura, Trad.). So
Paulo: Summus.
Amaral, J . R., & Oliveira, J . M. (1998). Sistema lmbico: O centro das emoes.
Crebro & Mente [on-line], 5. http://www.cerebromente.org.br/n05/mente/
limbic.htm.
Amaral, J . R., & Sabattini, R. M. E. (1999). Efeito placebo: o poder da plula de
acar. Crebro & Mente [on-line], 9. http://www.epub.org.br/cm/n09/mente/
placebo1.htm.
Apanius, V. (1998). Stress and immune defense. In A. P. Moller, M. Milinski, &
P. J . B. Slater (Orgs.), Stress and behavior (pp. 133-153). San Diego/
Londres: Academic.
Azar, B. (1998). Melding expertise, furthering research. APA Monitor [on-line],
29(5). Obtido de http://www.apa.org/monitor/may98/meld.html.
Brown, T. (1997). Emotions and desease: frontiers of the mind [on-line]. Obtido
de http://www.nlm.nih.gov/hmd/emotions/frontiers.html.
Buske-Kirschbaum, A., Kirschbaum, C., & Hellhammer, D. H. (1994). Conditioned
modulation of NK cells in humans: alteration of cell activity and cell number
by conditioning protocols. Psychologische Beitrge [on-line], 36. Obtido
de http://www.hsp.de/~pabst/psybeit/1994-1-2/article-12.html.
Catania, A. C. (1998). Learning. Upper Saddle River, New J ersey: Prentice Hall.
Damsio, A. (1996). O erro de Descartes: emoo, razo e o crebro humano (D.
Vicente e G. Segurado, Trad.). So Paulo: Companhia das Letras.
Damsio, A. (2000). O mistrio da conscincia (L. T. Motta, Trad.). So Paulo:
Companhia das Letras.
Damsio, A. (2004). Em busca de Espinosa: prazer e dor na cincia dos senti-
mentos (A. Damsio, Trad.). So Paulo: Companhia das Letras.
Darwich, R. A., & Galvo, O. F. (2001). Integrao de razo e emoo: acerca da
importncia do condicionamento respondente para a noo de operante. In H.
J . Guilhardi, M. B. B. P. Madi, P. P. Queiroz, & M. C. Scoz (Orgs.), Sobre
comportamento e cognio (pp. 82-85). Santo Andr: ESETec.
Darwich, R. A., & Tourinho, E. Z. (2005). Respostas emocionais luz do modo
causal de seleo por conseqncias. Revista Brasileira de Terapia
Comportamental e Cognitiva, 7(1), 107-118.
Dougher, M. J ., & Hackbert, L. (2000). Establishing operations, cognition, and
emotion. The behavior analyst, 1(23), 11-24.
Gauer, G. J . C., & Rumjanek, V. M. (2003). Psiconeuroimunologia. In A.
Cataldo Neto, G. J . C. Gauer, & N. R. Furtado (Orgs.), Psiquiatria para
estudante de medicina (pp. 72-82). Porto Alegre: Edipucrs.
Gray, J . A. (1975). Elements of a two process theory of learning. San Diego/
Londres: Academic.
Holland, J . G., & Skinner, B. F. (1975). A anlise do comportamento. So
Paulo: E.P.U. (Texto original publicado em1961)
Iversen, S., Kupfermann, I. E., & Kandel, E. R. (2000). Arousal, emotion, and
behavioral homeostasis. In E. R. Kandel, J . H. Schwartz & T. M. J essel
(Orgs.), Principles of neural science. Nova York: MacGraw-Hill.
Keller, F. S., & Schoenfeld, W. N. (1973). Princpios de psicologia. So Paulo:
Herder. (Texto original publicado em1950)
Moreira, M. D., & Mello Filho, J . (1992). Psicoimunologia hoje. In J . Mello
Filho (Org.), Psicossomtica hoje (pp.119-151). Porto Alegre: Artes Mdicas.
Mowrer, O. H. (1960). Learning theory and behavior. Nova York: Wiley.
Norris, P. A. (1989). Clinical psychoneuroimmunology: strategies for self-regulation
of the immune systemresponding. In J . V. Basmajian (Org.), Biofeedback:
principles and practices for clinicians. Baltimore: Williams & Wilkins.
Palmini, A. (2004). O crebro e a tomada de decises. In P. Knapp (Org.),
Terapia cognitivo-comportamental na prtica psiquitrica (pp. 71-88).
Porto Alegre: ARTMED.
Pavlov, I. V. (1980). Os primeiros passos certos no caminho de uma nova
investigao (R. Moreno, Trad.). In Abril Cultural (Org.), Os Pensadores.
Pavlov/Skinner (pp. 3-14). So Paulo: Autor.
Rescorla, R. A., & Solomon, R. L. (1967). Two-process learning theory:
relationships between Pavlovian conditioning and instrumental training.
Psychological Review, 74, 151-183.
Sabattini, R. M. E (2000). Crebro & Mente [on-line]. Obtido de http://
www.epub.org.br/cm/n12/doencas/mente-doenca.htm.
Srio, T. M. A. P. (1990). Um caso na histria do mtodo cientfico. Tese de
doutorado no-publicada, Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo,
So Paulo.
Sidman, M. (1995). Coero e suas implicaes (M. Andery e T. M. Srio,
Trads.). Campinas: Editorial Psy II.
Sidman, M. (2001). O que a Anlise do Comportamento fez por mim. In H. J .
Guilhardi, M. B. B. P. Madi, P. P. Queiroz, & M. C. Scoz (Orgs.), Sobre
comportamento e cognio (pp. 298-301). Santo Andr: ESETec.
Skinner, B. F. (1945). The operational analysis of psychological terms.
Psychological Review, 52(5), 270-277.
Skinner, B. F. (1965). Science and Human Behavior. Nova York/Londres: The
Free Press/Collier Macmillan. (Texto original publicado em1953)
Skinner, B. F. (1969). Contingencies of reinforcement: a theorethical analysis.
Nova York: Appleton-Century-Crofts.
Skinner, B. F. (1976). About behaviorism. Londres: Penguin Books. (Texto
original publicado em1974)
Skinner, B. F. (1977). Why I amnot a cognitive psychologist. Behaviorism, 5,
1-10.
Skinner, B. F. (1984). Selection by consequences. The Behavioral and Brain
Sciences, 7, 477-510. (Texto original publicado em1981)
Skinner, B. F. (1991). Questes recentes na anlise comportamental (A. L. Neri,
Trad.). Campinas: Papirus.
Tourinho, E. Z., Teixeira, E. R., & Maciel, J . M. (2000). Fronteiras entre anlise
do comportamento e fisiologia: Skinner e a temtica dos eventos privados.
Psicologia: Reflexo e Crtica, 13(3), 425-434.
Wilson, K. G., & Hayes, S. C. (2000). Why it is crucial to understand thinking
and feeling: an analysis and application to drug abuse. The Behavior Analyst,
23(1), 25-43.
Emoes e sentimentos: comportamento e neurocincias
222
Notas
1
A respeito de possveis relaes entre processos respondentes e operantes na explicao de respostas emocionais
no contexto do modo causal de seleo por conseqncias, ver Darwich e Galvo (2001) e Darwich e Tourinho
(2005).
2
Wilson e Hayes (2000) instruem o leitor a considerar que uma outra palavra que significa limo betrang e
imaginar um grande e suculento betrang sendo cortado, o suco do betrang etc. e explicam um possvel
condicionamento da resposta, apesar da ordem inversa na apresentao dos estmulos, pelo fato de a instruo
inicial estabelecer uma relao de equivalncia entre as duas palavras, o que implica transferncia de funo.
3
Amaral e Oliveira (1998) indicaramque sintomas fsicos da emoo provocamameaa que retorna, via hipotlamo,
aos centros lmbicos e, destes, aos ncleos pr-frontais, aumentando, por um mecanismo de feedback negativo,
a ansiedade, o que pode chegar a gerar um estado de pnico.
4
Estudos voltados interao entre processos respondentes e operantes resultaram na elaborao de uma teoria
do duplo processo de aprendizagem que, alm de fazer-se presente no contexto da anlise do comportamento,
revista, por exemplo, pela cincia cognitiva (e.g., Gray, 1975; Mowrer, 1960; Rescorla & Solomon, 1967).
5
Quanto ao equilbrio ou busca constante de equilbrio orgnico, conhecido como homeostasia, os trs grandes
sistemas atuam de forma a resgat-lo sempre que ocorrem mudanas devido a influncias internas e externas.
Por exemplo, o sistema nervoso pode detectar mudanas externas, como frio ou calor, ambiente ameaador e
reconfortante, a partir do qu o sistema endcrino libera hormnios, interagindo com o sistema imunolgico
(Gauer & Rumjanek, 2003).
6
Acerca das teorias de J ames-Lange, Cannon-Bard, Papez e MacLean, ver Amaral e Oliveira (1998).
Rosngela Arajo Darwich, mestre e doutoranda em Teoria e Pesquisa do Comportamento, pela Universida-
de Federal do Par, professora na Universidade da Amaznia. Endereo para correspondncia: Travessa
Benjamin Constant, 1364/173; Belm, PA; CEP: 66035-060. Tel: (91) 3252 4877. E-mail: rosangd@oi.com.br
Recebido em30.abr.03
Revisado em10.ago.05
Aceito em02.set.05
R.A.Darwich
Você também pode gostar
- As bases emocionais da cooperação e do comportamento social: filosofia e neurociênciasNo EverandAs bases emocionais da cooperação e do comportamento social: filosofia e neurociênciasAinda não há avaliações
- BOHOSLAVSKY, Orientacao Profissional, A Estrategia ClinicaDocumento62 páginasBOHOSLAVSKY, Orientacao Profissional, A Estrategia ClinicaJosé Hiroshi Taniguti60% (5)
- Formulações Diversas de CosmeticosDocumento18 páginasFormulações Diversas de CosmeticosEfrero Rochy100% (1)
- Laudo Técnico de VistoríaDocumento28 páginasLaudo Técnico de Vistoríamichel de jesus costa100% (1)
- Analise Do Comportamento Do Que Estamos FalandoDocumento8 páginasAnalise Do Comportamento Do Que Estamos FalandoEduardo Souza0% (1)
- Passo-A-Passo de Uma Análise de ContingenciasDocumento18 páginasPasso-A-Passo de Uma Análise de ContingenciasRavena BarbosaAinda não há avaliações
- Neurociencia Afetiva - Emoções BásicasDocumento9 páginasNeurociencia Afetiva - Emoções BásicasJanice MansurAinda não há avaliações
- Aplicação Do Bender para Diagnóstico Na PsicopedagogiaDocumento3 páginasAplicação Do Bender para Diagnóstico Na PsicopedagogiaGEISIANE MOTA RAMOSAinda não há avaliações
- Trinta Questões Personalidade (Objetivas)Documento11 páginasTrinta Questões Personalidade (Objetivas)NandoFranAinda não há avaliações
- Conceito de Ansiedade Na Análise Do Comportamento - SkinnerDocumento8 páginasConceito de Ansiedade Na Análise Do Comportamento - SkinnerJosé Hiroshi Taniguti100% (1)
- Transtorno de Humor - Powerpoint - PsicopatologiaDocumento22 páginasTranstorno de Humor - Powerpoint - PsicopatologiaJosé Hiroshi Taniguti100% (1)
- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Modelo Fotos e VídeoDocumento3 páginasTermo de Consentimento Livre e Esclarecido - Modelo Fotos e VídeoJosé Hiroshi Taniguti100% (2)
- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Modelo Fotos e VídeoDocumento3 páginasTermo de Consentimento Livre e Esclarecido - Modelo Fotos e VídeoJosé Hiroshi Taniguti100% (2)
- Estudo Dirigido Fundamentos Da Analise Do ComportamentoDocumento4 páginasEstudo Dirigido Fundamentos Da Analise Do ComportamentoJessica Fernanda BrittoAinda não há avaliações
- ARTIGO - Casos Clínicos em Neuropsicanálise - Diaphora - 2019 - Estevan KetzerDocumento8 páginasARTIGO - Casos Clínicos em Neuropsicanálise - Diaphora - 2019 - Estevan KetzerEstevan KetzerAinda não há avaliações
- Transtorno de Ansiedade - Origem - PsicopatologiaDocumento6 páginasTranstorno de Ansiedade - Origem - PsicopatologiaJosé Hiroshi TanigutiAinda não há avaliações
- Priscila Covre - Praticas em Reabilitacao Neuropsicologica - AlunosDocumento26 páginasPriscila Covre - Praticas em Reabilitacao Neuropsicologica - AlunosSamanta FariasAinda não há avaliações
- Transtornos Psicótico1 e 2Documento8 páginasTranstornos Psicótico1 e 2José Hiroshi TanigutiAinda não há avaliações
- TEP - 2° SEMESTRE - Resumo DecorebaDocumento8 páginasTEP - 2° SEMESTRE - Resumo DecorebaJosé Hiroshi TanigutiAinda não há avaliações
- Um Modelo de Apresentação Da Analise Funcional Do ComportamnetoDocumento12 páginasUm Modelo de Apresentação Da Analise Funcional Do ComportamnetoJuliana Lucena100% (3)
- Psicólogo Escolar: Quem É Ele? - Psicologia Escolar PEPADocumento2 páginasPsicólogo Escolar: Quem É Ele? - Psicologia Escolar PEPAJosé Hiroshi TanigutiAinda não há avaliações
- Teste Módulo Q6 - 2018 PDFDocumento7 páginasTeste Módulo Q6 - 2018 PDFCarla Valentim100% (1)
- AQUINO, Julio Groppa (1998) - A Violência Escolar e A Crise Da Autoridade DocenteDocumento13 páginasAQUINO, Julio Groppa (1998) - A Violência Escolar e A Crise Da Autoridade Docenterodrigojcosta100% (3)
- Apostila de Estatística para PsicologiaDocumento22 páginasApostila de Estatística para PsicologiaJosé Hiroshi TanigutiAinda não há avaliações
- Escola e Violencia - Lucinda Nascimento e Candau - Material de Leitura para Psicologia Escolar - 3 Ano.Documento12 páginasEscola e Violencia - Lucinda Nascimento e Candau - Material de Leitura para Psicologia Escolar - 3 Ano.José Hiroshi Taniguti100% (3)
- Formulário Tave Versão Julho 2016 PDFDocumento158 páginasFormulário Tave Versão Julho 2016 PDFLaís Zapelini De Bona Gianisella0% (1)
- História Do PsicodiagnósticoDocumento42 páginasHistória Do PsicodiagnósticoJosé Hiroshi Taniguti100% (2)
- Análise Do Comportamento e Neurociência - Ampliação Da ExplicaçãoDocumento14 páginasAnálise Do Comportamento e Neurociência - Ampliação Da ExplicaçãoHerk Fonseca100% (2)
- O Lugar Do Sentimento Na Terapia ComportamentalDocumento4 páginasO Lugar Do Sentimento Na Terapia ComportamentalMOARA REGINA DE CARVALHO LUSTOSAAinda não há avaliações
- Vilardaga, R. (2009) - A Relational Frame Theory Account of EmpathyDocumento7 páginasVilardaga, R. (2009) - A Relational Frame Theory Account of EmpathyBarbara MirasAinda não há avaliações
- Teoria Da Percepção No Behaviorismo RadicalDocumento9 páginasTeoria Da Percepção No Behaviorismo RadicalDenilson PaixãoAinda não há avaliações
- Meyer A Analise Funcional Do Comportamento PDFDocumento9 páginasMeyer A Analise Funcional Do Comportamento PDFEve BedinAinda não há avaliações
- Comportamento Supersticioso em Esquemas MultiplosDocumento17 páginasComportamento Supersticioso em Esquemas MultiplosDiogo Deganeli de Brito VaragoAinda não há avaliações
- 202330artigoPsicologiaCognitiva PDFDocumento6 páginas202330artigoPsicologiaCognitiva PDFAugusto CésarAinda não há avaliações
- Artigo Comportamento. O+que+é+ou+nãoDocumento5 páginasArtigo Comportamento. O+que+é+ou+nãoAna Flávia Pinto GomesAinda não há avaliações
- Artigo - Emoção e Memória - Inter-RelaçõesDocumento16 páginasArtigo - Emoção e Memória - Inter-RelaçõesJordanna - PsiquêAinda não há avaliações
- A Atuação Do Psicólogo Na Área Cognitiva - Reflexões e Questionamentos - Spinillo e Roazzi, 1989Documento6 páginasA Atuação Do Psicólogo Na Área Cognitiva - Reflexões e Questionamentos - Spinillo e Roazzi, 1989Antonio RoazziAinda não há avaliações
- Aula 02 - 2024 - NEURO - INTRODUÇÃODocumento32 páginasAula 02 - 2024 - NEURO - INTRODUÇÃOAdriana Neves Cabral MirandaAinda não há avaliações
- A Interpretação de Cognições e Emoções Com o Conceito de Eventos PrivadosDocumento16 páginasA Interpretação de Cognições e Emoções Com o Conceito de Eventos Privadosana paulaAinda não há avaliações
- Análise Do Comportamento e ExperimentaçãoDocumento3 páginasAnálise Do Comportamento e ExperimentaçãogabiboeiraAinda não há avaliações
- TEXTO - AssociacionismoDocumento5 páginasTEXTO - AssociacionismoNick NogueiraAinda não há avaliações
- Plasticidade NeuralDocumento16 páginasPlasticidade NeuralDario Cipriano Silverio100% (1)
- Resumo Modelos ExpDocumento12 páginasResumo Modelos ExpRianne GomesAinda não há avaliações
- Plasticidade NeuralDocumento17 páginasPlasticidade NeuralDario Cipriano SilverioAinda não há avaliações
- Avaliando o Papel Do Comportamento Verbal para Aquisição de Comportamento "Supersticioso"Documento11 páginasAvaliando o Papel Do Comportamento Verbal para Aquisição de Comportamento "Supersticioso"Lucas CardosoAinda não há avaliações
- Ciencias Cognitivas y La NeuroéticaDocumento8 páginasCiencias Cognitivas y La NeuroéticaIliana GarcíaAinda não há avaliações
- LeonardiNico 2012 ComportamentoRespondenteDocumento7 páginasLeonardiNico 2012 ComportamentoRespondenteluciana cristina ferreira manoelAinda não há avaliações
- Percepção e AtençãoDocumento2 páginasPercepção e Atençãonoba_1985Ainda não há avaliações
- Comportamento Operante - RevisaoDocumento12 páginasComportamento Operante - Revisaocontato.marianereispsiAinda não há avaliações
- Introdução PPBrelatorio 2Documento3 páginasIntrodução PPBrelatorio 2Vinicius FreitasAinda não há avaliações
- B - TOURINHO, E. (1999) - Consequências Do Externalismo Behaviorista RadicalDocumento9 páginasB - TOURINHO, E. (1999) - Consequências Do Externalismo Behaviorista RadicalRodrigo CésarAinda não há avaliações
- Comportamento Supersticioso em Esquemas MultiplosDocumento17 páginasComportamento Supersticioso em Esquemas MultiplosCamila Oliveira Souza PROFESSORAinda não há avaliações
- A Criatividade Sob o Enfoque Da Análise Do ComportamentoDocumento9 páginasA Criatividade Sob o Enfoque Da Análise Do ComportamentoFlávio Da Silva Borges100% (1)
- Sobre o Behaviorismo de Skinner - GRUPO - ALEXANDER E BRUNODocumento5 páginasSobre o Behaviorismo de Skinner - GRUPO - ALEXANDER E BRUNOAlexsander FerreiraAinda não há avaliações
- Saúde e PsicologiaDocumento6 páginasSaúde e PsicologiaMiguel LessaAinda não há avaliações
- Contato Com A Realidade, Crenças, Ilusões e Superstições Possibilidades Do Analista Do ComportamentoDocumento10 páginasContato Com A Realidade, Crenças, Ilusões e Superstições Possibilidades Do Analista Do ComportamentoDiogo Deganeli de Brito VaragoAinda não há avaliações
- Behaviorismo - SínteseDocumento3 páginasBehaviorismo - SínteseRaisa CoppolaAinda não há avaliações
- Análise Funcional Do Comportamento No Contexto Da Terapia Analítico-ComportamentalDocumento24 páginasAnálise Funcional Do Comportamento No Contexto Da Terapia Analítico-Comportamentalrocha.aurapAinda não há avaliações
- Analise FuncionalDocumento26 páginasAnalise FuncionalTambwe EchaAinda não há avaliações
- Psicologia GeralDocumento4 páginasPsicologia GeralJamaica SeminárioAinda não há avaliações
- 513751432003Documento14 páginas513751432003FelipeAinda não há avaliações
- Resumo Teorias e Sistemas em PsicologiaDocumento17 páginasResumo Teorias e Sistemas em PsicologiaKarolyn lima100% (1)
- Visão de Ser Humano em Skinner e A Prática ClínicaDocumento8 páginasVisão de Ser Humano em Skinner e A Prática Clínicamaelison100% (1)
- Behaviorismo Radical e MaterialismoDocumento15 páginasBehaviorismo Radical e MaterialismoDanillo1351Ainda não há avaliações
- Pessoa, C e Velasco, S - Comportamento Operante em Borges e F A Cassas - Clinica Anal-Comptal PP 77-86Documento5 páginasPessoa, C e Velasco, S - Comportamento Operante em Borges e F A Cassas - Clinica Anal-Comptal PP 77-86Wanderson LimaAinda não há avaliações
- Aula 02Documento8 páginasAula 02Sídney SousaAinda não há avaliações
- Resumo-Bhaviarismo e Geslalt, Psicanálise 1Documento4 páginasResumo-Bhaviarismo e Geslalt, Psicanálise 1joelson bessaAinda não há avaliações
- Tema 1 - Psicologia Introdução GeralDocumento3 páginasTema 1 - Psicologia Introdução GeralRafaela MarquesAinda não há avaliações
- Vol 08 Ago 2013: ISSN 2176-3445Documento10 páginasVol 08 Ago 2013: ISSN 2176-3445Agenor Bento Da SilvaAinda não há avaliações
- MarinhoDocumento5 páginasMarinhoJuliana AlvesAinda não há avaliações
- Teórico 5 ConductismoDocumento7 páginasTeórico 5 ConductismoJuan Andrés Le VrauxAinda não há avaliações
- Naea M2 Csa T4 - V2Documento23 páginasNaea M2 Csa T4 - V2Larissa JavariniAinda não há avaliações
- Gestalt, Ou Psicologia Da FormaDocumento8 páginasGestalt, Ou Psicologia Da FormaJoao pauloAinda não há avaliações
- Análise Do Comportamento No BrasilDocumento4 páginasAnálise Do Comportamento No BrasilFelipeAinda não há avaliações
- História Da Psicoterapia ComportamentalDocumento2 páginasHistória Da Psicoterapia ComportamentalPabliny Marques de AquinoAinda não há avaliações
- Dependência Química 03Documento28 páginasDependência Química 03Pérola PittaAinda não há avaliações
- O Comportamento Verbal de SkinnerDocumento29 páginasO Comportamento Verbal de SkinnerHebert RamomAinda não há avaliações
- As Estratégias Defensivas - Psicologia Do TrabalhoDocumento21 páginasAs Estratégias Defensivas - Psicologia Do TrabalhoJosé Hiroshi TanigutiAinda não há avaliações
- Por Um Novo Conceito de Saúde - DejoursDocumento21 páginasPor Um Novo Conceito de Saúde - DejoursJosé Hiroshi TanigutiAinda não há avaliações
- BOHOSLAVSKY, Orientacao Profissional, A Estrategia Clinica Parte 2Documento60 páginasBOHOSLAVSKY, Orientacao Profissional, A Estrategia Clinica Parte 2José Hiroshi Taniguti100% (3)
- Psicologia Organizacional ResumaoDocumento7 páginasPsicologia Organizacional ResumaoJosé Hiroshi TanigutiAinda não há avaliações
- Resumo Psicologia Escolar - 3.ano - 2 Semestre.Documento17 páginasResumo Psicologia Escolar - 3.ano - 2 Semestre.José Hiroshi TanigutiAinda não há avaliações
- DISTÚRBIOS, TRANSTORNOS, DIFICULDADES E PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM: Juliana Zantut Nutti - Material para Leitura - Psicologia EscolarDocumento3 páginasDISTÚRBIOS, TRANSTORNOS, DIFICULDADES E PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM: Juliana Zantut Nutti - Material para Leitura - Psicologia EscolarJosé Hiroshi Taniguti100% (3)
- A Patologização Da EducaçãoDocumento7 páginasA Patologização Da EducaçãoMari MarisAinda não há avaliações
- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Modelo Escala e QuestionárioDocumento2 páginasTermo de Consentimento Livre e Esclarecido - Modelo Escala e QuestionárioJosé Hiroshi TanigutiAinda não há avaliações
- A PSICANÁLISE: Uma Abordagem Sobre A Deficiência e Seu Significante - Profa. Márcia Jordão - Material para Leitura - Psicologia EscolarDocumento6 páginasA PSICANÁLISE: Uma Abordagem Sobre A Deficiência e Seu Significante - Profa. Márcia Jordão - Material para Leitura - Psicologia EscolarJosé Hiroshi TanigutiAinda não há avaliações
- Resumão - Psicologia Escolar - 3.anoDocumento7 páginasResumão - Psicologia Escolar - 3.anoJosé Hiroshi TanigutiAinda não há avaliações
- Trababalho Do CursoDocumento22 páginasTrababalho Do Cursomarzuke manuel diogo monteiroAinda não há avaliações
- A Instituição e As Instituições - Pagina de Rosto - Cap IV e VIDocumento29 páginasA Instituição e As Instituições - Pagina de Rosto - Cap IV e VIthi_fera177Ainda não há avaliações
- Minha Vida Minha HistoriaDocumento40 páginasMinha Vida Minha HistoriaMarilia DamhaAinda não há avaliações
- Histologia 2 - TCPDDocumento28 páginasHistologia 2 - TCPDANJOAinda não há avaliações
- ASQ-3 04 Mo Set C.inddDocumento5 páginasASQ-3 04 Mo Set C.inddRecepção ClinicaAinda não há avaliações
- 00 Catalogo Lixeiras E051eb999cDocumento42 páginas00 Catalogo Lixeiras E051eb999cThaís RochaAinda não há avaliações
- Fisica Exercicios Eletrostatica Capacitores GabaritoDocumento17 páginasFisica Exercicios Eletrostatica Capacitores GabaritoAna Clara RibeiroAinda não há avaliações
- NkaraDocumento4 páginasNkaraRodrigo Cardoso SantosAinda não há avaliações
- Convenções Internacionais Sobre Direito Do TrabalhoDocumento5 páginasConvenções Internacionais Sobre Direito Do TrabalhoJoyce SantannaAinda não há avaliações
- Cronograma de Convocação - Prova Prática para o Ingresso Ao Curso Avançado de Libras 2020.1Documento3 páginasCronograma de Convocação - Prova Prática para o Ingresso Ao Curso Avançado de Libras 2020.1Profº Rubens AlmeidaAinda não há avaliações
- ManualDocumento8 páginasManualoliveiraweltonAinda não há avaliações
- Caracteristicas Morfologicas e Ultraestruturais Dos Microrganismos Pro Car IotasDocumento4 páginasCaracteristicas Morfologicas e Ultraestruturais Dos Microrganismos Pro Car IotasJaqueline TavaresAinda não há avaliações
- 04 Conhecimentos EspecificosDocumento39 páginas04 Conhecimentos EspecificosElaine FujiAinda não há avaliações
- Gvis8 Indicadores DemograficosDocumento13 páginasGvis8 Indicadores Demograficosmf1963Ainda não há avaliações
- 1 TD ATIVIDADE DE CarnesDocumento2 páginas1 TD ATIVIDADE DE CarnesMonica LopesAinda não há avaliações
- Te Sec or Rigid A Wander Ly Geraldo SilvaDocumento182 páginasTe Sec or Rigid A Wander Ly Geraldo Silvavs5254336Ainda não há avaliações
- Arca de Noé ProgramaDocumento9 páginasArca de Noé ProgramaGildelson Silva100% (1)
- Exercício de Revisão Do 1º SemestreDocumento17 páginasExercício de Revisão Do 1º SemestreRhaissa SousaAinda não há avaliações
- Ccih Rotinas de Limpeza Do Ambiente Hospitalar-GoDocumento53 páginasCcih Rotinas de Limpeza Do Ambiente Hospitalar-GoChristianne Fernandes Valente Takeda100% (3)
- O Método MAF - Uma Abordagem Personalizada para Saúde e FitnessDocumento57 páginasO Método MAF - Uma Abordagem Personalizada para Saúde e FitnessAugusto Flavio A. MendesAinda não há avaliações
- Prototipo Manual de Oleos Essenciais para Uso Na EsteticaDocumento66 páginasPrototipo Manual de Oleos Essenciais para Uso Na EsteticaGislaine MariaAinda não há avaliações
- Sistema de Reaproveitamento de Agua Da Chuva VotorantimDocumento50 páginasSistema de Reaproveitamento de Agua Da Chuva VotorantimAlexandre MattosAinda não há avaliações
- Check List ASOSDocumento1 páginaCheck List ASOSFranklin SilvaAinda não há avaliações
- E Book Pisos Paredes e TetosDocumento23 páginasE Book Pisos Paredes e TetosJota DiasAinda não há avaliações