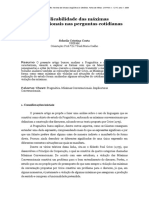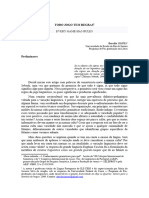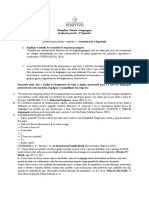Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Atos de Fala e Análise Do Discurso
Atos de Fala e Análise Do Discurso
Enviado por
Josevana LucenaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Atos de Fala e Análise Do Discurso
Atos de Fala e Análise Do Discurso
Enviado por
Josevana LucenaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ATOS DE FALA E ANLISE DO DISCURSO
SCIO-INTERACIONAL
Lucrcio Arajo de S Jnior (UFPB)
Introduo
A sociolingustica interacionista tem dado ateno especial ao uso da
linguagem na comunicao, investigando sua constituio, suas regras e convenes,
os contextos em que se realiza e as condies segundo as quais os indivduos agem
em determinadas situaes de fala. O dilogo tem, tambm, uma importncia central
do ponto de vista filosfico. Isso pressuposto terico em toda anlise conceitual
realizada na filosofia da linguagem comum. Tendo em vista as dimenses deste
trabalho, atravs de exemplos, sero observados alguns casos especficos de no-
cooperao que condicionam falhas no dilogo; atravs desta anlise ser possvel
assinalar do que depende a compreenso e significao dos proferimentos em um
possvel dilogo em que os falantes usam atos de fala diversos para se comunicarem.
Os estudos scio-interacionistas buscam investigar a forma como os
participantes focalizam, constroem e manipulam aspectos do contexto, sendo tais
aes constitutivas das atividades nas quais estes participantes esto engajados. Na
tradio dos estudos interacionais, o contexto uma forma de prxis
interacionalmente constituda. Por esta razo, na sociolingustica interacionista,
contexto conhecimento e situao.
Relacionados ao conceito de contexto, este artigo ser norteado pelas
seguintes questes gerais: (i) por que consideramos que algo sai errado em certos
casos de falha na comunicao? (ii) o que exatamente fracassa quando h uma falha no
dilogo? At que ponto a cooperao fundamental para o entendimento dos falantes
em uma conversao?
perceptvel de madeira imediata que, ao tentar encontrar respostas para
estas questes, a falha e fracasso na conversao so caracterizados por referncias a
critrios que se originam em um conjunto de normas, convenes, regras e
paradigmas que regulam o discurso e o uso da linguagem; no entanto, regras e
convenes normalmente pressupostas so obedecias de modo bastante vago, no
cooperativo e por vezes so simplesmente transgredidas, mas ainda assim a
comunicao possvel, embora desviando o modelo ideal.
H, entretanto, alguns casos em que se torna possvel afirmar que a
comunicao falha, em diferentes graus talvez, e so estes que podem oferecer um
carter revelador aqui, particularmente. Est fora das preocupaes deste estudo
desenvolver uma anlise sistemtica destas falhas, ou formular uma taxonomia ou
tipologia destes casos. A pretenso deste artigo, antes, examinar o que ocorre
quando o dilogo falha, quando ocorre variao na percepo, mal-entendidos, erros
lingusticos, assim como buscar entender quando, como e por que em outros casos
mesmo quando os falantes no cooperam entre si a comunicao possvel.
Anlise de (algumas) falhas na conversao
Seguindo exemplos da obra Atravs do Espelho deLewis Carroll (1977), a
perspectiva deste trabalho visa caracterizar os mecanismos da linguagem que devem
marcar uma conversao claramente, assim ser observado nesse trabalho casos de
falha na comunicao pela violao de um princpio pragmtico estabelecido por Grice
(1975): o princpio da Cooperao.
No captulo VI de Atravs do Espelho Lewis Carroll mostra ser conhecedor dos
mecanismos da linguagem que devem marcar uma conversao, basta observar com
mais detalhe o propsito da estria do encontro de Alice com Humpy Dumpy, o ovo.
Nas palavras de Danilo Marcondes, o dilogo que a ocorre entre ambos um dos
melhores exemplos de pseudocomunicao que se encontra na literatura moderna que
uso o absurdo como tcnica (MARCONDES, 2000: 102).
No dilogo Alice tenta vrias vezes fazer-se entender por Humpty Dumpty e
entender o que ele est dizendo, e as diferentes maneiras que ela fala representam
muito bem a complexidade da estrutura pragmtica da linguagem e os vrios fatores
que podem interferir em seu uso na comunicao. O ponto originrio da troca no
cooperativa se d na medida em que Alice acaba por ofender, embora
involuntariamente, Humpty Dumpty ao cham-lo de ovo (o que ele de fato ), dando
incio assim a um verdadeiro conflito verbal entre ambos. Alice imediatamente percebe
que o dilogo no parece nem um pouco uma conversa, e logo se entende o porqu.
Quando Alice pergunta por que Humpty Dumpty est sentando sozinho em um muro,
ele responde que est sozinho porque no h ningum com ele. Em todo o dilogo a
atitude do ovo permanece a mesma, respondendo a todas as perguntas de Alice
explorando a ambiguidade de termos e expresses, e jogando com o significado dbio
das palavras impede uma comunicao real e bem-sucedida.
De fato Humpty Dumpty explicitamente se refere ao dilogo como sendo
composto de enigmas ou charadas, como se na comunicao os falantes tivessem que
decifrar e interpretar com desconfiana uma inteno secreta do interlocutor, cujo
objetivo passa a ser considerado como uma tentativa de ocultar algo e despistar, pois,
o ouvinte de alguma maneira. Alice, na verdade, observa em um dado momento: ele
fala como se isto fosse um jogo!. Uma das principais razes do fracasso deste dilogo
o fato de Humpty Dumpty jogar com certas caractersticas pragmticas da
linguagem, tais como a relevncia contextual, os pressupostos mtuos de
comunicao e a relao entre o significado literal e o significado do falante.
Tome-se, por exemplo, a passagem em que aps perguntar a Alice que idade
voc disse ter?, tendo como resposta sete anos e meio, Humpty Dumpty replica
triunfantemente: errado! Voc no havia dito sua idade antes! quando Alice protesta,
dizendo eu pensei que voc queria dizer qual a sua idade!, ele lhe responde se eu
quisesse dizer isto, eu o teria dito. Um dos momentos mais significativos do dilogo
quando Humpty Dumpty insiste que quando ele usa uma palavra, esta palavra significa
o que ele quiser. Alice comenta que a questo saber se na comunicao isto
possvel. Ao que ele responde que a questo saber quem que manda, o que em
certo sentido antecipa algumas das consideraes sobre o poder da linguagem. Nesta
passagem do dilogo, Carroll por duas vezes indica que Alice estava por demais
perplexa para poder dizer qualquer coisa, deixando assim os comentrios absurdos de
Humpty Dumpty sem respostas. A explicao do poema Jabberwocky dada em segida
por Humpty Dumpty um dos excelentes exemplos de sua tcnica de fazer com que
as palavras signifiquem o que quiser.
A troca verbal de Alice com o ovo bastante ilustrativa para caracterizar uma
quebra de comunicao, como uma forma de pseudocomunica, pois no existe
dilogo em si mesmo. Embora Alice e Humpty Dumpty falem essencialmente a mesma
lngua, no jogam o jogo lingustico seguindo as mesmas regras. H um mnimo de
entendimento mtuo, caso contrrio nem a simples troca verbal seria possvel.
Contudo, Humpty Dumpty sistematicamente interpreta mal o sentido do que Alice diz,
usa palavras com duplo sentido explorando suas ambiguidades, distorce o significado
literal de frmulas conversacionais, frustrando todas as tentativas de se comunicar.
Tomando as palavras de Bortoni-Ricardo (2005),
Qualquer conversa imprevisvel a priori, j que o nmero de
sentenas originais que os falantes tm competncia para
produzir infinito. Entretanto, a interao se constri a partir
de um conjunto de regras organizacionais e sequenciais que
tornam a comunicao apropriada e socialmente interpretvel
(Bortoni-Ricardo, 2005: 169)
Regras e convenes so pressupostas e antecipadas no dilogo entre falantes
de uma mesma lngua. Mas, tambm, podem ser distorcidas. H casos em nosso uso
concreto da linguagem em que o dilogo, ou em um sentido mais amplo, o jogo
lingustico, parcialmente satisfaz nossos critrios de conflitos simultaneamente. Nestes
casos, podemos fazer uma distino de nveis estabelecendo os tipos de falhas que
ocorrem, uma vez que erros lingusticos e mal-entendidos podem estar apenas
restritos a certos nveis da linguagem (por exemplo, fontico, morfo-sinttico,
semntico); e uma distino em termos de fins e objetivos dos participantes no
dilogo, estabelecendo at que ponto coincidem ou divergem isto , quais causas ou
motivos do fracasso ou falha.
Considerando, porm, que os padres de comunicao so altamente sensveis
s caractersticas culturais que variam no tempo e no espao geogrfico e social,
temos que essas mximas no se aplicam categoricamente; cabe aos participantes das
interaes, reinterpret-las, acomodando-as s variaes situacionais. Tal habilidade
do falante parte de sua competncia comunicativa, isto do conhecimento que lhe
permite comunicar-se adequadamente em sua comunidade de fala e distinguir o que
apropriado ou inapropriado em uma determinada interao. Em toda interao verbal,
cada participante capaz de ajustar-se s de expectativas de seu interlocutor ou a
outras convenes determinadas pela cultura vigente. H restries sociais bem
definidas quanto conciso adequada e aceitvel nas diferentes situaes de
comunicao. Essas normas sociais variam, contudo, conforme a comunidade de fala, e
as interaes dos interlocutores.
Segundo Danilo Marcondes (2000), muitos outros exemplos de respostas e
rplicas de carter provocador podem ser dados como casos em que h um conflito
entre falante e ouvinte, tendo um carter de desafio, de duelo verbal, provocando uma
resposta ou defesa, de um ou outro.So cooperativos na medida em que h um
entendimento mtuo em nvel semntico, e as sentenas proferidas so
gramaticalmente corretas, entretanto, caracterizam uma quebra na comunicao no
sentido de que o dilogo no pode continuar, uma vez que falantes e ouvintes esto
agindo com objetivos opostos.
Observem-se outros exemplos elencados por Marcondes no excerto transcrito
a seguir.
Conta-se de Lady Astor que certa vez disse a Winston
Churchill: se o senhor fosse meu marido, eu poria veneno no
seu caf, ao que Churchill respondeu: se a senhora fosse
minha esposa eu tomava esse caf. O presidente dos Estados
Unidos Calvin Collidge, conhecido como homem de poucas
palavras, foi desafiado certa vez em um banquete na casa
Branca por uma jovem que lhe disse: Sr. Presidente, fiz uma
aposta com alguns amigos que conseguiria faz-lo dizer-me
pelo menos trs palavras durante o banquete. Voc perdeu!,
respondeu o presidente (MARCONDES, 2000:105).
Casos desse tipo so diferentes da falha na comunicao no dilogo entre Alice
e Humpty Dumpty. Nestes ltimos exemplos h entendimento, um reconhecimento da
atitude do interlocutor e de seus objetivos ilocucionrios. Nesses exemplos citados de
Danilo Marcondes h, pode-se dizer, o uso da mesma regra. No h a rigor
cooperao, mas conflito, porm h coordenao no sentido de que os interlocutores
jogam, o mesmo jogo, reconhecem suas intenes e seus objetivos e os levam a cabo
com sucesso.
No caso de Alice e Humpty Dumpty podemos dizer que h um campo comum
de inteligibilidade, falante e ouvinte compartilham as mesmas regras convencionais,
no entanto, no h sequer a possibilidade de entendimento mtuo em nvel
pragmtico, pois falante e ouvinte no compreendem, assumem ou reconhecem os
objetivos ilocucionrios do dilogo que se pretende estabelecer. Neste caso, um jogo
de linguagem especfico. H, ento, comunicao em um nvel puramente locucionrio,
o ato ilocucionrio falha; o objetivo ou propsito do que dito pura e simplesmente
no faz sentido algum.
2. Significado semntico e significado pragmtico
Aps esta breve discusso dos exemplos listados na seo anterior, temos que
no basta conhecer o significado literal das palavras os sentenas de uma lngua:
preciso saber reconhecer todos os seus empregos possveis, que podem variar de
acordo com as intenes do falante e as circunstncias de sua produo.
Pode haver casos em que a comunicao se d em nvel semntico, porque o
que dito compreendido, mas no h comunicao ou h comunicao apenas
parcial em nvel pragmtico porque no h uma cooperao efetiva entre os
interlocutores. As intenes e objetivos lingusticos do falante e do ouvinte so
diferentes, opostas ou contraditrias. So casos que podem ser analisados como jogos
mistos de coordenao e conflito.
A ironia e a insinuao so outros exemplos que podem servir a esta anlise,
pois h nestes contextos, um compromisso parcial de todos os participantes.
Expliquemos. Existe uma ordenao no dilogo, pois h o reconhecimento mtuo das
intenes entre falante e ouvinte. O duplo sentido e os trocadilhos so alguns dos
casos mais inocentes. O falante pode efetivamente desejar que o ouvinte no o
interprete corretamente, neste caso h na realidade uma inteno de enganar; ou o
ouvinte pode interpretar erroneamente o falante ou porque deseja causar
conscientemente um sentido desagradvel ou desfavorvel.
Segundo Koch (2004),
O conceito de inteno fundamental para a cooperao da
linguagem como atividade convencional: toda atividade de
interpretao presente no cotidiano da linguagem fundamenta-
se na suposio de que quem fala tem certas intenes ao
comunicar-se. Compreender uma enunciao , nesse sentido,
aprender essas intenes. (KOCH, 2004: 22).
Assim, de acordo com as palavras da autora, o falante joga com certas regras
lingusticas, explorando caractersticas da linguagem tais como a ambiguidade, a
sinonmia e a vagueza, por motivos especficos e intencionais, isto , de modo a obter
um objetivo contrrio, de alguma maneira s expectativas e desejos do ouvinte,
dependendo do tipo de ato realizado. So nestes casos no cooperativos em que
falante e ouvinte agem contrariamente, mas mesmo assim seus objetivos, fins e
propsitos lingusticos coincidem.
Elementos contextuais e pressupostos conversacionais podem dar ao ouvinte
meios de interpretar o que no dito explicita, direta ou intencionalmente pelo
falante. O discurso deve ser caracterizado potencialmente como um dilogo, de
maneira que cada ato de fala no deve ser considerado isoladamente, mas como parte
de uma troca lingustica, um entendimento mtuo. Podemos considerar que cada ato
de fala supe e antecipa uma resposta de tipo correspondente a ser dada pelo ouvinte
a quem dirigida.
A natureza dialgica da linguagem est em cada ato de fala, enquanto parte de
um discurso, como um lance em um jogo, sendo que cada falante supe uma
resposta como lance do interlocutor; caracteriza-se assim como uma tomada de
posio do falante em relao ao ouvinte. Nesse sentido, cada ato de fala deve conter
ao menos potencialmente os elementos de sua validao, da possibilidade de
justificar-se. Deve ser possvel tornar explcitas as prticas s quais os atos de fala
pertencem, os jogos de linguagem de que fazem parte. Se cada ato de fala como um
lance em um jogo, a referncia as regras deste jogo que permite valid-lo.
A comunicao contm assim a possibilidade de re-interpretao no s do que
dito, o nvel do esclarecimento lingustico, mas da prpria situao de discurso, isto
, do contexto e de seus elementos constitutivos. Gumpers (1982) aborda uma noo
mais malevel e mais abrangente da linguagem em contexto, dessa forma introduz a
noo de pistas de contextualizao: a noo de que o contexto do discurso e da
interao social abrange outros elementos alm daqueles mais estveis (como espao,
tempo e participantes). O significado de contexto que Gumpers trata revela que tanto
os participantes quanto o discurso se desdobram a cada momento, e tanto
reconfiguram o prprio contexto como so reconfigurados pelo mesmo a cada novo
avano na interao.
Para Gumpers
quando todos os participantes entendem e notam as pistas
relevantes, os processos interpretativos so tomados como
pressupostos e normalmente acontecem sem serem
percebidos. Entretanto, quando um ouvinte no reage a uma
das pistas ou no conhece a sua funo, pode haver
divergncias de interpretao e mal-entendidos. (GUMPERS,
1982: 100).
O dilogo o paradigma de qualquer situao de discurso possvel. Tem um
carter normativo no uso lingustico, uma vez que a natureza cooperativa a
caracterstica definidora da linguagem (GRICE, 1975). Um dos pontos centrais dessa
discusso precisamente esta concepo de linguagem enquanto tendo uma natureza
basicamente cooperativa, em que sentido e at que ponto pode-se consider-la assim.
Grice desenvolveu um modelo de significado baseado na noo de cooperao
e nos mecanismos racionais de deduo de significados. Grice estabeleceu uma
distino entre dois tipos de significado, o significado do falante (conversacional) de
carter pragmtico e o significado convencional de natureza semntica. Na
proposta de Grice, o primeiro est relativamente desvinculado do segundo, ou seja, o
que o falante intenciona comunicar no est necessariamente relacionado ao
significado convencional. O significado do falante, no estando totalmente
subordinado ao cdigo, pode ser inferido por processos diferenciados da codificao
gramatical e lexical. Nesse sentido, central o conceito de implicatura definido pelo
autor, qual seja, o de que uma inferncia sobre a inteno do falante, que resulta da
decodificao de significados e da aplicao de princpios conversacionais. Em outras
palavras, para sumarizar, as implicaturas do tipo conversacional so inferncias no
conversacionais e no marcadas discursivamente por conectivos, sendo fruto da
capacidade racional dos falantes.
Um lapso lingustico pode ser descrito como um caso em que o falante
expressa algo que no pretendia intencionalmente expressar. No estudo no mbito da
interao verbal uma pergunta no quer calar: como podem ser possveis tais atos?
primeira vista, pode parecer quase contraditrio que um falante possa dizer algo sem
ter a inteno de faz-lo. De um ponto de vista psicolgico isso acontece devido a uma
discrepncia entre o que dito e o que se tem a inteno de dizer, devido aos desejos
inconscientes do falante. Para Freud (1976), lapsos lingusticos inconscientes atos
falhos revelam pensamentos reprimidos, subjacentes. Pode haver casos de
significado no-intencional nos quais a linguagem revela a inteno oculta do falante.
Algo dito que no deveria ser dito, algo que pode gerar conflito expresso.
Entretanto, em outros casos o conflito entre o falante e o ouvinte pode ser mascarado,
disfarado, de modo que o falante use algum elemento da linguagem para mascarar o
conflito, ao mesmo tempo usando elementos para realizar seu objetivo de iludir o
ouvinte.
Ultimas consideraes sobre caractersticas necessrias comunicao
Para Grice (1975), quando dois indivduos esto dialogando existem regras
implcitas que governam o ato comunicativo. Isso significa que, mesmo
inconscientemente, os interlocutores trabalham a mensagem lingustica de acordo com
certas normas comuns que caracterizam um sistema cooperativo entre eles, para que
as informaes possam ser trocadas o mais univocamente possvel. No possvel,
nem imaginvel, segundo ele, que um ato comunicativo pudesse ser totalmente livre, a
ponto de falante e ouvinte perderem o controle do prprio jogo. Ao contrrio, as
regras do ato comunicativo talvez tenham sido aprendidas concomitantemente
aquisio da lngua, de tal forma que um falante competente de um idioma qualquer
tambm conhece os efeitos de sentido que uma mensagem neste idioma pode adquirir
pela ao das regras do jogo comunicacional q que est submetido. No por outra
razo, alis, que se fala muito, hoje, numa teoria de competncia comunicativa.
Para que a comunicao realmente acontea necessrio que os falantes sejam
conscientes das aes que pretendem realizar, no se pode negar que do princpio
de racionalidade aristotlico/kantiano que Grice deriva as suas mximas. A
compreenso do dilogo para que a comunicao seja estabelecida inclui, alm do
reconhecimento das intenes entre os agentes do discurso, certos princpios gerais
semnticos e pragmticos estejam em ordem:
1. Uma teoria da significao lingustica de acordo com a sociolingustica
interacionista;
2. Uma teoria dos atos de fala que permita ao interlocutor identificar o objetivo da
enunciao.
3. Certos princpios gerais de conversao cooperativa (alguns descritos por Grice
(1975), os quais permitem o interlocutor identificar, na enunciao do locutor, a
existncia de um objetivo ilocucionrio distinto do objetivo ilocucionrio pretendido
pelo locutor.
4. Uma anlise de certos fatos do background conversacional da enunciao, dos quais
os interlocutores esto mutuamente a par (segundo Searle (1969));
5. A capacidade de o interlocutor fazer inferncias, baseado na hiptese de que o
locutor respeita as mximas conversacionais e que os fatos de background existem;
6. O poder dos falantes de elaborar e reconhecer os atos de fala que devero possuir
significao relevante ao serem enunciados de uma enunciao; a conquista dos
enunciados deve versar sobre a utilizao vlida e significativa na conversao.
O papel principal da significao de todo enunciado determinado pelo tipo de
atos ilocucionrios que o falante tem a inteno de realizar, ele no deve apenas ter a
inteno, mas fazer com que esta seja reconhecida para que a comunicao ocorra.
Ento, falante e ouvinte devem estar jogando o mesmo jogo, e a par das mesmas
regras a fim de realizar empregos apropriados nos contextos de linguagem.
Competncia lingustica no dissociada de desempenho, como no caso da escola de
Chomsky ao contrrio a competncia lingustica de um locutor essencialmente sua
capacidade de realizar e de compreender quais atos ilocucionrios podem ser
realizados pro outros locutores em contextos possveis de emprego de sua lngua.
Que acrescenta esta abordagem para a busca de um critrio de demarcao
entre competncia entre competncia semntica e competncia comunicacional dentro
da sociolingustica interacionista? Acredito que serve para mostrar como falante e
ouvinte estabelecem um dilogo entre si a partir no apenas de regras convencionais,
mas a partir de princpios conversacionais em que esto implcitos os engenheiros da
comunicao. Essas ideias envolvem em todos os casos o reconhecimento de uma
inteno dirigida ao ouvinte com a pretenso de que seja reconhecida, e que a
resposta primria que se espera do ouvinte sempre dependente de um conjunto de
suposies de base, o que Searle chama de background e Gumpers de pistas de
contextualizao.
Essas indicaes mostram em que sentido exatamente os atos e objetivos
ilocucionrios podem servir para a comunicao, pois fica claro tambm que a fora
ilocucionria de um proferimento o uso da fala intencional algo destinado a ser
entendido. Pela utilizao de enunciados em contextos adequados, os falantes tentam
realizar atos de fala ilocucionrios, tais como: asseres, perguntas, declaraes,
ordens, ofertas, recusas e tantos outros atos que tenham a inteno de realizar. As
tentativas de realizar tais atos de discurso fazem parte daquilo que eles significam e
daquilo que eles tm inteno de comunicar aos interlocutores no contexto de suas
enunciaes.
Com este trabalho podemos perceber que o problema da linguagem situado
em uma rea em que se deve analisar os signos lingusticos com os demais elementos
a eles relacionados, a saber o falante, o ouvinte e o contexto. A competncia filosfica
de investigar tais questes procede ento a uma interrogao de como as expresses
lingusticas se inter-relacionam, examinando as situaes e contextos em que
apropriado e legtimo us-las ou no, ou ainda, usar uma, mas no outras,
contrastando-as com sinnimos, expresses equivalentes ou semelhantes, ou at
mesmo opostas. Deste processo vai emergindo ento o significado destas expresses
em sua complexidade, o que possibilita o esclarecimento da questo inicial os jogos
de linguagem se quisermos nos apropriar do termo de Wittgenstein.
Um ponto a ser destacado neste mtodo de anlise o papel do contexto no
exame de usos destas expresses, pois isto indica precisamente que a linguagem no
, e no deve ser examinada em abstrato, mas sempre em relao a uma situao (real
ou imaginria, mas possvel) em que faz sentido (ou no) usar determinadas
expresses; uma forma de vida em que expresses tm significado. Assim sendo,
podemos afirmar que ao investigarmos a linguagem estamos investigando igualmente
a sociedade da qual ela linguagem, o contexto social e cultural na qual usada, as
prticas sociais, os paradigmas e valores, a racionalidade dessa comunidade, e desta
forma pode-se dizer que no h uma separao radical entre linguagem e mundo j
que a realidade constituda exatamente pelo modo como aprendemos a linguagem
e a usamos.
A realizao de um ato ilocucionrio vai, portanto, alm da esfera da linguagem
e envolve regras e convenes sociais e contextuais que estabelecem sua condio de
possibilidade. Para que a comunicao de estabelea necessrio ento que certas
condies indispensveis sejam satisfeitas. Em nossa ampla considerao do ato
ilocucionrio possvel perceber que a caracterstica definidora deste so as
convenes extralingusticas, isto , sociais e institucuionais, que definem
determinada prtica da qual o ato ilocucionrio parte integrante.
As implicaes terico-metodolgicas destas concluses so em relao a este
panorama da filosofia da linguagem que pensamos ser a Teoria dos Atos de Fala,
capaz de apontar direes de sentido na investigao scio-interacionista,
principalmente por partir de uma viso de linguagem como prtica social concreta,
considerando sobretudo as caractersticas dos contextos nos quais usar a linguagem
praticar atos, isto , significado enquanto conceito fundamental da filosofia passa a ser
substitudo por fora ilocucionria e, consequentemente, a Teoria da Linguagem d
lugar a Teoria da Ao, na qual se incluem os atos de fala.
A Teoria dos atos de fala d conta da anlise do significado atravs do exame
da constituio da fora ilocucionria. Vemos assim, ao investigar o contexto em que
determinada expresso possui determinada fora ilocucionria, que este contexto
pressupe paradigmas e esquemas conceituais. a partir destas convenes que
podemos investigar a funo de determinadas expresses neste contexto de uso, isto
, sua fora ilocucionria.
A Teoria dos atos de fala explica, contudo, de que forma a linguagem pode
significar mais do que ela expressa, algo alm daquilo que explicitamente expressa.
Quanto a isto a noo de implicatura conversacional e atos de fala indiretos proposta
por Grice podem ser esclarecedoras, pois servem para indicar como a funo de um
enunciado no se esgota ao seu significado aparente, no nvel do que expressa
imediatamente. Neste intento, a noo de fora ilocucionria atravs de um efeito de
convenes, prticas sociais, elementos retricos e caractersticas contextuais, permite
que os enunciados tenham uma funo mais ampla, ou at mesmo oposta ao que
aparentemente manifesta. preciso para isso, considerar os atos lingusticos como
efetuando sua funo comunicativa no interior de um contexto de interao, contexto
este constitudo e regulado por normas e convenes sociais. Alm disso, preciso
tambm considerar estes atos de fala como aes estratgicas visando determinados
resultados, tendo determinados efeitos e consequncias convencionais relacionando-se
com determinados valores e interesses.
O ato de fala um contrato entre falante e ouvinte, um ato comum que s
pode ser realizado intersubjetivamente. Como dissemos a comunicao s possvel
se se supe que em princpio os falantes falam de modo inteligvel, verdadeiro, sincero
e justificado. Em termos da Teoria dos atos de fala entendemos a linguagem como
ao e a comunicao como ato social concreto que parte de um conjunto
estratgico realizando-se a partir de um conjunto de regras e convenes pragmticas.
O ato de fala definido como um instrumental, a linguagem um instrumento que se
utiliza para atingir determinados fins. neste sentido que podemos falar de uma
aquisio de uma pragmtica. Num estudo scio-interacionista devemos nos interrogar
sobre como palavras e frases so construdas e usadas, sobre as condies em que
estes atos so praticados, uma vez que a linguagem no transparente, existem
elementos implcitos dos quais a anlise precisa dar conta.
A funo da anlise scio-interacionista da linguagem no descobrir e
explicar o sentido de um trecho discursivo, mas descrever o sistema produtor de sua
significao. No o que o ato lingstico significa, mas como chega a significar. Na
realidade os estudos scio-interacionistas da linguagem precisam estar cada vez mais
voltados para uma descrio de como a linguagem funciona estabelecendo os diversos
elementos envolvidos no uso dos enunciados e a maneira pela qual a compreenso
possvel, a partir da estrutura do enunciado, as diferentes caractersticas de uso. A
linguagem e a experincia esto inter-relacionados, e a linguagem de certa forma,
possibilita a experincia. As palavras adquirem significado em seu uso no mundo das
relaes humanas. Este mundo de relaes, possibilitado em grande parte pela
existncia de uma linguagem que o meio eficaz de realizar esta interao. Descrever
o significado de uma palavra descrever o modo como usada, e descrever o modo
como usada descrever as relaes em que toma parte.
Referncias bibliogrficas
BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Ns cheguemu na escola, e agora? sociolingstica & educao. So Paulo:
Parbola Editorial, 2005.
CARROL, Lewis. Alice Atravs do Espelho, Editoras Fontana/Summus, edio de 1977.
CHOMSKY, Noam. Aspects of theory of syntax. Cambridge, Mass: M.I.T. Press, 1965.
FREUD, Sigmund. Jokes and their relation to the unconscious. Harmondsworth, Penguin, 1976.
GRICE, Paul. Logic and conversation. In: Studies in the Way of Words. Cambridge: Harvard University Press, 1975
GUMPERZ, J. Discourse strategies. Cambridge: Cambridge University Press. 1982.
GARCEZ (org) sociolingstica interacional: antropologia, lingstica e sociologia em anlise do discurso. Porto
Alegre: AGE, 1998.
KOCH, Ingedore Villaa. Argumentao e linguagem. 9 Ed. So Paulo: Cortez, 2004.
MARCONDES, D. Filosofia, linguagem e comunicao. 3 Ed. So Paulo: Cortez, 2000.
SEARLE, J.R. Speech Atcs. Cambridge, Mass: M.I.T. Press, 1969.
VANDERVEKEN, Daniel. Les Actes de discours. Essai de philosophie du language e de lespirit sur la signification des
nonciations, Bruxelles: Mardaga, 1988
Você também pode gostar
- América Latina e o Giro Decolonial BallestriniDocumento29 páginasAmérica Latina e o Giro Decolonial BallestriniAdrienne FirmoAinda não há avaliações
- Compêndio Da Cambridge Sobre JungDocumento14 páginasCompêndio Da Cambridge Sobre JungSamyle CarvalhoAinda não há avaliações
- ANPAD PORT Aula 04 PDFDocumento51 páginasANPAD PORT Aula 04 PDFFabio ApolinarioAinda não há avaliações
- Mikhail Bakhtin - Estética Da Criação Verbal (Fichamento PUC)Documento7 páginasMikhail Bakhtin - Estética Da Criação Verbal (Fichamento PUC)S.G.V100% (4)
- Leitura Produção TextoDocumento54 páginasLeitura Produção TextoRusso Tattooer100% (1)
- RESENHA Livro MeadowsDocumento8 páginasRESENHA Livro Meadowsre23br100% (1)
- Atividade 3 - Fsce - Formação Sociocultural e Ética I - 53-2023Documento9 páginasAtividade 3 - Fsce - Formação Sociocultural e Ética I - 53-2023Cavalini Assessoria AcadêmicaAinda não há avaliações
- Marc Bloch Apologia Da HistoriaDocumento5 páginasMarc Bloch Apologia Da HistoriaBrenda FerreiraAinda não há avaliações
- Revista AbinDocumento115 páginasRevista AbinCássio NovaesAinda não há avaliações
- Wittgenstein - O Livro Azul PDFDocumento73 páginasWittgenstein - O Livro Azul PDFmarcos ferrazAinda não há avaliações
- Resumo Lyons - Lingua (Gem) e Linguística - Completo-1Documento45 páginasResumo Lyons - Lingua (Gem) e Linguística - Completo-1Larisse Carvalho80% (20)
- A Analise de Masud Khan-WinnicottDocumento42 páginasA Analise de Masud Khan-Winnicottheldercha100% (1)
- Língua, Linguagem, Interação Verbal, Gênero DiscursivoDocumento69 páginasLíngua, Linguagem, Interação Verbal, Gênero DiscursivoLeonardo Corrêa100% (1)
- Swot Empresa RuralDocumento5 páginasSwot Empresa RuralJosevana LucenaAinda não há avaliações
- 5 - O Urbanismo Como Modo de Vida - Louis WirthDocumento12 páginas5 - O Urbanismo Como Modo de Vida - Louis WirthJulia O'Donnell100% (3)
- Concepções de Linguagem e Ensino de Portugues TravagliaDocumento2 páginasConcepções de Linguagem e Ensino de Portugues TravagliaElisa BeniciaAinda não há avaliações
- Modelos de LeituraDocumento18 páginasModelos de LeituralacshimiAinda não há avaliações
- Apostila de Linguagem JuridicaDocumento70 páginasApostila de Linguagem JuridicaRicardo Ribeiro100% (1)
- A Republica Dos Bons Sentimentos - MafessoliDocumento128 páginasA Republica Dos Bons Sentimentos - MafessoliLeonardo Izoton Braga100% (1)
- Teoria Do Curriculo - Tomaz TadeuDocumento9 páginasTeoria Do Curriculo - Tomaz TadeuAdriano BarrosAinda não há avaliações
- Analisando o Discurso (Texto de Helena Hathsue Nagamine Brandão (USP)Documento28 páginasAnalisando o Discurso (Texto de Helena Hathsue Nagamine Brandão (USP)Vivas CoelhoAinda não há avaliações
- Aprender, Ensinar GADOTTIDocumento19 páginasAprender, Ensinar GADOTTIaprendermatematica14Ainda não há avaliações
- Dicionário de Políticas Públicas PDFDocumento10 páginasDicionário de Políticas Públicas PDFWanderson Vilton50% (2)
- Análise de Livro Didático de PortuguêsDocumento15 páginasAnálise de Livro Didático de PortuguêsElcio Queiroz Couto60% (5)
- 10.1 MARTINEZ-ALIER. Ecologismo Dos PobresDocumento60 páginas10.1 MARTINEZ-ALIER. Ecologismo Dos PobresJosevana LucenaAinda não há avaliações
- Comunicação e Expressão II PDFDocumento76 páginasComunicação e Expressão II PDFMarcus DuarteAinda não há avaliações
- Universidade Luterana Do Brasil Comunicação E Expressão: SumárioDocumento76 páginasUniversidade Luterana Do Brasil Comunicação E Expressão: SumárioAnderson RogowskiAinda não há avaliações
- A Aplicabilidade Das Máximas Conversacionais Nas Perguntas CotidianasDocumento211 páginasA Aplicabilidade Das Máximas Conversacionais Nas Perguntas CotidianasMoniqueAinda não há avaliações
- AD2 Língua PortuguesaDocumento3 páginasAD2 Língua PortuguesaRosana CristinaAinda não há avaliações
- LYONS ResumoDocumento6 páginasLYONS ResumoatisunameAinda não há avaliações
- O Pensamento e o DiscursoDocumento3 páginasO Pensamento e o Discursojorgmarta2952100% (1)
- Analisando o Discurso-Helena brandão-UERNDocumento30 páginasAnalisando o Discurso-Helena brandão-UERNDiandra Morais da SilvaAinda não há avaliações
- O Uso Da Linguagem ClarkDocumento12 páginasO Uso Da Linguagem ClarkAdriana InomataAinda não há avaliações
- Apres. o Estudo Da Língua em Seu Contexto SocialDocumento46 páginasApres. o Estudo Da Língua em Seu Contexto SocialElisa Lopes100% (1)
- Mapa 1 - AtualDocumento8 páginasMapa 1 - Atual- emilyAinda não há avaliações
- Comunicação ..Documento3 páginasComunicação ..Fabiola PeralternandezAinda não há avaliações
- Gabarito Da Atividade Avaliativa Semana 4Documento3 páginasGabarito Da Atividade Avaliativa Semana 4Giovanna Eika KavamuraAinda não há avaliações
- Alternância e Participação: A Distribuição de Turnos Na Interação SimétricaDocumento8 páginasAlternância e Participação: A Distribuição de Turnos Na Interação Simétricaleticia.stortoAinda não há avaliações
- Artigo - Todo Jogo Tem RegrasDocumento14 páginasArtigo - Todo Jogo Tem RegrasDarcilia SimoesAinda não há avaliações
- OralidadeDocumento9 páginasOralidadevirtual odysseyAinda não há avaliações
- Resumo Expandido - Joseleide F MouraDocumento2 páginasResumo Expandido - Joseleide F MouraKimberlly SilvaAinda não há avaliações
- Linguística Textual - ApontamentosDocumento6 páginasLinguística Textual - ApontamentosDani RosaAinda não há avaliações
- Linguística: Capítulo 4 - Como Abordar A Linguagem em Uso?Documento27 páginasLinguística: Capítulo 4 - Como Abordar A Linguagem em Uso?thaAinda não há avaliações
- Aula 09Documento83 páginasAula 09Aluisio NascimentoAinda não há avaliações
- Português - Aula 1Documento11 páginasPortuguês - Aula 1Clotilde CamposAinda não há avaliações
- Resumo CríticoDocumento2 páginasResumo Crítico2bpastoriniAinda não há avaliações
- RetóricaDocumento2 páginasRetóricajlamandaalves811Ainda não há avaliações
- Resumo Fiorin - LinguagemDocumento17 páginasResumo Fiorin - LinguagemBianca PintoAinda não há avaliações
- 1º Ano Atividade de RevisãoDocumento7 páginas1º Ano Atividade de RevisãoSheineAinda não há avaliações
- RetextualizaçãoDocumento18 páginasRetextualizaçãoJosiane CruzAinda não há avaliações
- 5 - Linguagens Habilidades e CompetênciasDocumento50 páginas5 - Linguagens Habilidades e CompetênciasluziagcredAinda não há avaliações
- O Poder No Discurso JuridicoDocumento10 páginasO Poder No Discurso JuridicoBrado AfricanoAinda não há avaliações
- Questões Estudo Cap 1Documento6 páginasQuestões Estudo Cap 1paulo0% (2)
- Aula 1 - Linguagem e Mundo CorporativoDocumento30 páginasAula 1 - Linguagem e Mundo CorporativoRony AlmeidaAinda não há avaliações
- Barroso Paulo Linguagem ExperienciaDocumento10 páginasBarroso Paulo Linguagem Experienciamarcos_bicalhoAinda não há avaliações
- Resumo Geral Do Livro Muito Além Da GramáticaDocumento12 páginasResumo Geral Do Livro Muito Além Da GramáticafelinobrasilisAinda não há avaliações
- Assuntos IFBADocumento13 páginasAssuntos IFBAMaumau Rocha0% (1)
- Análise Da ConversaçãoDocumento6 páginasAnálise Da ConversaçãofmvaAinda não há avaliações
- Portos de Passagem - GeraldiDocumento3 páginasPortos de Passagem - GeraldiAllan DieguhAinda não há avaliações
- Quando A Referência É Uma Inferência - MarcuschiDocumento31 páginasQuando A Referência É Uma Inferência - MarcuschiAndrezzaAinda não há avaliações
- Joseleide F Moura - Kimberlly Silva - Resumo ExpandidoDocumento2 páginasJoseleide F Moura - Kimberlly Silva - Resumo Expandidojoseleide fonseca mouraAinda não há avaliações
- A Produção EscritaDocumento6 páginasA Produção EscritaCélio Kalafaty LuizAinda não há avaliações
- Fichamento - No Reino Da FalaDocumento9 páginasFichamento - No Reino Da FalaLeandro MatsumotoAinda não há avaliações
- Cesmac-Prova e Gabarito 1ºdia Tipo3 Medicina Cesmac 2017.2Documento16 páginasCesmac-Prova e Gabarito 1ºdia Tipo3 Medicina Cesmac 2017.2Larissa PiresAinda não há avaliações
- Geografia Da Língua Portuguesa Trab de PortuguesDocumento11 páginasGeografia Da Língua Portuguesa Trab de PortuguesrayaneoliAinda não há avaliações
- Fala, Língua, Linguagem - Língua em Uso, Linguagem e LínguaDocumento39 páginasFala, Língua, Linguagem - Língua em Uso, Linguagem e LínguaRafael JúnioAinda não há avaliações
- Comunicação e Funções Da LinguagemDocumento102 páginasComunicação e Funções Da Linguagemvinicius oliveiraAinda não há avaliações
- Comunicação HumanaDocumento5 páginasComunicação HumanaTalita Do NascimemtoAinda não há avaliações
- Apostila de Lngua Portuguesa II - 2010-2Documento105 páginasApostila de Lngua Portuguesa II - 2010-2marianamelAinda não há avaliações
- Mal-Entendidos Linguísticos - A Interface Entre o Poder e A Polidez Na ComunicaçãoDocumento15 páginasMal-Entendidos Linguísticos - A Interface Entre o Poder e A Polidez Na ComunicaçãoWebertGSAinda não há avaliações
- Explicação GramáticaDocumento14 páginasExplicação GramáticacristianoAinda não há avaliações
- Motivações Pragmáticas (Esquema)Documento6 páginasMotivações Pragmáticas (Esquema)Franklin Oliveira100% (1)
- Gramatica e PoliticaDocumento21 páginasGramatica e PoliticasigarofaloAinda não há avaliações
- 2 Estudo de Caso Iogurtes SupermercadoDocumento4 páginas2 Estudo de Caso Iogurtes SupermercadoJosevana Lucena0% (1)
- IFRR Edital de Abertura N 2 2019Documento45 páginasIFRR Edital de Abertura N 2 2019Josevana LucenaAinda não há avaliações
- A Invenção Colonial Das LínguasDocumento18 páginasA Invenção Colonial Das LínguasJosevana LucenaAinda não há avaliações
- Tese Mídias Sociais Polícia FGV 2018 PDFDocumento187 páginasTese Mídias Sociais Polícia FGV 2018 PDFJosevana Lucena100% (1)
- Tese Sobre América Latina e Nova Colonização PDFDocumento305 páginasTese Sobre América Latina e Nova Colonização PDFLuciano MouraAinda não há avaliações
- Edital de Abertura 5-2017Documento7 páginasEdital de Abertura 5-2017Josevana LucenaAinda não há avaliações
- 14.2 LATOUCHE. Descolonização Do ImaginárioDocumento5 páginas14.2 LATOUCHE. Descolonização Do ImaginárioJosevana LucenaAinda não há avaliações
- Principais Linhas Epistemológicas ContemporâneasDocumento8 páginasPrincipais Linhas Epistemológicas ContemporâneasMarcos CorrêaAinda não há avaliações
- MetatriangulaçãoDocumento16 páginasMetatriangulaçãoJosevana LucenaAinda não há avaliações
- A Educação Não Formal e A Divulgação CientíficaDocumento13 páginasA Educação Não Formal e A Divulgação CientíficaPedroSilvaAinda não há avaliações
- Resenha Texto ThompsonDocumento6 páginasResenha Texto ThompsonLuciano Cesar CostaAinda não há avaliações
- Ficha Informativa Nº 1 - Como Fazer Um RelatórioDocumento2 páginasFicha Informativa Nº 1 - Como Fazer Um RelatórioDelfina AlmeidaAinda não há avaliações
- Pensar e Instaurar A Paz Levinas e RosenzweigDocumento16 páginasPensar e Instaurar A Paz Levinas e RosenzweigEmanuel TorquatoAinda não há avaliações
- Demo - Conhecimento e Aprendizagem. Atualidade de Paulo FreireDocumento29 páginasDemo - Conhecimento e Aprendizagem. Atualidade de Paulo FreireIvánAinda não há avaliações
- Achegas para Uma Biografia - Amorim de CarvalhoDocumento21 páginasAchegas para Uma Biografia - Amorim de CarvalhorenatytaAinda não há avaliações
- Ciclo Do ProdutoDocumento23 páginasCiclo Do ProdutoAugusto NeresAinda não há avaliações
- A Ética e Os Personagens Do ProcessoDocumento6 páginasA Ética e Os Personagens Do ProcessorobertagoncalvesAinda não há avaliações
- Psicologia e Sociedade Volume 13 2001Documento179 páginasPsicologia e Sociedade Volume 13 2001Rosi GiordanoAinda não há avaliações
- Semiótica Da ComunicaçãoDocumento9 páginasSemiótica Da ComunicaçãonunotavoraAinda não há avaliações
- LEFFA Como Produzir Materiais para o Ensino de LnguasDocumento27 páginasLEFFA Como Produzir Materiais para o Ensino de LnguasTalita AlexandraAinda não há avaliações
- HUSSERL, Edmund - A Idéia Da Fenomenologia Lisboa, Edições 70, SDDocumento91 páginasHUSSERL, Edmund - A Idéia Da Fenomenologia Lisboa, Edições 70, SDThomas UnderwoodAinda não há avaliações
- Jose Carlos Barcellos Literatura e Homoerotismo em Questao 2006Documento441 páginasJose Carlos Barcellos Literatura e Homoerotismo em Questao 2006Moema FrancaAinda não há avaliações
- Irreversibilidade, Desordem e Incerteza PDFDocumento11 páginasIrreversibilidade, Desordem e Incerteza PDFTemudjin KhanAinda não há avaliações
- Teoria Da Dinamica Economica - Michal KaleckiDocumento193 páginasTeoria Da Dinamica Economica - Michal KaleckiNivalter AiresAinda não há avaliações
- Angelo SegrilloDocumento10 páginasAngelo SegrilloDenis AlmeidaAinda não há avaliações
- Resenha Filme Decisoes ExtremasDocumento5 páginasResenha Filme Decisoes ExtremasGerusadc0% (1)