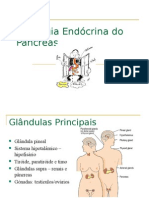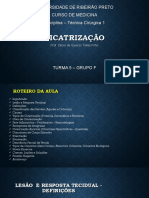Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Fisiologia Geral Das Membranas 1
Fisiologia Geral Das Membranas 1
Enviado por
Mariana OliveiraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Fisiologia Geral Das Membranas 1
Fisiologia Geral Das Membranas 1
Enviado por
Mariana OliveiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1- Fisiologia geral das Membranas: transporte de substncias atravs da membrana celular.
A membrana celular envolve toda a clula, uma estrutura fina e elstica, formada quase inteiramente por lpidos e protenas. Composio: 55% Protenas 25% Fosfolpidos 13% Colesterol 4% Outros lpidos 3% Carbohidratos A sua estrutura bsica de uma bicamada lipidica, com espessura de apenas 2 molculas, que so contnuas por toda a superfcie celular. Existem grandes molculas globulares de protenas intercaladas nessa pelcula lipidica. Uma parte de cada molcula de fosfolpidos solvel em gua, hidrofilica (cabea) e a cauda hidrofbica (solvel em gorduras). A poro fosfato dos fosfolpidos hidrofilica e a das A.G. hidrofbica. Como as pores hidrofbicas das molculas de fosfolpidos so repelidas pela gua, ao mm tempo que so atradas umas pelas outras, elas apresentam tendncia natural para se alinharem lado a lado no centro da membrana. A bicamada lipidica impermevel a substncias hidrossolveis (ies, glicose, ureia, ) Por outro lado as substncias lipossolveis como o O2, CO2 e o lcool atravessam facilmente a membrana. Lquido Extracelular Na+, Ca2+, Cl-, HCO3-, glicose, Lquido Intracelular K+, Mg2+, Fosfatos, protenas, Uma caracterstica especial da membrana ser um fluido e no um slido
As molculas de colesterol esto dissolvidas na bicamada fosfolipidica. Elas so responsveis pelo grau de permeabilidade da bicamada lipidica aos constituintes hidrossolveis dos lpidos corporais. Por outro lado tambm controla o grau de fluidez da membrana.
Fluidez membranria: A baixas temperaturas os fosfolpidos existem numa fase gel ou estado cristalino com reduzida mobilidade. A partir de determinada temperatura, Tc, os grupos polares adquirem grande mobilidade originando um estado cristalino lquido.
Estado cristalino T <Tc
Estado cristalino lquido T <Tc
Diminuio da Tc Colesterol fluidifica as membranas Aumento do Tc Colesterol torna as membranas + rgidas Determinantes da fluidez membranria:
Determinante Temperatura Lpidos Protenas
Efeitos da fluidez:
Varivel Colesterol Insaturao AG Comp. AG
Fluidez
Mobilidade proteica Actividade cataltica de enzimas Permeabilidade de substratos e gados Especificidade e afinidade de receptores
Protenas de membrana: Medeiam a maior parte das funes enzimticas, de transporte e receptores da membrana; So normalmente glicoprotenas Existem 2 tipos: Integrais: Proeminentes atravs de toda a espessura da membrana Importantes na interaco da clula com o meio ou com outras clulas (formao de canais
S podem ser isoladas atravs de tratamentos mais agressivos que envolvem a rotura da membrana por detergentes caotrpicos (conferem as associaes hidrofbicas nas membranas) Perifricas: Encontram-se, quase na totalidade; na face interna da membrana, fixando-se a uma das protenas integrais Actuam com enzimas ou como controladoras do funcionamento intracelular Dissociadas com tratamentos suaves como alterao de pH ou fora inica
Interaces fosfolpidos/ protenas de membrana Raf+ lipidico regies mais organizadas e ordenadas da membrana, de baixa fluidez com altos contedos de colesterol e esfinfolipidos
Regula o trfico membranrio de certas protenas Regula processos como o metabolismo da protena percursora do amilide Regula a polarizao da mobilidade celular
Hidratos de carbono celulares Os hidratos de carbono celulares esto invariavelmente combinados com protenas e lpidos, sob a forma de glicoprotenas e glicolpidos. As pores glico encontram-se no exterior da clula, assim como as proteoglicanas que se fixam superfcie externa de clula
Assim, toda a superfcie externa da clula apresenta um fraco revestimento de carbohidratos, que chamado de Glicoclise. Os radicais de carbohidratos, presos superfcie da clula tm como funes: Como tm carga negativa, muitos deles, do maioria das clulas uma carga global superficial negativa, capaz de repelir outros elementos negativos Muitos radicais actuam com substncias receptoras para a fixao de vrias hormonas, como a insulina
Podem participar em reaces imunolgicas
Ligao covalente entre protenas e lpidos na membrana H 3 tipos: Meristato liga-se superfcie citoplasmtica das membranas proteicas como a subunidade cataltica da protena quinase AMPc dependente, a calcinefrena B e a NADH-citocromio bs redutase Palmitato liga-se atravs da lig. Tio-ester com a cistena Glicosil-fosfatidilinositol: 1- Livre na superfcie citoplasmtica com funo de transduo de sinal 2- Ligado s protenas que extracelular Molculas de adeso celular So as protenas membranrias de extrema importncia nas interaces da clula com outras clulas e matriz extracelular. Agrupam-se em 4 classes diferentes: Superfamilia das imunoglobulinas LFA, ICAM, VCAM Superfamilia das selectinas L, P, E Superfamilia das integrinas B1, B2, B3 Superfamilia das caderinas N, E, P, R
As interaces podem ser: Homofilicas molculas iguais Heterofilicas molculas diferentes Integrinas: Receptores constitudos por 2 subunidades, e de ligao no covalente Na sua funo citoplasmtica interagem com muitas protenas includo o citoesqueleto
Selectinas Possuem domnios do tipo lectina, tipo EGB e tipo complemento So de 3 tipos: Selectina L linfcitos Selectina P plaquetas e endotlio Selectina E endotlio
Caderinas Funes no reconhecimento celular, morfognese e represso tumoral Vrios tipos
N neural E epitelial P placentria R retiniana Todas possuem uma poro extracelular NH2 - terminal com 5 domnios, um s domnio transmembranrio, e uma poro citoplasmtica COOHque interage com caderinas e .
Exemplo: Adeso e migrao transendotelial de leuccitos
Os leuccitos perto de parede endotelial 1- Contacto inicial selectinas 2- Activao e adeso imunoglobolinas 3- Transmigrao integrinas
2 - Sistema de transduo de sinal
Comunicao intercelular O sinal tem uma origem e um destino definido A descodificao do sinal inicial envolve a formao de um sinal intracelular que inicia a resposta celular (transduo de sinal) Sinais iniciais pequenos levam a respostas celulares amplificadas
Classificao dos receptores Receptores acoplados ao DNA Activao directa de canais inicos pelo ligando Receptores acoplados a protena G Receptores que possuem act. Enzimtica (tirosina-quinase, guanil-ciclase) Mensageiros lipossolveis Receptores acoplados ao DNA Os receptores so intracelulares e encontram-se inactivos no citoplasma ou no ncleo (+ vezes no ncleo) O 1 mensageiro passa a membrana plasmtica e a membrana nuclear e junta-se ao receptor, activando-o
Esta activao leva juno de um factor de transcrio tb ao receptor provocando alteraes na transcrio de genaq1es
Actividade regulatria da transcrio do DNA; quer aumentando quer diminuindo a sntese e expresso genica Mensageiros no lipossolveis Receptores que funcionam como canais inicos O prprio receptor um canal inico Esta abertura leva a um aumento da difuso do io especfico ao canal Geralmente associados a mudanas no potencial de aco de membrana Caso seja um canal de clcio, a sua abertura leva a um aumento citoslico do mesmo resultando num acontecimento essencial para a via de transduo de sinal de muitos receptores
1 mensageiro receptor (canal inico) activa-o (abre-o) diferena de potencial de membrana resposta celular Ex: canais inicos de Na+ (neurnio, musculo cardaco e esqueltico) Canais inicos de Ca2+ Canais inicos de K+ Canais inicos de Cl Receptores que possuem actividade enzimtica Tirosina quinase factores trpicos Todos os receptores que possuem actividade enzimtica so protenas kinase. Q grande maioria fosforila as pores da protena que contem o a.a. tirosina, da o nome tirosina Kinase Logo a tirosina kinase constitui um grupo de protenas kinase e no uma enzima em particular
O 1 mensageiro liga-se ao receptor, e este muda a sua conformao Assim a poro enzimtica localizada no lado citoplasmtico activada Isto resulta, uma autofosforilao do receptor (o receptor fosforila os grupos de tirosina) Os resduos fosforilados servem de ligao a protenas citoplasmticas com afinidade para os mesmos Estas protenas citoplasmticas com os resduos fosforilados ligam-se a novas protenas gerando uma cascata de sinais at resposta celular
Guanil ciclase uma excepo dos receptores da membrana plasmtica que possuem actividade enzimtica Catalisa a formao de um 2 mensageiro e vai activar a protena kinase O 1 mensageiro liga-se ao receptor da guanil-ciclase Catalizao de mensageiro) formao no citoplasma de GMPciclico (2
O GMPc funciona como 2 mensageiro e vai activar a protena kinase dependente de GMPc Existe fosforilao de protenas para mediar a resposta da clula ao mensageiro original Em certas clulas, a guanil cilase encontra-se no citoplasma
Nestes casos, o 1 mensageiro xido ntrico difunde na clula e combina-se com a guanil ciclase para a formao do GMPc
Receptores que activam JAK Ao contrrio das tirosinas quinases que possuem actividade enzimtica intrnseca, neste tipo de receptores a actividade reside numa famlia de kinases citoplasmticas denominadas JAK Ligao do 1 mensageiro ao receptor Mudana conformacional do receptor o que leva a activao da JAK kinase JAK kinase fosforila protenas alvo at resposta celular
Diferentes receptores associam-se a diferentes famlias de JAK kinases Diferentes JAK kinases fosfoliram diferentes protenas alvo
Receptores que transcription)
activam
STAT
(signal
transducers
activators
of
Protenas citosolicas com domnios SH2 envolvidas no reconhecimento de resduos de tirosina fosforilada Ligam-se a receptores de tirosina kinase activados ou receptores de citoquinas que se dimerizam e transformam as STAT em factores de transcrio do DNA que induzem o crescimento celular e diferenciao
Servem de ligao entre a superfcie celular e ncleo A ligao do ligando leva a dimerizao do receptor Activao e fosforilao dos resduos de tirosina das JAK As JAK fosforilam as STAT As STAT dimerizam e movem-se em direco ao ncleo
Receptores que activam FAK (Focal adhesion kinases) Protenas citosolicas com actividade de tirosina quinase Associam-se a receptores da matriz extracelular e ligam o potencial de sinalizao da matriz extracelular Muito activas na diferenciao da migrao celular e proliferao
Receptores que activam MAPK (Mitojen activated protein kinases) Famlia de protenas citosolicas (serina/treonina kinases) Uma das vias principais de modelao celular, proliferao e controle da diferenciao Activam protenas efectoras citoslicas e/ou nucleases Podem ser activadas por receptores ligados a protenas G ou a tirosina kinases Receptores acoplados a protena G Cerca de 80% dos 1 mensageiro (hormonas, neurotransmissores, neurotransmissores ou outros factores) exercem os seus efeitos celulares atravs de receptores acoplados s protenas G A protena G pode causar a abertura de canais inicos originando impulsos elctricos ou no caso de canais de clcio, modificar a concentrao citoslica do mesmo (rec. Metabotrpicos) Tambm podem activar a enzima membranar com a qual interagem Protena G So heterodmeros compostos por 3 polipptidos: o Sub-unidade ponto de ligao para a guanina Preenchido no estado de descanso por GDP o Complexo A protena G pode activar: Canais inicos Adenilato ciclase Fosfolipase C
Aces de algumas protenas G: Gs estimula a adenilato-ciclase e activa canais de Ca2+ Gi inibe a adenilato-ciclase e activa canais de K+ Gq activa a fosfolipase C Go inibe correntes de clcio Gt estimula a adenilato ciclase no olho Gdf estimula a adenilato ciclase no nariz
Ligao do 1 mensageiro ao receptor e mudana conformacional deste A mudana conformacional leva a que uma das 3 subunidades se ligue a outra protena na membrana plasmtica protena efectora Adenilato ciclase A activao da adenilato ciclase, cataliza a converso de molculas de ATP AMPc O AMPc funciona como 2 mensageiro e activa protenas kinase dependentes de AMPc Fosforilao de enzimas chave e resposta celular
Transdutores de membrana adenilato-ciclase o Enzima responsvel pela catalizao de ATP em AMPc (2 mensageiro) o regulado quer positivamente quer negativamente por: Protena G Ca2+ Calmodulina Fosfatidilcolina Inibidores do sitio P Protena kinase k
o Protenas G - canais inicos (rec. ionotrpicos) As protenas G possuem a capacidade de cativar directamente ou indirectamente canais inicos Activao directa - activa directamente independentemente do 2 mensageiro Activao indirecta
Protena G activa fosfolipase C IP3 DAG protena kinase C
Fosforilao do canal inico Funo do AMPc no interior da clula AMPc Difunde-se atravs da clula indo activar a protena kinase A, a qual vai fosforilar outras protenas (na maioria enzimas) Estas enzimas levam acabo a resposta celular (amplificada) Secreo, contraco, etc., A aco do AMPc eventualmente terminada pela sua degradao em AMP sob a aco da fosfodiesterase
Transdutores de membrana Fosfolipase C Cataliza a degradao dos fosfolpidos da membrana em diacilglicerol e inositol 3 P
IP3 no exerce a sua actividade de 2 mensageiro directamente Liga-se aos canais de clcio no RE O clcio difunde-se pelo citosol Resposta celular ao 1 mensageiro
Clcio como 2 mensageiro Atravs de transporte activo quer na membrana extracelular, quer nas membranas dos organitos, a concentrao de clcio encontra-se extremamente diminuda Existe um potencial electroqumico que facilita a difuso de clcio para o citosol O aumento de Ca2+ pode dever-se a: o Activao de receptores pelos mensageiros Receptores membranares activados O Ca2+ libertado do RE por aco do 2 mensageiro em particular IP3 ou o prprio clcio
O transporte activo de clcio para o meio extracelular inibido por 2 mensageiros
o Abertura de canais dependentes de voltagem O aumento de clcio citoslico pode levar a uma resposta o O Ca2+ liga-se clamodulina o O Ca2+ liga-se a protenas intremedirias que agem de forma anloga calmodulina o O Ca2+ altera as prprias protenas que levam resposta celular o (o Ca2+ ao ligar-se troponina inicia a contraco
Calmodulina Inactiva
Ca2+
Calmodulina activa
5 Kinases dependentes de calmodulina Kinase da cadeia leve de miosina contraco do msculo Fosforilase kinase Calmodulina kinase I e II funo sinptica Calmodulina kinase III sntese proteica xido ntrico Arginina
ON sintetase
xido ntrico Difuso para clulas vizinhas Aco do ON sobre a guanilciclase Aumento de GMPc nas clulas do tecido muscular liso Efeito vasodilatador Perxido de hidrognio e radicais livres
Actuam sobre os factores de transcrio ou pelo aumento das vias MAPK possuindo assim um papel no crescimento e diferenciao celular Inactivao da transduo de sinal Os 2 mensageiros so rapidamente inactivados Os receptores podem ser inactivados por: Alterao da afinidade para os mensageiros por fosforilao dos receptores Remoo dos receptores da membrana por endocitose
Compartimentos lquidos do organismo: sua organizao, composio e dinmica fisiolgica Principal liquido orgnico gua Quantidade de gua total: 55-60% do peso corporal no homem adulto 50-55% do peso corporal na mulher adulta 42 L num homem de 70 Kg Contedo em gua dos diferentes indivduos varia com: Quantidade de tecido adiposo Quanto maior for a quantidade de massa gorda menor a fraco do peso corporal atribudo agua Compartimentos Termo no especifica referente a uma regio do corpo com uma composio qumica nica ou compartimento nico. A gua corporal total est contida em 2 grandes compartimentos separados por membranas celulares: Liquido intracelular (2/3 gua corporal total) (60%) Lquido extracelular (1/3 gua corporal total) (40%) Compartimento extracelular major Palsma (71%) Liquido intersticial (31%) circunda as clulas nos tecidos Compartimento extracelular minor Osso e tacido conjuntivo denso Agua transcelular (2%) Secreoes digestivas Liquido intraocular LCR Suor liquido sinovial, pleural, peritorial e pericrdico
Perda diria de agua Perdas urinrias Perdas fecais Perdas insensveis Evaporao da superfcie da pele Evaporao do tracto respiratrio Perdas pelo suor Perdas patolgicas Entrada e sada de nutrientes Agua plasmtica: Nutrientes ingeridos passam atravs do plasma no caminho para as clulas produtos de excreo celular passam pelo plasma antes da eliminao Espao intersticial Ponto de acesso directo para a maioria das clulas. Excepo dos GV e GB Espao intracelular VS extracelular Composio qumica muito diferente Concentrao inica total muito semelhante Concentrao osmtica total virtualmente idntica Extracelular Na+, Cl- , HCO3Intracelular K+, protenas, a.a, fosfatos Distrbios primrios Aumento da osmolaridade do LEC gua sai de dentro da clula (vol , osmol ) Diminuio da osmolaridade no LEC gua entra nas clulas (vol , osmol ) Presso osmtica a gua move-se at igualdade de concentraes em ambos os lados da membrana Agua corporal total Liquido intracelular (2/3) Liquido extracelular (1/3) Sofre regulao por 2 parmetros: Regulao de volume Regulao da osmolaridade Regulao de volume (sistema renina/angiotensina/aldosterona) O rim tem o nefrnio que tem uma estrutura com clulas sensveis presso a nvel renal. A diminuio da [NaCl] e o abaixamento da presso sangunea a nvel renal leva libertao de renina, que vai actuar numa protena produzida a nvel heptico que o angiotensinognio. A renina uma enzima, que est relacionada com a arterola aferente
A renia vai converter o angiotensinognio em angistensina I que passa na circulao pulmonar e transforma angiotensina I em II. A II um poderoso estimulo para a produo e libertao de aldosterona A angiotensina II promove a vasoconstrio da arteriola aferente e aumenta a produo renal. Inibe a libertao de renina A aldosterona aumenta o volume circulante levando reabsoro de sdio dos tubulos renais. O sdio reabsorvido levando por efeito osmtico a reabsoro de gua. Tambm leva excreo de potssio e hidrogenies Variaes na presso sangunea Baroreceptores no aparelho justaglobular Renina Sistema em cascata Crtex adrenal liberta aldosterona Aldosterona provoca reteno de sdio a nvel renal aumentando a reabsoro de H2O, com a normalizao da presso arterial Regulao da osmolaridade Variaes na osmolaridade sangunea Osmoreceptores Libertao de ADH hipofisirio Reabsoro de gua nas pores finais do nefrnio excreo de gua O ADH aumenta a reabsoro de gua A aco renal mais importante do ADH consiste em aumentar a permeabilidade dos epitlios do tubulo distal, do tubulo colector e do ducto colector agua. Esse efeito ajuda o corpo a conservar a gua em circunstncias como a desidratao. Na ausncia de ADH a permeabilidade dos tubulos distais e do ducto colector gua baixa, resultando na excreo de grande quantidade de urina diluda pelos rins. Por conseguinte, as aco do ADH desempenham papel-chave no control do grau de diluio, ou de concentrao, da urina ADH urina diluda Deficit de gua Osmolaridade exterior ( concentrao plasmtica de sdio) Secreo de ADH (hipfise posterior) ADH plasmtico Permeabilidade dos tubulos distais e ductos colectores agua Reabsoro de agua Excreo de agua (volume de urina) Transporte passivo e activo. Efeito de Gibbs-Donnan e o potencial de membrana Transporte passivo
Transporte possibilitado por uma diferena de concentraes (para substancias sem carga) ou por uma diferena de concentraes e de potencial elctrico (para substancias com carga) Este tipo de transporte tende a dissipar as diferenas que lhe deu origem e a distribuio final entre a clula e o meio ser de um estado de equilbrio Transporte e distribuio da agua Presso osmtica igual presso hidrosttica necessria para interromper a passagem de gua de um compartimento para outro tanto maior quanto o n de partculas de soluto = R.T p.o. Constante Fluxo osmtico - movimento de agua do meio hipotnico para o meio hipertnico Osmolaridade a osmolariade de uma substncia a massa desta que proporcionava em soluo o mesmo n de partculas que um mol de uma substncia no dissociada Ex: 1 osmol de NaCl = 0,5 NaCl 1 osmol Glucose = 1 mol glucose Contudo a membrana biolgica pode ser muito permevel a alguns solutos. A p. osmtica aquela determinada pelos solutos que so incapazes de atravessar a membrana ou fazem-no com uma velocidade menor que a agua Transporte passivo de ies fora impulsora das diferentes concentraes adiciona-se a que provm das diferenas de potencial elctrico de modo que a tendncia para dissipar as diferentes concentraes pode ser contrariado pelas diferenas de potencial Potencial electroqumico mede a energia de um io em soluo em funo da sua concentrao e do potencial elctrico A temperatura e presso constantes, 2 sistemas esto em equilbrio quando a sua energia livre tem o mesmo valor, isto , quando se iguala o potencial electroqumico do io em ambos os compartimentos Equao de Nerst Permite para qualquer io de carga conhecida, distribudo entre a clula e o meio, determinar: A diferena de potencial necessria ao equilbrio A diferena de concentrao que corresponde a uma distribuio em equilbrio Nas clulas, a maior parte dos ies negativos intracelulares so protenas incapazes de atravessarem a membrana, enquanto que os ies positivos (nomeadamente o K+) podem difundir [ ]Soluto (molaridade)
Em consequncia, as clulas possuem uma diferena de potencial em relao ao exterior, que se aproxima do valor experimental da relao de concentrao entre o K+ intra e extracelular, isto o potencial da membrana ou potencial de repouso Equilbrio de Gibbs-Donnan Os anies s se difundem para dentro da clula, e os caties difundem-se para dentro e para fora da clula Todas as clulas contem ies negativos incapazes de atravessar a membrana enquanto que os ies negativos e positivos do meio e podem fazer Se a distribuio dos ies se realiza apenas por transporte passivo, na situao de equilbrio devem igualar-se os produtos das concentraes dos ies disponveis em ambos os lados da membrana [K]int [Cl] int = [K] ext [Cl] ext Este equilbrio est portanto necessariamente associado a uma diferena de presso osmtica entre os compartimentos em que se estabelece e a que se d o nome de presso coloidosmtica A presso coloidosmotica levaria entrada de gua para o interior da clula, deve concluir-se que a distribuio de ies em equilbrio entre a clula e o meio incompatvel coma sobrevivncia celular Resulta daqui a necessidade de outro tipo de transporte inico para alm do passivo, que torne possvel a sobrevivncia celular Bomba Na+/K+ (T. activo) Este novo processo ser dependente do metabolismo da clula dado que essa a nica fonte de energia para transportes no passivos Mecanismos de transporte passivo Difuso simples Depende do n de choques da substncia com a membrana, o movimento resultante ocorre sempre no sentido da diferena de contraco ou de potencial Depende da permeabilidade da membrana Superior para substancias lipossolveis Retm intermedirios lipossolveis Depende da presena de poros hidrofilicos (protenas) nas membranas, permitindo que a sua permeabilidade para substncias hidrofilicas seja maior que nas membranas anfipticas de polipptidos Estes poros descriminam a passagem com base no tamanho e na carga elctrica da substncia So impermeveis para solutos hidrofilicos So impermeveis para solutos com carga idntica sua parede Difuso facilitada Faz-se no sentido do gradiente de concentrao e no h energia envolvida, apenas necessita da existncia de um transportador que se combine com a substncia
Transporte passivo, especifico para detreminada substncia saturvel, oou seja, limitado pelo n de transportadores, fazendo-se a velocidade constante a partir de um certo valor Na difuso simples lei de Fick (velocidade proporcional concentrao da substncia) Na difuso facilitada lei de Michaelis Menten ( saturvel) a partir de certa altura a velocidade constante
Mecanismos de transporte activo Transporte activo Faz-se contra uma diferena de concentrao ou de potencial elcrtico, implicando a introduo da energia necessria e que cesa coma interrupo do metabolismo celular A diefrena de concentrao no transporte activo tende a dissipar-se com um movimento passivo em direco oposta A distribuio final de um soluto submetido a transporte cativo uma distribuio ou estado estacionrio distinto do estado de equilbrio do transporte passivo Bomba Na+/K+ A concentrao intracelular de K+ superior esperada e a de Na+ inferior esperada, se as clulas estivessem em equilbrio com o meio extracelular Isto deve-se capacidade da clula transportar activamente Na+ para fora e K+ para dentro Quando 2 ies de K+ fixam-se no exterior da protena transportadora e 3 ies de Na+ fixam-se na parte interna, a funo ATPase da protena ser activada. A seguir ocorre clivagem de uma molcula de ATP, que ser fosforilada para adenosina difosfato (ADP), com libertao da energia contida na ligao fosfato Essa energia acarreta a alterao conformacional da molcula transportadora, com a sada de 3 Na+ e a entrada de 2 K+ A energia metablica transformada em energia electroqumica para ser utilizada em outros processos de transporte activo secundrio Importncia da bomba Controlar o volume das clulas Dentro da clula existe grande n de protenas e de outros compostos orgnicos que no conseguem sair da clula. A maioria destes tem carga negativa e portanto, colecta tambm, ao seu redor, inmeros ies positivos. A seguir todas essas substncias tendem a causar osmose da gua para o interior da clula. Se isso no for impedido, a clula acabar inchada, at explodir. O mecanismo que impede essa ocorrncia a bomba Na+/K+
Saem 3 ies Na+ e entram 2 ies para a clula. Alm disso a membrana muito mneos permevel aos ies Na, de forma que apresentam forte tend~encia em premanecer no espao extracelular Assim, isso representa perda efectiva contnua de ies para fora da clula, o que induz tb a osmose da gua para fora da clula Mantem volume normal celular Classificao dos transportadores Uinporte Transporte de uma substncia a favor do gradiente Transporte de a.a ou glucose para dentro da clula Simporte Transporte de 2 tipos de substncia. As duas substncias passam para o mm lado da membrana, um a favor e outro contra o gradiente de concentrao Antiporte Transporte de 2 tipos de substncias. Passam em sentidos opostos sendo um afavor e outro contra o gradiente
Liquido cefalo-raquidiano Localizao - fui dentro dos ventrculos cerebrais, canal medular e espao subaracnoideu que rodeia o crebro e a medula espinhal Produo - plexos coroideus nos ventrculos laterias-responsveis pela maior parte da produo. Plexos do 3 e 4 ventrculo- pouca produo Plexos coroideus - conjunto de clulas ependimrias especializadas + tecido de suporte + vasos sanguneos associados So formdos por invaginaes da piamter vascular pelos ventrculos, produzindo um ncleo de tecido conjuntivo vascular coberto por clulas ependimrias Renovao - 3 a 4 x por dia Produo - 500 mL/dia Funo: Proteco mecnica - o LCR actua como emio amortecedor de choques, que protege o delicado tecido do encfalo e da medula espinhal, de pancadas que, de outra forma, oderiam faz-lo bater contra as aprdes sseas das cavidades do rnio e do canal vertebral
Proteco qumica - o LCR forma um ambiente qumico ptimo para a sinalizao celular Circulao o LCR um meio para troca de nutrientes e detritos entre sangue e o tecido nervoso Trfego O liquido flui dos ventrculos latreias para o 3 ventrculo atravs do foramen de Mouro Do 3 flui para o 4 ventrculo peo aqueduto de Silvius Do 4 ventrculo flui para o espao sub-aracnoideu atravs do foramen de mangedi e luscka Daqui circula pela base do ccerbro, desce volta da medula espinhal e sobe para os hemisfrios cerebrais Presso do LCR A presso normal 10 mmHg Tumores cranianos, hemorragias ou processos infecciosos podem levar a um aumento at 3-4x O LCR produzido a velocidade constante A reabsoro ao nvel das vilosidades aracnoideias que determina a presso do LCR Quandoa pressa ultrapassa 1,5 mm HG acima da presso sangunea nos seios venosos o LCR passa para o seio sagital superior Barreiras Barreira hemtao-caflica separa o sangue do tecido nervoso Barreira sangue-LCR constituda pelos plexos coroideus Barreira hemato-ceflica Constituda por astrcitos e endotlio Separa o sangue do tecido nervoso Funes de transporte Difuso simples de compostos lipossoluveis (etanol,nicotina, imipranina, gua, CO2, etc) O H+ no passa passa acoplado ao HCO3Difuso facilitada Sistema das hexoses: GWT1 transporta manose, D-glucose, maltose e vit C Sistema dos cidos monocarboxilicos: transporte de corpos cetnicos, L-lacato e piruvato Sistema L (leucina): transporte de fenilalanina, leucina, L-Dopa, tirosina Outros sistemas de influxo: transporte de a.a. cidos e bsicos, vitaminas Transporte activo Bomba Na+/K+: localiza-se na face anti-lumial do endotlio que transporta K+ do espao intersticial para o sangue e Na+ do sangue para o espao intersticial Sistema A: transporta pequenos a.a. neutros e GABA por simporte
Sistema P: protena transportadora ABC e est na face luminal do endotlio Transcitose mediada por receptores: transporte de pptidos plasmticos para o SNC como a insulina e transferrina Funes enzimticas Protege o SNC de toxinas, tem funes no metabolismo lipidico e dos AG e funes imunolgicas Barreira sangue -LCR Constituda pelos plexos coroideus (produz e secreta a pr-albumina- uma das principais protenas do LCR) Funes de transporte e secreo de LCR Certas partculas so transportadas selectivamente como o clcio um sistema de fluxo dos cidos orgnicos fracos, que inclui catabolitos neurotransmissores Difuso simples, facilitada e transporte activo Funo da barreira Secreo de LCR, que consiste num processo de transporte inico activo, resultando na secreo de Na+e Cl-, principais constituintes do LCR Aqui importante a aco da anidrase carbnica Composio do LCR Poucos lincitos 99% H2O Electrlitos (na*, Cl-, etc) Metabolitos (glicose, lacato) a.a (glutamina, glutamato) protenas totais: pr-albumina albumina globulinas lipoproteinas: APO E APO A-1 Quando o LCR secretado a mais: Ubaina - actua a nvel da bomba Na+/K+ Autozolamida - inibe a anidrase carbnica Furoserina - inibe o transporte simorte Aquoporina1 concentrao no lado apical das PC para transporte de gua
Sangue
O sangue constitudo por uma componente celular ou elementos figurados e por uma componente lquida ou plasma Suspenso de clulas numa soluo complexa de gases, sais, protenas, hidratos de carbono e lipidos Componentes Elementos figurados Glbulos vermelhos Glbulos brancos Plaquetas Plasma Protenas 7% - albumina 54% (produzida no fgado) Globulinas 38 % Fribrinognio 7% (hemostase) gua 91,5% Outros solutos 1,3% - electrlitos (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, ) Nutrientes Gases (CO2, O2, N2) Susbstncias reguladoras (hormonas) Escorias (ureia, creatina, cido rico, bilirrubina Soro plasma do qual foram retirados o fibrinognio e outrsa protenas envolvidas na coagulao A colorao do plasma devida a um produto de degradao da hemoglobina, denominado de bilirrubina Funes do sangue como tecido dinmico Transorte Imunidade Hemostasia Homeostasia - manter constantes: PH Concentrao inica Osmolaridade Temperatura Aporte de nutrientes Integridade vascular Clulas sanguneas Eritrcitos (4,4 - 5,9x106) Transporte de oxignio Leuccitos (4000-10000) Defesa do organismo Plaquetas (150000-350000) Coagulao Propriedades gerais do sangue
Hematrcito volume de glbulos vermelhos em 100mL de sangue incoagulvel centrifugado at a obteno de um volume constante com 2 leituras sucessivas Volume normal 45% eritrcitos Velocidade de sedimentao eritrocitria depende quase exclusivamente do plasma, estando em relao directa com a quantidade de fibrinognio, das globulinas e finalmente da albumina Velocidade de sedimentao eritrocitria depende quase exclusivamente do plasma, estando em relao directa com a quantidade de fibrinognio, das globulinas de finalmente da albumina Velocidade de sedimentao: Carga negativa dos glbulos vermelhos Maior tenso hidrofilica dos glbulos vermelhos Velocidade normal - 3-10 mm/h Cor -> depende da relao entre a oxihemoglobina e carboxihemoglobina Opacidade depende da reteno de luz dos glbulos vermelhos. mais transparente na hemlise Densidade maior que a do plasma Viscosidade Depende do atrito interno entre as partculas, tornando a gua como unidade A do plasma e do soro dependem da concentrao de protenas ( globulinas viscosidade) A viscosidade do sangue 3x superior viscosidade da gua E a do plasma 1,5 x superior da gua Presso osmtica a p.o. semelhante do plasma ou soro e expressa-se pelo ponto de coagulao. da p.o. do plasma deve-se ao NaCl, cuja concentrao istica no plasma Hemlise sob a aco de diversos agentes fsicos ou qumicos a hemoglobima difunde-se para o meio Eritrcitos Funo: transportar a hemoglobulina, a qual transporta O2 dos pulmes para os tecidos Equilbrio cido-base contm grande quantidade de anidrase carbnica, que catalisa a reaco entre o Co2 e a gua. Esta reaco possibilita que a gua do sangue reaja com grandes quantidades de CO2, transportando-o assim dos tecidos para os pulmes na forma de io bicarbonato (HCO3-) No so verdadeiras clulas no tm ncleo, nem mitocndrias; no tm capacidade de sntese proteica
Forma: disco biconcvo, que se adapta perfeitamente sua funo podendo mudar de forma ao passar atravs dos capilares A sua capacidade de deformao deriva da protena estectrina Numa soluo hipotnica aumentam de volume pk permitem a entrada de liquido, sobretudo rotura da sua membrana (com sada de Hgb) e hemlise; numa soluo hipertnica perdem lquido ficando plasmolisados. Produo: Medula ssea at aos 5 anos A partir do 5 anos - medula dos ossos longos com excepo do mero e tbia A partir do 20 anos - produzidos na membrana dos ossos membranosos (vrtebras, esterno, costelas e ilaco) Eritropoiese (ciclo vital dos GV - Produo) Medula ssea Clulas do tronco hemototicas pluripotencias Indutores de a sua produo controlada indutores de diferenciao Crescimento por factores situados fora da medula promovem crescimento mas no a diferenciao das clulas cada um desses indutores determina a diferenciao de um tipo de clulas tronco ou uma ou mais etapas em direco ao tipo final de clula sangunea adulta
a eritropoieses depende de: eritropoietina - hormona renal que estimula a produo de eritrocitos e que pode ser libertada devido: Hipoxia derivado da descida de eritrocitos Diminuio de disponibilidade de O2 Aumento da necessidade de O2 por parte dos tecidos Medula ssea capaz de responder eritropoietina Fornecimento de ferro adequado s necessidades do organismo Qualquer condio que cause a diminuio da quantidade de O2 transportada para os tecidos normalmente aumenta a velocidade de produo dos eritrcitos Condies que podem levar alterao da velocidade de produo dos eritrcitos: Pessoas extremamente anmicaas - a medula comea a produzir grandes quantidades de eritrcitos
Destruio por parte da medula por qq meio p.e : raio x causa hiperplasia da restante medula por tentar colmatar a demanda de eritrcitos Grandes altitudes - a quantidade de O2 diminui (Hipoxia) logo aumenta a produo de eritrcitos Doenas circulatrias com reduo de fluxo sanguneo nos vasos perifricos insuficincia cardaca prolongada, doenas pulmonares - hipoxia tecidual aumenta a produo de eritrcitos Destruio dos eritrcitos: Tempo de viad mdio - 120 dias Possuem NADPH que permite: Manter a felxibilidade da membrana celular Manter o transporte membranar de ies Manter o ferro da hemoglobina na forma ferrosa e no da forma ferrica /que leva formo de metemoglobina que no transporta O2) Com o passar do tempo a membrana celular torna-se amis frgil, a clula rompe-se durante a sua passagem em algum ponto amis estreito da circulao (bao) Formao da hemoglobina Substncias iniciais succinil CA (do ciclo de Krebs) Glicina A sntese de hemoglobina comea nos pr-eritroblastos e continua no estagio de reticulcitos Succinil CA + glicina Porfobilinognio molcula pirrlica - 4 ncleos pirrlicos juno de 4 porfibilinogenios Protoporfirina Heme + globina A vitamina B12 e o cido flico - importantes na maturao final dos eritrcitos Uma vez que cada cadeia possui um grupo prosttico heme, h 4 tomos de ferro ao qual podem ligar-se 4 molculas de O2
Capacidade da hemoglobina em se ligar frouxa e reversivelmente com o O2 A sua afinidade modificada pelo pH, pela temperatura e pela concentrao de 2,3 -difosfoglicerato Quando a hemoglobina destruda Poro proteica pode ser reutalizada Poro do ferro do heme vai para reservatrio, tambm para ser reutilizado Poro porfirica do ferro degradada principalmente nas clulas retculo endoteliais do fgado, bao e medula ssea Ciclo vital dos Glbulos vermelhos Os macrfagos, no bao, fgado ou na medula ssea vermelha, fagocitam os GV gastos As fraces globina e heme so separadas A globina degradada em a.a e reutalizada O ferro, removido da fraco heme, associa-se transferrina (um transportador de Fe3+ na corrente sangunea) Nas fibras musculares, nas clulas hepticas e nos macrfagos do bao e do bao, o Fe3+ solta-se da transferrina e associa-se ferritina (protena de armazenamento) Quando libertado dos locais de armazenamento volta ligar-se transferrina O complexo Fe3+ - transferrina transportado para a medula ssea onde as clulas percursoras dos glbulos vermelhos captam por endocitose A eritropoitina promove a produo de glbulos vermelhos para acirculao A parte no-ferro do heme convertida a biliverdina e em seguida bilirrubina (pigmento de cor amarelo- alaranjado) A bilirrubina entra no sangue, sendo transportada para o fgado No fgado, a bilirrubina secretada pelas clulas hepticas para a bile, que passa para o intestino delgado e em seguida para o intestino grosso No intestino grosso, bactrias convertem a bilirrubina em urobilingnio Parte do urobilinognio absorvido de volta para o sangue, convertido no pigmento amarelo chamado urobilina e excretado na urina A maior parte do urobilinognio excretado nas fezes, na forma de pigmento castanho, chamado estercobilina, o que da s fezes a sua colorao caracterstica Anemias deficincia de hemoglobina Anemia por perda sangunea:
Aps rpida hemorragia, o organismo, repe o plasma dentro de 1 a 3 dias, mas isso leva a uma diminuio do hematrcito. Se no ocorrer 2 hemorragia a concentrao de eritrcitos normalmente volta ao normal dentro de 3 a 6 semanas Na perda sangunea crnica, a pessoa em geral no absorve ferro suficiente para formar hemoglobina to rapidamente quanto a sua perda Os eritrcitos produzidos possuem pouca hemoglobina dando origem a anemia mecrocitica Anemia aplsica Aplasia da medula ssea - falta de medula ssea funcionante Por ex: pessoa exposta a radiao gama de bomba nuclear - destruio completa de medula ssea, seguida de anemia letal Anemia megaloblastica Megaloblastos - eritrcitos demasiados grandes com formas bizarras e membranas frgeis, ocorrem em alguns tipos de anemias: Anemia perniciosa - maturao deficiente devido a m absoro de vit. B12 pelo tracto gastro intestinal, em que a osmolaridade bsica uma mucosa atrfica incapaz de produzir as secrees gstricas normais Falta factor intrnseco que se combina com vit. B12 para poder ser absorvido Anemia hemoltica Vrias anormalidades dos eritrcitos, muitas das quais adquiridas hereditariamente, ornam as clulas frgeis rompendo-se facilmente ao passarem pelos capilares sobretudo no bao Em algumas doenas hemolticas, memso que o n de eritrcitos formado seja normal ou superior, a vida mdia dos eritrcitos ta curta que resulta em anemia grave Esferocitose hereditria Eritrcitos pequenos esfricos e t~em maior fragilidade osmotica, n podem ser comprimidos, uma vez que no possuem a estrutura flexvel normal da membrana celular dos discos bicncavos Ao passarem pela polpa esplnica, com quaquer leve compresso eles so facilmente lesados Sofrem hemlise mais rapidamente quando expostos a solues de baixa concentrao de naCl Tratamento remoo do bao Anemia falciforme
Eritrcitos contm um tipo anormal de hemoglobina (hemoglobina exposta a baixas concentraes de O2, ele precipita o que lhes confere uma aparncia de foice Esta condio impossibilta-os de passarem por capilares pequenos, e danifica a mebrana celular, tornando-a muito frgil Crise da doena falciforme: [O2] ruptura dos eritrcitos / [O2] - grave diminuio do hematrcito e frequentemente morte Efeitos da anemia no sistema circulatrio Viscosidade dependente da concentrao dos eritrcitos Anemia grave viscosidade baixa - baixa resistncia ao fluxo sanguneo logo amiores quantidades de sangue flem pelos tecidos e retornam ao corao Hipoxia resultante dos vasos perifricos com consequente aumento do dbito cardaco Um dos principais efeitos - sobrecarga cardaca Quando se realiza exrecio fsico - corao no consegue bombear quantidades de sangue superiores, ocorrendo hipoxia seguida de insufecincia cardaca aguda Manifestaes orais de anemia As fromas crnicas de anemia podem levar a quadros de atrofia de mucosa oral As do tipo feropnicas crnicas, com ou sem atrofia da mucosa, apresentam sensao de secura na boca e escoriaes As anemias perniciosas, podem parestesias, distrbios no paladar Policitmia Policitmia secundria Hipoxia tecidual - insufici~encia cardaca - rgos hematopoieticis produzem grandes quanridades de eritrcitos Contagem de eritrcitos eleva-separa 6/7milhes/mm2 Policitmia fisiolgica - ocorre em nativos k vivem em altitudes superiores a 4 mil metros, e est associada com a capacidade dessas pessoas de desempenharem altos nveis de trabalho continuo memso em amosfera rarefeita Policitmia vera (Eritremia) Contagem de eritrcitos pode ser 7/8 milhoes/mm3 apresentar sensao de aderncia,
Hematrcrito - 60/70% Aberrao gentica na linhagem hemocitoblstica que produz as clulas sanguneas As clulas blasticas no param de produzir eritrcitos, o que causa a produo excessiva de eritrcitos como de leuccitos e plaquetas Viscosidade - 3 x superior ao do sangue normal e 10 x a viscosidade da gua Efeitos da policitemia no sistema circulatrio Fluxo sanguneo nos vasos lento Aumento da viscosidade tende a diminuir a velocidade de retorno ao corao Volume sanguneo aumenta, o que tende a aumenta o retorno venoso Dbito cardaco no se afasta muito do normal. Porque estes 2 factores se anulam um ao outro Presso arterial normal na maioria dos casos, no entanto 1/3 delas pode ter presso aumentada Mecanismos reguladores da presso sangunea podem compensar a tendncia da viscosidade sangunea aumentar para resistncia perifrica subir Leuccitos So os nicos componentes do sangue que so clulas completas: Menos numerosos que os eritrcitos (1% do volume total) Podem deslocar-se para o exterior dos capilares atravs da diapedese Movem-se atravs de espaos entre os tecidos Leucocitose - quando as contagens so superiores a 11000 por mm3 Verifica-se como resposta normal a uma infeco bacteriana ou viral Classificao Granulcitos Neutrfilos, eosinfilos e basfilos Contem grnulos citoplasmticos que coram especificamente So amiores e normalmente com menor tempo de vida que os eritrcitos Possuem um ncleo lobulado So clulas fagocitrias Neutrfilos Possuem 2 tipode grnulos Que coram a corantes acidicos e/basfilos
Contem peroxidades, enzimas hidrofilicas e defensivas Clulas de destruio bacterina no nosso corpo Eosinfilos constituem 1-4% dos glbulos brancos Possuem ncleo bilobulado conectado atravs de uma banda de matreila nuclear Possuem grnulos lipossomais com colorao acidica Lideram a resposta corporal contra parasitas Diminuem a severidade da resposta imune atravs da fagocitose dos complexos imunes Basfilos Constituem 0,5% dos GB Possuem nucelo em forma de U ou S com 2 ou 3 constries Funcinalmente so semelantes a clulas Mast Possuem grnulos basfilos que possuem histamina Histamina - mediador inflamatrio que actua como vasodilatador e atrai outrsa clulas brancas Agranulcitos Linfcitos e monocitos No possuem grnulos estrututalmente mas funcionalmente distintos Possuem ncleos esfricos (linfcitos) ou em forma de rim (moncitos) Linfcitos Possuem um grande ncleo circular de colorao roxa Encontram-se na sua maioria embebodos no tecido linfoide (alguns no sangue) Existem 2 tipos: clulas T e clulas B T - resposta imune B - originam clulas plasmticas produtoras de anticorpos Moncitos Constituem 4-8% dos leuccitos So os maiores Citoplasma abundante Ncleo em forma de U ou rim
Quando saem da circulao para os tecidos diferenciam-se macrofagos Macrfagos Grande capaciade de mobilidade e fagocitose Activam os linfcitos para desencadear uma resposta imune Plaquetas So fragmentos de megacariocitos Os seus grnulos contm serotonina, Ca2+, enzimas, ADP, factor de crescimentos derivado das plaquetas (PDGF) As plaquetas agem na coagulao atravs da formao de um rolho temporrio que ajuda na selagem temporria de alguma fuga nos vasos sanguneos Produo de plaquetas: A clula mo para sa plaquetas o hemocitoblasto A sequncia : Hemocitoblasto Megacarioblasto Pronegacariocito Megacariocito Plaquetas Hemostase A ruptura de uma vaso e consequente hemorragia leva ao desencadear de mecanismos protectores e tendentes a recuperar esse processo lesivo e conservar o volume sanguneo Hemostase Aps a inicial vasoconstrio so desencadedos 2 tipos de mecanismos: Plaquetrio : de adeso ao vaso, de cativao e de agrgao das plaquetas Coagulaa e fibrinlise: de formao de uma rede de fibrina e sua posteriroir dissoluo Consoante o local e as circunstncias geram-se assim 3 tipos de cogulos ou trombos: Trombo branco (artrias) composto por plaquetas e fibrina; pobre em eritrcitos Trombo vermelho (veias) composto por eritrcitos e fibrina
Depsito dessiminado de fibrina Hemostase 1 Fase vascular Espasmo vascular Contraco do vaso aps traumatismo Fase plaquetria formao do trombo branco Adeso plaquetria Activao plaquetria Agregao plaquetria Adeso plaquetria Quando ocorre leso num vaso so expostas superfcies cargas negativas , nomeadamente fibras de colagnio, na membrana endotelial. Esta exposio leva a que as plaquetas que circulam sejam atradas e adiram em monacamada zona lezada A adeso ocorre de 2 modos: Ligao directa: plaquetas ligam-se ao colagnio pelo recptor IaIIb Ocorre em condies de baixo atrito de fluxo Ligao indirecta: plaquetas ligam-se ao colagnio por uma ponte entre o factor Von Willebrandt e o receptor Ib Ocorre em condies de grande atrito e fluxo Activao plaquetria A activao plaquetria tem diversas consequncias Alterao da forma das plaquetas Libertao do contedo de grnulos Agregao e acelerao da coagulao Dois factores principais na activao inicial so: Trombina e colagnio Trombina Activa a fosfolipase C via protena G A fosfolipase C tem afinidade para o fosfatidil inositol e cliva-o produzindo os 2 mensageiros: diacilglicerol e inositol 3 fosfato
Diacilglicerol: activa a protena quinase C (PKC) que resposnsvel pela fosforilao de diversas protenas levando libertao do contedo dos grnulos Inositol 3P: mobiliza as reservas de Ca intramitocondrial e do RE O clcio activa a clamodulina quinase que fosforila as cadeias de miosina levando contractibilidade e mobilidade dos grnulos para a periferia da plaqueta Colagnio Activa fosfolipase A2 por aumento de Ca2+ acitoslico Leva sntese e excreo de tromboxano a2 Em resumo A plaqueta vai medar de forma e empurra os grnulos para a periferia e rebenta-os libertando factores plaquetrios: Factor como o de VonWillebrandt Libertao de acido aracnidnico que transformado em tromboxano A2 e promove a formao da policamada Agregao plaquetria Quando as plaquetas da monocamada libertam tromboxano A2 e ADP. Este leva a que a plaqueta exponha o receptor IIbIIIa que permite a ligao entre plaquetas e a ligao de molculas de fibrinognio Activadores Trombina: via expresso dos recptores 2b3a e libertao de ADP ADP: via expresso das integrinas 2b3a Tromboxano A2: via activao da fosfolipase C, libertao de ADP Hemostase 2 : coagulao Nesta fase forma-se uma rede que envolve e estabiliza o trombo plaquetrio 2 vias convergindo numa via final comum Mltiplas protenas implicadas classificadas em 5 tipos: Serina proteases: XII; XI; X; IX; VII; II Cofactores: VIII; V; III Fibrinognio: I
Transglutaminase: XIII Protenas reguladoras A hemostase 2 tb chamada cascata da coagulao pois um mecanismo que consiste na activao em cascata de um conjunto de protenas que existem em circulao e cujo objectivo o de formarem uma rede designada rede de fibrina Cascata da coagulao Via extrnseca Via comum Via intrnseca Activao da via: pela exposio do colagnio (membrana endotelila) Por um complexo que se forma superfcie do vaso traumatizado prcalicreina e quininognio Quininognio braquinina vasodilatador Factor XII Factor XI Factor IX Factor X Factor XIIa Factor XIa Factor IXa factor Xa via intrnseca
O factor XII atravs da calicreina e em presena de Ca2+ activa XI O factor IX K dependente e activado na plaqueta Fixa-se na superfcie das plaquetas activadas e activada pelo factor XI em circulao Hemofilia A --A deficincia hereditria ligada ao cromossoma X de factor VIII Hemofilia B deficincia hereditria de factor IX Via extrnseca
Activao da via: por um factor tecidular (factor III) ao endotlio que exposto quando o vaso lesado Vai activar o factor VII e funciona como cofactor O complexo factor tecidular/factor VII ainda activador do factor IX Factor III Factor VII Factor IX Ca2+ Factor VIIa Factor X factor Xa factor IXa Factor VIIa
O factor X assim activado: Via intrnseca Factor VIIIa Via extrnseca Factor VIIa Via comum Factor Xa Factor II factor IIa (protrombina) (trombina) A activao do factor II ocorre na superfcie das plaquetas activadas e em presena de um complexo designado: complexo protrombinase Fosfolipidos da plaqueta Clcio factor Xa Protrombina ou factor IIa tambm necessrio um co-factor Factor Va Trombina Factor V factor Va Factor IIa Factor I Factor Ia (-) (+)
O factor I ou fibrinognio carregado negativamente A trombina vai hidrolizar as ligaes Arg-Gly deste removendo o fibrinopeptido carregado negativamente e originando os monmeros de fibrina carregados positivamente Assim os monmeros de fibrina associam-se num arranjo regular formando um coagulo de polmero de fibrina insolvel Factor Ia Monmeros de fibrina Polmeros de fibrina Rede de fibrina Estabilizada por ligaes cruzadas transglutaminase activada pela trombina Hemostase 3: fibrinlise Consiste na dissoluo da rede de fibrina Plasmina: serina protease capaz de digerir tanto o fibronognio como a fibrina e os factores VIII e V Encontra-se no plasma na forma inactiva, plasminognio O plasmonognio liga-se fibrina e ao fibrinognio e incorpora-se no cogulo O TPA (activador de plasminognio dos tecidos) activa o plasminognio apenas quando este se encontra ligado fibrina Cliva o plasmonignio na ligao arg-valina constituindo uma molcula com 2 cadeias ligadas por pontes dissulfito plasmina Factores que inibem a hemostase Antitrombina III: antagonista da trombina Impede a transferncia de fibrinognio em fibrina Impede a activao dos factores VIII e activao plaquetria Responsveis pela actividade Globulina sintetizada no fgado e endotelio originadas pelo factor VIIIa,
Monoglobulina Heparina cofactor II Antitripsina Protena C: liga-se trombomodulina na presena de trombina que a activa Protena C activada (APC) uma serina protease inibida pela antitrombina Inactiva os factores Va e VIIIa Protena S: refora a actividade da APC na degradao dos factores Va e VIIIa O clcio importante na hemostase pois forma pontes inicas entre os factores II, VII, IX, X (K dependentes) e os fosfolipidos plaquetrios
Linfa Composio qumica: Semelhante do plasma mas com os constituintes em menores concentraes e variando com territrio e a ctividade do organismo Electrlitos Lipidos Glicose Azoto no prot Protena Enzimas Anticorpos Elementos figurados
Formao A partir do liquido, dado que os vasos linfticos se encontram sempre abertos por fibras conjuntivas o que leva entrada descontinua de substncias, regulado pela presso hidrosttica Liquido intersticial+ sangue+ linfa = liquido extracelular do organismo Interaco sangue linfa intersticial Factores que regulam a passagem dos fluidos Parede capilar Regulando a sua permeabilidade Passa facilamente K, Na, ureia Passa dificilmente glucose , Ca, protenas.. Presses hidrostticas Governa a entrada e sada de lquidos Presso onctica Desenvolvida pelas protenas sobretudo a albumina Hipoproteinemia - elevada passagem de gua para o interstcio Interaco liquido intersticial - linfticos Os vasos linfticos esto sempre abertos por fibras conjuntivas sendo a entrada descontnua e determinada pela presso hidrosttica A passagem de gua por esta via importante como meio de evitar o edema e reintegrar a gua na circulao sangunea A passagem de protenas permite a recuperao para o sangue e o contacto com o tecido linftico A passagem de lipidos A passagem de partculas animadas ou inanimadas Circulao da linfa O tecido linftico o filtro circulao linftica e rgo produtor de linfcitos
Foras propulsoras nos mamferos que completam o papel das vlvulas linfticas e detreminam o sentido da corrente A ris a Tergo difuso da presso hidrosttica Contraces das pardes dos vasos nos casos de muito calibre com apredes musculares - contraco sob o controle nervoso Actividade musculo-esqueletica - eleva o fluxo no canal torxico Movimentos passivos dos membros e cabea Gravidade Respirao Modificaes da permeabilidade capilar sangunea Aumento da presso capilar sangunea Solues hipertnicas Hipoproteiremia Aumento da actividade dos tecidos Massagens, compresses Idade Funes do sistema linftico Recolher e retornar o fluido intresticial ao sangue Absorver lipidos ao nvel do tubo digestivo Contribuir para defesa do organismo As substncias que atravessam os capilares sanguneos vo para o fluido intersticial e o excesso deste fluido difunde-se para os vasos linfticos Veias linfticas do quadrante superior direito do corpo Renem-se e formam o canal linftico direito Abre-se na veia subclavia direita do sistema sanguneo Veias linfticas das restantes partes do corpo Renem-se no canal torxico Drena a linfa na veia subclvia esquerda
Inflamao /infeco Organismos infecciosos dominantes Bactrias - so organismos unicelulares, que ao se replicarem libertam toxinas para a corrente sangunea e afectam funes fisiolgicas em outras partes do corpo. Apenas danificam os tecidos do local de replicao Vrus - so A.N. rodeados de uma camada proteica. Os vrus t~em como caracterstica necessitarem de outras clulas para viver Aco do vrus da gripe Entra na clula Multilica-se rapidamente Matam aclula Prosseguem para outras Aco do vrus HSV-2 Entra na clula e permanece adormecido Factor gatilho Rpida replicao Posterior destruio celular Sistema imunitrio Principal funo defesa contra infeco Alguns animais possuem sistema inato ou no especifico como a fagocitose de bactrias por clulas especificas Animais mais evoludos possuem um sistema adptativo ou sistema imuno adquirido que providencia uma reaco flexvel, especifica e mais eficaz contra infeces
Sistema imunitrio Memria (resposta 1 e 2) Especificidade Reconhecimento do not self sistema HLA Comjunto de protenas de membrana que reconhece o que prprio do que estranho Clulas mediadoras do sistema Imune Leuccitos Neutrfilos - fagocitose Eosinfilos - luta contra parasitas Basfilos - R. de hipersensibilidade Moncitos- percursores de macrfagos tecidulares Linfcitos B - percursores dos plasmcitos T - reguladores, defesa especifica Palamocitos - produo de anticorpos Macrfagos - fagocitose nos tecidos apresent de AG Macrofagos - like-cells Clulas mast - reaco inflamatria Mecanismos de defesa No especficos Pele e mucosas Fagcitos e protenas antimicrobianas Resposta inflamatria Especficos Imunidade humoral produo de anticorpos que circulam no sangue e linfa Imunidade celular actividade de defesa a cargo das clulas especializadas que circulam no corpo Mecanismos de defesa no especficos Inata, responde rapidamente: Pele e mucosa micoroganismos primeira linha de defesa. Previnem entrada de
Fagcitos e protenas antibactreinas - segunda linha de defesa. Destri clulas do corpo infectadas por vrus. Impedem que os microrganismos se espalhem pelo corpo Inflamao - mecanismo importante Mecanismo de defesa especifico Terceira linha de defesa - montam a resposta aos agentes invasores Demora mais tempo a responder que o sistema inato Trabalha em conjunto com o sistema inato Inflamao Todo o complexo das alteraes teciduais observadas 4 sinais cardinais Rubor - vasodilatao da micro circulao Calor - aumento da circulao sangunea Edema aumento da permeabilidade capilar e venosa s protenas Doc Sequencia de eventos na resposta inflamatria Entrada de bactrias nos tecidos Vasodilatao da micro circulao na rea afectada - aumento da circulao sangunea na rea Aumento de permeabilidade capilar e venular s protenas na rea afectada, resultando numa difusa proteica e consequentemente a filtrao de fluido para fluido intersticial Quimiotaxia - migrao de leuccitos nas vnulas para o fluido intersticial da rea afectada Destruio das bactrias existentes nos tecidos quer por fagocitose ou outros mecanismos Reparao tecidular Os agentes qumicos libertados pela resposta inflamatria, como a histamina, bradicina, seretonina, prostaglandinas Aumentam a permeabilidade dos capilares do local Exsudado (fluido contendo protenas, factores de coagulao e naticorpos): Extravassam para os espaos tecidulares causando edema local O dema contribui para a sensao de dor
Edema O aparecimento de fluidos ricos em protenas nos espaos tecidulares: Ajudam a diluir as substncias nocivas Transportam grandes quantidades de oxignio e nutrientes necessrios reparao tecidular Permitem a entrada de protenas envolvidas na hemostase as quais previnem a disperso das bactrias Inflamao Resposta do corpo a um trauma ou infeco Funes: Destruir ou inactivar corpos estranhos Passo anterior a uma reparao celular Principais intrevenientes - fagcitos
Mediadores inflamatrios locais Compostos derivados do hospedeiro que so secretados por clulas activadas e servem para cativar ou aumentar aspectos especficos da inflamao. Mediadores vasoactivos e constritores do M. liso Histamina - principal mediador de resposta imediata Metabilitos de cido araquidnico Factor de agregao plaquetria Adenosina xido ntrico - produo descontrolada No no choque septicmico pode levar a uma vasodilatao perifrica macia e choque Outros mediadores Mediadores quimiotticos Quimiotaxia locomuo orientada das clulas em direco a um gradiente de concentrao de uma molcula quimiottica, ou no caso, em direco ao local de inflamao ou resposta imune Citoquinas Componentes do complemento PAF Produtos da via lipooxigenada
Mediadores enzimticos Proteases palamaticas Sistema complemento Sistema cinina Sistema de coagulao Proteases lisossomais Protenas catinicas Hidrolases cidas Proteases neutras Proteoglicanas Sulfato de condoitina - matriz estrutural dos grnulos dos mastcitos e basfilos Heparina - acyividade anticoagulante e principal PG dos mastocitos Fagocitose Resposta inflamatria: mobilizaa fagocitica Ocorre em 4 fases: Leucocitose - neutrfilos so libertados da medula ssea em reposta a factores indutores da leucocitose provinientes das clulas lesadas Marginao - neutrfilos migram para as pardes dos capilares da zona lesada Diapedese - neutrfilos passam atravs das paredes capilares e iniciam a fagocitose Quimiotaxia - qumicos inflamatrios atraem neutrfilos para a zona lesada Fagocitose resposta imune no especifica Contacto dos fagcitos com bactrias Fagocitose Destruio intracelular das bactrias Secreo de produtos qumicos pelos fagcitos Reggulao do processo inflamatrio Destruio extracelular de bactrias Regulao hormonal das respostas sistmicas infeco
Mecanismo de aco dos anticorpos Funes do complemento Complemento (famlia de protenas) Complemento activado Destruio das bactrias por ataque ao complemento aco do MAC (memb. Attack complex) o qual forma poros na membrana das bactrias Vasodilatao e aumento da permeabiladade das vnulas s protenas Quimiotaxia Potenciao da fago citose (opsonizao Resposta Imune mediado por anticorpos Fagocitose da bactria com processamento dos seus antignios + MHC Produo de IL-2 e TNF para actuar nos linfcitos T helper Produo de IL-2 que estimula a proliferao das mm Produo de outras a citoquinas leva a diferenciao das mm em clulas plasmticas Produo de anticorpos que facilitam a fagocitose pelos neutrfilos e macrfagos. Estes anticorpos tn activam o complemento TNF Factor de necrose tumoral IL-1 interleucina 1 G-CSF factor de estimulao de colnias de granulocitos M-CSF factor de estimulao de colnias de macrfagos Manifestaes sistmicas da infeco Bactrias, danos aos tecidos, citoquinas Moncitos e macrfagos Secretam IL-1, IL-G e TNF IL-1, IL-6, TNF no plasma Crebro (febre, diminui apetite, sono, fadiga) Tecido adiposo (subida da liplise com aumento AG livres no plasma Medula ssea (aumento da produo e libertao de leuccitos)
Fgado (reteno de Fe, Zn, secreo de protenas de fase aguda) Musculo (aumento da degradao proteica e libertao de aminocidos) Hipotlamo (aumento da ACTH plasmtica - com o aumento de cortisol plasmtico) Factores que lateram a resitencia corporal infeco M nutrio Doena pr-existente Dabetes (diminuio de funo leucocitria) Dano no tacido (alterao do ambiente qumico ou interferncia com o aporte sanguneo) Stress e estado de esprito Privao do sono (a falta de uma noite de sono reduz a ctividade dos natural killers (pertencem aos linfcitos) Deficincias genticas Choque septicmio Febre alta Vasodilatao Ritmo metablico elevado Coagulao intra vascular Aspecto txoco Infeces da cavidade oral Crie dentria Periodontite/gengivite Abcesso periapical agudo Infeces das glndulas salivares Infeces causadas pelos microrganismos que fazem parte da flora normal Micorganismos introduzidos por trauma (staphylococcus) ou outros meios (Herpes vrus) Caractersticas das infeces da cavidade oral Cavidade oral - diversos microambientes (aerbios, anaerbios facultativos, anaerbios estritos e fungoa)
Interaces pulpares que apresentam expenso para os tecidos periapicais com envolvimento vo apresentar demora na resposta a teraputica antibitica Interferncia da infeco na anestesia local A maioria das anestesias so bases fracas Lidocana - pka: 7,9 pka - pH ao qual 50% das molculas se encontram na forma ionizada A anestesia necessita de se encontrar na sua forma no inica para poder passar a membrana celular Meio extracelular Membrana celular Meio intracelular Ocorre infeco Meio extracelular Embrana celular Meio intracelular Quanto mais baixo o pH maior a quantidade de anestsico na sua forma ionizada, logo menor efeito anestsico No passa a membrana Infeces na cavidade oral Trauma polpa inflamao Pulpite irreversvel Necrose pulpar Expanso para tecidos periapicais Invaso do osso alveolar Expanso at encontrar tecidos moles Formao de fistula difuso pelos tecidos moles edema pH na infeco acidifica pH normal - 7,4
Celulite Sequelas das infeces periapicais Pericementites Abcessos Granulomas Quistos radiculares Osteomielites Febre reumtica Glomerulonefrite aguada difusa Endocardite bacterina Bacteriemias Outras infeces endgenas Pontos importantes no tratamento de infeces dentrias Reconhecer os sinais cardinais de infeco (dor, edema, rubor, febre, mal estar) e detreminar o grau da mm Considerar os estado imunodeprimido, etc) imunitrio do indivduo em questo (idoso,
Saber quais os principais agentes patognicos em questo (ter presente que a escolha de antibitico dever englobar streptococcus e anaerbios) Adaptar a antibioterapia aos agentes patognicos ( caso no responda a teraputica habitual, proceder a colheita para analise laboratorial) Tratamento cirrurgico da infeco (drenar o abcesso se possvel) Principais antibiotocos a utilizar nas infeces orais Penicilinas penicilina V; amoxicilina, amoxicilina+ cido clavulamico Tetraciclinas tetraciclina, doxyciclina, minociclina Cefalosporinas Macrlidos --< eritromicina, Azitromicina, Claritromicina Clindamicina Metranidazol Efeitos adversos dos antibiticos Todos os antibiticos podem causar distrbios gastro intestinais e diarreia (alterao da flora intestinal) As reaces alrgicas ocorrem com maior frequncia com as penicilinas
Antibiticos anti-infecciosos podem aumentar o risco de candidiase oprtunista Tetraciclinas admisnistradas em crianas causam pigemtao cinzenta na dentio definitiva Choque anafiltico Reaco alrgica sistmica com perigo de vida Ocorre em pessoas previamente expostas ao antignio sensibilizante Dos antibiticos utilizados em MD, os mais comuns de causarem o choque so penicilinas e cefalosporinas Choque anafiltico Obstruo das vias areas Edema da laringe Broncoespasmo asfixia hipoxia
Vasodilatao - choque hipovolmico Primeiras manifestes ocorrem 1-15 minutos apos exposio aos AG 1-2 minutos aps poder-se- desenvolver as manifestes de paragem do sitema cardiovascular e respiratrio Teraputica Administrao de adrenalina intra-muscular ou subcutnea + antihistaminico (atrasar o dema da laringe e inibir o efeito da libertao de mais histamina) Administrao de glucocorticoides (diminuir o angiodema, urticria, edema da laringe, e bronco espasmos) Em casos em que o broncopasmos no respondam teraputica, administrar inalaes de B2-agonistas com
Imunidade inata O corpo humano tem capacidade de resitir a quase todos os tipos de microrganismos ou toxinas que tendem a danificar os tecidos e rgos imunidade Imunidade inata
no especfica e responde rapidamente Resulta de processos dirigidos contra micoroganismos infecciosos especficos Inclui os seguintes componentes Fagocitose de bactrias e outros invasores por leuccitos e por clulas do sistema de macrofagos teciduais Destruio dos micorganismos ingeridos pelas secrees cidas do estmago e enzimas digestivas Presena no sangue de detreminados compostos qumicos que se fixam aos micoroganismos estranhos, destruindo-os Lisozima - ataca bactrias provocando a sua dissoluo Polipeptidos bsicoss - reagem com bactrias Gram + inactivando-as Complexo do complementos - destoir bactreias Linfcitos destruidores naturais (natural killer)- so capazes de reconhecer e destruir clulas estranas, clulas tumorais Essa imunidade inata torna o organismos humano resitente a doenas como algumas infeces virais paralticas de animais, clera suina Iminudade adquirida Imunidade especifica extremamente potente contra agentes invasores induzida por o sistema imune especial que produz anticorpos e/ou linfcitos activados, os quais atacam e destroem os micorganimos invasores especficos, as astoxinas Confere mta proteco 2 tipos bsicos de IA Imunidade humorall ou imunidade de clulas B O organismo produz anticorpos circulantes que soa globulinas, no plasma sanguneo capazes de atacar os agentes invasores (b- os linfcitos B produzem anticorpos) Iminidade celular ou imunidade de clulas T Formao de linfcitos T activados, cuja funo consiste especificamente em destruir o agente estranho (T - linfcitos activados so os T)
Organizao funcional do tecido nervoso Clula do sistema nervoso Neurnios Neurglia
Astrcitos clulas ependimrias Oligodendrcitos Neurilemocitos (clulas de Scwann) Microglia
Neurnios Recebem estmulos e transmitem potencias de cao para outros neurnios ou para rgos efectores Constitudo por: Corpo celular ou neuronal Axnio Dentritos Corpo celular Ncleo rodeado por citoplasma + organitos Lipofucsina (pigmento existente em grnulos no citoplasma - provavelmente deriva de produtos lisossomais e da sua acumulao durante o envelhecimento Corpsculos de Nissil rugos grumos proeminentes do retculo endoplasmatico
Dentritos - pores receptoras do neurnio que em geral no so mielinizadas (esto ligadas ao corpo) Axnio Projeco fina, cilndrica e longa que muitas vezes est unida ao corpo celular pelo cone axnico Zona gatilho - local onde o impulso gerado No posui RER - logo no existe sntese de proeinas Citoplasma denominado de axoplasma rodeado por membrana denominada axolema Ao longo da extenso dos axnios existem ramos laterais - colaterais axnios O transporte pode ser T axnio lento T axnio rpido Neuroglia
Mais numerosa que os neurnios Mais de metade do peso enceflico Constitui Maioria das clulas de suporte de SNC Participa na formao da barreira hemato-encefalica Fagocita subst~encias estranhas Produz liquido cefalo-raquidiano Forma bainhas de mielina As trcitos Forma de estrela Prolongamentos estendem-se para superfcies dos vasos, neurnios e piamater Matriz de suporte no rgida Ajudam a regular a composio de liquido extracelular Clulas ependimrias Pavimentam os ventrculos do crebro e canal central medular Clulas especializadas em segregar LCR Possuem clios nas superfcies lisas para auxiliarem o movimento do LCR Oligodendrcitos Corpos proximos de corpos neuronais Tipo de clulas satlite que formam as bainhas de mielina do SNC Neurilemocitos (clulas de Schawm) Clulas gliais do SNP Um neurimocito = bainha de mielina Microglia Pequenas clulas Tornam-se mveis e fagocitrias como resposta infeco no SNC Sinais elcrticos nos neurnios Comunicao:
Potencias de aco - comunicao por pequenos ou grandes distancias no interior do corpo Potencias graduados - comunicao a curtas distncias Dependem de : Existncia de potencial de repouso Existncia de canais inicos especficos Potencial de membrana Varia de membrana para membrana entre clulas diferentes Liquido intracelular - rico em ies proteicos e potssio Liquido extracelular - rico em ies sdio e cloro Eme repouso a membrana tem permeabilidade selectiva que superior para o K+, depois para o Cl- e por fim para o Na+ O potencial de repouso depende directamente do fluxo de K+ Bomba Na+/K+ mantm a concentrao de Na+ baixa no interior da clula e transporta K+ para o exterior de forma a manter o interior negativo e o exterior positivo Potencial de repouso da membrana Neurnios -40 e -90 mV (em mdia -70 mV) O potencial de repouso mantido devido a: Distribuio desigual de ies atravs da membrana plasmtica Permeabilidade relativa da membrana plasmtica ao Na+ aoa K+ (k+ 50 a 100x superior ao Na+) O k+ passa para o exterior devido ao gradiente de concentrao Depois devido diferena elctrica o K+ passaria novamente para o seu interior da clula Gradiente electroqumico potencal de equilbrio K+ = -90 mV O potencial electroqumico do K+ -90 mV e o potencial de membrana -70 mV
Logo a membrana moderamente permevel ao K+ e ao Cl-, mas muito pouco permeavel ao Na+ Para existir permeabilidade tem de existir canais inicos Quando abertos estes canais t~em tend~encia a deixar passar os ies de acordo com os seus gradientes electroqumicos 2 tipos Canais de vazamento (mais comuns para Na+) Canais com comportas (necessitam de estmulos) Clulas excitveis - canais com comportas Canal incos regulado ppor voltagem (usados na gerao e conduo de PA) Canal inico regulado por ligando Canal inico mecanicamente regulado Potenciais graduados Um estimulo faz com que os canis regulados por ligandos ou regulados mecanicamente se abram ou fechem na membrana plasmtica da clula excitvel Potencial graduado
p. graduado hiperpolarizante
P. graduado despolarizante
Potencial de aco Rpida ocorrncia de sequencia de eventos que diminuem e eventualmente invertem o potencial de membrana e em seguida restauram o seu valor de repouso Para que o potencial de aco ocorra necessrio respeitar a regra do tudoou-nada (uma s fibra nervosa ou muscular) Um estimulo precisa de atingir um determinado valor em termos de amplitude, para desencadear um PA e so ento a membrana ser despolarizada Conceitos:
Despolarizao - potencial demembrana torna-se mais positivo que o potencial de repouso Hiperpolarizao - o potencial de membrana torna-se mais negativo do que o potencial de repouso Clulas excitveis - capazes de alterar o valor do potencial de membrana Existem 2 tipos de clulas excitveis: Nervosas (neurotransmisso) Musculares (esquelticas, lisas cardacas) O potencial de aco para ocorrer, a mebrana deve atingir um certo nvel de despolarizao chamado limiar de excitabilidade Fases do potencial de aco Fase de despolarizao Fase de repolarizao Fase de hiperpolarizao Fase de desplarizao (PR - +/- 20 mV) O potencial de mebrana torna-se mais positivo A fase acima do 0 mv denomina-se over shoot do potencial A afse de despolarizao do PA devido abertura dos cansi de Na+ voltagem dependentes com a consequente entada de Na+ Os cansi voltagem dependentes abrem apenas quando a membrana atinge um certo valor de potencial (+/- 40 mV - limiar) para permitir a abertura dos canis Limiar Abertura dos canais de sdio Sdio entra na celula (gradiente elctrico e gradiente de concentrao) Despolarizao da membrana medida que o potecial de mebrana se torna mais positivo, a qauntidade de ies Na+ que entram diminui A fase de despolarizao atinge +20/30 mV Fase de repolarizao (+/- 20 mV PR)
Aps o pico de potencial a clula rapidamente replariza em direco ao potencial de repouso Inactivao dos canais de sdio voltagem dependentes Aumento da permeabilidade da membrana ao K+ Inactivao dos cansi de sdio O canal sdio voltagem dependente Abre rapidamente (se atingido o limiar) Fica aberto 1 ms (duraco da fase de despolarizao) Fecha e no pode voltar a abrir-se at que o potencial de membrana atinja um valor prximo do valor de repouso do potencial Repouso Permeabilidade ao K+ O valor da polarizao da membrana favorece a sada de ies K+ (gradiente de concentrao e elctrico) podendo existir na membrana canais de K+ voltagem-dependentes (demoram 1 ms para se abrirem) que favorece a sada de potssio Contudo o aumento da permeabilidade ao potssio pode durar mais tempo que o requerido para atingir o valor do potencial de repouso. Neste caso, a membrana hiperpolariza (ps-potencial Perodo refratrio absoluto (PRA) Perodo duarante o qual impossvel desencadear outro potencial de aco qq que seja aintensidade do estimulo (vai do inicio da despolarizao at ao ponto pelo qual a membrana atingiu um valor prximo do valor do limiar) Period reafratrio relativo (PRR) Perodo durante o qual possvel desencadear outro potencial, na condio que o estimulo seja de maior intensidade (perodo entre o momento onde o valor do potencial de membrana abaixo do limiar mas antes que volte ao PR) Importncia da existncia do PA Permite que aconduo do impulso nervoso seja unidireccional Permite limitar a frequncia dos PA (impedea tetanizao do m. cardaco aberto inactivado
Conduo do impulso nervoso apropagao do PA ao longo da fibra nervosa 2 tipos: Conduo continua: ( mais lenta) Meio de conduo das fibras no mielinizadas Impulso propaga-se continuamente por despolarizao de zonas vizinhas como resultado da formao de correntes locais O impulso propaga-se a uma distancia pequena em 10 ms Se acorrente elecrtica gerada for suficiente para atingir o prximo pontoda membrana e a despolarizar, iniciado um novo potencial de aco perpetuando a conduo elctrica Os pontos so muito prximos, a corrente gerada pelo potencial de aco atinge sempre o ponto seguinte Conduo saltatria ( mais rpida Meio de conduo das fibras mielinizadas Permite maior velocidade de conduo A mielina dispe-se por camadas inter-nodais, entre as quais h intervalos ndulos de Ranvier A a despolarizao salta entre ndulos vizinhos Os inernodulos so condutores passivos Quanto maior o dimetro da fibra maior a velocidade de conduo Nos ndulos de ranvier h muitos canais Na+ dependentes de voltagem Esclerose mltipla Doena autoimune que afecta principalmente adultos jovens Os sintomas incluem distrbios visuais, fraqueza, perda de controle muscular e incontin~encia urinria
As fibras nervosas esto afectadas e os folhetos de mielina do SN tornam-se no funcionais Tratamentos incluem injeces de metilprednisolona e beta-interfero Velocidade de conduo Varia com diferentes tipos de fibras Varia com i dimetro da fibra maior dimetro, maior velocidade Tipo de fibras Tipo A: mielinizdas Tipo B: mielinizadas Tipo C: no mielinizadas
Sinapse Local onde ocorre transmisso de impulsos de uma clula para a outra Distinguem-se 2 tipos de sinapses Elctrica Qumica Sinapse elctrica A corrente associada ao PA flui para a clula despolarizando-a Caracteriza-se por canais directos: electricamente de uma clula pra outra A distancia entre as clulas mnima Os cansi nestas junes t~em uma baixa resistncia per mitindo a passagem de corrente entre 2 clulas A transmisso pode ser bidireccional Sinapse qumica O neurnio pr-sinaptico consequncia de um PA liberta uma substancia transmissora como GAP Junctions que conduzem
Transmissor qumico difunde-se atravs da fenda sinptica extracelular e ligase a receptores na membrana da clula ps-sinptica provocando alteraes qumicas nessa clula Apresenta retardo sinptico - tempo necessrio para que ocorram estes eventos
As clulas encontram-se mais esparadas na fenda sinptica Vantagens das sinapses elcrticas Comunico mais rpida Sincronizao Transmisso bidireccional Sinapse qumica O PA na clula pr-sinptica causa a desplarizao do boto terminal prsinptico Despolarozao do treminal pr-sinptico - abre cansi regulados por voltagem de Ca2+ Entra clcio para o interior treminal O aumento de Ca2+ impede as membranas das vesculas de se fundirem com a membrana celular na fenda sinptica, o que leva libertao do contedo destas Liberta-se as vesculas com os neurotransmissores por exocitose Os neurotransmissores ligam-se aos receptores ps-sinpticos Nemas sinapses a ligao faz-se directamente com o receptor-cnal inicoabrindo-o Noutras actua num determinado receptor induzindo a produo de um 2 mensageiro que actue sobre um canal inico separado Deendendo dos ies em questa poderemos ter despolarizao ou hiperpolarizao Potenciais ps-sinpticos excitatrios (despolarizantes) Estes potencais resultam da abertura de cansi de Na+, K+ e Ca+, sendo que o influxo de Na+ mais intenso Embora estes potencais no iniciem um impulso nervoso deixam o neurnio ps sinptico excitvel Pppotencial ps sinptico inibitrio (hiperpolarizantes) Resultam da abertura de cansi de Cl- ou K+ regulados por ligandos Quando os canais de Cl- se abrem, os ies difundem-se para o interior da clula (interior mais negativo)
Quando os canais de K+ se abrem, os ies difundem-se para o exterior da clula (exterior mais positivo) Remoo do neurotransmissor Difuso Degradao enzimtica Captao celular Somao dos potencais ps-sinpticos Somao espacial quando s osmao (soma das sinapses recebidas por um neurnio) Resultar num acumular de neurotransmissores libertados simultameamente por diversos bulbos terminais pr sinpticos Somao temporal quando a somao resulta num acumular de neurotransmisores libertados por um bota treminal pr-sinaptico duas ou mais vezes A somao pode determinar sobre o neurnio ps-sinaptico PPSE (potencial ps-sinaptico excitatrio) Impulsos nervosos PPSI (potencial ps-sinptico inibitrio Existem 5 grandes tipos de neurotransmissores via neurotransmisso qumica: Acetilcolina Aminocidos (ac. Glutmico, glicina, etc) Monoaminas (DA, NA, etc) Polipptidos (opioides, substancia P) Descobertas recentes (oxido ntrico, perxido de H, ATP) Diversos tipos de neurotransmissores Acetilcolina Noradrenalina Dopamina Seretonina Glutamato 8faz entrar ies Na+ GABA (inibitrio - faz entrar o Cl-)
Libertao quantitativa de transmissor A quantidade de acetilcolina libertada pela terminao nervosa no varia de forma continua mas varia sim em etapas, correspondendo cada uma delas libertao de uma vescula sinptica A quantidade de acetilcolina contida numa vescula correspondente a um quanto de ACH Alteraes de transmisso sinptica Alteraes no mecanismo normal de libertao do transmissor na fenda sinptica e/ou alteraes da resposta por parte do receptor sinptico Circuitos neuronais no SN Divergncia sub diviso do seu axnio que faz conexes com multlos neurnios 1 fibra ara varias clulas Somao temporal h uma acumulao de impulsos que chegam sucessivamente a uma clula na mm rea pela mm via Convergancia - conexo sinptica de mltiplos axnios com um neurnios Varias fibras para um neurnio Somao temporal - estmulos actuando de forma isolada no descarregam aclula. Porm agindo em conjunto somam as suas reas de despolarizao e atingem o limiar de descargas da clula Ocorre quando a eficcio dos estmulos, ocorrendo em rpida sucesso maior que as dos estmulos individuais Sinapse elctrica Vs qumica
Elctrica Canais directos: GAP Junctions que conduzem electricamente de uma clula para outra
Qumica O neurnio pr sinptico liberta uma substncia transmissora que vai ligar-se a receptores nas clulas ps-sinpticas
Distncia mnima entre as clulas Transmisso bidireccional Comunicao mais rpida
Encontram-se mais separadas Transmisso unidireccional Comunicao mais lenta
Contraco muscular Caractersticas globais: Musculo liso Musculo de contraco involuntria que serve principalmente para transportar substancias ao longo do corpo clulas relativamente pequenas, uni nucledas com ncleo central Orgas Contraces de menor intensidade Musculo esqueltico Musculo voluntrio que serve principalmente para mover o corpo Clulas compridas, multinucledas , com os ncleos na periferia Braos pernas, presos aos ossos ou ple Contaces de maior intensidade Musculo cardaco Tem caractreiticas do musculo liso e do esqueltico Tem contraces involutrias como o liso, mas so de grande intensidade Serve principalmente para transportar sangue ao longo do corpo
Funes dos tecidos musculares Produzir movimento - locomoo e propulso de substancias internamente e manipulao de objectos Manuteno da postura - contraces musculares continuas que ajudam a manter o equilbrio
Estabilizao das articulaes - no so ajudam o movimento como tab estabilizam e fortalecem as articulaes Generao de calor - o qual ajuda a manter a temperatura corporal Musculo Cada fibra tem tendes ligados a cada extremidade que por sua vez se ligam ao osso ou a tecido conjuntivo A superfcie da fibra denominada sarcolema e contem canais voltaicodependentes. Dentro de cada fibra existem as miofibrilhas que so rodeadas pelo retculo sarcoplasmatico anlogo ao retculo endoplasmatico encontrado noutras clulas. Msculo constitudo por fibrilhas As fibrilhas so constitudas por filamentos finos e grossos Filamentos grossos Miosina Possui cabeas Filamentos finos Actina (protena globular) Dispo~em-se em 2 cadeias helicoidais A troponina encontra-se associada actina e tropomiosina sendo constituda por 3 subunidades: Troponina T (ligada tropomiosina) Troponina I (inibe a interaco actina-miosina) Troponina C ( que s liga ao clcio) Os miofilamentos de actina e miosina organizam-se em unidades alatamente ordenadas, denominadas de sarcomeros, que se juntam topo atopo para formamem as miofibrilhas Sarcomero Estrutura que vai de uma linha z a linha z seguinte No centro encontra-se a banda A cujo o centro denominado de banda H com a linha M ao meio Para fora da banda A encontra-se a banda I cujo o centro se encontra a linha Z Teoria do deslizamento dos filamentos
Aps contraco Constitudos principalmente por miosina (filamentos grossos) Pontes cruzadas Pontes entre os filamnetos grossos e finos Pontes cruzdas que se unem aos monmeros de catina e conferem a fora contrctil O PA no sarcolema e iniciado pela sinapse neuromuscular e dai propaga-se ao longo da membrana a elevada velocidade Sinapse muscular O impulso nervoso chega ao terminal axnico do neurnio e provoca libertao de Ach H despolarizao dos terminais pr-sinapticos que leva abertura transitoriamente dos canais de Ca O ca2+ entra para o interior do terminal, aumentando assim a concentrao intracelular de Ca2+ O aumento de ca2+ intracelular provoca fuso de vesculas sinpticas com a membrana resultando na libertao por exocitose de neurotransmissores: acerilcolina na fenda sinptica A Ach dufunde-se atravs da fenda e combina-se com um receptor especifico numa regio da clula ps-sinptica; a placa motora Placa motora as sinapses entre axnios de neurnios motores e as fibras musculares esquelticas A combinao da Ach com o receptor induz a estrutura de canais inicos o que permite um movimento de ies: Na+ e K+ As correntes inicas de Na+ e k+ provocam uma despolarizao transitria nessa regulao da placa Despolarizao transitria designa-se - potencial de placa Aps a despolarizap da membrna ps-sinptica da placa motora, as reg adjancentes da clula muscular so desplarizadas por conduo electrnica Quando estas regies atingem o limiar verifica-se a gerao do PA Os PA propagam-se ao longo da fibra muscular a lata velocidade e iniciam a cadia de eventos que ir resular na contraco muscular Neste tipo de sinapse neuromusculares existe um excesso quer de recptores ps sinpticos quer de neurotransmissores libertados assegurando sempre a despolarizao da clula ps sinptica
Para assegurar qua apenas um Pa ocorre na clula ps sinptica o tempo de aco do neurotransmissor tem de ser curto (daia adesignao de despolarizao transitria da placa motora Colinesterase Enzima da membrana ps sinptica Assegura a transformao de ach em colina e acetato A colina transportada de volta clula prsinaptica Com a estimulao repetitiva o n de vesculas libertadas diminui mas no caussa qualquer feito funcional pk continua a ser liberado neurotransmissor em excesso em ralao quantidade requerida Sntese de acetilcolina Enzima colina -O-acetiltransferase no neurnio motor Cataliza a condensao da acetilCoA e colina em acetil colina Colina -O- acetiltransferase Acetil CA + colina CA acetilCoA - produzida no neurnio eme clulas colina - no sintetizada no neurnio motor sendo obtida do liquido extracelular por transporte activo Contraco muscular o PA atravs do sarcolema iniciado habitualmente pela estimulao do neuro mtor sinapse neuromuscular a partir dai propaga-se ao longo da membrana a ellevada velocidade o dimetro da clula muscular grande, mas o aprelho contrctil tem de ser activado imediatamente aps aestimulao para conseguir a rpida activao o miocito tem uma rede de pequenos tuubulos que penetram desde a superfcie ao centro da clula: tubulos T o Pa originado na superfcie da membrana tb origina PA nestes tubulos T permitindo que a despolarizao ocorra rapidamente no interior da clula o tubulo T est associado auma regio do retculo sarcoplasmatico, a cisterna terminal acetilcolina
assim, a despolarizao do tubulo T provoca a libertao de Ca2+ do retculo sarcoplasmtico para o citoplasma libertao de Ca2+ promove activao da contraco o Ca2+ libertado une-se troponina C dos filamentos finos na ausncia de Ca2+ a troponina cobre os locais de ligao actina miosina impedindo a sua ligao . como o Ca2+ foi libertado, vai ligar-se a troponinaC que afastada libertando o sitio activo e permitindo a ligao actina-miosina, formando-se o complexo gerador da fora cabea de miosina ligada ao monmero de actina G interaco actina-miosina inicialmente a ponte cruzada no se encontra a interagir com a ctina quando a nteraco permitida (pela libertao de clcio) formado um complexo aps o qual se verifica uma deformao na ponte cruzada que puxa actina neste processo consome-se ATP que se encontra ligado cabea da miosina na presena de ATP a miosina liberta-se da catina e assume a sua conformao habitual Inactivao da contraco A dimunuio dos nveis de Ca2+ livre implica asua libertao da troponina C e o retomar da posio inicial desta, que cobre os locais activos da catina impedindo a interaco actina miosina e inactivando a contraco O Ca2+ libertado na altura do PA rapidamente recuperado pelo retculo sarcoplasmatico atravs de bombas de Ca2+ necessitando para o efeito de energia: ATP Papel do ATP: Providencia a energia para o funcionamento das bombas Na+/K+ Providencia a energia para a interaco actina-miosina Necessrio para a libertao da miosina da actina aps o seu contacto
Pode correr: Contraco isotnica Consiste na mudana de tamanho do musculo durante a contraco e o movimento normalmente acompanha a contraco Contraco isomtrica Consiste n acontraco muscular mas sem movimento, pois existe demasiada oposio Fisiologia muscular - elecrtomiografia Tipos de fibras musculares Rpidas (brancas) (tipo IIb) Quando estimuladas contraem-se e relaxam-se rapidamente sendo capazes de gerar grandes foras Tem baixo contedo de mioglobina e so pouco vascularizadas (dai asua cor) Tm poucas mitocondrias, dependendo em termos nergticos da glicolise e do glicognio Cansam-se rapidamente e so utilizadas durante a realizao de catividades musculares intensas mas de curta duraco Lentas (vermelhas) (tipo I) Sofrem contraco e relaxamento de forma lenta, sendo apenas capazes de gerar baixos nveis de fora Tm um alto contedo de mioglobina, sendo muito vascularizadas Tm muitas mitocndrias, metabolismo oxidativo deoendendo, em termos energticos, do
So muito resistentes fadiga, sendo especializadas para arealizao de contraces musculares de tipo mantido (prolongado) Etapas envolvidas no decurso de uma contraco muscular: Um pA percorre um axnio motor at atingir a regio da placa neuromuscular Secreo e libertao de ach Ligao da ach ao receptor membranrio (localizao ps sinptica) Abertura dos canais dependentes da ach, permitindo o influxo de grande qunatidade de ies Na+ para o interior da membrana da fibra muscular
Propagao do PA ao longo da membrana da fibra muscular despolarizao da membrana da fibra muscular, libertando ies Ca2+ (do retculo sarcoplasma tico) para o interior das mofibrilhas Gerao de foras atractivas entre os filamentos de catina e de miosina, pelos ies Ca2+, desencadeando o processo contrctil pelo deslizamento entre os filamentos Entrada dos ies Ca2+ para o retculo sarcoplasmatico (onde permanecem armazenados) o que coincide com o terminar do processo contrctil Conceito de unidade motora a unidade funcional de dimenses mais pequenas que est sob o controlo do SN constituda pelo axnio do motoneurnio, pelas suas terminaes, pela placa neuromuscular e pelo conjunto de fibras musculares por ela enevadas O SN controla a intensidade (ou grau) da fora muscular gerada de 2 maneiras: Pelo recrutamento, n de unidades motoras recrutadas Pela tetanizao, frequncia de despolarizao dos motoneuronios Electromiograma tcnica de lectrodiagnstico que permite estudar o funcionamento do nervo e do musculo, com base no conhecimento das carcteristicas fisiolgicas de transmisso e de excitabilidade neuronal Utiliza elctrodos que so aplicados na ple, na proximidade da regio a estudar Esta tcnica baseia-se na: estimulao eltrica artificial do nervo e do musculo, atravs da aplicao de correntes elctricas Registo de potenciais que ocorrem quando o nervo e o musculo esto activos Permite determinar a excitabilidade do tecido que est a ser estimulado, bem como medir a velocidade de conduo dos impulsos ao longo dos nervos perifricos A sua funo estudar a integridade (estrutura e funo) dos diferentes constituintes da unidade motora Aplicaes clnicas Desnervao - perda da continuidade entre uma fibra nervosa e o musculo esqueltico Surgem potenciais de fibrilhao potencias de curta durao e de baixa amplitude nos msculos afectados
Patologia da clula nervosa doenas do neurnio motor e neuropatias Patologia da placa neuromuscular - da regio pr-sinaptica (botulismo, hipermagnesiemia, hipocalcmia) e/ou da regio ps sinptica Patologia muscular miopatias A unidade motora inclui o neurnio e todas as fibras musculares que ele abrange O electromiograma ilustra o que se passa durante a contraco muscular Embora o padro seja semelhante, os tempos de contraco variam consideravelmente de msculo para msculo Existem variaes fisiolgicas dos dados obtidos num electromiograma: Idade - a velocidade de conduo nervosa de um recm-nascido ronda os 50% da dos adultos; aumenta aos 12 meses e so semelhantes as do adulto aos 45 anos de idade Mielina e tamanho das fibras As fibras mielinizadas (de maior dimetro) transmitem uma maior velocidade que as no mielinizadas Temperatura - h um aumento progressivo na latncia e uma diminuio na velocidade de conduo nervosa com a diminuio da temperatura Regio corporal a estudar Nos membros superiores as velocidades de conduo so 10-15 x mais rpidas que nos membros inferiores, nos segmentos nervosas proximais, a velocidade de conduo 5 - 10% superior dos segmentos distais. A velocidade de conduo sensitiva cerca de 5 % mais rpida que a motora Musculo liso As suas clula so mais pequenas que as clulas esquelticas Forma de fusos com um nico ncleo localizado no meio da clula Msculos liso Vs msculos cardaco Possui menos miofilamentos de actina e miosina No se organiza, em sarcomeros (por isso no possuem o aspecto estriado) As suas clulas possuem filamentos intermdios no contrcteis O seu retculo sarcoplasmatico no to abundante No possuem sistema de tubulos T A entrada de Ca2+ provem do liquido extracelular
Entrada de Ca2+ para o interior da clula muscular lisa Tipos de msculos liso Unitrio ou multiunitarios Mais comum musculo liso visceral ou unitrio Musculo liso unitrio Nemerosas fendas sinpticas Passagem directa dos PA Funcionam como unidade nica Onda de contraces atravessa toda a camada muscular lisa Por vezes auto-ritmico (ex: tubo digestivo e bexiga) Musculo liso multiunitrio Encontram-se em: Tnicas ou camadas das paredes dos vasos sanguneos Peqenos feixes como nos msculos erectores do pelo e na ris Clulas isoladas (do bao) Possui poucas fendas sinpticas e cada clula actua como unidade independente Musculo liso P.R. 55/60 mV Flutua entre despolarizao repolarizao lenta No responde lei do tudo ou nada Possui potenciais de aco gerados espontaneamente com controle por clulas Musculo esqueltico PR - 85 mV Resposnde lei do tudo ou nada Propriedades funcionais do musculo liso Alguns msculos viscerais lisos possuem contracoes auto rtmicas
O msculo liso tende a contrair-se em resposta a um sbito estiramento, mas no aum lento aumento do comprimento O musculo liso tem uma tenso relativamente constante chamada de tonus do musculo liso, por um longo perodo de tempo e mantm a mm tenso em resosta a um aumento gradual no comprimento do musculo liso Amplitude da contraco comprimento muscular permanece constante, apesar de variar o
Metabolismo semelhnate embora se adaptem mal ao metabolismo anaerobio
Você também pode gostar
- Inflamação - ResumoDocumento22 páginasInflamação - ResumoCynthia MunizAinda não há avaliações
- Membranas 2016.1Documento50 páginasMembranas 2016.1Deusiane MuruciAinda não há avaliações
- Sebenta de Fisiologia I (06-07)Documento94 páginasSebenta de Fisiologia I (06-07)api-2642918875% (4)
- SebentaDocumento69 páginasSebentaapi-26429188100% (2)
- AULA 3 Estrutura - Função - 2017Documento65 páginasAULA 3 Estrutura - Função - 2017matheusguidias02Ainda não há avaliações
- Resumo Biologia CelularDocumento27 páginasResumo Biologia CelularSalvar Meus JoguinhosAinda não há avaliações
- Membrana CelularDocumento23 páginasMembrana CelularRenata de Lima Paixão SerpaAinda não há avaliações
- CHAE 2 - Membrana Celular e TransporteDocumento4 páginasCHAE 2 - Membrana Celular e TransportePedro MeneghettiAinda não há avaliações
- Captura de Tela 2023-04-10 À(s) 05.38.45Documento54 páginasCaptura de Tela 2023-04-10 À(s) 05.38.45Nicole Ruiz RolimAinda não há avaliações
- Membrana Plasmatica e TransporteDocumento22 páginasMembrana Plasmatica e TransporteWellington SoaresAinda não há avaliações
- BiocelDocumento23 páginasBiocelSalvar Meus JoguinhosAinda não há avaliações
- Plasmatic Membrane AULADocumento51 páginasPlasmatic Membrane AULAMichell Barbosa AquinoAinda não há avaliações
- Membrana PlasmáticaDocumento44 páginasMembrana PlasmáticaThaynara TolentinoAinda não há avaliações
- Membranas CelularesDocumento22 páginasMembranas Celularesluisa diasAinda não há avaliações
- Aula 1. BiomembranasDocumento33 páginasAula 1. BiomembranasFUTSHOW CATANDUVAAinda não há avaliações
- A Superficie CelularDocumento36 páginasA Superficie CelularIsabela Honorato50% (2)
- Aula 2 - Membrana Celular e Especializações de MembranaDocumento47 páginasAula 2 - Membrana Celular e Especializações de MembranaMateus Ciro DominguêsAinda não há avaliações
- Obtenção de Matéria PDFDocumento15 páginasObtenção de Matéria PDFLeticia RussoAinda não há avaliações
- Aula 03 Iellen - Membrana CelilarDocumento49 páginasAula 03 Iellen - Membrana Celilarduda matosAinda não há avaliações
- Membrana Plasmática Sinalizações CelularesDocumento59 páginasMembrana Plasmática Sinalizações CelularesKarollyne Barabach CerqueiraAinda não há avaliações
- Aula 2 - Membrana PlasmáticaDocumento21 páginasAula 2 - Membrana PlasmáticaWilson RigheteAinda não há avaliações
- 02 Aula Membrana PlasmaticaDocumento51 páginas02 Aula Membrana PlasmaticaZaine Cibele Lyra MendonçaAinda não há avaliações
- Aula 1 - Membrana PlasmáticaDocumento50 páginasAula 1 - Membrana PlasmáticaCamila HerculanoAinda não há avaliações
- Estrutura Das MembranasDocumento64 páginasEstrutura Das MembranasnanamiAinda não há avaliações
- Aula 4 - Resumo - 2009Documento6 páginasAula 4 - Resumo - 2009Isabela LiaAinda não há avaliações
- Membrana PlasmáticaDocumento28 páginasMembrana PlasmáticaMaria Eduarda Marques Da SilvaAinda não há avaliações
- 05 - Membrana CelularDocumento50 páginas05 - Membrana CelularhelmervierAinda não há avaliações
- CitologiaDocumento7 páginasCitologiaDias SilvaAinda não há avaliações
- Biologia Celular pt1Documento22 páginasBiologia Celular pt1Rapha BuenoAinda não há avaliações
- Aula4 Membranascelularesespecializaesesinalizao 150427181514 Conversion Gate01Documento35 páginasAula4 Membranascelularesespecializaesesinalizao 150427181514 Conversion Gate01julianafurtado2103Ainda não há avaliações
- Sebenta Biocel TeoricaDocumento51 páginasSebenta Biocel TeoricaBeatriz SPAinda não há avaliações
- Aula I - Célula VegetalDocumento50 páginasAula I - Célula VegetalNinaAinda não há avaliações
- Biologia Celular e Genética - Aula 4 (Transporte, Organelas e Citoesqueleto)Documento65 páginasBiologia Celular e Genética - Aula 4 (Transporte, Organelas e Citoesqueleto)Leticia RodriguesAinda não há avaliações
- Agua e MembranaDocumento36 páginasAgua e MembranaMarcio CastroAinda não há avaliações
- Fisiologia Veterinaria IDocumento9 páginasFisiologia Veterinaria IMelyssa NacaratiAinda não há avaliações
- Membranas BiológicasDocumento14 páginasMembranas BiológicasLua StudiesAinda não há avaliações
- Resumo Sinalização CelularDocumento23 páginasResumo Sinalização CelularNatalia GuimaraesAinda não há avaliações
- Resumo de Tudo n1Documento27 páginasResumo de Tudo n1Enzzo NorbimAinda não há avaliações
- Resumo Biocel 1 Etapa - LuizaDocumento19 páginasResumo Biocel 1 Etapa - Luizaraf.marques.20Ainda não há avaliações
- Apostila-Citologia-pg 19 A 34Documento16 páginasApostila-Citologia-pg 19 A 34denisetg100% (2)
- Biologia Molecular TrafegoDocumento8 páginasBiologia Molecular Trafegowesley.silva51245Ainda não há avaliações
- C - Membranas Biológicas e Transporte MembranarDocumento25 páginasC - Membranas Biológicas e Transporte MembranarMiguel FigueiredoAinda não há avaliações
- Resumos - Membrana PlasmáticaDocumento8 páginasResumos - Membrana PlasmáticaMatilde PedroAinda não há avaliações
- Bases 1Documento34 páginasBases 1Thayná CrisóstomoAinda não há avaliações
- 2016 2 Tema3 MembranaseTransporteDocumento32 páginas2016 2 Tema3 MembranaseTransporteluizaromerouspAinda não há avaliações
- Envoltorios CelularesDocumento41 páginasEnvoltorios CelularesJonhy CleberAinda não há avaliações
- Membrana PlasmáticaDocumento6 páginasMembrana PlasmáticaLeticia KirchimairAinda não há avaliações
- Membrana Estrutura Função 2Documento38 páginasMembrana Estrutura Função 2Leticia FigueiredoAinda não há avaliações
- Aula MembranasDocumento67 páginasAula Membranaspaulolssj555Ainda não há avaliações
- Fechamento Problema 2Documento4 páginasFechamento Problema 2anna luisaAinda não há avaliações
- Estrutura Da MembranaDocumento24 páginasEstrutura Da MembranaEduarda PinheiroAinda não há avaliações
- Membrana PlasmáticaDocumento15 páginasMembrana PlasmáticaJaqueline BrittoAinda não há avaliações
- Aula 01 - Transporte Na Membrana Plasmática Potencial de Membrana e Ação SinapsesDocumento62 páginasAula 01 - Transporte Na Membrana Plasmática Potencial de Membrana e Ação SinapsesMaurício Ribeiro100% (1)
- Capítulo 10 - Plasmatic MembraneDocumento24 páginasCapítulo 10 - Plasmatic Membraneosvaldojr11100% (1)
- Conteudo Biologia Molecular e Celular Av2Documento14 páginasConteudo Biologia Molecular e Celular Av2Luis RicardoAinda não há avaliações
- Aula 2 Biologia MolecularDocumento20 páginasAula 2 Biologia Molecularjuuline06Ainda não há avaliações
- Membrana Plasmatica BioquimDocumento83 páginasMembrana Plasmatica Bioquimflavia douraoAinda não há avaliações
- Via Secretória e OrganelosDocumento12 páginasVia Secretória e Organelosjoaopinheiro88Ainda não há avaliações
- Resumo Toda A Matéria de BiofísicaDocumento87 páginasResumo Toda A Matéria de BiofísicaVitória VignoliAinda não há avaliações
- Sinalização Celular - ResumoDocumento5 páginasSinalização Celular - ResumoAna BeatrizAinda não há avaliações
- Prolactina e Diabetes Melito do tipo 2: o efeito protetor de um hormônio sobre o metabolismo glicídicoNo EverandProlactina e Diabetes Melito do tipo 2: o efeito protetor de um hormônio sobre o metabolismo glicídicoAinda não há avaliações
- HepatiteDocumento3 páginasHepatiteapi-26429188Ainda não há avaliações
- PROGORALDocumento36 páginasPROGORALapi-26429188Ainda não há avaliações
- Doenças PeriodontaisDocumento6 páginasDoenças Periodontaisapi-26429188100% (3)
- Microbiologia Oral Microbiologia Oral ApontamentosDocumento6 páginasMicrobiologia Oral Microbiologia Oral Apontamentosapi-26429188100% (2)
- Exame de Micro Geral - Fevereiro de 2005 MDDocumento8 páginasExame de Micro Geral - Fevereiro de 2005 MDapi-26429188Ainda não há avaliações
- Ex Ames 1Documento13 páginasEx Ames 1api-26429188Ainda não há avaliações
- Doenças PeriodontaisDocumento6 páginasDoenças Periodontaisapi-26429188100% (3)
- Exame de Micro - Fev2004Documento6 páginasExame de Micro - Fev2004api-26429188Ainda não há avaliações
- Doenças PeriodontaisDocumento6 páginasDoenças Periodontaisapi-26429188100% (3)
- Fisiologia Endócrina Do PâncreasDocumento65 páginasFisiologia Endócrina Do Pâncreasapi-26429188100% (4)
- Hipo-Hip+ Fise AlteradoDocumento30 páginasHipo-Hip+ Fise Alteradoapi-26429188100% (1)
- Fisiologia Do OssoDocumento18 páginasFisiologia Do Ossoapi-26429188100% (1)
- CaderinasDocumento32 páginasCaderinaslostblacksheepAinda não há avaliações
- Especializações de MembranaDocumento19 páginasEspecializações de Membranavictor10kAinda não há avaliações
- Migração e Extravasão de LeucócitosDocumento4 páginasMigração e Extravasão de LeucócitosAngela Neves100% (1)
- Aula3 Migração Dos Leucócitos para Os Tecidos 14032022Documento35 páginasAula3 Migração Dos Leucócitos para Os Tecidos 14032022Airton LucasAinda não há avaliações
- Sebenta de Histologia - Rita CavacoDocumento239 páginasSebenta de Histologia - Rita CavacoSofia CostaAinda não há avaliações
- Reparo, RegeneracÌ Aì oDocumento26 páginasReparo, RegeneracÌ Aì onhym56h26vAinda não há avaliações
- IMUNOLOGIA 3 Circulacao e Migracao Selectina Integrina e QuimiocinaDocumento5 páginasIMUNOLOGIA 3 Circulacao e Migracao Selectina Integrina e Quimiocinagean pereiraAinda não há avaliações
- Sinalização Celular Parte 1Documento22 páginasSinalização Celular Parte 1Baba BabaAinda não há avaliações
- GlicobiologiaDocumento18 páginasGlicobiologiaMateus Aires CamaraAinda não há avaliações
- Migracao e InflamacaoDocumento4 páginasMigracao e InflamacaoTelma FulaiAinda não há avaliações
- Cicatrização: Universidade de Ribeirão Preto Curso de Medicina Disciplina - Técnica Cirúrgica 1Documento56 páginasCicatrização: Universidade de Ribeirão Preto Curso de Medicina Disciplina - Técnica Cirúrgica 1Ten RochettiAinda não há avaliações
- Resumos de Cultura de Células e Tecidos - Parte AnimalDocumento40 páginasResumos de Cultura de Células e Tecidos - Parte AnimalLucie BosquetAinda não há avaliações
- Ficha de Leitura - OdtDocumento15 páginasFicha de Leitura - OdtHanustúrio Jorge cossaAinda não há avaliações
- Capítulo 2 Robbins PatologiaDocumento13 páginasCapítulo 2 Robbins PatologiaCarolina StrongerAinda não há avaliações
- Juncoes e Adesao Celular e Matriz ExtracelularDocumento33 páginasJuncoes e Adesao Celular e Matriz ExtracelularRafaSerafim100% (1)
- Estudo Dirigido - Tecido EpitelialDocumento2 páginasEstudo Dirigido - Tecido EpitelialBiel AzevedoAinda não há avaliações
- Especializações Da Membrana PlasmáticaDocumento18 páginasEspecializações Da Membrana PlasmáticaPaula AlmeidaAinda não há avaliações
- Prova Area II - Ciencias Da Vida e Da SaudeDocumento14 páginasProva Area II - Ciencias Da Vida e Da Saudetasio LimaAinda não há avaliações
- Imuno IIIDocumento26 páginasImuno IIIJonatan Dos Santos De OliveiraAinda não há avaliações
- Circulação de Leucócitos e Migração para Os TecidosDocumento18 páginasCirculação de Leucócitos e Migração para Os TecidosVitoria Pires FelixAinda não há avaliações
- Fisiologia Geral Das Membranas 1Documento71 páginasFisiologia Geral Das Membranas 1api-26429188100% (2)
- Mecanismos de Acao Anti Inflamatoria Da Ouabaina Aspectos Funcionais Da Migracao de Neutrofilos IDocumento51 páginasMecanismos de Acao Anti Inflamatoria Da Ouabaina Aspectos Funcionais Da Migracao de Neutrofilos Imviniciusds57Ainda não há avaliações
- Celulas MatrizDocumento12 páginasCelulas MatrizPith dos SonhosAinda não há avaliações
- Tutoria Do P1Documento20 páginasTutoria Do P1Alice AlgayerAinda não há avaliações
- 254 679 1 SMDocumento7 páginas254 679 1 SMLOKÃOAinda não há avaliações
- Exercicio Imuno CertoDocumento6 páginasExercicio Imuno CertoThainara SousaAinda não há avaliações
- InflamaçãoDocumento35 páginasInflamaçãoBee NunesAinda não há avaliações
- Módulo 1 - Tecido EpitelialDocumento6 páginasMódulo 1 - Tecido EpitelialCollege WorkAinda não há avaliações