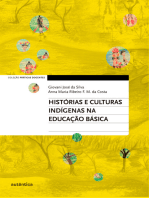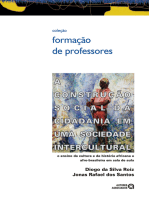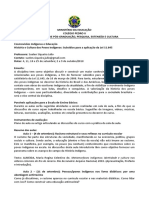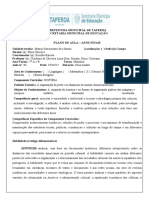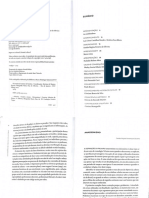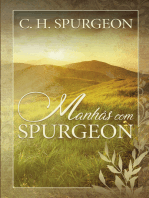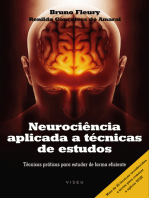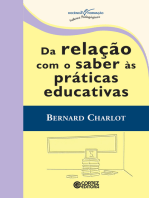Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ALMEIDA NETO - Ensino de História Indígena - Currículo, Identidade e Diferença
Enviado por
Juan Da Silva LemosDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ALMEIDA NETO - Ensino de História Indígena - Currículo, Identidade e Diferença
Enviado por
Juan Da Silva LemosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
São Paulo, Unesp, v. 10, n. 2, p.
218-234, julho-dezembro, 2014
ISSN – 1808–1967
Ensino de História Indígena: currículo, identidade e diferença
Antonio Simplicio de ALMEIDA NETO∗
Resumo: A temática do ensino de História e cultura indígena, objeto da Lei 11.645/2008,
está implicada nas discussões sobre currículo e seus desdobramentos. Da mesma forma,
não se dissocia do debate, a concepção de história pressuposta no ensino dessa disciplina
escolar, especificamente as noções de sujeito, tempo e fato históricos. Também central é a
maneira como compreendemos a cultura e a identidade indígenas, para além da concepção
que as toma por exóticas, essencialistas, fixas, estáveis, homogêneas e, portanto, a-
históricas. Desse modo, serão apresentadas algumas reflexões acerca do ensino dessa
temática, pensando intersecções entre currículo, concepção de história e noção de cultura e
identidade, tomando esses povos por sujeitos históricos no presente e no passado, condição
que dialoga com as possibilidades de romper a invisibilidade indígena no passado e no
presente.
Palavras-chave: Ensino de história indígena. Lei 11.645/2008. Interculturalismo. Hibridismo
cultural. Cultura indígena.
Indigenous History Teaching: curriculum, identity and difference
Abstract: The issueregarding history and indigenous culture teaching, object of the Law
11.645/2008, is involved in discussions about curriculum and itsoutcomes. Likewise, the
conception of history, presumed in teaching this school discipline, does not dissociate of the
debate, specifically the notions of subject, time and historical facts. Besides, the way we
understand the indigenous culture and identity is central, beyond the concept that takes them
as exotic, essentialist, fixed, stable, homogeneous and therefore ahistorical. I present some
reflections about teaching this subject, considering intersections between curriculum,
concept of history and sense of culture and identity by taking these peoples as historical
subjects in the present and past, condition that dialogues with the possibilities of breaking the
invisibility of indigenous people in the past and present.
Keywords: Indigenous history teaching. Law 11.645/2008. Interculturalism. Cultural
hybridism. Indigenous culture.
∗
Professor Doutor – Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História –
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo –
Campus Guarulhos – Estrada do Caminho Velho, 333, Sítio Tanque Velho, Bairro Pimentas, CEP:
07257-312, Guarulhos, São Paulo, Brasil. e-mail: asaneto@unifesp.br
Antonio Simplicio de Almeida Neto 218
São Paulo, Unesp, v. 10, n. 2, p. 218-234, julho-dezembro, 2014
ISSN – 1808–1967
Introdução
Sete de setembro, feriado nacional, comemoração do “Dia da Pátria” na cidade de
São Gabriel da Cachoeira, localizada na região conhecida como “Cabeça do Cachorro”,
extremo noroeste do Brasil, interior do estado do Amazonas. A população em peso ocupa as
ruas da pequena e agradável cidade que fica às margens do rio Negro para assistir ao
desfile nesse dia festivo, no qual o exército brasileiro ocupa lugar de destaque, em razão de
sua forte presença nessa região de fronteira com Colômbia e Venezuela. Adultos e crianças
registram tudo com suas máquinas fotográficas, celulares e filmadoras, todos bem vestidos
e arrumados para acompanhar o grande evento.
Esse município possui uma particularidade: sua população é majoritariamente
indígena, chegando a 88,1% do total de habitantes, segundo Censo de 2010 do IBGE,
sendo 11 mil na área urbana e 18 mil na área rural. Isso fica evidente nos rostos alegres que
acompanham atentamente o cortejo de Sete de Setembro. O fenótipo da maioria da
população presente não deixa dúvidas, assim como a de muitos soldados do exército que
desfilam marchando disciplinadamente pela Avenida Castelo Branco, a de alguns policiais
militares que fazem a segurança do evento e a do próprio prefeito e a do vice da cidade
(2009-2012) que são da etnia Tariana e Baniwa, respectivamente.
É um evento cívico, efeméride da maior importância. O Exército e algumas entidades
locais passam em desfile. Brigada de Infantaria de Selva, Organizações Não
Governamentais, grupos de escoteiros, instituições de ensino, caminhões, tanques de
guerra, carros de combate, armas, escudos, soldados camuflados, estudantes, fanfarras,
faixas e bandeiras. A população indígena e não indígena está especialmente trajada para
assistir ao evento, os jovens com seus cabelos arrepiados, roupas transadas e tênis da
moda, algumas crianças foram fantasiadas por seus pais com miniuniformes do Exército
Nacional comprados em lojas locais, o que comprova a popularidade dessa instituição na
região.
Como é de praxe, as escolas locais (públicas e privadas) também vêm com seus
professores e estudantes uniformizados marchando, pequenos carros alegóricos, faixas,
fanfarras, demonstração de práticas esportivas. Uma das escolas traz na carroceria de uma
picape três crianças simbolizando as raças brasileiras: índio, negro e branco. O garoto que
representa o índio está devidamente caracterizado com tanga, sem camisa, cocar, maracá e
pintura no rosto, o estereótipo do indígena que destoa, até daqueles que estão assistindo ao
desfile, dos jovens com suas calças jeans, camisetas coloridas, cabelos impecavelmente
arrumados no melhor estilo Neymar (à época, jogador do Santos F. C.), ou dos indígenas
evangélicos com seus ternos e vestidos discretos. O curioso é que o menino que vai sobre a
picape tem fortes traços indígenas, ou seja, temos um pequeno estudante indígena
219 Ensino de História Indígena
São Paulo, Unesp, v. 10, n. 2, p. 218-234, julho-dezembro, 2014
ISSN – 1808–1967
urbanizado, provavelmente filho da classe média local, fantasiado de indígena pelos
professores, conforme a mais surrada representação sobre esse grupo social que habita o
imaginário da população brasileira. Tudo é feito com as melhores intenções educativas e o
desfile prossegue sem sobressaltos.
Figura 1 – Representação das raças na Semana da Pátria, 2010.
Fonte: Acervo pessoal do autor.
Esse episódio, que ocorreu durante viagem de pesquisa1 realizada em setembro de
2010 na região do Alto Rio Negro, explicita importantes e instigantes questionamentos
referentes às representações constituídas sobre os indígenas, sua cultura e história, bem
como sobre suas relações com “o outro”, nesse caso o não indígena, aspecto central
quando discutimos a aplicação da Lei 11.645 de 10 de março de 2008 que torna obrigatório
o ensino de História e cultura indígenas (além do ensino de História africana e afro-
brasileira, já tornado obrigatório com a Lei 10.639/03) nos estabelecimentos de Ensino
Fundamental e Médio, público e privado.
Torna-se evidente, também, o fato de não haver esse componente curricular nos
cursos de Graduação e Licenciatura em História2, salvo raras exceções, o que traz uma
série de implicações àqueles professores que desejam cumprir a determinação legal, pois
devem suprir essa lacuna na formação pelos mais diversos meios disponíveis, entre eles,
certamente, destaca-se o livro didático, esse “[...] produto cultural complexo” (STRAY apud
CHOPPIN, 2004, p. 563), que acaba por exercer inusitado e importante papel na formação
docente.
Antonio Simplicio de Almeida Neto 220
São Paulo, Unesp, v. 10, n. 2, p. 218-234, julho-dezembro, 2014
ISSN – 1808–1967
No caso dos professores do Ensino Fundamental I, o problema pode ser ainda mais
delicado, dado o fato de que pouquíssimas Licenciaturas em Pedagogia dedicam carga
horária (muito abaixo do razoável) para tratar do ensino de História. Em alguns cursos, esse
componente curricular divide quinze aulas semestrais com o ensino de Geografia. Assim, o
debate historiográfico e seus desdobramentos nas discussões sobre o ensino de História
são empobrecidos, resultando em práticas escolares em que a história, propriamente dita,
inexiste ou surge como cultura estereotipada, simulacro, tal qual a criança indígena
fantasiada de indígena no evento acima descrito.
No presente artigo, discutimos alguns aspectos implicados no ensino de história
indígena considerados em curso de formação de professores de História na Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP) e em Oficinas de Ensino oferecidas pelo GT de Ensino de
História e Educação da Associação Nacional de História, seção São Paulo (ANPUH-SP),
para disparar algumas reflexões sobre a temática.
Ensino de história indígena e hibridismo cultural
Como se sabe, os indígenas não se constituem como grupos dominantes na
sociedade brasileira. Entre os desdobramentos dessa condição está o fato de sua cultura
ser considerada “a outra”, diferente, diversa, exótica e estranha, tanto que é objeto de
legislação específica que a insere obrigatoriamente no currículo escolar, situação que não
ocorre com a cultura dominante, ocidental, branca, europeia, civilizada, cristã, tida como “a
normal”. Sujeita aos estigmas classificatórios, a cultura desse “outro” será identificada como
primitiva, étnica, inferior e atrasada, será entendida como essencialista, ou seja, pura, fixa,
imutável e estável, portanto, a-histórica. Dessa forma, o indígena que não se apresenta
nesse suposto estado puro, será considerado aculturado, não índio, sem identidade e sem
tradição, daí os índios serem representados predominantemente como figuras do passado,
mortas ou em franco processo de extinção, fadados ao desaparecimento.
Desempenhando papéis secundários ou aparecendo na posição de vitimados,
representados como aliados ou inimigos, guerreiros ou bárbaros, escravos ou submetidos,
nunca sujeitos da ação, uma vez dominados, integrados e aculturados, desapareceriam
como índios na escrita histórica e, não à toa, estariam condenados ao desaparecimento
também no presente, prognóstico derrubado pelas evidências apontadas pelo censo
demográfico do IBGE de 2010 que aponta crescimento de 178% no número de indígenas
autodeclarados desde 1991, bem como a existência de 305 etnias e 274 línguas.
Além do deliberado intento de eliminação desses povos ou desejo de vitimá-los, para
Manuela Carneiro da Cunha, determinada concepção historiográfica também contribuiu para
essa visão:
221 Ensino de História Indígena
São Paulo, Unesp, v. 10, n. 2, p. 218-234, julho-dezembro, 2014
ISSN – 1808–1967
Por má consciência e boas intenções, imperou durante muito tempo a noção
de que os índios foram apenas vítimas do sistema mundial, vítimas de uma
política e de práticas que lhes eram externas e que os destruíram. Essa
visão, além de seu fundamento moral, tinha outro, teórico: é que a história,
movida pela metrópole, pelo capital, só teria nexo em seu epicentro. A
periferia do capital era também o lixo da história. O resultado paradoxal
dessa postura ‘politicamente correta’ foi somar à eliminação física e étnica
dos índios sua eliminação como sujeitos históricos (2012, p. 22).
Tal visão deita raízes no século XIX, quando o Visconde de Porto Seguro, Francisco
Adolfo de Varnhagen (1854), escreveu que, sobre os povos indígenas, não se poderia falar
em “[...] civilisação, mas de barbarie e de atraso. De taes povos na infancia não ha historia:
ha so ethnographia. A infancia da humanidade na ordem moral, como a do individuo na
ordem physica, é sempre acompanhada de pequenhez e miserias.”3 (1877, p. 22-23). Antes
dele, Carl Friedrich Philippe Von Martius (1838) vaticinara que o indígena americano estava
fadado a desaparecer (apud MONTEIRO, 2001, p. 3). Tal vertente historiográfica, da qual
ouvimos ecos, retira dos povos indígenas a própria historicidade, condenando-os ao
desaparecimento. Não há passado, não há futuro.
Lembra Monteiro que “[...] pelo menos até a década de 1980 a história dos índios no
Brasil resumia-se basicamente à crônica de sua extinção” (2001, p. 4), de modo que, com
exceções, predominaram abordagens que fossilizavam os indígenas impedindo de vê-los
em perspectiva histórica. As imbricações entre história e antropologia, particularmente no
âmbito da História Cultural (PESAVENTO, 2008, p. 24), possibilitaram a percepção da
cultura em sua historicidade, como dinâmica e flexível, produzida pelos homens que a
vivenciam e isso inclui, evidentemente, a ressignificação da cultura indígena. Desse modo,
Almeida aponta que o foco de análise da história indígena se deslocou “[...] dos
colonizadores para os índios, procurando identificar suas formas de compreensão e seus
próprios objetivos nas várias situações de contato por eles vividas” (2010, p. 23).
Também a constituição dos indígenas, na história recente, como sujeitos de direitos,
sobretudo territoriais, e o reconhecimento a esses povos do direito de manter sua própria
cultura, garantidos pela Constituição de 1988, assim como sua maior visibilidade em lutas
pela garantia desses direitos, tiraram esses grupos dos bastidores da história garantindo-
lhes um “lugar no palco”, despertando o interesse dos historiadores, e de outros
pesquisadores, que passaram a percebê-los como sujeitos participando ativamente dos
processos históricos, possibilitando novos entendimentos das ações dos grupos indígenas
nos processos em que estavam envolvidos.
Tais aspectos constituem o modo como a cultura dos povos indígenas é percebida e
como esses grupos são identificados. Para Canclini discutindo o conceito de hibridação
cultural, “[...] quando se define uma identidade mediante um processo de abstração de
traços (língua, tradições, condutas estereotipadas), frequentemente se tende a desvincular
Antonio Simplicio de Almeida Neto 222
São Paulo, Unesp, v. 10, n. 2, p. 218-234, julho-dezembro, 2014
ISSN – 1808–1967
essas práticas da história de misturas em que se formaram”, o que torna impossível, para
esse antropólogo, “[...] falar das identidades como se se tratasse apenas de um conjunto de
traços fixos, nem afirmá-las como a essência de uma etnia ou de uma nação.” (2008, p.
XXIII). Nesse sentido, Almeida chama nossa atenção para o necessário entendimento das
“[...] identidades como construções fluídas e cambiáveis que se constroem por meio de
complexos processos de apropriações e ressignificações culturais nas experiências entre
grupos e indivíduos que interagem” (2010, p. 24), que tornou possível nova mirada dos
historiadores sobre a identidade genérica imposta sobre esses grupos, a começar pela
denominação “índios”, como se constituíssem um bloco homogêneo desconsiderando não
só as diferenças étnicas e linguísticas, com os diferentes interesses, objetivos, motivações e
ações desses grupos nas relações entre si e com os colonizadores europeus que, como não
poderia deixar de ser, foram se modificando com a dinâmica da colonização.
Tal perspectiva pode ser observada, por exemplo, em Sposito que, ao dissertar
sobre conflitos entre subgrupos Guaranis e Kaingangs durante o período colonial e entrando
pelo século XIX, lembra que é preciso entender o papel que “[...] a guerra representava na
organização dos povos indígenas, definindo e ressignificando a sua própria cultura, dentro
de um movimento de resgate das lutas passadas para a reconstrução da identidade
presente” (2012, p. 187). Noutro exemplo, apontando a necessária compreensão do
universo cultural dos grupos indígenas para a construção do conhecimento histórico,
Almeida ressalta o papel do escambo e do casamento na cultura Tupinambá:
A troca de objetos entre os grupos tupis era comum e podia envolver
também grupos rivais que interrompiam as hostilidades para efetuar trocas.
Os casamentos solidificavam relações e ampliavam o poder dos guerreiros
que, quanto mais cunhados e genros tivessem, mais poderosos se
tornavam. [...] Tratava-se, afinal, de uma sociedade na qual a troca era um
valor a ser sustentado, característica fundamental que deve ser considerada
quando interpretamos suas relações de contato com os estrangeiros (2010,
p. 37-8).
Nesse sentido, Sposito, discutindo o papel das populações indígenas na província
paulista da primeira metade do século XIX, toma esses grupos por sujeitos históricos ativos,
nos diversos modos de relação envolvidos no período: a) kaiowás negociando mel e cera
por roupas e ferramentas com os viajantes (2012, p. 176); b) subgrupos Kaingangs (Kamés,
Votorons, Dorins) lutando entre si e, eventualmente, se aliando a inimigos históricos ou aos
conquistadores (2012, p. 184); c) grupos procurando estabelecer contato amigável com
moradores da fazenda Pirituba na vila de Itapeva da Faxina (2012, p. 191); d) indígenas que
usufruíam dos bens (lavouras e animais) dos invasores brancos colocados em suas terras
(2012, p. 202); e) embora tenham sido aprisionados, escravizados e vendidos, como em
223 Ensino de História Indígena
São Paulo, Unesp, v. 10, n. 2, p. 218-234, julho-dezembro, 2014
ISSN – 1808–1967
Itapeva ,em 1827 (2012, p. 206); em Rio Claro, o índio Antonio Guaianen, utilizando os
mecanismos legais do período (Carta Régia de 01/04/1809) requereu liberdade ao Conselho
Provincial alegando maus tratos, em 1826 (2012, p. 207); e f) no ano de 1826, os indígenas
trazidos para trabalhar na construção da Estrada de Cubatão fugiram para as matas (2012,
p. 211).
Essa perspectiva trazida para a sala de aula confere volume e densidade ao ensino
de história indígena, com uma abordagem que não fossiliza e nem pasteuriza as culturas
desses povos, restitui-lhes a condição de sujeitos históricos e dando-lhes visibilidade no
passado e no presente. O protagonismo, eles já possuem.
Ensino de história indígena e concepção de área
Entre as diversas questões implicadas no ensino de História, duas são fundamentais:
a seleção de conteúdos e as possibilidades metodológicas de trabalho com esses
conteúdos. Em outras palavras, num determinado ano/série da educação básica é mais
adequado trabalhar com história do bairro, história do Brasil ou história geral? Egito antigo
ou história indígena? História afro-brasileira ou revolução industrial? História da África ou da
América? Conteúdos canônicos ou alternativos? Por outro lado, como devem ser
trabalhados esses conteúdos? É melhor usar livro didático, apostilas ou produzir materiais
próprios? Usar mapas históricos, filmes ou textos? Jogos ou ilustrações e fotos?
Documentos históricos ou objetos geradores? Aulas expositivas ou atividades em grupo?
Em suma, quais os conteúdos e a metodologia mais adequados para cada série da
Educação Básica?
Um aspecto que precede toda essa discussão é a chamada visão de área de
História, ou seja, como concebemos essa área de conhecimento e ensino. Esse debate
envolve fundamentalmente três conceitos: noção de sujeito, de tempo e de fato históricos.
Esses conceitos de forma alguma se constituem como uma novidade e estão presentes, por
exemplo, nos Parâmetros Curriculares Nacionais de História (BRASIL, 1997, p. 35-39), no
entanto, convém que sejam retomados, pois seu entendimento tem desdobramentos no
modo como definimos conteúdos e metodologias no ensino de História.
O conceito sujeito histórico refere-se àqueles que atuam na história, àqueles que
fazem a história, por assim dizer, e estão envolvidos direta ou indiretamente nos
acontecimentos ditos históricos. Pois bem, a questão é: Como concebemos esses sujeitos?
Quem são eles? Seriam os chamados heróis, os grandes vultos da história, indivíduos de
grande projeção social e política, como imperadores, políticos, mártires e generais? Nessa
concepção a História é estudada “[...] como sendo dependente do destino de poucos
homens, de ações isoladas e de vontades individuais de poderosos” (BRASIL, 1997 p. 36).
Antonio Simplicio de Almeida Neto 224
São Paulo, Unesp, v. 10, n. 2, p. 218-234, julho-dezembro, 2014
ISSN – 1808–1967
Ou poderiam ser homens, mulheres e crianças comuns, sujeitos anônimos? Ou poderiam
ser ainda os sujeitos coletivos, como camponeses, indígenas, trabalhadores,
afrodescendentes, migrantes? Nesse entendimento, sujeitos históricos são “[...] todos
aqueles que, localizados em contextos históricos, exprimem suas especificidades e
características, sendo líderes de lutas para transformações (ou permanências) mais amplas,
ou de situações cotidianas, que atuam em grupo ou isoladamente, e produzem para si ou
para a coletividade.” (BRASIL, 1997, p. 36). Exemplificando: são sujeitos históricos apenas
D. Pedro I, Duque de Caxias, Carlos Magno, Tiradentes e Getúlio Vargas ou podem ser
também um escravo fugitivo de origem africana do Brasil colonial, um moleiro italiano morto
pela Inquisição no século XVI e um retirante nordestino que migrou para São Paulo na
década de 1950 tornando-se operário?
Da mesma forma podemos questionar o que são fatos históricos. Quais são os fatos
passíveis de serem considerados históricos, pesquisados pelos historiadores, figurar nos
livros e bibliotecas, serem estudados nas escolas? Seriam os grandes acontecimentos,
revoluções, golpes de Estado, derrubada de monarquias e guerras? Seriam os eventos
cívicos e acontecimentos políticos? Ou poderiam entrar nessa lista os fatos cotidianos,
mudanças de comportamento e de modo de pensar, movimentos sociais e culturais? Seriam
“[...] eventos que pertencem ao passado mais próximo ou distante, de caráter material ou
mental, que destaquem mudanças ou permanências ocorridas na vida coletiva” (BRASIL,
1997, p. 35-36)? Ou seja: são fatos históricos apenas o golpe militar de 1964, a morte de
Tiradentes, o suicídio de Getúlio Vargas, a revolução francesa, a queda de Constantinopla e
a eleição de Lula para presidência da república do Brasil? Ou os movimentos migratórios de
grupos indígenas do Amapá do século XIX, o cotidiano escolar de professores durante o
regime militar brasileiro, a religiosidade afro-brasileira no Brasil do século XVIII, as
mudanças de hábitos alimentares, o disciplinamento dos corpos, a relação homem/meio
ambiente, as representações sobre educação e as relações de gênero, também podem ser
considerados fatos históricos a serem estudados?
O entendimento desses dois aspectos é central na definição dos conteúdos a serem
trabalhados em História, pois implicam em escolhas significativas sobre as temáticas e
respectivas abordagens trazidas para a sala de aula. Um professor jamais trabalhará com
história local, por exemplo, de um bairro da cidade de Guarulhos (sua população,
deslocamentos migratórios, manifestações culturais, movimentos sociais, lutas políticas,
transformações urbanas, memórias, etc.), se considerar que esses acontecimentos não têm
relevância histórica. Não há a menor possibilidade de um professor inserir as discussões
sobre história e cultura indígena (Lei nº 11.645/2008) ou africana e afro-brasileira (Lei nº
10.639/2003) no currículo escolar se em seu entendimento apenas os chamados “heróis” e
225 Ensino de História Indígena
São Paulo, Unesp, v. 10, n. 2, p. 218-234, julho-dezembro, 2014
ISSN – 1808–1967
“grandes vultos” são sujeitos históricos e somente os conflitos das monarquias europeias do
Antigo Regime são fatos históricos.
No livro Apologia da História ou O Ofício do Historiador, March Bloch define história:
“‘Ciência dos homens’, dissemos. É ainda vago demais. É preciso acrescentar: ‘dos
homens, no tempo’.” (2001, p. 55). História como ciência dos homens no tempo, é uma
assertiva que atesta a importância da noção de tempo histórico que, no entanto, no âmbito
da história escolar é frequentemente identificado com o tempo cronológico, que avança dia a
dia, ano a ano, século a século, numa sucessão de datas associadas a fatos históricos que
avançam progressivamente um após o outro, sugerindo uma transformação histórica na
qual, a partir de determinadas datas, iriam ocorrendo as mudanças. Conforme esse
entendimento, o estudo da libertação dos escravos restringe-se ao episódio que ocorreu no
dia 13 de maio de 1888, não havendo um processo anterior e a partir dessa data tudo se
transformou. E depois disso veio a Proclamação da República, a República da Espada, a
República das Oligarquias, a Revolução de 30, o Estado Novo e assim por diante, até os
dias atuais num fluxo contínuo e linear, sem maiores percalços ou acidentes. É muito
comum que o aprendizado do tempo histórico seja confundido com decorar datas e
aprender a grafar corretamente os algarismos romanos para identificar os séculos colocados
numa linha do tempo que deve ser decorada. Alguns professores ainda fazem avaliações
para verificar a simples memorização de datas referentes a determinados acontecimentos
históricos!
É evidente que o tempo institucionalizado em datas, entendidas como marcos
temporais, é importante, mas o tempo histórico pode ir muito além desse entendimento, que
restringe a transformação histórica a uma sucessão de fatos, uniforme, regular, cumulativa,
progressiva, evolutiva.
Outra possibilidade de pensar o tempo histórico é entendê-lo valendo-se de seus
níveis e ritmos de duração. Para March Bloch, o historiador deveria pensar o tempo com
base na categoria da “duração” (1982, p. 26), em cuja natureza haveria um “contínuo” e a
“mudança constante” (p. 27), ou seja, o tempo histórico se constituiria de mudanças e
continuidades, de cuja antítese viriam “[...] os grandes problemas da investigação histórica”
(p. 27).
Fernand Braudel procurou apontar os “ritmos” e “níveis” dessa duração. Segundo
ele, a primeira apreensão que se faz da história é o tempo de curta ou “breve duração”
(1990, p. 10-11), são os “acontecimentos” como uma enchente, um crime, o aumento de
preços, um escândalo político. No entanto, algumas transformações seguem ritmos mais
lentos e não muitos precisos, um tempo de duração média, são as “conjunturas” (BRAUDEL,
1990, p. 12), como um estudo sobre a progressão demográfica ou sobre a ditadura militar
brasileira. Da mesma forma, outros processos de transformação são estruturais, possuem
Antonio Simplicio de Almeida Neto 226
São Paulo, Unesp, v. 10, n. 2, p. 218-234, julho-dezembro, 2014
ISSN – 1808–1967
uma longa duração (BRAUDEL, 1990, p. 14), como o cristianismo, o capitalismo comercial,
a estética renascentista. Dessa maneira, sem eliminar o tempo cronológico, que é muito
importante, trabalha-se com outra densidade que não a simplificação da linearidade, que se
restringe ao registro de uma sequência de datas de modo evolutivo, contínuo e progressivo.
Adotando essa percepção do tempo histórico, é possível pensar o ensino de História
na educação básica observando as continuidades e rupturas, as permanências e mudanças,
os avanços e recuos e os diferentes ritmos de duração (breve, longa e média). Desse modo,
no trabalho com história local, por exemplo, importa discutir os processos de transformação,
procurando analisar com os alunos que a demolição de uma fábrica do bairro representa
uma mudança de duração breve, um acontecimento, que não significa mudança estrutural,
já que o capitalismo se manifesta como permanência/mudança de longa duração, embora
aspectos das relações de trabalho tenham se alterado, assim como elementos tecnológicos
e políticos (média duração). Nesse caso, é a demolição da fábrica que, via de regra, ficará
registrada na memória como acontecimento histórico, que, contudo, pouco explica. Cabe ao
professor, lançando mão de recursos metodológicos adequados, fazer os alunos irem além
do episódio imediato, estabelecendo relações e nexos com outros acontecimentos,
observando diferentes ritmos de duração, mudanças, permanências e rupturas, de modo a
buscar explicações mais densas para compreender as transformações da história local.
Portanto, a discussão sobre como concebemos sujeito, fato e tempo históricos é
central para a seleção dos conteúdos a serem trabalhados em história (supondo professores
que tenham autonomia intelectual para efetuar essa seleção). Da mesma forma, esse
debate acaba sendo definidor quanto aos aspectos metodológicos no ensino da disciplina
escolar História.
Na perspectiva aqui sugerida, não faz sentido adotar práticas de ensino de História
que se pautem em discursos moralizadores e datas comemorativas (com seus respectivos
heróis) a serem repetidos e decorados pelos alunos, desprovidos de sentido e que nada
explicam sobre as transformações históricas. O ensino de história indígena, temática desse
artigo, vai muito além da comemoração do Dia do Índio (19 de abril) que pasteuriza a
história tornando-a estéril e irrelevante. Em sentido absolutamente contrário, se
concebermos os indígenas como sujeitos históricos, as transformações pelas quais
passaram e passam esses grupos sociais como fatos históricos objetiváveis e que nessas
transformações ocorreram mudanças, permanências e rupturas, em diferentes ritmos de
durações, torna-se necessário criar e adotar práticas metodológicas que apontem nessa
direção, que possibilitem que os alunos façam reflexões e busquem explicações mais
densas e significativas para a compreensão dos grupos indígenas na história do Brasil.
Assim, de acordo com as distintas faixas etárias e séries escolares dos alunos da
Educação Básica, pode-se lançar mão de uma infinidade de recursos metodológicos como
227 Ensino de História Indígena
São Paulo, Unesp, v. 10, n. 2, p. 218-234, julho-dezembro, 2014
ISSN – 1808–1967
uso de textos escritos, relatos orais, objetos, músicas, fotografias, filmes e literatura,
tornados documentos históricos, ou ainda, estudos do meio, visita a museus e dinâmicas
variadas, que disparem reflexões de natureza histórica, conduzindo os alunos à
compreensão da dinâmica dos processos da transformação histórica, percebendo a si
mesmos como sujeitos históricos capazes de pensar historicamente.
Ensino de história indígena e narrativas
Em março de 2013, o jornal Folha de S. Paulo publicou a carta de um leitor indignado
com a ocupação indígena no antigo Museu do Índio, nos arredores do estádio do Maracanã,
que seria demolido para a construção de um estacionamento e centro comercial, conforme
exigências da FIFA para a realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014:
Algumas pessoas, supostamente descendentes de indígenas, ocuparam o
imóvel ilegalmente e se recusam a sair, no que contam com um estranho
apoio dos chamados ‘movimentos de esquerda’. Esses mesmos
movimentos procuram garantir moradia gratuita aos chamados quilombolas,
sob justificativa de que são descendentes de escravos – comprovado
apenas pela cor da pele. Proponho então que sejam criados também um
movimento para garantir moradia para os ateus, sob a alegação dos
sofrimentos infligidos pela Inquisição às pessoas desprovidas de fé
religiosa. (JANOWITZER, 2013, A3).
Verificamos, nesse breve exemplo, um discurso que desqualifica as ações e lutas
indígenas, classificando esses povos como não-indígenas. A missiva do leitor remete a certa
idealização do indígena, imagem essencialista do índio puro, o mesmo estereótipo presente
no desfile acima comentado. Por esse raciocínio, um indígena que usa calça jeans,
smartphone, tênis e cursa ensino superior, não é índio, mas um “suposto” índio. Interessante
notar que ninguém jamais diria que um autodenominado judeu é um “suposto” judeu, por ter
nascido no Brasil e não correspondesse à figura estereotipada do que seria um judeu. Na
visão desse leitor o que ocorreu no episódio da ocupação do Museu do Índio, foi a ação de
oportunistas que se passaram por indígenas, insuflados pelos movimentos de esquerda.
Sua ação seria tão estapafúrdia e ilegítima quanto a dos “supostos” quilombolas que se
valem, ardilosamente, de sua cor de pele, para conseguir “moradia gratuita”.
Para a discussão proposta nesse artigo, convém destacar o modo como esse “outro”
é caracterizado no discurso do leitor, que procura estabilizá-lo numa representação que fixa
sua identidade na condição de indígena puro do passado, desqualificando suas ações no
presente, por não corresponder a essa imagem idealizada pelo não-índio, implícita na
tipologia “índio” e “supostamente descendente de índio”.
Antonio Simplicio de Almeida Neto 228
São Paulo, Unesp, v. 10, n. 2, p. 218-234, julho-dezembro, 2014
ISSN – 1808–1967
O mesmo jornal, alguns meses depois, em junho de 2013, publicou matéria sobre a
reivindicação de terras pelos Terena no Mato Grosso do Sul. Entre os mencionados na
reportagem há um historiador, um antropólogo, um indígena Terena e um fazendeiro. Sobre
esse último, informa: “[...] Apesar dos vários registros [da participação dos Terena da Guerra
do Paraguai, no século XIX], os fazendeiros da região dizem que os Terena não são do
território brasileiro. ‘São paraguaios. Uns alegam que lutaram a favor do Brasil, mas eu não
acredito’, afirma Marcos Correa, 33, dono de 3.480 hectares dentro da área reivindicada”
(CORREA, 2013, A7).
A julgar pelo fazendeiro seria feita uma revisão da história do Brasil e dos Terena,
alegando que esse povo não lutou na Guerra do Paraguai e, como se não bastasse, ainda
seriam paraguaios, portanto, invasores do nosso território e, por que não, traidores que
agora se passam por brasileiros para reivindicar a posse de territórios dos legítimos
brasileiros. Também nesse exemplo, observamos a força do discurso que desqualifica os
indígenas no passado e, consequentemente, suas ações no presente, tornadas ilegítimas,
uma vez que são invasores.
Desse modo, ambos os discursos veiculados no jornal (a carta do leitor e a
reportagem) têm o efeito de distinguir o “um” e o “outro”, o “legítimo” e o “ilegítimo”, os
“puros” e os “impuros”, “nós” e “eles”, assinalando, produzindo e constituindo, desse modo,
a identidade e a diferença. Tomaz Tadeu da Silva lembra que essa operação discursiva, que
produz a identidade demarcando a diferença, é social: “[...] A identidade, tal como a
diferença, é uma relação social. Isso significa que sua definição está sujeita a vetores de
força, a relações de poder. Elas não convivem harmoniosamente, lado a lado, em um campo
sem hierarquias; elas são disputadas.” (2012, p. 81). Sendo produzida socialmente,
portanto,
[...] a identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato – seja da
natureza, seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente,
unificada, permanente. A identidade tampouco é homogênea, definitiva,
acabada, idêntica, transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a
identidade é uma construção, um efeito, um processo de produção, uma
relação, um ato performativo. A identidade é instável, contraditória,
fragmentada, inconsistente, inacabada. A identidade está ligada a estruturas
discursivas e narrativas. A identidade está ligada a sistemas de
representação. A identidade tem estreitas conexões com relações de poder.
(SILVA, T., 2012, p. 96-7).
Nesse sentido, pode-se afirmar que também o ensino de história indígena no âmbito
escolar se constitui como um discurso implicado nas relações de poder que, tal como os
textos publicados na imprensa, acima citados, fixa e hierarquiza representações identitárias,
229 Ensino de História Indígena
São Paulo, Unesp, v. 10, n. 2, p. 218-234, julho-dezembro, 2014
ISSN – 1808–1967
o que pode ser facilmente observado na seleção de conteúdos e abordagens, nos materiais
didáticos, em filmes, ilustrações e textos escolares:
• Na breve menção aos povos indígenas como viventes apenas de um remoto
tempo pré-colonial;
• Na omissão pura e simples à existência desses povos nos acontecimentos
históricos da história do Brasil;
• Na vitimização (ainda que engajada) que lhes priva a condição de sujeitos
históricos;
• Nos frequentes anacronismos que os exclui do tempo histórico e, portanto,
das transformações históricas;
• No culto idílico a determinados valores e modo de vida indígenas;
• Na inserção da temática indígena no currículo escolar em momentos muito
específicos, como “Dia do Índio”, como exceção que confirma a regra;
• Na pasteurização que empobrece, simplifica e homogeneíza a diversidade
dos povos indígenas;
• Na abordagem folclorizada presente em festividades e eventos escolares que
trata os indígenas como povos exóticos;
• No vago e restrito reconhecimento da diversidade que não vai além da
constatação;
• Na pregação benevolente da tolerância que só faz reafirmar o papel
dominador de quem tolera;
• Na percepção essencialista de culturas indígenas puras, desconsiderando o
hibridismo cultural.
Cabe ao professor de História ensejar práticas com os mecanismos de que dispõe no
ensino de sua disciplina, por exemplo, questionando matérias jornalísticas (de revistas,
sites, televisão e jornais) como as anteriormente citadas, propondo discussões sobre
interculturalidade e hibridismo cultural ou refutando determinadas atividades escolares,
verdadeiros rituais pedagógicos, que reproduzem estereótipos e produzem desinformação
sobre povos indígenas.
No entanto, é preciso retomar as questões anteriormente mencionadas referentes à
concepção de história, compreendendo os povos indígenas como sujeitos históricos dentro
da história do Brasil como, por exemplo, na Guerra do Paraguai (1864-1870) que contou
com a participação dos Terena, como registrou Alfredo d’Estragnolle Taunay, em 1869:
Antonio Simplicio de Almeida Neto 230
São Paulo, Unesp, v. 10, n. 2, p. 218-234, julho-dezembro, 2014
ISSN – 1808–1967
Recebeu logo o 17º batalhão ordem de ir além do ponto atingido pelo 21°
batalhão realizar um reconhecimento sob a direção do guia Lopes e em
companhia de um grupo de Terenas e Guaicurus, que desde algum tempo
apresentara ao Coronel. (1975, p. 45-6).
Neste dia fez a cólera nove vítimas. Assinalaram-se vinte casos novos: o
chefe dos Terenas, Francisco das Chagas, chegou moribundo numa rede
que sua gente carregava. Estavam estes desgraçados índios no auge do
terror; mas não podiam mais abandonar a coluna, ocupado como se achava
todo o campo por um inimigo que, quando os apanhava, jamais deixava de
os fazer perecer nos mais horríveis suplícios. (1975, p. 106).
Da mesma forma, ainda sobre a Guerra do Paraguai, é possível dispor de outras
fontes documentais, como os relatos orais utilizados no livro didático A História do Povo
Terena escrito por Bittencourt e Ladeira, por meio dos quais se evidenciam os fatos que
ficaram registrados na memória desse povo:
[...] antes da Guerra do Paraguai [os Terena] já habitavam na região de
Miranda e mantinham relações com o povoado de Miranda. Quando a
cidade de Miranda foi invadida, as aldeias que estavam situadas nessa
região também foram atacadas. Os Terena se organizaram para fazer
frente, utilizando as táticas próprias dos índios, como por exemplo, ataque
noturno. Os Terena investigavam onde ficava o acampamento dos
paraguaios e cercavam no momento em que os inimigos não percebiam,
geralmente à noite. Já os paraguaios atacavam só de dia. Foram feitos
vários enfrentamentos onde morriam índios Terena e também paraguaios.
Conta-se que na aldeia Babaçu, os paraguaios mataram um Terena,
pendurando-o num pé de árvore. Os Terena se escondiam nos matos e
outros fugiam para a região de Bananal e Limão Verde. Durante a guerra é
que foi fundada a aldeia de Limão Verde. Na área de Cachoeirinha existia
um povoado chamado "Pulóvo'uti" e esta localidade servia de esconderijo
durante a guerra porque era de difícil acesso por ser cercada de mata muito
fechada. (relato de Olímpio Serra da aldeia de Argola). (2000, p. 63-64).
Esses mesmos relatos orais dos Terena informam que, para esse povo, a Guerra do
Paraguai se constituiu como importante marco temporal, pois assinala o início do período
por eles denominado Tempos da Servidão, quando ao retornarem do conflito para suas
antigas aldeias, muitas delas destruídas pelo combate, encontraram novos “proprietários”,
ex-oficiais e comerciantes, além de novos moradores que eram estimulados a ir para a
região como forma de assegurar as fronteiras, o que para esse povo significou a perda de
suas terras e o início da submissão aos brancos:
O pessoal daquela época tinha medo porque ainda se lembrava do patrão
que os chicoteava na fazenda. Quem se atrasava para tomar chá de manhã
era surrado... foi o finado meu avô quem me contou. Como castigo o
pessoal tinha que arrancar o mato com as próprias mãos. Quando a comida
estava pronta, eles mediam toda a sua tarefa. Eram quinze braças de tarefa
e, mesmo não terminando a tarefa do dia, de manhã mediam outra tarefa,
231 Ensino de História Indígena
São Paulo, Unesp, v. 10, n. 2, p. 218-234, julho-dezembro, 2014
ISSN – 1808–1967
que acumulava. (relato de João Menootó Martins). (BITTENCOURT;
LADEIRA, 2000, p. 78).
Na perspectiva de compreender outras narrativas históricas, torna-se relevante
também apontarmos narrativas indígenas sobre o passado, como as dos Kadiwéu,
registrada por Giovani José da Silva: a) “história de admirar”, histórias sagradas que
provocam espanto; b) “história que aconteceram mesmo”, contadas pelos mais velhos, entre
as quais a da Guerra do Paraguai, em que também lutaram; c) “[...] história que hoje se
aprende nos bancos escolares como disciplina e ‘inventada’ pelos não índios. [...] A história,
contida em livros e manuais, supervalorizaria o escrito e desprezaria aquilo que é
transmitido oralmente de uma geração à outra”; e d) “[...] histórias apenas para contarem a
pesquisadores ‘brancos’, ávidos por informações e que volta e meia perambulam por suas
terras” (2012, p. 69-70). Desse modo, discutem-se outras formas de reconstruir o passado
em outras culturas, questionando a visão etnocêntrica ainda predominante no ensino de
história indígena.
Considerações finais
No alvorecer do século XXI, quando grande entusiasmo – frequentemente irrefletido,
ao sabor da sanha mercantil – rondava as mentes, propunha Sevcenko:
A grande vantagem de estudar história consiste justamente na
possibilidade, que ela nos propicia, de uma compreensão mais articulada
das circunstâncias por meio das quais chegamos ao ponto em que estamos
e, a partir daí, na possibilidade de uma melhor avaliação das alternativas
que se apresentam e que podemos vislumbrar graças à ampliação da
perspectiva temporal. [...] O ato inicial [para pensar ações transformadoras
no presente] é compreender que não se coloca mais a possibilidade de
retorno a um contexto anterior, situado no passado remoto ou recente, ao
qual pudéssemos regressar. As mudanças históricas ou tecnológicas não
são fatalidades, mas, uma vez desencadeadas, estabelecem novos
patamares e configurações de fatos, grupos, processos e circunstâncias,
exigindo que o pensamento se reformule em adequação aos novos termos
para poder interagir com eficácia no novo contexto. (2001, p. 55).
Por certo, tomando essa assertiva por referência, o ensino de história indígena no
âmbito escolar pode, potencialmente, contribuir para ampliar essa perspectiva temporal
possibilitando melhor compreensão dos arranjos sócio-históricos e intervenções mais
consequentes no presente, no entanto, sempre resvalamos no ardil da mitificação de novos
personagens, datas e fatos, à guisa de uma suposta conscientização caudatária. Como
afirma Pereira:
Antonio Simplicio de Almeida Neto 232
São Paulo, Unesp, v. 10, n. 2, p. 218-234, julho-dezembro, 2014
ISSN – 1808–1967
[...] as diferentes formas de expressão identitária não podem ser vistas
como essencialmente contrapostas ou adversas, sob pena de
transformarmos a sala de aula em palco para acerto de contas. Disso
decorre a possibilidade – livre e democrática – de emergência de formas
identitárias negadas – como as negras e indígenas – através da ação
educativa. Porém, esse pressuposto não implica que pela ação educativa,
venhamos a transformar a sala de aula em uma arena de (con)formação de
consciências identitárias. (2012, p. 316).
Sendo a produção da identidade e da diferença um território disputado, o ensino de
História pode e deve inserir outras narrativas que subvertam a estabilidade das
representações dominantes, que questionem os mecanismos e instituições de reprodução
dessas identidades, que estimulem o desequilíbrio poiético – ato criativo – que possibilita a
transformação e oblitera a mera reprodução em educação, possibilitando pensar os povos
indígenas como sujeitos históricos no presente e no passado, condição precípua para
romper a invisibilidade indígena no passado e no presente.
Recebido em 24/4/2014
Aprovado em 15/5/2015
NOTAS
1
Trata-se da pesquisa “Escola Pamáali: uma história do currículo” parte do projeto “Momentos e
lugares da educação indígena: memória, instituições e práticas escolares”, realizada junto ao
Observatório da Educação Escolar Indígena (CAPES/SECAD/INEP).
2
Não à toa, diversas pesquisas e publicações sobre os indígenas na história do Brasil foram feitas
por antropólogos e não historiadores.
3
Foi mantida a grafia original.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os índios na História do Brasil. Rio de Janeiro: FGV,
2010.
BITTENCOURT, Circe; LADEIRA, Maria Elisa. A História do Povo Terena. Brasília: MEC,
2000. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002034.pdf>.
Acesso em: 25 mar. 2014.
BLOCH, March. Apologia da História ou O Ofício do Historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Ed., 2001.
BLOCH, March. Introduccion a la Historia. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica,
1982.
BRAUDEL, Fernand. História e Ciências Sociais. Lisboa: Editorial Presença, 1990.
233 Ensino de História Indígena
São Paulo, Unesp, v. 10, n. 2, p. 218-234, julho-dezembro, 2014
ISSN – 1808–1967
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: história,
geografial. Brasília: MEC/SEF, 1997.
CANCLINI, Nestor. Culturas híbridas. São Paulo: Edusp, 2008.
CHOPPIN, Alain. História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte.
Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 30, n. 3, p. 549-566, set. /dez., 2004.
CORREA, Marcos, Painel do Leitor. Folha de S. Paulo. São Paulo, 10 jun. 2013, Caderno 1,
p. A7.
CUNHA, Manuela Carneiro da. Índios no Brasil: história, direitos e cidadania. São Paulo:
Claro Enigma, 2012.
JANOWITZER, Claudio. Painel do Leitor. Folha de S. Paulo. São Paulo, 24 mar. 2013.
Caderno 1, p. A3.
MONTEIRO, John. Tupis, Tapuias e Historiadores: estudos da história indígena e do
indigenismo. 2001. 233 folhas. Tese (Livre docência em Etnologia, subárea História
Indígena e Indigenismo) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade de
Campinas, Campinas, 2001.
PEREIRA, Júnia Sales. Do colorido à cor: o complexo identitário na prática educativa. In:
GONÇALVES, Márcia de Almeida; ROCHA, Helenice; REZNIK, Luís; MONTEIRO, Ana
Maria (Org.). Qual o valor da história hoje? Rio de Janeiro: FGV, 2012, p. 30-45.
PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & História Cultural. Belo Horizonte: Autêntica. 2008.
SEVCENKO, Nicolau. A Corrida Para o Século XXI – No Loop da Montanha Russa. São
Paulo: Cia das Letras, 2001.
SILVA, Giovani José da. Categorias de entendimento do passado entre os Kadiwéu:
narrativas, memórias e ensino de história indígena. Revista História Hoje, [S.I.], v. 1, n. 2,
2012. Disponível em: <http://rhhj.anpuh.org/ojs/index.php/RHHJ/article/view/41>. Acesso
em: 25 mar. 2014.
SILVA, Tomaz Tadeu da. A produção social da identidade e da diferença. In: SILVA, Tomaz
Tadeu da (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais. Petropólis, RJ:
Vozes, 2012.
SPOSITO, Fernanda. Nem cidadãos, nem brasileiros: indígenas na formação do estado
nacional brasileiro e conflitos na província de São Paulo. São Paulo: Alameda, 2012.
TAUNAY, Alfredo d’Escragnolle. A Retirada da Laguna: episódio da Guerra do Paraguai.
São Paulo: Melhoramentos, 1975.
VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. História Geral do Brazil. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora
Em casa de E & H. Laemmert, 1877. v.1. Disponível em:
<http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/01819210#page/5/mode/1up>. Acesso em:
25 mar. 2014.
Antonio Simplicio de Almeida Neto 234
Você também pode gostar
- REHR v15 n31 14850 Octagenário+Índio14850 Octagenário+ÍndioDocumento20 páginasREHR v15 n31 14850 Octagenário+Índio14850 Octagenário+ÍndioJucieldo AlexandreAinda não há avaliações
- Histórias e culturas indígenas na Educação BásicaNo EverandHistórias e culturas indígenas na Educação BásicaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- TCCE ESEM EaD 2016 GOMES JULIANEDocumento17 páginasTCCE ESEM EaD 2016 GOMES JULIANEAsmodeusAinda não há avaliações
- Ensino de História e culturas afro-brasileiras e indígenas: raça e mercado de trabalhoNo EverandEnsino de História e culturas afro-brasileiras e indígenas: raça e mercado de trabalhoAinda não há avaliações
- Proposta para o Trabalho de Legislação EducacionalDocumento2 páginasProposta para o Trabalho de Legislação EducacionalCarlos CardosoAinda não há avaliações
- Crianças Indígenas Nas Escolas Não IndígenasDocumento10 páginasCrianças Indígenas Nas Escolas Não IndígenasMayara CostaAinda não há avaliações
- A construção social da cidadania em uma sociedade intercultural: o ensino da cultura e da história africana e afro-brasileira em sala de aulaNo EverandA construção social da cidadania em uma sociedade intercultural: o ensino da cultura e da história africana e afro-brasileira em sala de aulaAinda não há avaliações
- Ensino de História e Diversidade CulturalDocumento11 páginasEnsino de História e Diversidade CulturalMarcos AssisAinda não há avaliações
- FERNANDES, José Ricardo Oriá. Ensino de História e A Diversidade CulturalDocumento11 páginasFERNANDES, José Ricardo Oriá. Ensino de História e A Diversidade CulturalMarcosMeinerzAinda não há avaliações
- História e Cultura Afro-Brasileira: Subsídios para A Prática Docente. Aristeu Castilhos Da RochaDocumento22 páginasHistória e Cultura Afro-Brasileira: Subsídios para A Prática Docente. Aristeu Castilhos Da RochaJoão ManuelAinda não há avaliações
- Quebrando-Preconceitos: Subsídios para o Ensino Das Culturas e Histórias Dos Povos IndígenasDocumento113 páginasQuebrando-Preconceitos: Subsídios para o Ensino Das Culturas e Histórias Dos Povos Indígenassilvio limaAinda não há avaliações
- Ementa ErerebáDocumento2 páginasEmenta ErerebáSuelen JulioAinda não há avaliações
- Módulo 3 - ENSINO DE HISTÓRIA E DIVERSIDADE CULTURAL DESAFIOS E POSSIBILIDADES PDFDocumento11 páginasMódulo 3 - ENSINO DE HISTÓRIA E DIVERSIDADE CULTURAL DESAFIOS E POSSIBILIDADES PDFCristiano Rios da SilvaAinda não há avaliações
- Educacao em Rede - Volume 7 - Paginas 56 80Documento25 páginasEducacao em Rede - Volume 7 - Paginas 56 80Vera NeriAinda não há avaliações
- 1678 7110 Ccedes 39 109 297 o Voô Do Passarinho - Bessa FreireDocumento23 páginas1678 7110 Ccedes 39 109 297 o Voô Do Passarinho - Bessa FreireCarol MonteiroAinda não há avaliações
- ATIVIDADES POVOS INDÍGENAS Quebrando PreconceitosDocumento113 páginasATIVIDADES POVOS INDÍGENAS Quebrando PreconceitosLeandro TrindadeAinda não há avaliações
- Texto 1Documento24 páginasTexto 1Karla KiisterAinda não há avaliações
- 20170427-Wanda RochaDocumento7 páginas20170427-Wanda RochaAdemirJúniorAinda não há avaliações
- História IndígenaDocumento7 páginasHistória IndígenaIngrid SteAinda não há avaliações
- 109365-Texto Do Artigo-196176-1-10-20160112Documento3 páginas109365-Texto Do Artigo-196176-1-10-20160112Jonas RibeiroAinda não há avaliações
- 113-Texto Do Artigo-294-1-10-20071130Documento27 páginas113-Texto Do Artigo-294-1-10-20071130toliro8978Ainda não há avaliações
- Mai 2 Artigo 8Documento14 páginasMai 2 Artigo 8Thayna SoaresAinda não há avaliações
- RIBEIRO 2020 - Do Dia Do Indio As PraticasDocumento10 páginasRIBEIRO 2020 - Do Dia Do Indio As PraticasMaíra RibeiroAinda não há avaliações
- Entre Outras Mil És Tu Brasil Rediscutindo o Ensino Da História No BicentenárioDocumento4 páginasEntre Outras Mil És Tu Brasil Rediscutindo o Ensino Da História No BicentenárioAlexandre Barbosa SantosAinda não há avaliações
- Ensinodehistoriaindigena PDFDocumento204 páginasEnsinodehistoriaindigena PDFRafael RamessesAinda não há avaliações
- Literatura Indígena para Crianças: o Desafio Da InterculturalidadeDocumento19 páginasLiteratura Indígena para Crianças: o Desafio Da InterculturalidadeLaeticia Jensen EbleAinda não há avaliações
- 1 - GRUPIONI, Luis Donisete Benzi. Educação Escolar Indígena Uma História de Conquistas, 2006.Documento22 páginas1 - GRUPIONI, Luis Donisete Benzi. Educação Escolar Indígena Uma História de Conquistas, 2006.Tharyn Batalha100% (1)
- O Silenciamento Da Cultura Negra e IndigDocumento11 páginasO Silenciamento Da Cultura Negra e IndigRodrigo LinsAinda não há avaliações
- Antropologia de Varanda ReversaDocumento21 páginasAntropologia de Varanda ReversaWeslley MatosAinda não há avaliações
- Trabalho Ev127 MD1 Sa17 Id5244 16052019202155Documento12 páginasTrabalho Ev127 MD1 Sa17 Id5244 16052019202155eliadossantos1Ainda não há avaliações
- Ago22 Culturapopular 3a5 Anos v2Documento12 páginasAgo22 Culturapopular 3a5 Anos v2MARCIAAinda não há avaliações
- ARTIGO - Mario Brum - Historia Local Na Sala de Aula Trabalhada Com Diferentes GeraçõesDocumento21 páginasARTIGO - Mario Brum - Historia Local Na Sala de Aula Trabalhada Com Diferentes GeraçõesFelipe RibeiroAinda não há avaliações
- A Perspectiva Historiográfica de Ubiratan D'Ambrosio Como Subsídio para A Valorização Da Diversidade Cultural Brasileira Na Educação em CiênciasDocumento1 páginaA Perspectiva Historiográfica de Ubiratan D'Ambrosio Como Subsídio para A Valorização Da Diversidade Cultural Brasileira Na Educação em CiênciasDeyvid José Souza SantosAinda não há avaliações
- A História Indígena em Sala de AulaDocumento3 páginasA História Indígena em Sala de AulaJosiane AguiarAinda não há avaliações
- SILVA, Edson. A Invenção Dos Índios Nas Narrativas Sobre o Brasil.Documento247 páginasSILVA, Edson. A Invenção Dos Índios Nas Narrativas Sobre o Brasil.André RamosAinda não há avaliações
- Relatório Análise de Livro DidáticoDocumento20 páginasRelatório Análise de Livro Didáticodanidecassia0% (1)
- A Pluralidade Étnico Cultural Indígena No BrasilDocumento30 páginasA Pluralidade Étnico Cultural Indígena No BrasilMARYEVA LOPES MARINHOAinda não há avaliações
- As Representacoes Sobre A Historia Da AfDocumento10 páginasAs Representacoes Sobre A Historia Da AfJeremias TchipalavelaAinda não há avaliações
- História e Cultura Afrobrasileira e IndígenaDocumento7 páginasHistória e Cultura Afrobrasileira e IndígenaLuiza Rios100% (1)
- A Pluralidade Étnico-Cultural Indígena No Brasil - o Que A Escola Tem A Ver Com Isso - Edson KayapoDocumento31 páginasA Pluralidade Étnico-Cultural Indígena No Brasil - o Que A Escola Tem A Ver Com Isso - Edson KayapoCau BrandaoAinda não há avaliações
- O Ensino Da Temática IndígenaDocumento247 páginasO Ensino Da Temática IndígenaEdy Marques100% (3)
- Educação Etnico Racial Atividade 1Documento3 páginasEducação Etnico Racial Atividade 1conrado ademarAinda não há avaliações
- Trabalho em Grupo - Sétimo PeríodoDocumento14 páginasTrabalho em Grupo - Sétimo PeríodoRosilene Soares JorgeAinda não há avaliações
- 2008 Claudio Luiz OrcoDocumento130 páginas2008 Claudio Luiz OrcoLílian GonçalvesAinda não há avaliações
- Historia Da Cultura Afrobrasileira e Indigena - Passei DiretoDocumento5 páginasHistoria Da Cultura Afrobrasileira e Indigena - Passei DiretoJhoayz MorenoAinda não há avaliações
- Revista Foco - A Presença Indígena Na Ed. BásicaDocumento31 páginasRevista Foco - A Presença Indígena Na Ed. BásicaThiago AbdalaAinda não há avaliações
- 6399 23199 4 PBDocumento13 páginas6399 23199 4 PBnicole jordanAinda não há avaliações
- Encontre A Comunidade QuilombolaDocumento6 páginasEncontre A Comunidade QuilombolaAlessandro VieiraAinda não há avaliações
- MergedDocumento144 páginasMergedAnna PaulaAinda não há avaliações
- 1oanotrilha3digital PDFDocumento33 páginas1oanotrilha3digital PDFCarla MartinsAinda não há avaliações
- Plano de Aula Viagem CairúDocumento4 páginasPlano de Aula Viagem CairúCleidiane LimaAinda não há avaliações
- Silva, Edson 48-90-1-SmDocumento11 páginasSilva, Edson 48-90-1-SmRenan ChavesAinda não há avaliações
- História, Cultura Afrobrasileira e Indígena - Leis Federais 10.639/03 & 11.645/08Documento14 páginasHistória, Cultura Afrobrasileira e Indígena - Leis Federais 10.639/03 & 11.645/08Ubiraci SantosAinda não há avaliações
- Sons Tungui Botó FERNANDA - ANDRADE - SILVADocumento71 páginasSons Tungui Botó FERNANDA - ANDRADE - SILVAGilberto SilvaAinda não há avaliações
- Artigos Cadernos Do Tempo PresenteDocumento13 páginasArtigos Cadernos Do Tempo PresenteDiogo MonteiroAinda não há avaliações
- Índios e Comunidade Escolar Sergipana. VOZES ALTERNATIVASDocumento15 páginasÍndios e Comunidade Escolar Sergipana. VOZES ALTERNATIVASDIOGO MONTEIROAinda não há avaliações
- Biblioteca, História e Diversidade 2016 Vol 8, Nº 1 - Art 18Documento19 páginasBiblioteca, História e Diversidade 2016 Vol 8, Nº 1 - Art 18Felliphe BenjamimAinda não há avaliações
- Ceramica Baniwa A Educaao Patrimonial Como Instrumento de Preservaao Da Cultura MaterialDocumento9 páginasCeramica Baniwa A Educaao Patrimonial Como Instrumento de Preservaao Da Cultura MaterialPaulo HolandaAinda não há avaliações
- AD2 HBrasilII 2020 MPE JuanLemos 18216090044Documento6 páginasAD2 HBrasilII 2020 MPE JuanLemos 18216090044Juan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- AD1 HAmericaII 2020 MPE JuanLemos 18216090044Documento4 páginasAD1 HAmericaII 2020 MPE JuanLemos 18216090044Juan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- AD2 Patrimonio 2020 MPE JuanLemos 18216090044Documento5 páginasAD2 Patrimonio 2020 MPE JuanLemos 18216090044Juan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- AD1 Patrimonio 2020 JuanLemos MPE 18216090044Documento6 páginasAD1 Patrimonio 2020 JuanLemos MPE 18216090044Juan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- AD2 HAmericaII 2020 MPE JuanLemos 18216090044Documento8 páginasAD2 HAmericaII 2020 MPE JuanLemos 18216090044Juan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- AD2 HMed Juan Lemos MPE 18216090044Documento5 páginasAD2 HMed Juan Lemos MPE 18216090044Juan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- AD2 HAntrop Juan Lemos MPE 18216090044Documento8 páginasAD2 HAntrop Juan Lemos MPE 18216090044Juan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- AD1 HMed Juan Lemos MPE 18216090044Documento2 páginasAD1 HMed Juan Lemos MPE 18216090044Juan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- AD1 HAnt Juan Lemos MPE 18216090044Documento3 páginasAD1 HAnt Juan Lemos MPE 18216090044Juan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- AD1 HBrasilII 2020 MPE JuanLemos 18216090044Documento5 páginasAD1 HBrasilII 2020 MPE JuanLemos 18216090044Juan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- AD2 HBrasil1 Juan Lemos MPE 18216090044Documento5 páginasAD2 HBrasil1 Juan Lemos MPE 18216090044Juan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- AD2 HAmericaIII 2020 MPE JuanLemos 18216090044Documento5 páginasAD2 HAmericaIII 2020 MPE JuanLemos 18216090044Juan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- 10 - Carretero e Limón - Construção Do Conhecimento e Ensino Das Ciências Sociais e Da História PDFDocumento14 páginas10 - Carretero e Limón - Construção Do Conhecimento e Ensino Das Ciências Sociais e Da História PDFJuan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- LEE, Peter - Por Que Aprender História PDFDocumento24 páginasLEE, Peter - Por Que Aprender História PDFJuan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- AD2 SeminarioI 2021 MPE JuanLemos 18216090044Documento4 páginasAD2 SeminarioI 2021 MPE JuanLemos 18216090044Juan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- AD2 HistoriaOriente JuanLemos MPE 18216090044Documento6 páginasAD2 HistoriaOriente JuanLemos MPE 18216090044Juan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- ChileddaindependênciaàguerradopacíficoDocumento96 páginasChileddaindependênciaàguerradopacíficoJuan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- SCHMIDT - História Do Ensino de História No BrasilDocumento20 páginasSCHMIDT - História Do Ensino de História No BrasilJuan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento19 páginas1 PBJuan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- GIL, EUGÊNIO - Ensino de História e Temas Sensíveis PDFDocumento21 páginasGIL, EUGÊNIO - Ensino de História e Temas Sensíveis PDFJuan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- 3955 11122 1 SM PDFDocumento6 páginas3955 11122 1 SM PDFJuan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- A Historia Na Escola PDFDocumento351 páginasA Historia Na Escola PDFVitoria A Fonseca100% (4)
- 6 - Soares - Existe Ideologia de Gênero Na EducaçãoDocumento4 páginas6 - Soares - Existe Ideologia de Gênero Na EducaçãoJuan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- 1 - Porque História e Geografia Ajudam A Criar Um Ser Humano Melhor PDFDocumento3 páginas1 - Porque História e Geografia Ajudam A Criar Um Ser Humano Melhor PDFJuan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- 2, 5, 8 e 11 - Dicionário Do Ensino de História PDFDocumento11 páginas2, 5, 8 e 11 - Dicionário Do Ensino de História PDFJuan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- 5 - Andre Segal - Por Uma Didática Da DuraçãoDocumento16 páginas5 - Andre Segal - Por Uma Didática Da DuraçãoJuan Da Silva Lemos100% (2)
- 2, 5 e 11 - Dicionário Do Ensino de História PDFDocumento11 páginas2, 5 e 11 - Dicionário Do Ensino de História PDFJuan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- II Sihtp Caderno de Resumos PDFDocumento144 páginasII Sihtp Caderno de Resumos PDFJana de PaulaAinda não há avaliações
- Marco de Marinis - A Direção e Sua Superação No Teatro Do Século XXDocumento15 páginasMarco de Marinis - A Direção e Sua Superação No Teatro Do Século XXJoana Poppe100% (1)
- Dissertação - As Malhas Do Poder - Uma Análise Da Elite de Juiz de Fora Na Segunda Metade Do Século XIXDocumento105 páginasDissertação - As Malhas Do Poder - Uma Análise Da Elite de Juiz de Fora Na Segunda Metade Do Século XIXTanisadanAinda não há avaliações
- Introdução Ao OrientalismoDocumento64 páginasIntrodução Ao OrientalismoWill GomesAinda não há avaliações
- Universidade Medieval Do Século XiiiDocumento14 páginasUniversidade Medieval Do Século XiiiMoacir100% (1)
- CHARTIER, R. - A História Ou A Leitura Do TempoDocumento44 páginasCHARTIER, R. - A História Ou A Leitura Do TempoLourenço Loureiro100% (2)
- PDF Livro Historia ESDocumento727 páginasPDF Livro Historia ESdarkerberusAinda não há avaliações
- Fichamento História Social Hebe CastroDocumento5 páginasFichamento História Social Hebe CastroLucyana NobreAinda não há avaliações
- Resumo - LaCapra - A História em Trânsito...Documento2 páginasResumo - LaCapra - A História em Trânsito...roneyAinda não há avaliações
- Introdução À História Pública. Marta Rovai e Juniele Almeida.-16-24Documento9 páginasIntrodução À História Pública. Marta Rovai e Juniele Almeida.-16-24Késsia AraujoAinda não há avaliações
- O Mundo Como TextoDocumento15 páginasO Mundo Como TextoCristián Olivares AcuñaAinda não há avaliações
- JENKINS K A História RepensadaDocumento19 páginasJENKINS K A História Repensadath2013100% (2)
- Educação Na ContemporaneidadeDocumento31 páginasEducação Na ContemporaneidadeDamiãoAmitiFagundesAinda não há avaliações
- LEO KOFLER - Contribución A La Historia de La Sociedad BurguesaDocumento159 páginasLEO KOFLER - Contribución A La Historia de La Sociedad BurguesaIago MacedoAinda não há avaliações
- Diálogos - Revista Do Departamento de História e Do Programa de Pós-Graduação em História 1415-9945Documento7 páginasDiálogos - Revista Do Departamento de História e Do Programa de Pós-Graduação em História 1415-9945Retrato VenturaAinda não há avaliações
- Decifrando As Fugas Escravas: Narrativas, Senhores e Fujões Na Cidade Do Rio de Janeiro (1840-1850)Documento21 páginasDecifrando As Fugas Escravas: Narrativas, Senhores e Fujões Na Cidade Do Rio de Janeiro (1840-1850)Fernanda PuchinelliAinda não há avaliações
- RODRIGUES, Lucas. As Formas Do Perene. Dissert. MestrDocumento524 páginasRODRIGUES, Lucas. As Formas Do Perene. Dissert. MestrFabio ZarattiniAinda não há avaliações
- A Fundamental Diferença Entre o Conceito de Tempo Na Histórica e Na FísicaDocumento9 páginasA Fundamental Diferença Entre o Conceito de Tempo Na Histórica e Na FísicaAguinaldo GomesAinda não há avaliações
- Dom Juan MoliereDocumento95 páginasDom Juan MoliereLucas SantosAinda não há avaliações
- Colecao Histria Do Tempo Presente - Volume I PDFDocumento253 páginasColecao Histria Do Tempo Presente - Volume I PDFraphapeixotoAinda não há avaliações
- Vainfas, Ronaldo (1995) - A Heresia Dos IndiosDocumento142 páginasVainfas, Ronaldo (1995) - A Heresia Dos IndiosTamara Oliveira100% (1)
- Ementas Teorias de CinemaDocumento4 páginasEmentas Teorias de CinemaZelloffAinda não há avaliações
- Camila BiranoskiDocumento106 páginasCamila BiranoskiMatheus HatschbachAinda não há avaliações
- Programa Da Disciplina Brasil IVDocumento12 páginasPrograma Da Disciplina Brasil IVLeila VelezAinda não há avaliações
- Aprendendo História - Reflexão e EnsinoDocumento144 páginasAprendendo História - Reflexão e EnsinoTyroneMello100% (4)
- Nobrezas Do Novo Mundo Brasil e Ultramar Hispanico Seculos XVIIDocumento260 páginasNobrezas Do Novo Mundo Brasil e Ultramar Hispanico Seculos XVIIMonalisa Oliveira100% (1)
- As Influências Do Trabalho Docente Feminino Na Cultura Escolar Do Extremo Oeste Paulista (1932-1960)Documento405 páginasAs Influências Do Trabalho Docente Feminino Na Cultura Escolar Do Extremo Oeste Paulista (1932-1960)Jorge MarianoAinda não há avaliações
- AS PRINCIPAIS LIMITAÇÕES DA HISTORIOGRAFIA AFRICANA Um Olhar Sobre A História MoçambicanaDocumento19 páginasAS PRINCIPAIS LIMITAÇÕES DA HISTORIOGRAFIA AFRICANA Um Olhar Sobre A História MoçambicanaCoroa FernandesAinda não há avaliações
- Imagem e Reflexo - Ruy de Oliveira Andrade FilhoDocumento96 páginasImagem e Reflexo - Ruy de Oliveira Andrade FilhoamandasilosAinda não há avaliações
- Livro Introdução Aos Estudos Históricos PDFDocumento118 páginasLivro Introdução Aos Estudos Históricos PDFCarlos Larata100% (3)
- Marketing Eleitoral: O passo a passo do nascimento de um candidatoNo EverandMarketing Eleitoral: O passo a passo do nascimento de um candidatoAinda não há avaliações
- Diário de bordo: Um voo com destino à carreira diplomáticaNo EverandDiário de bordo: Um voo com destino à carreira diplomáticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Gestão Do Tempo : 10 Passos Simples Para Aumentar A Produtividade: Gestão do TempoNo EverandGestão Do Tempo : 10 Passos Simples Para Aumentar A Produtividade: Gestão do TempoNota: 1 de 5 estrelas1/5 (1)
- Cadeia De Hábitos: Descubra 97 Hábitos Simples Que Podem Mudar Sua VidaNo EverandCadeia De Hábitos: Descubra 97 Hábitos Simples Que Podem Mudar Sua VidaNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (10)
- Jesus todo dia: Encontre‐se com Deus todos os dias e deixe o amor transbordar na sua vidaNo EverandJesus todo dia: Encontre‐se com Deus todos os dias e deixe o amor transbordar na sua vidaNota: 4 de 5 estrelas4/5 (13)
- Sindicalismo e Associativismo dos Trabalhadores em Educação no Brasil - Volume 3: Com escritos sobre a Argentina, Colômbia, Inglaterra, Japão e PeruNo EverandSindicalismo e Associativismo dos Trabalhadores em Educação no Brasil - Volume 3: Com escritos sobre a Argentina, Colômbia, Inglaterra, Japão e PeruAinda não há avaliações
- 1.500 Palavras por Hora: Como Escrever Mais Rápido, Fácil e MelhorNo Everand1.500 Palavras por Hora: Como Escrever Mais Rápido, Fácil e MelhorNota: 3 de 5 estrelas3/5 (1)
- Conformismo e resistência: Escritos de Marilena Chaui, vol. 4No EverandConformismo e resistência: Escritos de Marilena Chaui, vol. 4Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Faça o tempo trabalhar para você: e alcance resultados extraordináriosNo EverandFaça o tempo trabalhar para você: e alcance resultados extraordináriosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Mulheres poderosas não esperam pela sorte: Saiba como encontrar o homem certo e fazer ele se apaixonar por vocêNo EverandMulheres poderosas não esperam pela sorte: Saiba como encontrar o homem certo e fazer ele se apaixonar por vocêNota: 4 de 5 estrelas4/5 (6)
- Neurociência aplicada a técnicas de estudos: Técnicas práticas para estudar de forma eficienteNo EverandNeurociência aplicada a técnicas de estudos: Técnicas práticas para estudar de forma eficienteNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (15)
- Assexualidade: subjetividades emergentes no século XXINo EverandAssexualidade: subjetividades emergentes no século XXIAinda não há avaliações
- Manipulações Midiáticas em Perspectiva Histórica: Historiografia da MídiaNo EverandManipulações Midiáticas em Perspectiva Histórica: Historiografia da MídiaAinda não há avaliações
- Leituras afro-brasileiras: volume 2: Contribuições Afrodiaspóricas e a Formação da Sociedade BrasileiraNo EverandLeituras afro-brasileiras: volume 2: Contribuições Afrodiaspóricas e a Formação da Sociedade BrasileiraAinda não há avaliações
- A casa e a rua: Espaço, cidadania, mulher e morte no BrasilNo EverandA casa e a rua: Espaço, cidadania, mulher e morte no BrasilAinda não há avaliações
- História das Ideias do Ensino da Dança na Educação BrasileiraNo EverandHistória das Ideias do Ensino da Dança na Educação BrasileiraAinda não há avaliações
- Um projeto de província nos sertões: Terra, povoamento e política na freguesia de São Pedro do Fanado de Minas Novas – Minas Gerais (1834-1857)No EverandUm projeto de província nos sertões: Terra, povoamento e política na freguesia de São Pedro do Fanado de Minas Novas – Minas Gerais (1834-1857)Ainda não há avaliações