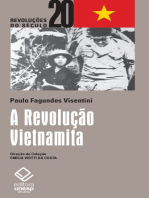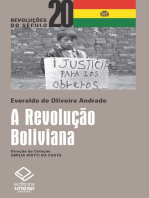Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Feminismo e Ideologia de Gênero
Enviado por
RS770 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
31 visualizações105 páginasEste documento descreve a primeira onda do feminismo, começando no Renascimento e se fortalecendo durante as revoluções liberais do século XVIII. Lideranças femininas como Mary Wollstonecraft e Olympe de Gouges defenderam os direitos das mulheres à educação e participação política. A primeira onda do feminismo lutou principalmente pelo sufrágio feminino e igualdade de direitos civis.
Descrição original:
Agustin Laje
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoEste documento descreve a primeira onda do feminismo, começando no Renascimento e se fortalecendo durante as revoluções liberais do século XVIII. Lideranças femininas como Mary Wollstonecraft e Olympe de Gouges defenderam os direitos das mulheres à educação e participação política. A primeira onda do feminismo lutou principalmente pelo sufrágio feminino e igualdade de direitos civis.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
31 visualizações105 páginasFeminismo e Ideologia de Gênero
Enviado por
RS77Este documento descreve a primeira onda do feminismo, começando no Renascimento e se fortalecendo durante as revoluções liberais do século XVIII. Lideranças femininas como Mary Wollstonecraft e Olympe de Gouges defenderam os direitos das mulheres à educação e participação política. A primeira onda do feminismo lutou principalmente pelo sufrágio feminino e igualdade de direitos civis.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 105
Capítulo 2: Feminismo e ideologia de gênero
A primeira onda do feminismo
Dado que o feminismo não pode ser abordado como uma
ideologia unívoca, suas diversas expressões devem ser
diferenciadas através de “ondas” que se vão sucedendo uma atrás
da outra através da história, e que levam consigo importantes
mudanças político-teóricas em relação a suas predecessoras. De tal
sorte que, para fugir dos discursos reducionistas que nos levariam a
generalizações perigosas, torna-se necessário repassar
rapidamente as principais características destas distintas
manifestações do feminismo. Com efeito, o feminismo radical, sobre
o qual nós concentraremos nossas críticas aqui, nada tem a ver com
outros feminismos que a história registrou e que nós, longe de
criticá-los, cremos que representaram progressos sociais
necessários.
As origens do que podemos chamar a “primeira onda” feminista
encontram-se no Renascimento (séculos XV e XVI), o período de
transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Mulheres de
grande inteligência começam a reclamar o direito de receber
educação de maneira equitativa a recebida pelos homens, começam
a perceber e a fazer percebido o papel socialmente relegado que a
mulher de então possuía. Novos ares intelectuais fazem-se sentir,
especialmente na Europa; os clássicos são relidos sem as lentes
arquetípicas do mundo medieval. E aí, neste momento da história,
são produzidas obras como A cidade das damas de Christine de
Pizan, escrita em 1405, e A igualdade dos sexos do sacerdote
Poulain de la Barre, publicada em 1671. Entre essas duas obras,
Cornelius Agrippa publica a célebre obra Da nobreza e excelência
do sexo feminino em 1529. O padre Du Boscq escreve a favor da
educação aberta ao público feminino em A mulher honesta. Ao
término do século XVII, o filósofo Fontenelle publica suas
Conversações sobre a pluralidade dos mundos. À lista se pode
acrescentar A noiva perfeita de Antoine Héroët, O discurso douto e
sutil de Margarita de Valois, entre outros exemplos destes novos
ares intelectuais concentrados no flamejante brado da mulher e pela
mulher.
Porém, a primeira onda feminista só se expressará com pleno
vigor com as novas condições sociais, políticas e econômicas
advindas das revoluções de inspiração liberal do século XVIII. Não é
de se estranhar que tenha sido assim, considerando o quadro
ideológico no qual as revoluções originaram-se e desenvolveram-se,
fundado na igualdade natural entre os homens e na liberdade
individual. E isto sem deixar de considerar, é claro, a importância do
fator econômico: estas revoluções que consigo trouxeram ao mundo
o capitalismo liberal criaram novas condições de vida para as
mulheres, que passaram a ver diante de si todo um novo universo
cheio de possibilidades na vida fora de lar.
Este primeiro feminismo surgido das entranhas das revoluções
liberais lutara, em termos gerais, pelo acesso à cidadania por parte
da mulher: o direito à participação política e o direito de acesso à
educação que, até então, estivera reservado aos homens; estas são
as demandas que estruturam o discurso do nascente feminismo de
caráter liberal. As idéias filosóficas difundidas então são essenciais
para este discurso. Voltaire postula a igualdade de mulheres e
homens, e chama às primeiras de “o belo sexo”. Diderot disse às
mulheres “compadeço-me de vós” e denuncia que ao largo da
história “foram tratadas como imbecis”. Montesquieu determina que
a mulher tem tudo o que é necessário para poder tomar parte na
vida política. Condorcet publica em 1790 o texto Sobre a admissão
das mulheres ao direito de cidadania, no qual conclui que os
princípios democráticos que foram inaugurados cabem a todos por
igual independentemente do sexo. “Por que alguns seres expostos a
gravidez e a indisposições passageiras não poderiam exercer
direitos que nunca se pensou privar àqueles que têm gota todos os
invernos ou que se resfriam facilmente?”, ironiza.
É neste contexto que nasceram estas novas demandas, ao
compasso das novas idéias, em especial no epicentro das
revoluções de inspiração liberal: Inglaterra, França e EUA.
Costuma-se tomar como obra fundamental da primeira onda
feminista o livro Reivindicação dos direitos da mulher, da inglesa
Mary Wollstonecraft, centrado na igualdade de inteligência entre
homens e mulheres e em uma reivindicação da educação feminina.
Nascida em 1759 e falecida em 1797, Wollstonecraft se destaca
como uma das importantes escritoras de seu tempo, apesar de não
ter recebido uma educação maior do que a de qualquer criado. Sua
carreira como escritora nasce quando é encarregada de escrever
Pensamentos acerca da educação das meninas, onde já começa a
formar suas idéias em defesa de uma educação que incluísse o
sexo feminino, e chega ao auge com o citado Reivindicação dos
direitos da mulher, redigido em apenas seis semanas de 1792, no
qual advoga pela participação política da mulher, o acesso a
cidadania, a independência econômica e a inclusão no sistema
educativo.
Quem reconhecerá o legado de Wollstonecraft durante boa
parte do século XIX na Inglaterra não será, no entanto, uma mulher,
mas um homem: John Stuart Mill. Seu livro A sujeição das mulheres,
publicado em 1869, é sua obra mais importante nesta matéria,
editada não somente em seu país de origem, mas também nos
EUA, Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, Áustria, Suécia, Itália,
Polônia, Rússia, Dinamarca, entre outros países.
Neste livro, Mill dá uma forte ênfase na desigualdade perante a
lei entre homens e mulheres, criticando especialmente o regime
marital de sua época, o qual concedia direitos legais sobre os filhos
somente ao pai (nem com a morte do marido a mãe gozava de
custódia legal dos filhos), alienava qualquer propriedade que por
acaso a esposa tivesse em favor de seu marido, e fazia dela
praticamente uma propriedade dele: “A mulher não pode adquirir
bens senão para ele; desde o instante em que obtém alguma
propriedade, ainda que seja por herança, é para ele ipso facto”[66]
escreve John Stuart Mill. Não obstante – é justo sublinhá-lo – o seu
trabalho não foi meramente intelectual. Também levou, como
deputado da Câmara dos Comuns, estas demandas ao debate
político. Assim, propôs (sem êxito) que, no quadro de uma reforma
eleitoral que se trabalhava naqueles dias, trocassem a a palavra
“homem” por “pessoa”, de modo que pudesse habilitar o voto
feminino.
Neste cenário, em 1869, a Inglaterra vê nascer a Sociedade
Nacional do Sufrágio Feminino, e, em 1903, a União Social e
Política Feminina,[67] cujo lema “Voto para as mulheres” – nome
também de seu jornal semanal – pressiona o Parlamento para que
inclua politicamente as mulheres. O objetivo seria alcançado em
1918, depois de vários anos de muita tensão política e social.
Por sua vez, em França, a primeira onda feminista tem sua
origem na polêmica revolução de 1789, época em que surge uma
manifestação do feminismo da qual pouco se conhece, quando um
grupo de mulheres entende que ficaram excluídas da Assembléia
Geral criada após a Revolução, e então fazem ouvir suas vozes no
chamado “Caderno de Queixas”.
Com o avançar da Revolução, a exclusão das mulheres se
acentua: em 1793 os revolucionários dissolvem os clubes femininos
e estabelecem um norma segundo a qual, por exemplo, não podem
reunir-se na rua mais do que cinco mulheres. Em 1795 se proíbe
expressamente às mulheres assistirem assembléias políticas. Nas
chamadas “codificações napoleônicas” se consagra, entre outras
coisas, a perpétua menoridade das mulheres. O sistema
educacional estatal nascente exclui a mulher do nível médio e
superior, mesmo que sua educação primária se declare desejável.
Um dado dá cor a toda a época: um dos grupos mais radicais da
Revolução Francesa, “Os Iguais”, traz a lume um panfleto intitulado
Projeto de lei que proíba às mulheres de aprenderem a ler. O
mesmíssimo Jean-Jacques Rousseau, cujo pensamento influenciou
de maneira determinante a Revolução Francesa, escreve contra a
inclusão educacional e política da mulher no Emílio (é precisamente
a este livro que Wollstonecraft responde em seu Reivindicação...).
Muitas mulheres acabam sendo guilhotinadas pelos
revolucionários, como Olympe de Gouges, autora da Declaração
dos Direitos da Mulher e da Cidadã, texto publicado em 1791, que
buscava equiparar mulheres e homens juridicamente. Como um
corolário da sua obra, de Gouges escreveu: “A mulher nasce livre e
permanece igual ao homem em direitos. As distinções sociais
somente podem estar fundadas na utilidade comum”; e segue: “As
leis devem ser a expressão da vontade geral; todas as cidadãs e
cidadãos devem participar da sua elaboração pessoalmente ou por
meio de seus representantes”. É toda uma reivindicação de direitos
civis e políticos para seu sexo. Anos mais tarde quem tomará a
bandeira da mulher, como na Inglaterra fizera Mill, será um homem:
León Richier, fundador do jornal Os direitos da mulher, em 1869, e
organizador do Congresso Internacional dos Diretos da Mulher, em
1878. Em 1909 se fundará a União Francesa para o Sufrágio
Feminista, porém o direito de votar será conquistado somente em
1945.
Nos EUA, o ano que se costuma tomar como referência do
surgimento da primeira onda de feminismo é 1848, ano em que se
redige a Declaração de Seneca Falls, o texto fundacional do
sufrágio americano. Este é o resultado de uma reunião que
Elizabeth Cady Stanton, uma ativista do abolicionismo da
escravidão, convoca em uma capela metodista de Nova York, com a
finalidade de “estudar as condições e direitos sociais, civis e
religiosos da mulher”, tal como pregavam os anúncios que foram
distribuídos.
Assim como Olympe de Gouges baseou sua Declaração dos
Direitos da Mulher na Declaração dos Direitos dos Homens, a
Declaração de Seneca Falls se baseia na Declaração de
Independência dos EUA. A filósofa Amelia Valcarcel explica que o
documento surgiu sob “postulados jusnaturalistas e lockeanos,
acompanhados da idéia de que os seres humanos nascem livres e
iguais”.[68] Entre outras coisas, nota-se ali que “todos os homens e
mulheres são criados iguais; que estão dotados pelo criador de
certos direitos inalienáveis, entre os quais figura a vida, a liberdade
e a busca da felicidade”. Há especial ênfase na reivindicação dos
direitos de participação política para a mulher e contra as restrições
de caráter econômico imperantes na época, tais como a proibição
de possuir propriedades e dedicar-se a uma atividade comercial.
Importantes políticos e pensadores americanos como Abraham
Lincoln e Ralph Emerson apóiam a causa das mulheres. Em 1866, o
Partido Republicano apresenta a décima-quarta Emenda à
Constituição, na qual se concede o voto aos escravos, porém a
mulher continua excluída. Dois anos mais tarde, em 1868, os EUA
vêem nascer a Associação Nacional para o Sufrágio Feminino, e no
ano seguinte a Associação Americana para o Sufrágio Feminino.
Nesse mesmo ano de 1869 o primeiro estado americano concede o
voto para as mulheres: Wyoming. Porém, apenas em 1918, graças a
um Congresso Republicano, seria aprovada a décima-nona
Emenda, que tornou possível voto feminino, setenta anos depois da
Declaração de Seneca Falls.
Vimos, da forma mais sintética que nos foi possível expor, que
em seus princípios as revoluções liberais trouxeram igualdade e
liberdade; porém, somente para os homens. A lei continuava sendo
díspare, e as mulheres permaneciam um conjunto humano pré-
cívico, à margem do sistema educativo. Contudo, o novo quadro
filosófico e as novas realidades econômicas que as revoluções
liberais trouxeram a tona, começaram a transformar a moral da
época, fazendo com que a preocupação pela situação da mulher
surgisse com grande força. A primeira onda do feminismo, de
caráter liberal, também conhecida como “sufragismo”, caracterizou-
se fundamentalmente pelo acento na igualdade perante a lei,
reivindicando direitos cívicos e políticos para o sexo feminino, fato
que, longe de representar um mal social, foi um grande feito em
favor da justiça.
O fim desta história é bem conhecido. Em muitos países
industrializados as mulheres conquistaram os direitos políticos antes
do fim da Segunda Guerra Mundial. No pós-Guerra, o voto feminino
era universalmente reconhecido em todos os países de regime
democrático.
No entanto, o feminismo não tinha, de maneira alguma,
esgotado a sua razão de ser, mas, pelo contrário, estava chamado a
reinventar-se. Não outro senão Ludwig von Mises, um dos
referenciais máximos da Escola Austríaca de Economia, advertiu,
em 1922, que o feminismo começava a se desviar, e prenunciou por
quais caminhos seguiria o seu desenvolvimento; deixou tal aviso
plasmado num parágrafo que vale a pena reproduzir, uma
interessante leitura para muitos libertários de hoje, os quais,
culturalmente, mais parecem funcionários do neo-marxismo e, por
isso, deveriam ter em consideração essas palavras: “Enquanto o
movimento feminista se limite a buscar igualar os direitos jurídicos
de mulheres e homens, dar segurança quanto às possibilidades
legais e econômicas de desenvolver suas faculdades e de
manifestá-las mediante atos que correspondam a seus gostos, a
seus desejos e a sua situação financeira, serão somente um ramo
do grande movimento liberal que encarna a idéia de uma evolução
livre e tranqüila. Se, ao ir além destas reivindicações, o movimento
feminista crê que deve combater instituições da vida social com a
esperança de remover, por este meio, certas limitações que a
natureza impôs ao destino humano, então já é um filho espiritual do
socialismo. Porque é característica própria do socialismo buscar nas
instituições sociais as raízes das condições dadas pela natureza, e,
portanto, independentes da ação do homem, e pretender, ao
reformá-las, reformar a natureza humana mesma”.[69]
Não se equivocava Mises; e foi exatamente assim que as
subseqüentes ondas do feminismo não somente se despojaram do
discurso liberal, mas, sobretudo, postaram-se numa outra frente de
batalha.
A segunda onda do feminismo
Se a primeira onda do feminismo pode ser entendida como a
preocupação pelo lugar que a mulher ocupa numa sociedade
iluminada pelo quadro conceptual do liberalismo, a segunda onda
feminista manifesta a mesma preocupação, porém, vista com as
lentes da ideologia marxista e do socialismo.
Aqui devemos fazer um esclarecimento importante: muitos
estudiosos do feminismo costumam dar um salto da onda sufragista,
que acabamos de ver, diretamente para a “onda contemporânea”
(chamadas por eles de “segunda onda”) que tem seu ponto de
partida em 1968, ano do “Maio Francês”. Ignoramos a razão disto,
pois, neste esquema, o feminismo de viés marxista acaba
marginalizado na história do feminismo. De tal modo que decidimos
recuperá-lo, pondo-o em lugar de destaque, e designando-o como a
“segunda onda” do feminismo, pela razão de que seu ataque à
propriedade privada e ao capitalismo são elementos que
perpassarão as diversas ondas até chegar ao feminismo de nossos
tempos, constituindo a parte central do seu discurso.
As raízes mais profundas do feminismo marxista encontram-se
nos socialistas utópicos como Saint-Simon e Fournier. Com efeito,
em seu projeto utópico contrário ao capitalismo eles pensaram com
afinco na emancipação da mulher através da emancipação total da
sociedade, através do “amor fraterno” e da inclusão feminina na vida
econômica-produtiva. As utopias socialistas, além de se voltarem
contra a propriedade privada, projetaram também o
desaparecimento do matrimônio como instituição social.
No entanto, o verdadeiro ponto de partida do feminismo
marxista será dado, descartando-se o método utópico, por Friedrich
Engels. Depois que Karl Marx, seu sócio intelectual, estava morto,
ele aprofundou no materialismo dialético a questão da mulher e da
família, em sua obra A origem da família, a propriedade privada e o
Estado, publicada em 1884.
Ali, Engels apresenta um trabalho de base antropológica
(fundamentado principalmente nos estudos do célebre antropólogo
Lewis Morgan) através do qual vai seguindo um presumido
esquema de evolução do homem e da sociedade, desde o selvagem
até a civilização, focando nas mudanças acontecidas na instituição
familiar. Seu interesse final é mostrar que a família monogâmica é
apenas um tipo de família, nascida como reflexo do advento e
desenvolvimento da propriedade privada. Anteriormente a ela,
teriam existido esquemas familiares muito diferentes dos de hoje: “o
estudo da história primitiva nos revela um estado de coisas em que
os homens praticavam a poligamia e suas mulheres a poliandria e
em que, por conseguinte, os filhos de uns e outros se consideravam
comuns”.[70]
Engels, assumindo que essa afirmação era válida, para dar
sentido a sua teoria, recorre, como a forma mais antiga de ligação
entre os sexos, ao chamado “matrimônio por grupos”, no qual cada
homem teria muitas mulheres e, supostamente, cada mulher teria
muitos homens. No estado selvagem, nem mesmo o incesto
encontra limites morais, e Engels cita notas de Marx a respeito: “Nos
tempos primitivos, a irmã era a esposa, e isto era moral”.[71] De tal
sorte que a primeira exclusão moral foi feita à relação sexual entre
pais e filhos; a segunda, entre irmãos. Como veremos mais tarde, o
feminismo da terceira onda e o feminismo queer outorgaram ao
incesto e à pedofilia o lugar de uma das suas reivindicações mais
desprezíveis.
Porém, voltando ao texto que nos compete, subsiste um
problema-chave no sistema de parentesco sob esta estrutura
familiar proposta por Engels em uma suposta idade dourada: a
descendência se estabelece exclusivamente por linha materna,
posto que nos “matrimônios por grupo” só se tem segurança do
vínculo materno. Desta forma Engels nos mostra uma comunidade
primitiva e virtualmente selvagem na qual prevalece a mulher: “a
economia doméstica comunista significa o predomínio da mulher na
casa, que é o mesmo que o reconhecimento exclusivo da própria
mãe, na impossibilidade de conhecer com certeza o verdadeiro pai;
significa uma profunda estima pelas mulheres[...]. Habitualmente, as
mulheres governavam a casa; os mantimentos eram comuns,
porém, desgraçado era o pobre do marido ou amante, preguiçoso
demais ou inábil em trazer seu quinhão para o fundo de
mantimentos da comunidade!”.[72]
Neste aparente sistema de comunismo primitivo imperava,
como vemos, um regime matriarcal. A Engels não ocorre pensar em
questões tão elementares como a diferença física existente entre
homens e mulheres, e o que isto significou para a dominação dos
primeiros sobre as segundas em épocas passadas quando, como é
conhecido, o poder estava intimamente ligado à força física. Engels
chega a defender o paraíso misândrico que descreve arguindo (e
fantasiando) que as mulheres de então estavam em melhor posição
em relação às mulheres das épocas modernas: “a senhora da
civilização, rodeada de aparentes homenagens, desconhece todo
trabalho efetivo, tem uma posição social muito inferior a da mulher
bárbara, que trabalha firmemente, vê-se em seu povoado
reconhecida como uma verdadeira dama (lady, frowa, frau =
senhora) e de fato o é por sua própria posição.[73]
Como bom materialista dialético, Engels descobrirá que o
desenvolvimento das formas de instituição familiar constitui um
reflexo do desenvolvimento das condições econômicas. A
acumulação de riquezas deu início, mais cedo ou mais tarde, ao
surgimento da propriedade privada. Com efeito, a divisão do
trabalho familiar colocou sobre o homem a função de procurar
alimentos e ferramentas, e assim ele foi aos poucos se apropriando
destas coisas. O problema subsistente era que, dado que a
descendência se estabelecia por linha materna, os filhos herdavam
da mãe e não do pai. Assim, o homem tomava preeminência sobre
a mulher na medida em que aumentava a riqueza, e isso o permitirá
começar a modificar também a forma em que se estabelecia a linha
de descendência e, portanto, o direito de herança. Nasce aqui no
discurso marxista um regime cujo nome estrutura o discurso do
feminismo contemporâneo: “Resultou daí uma espantosa confusão,
a qual somente se poderia remediar e foi em parte remediada com a
transição para o patriarcado[74]”, conclui o sócio de Marx.
O que nos diz Engels em resumo? Que é a aparição da
propriedade privada que destrói o “paraíso comunista matriarcal” e
nos traz o regime de dominação masculina. A propriedade privada,
causa da exploração entre as classes, é causa também da
exploração entre os sexos. “A deposição do direito materno foi a
grande derrota histórica do sexo feminino em todo o mundo. O
homem empunhou também as rédeas na casa; a mulher se viu
degradada, convertida em servidora, em escrava da luxúria do
homem, em um simples instrumento de reprodução”[75], escrevia
Engels.
Chama a atenção o paralelo linguístico que se faz com o
conflito de classes.[76] Parece, com efeito, que se estava falando
exatamente da mesma coisa, e de fato teriam, segundo a teoria
marxista, a mesma origem na existência da propriedade privada.
Mas se coincidem na origem não deveriam também coincidir nas
formas de se provocar o desfecho? Se algo faltava para determinar
um tal paralelo, Engels cunha uma frase determinante: “O homem é
na família o burguês; a mulher representa nela o proletariado”[77]. A
operação hegemônica não pode ser mais clara: luta de sexos e luta
de classes têm a mesma origem e por isso deve se unir para acabar
com o sistema que reproduz a dominação das partes subalternas
claramente identificadas: trabalhadores e mulheres.
É importante ressaltar também o mito que se esconde por trás
destas idéias, que não é outro senão o do “bom selvagem”, mito
banal que permitiu a Thomas More compor a sua Utopia, a
Montaigne idealizar o índio americano nos Ensaios, a Rousseau
fantasiar com seu “homem em estado de natureza” (obviamente,
cada um com suas grandes diferenças), e à esquerda de nossos
tempos delirar com seu culto ao indigenismo. O mito funciona da
maneira mais simples: constrói-se uma antropologia de ficção na
qual as condições de existência são um reflexo do nosso desejo de
um mundo perfeito, em seguida busca-se um bode expiatório que
tenha provocado a “queda”, e se apresentam os meios através dos
quais é factível voltar atrás, embora seguindo-se supostamente
adiante (daí que, paradoxalmente, digam-se “progressistas”). Esses
meios não costumam ser outros senão as revoluções sangrentas –
como se faz explícito na proposta de Montaigne, ou do próprio
Engels – cujos sofrimentos são curados pela construção, ou melhor,
a devolução do paraíso à Terra. De modo que nos encontramos
diante de um mito messiânico, diante de uma secularização do
movimento milenarista sob o qual estiveram alguns cristãos dos
primeiros tempos, cuja convicção indicava que Cristo traria o seu
reino à Terra durante mil anos. Assim, mediante uma transformação
repentina, a Terra se faz Paraíso; retorna-se ao estado anterior a
queda, no caso dos milenaristas, por obra e graça de Deus; no caso
dos esquerdistas, por obra e graça da abolição da propriedade
privada. Vale notar, portanto, o caráter de religião política que
encerra o marxismo.
Quais são então as consequências estratégicas e práticas que
derivam deste feminismo marxista em comparação com o feminismo
liberal explicado anteriormente? O feminismo liberal entendia que
era possível resolver os problemas que ele mesmo apresentava
introduzindo-se reformas eleitorais e educativas[78] (foi de fato o que
John Stuart Mill tentou fazer pessoalmente), mas para o marxista a
questão só pode ser solucionada por meio de uma revolução
violenta que acabe com a propriedade privada e com a família como
instituição social, pois é nestas coisas que se encontra o germe do
mal: “A liberação da mulher exige, como condição primeira, a
reincorporação de todo o sexo feminino à indústria social, o que por
sua vez requer que se suprima a família individual como unidade
econômica da sociedade”[79], conclui Engels[80].
Isto é o que será tentado, precisamente, na União Soviética
após o triunfo revolucionário do bolchevismo, como logo veremos
com mais profundidade. Leon Trotsky, pai do Exército Vermelho[81],
já declarava nos Escritos sobre a questão feminina, em clara
sintonia com Engels, que “mudar a fundo a situação da mulher não
será possível enquanto não forem mudadas todas as condições de
vida social e doméstica”. O que significa “mudar a fundo”? Trata-se
de um eufemismo para dizer de outra forma o que Marx apontou
claramente em suas Teses sobre Feuerbach (tese 4): “Se a origem
da família celestial não é mais que a pré-figuração da mesma família
terrena humana, é esta que deve ser destruída”.
O certo é que a estratégia de hegemonizar as demandas
femininas por parte dos movimentos do proletariado, estabelecida
pelo próprio Engels, foi posta em prática antes mesmo da revolução.
Em Minhas lembranças de Lênin, a marxista alemã Clara Zetkin
conta que “o camarada Lênin falou comigo repetidas vezes sobre a
questão feminina. Efetivamente, atribuía ao movimento feminino
uma grande importância, como parte essencial do movimento de
massas, do qual, em determinadas condições, pode ser uma parte
decisiva”. O panfleto Às trabalhadoras de Kiev, lançado dois anos
antes da revolução de outubro pelos bolcheviques, vincula o
problema da mulher ao problema operário: “Na fábrica, na oficina,
ela trabalha para um empresário capitalista, em casa trabalha para a
família. Milhares de mulheres vendem sua força de trabalho ao
capital; milhares de escravos alugam seu trabalho; milhares e
centenas de milhares sofrem o jugo da família e a opressão social
(...) Camaradas trabalhadoras! Os companheiros trabalham duro
junto a nós. Seu destino e o nosso destino é o mesmo”. Poderia ser
mais clara a estratégia hegemônica?
Aleksandra Mijaylovna Kollontay foi uma das feministas
soviéticas mais reconhecidas. Um de seus escritos mais famosos é
O comunismo e a família, publicado em 1921, no qual retoma o mito
engelsiano do paraíso matriarcal original que acaba dizimado pelo
aparecimento da propriedade privada e que, com o desenvolvimento
do capitalismo, as mulheres passam a ser duplamente oprimidas:
como trabalhadoras fora do lar e como donas de casa dentro dele.
“O capitalismo impôs sobre os ombros da mulher trabalhadora um
peso esmagador; ela foi convertida em operária, sem aliviá-la dos
seus cuidados de dona de casa e mãe”.[82]
Kollontay entende que o dever do comunismo não consiste em
devolver a mulher ao seu lar, mas em despojá-las das obrigações
domésticas. Neste sentido, a feminista soviética prediz: “Na
sociedade comunista de amanhã, estes trabalhos [domésticos]
serão realizados por uma categoria especial de mulher trabalhadora
dedicada unicamente a estas ocupações”[83]. Um sistema de
planejamento central é, obviamente, a forma para se implementar
este esquema; isto é, uma sociedade na qual não é a ordem
espontânea gerada pelo mercado, mas a ordem deliberada imposta
por uma autoridade totalizadora que regerá a vida das pessoas até
nos minúsculos detalhes.
É interessante analisar as promessas que Kollontay faz em seu
escrito a respeito do que a sociedade comunista pode brindar às
mulheres. Vejamos algumas delas: “Em uma sociedade comunista a
mulher não terá que passar suas escassas horas de descanso na
cozinha, porque na sociedade comunista existirão restaurantes
públicos”;[84] “A mulher trabalhadora não terá que se afogar em um
oceano de sujeira tampouco arrebentar a sua vista remendando e
cosendo a roupa durante as noites. Não precisará fazer mais nada
além de levá-la todas as semanas até a lavanderia central para
buscá-la depois lavada e passada”[85]. “A Pátria comunista
alimentará, criará e educará a criança”;[86] etcetera.
O curioso do caso é que muitas das profecias de Kollontay se
cumpriram, não sob o comunismo mas sob o tão odiado capitalismo.
Foi com o triunfo deste sobre aquele, no final do século XX, com a
revolução tecnológica que aconteceu e o barateamento dos
eletrodomésticos que a mulher se emancipou de um sem-número de
tarefas: hoje ela pode lavar e secar a sua roupa sem nem molhar as
mãos; pode cozinhar diversos pratos apenas adicionando água a
alimentos industrializados; e em seguida pode lavar a louça suja em
uma máquina de lavar automática somente apertando alguns
botões; pode limpar o carpete da sua casa com um aspirador
elétrico e remover as manchas mais difíceis da superfície
simplesmente aplicando um pouco do produto adequado. E o
melhor de tudo é que todas essas tarefas deixaram, com o
transcorrer do capitalismo, de ser automaticamente atribuídas às
mulheres, pois também os homens começaram a se encarregar das
tarefas domésticas. Com efeito, é cada vez menos estranho ver um
homem cozinhar para a sua família, ou limpar o banheiro do seu lar,
o que é por si um importante avanço moral que se pode obter, entre
outras razões, graças ao avanço tecnológico que afrouxou a rigidez
da divisão do trabalho no interior da família e que, ao mesmo tempo,
permitiu à mulher aceder a vários postos de trabalho que antes
estavam reservados para o físico masculino. Do mesmo modo, a
competição do mercado fez os produtos domésticos baratearem
rapidamente e se massificarem, deixando de ser privilégio das
classes mais abastadas. Voltaremos a isto mais adiante.
Mas há algo sobre o qual eu gostaria agora de me deter para
demonstrar que o de Kollontay em particular, e o do comunismo em
geral, não é um projeto inocente que busque apenas aliviar o fardo
que se impõe sobre as mulheres. O que se busca é muito mais que
isso: é a geração de uma ordem planejada centralmente que, pondo
o Estado no centro da vida social, totalize todas as relações sociais
absorvendo-as e controlando-as ao seu desejo. De modo que sob o
comunismo seja previsto de forma clara a destruição da instituição
familiar, que será fagocitada pela intervenção estatal. Kollontay o diz
com total clareza: “o Estado dos trabalhadores acudirá em auxílio a
família, substituindo-a; gradualmente, a sociedade irá se encarregar
de todas as obrigações que antes recaíam sobre os pais”[87].
Curiosa concepção de “auxílio”, que longe de garantir a
sobrevivência conduz a destruição daquilo que se pretende ajudar.
Em última instância, portanto, o que a sociedade comunista
exige é a coletivização de tudo o que o homem possa ter, inclusive
seus próprios filhos. Por isso o projeto totalizante não pode
negligenciar aquilo que permite a sobrevivência de qualquer tipo de
totalitarismo: a doutrinação massiva, especialmente das novas
gerações. É assim que Kollontay determina: “O novo homem, da
nossa nova sociedade, será moldados pelas organizações
socialistas, jardins de infância, creches, etc., e muitas outras
instituições deste tipo nas quais a criança passará a maior parte do
seu dia e nas quais as educadoras inteligentes a converterão em um
comunista consciente da magnitude deste inviolável lema:
solidariedade, camaradagem, ajuda mútua e devoção a vida
coletiva”.[88]
Em resumo, a realização do feminismo marxista é a destruição
da família e a sua substituição pelo Estado totalitário e pelo partido.
O feminismo do socialismo real
Antes de abordar a terceira onda do feminismo, queremos
dedicar uma parte deste capítulo à implementação das idéias
feministas engendradas pelo marxismo, e postas em prática com a
experiência da União Soviética a partir de 1917. Com efeito, se a
propriedade privada foi a origem do patriarcado, a progressiva
abolição do regime econômico de propriedades deveria ter
produzido a tão anunciada “libertação da mulher”, como de fato a
propaganda soviética quis que o mundo livre acreditasse estar
realmente acontecendo.
Com o tempo, viríamos a saber que tal libertação não foi senão
mais uma mentira entre tantas outras que o comunismo nos contara.
E quem melhor expôs essa mentira foram um pai e um filho
soviéticos, médicos especializados em sexologia, ex-membros do
Partido Comunista, que levaram adiante um amplo trabalho
sociológico-sexológico que lhes valeu vários anos no campo de
concentração, trabalhos forçados e posterior exílio. Nos referimos
aos doutores Mikhail e August Stern.
O que ocorreu na URSS pode dividir-se em duas etapas: uma
de abertura e niilismo, que ganha força na década de 1920, pouco
depois do triunfo da Revolução; e uma outra etapa de puritanismo e
reação, na qual, mediante todos os meios existentes e por existir,
tentou-se reverter os efeitos sociais nocivos vistos após o período
de relaxamento moral.
A etapa de abertura foi, entre outras coisas, o resultado de
fazer do amor algo puramente “fisiológico”. Em uma palavra,
buscou-se tirar do amor qualquer traço espiritual e moral. Kollontai,
por exemplo, em um ensaio intitulado Um lugar para o Eros alado
instigava a realização dos atos sexuais “como um ato similar a
qualquer outro, a fim de satisfazer necessidades biológicas que só
são um estorvo, e que temos que suprimir tendo em vista o
essencial: que tais atos não interfiram na atividade revolucionária”.
[89] A protagonista do romance O amor de três gerações, de
Kollontai, esboçava: “Ao meu juízo, a atividade sexual é uma
simples necessidade física. Mudo de amante conforme meu humor.
Neste momento, estou grávida, porém não sei quem é o pai de meu
futuro filho, mas isto dá na mesma”.
Existe um “decreto” da época, da cidade de Vladmir (houve
outro similar em Saratov), que propunha uma “socialização das
mulheres”, e que ilustra bem o tipo de mentalidade que o socialismo
gerou: “A partir dos dezoito anos de idade, fica declarado que toda
mulher é propriedade estatal. Toda mulher que alcance a idade de
dezoito anos e que não seja casada está obrigada, sob pena de
denúncias e castigos severos, a inscrever-se em um centro de ‘amor
livre’. Uma vez inscrita, a mulher tem direito de escolher um marido
entre dezenove e cinqüenta anos. Os homens também têm direito
de escolher uma mulher que tenha chegado à idade de dezoito
anos, supondo que tenham provas que confirmem sua condição de
proletário. Para aqueles que quiserem, a escolha do marido ou da
esposa pode dar-se uma vez ao mês. Por interesse do Estado, os
homens entre dezenove e cinqüenta anos têm direito a escolher
mulheres inscritas no centro, sem que precisem do assentimento
destas. Os filhos que sejam fruto desse tipo de convivência tornar-
se-ão propriedade da república”.[90]
Estes delírios de “comunismo sexual” incluíam marchas de
nudez, ligas de amor livre, projetos de instalação de cabines
públicas reservadas para o ato sexual, entre outras idéias cujo pano
de fundo era o mais sórdido materialismo, que reduzia a experiência
do amor a uma necessidade fisiológica e por isso, como tal, o
Estado deveria atender e planejar.
Tanto era assim que o célebre periódico soviético Pravda
publicou em sua edição de 7 de maio de 1925 um artigo que, entre
outras coisas, dizia: “Os estudantes desconfiam das jovens
comunistas que se negam a ter relações sexuais com eles.
Consideram-nas pequeno-burguesas atrasadas que não souberam
libertar-se dos preconceitos da antiga sociedade. Existe uma opinião
segundo a qual não somente a abstinência, mas também a
maternidade provêm de uma mentalidade burguesa”. A “mulher
livre” soviética não era, pois, outra coisa que o canal através do qual
o homem satisfazia suas necessidades materiais. E quando a
mulher não se prestava a tal degradação, sua rejeição era vista, e
não podia ser de outra maneira, em termos de “luta de classes”. Em
uma carta publicada na mesma edição do Pravda, uma mulher
soviética escrevia: “Outro comunista, marido de minha amiga,
propôs que eu dormisse com ele uma só noite, somente porque sua
mulher estava indisposta, e por isso não podia satisfazê-lo no
momento. Quando me neguei, tratou-me como burguesa estúpida,
incapaz de elevar-me à altura da mentalidade comunista”.
Toda a vida sexual estava reduzida aos ditames do
materialismo dialético e, por outro lado, completamente
ideologizada. O sexo, algo tão íntimo e pessoal, se coletivizava e
passava a depender das leituras classistas que se constituíram
como uma espécie de religião oficial. Um folheto da época, editado
pelo Instituto Comunista Yákov Svérdlov em 1924, intitulado A
revolução e a juventude, baseado no trabalho teórico dos
pedagogos soviéticos Macárenco y Zálkind, dizia coisas como as
que seguem: “A única vida sexual tolerável é aquela que leva a
plenitude dos sentimentos coletivistas. [...] A escolha sexual deve
obedecer a critérios de classe, deve ajustar-se aos objetivos
revolucionários e proletários [...]. A classe tem direito de intervir na
vida sexual de seus membros. [...] Sentir atração sexual por um ser
que pertença a uma classe diferente, hostil e moralmente alheia, é
uma perversão de índole similar à atração sexual que se pode sentir
por um crocodilo ou um orangotango”. Algo similar pensava Lenin,
que em uma carta a sua amiga platônica Inessa Armand declarava:
“No que tange ao amor, todo o problema reside na lógica objetiva
das relações de classe”.
O classismo e o racismo são primos-irmãos. Ambos guardam a
mesma lógica de criar, em um plano abstrato, coletivos de pessoas
em função de determinados caracteres; pretendem o confronto
incondicional e, posteriormente, um ódio visceral. O citado folheto
dos pedagogos soviéticos dá conta disto quando sentencia que o
Partido tem “o direito total e incondicional [...] de intervir na vida
sexual da população com o objetivo de melhorar a raça praticando
uma seleção sexual artificial”. Preobrajenski, importante dirigente do
Partido, dizia algo similar quando afirmava que o sexo é um
“problema social, ainda que o tomemos meramente do ponto de
vista da saúde física da raça [...]. [O sexo deve estar orientado a
uma] melhor combinação das qualidades físicas das pessoas que se
relacionarão”.[91] Cabe recordar que o tirano Stalin acabou proibindo
o casamento de russos com estrangeiros.
Freqüentemente a esquerda, ainda nostálgica do genocídio do
século passado, por mais que lhe pese e trate de ocultá-lo,
reivindica a experiência soviética destacando os “grandes avanços”
para a mulher que teria sido incorporada ao mundo produtivo e
social. Porém, estes admiradores disfarçados do regime soviético
não notam o fato de que seus primos-irmãos, os nacional-
socialistas, fizeram o mesmo; algo que se fosse usado como
argumento para reivindicar o nazismo geraria as mais ásperas
críticas e indignações, o que jamais vemos se produzir quando o
mesmo argumento é usado para exaltação do comunismo. Com
efeito, é notório que as políticas centralizadas de obras públicas e
econômicas do nazismo, com Hjalmar Schacht como ministro da
economia e presidente do Reichsbank, deram à mulher um
relevante papel laboral no setor da indústria de serviços, em
atividades de tipo agrícola e na burocracia estatal: “até 1940, as
mulheres eram mais de 3,5 milhões no setor industrial e de serviços,
e mais de 5,6 milhões na silvicultura e na produção agrícola de alta
qualidade (aquela que requer qualificação técnica avançada), e tão
somente 1,5 milhões no setor de baixa remuneração como o serviço
doméstico”.[92] Do mesmo modo, a alegada participação política das
mulheres soviéticas é muitas vezes exaltada (diremos mais sobre
isso no final desta parte), e com isto se poderia concluir que o
comunismo é algo muito parecido com o regime nacional-socialista,
embora, novamente, isso seria motivo de escândalo: “A NSF
Nationalsozialistische Frauenschaft agrupava 800 mil mulheres no
começo, chagando a 3,5 milhões de mulheres em pouco tempo.
Havia um grande número de empregadas domésticas, assim como
mulheres da alta sociedade, nas filas da NS, e o objetivo era
aproximar a mulher do Welfare State idealizado por Hjalmar Schacht
e sua equipe técnica”.[93] Por fim, podemos falar sobre a atenção
que muitas “políticas sociais” soviéticas tiveram com as mulheres, o
que, outra vez, poderia equiparar-se ao experimento nazista,
responsável por subsidiar a maternidade e o desemprego feminino,
conceder empréstimos especiais para as mulheres, além de haver
fundado o Instituto Lebensborn, onde se provia albergues para
mulheres em situação de rua, etc. Não deveria ser necessário
esclarecer que estes exemplos não desculpam o genocídio
nacional-socialista, ainda que pareça cada vez mais necessário
esclarecer o outro exemplo: tais benefícios tampouco desculpam o
genocídio comunista, causa de homicídios em massa em
quantidades muito maiores do que as do mesmíssimo hitlerismo,
ainda que seja pecado dizer isso.[94]
Bem, voltemos à URSS: a legislação e os esforços do Estado
soviético em matéria sexual durante o período leninista,
especialmente durante a década de 20, resumem-se à destruição da
família. Como vimos, estas intenções já estavam impressas no
primeiro mestre, Karl Marx, e em seu sócio Freidrich Engels. Mas
por que o comunismo empenha-se em conseguir tal coisa? Por uma
razão: a instituição familiar representa uma salvaguarda do indivíduo
e de suas relações mais próximas diante da intromissão do Estado.
Trata-se, pois, de um espaço com amplos graus de autonomia
perante a esfera política. Vale recordar a esse respeito que a
dicotomia da esfera doméstica/esfera pública já estruturava o
pensamento social e político dos filósofos da Antigüidade (o
pensamento platônico e seu comunismo rudimentar explicitava a
intenção de abolir a instituição familiar em favor da organização
totalitária da polis). Com efeito, a família educa os filhos, reproduz
tradições, mantém crenças e valores à margem do dirigismo dos
mandatários da vez. A família é, em uma palavra, o núcleo da
sociedade civil, e a sociedade civil constitui a dimensão que será
absorvida pela política nos regimes totalitários, que invadirão todos
os aspectos da vida. De tal modo que é natural ao Partido
Comunista o interesse em anular estes espaços onde sua
intromissão não está assegurada e que, contrariamente, podem
chegar até a bloqueá-la. Já dizia Lunacharski, ministro da Educação
e Cultura em 1918, que “este pequeno centro educativo que é a
família, esta pequena fábrica [...] toda essa maldição [...] chegue a
ser um passado caduco”.[95] A Internacional Comunista reclamava o
“reconhecimento da maternidade como função social. Os cuidados e
a educação das crianças e dos adolescentes serão por conta da
sociedade”,[96] o que equivale a dizer por conta do Partido.
Bem, no período stalinista foi preciso dar um giro de cento e
oitenta graus criando o conhecido mito da “família soviética” –
quando propagou-se uma imagem distorcida da realidade familiar do
regime, apresentando-a imbuída de valores morais superiores aos
da família ocidental – por razões claras: a Rússia perdera uma
parcela considerável de sua população por conta da Primeira
Guerra Mundial, da guerra civil, da fome de 1921, da fome de 1928-
1932, dos variados expurgos, e das matanças em massa
perpetradas pelo próprio Estado. A isto devemos somar as perdas
da Segunda Guerra Mundial e das fomes subseqüentes. Para piorar,
a política de “sexualidade livre”, que além de minar a instituição
familiar havia legalizado o aborto em 1920, produziu um
impressionante decréscimo na taxa de natalidade: em 1913 ela era
de 45,5%, ao passo que em 1950 havia baixado para 26,7%.[97]
O caso das conseqüências sociais advindas da legalização do
aborto na URSS é digno de ser sublinhado. Com efeito, este
converteu-se em “o primeiro de todos os meios contraceptivos”,[98]
segundo os dados recolhidos pelo doutor Stern. Os números
documentados são determinantes: de 1922 a 1926 quadruplicou-se
o número de abortos na URSS, e em 1934 “registra-se em Moscou
um nascimento para cada três abortos; e na zona rural, no mesmo
ano, três abortos para cada dois nascimentos”.[99] Em 1963, em
Moscou, Leningrado e outras cidades centrais, 80% das mulheres
grávidas submetiam-se a abortos, o que demonstra que foi utilizado
como método contraceptivo.[100] Os doutores relataram que “ao
cabo de um certo número de abortos, [às mulheres] bastam-lhes
beber um copo de vodca, tomar um banho muito quente e dar
saltinhos até expulsar o feto. Tive que cuidar de uma mulher que
havia sofrido vinte e dois abortos. Nestas mulheres, os reiterados
abortos debilitam os músculos do útero de tal forma que correm o
risco de perder o feto somente com o caminhar”.[101]
A verdade é que a propaganda comunista sobre a virtude da
família russa, criada pelo stalinismo, nunca deixou de ser isso: pura
propaganda. A instituição da família foi destruída, o “chefe da
família” nada mais era do que uma caricatura do homem soviético, e
a esposa, que se pretendia uma valente heroína socialista na
história do regime, não passava de uma mulher indefesa que tinha
de tolerar os agravos e espancamentos de seu marido. Uma edição
da revista soviética A revista literária, de 1977, reunia artigos de
mulheres comentando sua relação conjugal: “A própria idéia de
‘homem em casa’ perdeu seu significado mais elevado. O homem
em casa é uma criança caprichosa que nunca é feliz, ou ele é um
‘leão que ruge’, que maltrata sua esposa por minúcias”.[102] Um
levantamento realizado em 1970 mostra que 74% das famílias
estudadas haviam se acostumado com as querelas e os conflitos
sistemáticos.[103]
É possível lembrar que de acordo com os postulados teóricos
do feminismo baseado no marxismo todos os problemas das
mulheres reduziam-se a uma variável claramente identificada: a
existência da propriedade privada. Uma vez anulada, caberia
esperar a “libertação da mulher”, promessa sistematicamente
alardeada pela União Soviética. Mas é difícil encontrar a dita
libertação entre os dados que mencionamos até agora. O mito do
bom selvagem mostrou-se como de fato é: uma falácia.
Enfim, para acrescentar algo, caso algo ainda falte, é
necessário dizer que os casos de estupro e violência contra as
mulheres também foram constantes durante o extenso período
comunista. Os médicos de Stern documentaram muitos deles, o que
acabou lhes custando, como dissemos, vários anos de campo de
concentração. Um desses casos, que chama a atenção pela
brutalidade, é o seguinte: “A mãe do meu paciente era camponesa
de Bachkiria. Durante os anos de fome, chegaram à aldeia de Ufa
para conseguir pão. Na plataforma da estação, um guarda armado
aproximou-se dela e levou-a consigo. Pouco experiente no amor, a
camponesa esperava receber um pedaço de pão em troca de seu
corpo. Mas quando chegaram à casa do guarda, ele ordenou que
ela tirasse suas roupas e entregou-a ao seu cão. Tanto foi a fome da
camponesa que ela não se opôs, assumindo que ela iria comer mais
tarde. Quando o cachorro soltou todo o espermatozóide, o guarda
jogou-a na rua sem dinheiro e nem comida.”[104]
Os médicos Stern contam que o estupro de mulheres também
era uma prática comum na própria família. É, segundo a leitura de
seus dados, uma conseqüência esperada do culto à força que o
regime disseminou nas relações sociais: “Conheci uma paciente que
não queria se divorciar por causa dos filhos, mas que tampouco
queria continuar a manter relações sexuais com o marido. O homem
a estuprou regularmente, sem medo de conflitos legais, porque não
havia um tribunal que levasse o caso a sério.”[105]
Foi célebre o escândalo do famoso cineasta soviético Roman
Karmen, que foi condecorado como Artista do Povo da URSS (a
mais alta distinção concedida no mundo do entretenimento),
acusado de entrar em seu carro com garotas de treze e quatorze
anos e depois estuprá-las. Mas, como ocorria com os donos do
poder e os seus amigos, o caso Karmen permaneceu em total
impunidade: lá estava o Estado para esconder a roupa suja.
Além das violações individuais, as violações coletivas também
foram frequentes, como pode ser visto nas crônicas da época. O
Diário do Professor, de 26 de junho de 1926, relatou, por exemplo,
um estupro sofrido por uma estudante nas mãos de um grupo de
colegas de classe. Outro caso em que um grupo de sete homens
estuprou duas mulheres, conhecido como “hábito de Chubarov”
(nome de uma rua de Leningrado), foi coberto pelo Pravda em 17 de
dezembro de 1926. Os doutores Stern acrescentam vários outros
casos em seu livro, que assustam pelo nível de violência.
Poderíamos continuar citando as notícias da época, mas isso já é
suficiente para determinar que a tal “libertação das mulheres”, que
supostamente se seguiu à implantação do socialismo, não passava
de uma mentira grosseira.
Além de tudo isso, as surras contra as mulheres também eram
algo corrente na Rússia comunista. A eliminação do capitalismo e as
“condições materiais da existência” não eliminaram a dominação
violenta do homem sobre a mulher, como os marxistas esperavam
com suas teorias ilusórias de uma suposta idade de ouro do
matriarcado. De fato, os espancamentos na URSS estavam
diretamente ligados ao sexo entre marido e mulher, e daquela época
vem o triste ditado russo que diz: “o único que não espanca sua
esposa é aquele que não a ama”. Inclusive chegou-se a utilizar uma
expressão para descrever a relação sexual que se originava de uma
surra: trajnut. Novamente, os doutores Stern nos permitem ilustrar
tudo isso com um fato concreto: “Em Moscou, um torneiro chamado
Merzliskov espancava regularmente sua esposa Nedejda. Espancar
é pouco, batia metodicamente primeiro com socos e chutes e depois
usava uma chave de fenda ou um martelo. Quando a mulher
desmaiava, o marido a submergia num banho de água fria e
recomeçava. A mulher morreu durante uma dessas sessões.”[106]
Nesta rápida revisão da vida das mulheres sob o socialismo
real, não podemos deixar de abordar o problema da prostituição. De
fato, o feminismo socialista sempre buscou fazer da “profissão mais
antiga da história” uma conseqüência do — qual a novidade —
regime econômico baseado na propriedade privada. Lembre-se de
que Marx e Engels já disseram no Manifesto Comunista que “com o
desaparecimento do capital também a prostituição desaparecerá”.
Kollontay afirmou que “esta vergonha [a prostituição] é devida ao
sistema econômico ora em vigor, a existência de propriedade
privada. Uma vez que a propriedade privada tenha desaparecido, o
comércio da mulher desaparecerá automaticamente”.[107]
Foram as promessas comunistas cumpridas? Por si só, não. As
prostitutas soviéticas continuaram a existir, e seus serviços, como
na atual Cuba, eram especialmente orientados para a satisfação de
estrangeiros. A repressão do regime, que perseguiu as atividades
meretrícias enviando as prostitutas para os campos de
concentração, não impediu a exploração do negócio sexual. As
prostitutas continuavam a se esconder: costumavam oferecer seus
serviços a bordo de táxis ou em ferrovias. Deste modo, as
promessas marxistas foram enterradas por uma ironia da história: as
prostitutas de Moscou eram conhecidas como “as marxistas”, não
por recitarem de memória os postulados do materialismo dialético,
mas por esperar por seus clientes sexuais em frente ao monumento
a Karl Marx.[108]
A verdade é que os teóricos marxistas acreditavam que a
derrubada do “poder econômico” e a destruição do sistema de
propriedade privada removeria a razão para as mulheres se
prostituírem. Mas o reducionismo econômico marxista negligenciou,
além da natureza complexa da ação humana, outra forma de poder:
o poder político. E assim, no socialismo real, a prostituição era um
dos muitos privilégios da classe política soviética. Na época, era
sabido por muitas mulheres que, se quisessem ter certos privilégios
ou certas posições na burocracia estatal, deveriam antes oferecer
seus serviços sexuais àqueles que manejavam os fios do poder.[109]
Os doutores Stern testemunharam sobre as formas de
prostituição soviética: “Às vezes, a fellatio alternava-se com jogos de
cartas: há prostitutas de treze, catorze anos, quase meninas,
atuando sob a mesa, enquanto quatro homens jogam os duraki; o
perdedor paga por todos”.[110] E também contam que as prostitutas
nem sempre determinavam os seus pagamentos em dinheiro: “Há
mulheres que usam seu corpo como pagamento quando pegam um
táxi ou compram algo no açougue [...]. Há muitas alcoólatras que se
prostituem precisamente para obter mais vodca”.[111] Este, e
nenhum outro, era o paraíso feminino prometido pelo marxismo.
Finalmente, há ainda um mito a ser derrubado. É aquele que
diz que sob o comunismo as mulheres adquiriram o pleno gozo dos
direitos políticos. A primeira coisa a ser dita sobre isso é que
naquele sistema de partido único os direitos políticos eram, para
todos, homens e mulheres comuns, uma fantasia impossível de ser
alcançada, devido à própria natureza do regime. Alegar a existência
de “liberdade política” sob as condições de uma ditadura totalitária é
uma contradição em seus termos. E se não é, caberia perguntar-se
sobre o lugar político de homens e mulheres não-comunistas: os
campos de concentração.
Mas, por outro lado, e mesmo aceitando a suposta extensão
dos direitos políticos para as mulheres sob o comunismo soviético,
seria interessante perguntar, então, sobre o envolvimento efetivo
delas no poder real, nas decisões políticas e na estrutura
hierárquica da URSS. É aqui que terminamos de verificar que a
participação política feminina no socialismo real foi completamente
virtual.
Façamos uma breve revisão da estrutura do poder soviético. O
Soviete da União ou o Soviete dos Deputados do Povo era uma das
duas câmaras do Soviete Supremo da União Soviética. Ao longo da
história desse corpo legislativo, uma mulher jamais pôde presidi-lo.
[112] Tampouco se viu qualquer mulher presidir uma outra câmara de
representação territorial, chamada Soviete das Nacionalidades.[113]
E, é claro, nenhuma mulher jamais ocupou o cargo de Chefe de
Estado da URSS,[114] nem o de vice-chefe de Estado. Também não
havia nenhuma mulher presidindo o Conselho dos Comissários do
Povo, a mais alta autoridade governamental do Poder Executivo
Soviético[115].
Diante desses dados, pode-se argumentar que, na época,
embora os direitos políticos das mulheres estivessem se tornando
efetivos no mundo, as mulheres ainda não ascendiam a espaços de
poder. No entanto, tal argumento ignoraria o fato de que enquanto
na URSS a estrutura política era virtualmente inteiramente
dominada por homens, em 1979, na Inglaterra, Margaret Thatcher
foi eleita Primeira-Ministra, e ocuparia o cargo até 1990, enfrentando
precisamente o comunismo, e, de alguma maneira, derrotando-o.
Permita-nos fechar esta seção com uma última reflexão.
Mencionamos que a política sexual do comunismo soviético tinha
dois estágios distintos: o leninista e o stalinista. O movimento de
recuo que Stalin teve de dar foi precisamente por causa da
desintegração social que o niilismo provocara e que oportunamente
descrevemos. Essa volta atrás foi, portanto, um redirecionamento
pragmático. Mas a experiência da “libertação sexual” e a
desintegração dos laços familiares que impulsionaram o leninismo
deixou para o regime soviético algo de fundamental importância: o
conhecimento sobre as conseqüências e o modo de implementação
dessa “arma cultural” para ser usada contra os inimigos do
comunismo.
Na verdade, existem casos notáveis de ex-agentes da KGB que
confessaram ser uma parte fundamental da estratégia da URSS
contra o Ocidente a promoção da corrupção cultural. Caso notável é
o de Yuri Bezmenov, aliás Thomas Schuman, que em 1983 declarou
publicamente: “Apenas 15% do dinheiro, do tempo e da mão-de-
obra [da KGB] é dedicado à espionagem como tal. Os outros 85%
servem a um processo lento que melhor chamamos ‘Subversão
Ideológica’, ou ‘Medidas Ativas’, ou ‘Guerra Psicológica’, o que
basicamente significa: mudar a percepção da realidade de cada um
dos americanos. Basta um pouco desse esforço para que, apesar
da abundância de informações, ninguém seja capaz de chegar a
conclusões sensatas, pensar no interesse de defender a si mesmo,
a sua família, a sua comunidade ou o seu país”. Bezmenov
acrescenta que é “um grande processo de lavagem cerebral”, que
consiste de uma série de etapas, iniciando com o que a KGB
chamava de “A desmoralização”, que leva de 15 a 20 anos, “porque
este é o número mínimo de anos necessários para educar uma
geração de estudantes no país inimigo expostos à ideologia
subversiva [...] a ideologia marxista-leninista está sendo
bombardeada nas jovens mentes de pelo menos três gerações de
estudantes americanos [...] O resultado? O resultado que você pode
ver. Muitos dos que se formaram nos anos 60, estudantes
fracassados ou sub-intelectuais, agora estão ocupando posições de
poder no governo, na administração pública, nos negócios, na
mídia, no sistema educacional [...] estão contaminados, eles são
programados para pensar e reagir a certos estímulos [...] não podem
mudar suas mentes, mesmo se você provar-lhes que o branco é
branco e preto é preto. O processo de desmoralização nos Estados
Unidos já foi basicamente concluído [...] a desmoralização atingiu
áreas onde previamente nem mesmo o camarada Andropov e todos
os seus especialistas haviam sonhado, houve um sucesso tão
tremendo que a maior parte da desmoralização é feita por
americanos mesmo, e isso graças a falta de padrões morais”.[116]
Após a desmoralização, abre-se o caminho para a etapa da
“desestabilização”, onde já começam as mudanças nas instituições
políticas e econômicas em favor da ideologia marxista-leninista, fim
primordial da etapa de desestabilização.
À luz de informações como essas, é interessante notar que
depois da virada copernicana feita pelo stalinismo, não vimos surgir
nenhuma outra teoria importante para o feminismo advinda dessas
fontes. Pelo contrário, a terceira onda, iniciada nos anos 60 —
período coincidentemente destacado por Bezmenov — será
engendrada por teóricos ocidentais, residentes em países
capitalistas, principalmente nos Estados Unidos e na França,
enquanto na URSS as revistas feministas eram fechadas e os
ativistas eram deportados.[117]
A terceira onda do feminismo
Como foi dito anteriormente, não há acordo unânime sobre o
que deve ser considerado pertencente à primeira, segunda ou
terceira onda do feminismo. Comecemos por destacar esta
advertência: alguns autores consideram que o feminismo surgido
nos anos 60 do século XX é na verdade uma segunda onda de
feminismo, enquanto outros, como nós, consideram que é uma
terceira onda feminista, sendo o sufragismo a segunda onda. Seja
como for, preferimos seguir uma abordagem diferente e considerar o
feminismo ilustrado, liberal e sufragista como uma primeira onda; o
feminismo marxista como a segunda onda; e o “feminismo
culturalista”, “radical” e/ou “neomarxista” como a terceira onda,
responsável pela germinação da chamada “ideologia de gênero”.
Esclarecido isso, o feminismo que passsamos a descrever
sucintamente tem a peculiaridade de não se mover no terreno de
reformas políticas formais, como as liberais, ou no campo quase
exclusivo da economia como o marxista, mas em um campo muito
mais vasto e, portanto, mais complexo: o da cultura.
A filósofa espanhola Amelia Valcárcel entende que o
surgimento da terceira onda feminista foi precedido pelo que ela
chama de “interregno”, que é definido pelos escritos da americana
Betty Friedan e seu livro A mística da feminidade publicado em
1963, um trabalho chave para o feminismo dos anos 70. Nele,
Friedan, em resumo, entende que as vitórias feministas no campo
dos direitos civis e políticos não alcaçaram a libertação feminina. O
que seguiria “oprimindo” as mulheres, então? Ela responde: os
aspectos culturais do “papel feminino”, isto é, as regras informais
associadas às mulheres, entre elas, a de ser esposa e mãe, por
exemplo.
Friedan não considera que as netas das sufragistas feministas
continuaram a luta de suas avós em planos renovados da vida; ao
contrário, aponta que elas simplesmente se acomodaram ao papel
de esposa e mães de filhos. Isso se deveu, segundo Friedan, a uma
superestrutura cultural que havia desenvolvido uma “mística da
feminilidade” opressora. Nas palavras da autora: “Segundo a mística
da feminilidade, as mulheres não têm outra maneira de criar e
sonhar o futuro. Elas não podem considerarem-se a si mesmas sob
qualquer aspecto que não seja o de mãe de seus filhos ou de
esposa de seu marido”[118].
Com toda honestidade, não podemos dizer que o livro de
Friedan é profundamente comprometido com idéias esquerdistas.
Daí que digamos, seguindo Valcárcel, que é um “interregno”, um
prólogo para o que será a terceira onda feminista. De fato, o
poderoso em Friedan é sua crítica culturalista, que excede em muito
o que é estritamente político, legal e econômico, e que vai para as
profundezas do lar, alcançando até mesmo dimensões estéticas que
serão tão típicas da terceira onda. Já a ativista e escritora
americana Mary Inman, em seu livro Em defesa da mulher (1940),
um dos quais precisamente inspiram Friedan, concluiu que “a
feminilidade elaborada” e a “ênfase excessiva na beleza” mantêm as
mulheres como vassalas.[119] Essas são as sementes do culto da
fealdade e do mau-gosto que caracterizam nossas feministas
radicais de hoje.
No entanto, os fatos que são geralmente identificados como
originadores da terceira onda feminista são, como não poderia ser
de outra forma, aqueles do maio de 1968 francês. E o livro que está
localizado como o fundamento dessa onda é O Segundo sexo, da
escritora existencialista Simone de Beauvoir, publicado em 1949,
quatro anos após o voto feminino na França se tornar realidade.
A ideologia de Beauvoir é bem conhecida: ela era uma marxista
convicta. Seu livro A Longa marcha, por exemplo, é uma defesa da
Revolução Cultural Chinesa, campanha liderada pelo genocida Mao
Tse Tung com o objetivo de impedir que a China abandonasse o
comunismo ortodoxo e que consistiu em assassinatos em massa,
tortura de todos os tipos, campos de concentração, destruição
cultural, fome e perseguições. Na cidade de Shantou pode-se visitar
hoje um museu que lembra muito de todos esses horrores que
Simone de Beauvoir celebrou. Com efeito, a ideologia de gênero
tem sua origem e desenvolvimento dentro da ultra-esquerda, como
veremos ao longo deste subcapítulo; não se trata de um fenômeno
ideológico separado de qualquer corrente moderada ou centrista,
apesar de a correção política de nossos tempos ter adotado a
maioria de seus postulados.
Ao escrever seu livro O Segundo sexo, Beauvoir está
advertindo que as concepções ortodoxas do marxismo, aquelas
repassadas em seção anterior, não têm sucesso em sua aplicação
real encarnada na União Soviética com promessas de libertação das
mulheres. O ideal maternal do stalinismo não iria entregar as idéias
de uma detratora da maternidade como De Beauvoir.[120] O
problema econômico é certamente determinante ao ponto de ser
condição necessária; mas claramente não é suficiente aos olhos da
nossa escritora. E é aí que ela dá um grande passo, colocando a
necessidade de uma profunda mudança cultural em primeiro plano:
nos costumes, nas crenças, na moral. Seus esforços para explicar o
conflito através de uma mistura entre marxismo e psicanálise
encontra antecedentes nada menos do que nas propostas teóricas
da Escola de Frankfurt, instituição intelectual tão importante e até
decisiva na construção teórica do que chamamos de “neomarxismo”
ou “marxismo cultural”.
No entanto, é necessário não se enganar. De Beauvoir
aparenta ter críticas apenas contra a sociedade ocidental e
capitalista. Ao longo das mil páginas de seu trabalho, dificilmente se
pode ler críticas à opressão das mulheres no bloco comunista. Pelo
contrário, lemos passagens apologéticas como a seguinte: “É na
URSS onde o movimento feminista adquire a máxima amplitude”.
[121] E chega até mesmo prever, sem sucesso, é claro, que sob o
regime comunista a libertação das mulheres estava assegurada: “O
futuro não pode deixar de conduzir a uma assimilação cada vez
mais profunda das mulheres dentro de uma sociedade outrora
masculina”.[122] Até mente ou ignora flagrantemente quando anota
que “exceto na URSS, em todos as partes é permitido às mulheres
modernas considerarem o seu corpo como um capital para explorá-
lo”.[123] De fato, pretende fazer crer o leitor que o comunismo,
condizente com a promessa de Engels, terminou com a prostituição,
quando, a rigor, isso nunca aconteceu, como já vimos
anteriormente. A pergunta que surge imediatamente é: De Beauvoir
foi maliciosa ou foi, simples e tristemente, o que Lênin chamou de
“idiota útil”?
Seja o que for, vamos direto ao conteúdo de O Segundo sexo,
a obra mais importante do feminismo do século XX. A tese central é
que “mulher” é um conceito socialmente construído, ou seja, carente
de essência, artificial, sempre definido pelo seu opressor: o homem.
A famosa frase que resume a proposta teórica de De Beauvoir é:
“Ninguém nasce mulher: torna-se”. A tarefa das mulheres como
gênero que busca se libertar é, nesse sentido, romper com o
conceito cultural das mulheres e recuperar uma suposta “identidade
perdida”.
O primeiro princípio do existencialismo, uma corrente filosófica
a qual De Beauvoir pertence e que possui como célebre referência o
seu parceiro, Jean-Paul Sartre, é a afirmação de que a existência
precede a essência do ser-humano. Isto significa, em poucas
palavras, que o ser humano nada mais é do que o que ele faz de si
mesmo. Não existe nada como uma “natureza humana”; tudo o que
diz respeito ao ser humano é o resultado dos processos históricos
que envolvem a evolução das sociedades.
Este não é o momento para fazermos uma crítica extensiva
desta visão filosófica. Mas consideremos agora o perigo de abolir
em nossa consciência qualquer determinação natural no ser
humano: teríamos como resultado a imagem de uma pessoa
humana suspensa no nada, alienada de toda realidade externa,
incapaz de orientar seus padrões culturais de acordo com o que, por
razões obviamente naturais, resulta auspicioso para sua
manutenção e crescimento. Uma sociedade poderia moralizar como
guia cultural a ingestão de gasolina, por exemplo, mas as pessoas
que se conformam a esse comportamento não poderiam evitar as
conseqüências mortais de tal prática. Da mesma forma, outra
sociedade poderia legislar sobre a abolição da maternidade, como
pareceria agradável a mais de uma feminista, embora essa
sociedade não pudesse escapar do destino que, devido à natureza
finita do ser humano, a aguarda: a extinção total.
Escusado será dizer que isso não significa que a história e a
cultura não moldem um número incontável de caracteres do ser
humano. De maneira alguma pretenderíamos negar tamanha
verdade. O homem é cultura, mas também é natureza. Ou melhor
dito, o homem é a natureza, mas também é cultura: nessa ordem.
Tão verdadeiro quanto isso é também o fato de que sua cultura
triunfa quando não vai contra sua natureza. Pode ser concebido o
desenvolvimento de uma sociedade humana, por exemplo, que
estabeleça o ritual cultural de castrar todos os varões recém-
nascidos? E o que dizer de uma sociedade cujos membros
determinam, como no experimento social de Alan Sokal,[124] que a
lei da gravidade é também uma “construção discursiva” e, além
disso, decidem que podem se atirar do arranha-céu mais alto sem
esperar conseqüências desastrosas?
Voltando ao cerne do nosso assunto, para explicar a gênese da
opressão, De Beauvoir vai oferecer uma explicação histórica e
antropológica da mulher, que retroage às primeiras e remotas
formas de comunidade do seres humanos: os grupos nômades que
precederam a agricultura, possivelmente localizado
cronologicamente na Idade do Bronze. A raiz da opressão feminina,
segundo sua tese, seria encontrada no fato de as mulheres
primitivas não poderem participar de atividades presumivelmente
valorizadas pelo grupo: fundamentalmente, a caça e a guerra. É o
perigo conatural dessas atividades que lhes dá toda a sua
importância social. Sob uma visão que anula os dados naturais, a
exclusão feminina deve ser procurada, através de um movimento
circular, novamente na cultura, e assim sucessivamente até o
infinito. Mas a verdade é que a natureza explica muito claramente o
fato de as mulheres terem sido protegidas pelo grupo dos perigos da
guerra e da caça: as condições naturais de reprodução e
maternidade, por um lado, e as características físicas dos seus
corpos por outro, estruturaram a divisão elementar de tarefas de
nossos ancestrais mais distantes. E isso parece ter sido necessário
para a conservação e reprodução da espécie.
Surpreendentemente, De Beauvoir reconhece esse fato, que,
por si só, seria suficiente para derrubar sua tese fundamental de que
nas mulheres nada mais há do que a cultura. “A gravidez, o parto e
a menstruação diminuíram sua capacidade de trabalho e as
condenaram a longos períodos de impotência; para defender-se
contra os inimigos, assegurar seu sustento e o de sua prole,
precisavam da proteção dos guerreiros e dos produtos da caça e da
pesca, aos quais se dedicavam os homens”,[125] anota a escritora.
Mas se ela aceita que a força física e a reprodução explicam a
exclusão primitiva das mulheres das tarefas que seriam relevantes,
a lógica mais elementar anuncia que a natureza teve um papel na
formação cultural e não pode ser, portanto, descuidada em uma
análise sobre a mulher e sua condição. Se foi o corpo feminino que,
de acordo com suas condições e funções biológicas, fez da mulher
uma mulher, então não parece assim tão convincente — e, inclusive,
parece até contraditória — a famosa frase “ninguém nasce mulher:
torna-se”.
As contradições da esposa de Sartre em muitas passagens são
impressionantes. O prestígio do homem é derivado, nos diz ela, de
que as atividades que lhes são próprias encontraram sua
transcendência no perigo: “para aumentar o prestígio da horda, o clã
a que pertence, o guerreiro põe em jogo sua própria existência. [...]
A pior maldição sobre as mulheres é encontrarem-se excluídas
destas expedições guerreiras: não dando a vida, mas arriscando-a,
que o homem se eleva acima do animal”.[126] Aqui a autora esquece
os perigos inerentes da maternidade, acentuada em tempos
passados, em que o parto, com elevadíssima freqüência, era a
causa da morte. De fato, se o risco oferecido ao grupo é o que dá
sentido ao prestígio do homem, não há elevados riscos também na
atividade mais especificamente feminina de todas: o parto? O
problema, talvez, é que Simone de Beauvoir não considera que
nada biologicamente próprio da mulher possa ser considerado
atividade de um projeto vital. Parece haver misoginia por trás de
seus argumentos quando decreta que “engendrar, amamentar, não
constituem atividades, são funções naturais; nenhum projeto os
afeta; por isso a mulher não encontra nessas atividades a razão de
uma afirmação altiva de sua existência; sofre passivamente seu
destino biológico.”[127] É impressionante que quem que nunca
concebeu ou amamentou faça semelhante afirmação. De onde é
que a escritora francesa tira que o fato de trazer uma nova vida ao
mundo e se esforçar por sua proteção e desenvolvimento não afeta
em nada qualquer projeto? Nada fica claro. Parece que sua própria
biografia influencia seus argumentos: ela nunca quis ter filhos e, em
vez disso, escolheu matá-los em seu ventre.[128] É paradoxal que,
para De Beauvoir, dar vida não seja um “projeto”, enquanto matar o
é. E ainda mais: o autoritarismo de Beauvoir nesta matéria ficou
claro em um diálogo de 1975, quando ela argumentou que “não
deve ser permitido a nenhuma mulher ficar em casa para criar seus
filhos. A sociedade teria que ser completamente diferente. As
mulheres não devem ter essa escolha, precisamente porque se
existe tal escolha, muitas mulheres irão toma-la”.[129] Deveriam,
então, as mulheres fazer suas próprias escolhas, ou seguir as
ordens de De Beauvoir?
Seja como for, a parte mais importante do trabalho de Simone
de Beauvoir é ter pincelado os primeiros esboços significativos da
ideologia de gênero. A distinção entre sexo e gênero aparece,
portanto, muito clara em seu trabalho: o sexo, como fato natural,
não tem nenhuma relevância; gênero é tudo. Homem e mulher nos
são apresentados como corpos cuja especificidade natural não
guarda a menor importância em relação ao que eles mesmos
podem ser; eles são como uma página em branco, uma tabula rasa,
pronta para ser escrita pelo peso supostamente autônomo da
cultura. Com efeito: “Ninguém nasce mulher: torna-se”. Em outras
palavras, não importa o que o corpo naturalmente traz; importa
exclusivamente como o indivíduo é socializado. E, como é evidente,
tudo isso implica importantes mudanças estratégicas. A estratégia
que o feminismo deve elaborar agora tem um caráter cultural
predominante: a liberação não só tem que ser concretizada com a
incorporação das mulheres no mundo econômico do trabalho e da
produtividade, como os marxistas ortodoxos pensavam seguindo
Engels, mas também, e tão importante quanto, com a destruição da
superestrutura — moral, religiosa, ideológica, legal, familiar — em
vigor. A conclusão que De Beauvoir oferece de toda a sua obra vai
nessa direção: “Não devemos acreditar que basta modificar sua
situação econômica para que a mulher se transforme; esse fator foi
e continua a ser o principal fator em sua evolução, mas desde que
não tenha as conseqüências morais, sociais, culturais etc. que
anuncia e exige, a nova mulher não poderá aparecer”.[130] Quando o
feminismo assume uma estratégia cultural e se choca com o
marxismo em sua cruzada contra a sociedade capitalista, o
resultado é uma das diversas mãos que sustentam o que temos
aqui chamado de “neomarxismo” ou “marxismo cultural”.
Simone de Beauvoir será seguida na década de 70 por uma
corrente de feministas radicais que levará os argumentos e
pretensões um passo adiante. Uma delas será a americana Kate
Millet, que vai enfatizar o conceito de “gênero” para rejeitar os dados
da biologia, e defenderá “o caráter cultural do gênero, definido como
a estrutura da personalidade de acordo com a categoria sexual”.[131]
Outra feminista especialmente controversa é a canadense
Shulamith Firestone, que declarará que “as feministas têm que
questionar, não apenas toda a cultura ocidental, mas também a
organização da própria cultura, e até mesmo a própria organização
da natureza”.[132] (O leitor lembra o que Ludwig von Mises havia
avisado já na década de 1920?).
Para o feminismo radical que nasce nos anos 70, o problema
da opressão das mulheres está em toda parte; as esferas pública e
privada são escrutinadas de igual maneira, já que a cultura é o
objetivo chave. Millet imortaliza em sua obra Política Sexual (1969)
uma frase que se encarnará como slogan de grupos feministas de
ontem e de hoje: “O pessoal é político”.[133] A noção de “patriarcado”
encontra significado especial neste contexto, como regime político
de sexo masculino que vai muito além das dimensões públicas. A
família é então considerada como a principal instituição social que
reproduz a “estrutura patriarcal”, e toda a munição feminista é usada
principalmente contra ela e o casamento: “A principal instituição do
patriarcado é a família”,[134] observa Millet. O objetivo marxista da
abolição da família e da propriedade privada é mantido; o que muda
é o sujeito da revolução e a análise das contradições.
É interessante mencionar um pouco mais sobre as idéias da já
citada Firestone, porque elas ilustram muito bem o pensamento
feminista radical-socialista da terceira onda. Sua obra A Dialética do
Sexo (1970) causou furor em seu tempo. Misturando o marxismo e o
freudismo, Firestone, desde o início, supera o reducionismo
economicista que impediu Engels de enxergar um pouco mais
longe: “Há um nível de realidade que não provém diretamente da
economia”,[135] sentencia ela. Esse nível vem da cultura, que é onde
Firestone tentará penetrar.
Firestone entende que a raiz do problema da mulher está em
sua função reprodutiva e traça um paralelo com os problemas
produtivos do proletariado, a ponto de nomear as mulheres como
“classe sexual”. Assim como o proletário — de acordo com as
teorias marxistas — faz sua revolução expropriando os meios
privados de produção, as mulheres devem realizar sua própria
revolução colocando a reprodução sob seu controle. E assim como
Engels entendeu que a partir de uma revolução socialista se
derivava a libertação das mulheres, Firestone entende o oposto: a
partir de uma revolução feminista, pode se esperar a abolição das
classes.[136]
Deste modo, Firestone proporá um tipo de programa mínimo
para a revolução feminista, composto por quatro pontos que,
resumidamente, são os seguintes: 1) Abolir a função reprodutiva das
mulheres de acordo com as tecnologias de reprodução artificial e a
legalização do aborto; 2) Conseguir a absoluta independência
econômica de mulheres e crianças, o que significa abandonar a
economia capitalista e adotar um sistema socialista (“É por isso que
devemos falar sobre o feminismo socialista”,[137] afirma Firestone);
3) Incluir mulheres e crianças em todos os aspectos da sociedade,
destruindo tudo o que protege a individualidade e destruindo as
“distinções culturais entre homens/mulheres e adultos/crianças”;[138]
4) Alcançar “a liberdade de todas as mulheres e crianças para fazer
o que quiserem sexualmente”.[139]
O propósito expresso de tudo isso é a destruição da família, já
que isso seria “a fonte da repressão psicológica, econômica e
política”.[140] A terceira onda do feminismo, como vemos, torna as
relações entre os casais uma área de luta e ódio permanentes. Se
se pode considerar que a revolução da URSS foi uma “revolução
falida” foi precisamente por ter revolucionado apenas no que
concerne à esfera econômica e não ter implementado
completamente e sustentado esta revolução no campo das relações
interpessoais e familiares.[141] Firestone está preocupada
primordialmente, além da questão feminina, com a questão das
crianças. E ela entende que o socialismo não pode ser construído
se não for possível cortar os laços de uma geração com a anterior,
de modo que o Estado possa formá-la até a raiz.[142] “Legalmente,
as crianças permanecem sob a jurisdição dos pais que podem fazer
com eles o que eles quiserem”,[143] reclama Firestone curiosamente.
Sob qual jurisdição, então, eles deveriam estar? Bem, é claro, sob o
Estado socialista.
O processo de destruição da família não pode acontecer a
qualquer momento, mas envolve mudanças graduais, que incluem
até pedofilia. Firestone os descreve da seguinte maneira: “No início,
no período de transição, as relações sexuais provavelmente seriam
monogâmicas, mesmo que o casal decidisse viver com os outros.
[...] No entanto, depois de muitas gerações de vida não-familiar,
nossas estruturas psicossexuais podem ser tão radicalmente
alteradas que o casal monogâmico se tornaria obsoleto. Podemos
apenas imaginar o que poderia substituí-lo: talvez casamentos por
grupos, grupos conjugais transexuais que também envolvam
crianças mais velhas? Nós não sabemos”.[144]
O projeto de Firestone é alcançar uma sociedade socialista
onde a família é substituída pela household, uma espécie de casa
composta de pessoas que não têm uma ligação de sangue. Aqui,
depois de “algumas gerações”, será possível que “as relações entre
pessoas de idades muito diferentes se tornem comuns”.[145] Assim,
“o conceito de infância foi abolido, as crianças têm plenos direitos
legais, sexual e econômico, suas atividades educacionais/laborais
não diferem da dos adultos. Durante os poucos anos da infância,
substituiríamos a “paternidade” psicologicamente destrutiva de um
ou dois adultos arbitrários, distribuindo a responsabilidade do
cuidado físico por um grande número de pessoas. A criança ainda
pode formar relacionamentos amorosos íntimos, mas, em vez de
desenvolver um relacionamento próximo com uma ‘mãe’ e ‘pai’
decretados, a criança pode agora formar laços com pessoas de sua
própria escolha, de qualquer idade ou sexo. Portanto, todas as
relações entre adultos e crianças serão escolhidas mutuamente”.
[146] E logo depois sentencia: “Se a criança pode escolher se
relacionar sexualmente com adultos, inclusive se ela deve escolher
a sua própria mãe genética, não haveria nenhuma razão a priori
para que ela rejeitasse os avanços sexuais, porque o tabu do
incesto teria perdido sua função. [...] As relações com crianças
incluem tanto sexo genital tal como a criança é capaz de receber —
e, provavelmente, é muito maior do que agora cremos — porque o
sexo genital já não seria o foco central da relação, porque a falta de
orgasmo não apresentaria um problema sério. O tabu das relações
adulto/criança e homossexual desapareceria”.[147] Mas as relações
pedófilas tem dois limites, diz-nos a boa Firestone, pretendendo
moderar-se: o limite do consentimento da criança por um lado e, por
outro, o limite biológico. De modo que, se um homem adulto quer ter
relações sexuais com uma menina ou um menino de quatro anos,
por exemplo, deve somente assegurar-se que as dimensões de seu
ânus ou vagina são penetráveis. O truque que Firestone usa para
legitimar a pedofilia é muito claro: pôr par a par a capacidade de
discernimento e de escolha de uma criança com a de um adulto,
como se ambos dispusessem de igual poder físico, manipulação
psicológica e maturidade emocional.
Como fica claro, Firestone atribui grande significado à
legitimidade da pedofilia como parte da revolução socialista. Mas a
sua não é uma opinião isolada dentro do feminismo dos anos 70:
também a mencionada Millet escreveu que as crianças devem “se
expressar sexualmente, provavelmente de início apenas entre elas,
mas, posteriormente, também com os adultos”.[148] Além disso, a
própria de Beauvoir, quatro meses antes do surgimento da Frente
de Libertação dos Pedófilos, em França, assinava uma solicitação
no jornal Le Monde (26 de janeiro 1977) em favor da libertação de
três pedófilos que estavam comparecendo diante do tribunal por
manter relações sexuais com crianças e produzir pornografia infantil
— “Três anos de prisão por algumas carícias e beijos, é o
suficiente!”, minimizava o assunto. E para a questão da pedofilia, as
teóricas feministas assomam também a reivindicação do incesto.
Firestone, por exemplo, recomenda que, para que as crianças não
cresçam “sexualmente reprimidas”, são os pais que devem inicia-las
em sua vida sexual. De fato, ela recomenda que a primeira felação
da criança seja praticada por sua própria mãe. Mas existe uma
maneira mais determinante de romper todos os laços familiares do
que promover relações sexuais entre adultos e crianças, e entre
pais e filhos? Ela sabe, a partir de Freud, da importância que tem
para a cultura a repressão do erotismo que a criança
presumivelmente sentiria por sua mãe; e provavelmente também
sabe, a partir de Claude Lévi-Strauss, do papel que a proibição do
incesto desempenha na cultura de toda sociedade humana. Com
efeito, não há maneira mais eficaz de destruir a cultura e a família
do que tornar condutas aceitáveis comportamentos como a pedofilia
e o incesto; da década de 1970 em diante, então, o feminismo
radical trará, às vezes mais explicitamente, outras vezes mais
implicitamente, essas afirmações horripilantes dentro de seu
programa.
Já entrando na década de 1980, outra americana, Zillah
Eisenstein, desenvolverá com mais precisão essa síntese entre o
feminismo radical e o marxismo. O objetivo do feminismo seria, em
uma palavra, estourar tanto o “regime patriarcal” quanto o sistema
capitalista, uma vez que haveria uma relação de coexistência e
dependência mútua entre eles. A destruição do primeiro é
assegurada pela destruição da família e do casamento; a destruição
do segundo vem por meio de uma gradual abolição da propriedade
privada. Ambas as coisas devem ocorrer em uníssono. O que
Eisenstein oferece é principalmente um refinamento da teoria de
Firestone na tentativa de determinar, mais especificamente, a
relação entre o suposto “patriarcado” e o capitalismo, o que lançaria
luz sobre a necessidade de que o feminismo seja socialista, e o
socialismo seja feminista.[149] Igualmente, tenta superar as
propostas teóricas de Millet, em especial o argumento de que
“devemos fazer perguntas feministas, mas tentando chegar a
respostas marxistas”; para Eisenstein, isso implicaria numa
dicotomia entre marxismo e feminismo que deve ser apagada em
favor de uma síntese harmoniosa entre as duas ideologias.
Assim, seu principal argumento é que a instituição familiar
funciona para a manutenção do capitalismo, e explica nos seguintes
termos: “A família sob o capitalismo reforça a opressão das
mulheres. A família apóia o capitalismo, proporcionando uma
maneira de manter a calma, o que é uma parte muito importante do
capitalismo. A família apóia economicamente o capitalismo,
fornecendo uma força de trabalho produtiva e o suprimento de um
mercado consumidor de massa. A família também desempenha um
papel ideológico ao cultivar a crença na liberdade, no individualismo
e na igualdade básica da estrutura de crenças da sociedade.”[150]
Por essas razões, os inimigos do capitalismo e da sociedade aberta
deveriam se concentrar em destruir a família: destruir a ordem e a
calma que ela proporciona; destruir a força de trabalho que ela gera
para o mercado; interromper a socialização que ela atinge em
valores como liberdade e respeito pelo valor dos indivíduos. Em
uma sociedade socialista, o que, na ordem capitalista, é gerado pela
família e pelo mercado por ordem espontânea, torna-se uma
responsabilidade do Estado: socialização em certos valores
escolhidos pela direção política; a direção da atividade econômica
(consumo e produção) e a manutenção da ordem tornam-se funções
do Estado e, portanto, totalitárias. O resultado nunca pode ser
libertação, mas, pelo contrário, a opressão inescrutável e a
exploração, de cuja realidade deram conta as experiências
comunistas do século XX, seus genocídios, fomes e campos de
concentração. Mais tarde veremos como o capitalismo, ao contrário
do que dizem estas teóricas que servem menos às mulheres do que
ao socialismo,[151] gerou as condições econômicas, tecnológicas e
sociais profundamente libertadoras (no sentido saudável do termo)
para a mulher.
É importante enfatizar que, além de melhorar a conjunção de
feminismo e marxismo tentada por Firestone e Millet, não menos
importante é o fato de que Eisenstein vai mais além na relativização
do dado natural em favor da teoria de gênero.[152] Ao contrário de
Firestone, que encontrava no dado biológico da reprodução a raiz
da opressão da mulher, Eisenstein concluirá, aproximando-se um
pouco mais de De Beauvoir, ainda que com um marxismo mais
explícito, que “a classe sexual não é oprimida biologicamente, mas é
culturalmente oprimida”.[153] E acrescentará como um alvo do
feminismo o modo de relação sexual que as feministas, desde então
até hoje, mais desprezam e que com maior afinco procuram destruir:
a heterossexualidade. “O agente da opressão é a definição cultural
e política da sexualidade humana como ‘heterossexual’. A instituição
da família e do casamento e os sistemas de proteção legal e cultural
que reforçam a heterossexualidade são as bases da opressão
política das mulheres”,[154] sentencia Eisenstein. A verdade é que
não fica claro o porquê a heterossexualidade é opressiva para as
mulheres; o que deve ser deduzido, em todo caso, é que sendo a
heterossexualidade a base e a gênese da unidade familiar, ela deve
ser destruída como forma indireta de destruir a esta última, e como
modo indireto, por sua vez, de derrubar um dos pilares da ordem
capitalista.
Essa é a razão pela qual tanto lesbianismo abunda nos
movimentos feministas, derivado em muitos casos de um forte
componente ideológico. O homem tornou-se alvo de desprezo
absoluto, e o simples ato de conceber um relacionamento amoroso
com ele é equivalente a “dormir com o inimigo”. Impossível, nesse
sentido, não mencionar a teórica feminista Andrea Dworkin
(Universidade de Minnesota), também pertencente ao feminismo
dos anos 70, cujas teses mais eloqüentes afirmam que toda a
relação heterossexual é um estupro contra as mulheres e que o
casamento é uma “licença legal para o estupro”;[155] ou a feminista
australiana Sheila Jeffreys (Universidade de Melbourne), para quem
a relação heterossexual é o fundamento que sustenta o “sistema
patriarcal”.[156] Ou como esquecer francesa Monique Wittig — que
aprofundaremos no próximo capítulo —, que entendia que ser
lésbica “é a rejeição do poder econômico, ideológico e político de
um homem”[157] porque “o lesbianismo oferece, no momento, a
única forma social na qual podemos viver livremente”![158]
Vimos até aqui como a terceira onda do feminismo mantém
seus laços com o socialismo, como ocorria já na segunda, embora
favorecendo uma estratégia de batalha cultural em vez do antigo
economicismo que supunha que a modificação das relações de
produção traria conseqüências lineares na modificação das formas
de vida. Agora é a modificação das formas de vida que implica em
modificações estruturais dos sistemas políticos e econômicos
(marxismo cultural). E nós vimos também o modo o qual a idéia de
gênero como algo independente do dado natural é exacerbada
como uma estratégia para destruir as instituições sociais que seriam
funcionais ao capitalismo: a família monogâmica, a proibição do
incesto e da pedofilia, a heterossexualidade, etc.
A partir daqui, surge a ponte entre essa terceira onda feminista,
desconstrutiva e culturalista, e que nos anos 90 passou a ser
conhecida como “teoria queer”, à qual dedicaremos a seção
seguinte.
***
Antes de continuar com nossa análise da ideologia queer,
permita-nos ter um breve espaço para fazer essa digressão: o que a
esquerda começa a fazer com o feminismo a partir da segunda
onda, e depois se reforça com a terceira onda, é gerar uma
ideologia segundo a qual homens e mulheres constituem sujeitos
irreconciliáveis, cujos interesses objetivos e subjetivos não podem
ser harmonizados senão através de uma luta política, muitas vezes
até violenta. Não há melhor maneira de demonstrar o caráter
falacioso dessa ideologia do que recorrendo ao seu oposto. De fato,
pode-se demonstrar que é possível chegar às mesmas conclusões
pondo no lugar da opressão das mulheres uma suposta opressão do
homem. Poderíamos concluir que estamos diante de algo não muito
mais profundo do que um panfleto maniqueísta do bem contra o mal
facilmente invertível.
Para nossa surpresa, este trabalho foi realizado, não por um
homem, mas por uma mulher argentino-alemã, uma médica,
psicóloga e socióloga de formação, que em seu ódio contra as
mulheres escreveu um livro em que queria mostrar ao mundo que,
na verdade, o homem foi “explorado”. A reminiscência do
pensamento marxista foi tão evidente em seu trabalho que o jornal
alemão Kölner Stadtanzeiger qualificou-a de “o Karl Marx dos
homens”. Referimo-nos a Esther Vilar e seu livro El Varón Domado,
publicado em 1973.
Em uma palavra, Vilar nos diz que o mundo pertence às
mulheres, uma vez que elas exercem uma dominação sobre o
homem cujo efeito mais importante é o fato de ele ter trabalhado
para ela ao longo de toda a história. Vilar acredita que o homem é
vítima das mulheres e não o contrário. E assim é que “as mulheres
são constantemente enriquecidas por um sistema primitivo mas
eficaz de exploração direta: casamento, divórcio, herança, pensão
de viúva, aposentadoria por velhice e seguro de vida”.[159] Sua teoria
é tão maniqueísta quanto a feminista quando nos diz que “a menina
é educada para exploradora e o menino para ser objeto de
exploração”.[160] Parece incrivelmente similar a todas as teorias que
estamos revendo, embora invertendo a posição dos atores.
Mas a exploração do homem seria sustentada, por acaso, por
uma superestrutura cultural que, do berço, o programaria para
sustentar a vida da mulher que trabalhava para ela. (Essa história
toda ainda é familiar?) Assim, Vilar nos dá como exemplo até os
jogos infantis: “O menino é aplaudido por tudo que faz, a não ser
que brinque com homens em miniatura. Constrói modelos de
escolas, de pontes, de canais, desmonta carros de brinquedo por
curiosidade, dispara armas de brinquedo e se exercita em tudo o
que precisará mais tarde para manter a mulher”.[161] Lamentamos
insistir, mas o paralelismo com as feministas que rangem os dentes
contra as formas “sexistas” dos jogos infantis é óbvio demais. “O
pessoal é político”, para parafrasear Millet, também poderia ser o
slogan de uma cruzada misógina.
Também é interessante notar que esta socióloga usa as
mesmas armas que as feministas para mostrar o oposto, e usa um
léxico que é muito similar. Em seu trabalho pode-se ler frases como:
“a mulher não atribui ao homem mais valor do que sua função
alimentícia”;[162] para a mulher “o homem é um tipo de máquina que
produz valores materiais”;[163] a propriedade privada é “útil apenas
para mulheres”,[164] entre outras de calibre semelhante. Como a
história feminista, a história misógina de Vilar visa “desconstruir”
esquemas culturais e, conseqüentemente, atribui grande
importância à questão de conceitos e palavras, como o caso da
“honra viril”, do “sexo belo”. “Dar a vida pela mulher”, entre outras,
seriam criações femininas para subjugar o homem e mantê-lo sob
seu jugo.
O mais surpreendente é que, invertendo o lugar dos opressores
e dos oprimidos, Vilar acaba nos dando as mesmas conclusões que
o feminismo radical: que a instituição familiar é opressiva; que a
propriedade privada é a base da dominação de um dos sexos; que o
casamento é um desvalor; que ter filhos é supérfluo e só aumenta a
opressão; que o homem é, em uma palavra, irreconciliável e
incompatível com as mulheres.
Chegar à mesma conclusão a partir de uma hipótese
exatamente inversa nos fala do caráter imaginativo de todos esses
panfletos, feministas e misóginos, igualmente.
A ideologia queer
Não poderíamos começar esta seção sem primeiro responder a
uma pergunta que surge da própria legenda: o que chamamos de
queer? A palavra queer é de origem inglesa; apareceu no século
XVII, em seguida, emergiu como um insulto para se referir àqueles
que corrompiam a ordem social: o bêbado, o mentiroso, o ladrão.
Mas logo a palavra também começou a ser usada para se referir
àqueles que não se encaixavam bem na caracterização de mulheres
ou homens. Como a filósofa queer Beatriz Preciado diz, “eram queer
os invertidos, o bicha e a lésbica, o travesti, o fetichista, o
sadomasoquista e os zoófilos”.[165]
Mas o que no início era um insulto, desde meados dos anos 80
do século XX foi reapropriado politicamente pelos mesmos que se
pretendia ofender. Grupos homossexuais como Act Up, Radical
Furies ou Lesbian Avangers, começaram a usar a palavra queer
como autodenominação, e logo o rótulo causou furor dentro de tais
grupos. O insulto tomava com "orgulho" o insulto e o aplicava,
desafiadoramente, a si mesmo, neutralizando e logo invertendo a
sua carga valorativa.
Diz-se que queer faz parte de um movimento "pós-identidade",
isto é, de um movimento que coloca em questão todos os tipos de
identidade. Assim, o queer seria inclassificável nas categorias de
"homem", "mulher", "gay", "lésbica". Pelo contrário: o queer rejeita
abertamente a existência de algo como um homem, uma mulher, um
gay ou uma lésbica. Desse ponto, Preciado citou afirmações de que
"ser gay não é o suficiente para ser queer: é necessário apresentar
a sua própria revisão de identidade".[166]
No entanto, o queer não é apenas um movimento político;
tornou-se também uma corrente teórica que entrou com força total
na vida acadêmica, tomando universidades e centros de estudo ao
redor do mundo. Nos Estados Unidos, a primeira universidade que
contribuiu para o desenvolvimento dessa teoria foi a Universidade
de Columbia, seguida pelo Centro de Estudos Lésbicos e Gays da
Universidade da Cidade de Nova York. Hoje esta instituição possui o
Centro de Estudantes Lésbicas, Gays, Transgêneros e Queer.
Também encontramos neste país revistas acadêmicas que
promoveram o tema, como The Journal of Sex Research, The
Journal of Homosexuality, The Journal of the History of Sexuality, A
Journal of Lesbian and Gay Studies. (Lembra-se o leitor das
confissões do ex-agente da KGB, Yuri Bezmenov, sobre a
importância de invadir o mundo acadêmico do Ocidente como forma
de desmoralizar e alienar gerações inteiras?) No Canadá também é
muito forte a presença do queer nas universidades; a Universidade
de Toronto, por exemplo, tem um programa chamado “Orientação
Queer”, dependente do “Escritório de Diversidade Sexual e de
Gênero”. Neste país, podemos encontrar revistas como o Journal of
Queer Studies in Education. Na Europa, entretanto, o pioneira
nesses estudos foi a Universidade de Utrecht, localizada na
Holanda, com seu Departamento de Estudos Interdisciplinar de
Gays e Lésbicas, que também edita o Forum Homosexualität und
Literatur. Na América Latina, a Universidade Nacional Autônoma do
México tem o Programa Universitário de Estudos de Gênero, onde a
atenção foi dada ao assunto. E na Argentina, podemos encontrar
outras instituições da vida acadêmica, como o Grupo de Estudos de
Sexualidade da Universidade de Buenos Aires, ou o Centro de
Estudos Queer da Universidade Nacional de Río Cuarto (Córdoba).
Há uma expressão em inglês que os movimentos queer adotaram
para se referir a tudo isso: queering the academy, que seria algo
como “desestabilizar” ou “subverter” a academia.
Se bem que normalmente assinale-se a filósofa lésbica Judith
Butler como a referência intelectual por excelência da ideologia
queer, no pensamento da filósofa feminista (também uma lésbica)
Monique Wittig encontramos sólidos antecedentes que nos obrigam
a mencioná-la, mesmo que brevemente. De fato, sua produção
intelectual, temporalmente localizada nos anos 80, começa a
questionar a existência do sexo e gera uma ponte muito sólida entre
feminismo e movimentos que, sem incluir as mulheres, têm seu eixo
na questão de gênero. Uma de suas idéias fundamentais é que a
“opressão das mulheres” e a “opressão da homossexualidade” são
efeitos da mesma causa: um regime político de “heterossexualidade
compulsória”. Assim, em seu ensaio A Categoria do Sexo nos dirá
que “a categoria sexo é o produto da sociedade heterossexual que
impõe às mulheres a obrigação absoluta de reproduzir ‘a espécie’,
ou seja, reproduzir a sociedade heterossexual.”[167] Falácia curiosa
da escritora francesa: nenhuma sociedade ocidental legislou
qualquer obrigação reprodutiva ao sexo feminino e não pode sequer
afirmar seriamente que existe uma norma cultural “absoluta” sobre
ela; a própria Wittig, que nunca foi mãe pode dar conta com o seu
próprio exemplo de vida e suas decisões pessoais que nenhuma
obrigação reprodutiva existe em nossas sociedades, que não
poderiam ser encontrados em sistemas comunistas (afins à
ideologia de Wittig)[168] como o maoísmo chinês, que regulamentou
questões relacionadas à reprodução sexual, mas não parece
perturbar a francesa em questão. Em todo caso, é a biologia que
dita as condições sob as quais a humanidade enquanto tal pode ser
reproduzida, e daí deriva a categoria de sexo que Wittig falsamente
impõe à política.
Mas o que nos interessa sobre Wittig são, acima de tudo, suas
idéias sobre como subverter a ordem estabelecida; e aqui nós
rastreamos o queer de seu pensamento. Em resumo, sua proposta
é destruir o homem e a mulher como tais. Como? O lesbianismo
terá aqui um papel central: “por sua própria existência, uma
sociedade lésbica destrói o fato artificial (social) constituindo as
mulheres como um ‘grupo natural’.”[169] Tal como Wittig nos diz, a
lésbica não é uma mulher, é uma subjetividade que quebra o
binarismo, o que mostraria que não há nem mesmo um sexo
feminino. Com efeito, Wittig entende que “recusar-se a tornar-se
heterossexual (ou permanecer como tal) sempre significou,
conscientemente ou não, recusar-se a tornar-se mulher ou homem.
Para uma lésbica isso vai além da mera rejeição do papel da
‘mulher’. É a rejeição do poder econômico, ideológico e político do
homem”.[170] O giro de Wittig é impressionante: representa um
feminismo cujo objeto é, paradoxalmente, destruir a mulher, como
ela mesma reconhece explicitamente: “nossa sobrevivência exige
que nos dediquemos com todas as nossas forças para destruir essa
classe — as mulheres — com a qual os homens se apropriam das
mulheres. E isso só pode ser alcançado com a destruição da
heterossexualidade como um sistema social baseado na opressão
das mulheres pelos homens”.[171]
Embora Wittig fale constantemente sobre a luta de classes
entre homens e mulheres, o que pode remeter para o economicismo
do marxismo clássico, ela é uma expoente fiel do marxismo cultural,
uma vez que favorece a subversão da linguagem e da moral. Em
seu ensaio Pensamento heterossexual, ela nos diz que “a
transformação das relações econômicas não é suficiente. Devemos
realizar uma transformação política dos conceitos-chave, isto é, dos
conceitos que são estratégicos para nós. Porque existe uma outra
ordem de materialidade que é a da linguagem (...) essa ordem, por
sua vez, está diretamente ligada ao campo político”.[172] Seu
romance O Corpo Lésbico[173] é um exemplo de subversão da
linguagem, e dessas propostas práticas como as que vemos
atualmente, mesmo em textos supostamente acadêmicos ensinados
em universidades ao redor do mundo, de escrever eliminando o
gênero ao modificar as letras ‘a’, ‘e’ e ‘o’ pela letra ‘x’. É que o
maldito “patriarcado” estaria presente mesmo em ... nossa maneira
de escrever.
Deixando Wittig de lado, a teoria queer mais importante é a da
já mencionada Judith Butler, cujo trabalho O Gênero em Disputa
(1990) é considerado fundamental[174] desta nova tendência que
visa “desconstruir” ainda mais incisiva e absolutamente (se possível)
a noção de gênero e sexualidade, para torná-las peças de museu,
categorias inutilizáveis, espaços politicamente fechados pela
ideologia de gênero.
Essa etapa, da terceira onda ao chamado queer, é de alguma
forma assumida por Butler quando, em seu prólogo à edição de
1999 do citado texto, observa que “enquanto escrevia compreendi
que eu mesma mantinha uma relação de combate e antagonismo
ante certas formas de feminismo, embora eu também tenha
entendido que o texto pertencia ao próprio feminismo”.[175] Ou seja,
Butler consegue gerar um novo ponto de inflexão no feminismo, mas
não deixa de estar dentro dele. Butler é uma feminista, mas de um
novo tipo de feminismo que trata de apontar os “limites” que a teoria
feminista em geral atribuiu ao gênero, descobrindo que eles sofrem
de uma “pressuposto heterossexual dominante” que estabeleceu um
número limitado de gêneros a definir. O que Butler procura, portanto,
é “facilitar uma concordância política do feminismo, das visões gays
e lésbicas sobre o gênero”[176] e as outras “modalidades” sexuais;
em outras palavras, esticar tanto o conceito de gênero até que nele
caibam as mais estranhas formas e gostos sexuais. Hegemonia, em
outras palavras.
O livro de Butler, como uma boa pós-estruturalista, é
extremamente complicado de ler, e provavelmente mais complicado
de explicar em alguns parágrafos como propomos aqui.[177] Pode-se
dizer que todos os seus esforços visam modificar o “sujeito” político
do feminismo, recriar uma área de representação muito mais
extensa, capaz de conter todos aqueles que, além de serem
potencialmente incorporados na luta contra o homem, podem
somar-se à luta contra a sociedade heterossexual e a instituição
familiar. Mas, para isso, a filósofa deve demonstrar, em
conseqüência, que não há nada que possa ser chamado de
“mulher”. Assim, ela nos diz que as mulheres devem “entender que
as mesmas estruturas de poder através das quais se pretende a
emancipação criam e limitam a categoria de ‘as mulheres’, o sujeito
do feminismo”.[178] Conseqüentemente, ela acrescenta: “em vez de
um significante estável que exige a aprovação daqueles que
pretende descrever e representar, as mulheres (mesmo que plurais)
se tornaram um termo problemático, um lugar de refutação, uma
fonte de angústia.”[179] Seria bom perguntar: de angústia e refutação
para quem? Talvez para essa minoria conflituosa que integra o
movimento feminista e queer, mas não muito mais.
Vimos que, para as feministas da terceira onda como De
Beavouir, o gênero constituía o lado cultural do dado natural que
representava o sexo. Havia, portanto, ainda que pequena, a
aceitação das condições biológicas do corpo humano (não havia
sido a “origem” da opressão as condições de reprodução e a
fraqueza do corpo feminino? E o que dizer de Firestone, para quem
a função reprodutiva define a “classe social” das mulheres? Para
Butler, o sexo “sempre foi um gênero, com o resultado de que a
distinção entre sexo e gênero não existe como tal”.[180] Isto é, o sexo
é verdadeiramente inexistente; essa também é uma construção do
discurso, e o fato de atribuirmos certo significado a certas
características biológicas é um fato arbitrário que, em todo caso,
serve a interesses políticos. Mas a distinção dos sexos parece
realmente arbitrária à luz das diferenças anatômicas, fisiológicas e
funcionais-reprodutivas que ambos apresentam? De nenhuma
forma, como se verá com mais profundidade depois; com efeito, a
diferença dos corpos e suas funções constituem um conjunto de
dados primários para a categorização do binômio homem-mulher,
que tem sido utilizado em todas as sociedades humanas que este
mundo tem visto, em primeiro lugar, quando da divisão social do
trabalho.[181] (Butler pretende rebater essa realidade postulando o
caso dos hermafroditas, mas eles são, gostem ou não, um caso
anômalo dentro da configuração prototípica humana).
O importante para Butler é quebrar o binarismo que, segundo
ela, a sociedade heterossexual gerou:[182] “a regulação binária da
sexualidade elimina a multiplicidade subversiva de uma sexualidade
que perturba as hegemonias heterossexuais, reprodutivas e médico-
legais”[183] observa a filósofa seguindo seu colega Michel Foucault
— sobre quem Nicolás Márquez aprofundará mais tarde —,
introduzindo-nos ao cerne da questão: temos de conseguir uma
multiplicidade de gêneros que subverte o suposto “regime
heterossexual”, para desmantelar algumas instituições sociais que,
como vimos, feministas anteriores vincularam à sustentabilidade e
reprodução do capitalismo. Então, Butler diz-nos que: “se a
sexualidade é culturalmente construída dentro de relações de poder
existentes, em seguida, a alegação de uma sexualidade normativa
que esteja ‘antes’, ‘fora’ ou ‘além’ do poder é uma impossibilidade
cultural e um desejo politicamente impraticável, que adia a tarefa
concreta e contemporânea de propor alternativas subversivas de
sexualidade e identidade dentro dos próprios termos de poder”.[184]
Tudo isso deriva, como é claro, da falácia de que nosso sexo não é
a natureza, senão também, tal qual o “gênero”, cultura.
Mas por que a filósofa queer levanta essa necessidade de
“desconstruir” (desarmar) até mesmo a categoria “mulher”, tão cara
ao feminismo? Para as próprias necessidades da batalha cultural
que ela explicitamente reconhece: “Se o que aparece como meta
normativa da teoria feminista é a vida do corpo além da lei ou a
recuperação do corpo perante a lei [isto significa: mulher como
natureza], tal norma realmente distancia o foco da teoria feminista
dos termos específicos da batalha cultural contemporânea”.[185]
Uma batalha cultural, para Butler, é então aquela que procura
aniquilar qualquer consideração de uma natureza propriamente
humana. (Mais uma vez: você se lembra do que Mises alertou na
década de 1920 sobre o socialismo e a desconstrução da
natureza?) Butler pretende, então, o surgimento de vários gêneros
para quebrar a coerência existente entre sexo, gênero e desejo.
Eles seriam os sujeitos queer, aqueles cujo corpo não tem a ver
com ambos os sexos, nem com o seu desejo. Poderíamos colocar
como exemplo o caso de um homem que pensa ser mulher, e que
deseja ter relações sexuais com menores de idade. Sexo, gênero e
desejo correriam dessa maneira por faixas diferentes. E as “ficções
reguladoras que reforçam e naturalizam regimes de poder
convergentes de opressão masculina e heterossexista”.[186] Entre
essa “multiplicidade” de desejos, o caso do incesto também tem
lugar. Na verdade, estas alegações também são evidentes no
trabalho de Butler: “Já descrevemos os tabus do incesto e o tabu
anterior contra a homossexualidade como os momentos generativos
da identidade de gênero, proibições gerando a identidade das
grades culturalmente inteligível de uma heterossexualidade
idealizada e obrigatória”.[187] Então, voltamos aos mesmos objetivos
que a esquerda pretendeu para o feminismo nas duas ondas
anteriores — a destruição da família e do casamento como uma
maneira de derrubar a superestrutura que sustenta o capitalismo —
mas agora, com outra reviravolta: aniquilar a mesma concepção de
“mulher”. Mas para aniquilar o sexo, é preciso também aniquilar até
mesmo a idéia de uma “identidade de gênero”, porque isso
proporcionaria ao sexo uma aura de naturalidade, precisamente
como sua contrapartida cultural.
De tal maneira que Butler colocará em primeiro plano a
importância dos travestis, dos transexuais, das diferentes
modalidades de lesbianismo e de homossexuais, entre outras
companhias. Ela entende que, na “atuação” que esses sujeitos
fazem para se assemelhar a certos sexos ou gêneros, existem as
pistas que os levam a declarar que o gênero se reproduz sob uma
estrutura “imitativa”. De modo que na paródia que esses sujeitos
provocam onde se há de encontrar a tão aguardada “subversão” do
sistema: “a multiplicação paródica impede a cultura hegemônica e
sua crítica confirma a existência de identidades de gênero
essencialista ou naturalizadas”[188] diz Butler, ao que caberia
perguntar se não é exatamente a paródia e a percepção de uma
imitação o fato que corrobora que há originais, e a diferença
existente entre, por exemplo, uma mulher e um travesti não
corrobora precisamente a natureza de uma e a artificialidade de
outro.
Mas Butler insiste em dizer-nos que o travesti “zomba do
modelo que expressa o gênero, bem como a idéia de uma
verdadeira identidade de gênero”,[189] o qual poderia ser novamente
lido em termos exatamente opostos: a natureza é realmente a que
zomba do travesti, que apesar de sua insistência em “ser” ou pelo
menos “parecer” como uma mulher, deve conduzir uma luta
exaustiva e interminável contra suas próprias condições biológicas,
que ele jamais conseguirá superar.
O fim ao qual a estratégia butleriana leva fica plasmado na
conclusão do livro: “A perda de regras de gênero multiplicaria várias
configurações de gênero, desestabilizaria a identidade substantiva e
privaria as narrativas naturalizantes da heterossexualidade
compulsória de seus protagonistas essenciais: “homem” e “mulher”.
[190] Em outras palavras, o objetivo é a destruição sexual de homens
e mulheres como produtos da heterossexualidade, o que é,
curiosamente, a forma de vínculo sexual que permite a conservação
de nossa espécie. Não é verdadeiramente autodestrutiva do sujeito,
mas da humanidade como tal, a proposta teórica do feminismo
queer?
Antes de continuar com a evolução deste pensamento por parte
dos ideólogos mais tardios e seu equivalente na prática, vamos
parar um momento para pensar sobre os fundamentos da proposta
teórica de Butler, isto é, a idéia de que o sexo “foi sempre gênero”.
Nesse sentido, o pesquisador do Centro de Estudos Livres,
Fernando Romero, escreveu um brilhante ensaio em que responde
a esse argumento. Em Butler há uma evasão total, como já
dissemos, das condições biológicas da existência; somos
apresentados ao sujeito suspenso no nada, como um semideus que
se faz a si mesmo, que é portador das condições que nada têm a
ver com um ambiente natural distinto do que a sua própria cultura
impõe. Romero acusou os argumentos butlerianos de “monistas”
precisamente por esse reducionismo manifesto e, assim, explica:
“Sexo na biologia corresponde à capacidade das entidades
biológicas para gerar gametas através dos quais são combinados
caracteres genéticos mediante a reprodução sexual. Essa forma de
reprodução ocorre no reino animal, mas também nos reinos plantae
(vegetal), fungi (fungos) e inclusive em alguns protozoários
(bactérias). Em algumas espécies, a capacidade de produzir
gametas é dada dentro de um mesmo espécime que possui
simultaneamente órgãos “femininos” e “masculinos” ou um único
gameta (meiose monogâmica). Essa condição se aplica tanto ao
hermafroditismo quanto à partenogênese. No entanto, na maioria
dos animais e na maioria das plantas, órgãos produtores de
gametas são distribuídos em espécimes separados, resultando
numa alteração morfológica distinta de corpos sexuados, chamado
dimorfismo sexual.”[191]
Assim, as diferenças estruturais, anatômicas e fisiológicas das
espécies que são caracterizadas pelo dimorfismo sexual são
sempre verificáveis e, em alguns casos, realmente impressionantes.
No reino animal, diferenças funcionais podem ser observadas, como
na produção de veneno, enzimas, hormônios, pigmentos e sons
diversos; e anatômicas, como as diferenças encontradas na
constituição dos próprios órgãos, incluindo órgãos não-sexuais.
Nessas espécies, dentro das quais podemos localizar o próprio
homem, os dois sexos produzem diferentes componentes químicos
e têm órgãos sexuais anatomicamente e fisiologicamente
diferenciados, desenhados para que, quando se complementam,
possam gerar uma nova vida. Muitas espécies animais não-
humanas desenvolveram diferenças etológicas, isto é, formas
diferenciadas de comportamento entre os sexos, que conduzem e
possibilitam o acasalamento: sons, modos de andar, danças,
performances, etc.[192] À luz dessa realidade, e considerando que
para Butler o sexo é outro produto do “discurso heteronormativo”,
pergunta Romero: “como se explicaria desde uma postura linguística
as diferenças sexuais em organismos carentes de linguagem?”.[193]
Pode-se responder que o problema é que a realidade biológica
não pode ser abordada senão discursivamente; que a ciência cria
suas próprias categorias de identificação de seus próprios objetos
de estudo e, assim, os perverte. Em outras palavras, a realidade
biológica não seria a realidade, mas também uma contaminação
discursiva de nossa cultura. Mas tal argumento não levaria em conta
as lógicas das ciências naturais e, de fato, suporia a abolição de
qualquer possibilidade de conhecimento humano próximo da
objetividade, que curiosamente é o que as ciências naturais, dado
seu objeto particular de estudo, têm alcançado em muito maior
medida do que as ciências sociais de onde este tipo de crítica
provem.[194]
Poderíamos fechar perguntando: se tão impossível, fictício e
até absurdo é o conhecimento para as ciências biológicas e
médicas, a humanidade teria perdido algo se o ser humano nunca
tivesse tido uma ciência da natureza e do corpo humano? A
resposta que o leitor dá a essa pergunta deve ser contrastada com a
que é oferecida a essa outra pergunta: a humanidade teria perdido
alguma coisa se o ser humano nunca tivesse contado com as
teorias de Judith Butler?
***
Quanto à ideologia queer, no caso argentino, destaca-se a
filósofa Leonor Silvestri, militante que, além de escrever livros e
ensaios, tem presença considerável no mundo acadêmico e oferece
cursos queer desde sua casa, muitos dos quais podem ser vistos no
YouTube. Também integra “coletivos” chamados “Ludditas
Sexxxuales” e “Manada de Lobxs”, autores de um livro que não
podemos deixar de mencionar: Foucault para Encapuchadas (2014).
Este texto começa com uma pergunta-chave que, em sua
própria formulação, revela as intenções da ideologia que
representam: “Agora que entendemos que não há sujeitos da
revolução, quem combate o heterocapitalismo?”.[195] E a resposta
está na própria declaração, porque o que deve ser feito é destruir
toda a identidade como tal, “apagar as categorias de ‘masculino’ e
‘feminino’ de acordo com as categorias de atribuição biopolítica
‘homem/mulher’. Os códigos de masculinidade são susceptíveis de
abrir-se para que operemos sobre eles uma espécie do gender
hacking perfo-prostésico-lexical usando jogos lingüísticos que
escapem das marcas de gênero, ou pelo menos as decomponham:
proliferar até o absurdo anormalidades psicossexuais”.[196] O que
deve ser alcançado é “invalidar o sistema heteronormativo da
produção humana e as formas de parentesco — sempre a priori
heteronormais — por meio de desistir de práticas como o
casamento e todos os seus substitutos”.[197]
A ideologia queer tenta subverter o que ela chama de “relações
sexuais heteronormativas”, o que inclui não só a relação
heterossexual como tal, mas o papel em si que têm órgãos sexuais
biologicamente determinados em relações sexuais (pênis e vagina).
Assim, as teorias queer argentinas explicam que “a renúncia de
manter relações sexuais naturalizantes heteronormais permite a
ressignificação e desconstrução da centralidade do pênis e critica as
categorias ‘órgãos sexuais’ (qualquer parte do corpo ou objeto pode
se tornar brinquedo sexual)”.[198] De fato: “A abolição da prática da
sexualidade em casal, mediante a prática de prazer em grupo com
afinidades sexo-afetivas resignifica o corpo como uma barricada de
insubordinação política, de desobediência sexual, de
desterritorialização da sexualidade heteronormativa, seus regimes
disciplinares naturalizados e sua formas de subjetivação para a
posterior criação de espaços de afinidade anti-gênero e anti-
humanos: destruir até as fundações a heterossexualidade como
regime político. Esse é o nosso destino.”[199] Tudo isso merece uma
tradução: o que se quer dizer entre tanto palavreado é que renunciar
às relações heterossexuais evitaria a “naturalização” desta relação,
ou seja, evitaria que, dada a sua reiteração, apareça algo próprio da
ordem natural. Mas não só a relação heterossexual deve ser
submetido a essa “subversão”, também o próprio uso dos órgãos
sexuais no contexto do sexo, ao ponto de, também, “desnaturaliza-
los” como tais.
O ódio com o qual este texto é escrito é impressionante; não
somente ódio aos heterossexuais, mas ao homem e à humanidade
em termos gerais. As doses de violência que são incorporadas nas
páginas são altíssimas. Aqui estão algumas passagens que podem
esclarecer o leitor: “Sem nome, sem prestígios, sem passaportes,
sem famílias, experimentamos o sabor do molotov, da nafta, a
fumaça da borracha queimada cortando a ponte e abrindo o
caminho como quem experimenta um maracujá, uma manga, ou o
fisting [prática sexual de introduzir o punho no ânus]”;[200] “O mundo
pertence aos heteros que se gabam de suas liberdades em nossos
rostos. Por que eles têm que vir para nossos aniversários, nossas
festas, nossos rituais, nossas marchas, nossas cerimônias? Nós
não queremos tolerá-los, nem desejamos sua asquerosa dádiva
gay-friendy chamada ‘apoio’, ‘integração’, ‘respeito’, ‘diversidade’ ...
Não queremos suas leis anti-discriminação. Nós não os queremos.
O mundo pertence aos heteros e estamos em guerra contra o seu
regime. (...) Isto é apologia à violência, vamos lutar, vamos lutar
contra o inimigo com nossa violência (...) O mundo pertence aos
heteros e não o cederão voluntariamente. Teremos que tomá-lo à
força. Haveremos de forçar o cu para que o abram”;[201] “Um
exército de punhos não pode ser derrotado, meta no cu tudo o que
couber. E mais, jogaremos em seus rostos de heterossexuais
consternados: merda e peidos, chuvas douradas de squirt [urinação
feminina]. Um riso negro que soa diabólico e alegre brota de nossas
entranhas promíscuas. (...) Não nos identificamos com vocês,
heterossexuais, não gostamos, desprezamos, vocês são o
desprezível desperdício do capitalismo que impulsionam”;[202] “Com
grande alegria nós dizemos: não vamos ter filhxs, adoramos a
solidão, celebramos, apoiamos e insistimos na destruição de toda
relação, da monogamia, dos laços sentimentais, dos hetero-
compromissos, das paixões, do amor romântico ou dos
relacionamentos escondidas sob a merda do amor livre. Todos
estabelecem territórios e hierarquias de opressão”.[203]
Esse tipo de idéia sobre como desconstruir a sexualidade
também pode ser encontrada na referida filósofa queer espanhola
Beatriz Preciado (Professora da cátedra de História Política do
Corpo e Teoria de Gênero na Universidade de Paris VIII), que
chama para a prática da “contra-sexualidade”, estratégia inspirada
por nada menos do que Foucault: “O nome de contra-sexualidade
vem indiretamente de Foucault, para quem a forma mais eficaz de
resistência à produção disciplinária da sexualidade em nossas
sociedades liberais não é a luta contra a proibição (como a proposta
pelos movimentos de libertação sexual anti-repressivos dos anos
70), mas a contra-produtividade, isto é, a produção de formas de
prazer-saber alternativas à sexualidade moderna.”[204] Então, o que
se busca, mais uma vez, é negar a realidade biológica do nosso
corpo para inventar excentricidades que “subvertam” as funções
eróticas do pênis e da vagina: “A contra-sexualidade afirma que o
desejo, a excitação e o orgasmo não são mais que os produtos
retrospectivos de uma certa tecnologia sexual que identifica os
órgãos reprodutores como órgãos sexuais, em detrimento de uma
sexualização de todo o corpo. [...] O sexo é uma tecnologia de
dominação heterosocial que reduz o corpo as zonas erógenas de
acordo com uma distribuição assimétrica de poder entre os sexos
(feminino/masculino), fazendo coincidir certos afetos com
determinados órgãos, certas sensações com certas reações
anatômicas”[205] Então, Preciado nos oferece um exemplo pitoresco
de como resistir ao “sistema heterocapitalista”: “a prática de fist-
fucking (penetração do ânus com o punho), que teve um
desenvolvimento sistemático no seio da comunidade gay e lésbica
dos anos 70, deve ser considerada como um exemplo de alta
tecnologia contra-sexual. Os trabalhadores do ânus são os
proletários de uma possível revolução contra-sexual”,[206] diz a
professora, deixando ver as raízes marxistas de seu pensamento.
Tudo isso pode soar como uma piada, mas é uma realidade
palpável com correlatos concretos na prática. Preciado pretende
inovar com respeito a “atos contra-sexuais” e, em seguida, fornecer
um manual de prática chamada “dildotectônicas”, que seriam
implementadas com a ajuda de um “dildo” (vibrador) e contribuiriam
para outras partes do corpo serem “sexualizadas” na luta contra a
“hegemonia do pênis e da vagina” estabelecida pelo
“heterocapitalismo”. Uma delas é amarrar um vibrador a um bloco
de agulha e colocá-lo no ânus. Mas a prática em si não é suficiente;
há todo um ritual que Preciado recomenda para que a prática seja
verdadeiramente “contra-sexual”: “Tire a roupa. Prepare um enema
anal. Deite-se e fique nu por 2 minutos após o enema. Levante-se e
repita em voz alta: ‘dedico o prazer do meu ânus a todas as pessoas
com HIV’. Aqueles que já são portadores do vírus poderão dedicar o
prazer de seus ânus aos seus próprios ânus e à abertura dos ânus
de seus entes queridos. Coloque um par de sapatos com salto
agulha e amarre dois dildos com atadores nos tornozelos e sapatos.
Prepare o seu ânus para penetração com um lubrificante adequado.
Deite-se em uma poltrona e tente levar para o cu cada um dos
dildos. Use a mão para o dildo penetrar seu ânus. Toda vez que o
dildo sai do seu ânus, grite seu contra-nome violentamente. Por
exemplo: ‘Julia, Julia’. Após sete minutos de auto-penetração, emita
um grito estridente para simular um orgasmo violento. (...) A
simulação do orgasmo será mantida por 10 segundos. Então, a
respiração se tornará mais lenta e profunda, as pernas e o ânus
estarão totalmente relaxados.”[207]
Notemos o seguinte: a professora universitária deve recorrer à
simulação do orgasmo, porque em virtude da natureza biológica e
seguindo este procedimento absurdo, é difícil obtê-lo de uma
maneira real. Exatamente o mesmo deve ser prescrito quando é
recomendado “empurrar seu braço com um consolo”: “A duração
total deve ser controlada com a ajuda de um cronômetro indicando o
fim do prazer e o pico do orgasmo. A simulação do orgasmo será
mantida por 10 segundos. Depois disso, a respiração se tornará
mais lenta e profunda, os braços e o pescoço ficarão totalmente
relaxados”.[208] E o mesmo recurso de simulação deve repetir-se
uma outra vez em cada uma das práticas propostas porque
nenhuma outra ação a não ser o fingimento pode surgir de um ato
que não é acompanhado pelas regras que nosso corpo natural
estabelece. Note, finalmente, o patético da proposta queer em
questão. Esclarecemos que esses argumentos já estavam
presentes no pensamento de Butler mesma, quando argumentou
que “o fato de que o pênis, a vagina, os seios e outras partes do
corpo são chamados órgãos sexuais é tanto uma restrição do corpo
erógeno àqueles partes como uma divisão do corpo como um todo”.
[209]
Embora pareça ridículo ter que parar e demonstrar que existe
natureza na nomeação do pênis e da vagina como órgãos sexuais e
erógenos, vejamos rapidamente os dados que nos fornecem a
anatomia do corpo humano. No caso da vagina, a sensibilidade
nessa área é extrema: lá, o nervo pudendo, ramo do plexo sacro,
recolhe e conduz as impressões sensitivas através do nervo dorsal
do clitóris e dos lábios vaginais maiores. Da mesma forma, os
nervos vasomotores acompanham as artérias que, sob a excitação,
irrigam as formações eréteis. Sabe-se que a vagina contém mais de
oito mil terminações nervosas. Durante o orgasmo feminino, os
músculos perineais contraem-se ritmicamente devido a reflexos da
medula espinhal, e as intensas sensações sexuais são dirigidas
para o cérebro, causando tensão muscular em todo o corpo. No
pênis, a mais alta sensibilidade é encontrada na glande, tornada
possível e impulsionada pelos nervos genitofemoral e ilioinguinal,
ramos do plexo lombar. A ereção é viável graças aos ramos que
vêm do plexo hipogástrico inferior em que os nervos esplâncnicos
pélvicos participam. Outros importantes nervos que permitem
funções sexuais e de excitação são aqueles ramos que emergem da
folha neuro-vascular na altura da uretra membranosa. Sabe-se que
o pênis tem quatro mil terminações nervosas. Ereção é o resultado
de um massivo aporte de sangue para os tecidos eréteis que
circundam a uretra bulbar e peniana, com a ajuda de
bulboesponjosos e músculos isquiocavernosos que comprimem os
plexos venosos, impedindo o retorno do sangue.[210] Podemos
encontrar essas mesmas condições anatômicas, por exemplo, para
continuar com a proposta de Preciado, em um braço humano? Se a
resposta é obviamente negativa: não será então que a designação
dos órgãos sexuais e erógenos seja uma conseqüência dos dados
de nossa realidade anatômica e fisiológica desvendados pelas
ciências naturais, e não de uma “conspiração heterossexual” que o
capitalismo montou para nos oprimir, argüida por alguns vendedores
da fumaça das ciências sociais?
O psicólogo Andrés Irasuste tem seguido de perto os principais
estudos sobre as perversões que realizaram psicanalistas e
psiquiatras de renome como Charles Socarides, Masud Khan, Joyce
McDougall, Christopher Bollas, Albert Ellis, entre outros. Irasuste
entende que as práticas sexuais como as aqui mencionadas são
perversões, tanto é que aqueles que as praticam se relacionam uns
com os outros como objetos transicionais: “O outro não é alguém
com quem se faz amor por desejo, é um objeto ao qual se impõe
uma vontade sadística, ou é uma particularidade suscetível de
preencher pulsões parciais: um ânus que anule o dique da
sexualidade limpa e decorosa, um corpo doador de excrementos (ou
comedor de excrementos), um recipiente de esperma, uma pele,
superfície a qual flagelam para fazer sangrar, para ser mordida
(inclusive comida), um corpo com o qual praticar masturbação letal
ou o coito com enforcamento e sufocamento”.[211]
Só no âmbito dos quadros ideológicos que estamos
descrevendo pode ler-se o fenômeno chamado “pós-pornô”, que
desembarcou em muitos países latino-americanos, cujas
performances foram mesmo apresentadas em instituições
acadêmicas, como a Faculdade de Ciências Sociais da
Universidade de Buenos Aires, ante a cumplicidade ou
consentimento das autoridades. As feministas militantes praticaram
nessa ocasião, em julho de 2015, rituais sadomasoquistas nos
pavilhões públicos da Faculdade e outras práticas que Preciado
consideraria “contra-sexuais”. Como uma nota colorida, a mais
ortodoxa e “retrógrada” esquerda desaprovou a suposta
performance “artística”, porque eles deixaram excrementos e urina
humanos em espaços públicos, como coprofílicas práticas incluídas
no “show” acima referido. Os meios de comunicação analisaram e
discutiram o fato por dois dias inteiros, com pusilanimidade,
expressão arquetípica da ditadura de gênero e do politicamente
correto, que caracterizou as reflexões dos jornalistas “bem-
pensantes”, com medo de serem “antiquados” em suas
considerações.
Mas em que consiste concretamente uma performance “pós-
pornô”? Onde elas apareceram? Qual é o seu objeto? Muitas vezes
são oferecidos espetáculos “pós-pornô” em lugares freqüentados
por um punhado de pessoas, que raramente excede o número de
cinqüenta. Definir a performance é complicado, porque o objetivo é
precisamente a falta de definição. A prática anti-sexual é anti-
identidade e, portanto, difícil de caracterizar de forma determinante.
Digamos, em todo caso, que o “pós-pornô” oferece práticas sexuais
ao vivo que procuram envolver atos extremamente mórbidos —
perversos nos termos psicanalíticos de Irasuste — ultrapassando os
limites da nossa imaginação, seguindo as teorias estranhas que
temos visto. O mencionado fist-fucking é a mais moderada que se
pode ver por ali. O que na maioria das vezes excita o público é o
envolvimento de excrementos e urina nas relações sexuais e, claro,
o chamado squirting, a “ejaculação feminina”, para a qual é dada
igual importância política (não só o homem ejacularia). Mas o
público não é um agente passivo; normalmente recebe em seus
próprios corpos os fluidos citados e até o sangue daqueles que
realizam o espetáculo. Na verdade, a mutilação também
desempenha um papel importante na performance: há uma
particularmente chamativa que foi preciso assistir para fazer esta
pesquisa, na qual a teórica queer Diana Torres (autora de
Pornoterrorismo[212]), transpassava seis agulhas no seu rosto
enquanto praticava atos de masturbação. Deve-se acrescentar, no
entanto, que o espetáculo não se reduz ao que se desenrola no
palco: enquanto a performance acontece, todos os sentidos são
atacados ao mesmo tempo, por uma tela gigante que geralmente
reproduz vídeos de mutilação humana e abortos,[213] pela leitura de
poesia pós-moderna, e pela execução de música “atonal”
(desprovida de ritmo, harmonia e melodia), a qual, por coincidência,
foi considerada pelos teóricos da Escola de Frankfurt como
portadora de efeitos revolucionários.[214]
O grupo o qual a argentina Leonor Silvestri intrega redefiniu o
"pós-pornô” como “pornoterrorismo”, seguindo Torres — pois o
objetivo é aterrorizar as pessoas através de sexo —, e entende que
“como anti-arte, como arma de ação direta, como ritual de mágico
encantamento, como um exorcismo público, como uma máquina de
guerra contra o aparato de captura da norma social hétero, como
potência visual —- contra/semioses — o PornoTerrorismo é uma
maneira de construir um novo uso dos prazeres e reprogramar
nossos desejos [...]. Como também destruir a inveja e a propriedade
privada. [...] o PornoTerrorismo é uma forma de insurgência,
divergência, contra-hegemonia, subversão, uma insurreição sexual
e uma objeção de gênero”.[215] E então reforça o que já explicamos
acima, apresentando ao leitor uma lista daquilo que compõe um
espetáculo deste tipo: “Elementos dos jogos extremos BDSM[216]
como flagelação, agulhas, ou sufocamento; a superfície da pele
exposta, rosto encoberto por balaclavas típicos de insurrectos [...]
Fluidos e secreções de todos os tipos: squirt, vômito, sêmen,
sangue humano sobretudo o menstrual, merda; próteses tais como
espéculos e cadeiras ortopédicas, vibradores e arneses; justaponha-
os e brinque com eles da maneira que achar melhor”.[217]
Possivelmente o arquétipo humano mais fiel às praticas contra-
sexuais, do pós-pornô e do pornoterrorismo não é outro senão
Armin Meiwes, mais conhecido como o “canibal de Rotenburg”, que
buscava através da internet pessoas do mesmo sexo que estavam
dispostos a darem suas genitálias como comida. O final da história,
que aconteceu na Alemanha, é bem conhecido: Meiwes encontra
alguém que concorda em poder remover seu pênis para ser frito e
depois devorado por ambos os participantes. Essa história do
desejo “contra-sexual” destaca os limites de nossas práticas
culturais com relação às nossas condições naturais: o sujeito
mutilado morrerá em poucos minutos sangrando em uma banheira.
A realidade pode ser negada, mas os efeitos da realidade não
podem ser evitados.
O inevitável é a conclusão de que a ideologia queer gera um
coquetel explosivo de ódio, violência e frustração individual. A luta
interminável contra a natureza que os movimentos queer realizam
está perdida antecipadamente; e as frustrações dessa derrota
inevitável são canalizadas para sentimentos de raiva contra a
sociedade em geral e o homem heterossexual em particular.
Existem, na verdade, muitos teóricos queer que clamaram à pratica
de violência abertamente. Mas há também teóricos afins ao
movimento queer que fizeram eles mesmos a violência, como é o
caso do comunista americano Peter Gelderloose, preso pelas forças
de segurança de seu país por participar precisamente em atos de
violência política. Ele escreveu um livro intitulado Como a não-
violência protege o Estado (2007), onde propõe ao feminismo ações
como a seguinte: “Matar um policial [...] atear fogo ao escritório de
uma revista que anuncia conscientemente um padrão de beleza que
leva à anorexia e à bulimia ou seqüestrar o presidente de uma
empresa que trafica mulheres. [...] Atacar os exemplos mais
notáveis e provavelmente incorrigíveis do patriarcado é uma
maneira de educar as pessoas sobre a necessidade de uma
alternativa.”[218]
Há também livros e publicações queer onde experiências
violentas reais são relatadas como triunfos políticos contra a
“heteronormatividade” e o capitalismo. Um desses livros recentes foi
intitulado Espaços Perigosos. Resistência Violenta, Autodefesa e
Luta Insurrecionista contra o Gênero (2013), de autoria coletiva. A
dívida da ideologia queer com a esquerda é explicitada aqui: “Os
movimentos da Nova Esquerda com suas declarações nos
empurraram para o fato de que a luta está em muitas frentes mais
do que na simples luta de classes”.[219] Sua introdução começa
assim: “Há uma violência que libera. É o assassinato de um
homofóbico. [...] É o incêndio e a libertação de visões. É quebrar
janelas para expropriar comida. É o madero [policial] queimado e
motins atrás das barricadas. É rejeitar o trabalho, ter amizades
criminosas e a completa rejeição de compromissos. É o caos que
não pode ser parado”.[220] Os objetivos do texto, por outro lado, são
explicitados no final do mesmo prólogo: “Esperamos que esta
publicação possa contribuir de alguma maneira para a greve de
gênero que irá queimar totalmente este mundo”.[221]
A publicação em questão contém depoimentos de queers que
valem a pena citar, a fim de medir o lugar a que o feminismo e a
ideologia de gênero nos conduziram: “Nunca fui muito pacíficx. O
mundo me viola e eu só quero violência contra o mundo. Qualquer
um que tente tirar minha paixão por sangue e fogo, vai queimar
junto com o mundo ao qual se apega desesperadamente”,[222] nos
adverte um queer de forma ameaçadora. Significativa da luta
impossível que esses sujeitos enfrentam contra a natureza, e as
frustrações que dela derivam, é a seguinte narração de outro
travesti queer: “Com alguma tristeza, reconheço meu pai em meu
reflexo. Tanto o meu ‘spiro’ quanto as minhas pílulas de estrogênio
terminam hoje e eu estou ficando louco. Provavelmente eles iam
chegar na segunda-feira, mas talvez tenham se perdido nos correios
[...]. Quero gritar. Estou prestes a explodir. Eu estou controlando o
desejo de me dar um tapa, então eu começo sonhos de olhos
abertos no meu cubículo cinza. Eu vejo um avião de linha
seqüestrado virar e apontar diretamente para minha mesa. [...] Há
um clarão ofuscante, eu desapareço e tudo arde”.[223] Outro queer,
num sentido semelhante, admite: “Há algo dentro de mim que às
vezes quer se tornar surdo a este ritmo, mas sei que não seria
suficiente para acalmar os ecos de gênero em meu corpo e em
minha vida diária, que tentei silenciar incessantemente através de
hormônios, álcool, drogas e da escrita de ensaios estúpidos.”[224]
Outros queer usaram estas páginas para contar e celebrar atos
de violência perpetrados. Um deles relata que um vizinho que ousou
manifestar-se publicamente contra uma marcha queer foi atacado
por membros desse movimento: “Acabara de celebrar seu
quadragésimo-primeiro aniversário em 9 de junho (2009), por isso
pensamos em dar-lhe alguns presentes atrasados na forma de
fortes socos. O grupo o atingiu até que os maderos [policiais]
apareceram e fomos para a parte de trás do parque, sem nenhuma
prisão.”[225] Outro sujeito celebra o ataque preferido de todos,
aquele que é perpetrado contra a Igreja Católica: “Ontem à noite fiz
uma visita à Igreja Católica. Eu fechei com supercola várias de suas
portas e estourei algumas janelas. Estou segurx de que todas as
pessoas que cometeram um ato de sabotagem sabem como é
incrível. Se você não fez isso, você realmente deveria experimentar
por si mesmx.”[226] E com o espírito tolerante e democrático que
caracteriza essas pessoas, ele acrescenta: “A Cristandade precisa
ser presa, empalada em uma estaca”.[227]
A questão é: pode-se esperar algo mais daqueles que foram
politicamente formatados em ódio e ressentimento? Na verdade,
temos visto como a ideologia de gênero constrói discursivamente
uma guerra entre homens e mulheres em primeiro lugar, e uma
guerra entre heterossexuais e homossexuais para no final de tudo
desembocar na idéia de que nem mesmo existe o sexo como tal, e
ainda mais, a identidade não existe como tal. Assim, aqueles que
são colocados em um lugar sexual ou de “gênero” pelo “discurso
heteronormativo” seriam vítimas de uma violência planejada para
manter o capitalismo; e a violência deve ser respondida com maior
violência. A ideologia, portanto, os fecha perfeitamente; oferece a
essas pessoas conflitadas sexual e identitariamente uma explicação
que promete aliviar sua frustração, e que oferece uma saída para
tantos males internos. E essa saída não tem a ver com processos
de auto-reflexão, de superação, de inclusão; essa saída não é
individual, mas é política e, mais ainda, a saída é a violência política.
Pois o queer é incapaz de problematizar sua própria situação, sua
responsabilidade; para o queer, a responsabilidade é sempre do
fantasmático sistema no qual os teóricos da ideologia de gênero o
fizeram acreditar e odiar, chamado “falocracia”,
“heteronormatividade”, “heterocapitalismo”, ou o que quer que
inventem os imaginativos “acadêmicos” dessas correntes.
O testemunho de uma outra queer revela até que ponto a
prática é uma conseqüência da ideologia que lhes injetam: “Na
quinta-feira à noite, após uma estranha palestra motivacional radical
sobre como fazer motins, um bloco negro apareceu como o quarto
ataque de um dia de luta nas ruas. Este bloco particularmente feroz
[...] atravessou Pittsburgh destruindo inumeráveis janelas, virando
lixeiras e ateando fogo. Um colega fez uma observação: onde está o
queer em tudo isso? As pessoas só se vestiam de preto e
queimavam as coisas na rua. Nós respondemos: a prática de usar
preto e destruir tudo é o melhor e mais estranho gesto de todos. De
fato, isso nos leva ao cerne da questão: queer é negação. Ao
encontrarmos nossos corpos desviados, nos tornamos uma turba,
transformando nossos limites corporais em um grande problema. [...]
Nossos limites desapareceram completamente ante um chão
coberto de vidro e uma terra repleta de lixeiras em chamas”.[228] E
então recorre à teoria de Butler “gênero performativo”, da qual já
expusemos algo, para dar sentido ao ato criminoso: “Se estiver
correta, a idéia de que sexo é sempre performativo, então as
performances que realizamos ressoaram como o gênero mais queer
de todos: o da destruição total”.[229] Ante as destruições queer na
cidade, um vizinho tentou detê-las, mas “antes que ele pudesse
perceber seu erro, recriamos uma cena particularmente sádica e a
sangue frio sobre o idiota. Ele percebeu seu erro sob uma chuva de
chutes, socos e uma grande quantidade de spray de pimenta.”[230]
Nosso “democrático” queer fecha sua narrativa com a seguinte
conclusão: “Oferecemos um modo de vida que pode ser entendido
como a conjunção de barricadas e pernas por depilar. Mas o que há
de melhor do que a mistura de arneses com vibradores, martelos,
perucas extravagantes, tijolos, fogo, espancamentos, fisting, e,
claro, ultraviolência”.[231]
Há muitas evidências como as mencionadas aqui que foram
selecionadas ao acaso para esclarecer o leitor. Não pretendemos
abundar nisso, porque acreditamos que o objetivo foi cumprido.
Agora, é possível terminar aqui com a seguinte conclusão.
Há um fio condutor que corre a partir da segunda onda
feminista, através da terceira, com a ideologia queer. Esse fio é
dado por um projeto comum, que tem a ver com a destruição do
casamento heterossexual e da superestrutura familiar que
teoricamente contribuem para a reprodução do sistema capitalista
(estratégia de batalha cultural). Esse fio, no entanto, percorreu um
progressivo caminho teórico que foi do materialismo dialético,
passou pelo culturalismo de gênero e terminou na destruição
mesma do sexo. A questão decisiva aqui, portanto, não tem nada a
ver com as escolhas voluntárias individuais, mas sim com a intenção
expressa de transformar, até mesmo de forma violenta, o sistema
econômico e político que, paradoxalmente, permitiu que existam
essas tribos (ou alguém pode provar que eles existem ou existiram
em um país comunista?). A questão não é que uma mulher pense
que seu corpo não tem existência natural; a questão não é que um
homem acredite ser uma mulher “trancada” em um corpo masculino.
De nada deveria importar-nos os delírios de cada pessoa, enquanto
não afetem os nossos direitos individuais. O problema é que afetar-
nos é o objetivo destas ideologias e sua conseqüente militância,
como vimos amplamente. Nada deveria importar, por exemplo, que
determinado sujeito considere a si mesmo, inclusive, um crocodilo
ou uma macaca enclausurada em corpo humano, vítima da tirania
da “construção social do discurso”; o problema é que a pressão
ideológica exercida sobre o Estado leve-o a nos obrigar a
compartilhar tal loucura e pagar por ela, sob a ameaça de coerção.
De fato, como reconhecido pelas próprias teóricas feministas “desde
o feminismo o que é exigido uma e outra vez é mais intervenção do
Estado”.[232] Nada deveria importar-nos, seguimos dizendo a fim de
dissipar as dúvidas, que em particular se pratique “pós-pornô” se
aqueles que o praticam e aqueles que voluntariamente o observam,
gozam mutilando-se ou assistindo pessoas mutilando-se; o que
realmente importa é que estas práticas são realizadas em espaços
públicos, de maneira invasiva e até mesmo coercivamente, e que o
feminismo radical tenha chegado a promover incesto e pedofilia,
como parte de uma luta política e ideológica para impor formas de
sexualidade degradante.
Nada importa para nós, em uma palavra, o que a cada um
tange à sua personalidade e vida privada. O que é problemático em
qualquer caso, parafraseando um dos slogans mais arquetípicos do
feminismo radical, quando “o pessoal se faz político”.
O Dr. Money, o meninos sem pênis e algumas considerações
científicas
Como temos insistido ao longo deste capítulo, as teorias têm
conseqüências práticas; a maneira como entendemos e
interpretamos o mundo afeta o modo como nossas ações se
desdobram. Assim, há um caso que nos mostra concretamente a
aplicação da ideologia de gênero no campo da medicina e da
psiquiatria e suas conseqüências.
Em 1965 nasceram os gêmeos monozigóticos[233] Bruce e
Brian Reimer. O primeiro deles, com menos de um ano de idade, por
causa de fimose, foi submetido a uma circuncisão fracassada que
mutilou seu pênis. Seus pais, desesperados com o acidente que seu
filho sofrera, logo contactaram um famoso psicólogo chamado John
Money, que ficara afamado no mundo acadêmico, precisamente
porque levou para o campo médico as teorias de gênero que
excluem da identidade sexual qualquer relação com uma
determinação natural. Como muitas feministas contemporâneas,
Money estava envolvido na militância pela despatologização de
práticas de pedofilia e de práticas sexuais que Preciado consideraria
“contra-sexuais” como coprofilia (arremessos e ingestão de
excrementos para fins sexuais).[234] Além disso, Money era
professor da Universidade John Hopkins, foi fundador do Gender
Identity Institute — financiado por esta última — trabalhou no ramo
de mudança de sexo, e o caso em questão apareceu diante de seus
olhos como uma possibilidade excepcional de fazer um experimento
social que comprovaria a teoria de que a sexualidade não tem nada
a ver com a natureza, mas com a criação, isto é: que um ser
humano pode ser educado como homem ou mulher,
independentemente da realidade cromossômica ou gonadal ou
genital que possa ter. Na verdade, o Dr. Money tinha um bebê de
alguns meses que já não tinha pênis e com sua variável de controle
perfeita: Brian, o irmão gêmeo.
Foi assim que, aos dezessete meses de idade, Bruce se tornou
“Brenda” e, quatro meses depois, foi castrado. Os pais foram
encarregados da tarefa mais importante de todas: criar Bruce como
“Brenda” e, sob nenhuma circunstância, revelar a verdade dos fatos
aos gêmeos. As instruções eram rígidas, porque o sucesso do
experimento social dependia delas. “Eu pensei que era
simplesmente uma questão de pais, que eu poderia criar meu filho
como mulher”,[235] lamentou posteriormente a mãe.
Mas logo o plano começou a se desviar dos resultados
esperados por Money. Apesar de todos os tratamentos hormonais e
das características da criação, “Brenda” não parecia se adaptar à
identidade feminina. O pai disse a posteriori que “era tão evidente
para todos, não só para mim, que era do sexo masculino”.[236] Em
um dos fragmentos dos arquivos de Money, ele reclama: “A garota
tem muitas características de ‘machona”.[237] A questão estava
deixando as mãos do famoso professor, e ele decidiu que era hora
de intervir na criação com maior afinco a partir de seus
conhecimentos psicológicos. Então começou enfatizando que
“Brenda” estabeleceria sua nova identidade feminina ao entender a
diferença entre os órgãos sexuais de homens e mulheres,
recorrendo assim às diferenças naturais para negar... o natural. Mas
como a “menina” se recusou a adotar seu novo gênero, o médico foi
forçado a aplicar abordagens cada vez mais extremas. Ele pediu
para ter sessões conjuntas com os gêmeos, a quem tirou as roupas,
fez olharem um para o outro, ensaiar poses sexuais e passar por
sessões fotográficas. As duas crianças desempenharam um papel
não muito diferente do de dois ratos de laboratório. O já mencionado
psicólogo Andres Irasuste refletiu sobre isso: “Nós nos perguntamos
quanta distância realmente existe entre um John Money e um Josef
Mengele”.[238]
A última tentativa de Money foi tentar convencer “Brenda” a se
submeter a uma cirurgia para aperfeiçoar sua vulva rudimentar e
construir uma vagina artificial. Aos treze anos de idade, ele veio
entrevistá-la com um transexual para convencê-la sobre os
benefícios da cirurgia. Mas “Brenda” recusou, e pediu a seus pais
para nunca mais ver o Dr. Money novamente.
O experimento social não parou de ir ao contrário do que seu
mentor havia previsto. “Brenda” teve várias tentativas de suicídio, e
seus pais, desesperados, decidiram que era hora de voltar e contar
a verdade sobre sua própria história. É assim que esta “menina” de
laboratório decidiu ser o que sempre foi: uma criança. E ele se
chamou “Davi”, em referência à luta de Davi contra Golias.
Imediatamente, David deixou os tratamentos hormonais e fez um
implante peniano, mas nunca conseguiu superar o dano psicológico
criado pelo experimento de gênero. Sua família também. Brian, o
irmão gêmeo, nunca pôde aceitar a verdade e acabou caindo na
esquizofrenia, morrendo em 2002 duma overdose.
A frustração de Davi aumentou quando ele descobriu que
Money havia apresentado seu experimento social ao mundo
acadêmico como um sucesso retumbante que provava a veracidade
da ideologia de gênero. De fato, ele publicara um livro de grande
importância que se chamava Homem e Menino, Mulher e Menina.
“Seu comportamento é tão normal quanto o de qualquer menina e
claramente difere do modo masculino como seu irmão gêmeo se
comporta”, pode ser lido nas páginas sobre “Brenda”. Assim, o caso
de Bruce, ou Brenda, ou David, foi por sua vez apresentado como
um sucesso nos textos médicos e psicológicos sobre o tratamento
dos hermafroditas. Prova clara de como o campo científico funciona
quando a ideologia o filtra, e são os fatos que devem ser
acomodados ao que é pensado, e não o que é pensado aos fatos.
Em 2004, vítima de uma depressão causada por seu trauma
psicológico e existencial, David Reimer tirou a própria vida com uma
escopeta, tendo antes deixado, no entanto, um testemunho
premonitório em um documentário sobre sua história: “Eu sou a
prova viva [do fracasso da ideologia de gênero], e se você não vai
aceitar minha palavra como evangelho, porque eu vivi isso, quem
mais você ouvirá? Quem mais passou por isso? Eu vivi isso. Alguém
tem que atirar em si mesmo na cabeça e morrer para que as
pessoas possam ouvi-lo?”[239]
Anos depois de que Money vendera o suposto sucesso da
converção de Bruce em Brenda, outro cientista, Milton Diamond,
revelará a verdade sobre o experimento de Money ao descobrir que
a testosterona orienta cada ser humano antes mesmo de seu
nascimento. O sexo, então, não poderia ser reduzido à variável
“educação”. Felizmente, ainda existem homens e mulheres[240] de
ciências que se atrevem a mostrar e provar que a sexualidade não
pode ser explicada apenas recorrendo a factores culturais, mas há
todo um fundo natural que, em qualquer caso, cria espaço onde a
cultura pode se inscrever.
O psicólogo de Harvard Steven Pinker, por exemplo, escreveu
um livro revelador intitulado The Blank Slate (2002), onde se
dedicou a refutar os negacionaistas da natureza humana sob as
contribuições da psicobiologia e da neurociência, e mostra como a
ideologia de gênero do feminismo é um obstáculo à ciência pois
nega que o “gênero” possuia uma ontogênese, uma psicogênese e
uma base que não dependem exclusivamente do sociocultural. É
como nos explica o próprio Irasuste, “Hoje a neurociência já
comprovou que o que chamamos de ‘gênero’ tem um núcleo
biológico muito duro e profundo que já começa a tomar forma por
várias influências hormonais intra-uterinas, responsáveis pela
sexuação cerebral.”[241] Sabe-se que tanto o androgênio quanto o
estrogênio, hormônios masculinos e femininos, respectivamente,
têm diferentes efeitos no cérebro durante o desenvolvimento fetal.
[242] O biólogo Edward Wilson disse isso muito claramente: “A
neurobiologia não pode ser aprendida aos pés de um guru. As
conseqüências de nossa história genética não podem ser escolhidas
pelas legislaturas.”[243]
Há uma passagem muito interessante no trabalho de Pinker,
que examina um estudo que nos lembra o caso do Dr. Money e dos
gêmeos Reimer. De fato, em um caso de “vinte e cinco crianças que
nasceram sem um pênis (um defeito de nascença conhecido como
extrofia de cloaca) e que são analisados depois de castrados e
criados como meninas, todos mostravam padrões masculinos, se
dedicavam a jogos bruscos e tinham atitudes e interesses
tipicamente masculinos. Mais da metade deles espontaneamente
declarou que eram meninos, um quando tinha apenas cinco
anos.”[244] Isso jogaria fora a possibilidade de que o caso de David
Reimer seja uma simples exceção ou um acidente. E a isto
devemos acrescentar o fato de que a educação de meninos e
meninas se difere cada vez menos se analisarmos historicamente.
Há relativamente pouco tempo existe um ramo na neurociência
chamado “neurobiologia do sexo”, que se concentra em duas áreas
fundamentais: a estrutura do cérebro e a genética. Essa disciplina
também contribuiu muito para nos fazer ver que a sexualidade é
muito mais que cultura: é também natureza. Graças a cientistas
como o embriologista Charles Phoenix e outros que têm realizado
pesquisas sobre o assunto, sabemos, por exemplo, que o hormônio
testosterona desempenha um papel inexorável na definição sexual
muito antes de o bebê deixar o corpo da mãe e, portanto, muito
antes de seus primeiros contatos culturais: “Se removermos os
genitais de um embrião geneticamente masculino durante um
momento-chave do desenvolvimento embrionário, desenvolveremos
genitálias femininas. Ou seja, a testosterona atua como um
diferenciador-chave no processo de individuação biológica em uma
base pré-natal, onde o feminino — na ausência desse elemento —
irá predominar”.[245] Algo semelhante foi encontrado pelo
neurologista Simón Le Vay quando concluiu que uma diferença nos
níveis hormonais androgênicos em períodos críticos de
desenvolvimento — como o estágio intra-uterino — tem efeitos
substantivos sobre as características sexuais.[246] Inclusive foram
detectadas síndromes que afetam a sexualidade da criança, como a
chamada “síndrome por deficiência de 5-alfa reductasa”, sendo esta
última uma enzima que interage com a testosterona para o
desenvolvimento dos genitais. De modo que aqueles que sofrem
desta síndrome, nascem com genitais de aparência feminina, mas o
sexo genético é masculino, se são criados como mulheres durante a
infância, quando atingem a adolescência os níveis de testosterona
aumentam drasticamente e essas alegadas meninas começam a ver
como seus corpos estão assumindo uma forma masculina: voz
grossa, face masculina, maior musculatura e seu “clitóris” aumenta
de tamanho até parecerem mais ou menos com um pênis. Pode-se
dizer seriamente que foi a “cultura” que causou tais modificações?
No entanto, a neurociência e a genética não são o assunto
deste livro; só pretendemos, nessas breves linhas, dar uma mostra
ao leitor que, no que diz respeito à sexualidade, a ciência deu
passos enormes que estão longe do que as ideólogas feministas
reivindicam, isto é, reduzem tudo a uma explicação cultural que
permite, posteriormente, a chamada “desconstrução” (ou melhor,
destruição) de nossa cultura. Mas os neurocientistas, como vimos,
são muito claros: o cérebro, além de manter as condições pré-natais
em termos de sexualidade, realiza toda uma série de operações
muito complexas cujos padrões não estão localizados em contextos
culturais; nem no monismo explicativo, reduzindo tudo a questões
biológicas: ao contrário, eles estão muito conscientes da relevância
da cultura para os seres humanos, mas sem torná-la o fator
explicativo exclusivo. O antropólogo e sociólogo Roger Bartra
propôs, por exemplo, uma “antropologia do cérebro” na qual o
pensamento é uma ferramenta que nos serve para reconectar com o
objeto e, para isso, o cérebro deve naturalmente ter conexões com o
cultural: “O cérebro depende de usos de processos simbólicos,
através dos quais as redes neurais são imbuídas dos produtos da
cultura: é que o cérebro, se for considerado como um espaço
topológico, é tanto um interior quanto um exterior”.[247] Assim, a
sexualidade no ser humano deve ser entendida como um complexo
entrelaçamento de natureza e cultura; nem natureza prescindindo
da cultura (porque a sexualidade seria puro instinto, desprovida de
particularidade e função social); nem cultura prescindindo de
natureza (porque senão seria inapreensível auniversalidade do
sexo, suas regras e sua função natural) Mas, na dialética cultura-
natureza, as formas culturais que triunfam são aquelas que andam
de mãos dadas com as condições e limites que a natureza
estabelece; caso contrário, acabaremos fingindo orgasmos
masturbando braços com consolos coloridos e fingindo salvar o
mundo com utopias lésbicas.
A mulher e o capitalismo
Se presumimos que a vasta maioria das feministas são “de
esquerda”, isto acontece porque sua pregação geralmente está
ligada a lutas contra o capitalismo, ao menos desde aquilo que
definimos como a segunda onda até os nossos dias, como já vimos.
Isso se torna ainda mais visível se, procurando definir o que é o
capitalismo, nos voltamos para um de seus maiores intelectuais e
expoentes, ganhador do Prêmio Nobel de economia, Milton
Friedman, que em Capitalismo e Liberdade simplificou o assunto
dizendo que devemos chamar capitalismo o modo de organizar a
maior parte da atividade econômica através do setor privado
operando em um mercado livre.[248] Com efeito: não havia sido o
nascimento da propriedade privada a origem do “patriarcado”? Se
bem que muitas feministas da terceira onda entenderam que havia
um reducionismo em Engels, a verdade é que não deixaram de ver
no capitalismo o pilar que suporta o “regime patriarcal” e, além
disso, um dos alvos mais importantes de sua cruzada política.
Não está entre os objetivos deste livro fornecer uma teoria
completa sobre as ligações das mulheres e do capitalismo, mas é
nosso interesse ao menos delinear uma hipótese neste curto
subcapítulo, que no futuro pode (deve) ser aprofundado.
Houve um tempo em que o poder derivou principalmente da
força física. A opressão da mulher, pelas condições naturais de seu
corpo, não deveria estar isenta de desconfortos naqueles momentos
de nossa espécie. Tratada como escrava e como objeto sexual, a
autonomia foi completamente negada. Ela poderia ser obtida pelo
macho por concessão, rapto, compra ou troca, não importava.[249]
Seu status e o de uma coisa eram o mesmo. Em muitos dos
chamados “povos originais”, paradoxalmente idolatrados pela
mesma esquerda que se diz feminista, as mulheres eram o objeto
preferido de sacrifício aos deuses.[250] A diferença de corpos
moldava os padrões e instituições culturais que simplesmente
consolidavam as relações de poder existentes, dadas pela
assimetria física, pela diferenciação inicial substantiva. Assim, é
impossível pensar em um fator de poder anterior à própria natureza
física, porque qualquer outro fator original que possamos pensar
fora daquele, enquadra-se nos domínios da cultura.
O problema que surge é, então, como a mulher poderia quebrar
as correntes que sua condição física lhe impôs no começo (e numa
parte muito importante) da história. E eu intuo que o capitalismo teve
muito a contribuir para este processo.
É possível, antes de tudo, e pode até se compatibilizar com as
teorias de Engels, que a propriedade privada tenha nos libertado da
poligamia. Mas não dessa poligamia utópica e quimérica (em termos
corretos chamado de “poliandria”), que teria ocorrido sob regimes
matriarcais improváveis, negados a esta altura por importantes
feministas como a própria De Beauvoir e por recentes estudos
antropológicos.[251] É mais provável, por outro lado, que a poligamia
tenha sido não a cristalização do poder das mulheres, mas dos
homens: tomar quantas mulheres sua força fosse capaz de manter
ante a concorrência de outros homens foi a lógica imperante. O
direito da primeira noite[252] europeu, cujos beneficiários eram os
senhores feudais, vem confirmar essa hipótese. Nas cidades pré-
colombianas, o pacto de los macehualtin tinha a mesma função.[253]
Muitos povos indígenas, como os mapuches ou diaguitas, onde o
número de esposas era limitado pela possibilidade mantê-las
afastadas da ambição dos demais, para citar apenas dois exemplos,
podem dar conta disto. Também é amplamente conhecido que a
poligamia no povo asteca foi reservada exclusivamente para alguns
homens,[254] e a bem da vedade, os exemplos não são poucos
ainda que excedam o espaço naturalmente reduzido destas
páginas.
Mas as demandas da propriedade privada e o acúmulo de
capital têm sido um fator fundamental no ser humano para atacar
esse esquema relacional. As mulheres e seus pais — especialmente
de níveis materialmente elevados —, zelosos de cuidar das
propriedades da família nos sistemas conjugais — que eram
transferidas para o marido por regra geral —, começaram a
pressionar no sentido da monogamia, para assim evitar que
acabassem distribuídas e fragmentadas entre muitas outras
possíveis mulheres que o homem poderia tomar. E vale a pena
enfatizar: tudo isso não ocorreu como resultado do valor do amor —
que será vinculado ao casamento muito mais tarde, como outro
resultado importante da instituição do contrato —, mas por um
cálculo capitalista primitivo. A essas forças materiais devem ser
acrescentadas outras espirituais, que vieram da mão do
cristianismo: “não desejar a mulher do próximo”, um importante
mandamento cristão, fala claramente de uma nova moralidade que
sustenta a monogamia.
É interessante, e do mesmo modo afirmativo do que foi dito
antes, o que aconteceu com o mundo feudal. Com efeito, é o
esquema da propriedade feudal e do cálculo capitalista primitivo que
deriva dela, que deu lugar a novos espaços de poder e
protagonismo para as mulheres (da nobreza, é claro). De fato, a
lógica da acumulação foi enfrentada em muitos casos, sob
esquemas de herança reservada aos filhos, e a possibilidade de
perder tudo se uma família tivesse gerado apenas mulheres. Assim,
a herança, para as necessidades materiais dadas pelo atual sistema
de propriedade, foi estendida em alguns casos às herdeiras do sexo
feminino. O mesmo aconteceu com o poder político: na ausência de
crianças do sexo masculino, tornou-se necessário estender o que
hoje chamaríamos de “direitos políticos” às mulheres para manter
certas famílias no poder. A monarquia da casa de Trastámara de
Castela é apenas um exemplo da questão. Mas o importante papel
que as mulheres começaram a desempenhar nos tribunais é bem
conhecido: Isabel, a católica, Elizabeth da Inglaterra, Catarina da
Rússia, Cristina da Suécia, este último exemplo claro de como o
esquema de sucessão masculina de poder foi transformado em um
feminino a partir da ausência do filho varão. É possível acrescentar
que, ao contrário do que indica o senso comum sobre a idade
medieval, nesse processo se fez algum progresso se o
compararmos com o mundo antigo e os povos indígenas: na
Inglaterra, no sul da França e na região centro-européia, multas
severas e punições (conhecidas como legerwite) foram impostas ao
abuso e à violência sexual contra mulheres, por exemplo.[255]
Mas de volta à situação original das mulheres, Ludwig von
Mises, um dos pais da Escola Austríaca de Economia, chamaria o
tipo de relações sociais baseadas na força de “princípio despótico”,
[256] o qual vai desaparecendo com a introdução da mencionada
instituição do contrato nas sociedades, instituição cuja expansão
vem efetivamente da mão da consolidação da propriedade privada.
Com efeito, o contrato deixa a lógica da força física; estabelece um
intercâmbio guiado por regras que devem ser cumpridas
precisamente para evitar relacionar-se através da força. O papel
reservado para a coerção é depositado em um terceiro, que
monitora o cumprimento do contrato. O capitalismo, como um
sistema baseado no reconhecimento e proteção da propriedade
privada mais do que qualquer outro e parte da origem do nosso
Estado moderno — como uma organização que garante o
cumprimento de nossos contratos — é, portanto, um sistema onde o
contrato se mostra como um elemento fundador das relações
sociais mais importantes.
Pondo de lado os relacionamentos baseados na força física, o
capitalismo introduz na sociedade o que poderíamos chamar de
“lógica de mercado”, baseada na possibilidade de beneficiar-se
servindo aos outros.[257] Se a força física tem que ser eliminada de
minhas possibilidades, a maneira de conseguir algo que eu quero
não é batendo na cabeça da outra pessoa, mas oferecendo algo em
troca do qual a outra parte queira mais do que o que ela possui. O
“maldito mercado” que a esquerda tanto nos chama a temer, então,
nada mais é do que uma abstração de nós mesmos e de nossas
valorações; o mercado é simplesmente a maneira de nomear o
tempo e o lugar onde nós, as pessoas de carne e osso, podemos
trocar livremente com os outros em benefício próprio, ficando sujeito
nosso exito na troca a nossa capacidade de beneficiar os outros. É
por isso que os grandes nomes da história, com o capitalismo,
passaram de guerreiros, caciques e tiranos a inventores, cientistas e
empreendedores.
Com o estabelecimento progressivo dessa lógica que
descrevemos, a mulher estava encontrando espaços maiores na
vida social. Com efeito, o mercado é cego — deve ser cego para
alcançar eficiência — a dados não econômicos como raça, religião,
etnia e, é claro, sexo. Não anda de mãos dadas com a lógica do
mercado pagar mais por um bem simplesmente porque quem o
oferece é um homem, em detrimento do mesmo bem oferecido mais
barato por uma mulher. No mercado, qualquer empresa que seja
estúpida o suficiente para dispensar mulheres qualificadas ou pagar
a mais para homens não qualificados, mais cedo ou mais tarde será
ultrapassada por outra empresa que não discrimine com base no
sexo.
A lógica do mercado pode entender por que as sociedades
tiveram um antes e um depois, um verdadeiro ponto de viragem,
com a introdução do capitalismo em todos os aspectos materiais da
vida que, vale a pena esclarecer, segue nos transformando em
ritmos cada vez mais acelerados. A Revolução Industrial foi filha
dessa nova maneira de organizar e pensar. Com efeito, foram
criados incentivos sem precedentes para que as pessoas pudessem
se elevar econômica e socialmente, não oprimindo os outros, mas
servindo-lhes. E assim, os imensos avanços tecnológicos que desde
a consolidação do capitalismo até hoje a humanidade viveu são
fundamentalmente produtos dessa lógica. Embora pareça
politicamente incorreto, nosso bem-estar material parece depender
fundamentalmente do egoísmo dos outros, como foi dito no século
XVIII por ninguém menos que Adam Smith.
Seria absurdo ignorar o fato de que a tecnologia ajudou a
liberar as mulheres de várias maneiras. Em primeiro lugar,
compensando sua fraqueza física. O que anteriormente eram
trabalhos reservados exclusivamente ao homem por razões físicas,
como a construção, graças à maquinaria cada vez mais avançada,
abriu-se e continua a abrir-se para o mundo feminino, pois a
tecnologia reduz as necessidades físicas no trabalho e, além disso,
cria novos tipos de trabalho o tempo todo e em toda escala.[258] Hoje
praticamente não há trabalho baseado exclusivamente em força
física. Não mais o corpo, mas o conhecimento, tornou-se o fator
mais importante na produção. Por isso, diz-se que vivemos em
“sociedades do conhecimento”. A antropóloga Helen Fisher, em seu
livro O Primeiro Sexo (1999),[259] apresentou uma idéia interessante:
a cultura empresarial, em nossa economia globalizada capitalista e
baseada no conhecimento, logo favorecerá mais às mulheres do
que aos homens (daí o título da obra, que inverte o sentido de
Simone de Beauvoir). Há dados fortes que parecem validar a tese
de Fisher: hoje as mulheres vivem em média dez anos a mais que
os homens, graduam-se em universidades 33% mais que os
homens, controlam 70% dos gastos de consumo em todo o mundo e
— de acordo com a revista Fortune — são proprietárias de 65% de
todos os bens nada menos do que nos Estados Unidos.[260]
Mas a tecnologia não só ajuda as mulheres em relação a sua
relevância social e profissional, mas todos os tipos de avanços,
pequenos e grandes, que desde o início do capitalismo até hoje têm
sido experimentados, também têm ajudado a fazer sua vida diária
uma vida muito melhor. A água potável, a higiene e a medicina
moderna nos ajudaram a diminuir substancialmente a mortalidade
infantil e, assim, foi reduzido o trabalho empregado na saúde e na
assistência infantil. Os benefícios das máquinas também foram
mudando o lugar da própria prole: antes concebida como um factor
fundamental de produção, agora as mulheres podem trazer filhos ao
mundo sob critérios muito diferentes. As mamadeiras e o leite de
vaca pasteurizado, primeiro, e logo depois o leite em pó, os
extratores de leite materno e o leite congelado, reduziram em muito
a carga da mãe quanto à alimentação de seu bebê. A produção
industrial de alimentos, roupas e utensílios domésticos tornou mais
barato comprar do que produzir artesanalmente, e assim reduziram-
se incrivelmente as tarefas domésticas das mulheres; os
eletrodomésticos acabaram de libertar a mulher do que há pouco
tempo haviam sido grandes cargas de trabalho doméstico. Mas esta
realidade — talvez ainda mais importante que a anterior — também
contribuiu para relaxar os duros esquemas de divisão sexual do
trabalho de outrora, em que ao homem, por seu trabalho fora de
casa, não competia fazer praticamente nada dentro do lar. Hoje a
cozinha, por exemplo, também é um espaço masculino — basta ver
programas e publicidades relacionadas à gastronomia —; e de
modo algum o homem está eximido da limpeza, do cuidado com as
crianças e outras tarefas tradicionalmente femininas. O crescimento
econômico que veio das mãos do capitalismo também criou as
condições materiais para que as meninas, ao invés de serem
mantidas em casa com tarefas domésticas e trabalho não-
qualificado, como costumava acontecer, fossem também enviadas
cada vez mais, em maior número, para receber instrução nas
instituições educacionais (não é por acaso que os liberais do século
XIX foram os que mais lutaram por esse direito). Diferentes produtos
no mercado foram criados para ajudar as mulheres durante seus
ciclos menstruais, eles conseguiram que esses dias, antes dias
mortos quando as mulheres tinham que se abrigar em casa, se
tornassem cada vez mais semelhantes a qualquer outro momento
do mês. A impressionante extensão de expectativa de vida de nossa
espécie,[261] da mesma forma, assegura à mulher que sua
passagem por este mundo não será reduzida à maternidade como
no passado. Os exemplos nos dariam todo um outro livro. (Devemos
acrescentar como uma digressão: não são por acaso as
mesmíssimas condições materiais e ideológicas que trouxeram o
capitalismo as que possibilitaram o nascimento nada menos que do
pensamento feminista que hoje o combate?).
Sabemos agora, graças a indicadores econômicos
internacionais que os países onde há maior liberdade e abertura
econômica — quer dizer, com maiores graus de capitalismo da
maneira que definimos com Friedman — é onde as mulheres podem
desfrutar de uma mais ampla margem de liberdade e igualdade com
os homens. Um exemplo disso é o Índice de Liberdade Econômica
no Mundo (2011), realizado pelo Fraser Institute. O Cato Institute
cruzou os dados deste último com indicadores sociais relativo às
mulheres, que se desprendem do Índice de Desigualdade de
Gênero (IDG), do Programa de Desenvolvimento das Nações
Unidas (2010), e descobriu coisas assombrosas.[262] Entre outros,
verificou-se que a desigualdade entre homens e mulheres é duas
vezes menor em países com uma economia capitalista (0,34) do
que aqueles que mantêm uma economia fechada e reprimida (0,67).
Além disso, outros indicadores são significativos: em países
economicamente mais livres, 71,7% das mulheres concluíram o
ensino secundário, enquanto nos menos capitalistas, apenas 31,8%
puderam passar por ele e terminá-lo; os parlamentos dos países
economicamente mais livres têm uma média de 26,8% de
representantes mulheres, enquanto nos países menos capitalistas
essa representação é de 14,9%; a mortalidade materna em países
economicamente mais livres é de 3,1 por 100.000 nascimentos,
enquanto em países menos capitalistas esse número é de 73,1
mortes; a taxa de fertilidade de adolescentes em países
economicamente mais livres é de 22,4 por mil mulheres entre 15 e
19 anos, enquanto em países menos capitalistas encontramos 87,7
casos.
Mas, apesar de todas as evidências expostas, não devemos
nos surpreender que nossas feministas radicais detestem o
capitalismo; afinal, como vimos ao longo deste livro, o feminismo
parece servir cada vez menos às mulheres e, cada vez mais, à
revolução cultural esquerdista. Já o dizia Chantal Mouffe quando
observou que “a política feminista deve ser entendida não como
uma forma de política, destinada a perseguir os interesses das
mulheres como mulheres, mas sim como a busca de objetivos e
aspirações feministas no contexto de uma articulação mais ampla
de demandas”.[263] Ou seja, o feminismo deve fazer parte do projeto
do socialismo do século XXI, e deve usar essas bandeiras como
uma tela para ocultar essa “articulação mais ampla” que não
aparece diante dos olhos das pessoas bem-intencionadas que
apóiam suas causas.
Da teoria à práxis
Neste capítulo, nós nos concentramos fundamentalmente na
teoria, enfatizando, no entanto, que ela é essencial para a prática. O
que queremos dizer com isso? Dizemos que as construções
ideológicas, além de suas distorções da realidade, têm
conseqüências muito reais em nossas sociedades; isto é, em última
análise, a batalha cultural: gerar mudanças reais baseadas na
mudança cultural.
Por isso, consideramos apropriado fechar este capítulo
coletando alguns exemplos do que a militância feminista de nossos
tempos é e pode oferecer e alcançar através de sua luta política.
Vamos nos concentrar especialmente no feminismo argentino, mas,
uma vez que a origem do feminismo ideológico está dada muito
mais em outros lugares, não economizaremos referências à
organizações de outras partes do globo.
Os “coletivos feministas” na Argentina são bem variados em
relação a nomes e siglas, embora todos sejam adeptos, em última
instância, da esquerda ideológica e política, e as mais importantes
demonstrações de força agem em conjunto. Um dos mais relevantes
é “Pan y Rosas”, apêndice feminista nada menos que do ultra-
esquerdista Partido Socialista dos Trabalhadores (PTS). Em sua
carta de apresentação esta organização define a essência
ideológica que tanto temos enfatizado aqui: “Pan y Rosas acredita
que a luta contra a opressão das mulheres é também uma luta
anticapitalista e, portanto, somente a revolução social, dirigida por
milhões de trabalhadores em aliança com os pobres e todos os
setores oprimidos por este sistema, que acaba com as cadeias do
capital, pode lançar as bases para a emancipação das mulheres”.
[264] Este grupo promove uma série de cursos chamados de “oficinas
de gênero e marxismo”, alguns de seus módulos são intitulados “A
intersecção entre gênero e classe”, no qual estudam as referências
do feminismo pedófilo de Kate Millet, e “O Marxismo e Feminismo
Pós-Marxista”, onde as teorias de Laclau, Mouffe e, é claro, a teoria
queer de Butler se destacam. Pan y Rosas dedica-se principalmente
à militância de rua e à formação de quadros feministas.
Outra organização argentina que se destaca é “La Revuelta”,
em cujo site[265] pode-se ler slogans como “Abortamos irmanadas,
abortados em manada”. Dedicam-se principalmente à perturbação
urbana, estragando espaços públicos e privados com pichações.[266]
“Insubmissas ao serviço familiar obrigatório”, “Não quero tua
cantada, quero que você morra”, “Eu abortei, tua mãe também”, “O
aborto não tira férias”, “Vamos atacar úteros contra o capital!” “Putas
ou santas, mulheres abortam até na Semana Santa”, são alguns
exemplos dos grafites preferidos. Uma das dirigentes explica por
que o nome desta organização: “Alvoroço, gritaria causada por uma
ou mais pessoas, sobressalto, inquietude, motim, sedição, rebelião
contra a autoridade, revolta, revolução”. E, em seguida, o mesmo
palavreado neomarxista de sempre: “denunciamos esta construção
capitalista e patriarcal do sexo masculino hegemônico mundial, em
que os corpos das nossas mulheres têm sido e é o território no qual
foi construído, impondo-nos seu conhecimento androcêntrico”[267]
Como não poderia ser de outra forma, a organização promove o
lesbianismo como uma forma de resistir ao “heterocapitalismo”
celebrando a 7 de março o dia da “visibilidade lésbica” sob o lema
“não somos irmãs, nós comemos a buceta.”[268]
“La Revuelta” é parte de uma rede feminista para a qual várias
organizações convergem, chamadas “Salva-Vidas na Rede”.[269] O
principal objetivo é promover abortos caseiros e, por isso, difundem,
por exemplo, manuais sobre como matar de formas artesanais o
filho que a mulher carrega em seu ventre, tal qual um deles,
intitulado “Como Fazer um Aborto com Comprimidos. Instrução
passo-a-passo”.[270] Além disso, deixam em seu site linhas de
contato telefônico para informarem-se das modalidades existentes a
fim de realizar um aborto. Em 2014, eles ajudaram 1.650 mulheres a
abortarem.[271] Eles também têm um programa de rádio virtual
chamado “Experiências Corpo-Aborteiras”,[272] cujo slogan é “tornar
as práticas aborteiras visíveis como um gesto político”; as histórias
são irreproduzíveis, mas todas são estruturadas por um discurso
segundo o qual matar o feto seria uma situação de “enorme alívio” e
“felicidade feminina”.
Na Argentina também temos a presença da associação civil
“Católicas pelo Direito de Decidir”, cujo nome contém em si duas
grandes falácias: a primeira é que o chamado “direito de decidir” é
incompleto sem explicitar o que decidir. Decidir matar uma pessoa
em gestação não é igual a “pelo direito de decidir quem serão
nossos representantes políticos” ou “decidir que tipo de educação
receber”. Os direitos de um acabam onde os do outro começam;
ninguém pode arrogar-se o direito de acabar com uma vida que não
é sua, e o nascituro que a mulher carrega em seu ventre, como
explicado no próximo capítulo de Nicolás Márquez, por razões
científicas, é um ser diferente da mãe. Podemos imaginar uma
gangue de seqüestradores em série que constituem uma
associação civil “pelo direito de decidir... seqüestrar pessoas”, por
exemplo? Algo assim parece ser o grupo “Católicas pelo Direito de
Decidir”, porque estão pedindo para decidir sobre a integridade
física do ser que a mulher carrega em seu ventre, como fica claro
apenas olhando para seu site:[273] “Como fazer um aborto no
hospital e não morrer na tentativa?”, “Direito ao aborto: Decálogo
para a cobertura jornalística”, “Aborto em debate”, são algumas das
publicações e livros produzidos por esse grupo que ali podem ser
descarregados. A segunda falácia contida no nome é a do
“católicas”. De fato, essas mulheres não apenas se opõem à
doutrina católica mais elementar, mas até seus objetivos nucleares
apontam diretamente para a promoção da violação de um dos mais
importantes mandamentos do Deus cristão: “Não matarás”. Se
precisarmos de mais razões, a Bíblia ensina que o que está no seio
de uma mãe grávida é um ser humano (cf. Salmos 139: 13, 15;
Jeremias 1: 5; Lucas 1:13; Mateus 1:21). Ademais, a Bíblia condena
o assassinato direto dos inocentes (ver Êxodo 23: 7; Deuteronômio
27:25; Mateus 18:10 e 14). O que é mais inocente do que um
menino ou menina que ainda está no útero? Mas podemos continuar
a acrescentar razões: para os católicos, um filho faz parte do plano
de Deus, ele é enviado por Ele para a Terra; portanto interromper a
vida desse filho enviado por Deus é interromper os planos do
mesmo Deus. E é tão grave pecado o do aborto, que a encíclica
Evangelium Vitae do Papa João Paulo II estabeleceu a excomunhão
como punição: “A excomunhão atinge todos aqueles que cometem
este crime com conhecimento dele, e, portanto, inclui aqueles
cúmplices sem cuja ajuda o crime não teria ocorrido”. É curioso
notar que este grupo, apesar de dizer-se “católico”, não tem nenhum
tipo de atividade paroquial que não seja a promoção do pecado do
aborto.[274] Mas, neste ponto deve ficar claro para nós que o nome
da associação “Católicas pelo Direito de Decidir” é contradição tão
absurda como chamá-lo de “Católicas pelo direito de não
acreditarem em Deus e ainda se dizerem católicas.” No entanto, o
nome em questão não é de forma alguma inocente: o que se
pretende com ele é instalar na opinião pública a idéia de que há
pessoas que, pertencentes à mesma Igreja Católica que as
feministas atacam, acreditam e apóiam as demandas destas
últimas. Da mesma forma, trata-se de corroer a unidade discursiva
da própria Igreja, dando a ilusão de que suas posições mais
fundamentais não são contempladas por todos os fiéis e que há
“outro caminho”, confundindo a comunidade católica. Em uma
palavra, é a velha tática do “entrismo”.
Voltando o nosso olhar para outro lado, um caso de
organização feminista exclusivamente lésbica na Argentina é “As
Fulanas”, que na carta de apresentação de seu site diz: “Ser
feminista significa para nós reconhecer a existência de um sistema
patriarcal heteronormativo [...]. Nós acreditamos no socialismo como
um sistema de organização político-econômico, porque
consideramos justa a propriedade pública dos meios de produção e
administração em prol do interesse da sociedade em geral e não de
determinadas classes ou grupos”.[275] Note que o tema da luta
anticapitalista é uma constante que parece não ter exceção neste
tipo de agrupamentos. “As Fulanas” também gostam de grafites em
espaços públicos: “Como é difícil ser uma borboleta em um mundo
de vermes capitalistas”[276] é uma de suas “reflexões” favoritas.
É curioso notar, entretanto, que muitas dessas organizações
feministas e think tanks que promovem a ideologia de gênero e o
aborto são muito bem financiadas por ninguém menos que a ala
esquerda do poder financeiro mundial. Por exemplo, descobrimos
que muitas recebem regularmente grandes somas de dinheiro não
menos que da International Planned Parenthood Federation (IPPL)
uma organização que administra um orçamento anual de 125
milhões de dólares, uma soma composta em grande parte de
grandes doações da Ford Foundation e da Bill & Melinda Gates
Foundation. O dinheiro também vem do magnata Warren Buffett,
que já doou aqui mais de 289 milhões de dólares.[277] Foi
recentemente descoberto que a filial americana da IPPL, a Planned
Parenthood Federation of America, possui um negócio milionário
com os fetos abortados, vendendo esse “produto” para a indústria
cosmética, especialmente o colágeno, e traficando órgãos. A
pesquisa foi conduzida pelo Center for Medical Progress,[278] que
também encontrou evidências de abortos realizados até o último
trimestre da gravidez, e o uso de ferramentas que permitem
aumentar as probabilidades de conseguir retirar o bebê inteiro e até
mesmo vivo, com o objetivo de coletar “melhor e maiores tecidos”,
como admitiu um dos altos diretores da Planned Parenthood. Em
uma das câmeras escondidas, o ginecologista Deborah Nucatola,
diretor de serviços médicos da quadrilha criminosa em questão
reconhece o cuidado que deve ser tomado para não danificar certos
órgãos que têm alto valor de mercado e acrescenta: “Temos sido
muito bons em obter coração, pulmão e fígado, porque tomamos
cuidado para não esmagar essas partes [...]. Para a caixa craniana,
o bebê é removido das nádegas. Assim, se pode obter uma caixa
craniana intacta”.[279] Bem, a IPPL tem em seu site suas
informações financeiras até 2014. Revisando essas planilhas
podemos encontrar que só neste ano, várias organizações
argentinas receberam grandes somas de dinheiro: FUSA para a
Salud Integral con Perspectiva de Género y Derechos recebeu
451.718 dólares; Católicas pelo Direito de Decidir receberam
244.320 dólares; a Anistia Internacional recebeu 44.850 dólares; o
Centro de Estudos Legais e Sociais (chefiado pelo ex-montonero
Horacio Verbitsky) recebeu 32.500 dólares.[280]
***
As organizações feministas argentinas têm o seu grande
evento anual, chamado “Encontro Nacional de Mulheres” uma
reunião de três dias (onde oficinas tais como aquelas intituladas
“Estratégias para o acesso legal, seguro e livre ao aborto” ou “As
mulheres e o ativismo lésbico”), que reúne as feministas do país e é
caracterizado por fortes perturbações e atos de violência por elas
protagonizados no final das atividades, quando participam em uma
grande marcha. No final de 2015, por exemplo, a cidade escolhida
para o XXX Encontro Nacional de Mulheres foi Mar del Plata, onde
as feministas foram à Catedral, escoltadas por homens e mulheres
do Partido Revolucionário Marxista-leninista e pelo grupo H.I.J.O.S.
(que congrega filhos de guerrilheiros e terroristas de esquerda dos
anos 70), com o objetivo de atacá-la e aos católicos que ali
estavam, com paus, artefatos incendiários e garrafas de vidro.
Aqueles que tentaram impedir as feministas de continuar a destruir o
templo, disseram à imprensa que se tratou de uma “violência nunca
vista. Eles quebraram as grades da Catedral e nossas mulheres e
crianças tiveram que correr para dentro para orar por todos...
Graças à Virgem que nos protegeu, pudemos resistir à tentativa de
incendiar a Catedral. Quando eram pelo menos uns 5.000 ou 6.000
manifestantes de partidos marxistas, trotskistas, leninistas, etc.,
aqueles que estavam nos atacando, finalmente chegou a infantaria”.
[281] Também se sabia que uma célula feminista atacou um idoso
que estava rezando dentro da Catedral, atingindo-o na cabeça com
um objeto pontudo.
Na verdade, os atos de violência nesses eventos feministas
não são a exceção, mas a regra. Em 2014, a cidade que viu passar
por suas ruas essa marcha foi Salta, onde foram incendiadas
bandeiras papais, símbolos cristãos, e foram pintados slogans em
ruas e edifícios públicos, privados e religiosos. “Maria queria
abortar”, “Jesus não existiu, Maria abortou”, “O aborto é dar a vida”,
“Eu abortei e eu gostei”, “Aborte o macho”, “Somos más, podemos
ser piores”, “Morto o homem, acabou a raiva” “Nem Deus, nem amo,
nem marido, nem patrão”, “Machadada no machão”, são alguns
exemplos de slogans com os quais elas sujaram toda a cidade.[282]
Um grupo de católicos ficou na frente de uma igreja, de mãos
dadas, rezando o terço, sendo atacados por ativistas feministas que
lhes atiravam coisas, pintavam seus corpos, cuspiam-lhes e lhes
insultavam, enquanto eles, sem responder aos ataques,
continuavam rezando.[283] Feministas acabaram queimando uma
imagem da Virgem Maria enquanto faziam sexo uma com a outra
em frente ao templo.[284] Um ano atrás, esta mesma reunião tinha
sido em San Juan, e as feministas foram novamente à Catedral da
cidade onde encontraram os católicos a rezar o terço, e se
dispuseram a pintar com aerossol suásticas em seus corpos e
bigodes em seus rostos, sem que eles se perturbassem.[285] Em
Córdoba, em 2007, exatamente o mesmo: pedras contra pessoas
que rezavam na Catedral, pintavam-lhes e até jogavam garrafas
com urina humana e outros detritos contra os católicos.[286] Em
Tucumán, em 2009, novamente: eles atacaram prédios públicos,
privados e religiosos e, de acordo com o que a Polícia de Tucumán
disse depois à imprensa, “eles jogaram tinta; depois houve alguns
que fizeram suas necessidades onde estávamos e jogaram matéria
fecal no pessoal da polícia”.[287] (Como vemos, a brutalidade não
seria apenas uma fonte de prazer sexual para os ideólogos de
gênero, mas também de combate de rua). No encontro de 2010 no
Paraná, as feministas agrediram verbal e fisicamente outras
mulheres pelo simples fato de serem católicas, causando em muitas
delas lesões consideráveis.[288] A mesma coisa já havia acontecido
em Salta, quando em uma oficina em favor do aborto, um grupo de
participantes ousou questionar essa prática e foi literalmente
expulso da sala.
Nessas marchas, que o leitor pode ver em inúmeros vídeos que
foram carregados no YouTube, as bandeiras dos vários partidos
esquerdistas e comunistas estão sempre presentes e visíveis. É que
o feminismo é apenas uma nova máscara de algo muito antigo;
muitas vezes são exatamente as mesmas pessoas. É curioso notar
também que existem universidades que financiam as viagens de
ônibus dos militantes que moram em outras partes do país para que
possam inchar o evento.[289] Praticamente todo o “encontro” é
baseado em reivindicar o direito de matar o nascituro e, acima de
tudo, solicitar que o Estado financie esse genocídio. O símbolo da
foice e do martelo é um clássico dessas manifestações. E outro
clássico são as mulheres com os seios de fora, todas elas na
maioria dos casos cultivadoras da repugnância estética.
Aqui queremos fazer uma digressão: como em muitos casos o
feminismo leva a entender o lesbianismo como uma opção sexual
conforme as demandas ideológicas de suas próprias crenças
políticas, o culto da fealdade é outro fenômeno que aparece com
surpreendente freqüência em feministas militantes. Tanto assim é
que existem muitas piadas que a sabedoria popular tem inventado
sobre isso, e muitas vezes se diz que não há nada menos feminino
do que uma feminista. Tudo isso, é claro, está enraizado na teoria, e
não foi outra senão a feminista radical Naomi Wolf que, na década
de 1990, publicou O Mito da Beleza, onde disse ao feminismo que a
beleza feminina era outra das tantas opressões que o “patriarcado”
onipresente e amaldiçoado havia criado. Idéias como essas ajudam
a entender por que geralmente achamos que, independentemente
do que cada uma traz por natureza, há um esforço para acentuar a
fealdade[290] como uma maneira de construir uma identidade
estética pessoal em mulheres que militam e se comprometem com a
causa do feminismo radical de nossos tempos. Ocorre que o próprio
feminismo acaba se apresentando como uma ideologia
extremamente totalitária, na medida em que subordina as múltiplas
dimensões da vida pessoal (incluindo a maneira pela qual
apresentam rostos e corpos à sociedade!) a um único critério
político-ideológico que ordena todo o resto.
Voltando ao nosso tema central, outra questão que serviu ao
feminismo argentino para se tornar visível e conseguir apelos
realmente importantes é a chamada “violência de gênero”, um
problema que está na boca de todos e é a causa de numerosas
manifestações em todo o mundo. Foi assim que a marcha
#NiUnaMenos foi convocada em 2015, na qual milhares de pessoas
compareceram com a finalidade expressa e exclusiva de repudiar a
violência de determinados homens contra as mulheres e pedir por
uma reação do Estado (que consideramos muito louvável); mas
isso, em grande medida, tornou-se a desculpa de organizações
feministas para promover sua luta pelo genocídio contra o nascituro.
Com efeito, a manifestação foi rapidamente invadida por cartazes
em favor do aborto que diziam “Para dizer nem uma a menos é
preciso legalizar o aborto”. Além disso, entre os pedidos mais
destacados da manifestação foi encontrada a “regulamentação da
totalidade dos artigos da Lei Nacional 26.845, de Proteção Integral
da Mulher, com aprovação do orçamento acordado”. Esta lei,
desconhecida pela grande maioria dos que participaram da
manifestação, em seu artigo 3, parágrafo e), estabelece o direito das
mulheres de “decidir sobre a vida reprodutiva, o número de
gestações e quando tê-las”. O que obviamente inclui a decisão de
matar ou não matar o ser que, carregando um DNA diferente do
seu, eventualmente se encontre em seu ventre. Milhares de
pessoas assinaram petições com esse título, sem conhecer
detalhadamente o que elas estavam endossando.
Mas, além dessa manifestação particular, vamos refletir
brevemente sobre a chamada “violência de gênero”. Seria
interessante perguntar em primeiro lugar: por que a violência
deveria ter gênero? Levantar a questão sob nenhuma circunstância
implica em defender a violência contra as mulheres, exercida por
bestas que se chamam homens; antes do fanatismo dos slogans, é
sempre bom deixar algumas coisas claras. Levantar a questão não
envolve a intenção de relativizar o problema em questão; pelo
contrário, o que a questão encerra é a intenção de tornar o
problema mais refinado. Pois somente admitindo que a violência
não tem gênero podemos começar a ver uma situação muito mais
completa que aquela que apresenta uma visão que corta a realidade
social pelas faixas de gênero: o problema é a violência como tal.
Para começar, na Argentina, 83,6% dos assassinos são
homens e 16,4% são mulheres.[291] Isso prova que temos que nos
preocupar mais com o primeiro que com o segundo? A questão é
tão ridícula quanto o próprio fato de analisar o problema da violência
a partir de uma perspectiva de gênero. O problema é a violência,
independentemente do sexo. Caso contrário, o que se instala é uma
idéia tão falsa que foi de fato instalada em nossas sociedades: que
a violência de gênero é simplesmente a agressão do homem contra
a mulher, e que essa agressão é motivada em todos os casos por
um ódio de gênero. De fato, desde a própria Nações Unidas, a
violência de gênero foi definida como “aquela que atinge indivíduos
ou grupos com base em seu gênero”,[292] embora a aplicação diária
que é dada seja simples e exclusivamente a violência do homem em
relação às mulheres que, independentemente dos motivos reais,
aceitam o ódio ao sexo feminino como tal. Um grupo feminista, por
exemplo, define violência de gênero como “violência endêmica em
relações íntimas entre os dois sexos, iniciada por homens contra
mulheres com o objetivo de perpetuar uma série de papéis e
estereótipos criados para continuar com a situação de desigualdade
entre homens e mulheres”.[293] Isso é o que foi introjetado no senso
comum de nossas sociedades. Mas essa afirmação é
completamente ideológica, porque não só carece de apoio empírico,
mas há vários estudos que provam que as mulheres também podem
iniciar a violência contra os homens e, de fato, isso acontece com
freqüência.
Aqui está um breve passeio por alguns deles: em um estudo
longitudinal realizado nos Estados Unidos por Murray Straus e
Richard Gelles com mais de 430 mulheres vítimas de maus-tratos,
verificou-se que o homem deu o primeiro golpe em 42,6% dos
casos, enquanto a mulher fez isso em 52,7%.[294] A Pesquisa
Nacional de Violência Familiar nos Estados Unidos (1990) descobriu
que homens e mulheres tinham a mesma probabilidade de atacar
seu parceiro no contexto de um conflito.[295] O Departamento de
Justiça dos Estados Unidos analisou os 75 maiores condados
judiciais e descobriu que de 540 assassinatos entre os cônjuges, em
318 (59%) casos a vítima foi do sexo feminino, e em 222 (41%)
casos quem terminou morto foi o homem.[296] Martín Fiebert, da
Universidade da Califórnia Long Beach, com base em 117 estudos
que reuniram 72.000 casos, concluiu que “a violência doméstica é
mútua e, nos casos em que há apenas um agressor, este é um
homem ou uma mulher igualmente”.[297] Na Universidade de
Hampshire, estudos conduzidos pelo Laboratório de Investigações
Familiares em 1975, 1985 e 1992 descobriram que “as taxas de
abuso eram semelhantes entre maridos e esposas”.[298] No estudo
clássico de Alice Eagly e Valerie Steffen sobre a violência,
descobriu-se que os homens são pouco mais violentos do que as
mulheres.[299] Em uma pesquisa realizada na Universidade de Lima,
verificou-se que as mulheres atacaram psicologicamente em 93,2%
dos casos, enquanto os homens em 88,3%, e fisicamente as
primeiras em 39,1% dos casos, contra 28% por parte dos homens. A
Universidade Nacional do México, com a ajuda de dados do Centro
de Atenção à Violência Doméstica no México, descobriu que 2 em
cada 50 homens são vítimas de violência física e psicológica por
parte de sua parceira (algo semelhante foi encontrado na Coréia,
Japão, Índia e outros países da América Latina).[300] Na Espanha,
segundo dados do Ministério do Interior do ano 2000, o número de
vítimas entre os cônjuges naquele ano era de 64 mulheres (59,26%)
e 44 homens (40,74%),[301] embora os casos em que a pessoa
acabou morrendo foi muito maior entre as mulheres (44 contra 7),
no entanto, se acrescentarmos nessa análise os casais de fato e os
amasiados, os números voltam a aproximarem-se (67 mulheres
assassinadas contra 44 homens assassinados).[302] A socióloga
Suzanne Steinmetz publicou um artigo no qual demonstrou que os
homens também poderiam ser vítimas de violência doméstica, o que
lhe rendeu “ameaças de morte contra ela e seus filhos”.[303] Daniel
O'Leary et al. usaram uma amostra nacional representativa de
jovens adultos e descobriram que 37% dos homens e 43% das
mulheres relataram terem sido violentos contra seu parceiro pelo
menos uma vez durante o ano anterior.[304] Em Kentucky (Estados
Unidos), a Law Enforcement Asistance Administration estudou
casais com problemas violentos, descobrindo que 38% dos ataques
eram de mulheres contra homens. Na Inglaterra e no País de Gales,
a British Crime Survey revelou que 4,2% das mulheres e 4,2% dos
homens relataram ter sido agredidos fisicamente pelo parceiro.[305]
Outro estudo na Inglaterra, o de Michelle Carrado et al. examinaram
1.955 pessoas e descobriram que 18% dos homens e 13% das
mulheres disseram ter sido vítimas de violência física pelos seus
parceiros em algum momento das suas vidas.[306] No Canadá,
Reena Sommer da Universidade de Manitoba realizou uma
investigação de vários anos e descobriu que 26,3% dos homens
admitiram ser fisicamente violentos contra a parceira em algum
momento, em comparação com 39,1% das mulheres que admitiram
o mesmo com relação ao homem.[307] Na Nova Zelândia está o
“estudo de Dunedin”, no qual 1.020 pessoas foram examinadas por
vinte e um anos, e onde foi descoberto que 37% das mulheres
relataram ter sido violentas com seus parceiros, enquanto 22% dos
homens admitiram o mesmo.[308]
É surpreendente que, à luz desses dados que provam que a
violência não é exclusiva de um sexo, exista, no entanto, tanto
desequilíbrio entre o interesse dado ao caso da violência do homem
contra a mulher em comparação com a importância que se dá a
violência da mulher contra o homem (na verdade, esta última é uma
causa de humor em nossas sociedades). A academia não parece
muito interessada quando a vítima é do sexo masculino. Os
pesquisadores Ann Frodi, Jacqueline Macaulay e Pauline Thom
revelaram, por exemplo, que dos 314 estudos sobre violência
conduzidos ao longo de sete anos, apenas 8% estavam
preocupados com a violência feminina.[309] Em outros casos,
quando os números não fecham como o desejado, eles são
diretamente suprimidos, como foi o caso de um estudo conduzido
por Leslie Kennedy e Donald Dutton no Canadá para investigar a
violência entre parceiros, que trabalhou com 707 homens e
mulheres. Foram-lhes feitas perguntas para determinar quantas
vezes exerceram violência contra o parceiro. Curiosamente, os
dados sobre as respostas das mulheres foram omitidos do trabalho
publicado no Canadian Journal of Behavioral Science, e foi então
amplamente citado em um relatório da Câmara dos Comuns,
chamado “A Guerra contra as Mulheres”, que foi usado para
justificar onerosos programas e políticas públicas de gênero. No
entanto, alguns anos depois foram obtidos os dados que
deliberadamente não haviam sido publicados, sendo possível
verificar que as taxas de violência eram semelhantes: 12,8% dos
homens admitiram ter praticado violência contra as mulheres,
enquanto 12,5% das mulheres admitiram o mesmo contra os
homens.[310] Na Argentina, é interessante dar uma olhada no
Manual Masculinidades, um livro produzido e distribuído pelo
governo argentino no tempos de Cristina Kirchner, em que explica:
“Chamamos [a violência] ‘de gênero’ porque são atos de violência
perpetrados contra alguém em função de seu gênero, isto é, porque
é uma mulher, ou porque é um homem efeminado, ou porque é uma
pessoa transexual”.[311] Isto é, é exercido contra qualquer pessoa
com exceção do homem heterossexual. Há algo mais sexista do que
pedir justiça apenas para um sexo? Aquele que pede justiça para
alguns e não para os outros, não está reivindicando justiça de forma
alguma.
Finalmente, explicamos que, enquanto a violência de gênero é
definida como aquela motivada pelo ódio em relação ao outro sexo,
o uso dessa categoria foi estendido a todos os casos em que uma
mulher é atacada por um homem, criando a falsa impressão de que
a violência que vai nessa direção é sempre determinada pelo ódio
sexual e que estamos imersos em uma “guerra de homens contra
mulheres”. Mas esse reducionismo não poderia explicar, por
exemplo, por que nos Estados Unidos se descobriu que a violência
em casais de lésbicas e homossexuais é tão ou mais freqüente do
que a que ocorre em casais heterossexuais.[312] Será que aqueles
que desencadeiam comportamentos violentos são movidos por algo
um pouco mais complexo e variante do que a simples aversão pelo
outro sexo? Assim, seria muito mais interessante mudar a palavra
“violência de gênero” para uma muito menos ideológica, que não
limitasse os motivos de violência somente a um, como a categoria
“violência familiar” ou “violência entre o casal”. Eis a compreensão
da violência como um todo, levando em conta que homens e
mulheres podem ser violentos uns com os outros e por causa das
mais variadas causas, podemos avançar com muito mais força na
erradicação da violência como tal.
***
Vimos algo aqui sobre algumas organizações locais e suas
principais bandeiras e demandas políticas e ideológicas. Elas são
uma constante na maioria dos grupos feministas do mundo, embora,
é claro, quando em determinado país se consegue, por exemplo, a
legalização do aborto, o feminismo, longe de desaparecer com a
realização do objetivo em questão, se move para uma nova fase em
que a aposta é dobrada. De fato, parece que o feminismo tem, em
termos gerais, uma agenda cuja realização está gradualmente
ocorrendo, onde cada passo alcançado leva a uma reivindicação
mais radical. Portanto, o estágio da radicalidade não é o mesmo em
todos os países. Na Argentina, por exemplo, não é freqüente
encontrar, pelo menos não de maneira tão visível, a articulação que
o feminismo tem feito, a partir da teoria e muitas vezes desde a
práxis, de práticas como a pedofilia, que em outros países onde os
objetivos tais como a legalização do aborto (central para o
feminismo latino-americano) já é coisa passada porque já foi
cumprida. Um caso proeminente a ser mencionado a esse respeito
é o da Associação Feminista Holandesa, que assinou petições
públicas para obter a legalização da pedofilia. Estritamente falando,
não são poucas as organizações feministas européias e americanas
que têm laços estreitos com organizações pedófilas como NAMBLA
(North American Man/Boy Love Association) e o IPCE (International
Pedophile and Child Emancipation). Como referência do ativismo
feminista que começou a expressar suas demandas com a pedofilia
sobressaem os casos de Pat Califia,[313] Camille Paglia,[314]
Katharina Rutschky e Gisela Bleibtreu-Ehrenberg.
A questão não é menor em vista do impressionante lobby para
normalizar a pedofilia que está sendo levado adiante, usando as
ferramentas conceituais da ideologia de gênero que, como vimos,
nos repete que tudo sobre a nossa sexualidade é uma simples
“construção social” que deve ser destruída. Por que devemos nos
abster de fazer sexo com crianças por causa de critérios tão
“arbitrários” e “culturais” quanto a idade? Isso já se perguntavam
muitas feministas radicais da terceira onda como vimos. Alguns
fatos ilustram o atual estado de coisas: as principais instituições
acadêmicas como a Queen’s University (Canadá) já tem
“educadores” como o professor emérito de psicologia Dr. Vernon
Quinsey que argumentam que a pedofilia é apenas uma “orientação
sexual a mais”, comparável à heterossexualidade ou à
homossexualidade; sistemas judiciais começaram a estabelecer
jurisprudência em favor da pedofilia, como o caso da recente
decisão do Supremo Tribunal de Apelações da Itália, que beneficiou
um homem de sessenta anos que manteve numerosas relações
sexuais com uma menina de onze, com base de que o ato teria sido
consentido por ela (faz-nos lembrar dos argumentos hilários de
Firestone); em outros países se está buscando legalmente reduzir a
idade mínima do consenso sexual, como no Reino Unido, onde está
sendo debatida a proposta de Barbara Hewson para abaixá-la para
treze anos (idade legalizada no Irã); A Associação Psiquiátrica
Americana (APA) em uma das edições recentes do seu popular
“Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais” (2013),
desclassificou a pedofilia como um “transtorno” (note a estratégia:
há dez anos foi considerada “doença”) e a colocou na categoria de
“orientação sexual”, embora na edição posterior houvesse uma
retificação (ainda não haviam condições para dar este passo?); o
prestigiado Psychological Bulletin, publicado pela mesma APA,
alguns anos antes já havia publicado o estudo intitulado A Meta-
Analytic Examination of Assumed Properties of Child Sexual Abuse
Using College Samples (1998), realizado por professores da
Universidade de Michigan, Universidade de Temple e da
Universidade da Pensilvânia, onde se encontrava que o abuso
sexual de menores “não causa conseqüências negativas a longo
prazo” e, portanto, concluiu que “o sexo consensual entre crianças e
adultos, e entre crianças e adolescentes, deve ser descrito em
termos mais positivos, como ‘sexo adulto–menor’”(observe o
significado da batalha cultural no nível da linguagem); na Holanda,
inclusive, foi legalizado um partido político declaradamente pedófilo
(“Caridade, Liberdade e Diversidade”),[315] e há um grupo de
sexólogos que pede para legalizar a pornografia infantil, entre os
quais estão Erik Van Beek e Rik van Lunsen, que sugeriram que
seja o Estado a controlar, produzir e distribuir o conteúdo erótico a
pedófilos, argumentando que “se a pornografia infantil virtual é
produzida sob estrito controle governamental, com um selo que
mostra claramente que nenhuma criança foi abusada, poderiam
oferecer aos pedófilos uma maneira de regular seus impulsos
sexuais”;[316] o esquerdista Partido Verde da Alemanha também
apoiou por um longo tempo a causa do movimento pedófilo, e
descobriu que um atual euro-deputado desta facção política
confessou em um livro de sua autoria (publicado em 1975) ter
mantido relações sexuais com várias crianças enquanto trabalhava
em uma creche; nos Estados Unidos, um grupo de pedófilos
declarou o dia 23 de junho como o “Dia Internacional do Amor às
Crianças”, que é todos os anos também celebrado no resto do
mundo. Tudo isso está sendo levado adiante, sublinhemos, de
acordo com as ferramentas da ideologia de gênero, que teve sua
origem na teoria feminista. Na verdade, existem reconhecidos
ativistas e ideólogos de gênero que estiveram envolvidos e até
mesmo condenados por relações sexuais com menores, como o
psicólogo Jorge Corsi, um ex-professor da Universidade de
Palermo, que dava seminários, como o intitulado “A Construção do
sexo masculino e a violência” e, além disso, foi convocado por uma
comissão para elaborar um projeto de lei sobre “violência de
gênero”. O fato era que Corsi acabou preso por fazer parte de uma
rede de pedófilos que faziam festas sexuais com crianças; diante
das acusações, defendeu-se argumentando: “muitas das coisas que
estão sendo julgadas têm a ver com visões discriminatórias”;
“pedofilia não é um crime”; “se estamos evoluindo para a
despatologização de coisas que antes considerávamos patológicas,
pode ser que isso também aconteça”.[317] Não é isto uma confissão
de sua parte sobre a estratégia progressista que já explicamos?
Outras excentricidades que afetam as liberdades individuais
também foram inseridas no plexo das demandas políticas do
feminismo nos países desenvolvidos. O Partido de Esquerda da
Suécia,[318] por exemplo, apresentou um projeto de lei que obriga os
homens a urinar sentados, como as mulheres têm que fazer.[319] O
Partido Liberal deste mesmo país, por sua vez, propôs legalizar o
incesto e a necrofilia (fazer sexo com os mortos).[320] A pressão
ideológica e política sobre a empresa de brinquedos TOP-TOY tem
sido tão forte que a condenaram socialmente por apresentar em
seus catálogos meninos vestidos como super-heróis e meninas
como princesas. No final, eles tiveram que se reacomodar às
demandas hegemônicas e agora ilustram suas propagandas com
meninos brincando com bonecas e garotas atirando com
metralhadoras. Na Suécia, também podemos encontrar uma forte
pressão para mudar a própria linguagem do Estado: recentemente,
um novo artigo “neutro” foi incluído no idioma sueco, hen, que não
teria o fardo de gênero como han (ele) e hon (ela). Na Alemanha,
não só estão sendo feitos experimentos com a linguagem em
centros de educação pré-escolar, mas também com a maneira de se
vestir e, dessa forma, os meninos são encorajados a escolher
roupas de meninas e as meninas a escolher roupas de meninos;
ambos também não podem ser tratado como “ele” ou “ela”, para não
“incutir estereótipos de gênero”.[321] No Canadá, o primeiro-ministro
Justin Trudeau diz que as famílias devem “criar filhos feministas”[322]
e um projeto está sendo considerado para mudar o próprio hino
nacional, a fim de remover elementos “patriarcais”. Além disso, é
deste país a famosa ativista feminista Anita Sarkeesian, que quer
proibir os jogos de vídeo-game da Nintendo argumentando que a
companhia “usou as fantasias de poder de adolescentes e homens
heterossexuais para vender mais jogos de vídeo-game”; o famoso
“Mario Bros” seria um dos mais “patriarcais” porque “de todos os
jogos da saga Mario, a princesa aparece em 14 cenas e é
seqüestrada em 13.”[323] Vale acrescentar que Sarkeesiano costuma
andar pela ONU solicitando que a Internet seja censurada para lutar
contra aqueles que não aderem ao feminismo.[324] Acusações
similares as do patriarcal Mario Bros foram endereçadas contra o
cartunista dos quadrinhos Spider-Woman (“Mulher-Aranha”) da
Marvel, acusado de ser “sexista” na forma como ele retrata as
mulheres; por causa da controvérsia desencadeada pela revista em
questão, o artista acabou sendo substituído pela empresa.[325] Na
Espanha, encontramos o partido chavista “Podemos”, em que milita
a líder feminista Beatriz Gimeno (deputada autônoma), que disse
que “a heterossexualidade não é a maneira natural de viver a
sexualidade, mas uma ferramenta política e social com uma função
muito concreta que as feministas denunciaram décadas atrás:
subordinar as mulheres aos homens”; no que a deputada chama a
fomentar “a não-heterossexualidade”, já que “a heterossexualidade
causa danos às mulheres”.[326] Faltará muito tempo para que os
esquerdistas do Podemos proponham a proibição da
heterossexualidade? Não sabemos. O que se sabe é que neste país
já se apresentou um projeto de lei para proibir a “cantada”,
estabelecendo uma multa de prisão e até uma sanção financeira de
3.000 euros para quem se atreva a cantar uma mulher[327] — na
Bélgica já existe uma lei sobre o assunto que condena as cantadas
com uma multa entre 50 e 1.000 euros e penas de até um ano de
prisão; na Argentina já existem alguns projetos semelhantes a
caminho. A Andaluzia, por sua vez, já tem inspetores do Estado que
vigiam zelosamente professores, professoras e alunos para que não
usem linguagem impregnada de gênero: “alunado” deve ser usado
em lugar de “alunos”; “professorado” em vez de “professores”; “a
adolescência” em vez de “adolescentes”; “pessoal de investigação”
em vez de “investigadores”, entre outras ocorrências desse estilo.
[328] O governo autônomo do País Basco, por sua vez, quer proibir o
futebol nas escolas porque é um “jogo machista” e acabar com “a
distribuição sexista das áreas de recreação”.[329] Na França, grupos
de feministas conseguiram que a população da cidade de Cesson-
Sévigné proibisse a palavra “mademoiselle”, equivalente a
“senhorita”, como “discriminatória” e “machista”, porque revela o
estado civil sem que exista um correspondente masculino.[330] Na
Inglaterra encontramos o movimento Justice for Women, cuja co-
fundadora Julie Bindel (colunista do The Guardian) pensa e propõe
que os homens têm de ser confinados em campos de concentração
— “as mulheres que queriam ver seus filhos ou entes queridos
masculinos poderiam ir visitá-los, ou retirá-los, como um livro da
biblioteca, e depois trazê-los de volta” — e espera “que a
heterossexualidade não sobreviva”.[331] Na América Latina,
particularmente na Colômbia, as feministas estão coletando
assinaturas para proibir os mariachis, já que “as letras destas
canções perpetuam, celebram e reforçam padrões patriarcais de
comportamento.”[332] A lista é, francamente, inesgotável. Mas esses
casos servem como uma amostra de onde vem o problema.
Além de tudo isso, vale a pena notar que alguns aparatos
repressivos do Estado já estão sendo gradualmente postos em ação
contra aqueles que ousam criticar o feminismo. Isto começa a tomar
um alto grau de seriedade, porque o perigo para aqueles que não
subscrevem a ideologia de gênero não mais seria dado apenas pela
reação violenta de grupos e ativistas, mas pelo poder de polícia do
Estado. Há um caso que se tornou emblemático: em novembro de
2012, o canadense Gregory Alan Elliott foi demitido de seu emprego
e preso pela polícia de Toronto por ter discutido acaloradamente
pelo Twitter contra as feministas Stephanie Guthrie e Heather Reilly.
[333]
Se a militância feminista radical continuar a introduzir suas
proibições e perseguições, não seria exagero intuir que em breve
estaremos na porta de uma verdadeira “ditadura de gênero”.
Breve comentário final da primeira parte
Acreditamos que chegamos a este ponto tendo dado um
vislumbre da evolução do feminismo desde sua gênese até nossos
dias, não apenas do que faz a ideologia feminista como tal, mas
também das suas práticas concretas. Bem, neste caso, é necessário
dar um breve comentário final.
O feminismo teve uma origem nobre. Homens e mulheres
lutaram pelo acesso feminino aos direitos de cidadania, e isso
representou um avanço para todas as sociedades que cumpriram
com essas exigências. Mas quando o marxismo tornou-se o chefe
do feminismo, definiu e difundiu uma ideologia nociva de que “o
homem é o burguês e a mulher o proletariado” (Engels), injetando a
noção de um conflito insolúvel entre os sexos: “A guerra contra as
mulheres”, parafraseando um projeto contemporâneo do Parlamento
canadense.
A velha esquerda havia há muito tempo encontrado na mulher
um grupo social muito importante para sua revolução, mas
subordinou-a à luta dos trabalhadores. Era a revolução de classe
que libertava os sexos, e não a revolução dos sexos que libertava
as classes. Mas isto mudou com o início da crise do quadro
filosófico — produto por sua vez de crises políticas e econômicas —
que alimentou o comunismo ortodoxo: surgiu em seguida uma “nova
esquerda”, ansiosa por encontrar novos grupos sociais — diferentes
do “proletário aburguesado” — que pudessem ser guiados na luta
anticapitalista contra as superestruturas sociais e morais que
supostamente sustentam o sistema. E assim vieram as feministas
do gênero, dispostas a “desconstruir” até mesmo a nossa própria
natureza humana no âmbito de uma batalha cultural declarada, a tal
ponto que eles acabaram afirmando um paradoxo, que a mulher não
existe.
É impossível não se surpreender com a distância inelutável que
separa os primórdios do feminismo de sua atualidade radical. A
continuidade parece ser simplesmente de nome, obrigando-nos a
parar e fazer a seguinte pergunta: não seria conveniente, a fim de
evitar generalizações equivocadas, chamar por outro nome as
mulheres que lutaram séculos atrás por causas nobres? Ou então,
chamar de outra maneira nossas feministas radicais de hoje?
Alguns já começaram a usar essa estratégia, tendo batizado o
último grupo com o engenhoso rótulo de “feminazis”, em referência
ao seu ódio político declarado baseado em critérios sexuais. Outros
usam a palavra “misandria” para marcar seu caráter inverso da
ideologia “machista”. Dado que é a linguagem o terreno principal de
sua luta cultural, acho interessantes não só estes exemplos, mas
também o inovar com formas de nomear esses grupos, e evitar a
confusão que eles mesmos promovem para dar a sensação de
aprovação geral para a sua causa.
De fato, o “feminismo” é um rótulo que normalmente desperta
simpatias quase automáticas, e nosso inconsciente coletivo
automaticamente associa com objetivos nobres, como a luta para o
acesso aos direitos políticos ou o combate à violência contra as
mulheres. Mas temos certeza de que uma esmagadora maioria das
pessoas que podem ter lido este livro e que chegaram a esse ponto
em sua leitura, mesmo considerando-se “feministas”, não tinham
conhecimento prévio da maioria das informações fornecidas aqui.
Os únicos que podem aproveitar essa confusão gerada são as
feministas radicais. Para muitos poderiam argumentar: o que foi
descrito aqui não é feminismo, é um radicalismo, é um extremismo
que nada tem a ver com o “feminismo real”. Mas a verdade é que
este radicalismo exposto aqui não só se autodenomina “feminismo”,
como, apesar daqueles que pensam que o feminismo é outra coisa,
o é o feminismo mainstream no mundo político e acadêmico;
ademais, sua força como um movimento ideológico nos aparece
como uma curva que ascende vertiginosamente e que já impõe suas
demandas em muitos pontos do planeta, sem praticamente ninguém
se atrever a enfrentá-la.
Você também pode gostar
- A revolução vietnamita: da libertação nacional ao socialismoNo EverandA revolução vietnamita: da libertação nacional ao socialismoNota: 2.5 de 5 estrelas2.5/5 (3)
- As Mulheres e A Luta SocialistaDocumento65 páginasAs Mulheres e A Luta SocialistaVictor StolzeAinda não há avaliações
- O Papel Da Mulher Na Revolução FrancesaDocumento4 páginasO Papel Da Mulher Na Revolução FrancesaLatyzinha75% (4)
- As Mulheres e A Luta SocialistaDocumento28 páginasAs Mulheres e A Luta SocialistaTalita AbreuAinda não há avaliações
- Madalena Barbosa - FeminismoDocumento13 páginasMadalena Barbosa - Feminismoshyznogud100% (2)
- FeminismoDocumento2 páginasFeminismoleviacler57Ainda não há avaliações
- AMANCIO, Ligia. Feminismo, Dicionario PDFDocumento5 páginasAMANCIO, Ligia. Feminismo, Dicionario PDFDébora CostaAinda não há avaliações
- Trabalho de Filosofia FinallDocumento10 páginasTrabalho de Filosofia FinallJogos JogosAinda não há avaliações
- Mary Wollstonecraft e As Origens Do Feminismo - Boitempo EditoraDocumento6 páginasMary Wollstonecraft e As Origens Do Feminismo - Boitempo EditoraCandida OliveiraAinda não há avaliações
- Breve História Do Feminismo e o Movimento Feminista No BrasilDocumento5 páginasBreve História Do Feminismo e o Movimento Feminista No Brasilfotoe artAinda não há avaliações
- Céli R. Jardim Pinto - Feminismo, História e PoderDocumento11 páginasCéli R. Jardim Pinto - Feminismo, História e PoderJosé Luiz SoaresAinda não há avaliações
- Feminismo RadicalDocumento15 páginasFeminismo Radicalridiculo100% (2)
- ImputabilidadeDocumento30 páginasImputabilidadez688cqsv44Ainda não há avaliações
- Anos 80Documento28 páginasAnos 80Jeorge DamasoAinda não há avaliações
- O Liberalismo No Século XIX 2010Documento4 páginasO Liberalismo No Século XIX 2010Luiza Berguinins ScancettiAinda não há avaliações
- Do Lar para As Ruas Capitalismo, Trabalho e FeminismoDocumento13 páginasDo Lar para As Ruas Capitalismo, Trabalho e FeminismoAnaAnaAinda não há avaliações
- Movimento Feminista 2Documento8 páginasMovimento Feminista 2karineviana773Ainda não há avaliações
- Texto-Aula - Capitalismo e Estado ModernoDocumento24 páginasTexto-Aula - Capitalismo e Estado ModernoGabriel MeirelesAinda não há avaliações
- 12 de Maço Entrega Ai 3temasDocumento23 páginas12 de Maço Entrega Ai 3temasrose.fo95Ainda não há avaliações
- Panorama Do Direito de FamíliaDocumento19 páginasPanorama Do Direito de FamíliaRamiro Freitas FerreiraAinda não há avaliações
- Movimento FeministaDocumento2 páginasMovimento FeministaPatrícia Regina de SouzaAinda não há avaliações
- MIGUEL e BIROLI, Feminismo e Política Uma IntroduçãoDocumento3 páginasMIGUEL e BIROLI, Feminismo e Política Uma IntroduçãoThaís Costa100% (1)
- A Nova Mulher e A Moral Sexual - Alexandra KolontaiDocumento89 páginasA Nova Mulher e A Moral Sexual - Alexandra KolontaiLigia Maria MacedoAinda não há avaliações
- 9326-Texto Do Artigo-38908-1-10-20180717Documento13 páginas9326-Texto Do Artigo-38908-1-10-20180717Vinicius FabianoAinda não há avaliações
- A História Não Contada Do FeminismoDocumento34 páginasA História Não Contada Do FeminismodidaskolosAinda não há avaliações
- FEMINISMO, HISTÓRIA E PODER Recebido em 13 de Julho de 2009. Rev. Sociol. Polít., Curitiba, v. 18, N. 36, P. 15-23, Jun. 2010 Aprovado em 10 de Dezembro de 2009. Céli Regina Jardim PintoDocumento11 páginasFEMINISMO, HISTÓRIA E PODER Recebido em 13 de Julho de 2009. Rev. Sociol. Polít., Curitiba, v. 18, N. 36, P. 15-23, Jun. 2010 Aprovado em 10 de Dezembro de 2009. Céli Regina Jardim PintoViviane A. Suzy PistacheAinda não há avaliações
- UntitledDocumento10 páginasUntitledJOCA GAMERAinda não há avaliações
- 12 Iluminismo e Revolução FrancesaDocumento3 páginas12 Iluminismo e Revolução FrancesaMel Ribeiro100% (1)
- As Mulheres Na Revolução FrancesaDocumento8 páginasAs Mulheres Na Revolução FrancesaMAURICIO DOS SANTOS FERREIRA100% (1)
- Realismo - LiteraturaDocumento14 páginasRealismo - LiteraturaSandro Oliveira JuniorAinda não há avaliações
- Feminismo e A Sua Ligação ComDocumento6 páginasFeminismo e A Sua Ligação ComLudmila JuliaAinda não há avaliações
- ImpressaoDocumento17 páginasImpressaoSufismo, O Caminho Místico Do IslamAinda não há avaliações
- 20220303.A Teoria Feminista Na Literatura e em Outras Representacoes Culturais (Capitulo) - RevistoDocumento16 páginas20220303.A Teoria Feminista Na Literatura e em Outras Representacoes Culturais (Capitulo) - RevistoSo why Geórgia?Ainda não há avaliações
- Orange Colorful Floral Animated International Women's Day Presentation - 20230919 - 150406 - 0000Documento21 páginasOrange Colorful Floral Animated International Women's Day Presentation - 20230919 - 150406 - 0000Douglas FernandesAinda não há avaliações
- Mulheres, Cidadania e Estado Na França Do Se Culo XXDocumento17 páginasMulheres, Cidadania e Estado Na França Do Se Culo XXHera BrigagaoAinda não há avaliações
- Projeto de Cidadania e DesenvolvimentoDocumento4 páginasProjeto de Cidadania e DesenvolvimentoJoana UrbanoAinda não há avaliações
- Feminismo Na Atualidade A Formacao Da QuDocumento44 páginasFeminismo Na Atualidade A Formacao Da QuLivia Cassemiro SampaioAinda não há avaliações
- Cap. 25 Liberalismo e Democracia - FilosofandoDocumento7 páginasCap. 25 Liberalismo e Democracia - FilosofandoskywalkerAinda não há avaliações
- Voto Feminino No Ocidente - CollingDocumento16 páginasVoto Feminino No Ocidente - CollingEmili SabrinaAinda não há avaliações
- A História Do Feminismo 2 by Ana CampagnoloDocumento43 páginasA História Do Feminismo 2 by Ana CampagnoloMatheus Souza100% (1)
- A Presença Da Mulher Na Segunda Guerra MundialDocumento37 páginasA Presença Da Mulher Na Segunda Guerra MundialJuan Torres brAinda não há avaliações
- I - O Socialismo UtópicoDocumento22 páginasI - O Socialismo UtópicoYago MateusAinda não há avaliações
- Anarquismo em PortugalDocumento249 páginasAnarquismo em PortugalVannesa OrtizAinda não há avaliações
- FEMINISTADocumento25 páginasFEMINISTAangi angiAinda não há avaliações
- Jacilene Maria Silva - Feminismo Na Atualidade e A Formação Da Quarta Onda.Documento47 páginasJacilene Maria Silva - Feminismo Na Atualidade e A Formação Da Quarta Onda.gabrielagme100% (1)
- Bárbara Amaral, O PAPEL DA MULHER NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX EM PORTUGALDocumento13 páginasBárbara Amaral, O PAPEL DA MULHER NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX EM PORTUGALbarbara.santos.amaral14Ainda não há avaliações
- As Grandes Correntes Da Historiografia Da Revolução Francesa, de 1789 Aos Nossos DiasDocumento48 páginasAs Grandes Correntes Da Historiografia Da Revolução Francesa, de 1789 Aos Nossos DiasJoão Gabriel AscensoAinda não há avaliações
- Modelo de Projeto de Trabalho Cientiffico (1) 1 1Documento8 páginasModelo de Projeto de Trabalho Cientiffico (1) 1 1truef0xalvAinda não há avaliações
- Historia Moderna IluminismoDocumento3 páginasHistoria Moderna Iluminismowillian nascimentoAinda não há avaliações
- Ceep Professor Paulo Batista MachadoDocumento5 páginasCeep Professor Paulo Batista Machadomairalorena008Ainda não há avaliações
- Alexis de TocquevilleDocumento2 páginasAlexis de TocquevilleAliceAinda não há avaliações
- A Nova Mulher e A Morl Sexual - Alexandra KollontaiDocumento88 páginasA Nova Mulher e A Morl Sexual - Alexandra KollontaiDanielle F. CzmyrAinda não há avaliações
- Ética, Anarquia e Revolução em Maria Lacerda de MouraDocumento17 páginasÉtica, Anarquia e Revolução em Maria Lacerda de MouraNatalia OliveiraAinda não há avaliações
- HIST CONTEMPORà - NEA 1º Avaliaã à oDocumento4 páginasHIST CONTEMPORà - NEA 1º Avaliaã à oThadeu ZumbiAinda não há avaliações
- A Revolução Coreana: O desconhecido socialismo ZucheNo EverandA Revolução Coreana: O desconhecido socialismo ZucheNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (3)
- Quais Foram As Heranças Da Revolução Francesa para o Mundo de HojeDocumento6 páginasQuais Foram As Heranças Da Revolução Francesa para o Mundo de HojeNuno Santos SardelaAinda não há avaliações
- AVALIAÇÃO UNIDADE I CONTEMP I 2023.1 NoiteDocumento7 páginasAVALIAÇÃO UNIDADE I CONTEMP I 2023.1 NoiteArthur FranklinAinda não há avaliações
- A Rebelião Das Massas - Ortega y GassetDocumento149 páginasA Rebelião Das Massas - Ortega y GassetRS77Ainda não há avaliações
- STF - Caso Lava JatoDocumento2 páginasSTF - Caso Lava JatoRS77Ainda não há avaliações
- TRF4 - Caso Lava JatoDocumento1 páginaTRF4 - Caso Lava JatoRS77Ainda não há avaliações
- STJ - Caso Lava JatoDocumento1 páginaSTJ - Caso Lava JatoRS77Ainda não há avaliações
- TRF2 - Caso Lava JatoDocumento1 páginaTRF2 - Caso Lava JatoRS77Ainda não há avaliações
- São Paulo - Caso Lava JatoDocumento1 páginaSão Paulo - Caso Lava JatoRS77Ainda não há avaliações
- Curitiba - Caso Lava JatoDocumento3 páginasCuritiba - Caso Lava JatoRS77Ainda não há avaliações
- Indício É Prova - Hugo Nigro MazzilliDocumento3 páginasIndício É Prova - Hugo Nigro MazzilliRS77Ainda não há avaliações
- O Instituto Tavistock de Relações Humanas - John ColemanDocumento64 páginasO Instituto Tavistock de Relações Humanas - John ColemanRS77Ainda não há avaliações
- Notas Sobre o Foro de São Paulo - Olavo de CarvalhoDocumento128 páginasNotas Sobre o Foro de São Paulo - Olavo de CarvalhoRS77Ainda não há avaliações
- Jóias - TECHNOIRDocumento34 páginasJóias - TECHNOIRRS77Ainda não há avaliações
- Lava Jato Passa A Limpo o Brasil - Jornal OpçãoDocumento12 páginasLava Jato Passa A Limpo o Brasil - Jornal OpçãoRS77Ainda não há avaliações
- STF e Censura - Entrevista Com Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira - AMMPDocumento18 páginasSTF e Censura - Entrevista Com Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira - AMMPRS77Ainda não há avaliações
- Teoria Do GinocentrismoDocumento128 páginasTeoria Do GinocentrismoRS77Ainda não há avaliações
- Como Paulinho Foi AssassinadoDocumento108 páginasComo Paulinho Foi AssassinadoRS77Ainda não há avaliações
- A Bolha Misândrica - TECHNOIRDocumento33 páginasA Bolha Misândrica - TECHNOIRRS77Ainda não há avaliações
- Cafeína: Efeitos Ergogênicos Nos Exercícios FísicosDocumento12 páginasCafeína: Efeitos Ergogênicos Nos Exercícios FísicosRS77Ainda não há avaliações
- 2013-14 10º Ano Ficha de Trabalho Sobre Os Instrumentos Lógicos Do Pensamento.Documento2 páginas2013-14 10º Ano Ficha de Trabalho Sobre Os Instrumentos Lógicos Do Pensamento.dmetódicaAinda não há avaliações
- Avaliando o Aprendizado de Eleitoral Aulas 1 A 5Documento6 páginasAvaliando o Aprendizado de Eleitoral Aulas 1 A 5Deivison Marinho100% (1)
- Direito A Comunicaçao Comunitaria Cicilia PeruzzoDocumento24 páginasDireito A Comunicaçao Comunitaria Cicilia PeruzzotataAinda não há avaliações
- Historia Das Ideias Politicas 1ano Turma BDocumento15 páginasHistoria Das Ideias Politicas 1ano Turma BFirmino LoureiroAinda não há avaliações
- Critica Da Ponderacao Macedo 2016Documento292 páginasCritica Da Ponderacao Macedo 2016Elvis100% (2)
- Fichamento Texto JapãoDocumento4 páginasFichamento Texto JapãoNathan JordanAinda não há avaliações
- Botswana State Report 2nd 3rd PorDocumento71 páginasBotswana State Report 2nd 3rd PorEugenia Gloriano AgostinhoAinda não há avaliações
- 1 - Hermenêutica Constitucional - A Sociedade Aberta Dos Intérpretes Da Constituição - Contribuição para A Interpretação Pluralista e - Procedimental - Da Constituição - DomTotalDocumento2 páginas1 - Hermenêutica Constitucional - A Sociedade Aberta Dos Intérpretes Da Constituição - Contribuição para A Interpretação Pluralista e - Procedimental - Da Constituição - DomTotalPAOLOAinda não há avaliações
- Apostila de Filosofia 3º Ano 2018Documento6 páginasApostila de Filosofia 3º Ano 2018Gisele Rodrigues100% (1)
- Fichamento - Direitos Humanos História, Teoria e PráticaDocumento4 páginasFichamento - Direitos Humanos História, Teoria e PráticaMatheus RegisAinda não há avaliações
- Achile Mbembe - As Formas Africanas de Auto-InscriçãoDocumento39 páginasAchile Mbembe - As Formas Africanas de Auto-InscriçãoLuciene Ribeiro Dos Santos de Freitas100% (2)
- Nicolás Et AlliDocumento28 páginasNicolás Et AlliMaria EduardaAinda não há avaliações
- BRAY, Mark. Uma Crítica Anarquista Do HorizontalismoDocumento21 páginasBRAY, Mark. Uma Crítica Anarquista Do HorizontalismomarciobustamanteAinda não há avaliações
- Disser TandoDocumento230 páginasDisser TandoraquelvieiracbAinda não há avaliações
- Diversidade Dos Sujeitos Na EJADocumento9 páginasDiversidade Dos Sujeitos Na EJAElisa SolinhoAinda não há avaliações
- Edital de Abertura CIPA 2022-23 Completo Volta RedondaDocumento3 páginasEdital de Abertura CIPA 2022-23 Completo Volta RedondaMarcelo SalgueiroAinda não há avaliações
- Controle Da Administração Pública Direta e Indireta e Das Concessões - Ed - 1Documento29 páginasControle Da Administração Pública Direta e Indireta e Das Concessões - Ed - 1Luc FglAinda não há avaliações
- Livro Unilab 10 Anos Volume 1Documento351 páginasLivro Unilab 10 Anos Volume 1Fábio CressoniAinda não há avaliações
- Cartilha UFC 2022Documento18 páginasCartilha UFC 2022Caio Lima MeloAinda não há avaliações
- Unidade 1-Texto - Instituicoes de DireitoDocumento24 páginasUnidade 1-Texto - Instituicoes de DireitoWelton CarlosAinda não há avaliações
- Princípios Básicos Do Comunismo - Friedrich EngelsDocumento22 páginasPrincípios Básicos Do Comunismo - Friedrich EngelsDavid CorrêaAinda não há avaliações
- Decisão STF - Suzane: Assassina e ManipuladoraDocumento10 páginasDecisão STF - Suzane: Assassina e ManipuladoraMetropolesAinda não há avaliações
- Unidade IxDocumento13 páginasUnidade IxWellington OliveiraAinda não há avaliações
- Gestão Educacional 5º PERÍODO UNIP PEDAGOGIADocumento4 páginasGestão Educacional 5º PERÍODO UNIP PEDAGOGIAAna Paula Valim100% (2)
- O Brasil No Contexto Político ContemporâneoDocumento212 páginasO Brasil No Contexto Político ContemporâneoGabriel CrespoAinda não há avaliações
- Apontamentos de Direito Administrativo 2020Documento70 páginasApontamentos de Direito Administrativo 2020ISOAinda não há avaliações
- Carta Aberta A Comunidade IFBADocumento4 páginasCarta Aberta A Comunidade IFBAnoahkrpgAinda não há avaliações
- Justificativa Eleitoral E-Titulo - Eleições 2020Documento11 páginasJustificativa Eleitoral E-Titulo - Eleições 2020Marcus WagnerAinda não há avaliações
- GADOTTI (2012) - ESTADO E EDUCAÇÃO POPULAR Desafios de Uma Política NacionalDocumento21 páginasGADOTTI (2012) - ESTADO E EDUCAÇÃO POPULAR Desafios de Uma Política NacionalFernanda14VoltasAinda não há avaliações
- A Arte Da Seita Política - 1 - Introdução - Ceticismo Político PDFDocumento6 páginasA Arte Da Seita Política - 1 - Introdução - Ceticismo Político PDFsmlAinda não há avaliações