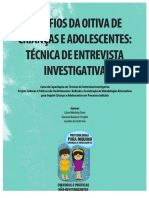Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Revel 14 Entrevista Borges Neto
Revel 14 Entrevista Borges Neto
Enviado por
entusiastaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Revel 14 Entrevista Borges Neto
Revel 14 Entrevista Borges Neto
Enviado por
entusiastaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
BORGES NETO, José. História e Filosofia da Linguística: uma entrevista com José Borges Neto.
ReVEL. Vol. 8, n. 14, 2010. ISSN 1678-8931 [www.revel.inf.br].
HISTÓRIA E FILOSOFIA DA LINGUÍSTICA –
UMA ENTREVISTA COM JOSÉ BORGES NETO
José Borges Neto
Universidade Federal do Paraná
ReVEL – Podemos dizer que a linguagem é um objeto complexo,
independentemente do recorte epistemológico que se faça; parece que é
isso que gera diferentes teorias. Como se pode compreender essa
pluralidade teórica, sem necessariamente ter de aceitar a noção de
“complementaridade” entre as diferentes teorias linguísticas?
Borges Neto – Deixe-me, primeiro, abordar a questão da complexidade. Marcelo
Dascal e eu, num texto de 1991 (ver Dascal e Borges Neto 1991)1, propomos a
distinção entre objeto observacional e objeto teórico. O objeto observacional de uma
teoria científica é o conjunto de fenômenos, a porção de realidade, que a teoria
assume como seu objeto; o objeto teórico é a construção (o modelo) que o cientista
idealiza como representação do objeto observacional. Por exemplo, a sintaxe
estruturalista e a sintaxe gerativista, em princípio, podem ter o mesmo objeto
observacional (o conjunto de sentenças bem-formadas que podem ser ditas em
alguma língua); os objetos teóricos, no entanto, podem ser bastante diferentes: a
sintaxe estruturalista vê as sentenças como cadeias estruturadas de palavras (ou
morfemas) e sua tarefa é revelar essas estruturas, enquanto a sintaxe gerativista vê as
sentenças como o resultado da aplicação de regras internalizadas (inatas, em parte).
Assim, onde o estruturalista encontra cadeias estruturadas, o gerativista encontra
indícios da aplicação de regras presentes na mente/cérebro do falante. Os “dados” são
1 Dascal,M.; Borges Neto, J. 1991. De que trata a linguística, afinal? Histoire, Epistemologie, Langage
13(1), p. 13-50 (recolhido como capítulo 10 em Borges Neto, J. 2004. Ensaios de Filosofia da
Linguística. São Paulo: Parábola.)
ReVEL, vol. 8, n. 14, 2010 [www.revel.inf.br] 1
os mesmos (as sentenças da língua), mas o que se faz com eles (o que se depreende
deles) é absolutamente distinto.
Pois bem. A complexidade pode se dar no nível observacional. Dizer que a língua é
um objeto complexo pode significar que os fenômenos linguísticos a serem estudados
são fenômenos complexos (envolvem, por exemplo, fenômenos de várias naturezas:
fenômenos físicos, como as cadeias sonoras, fenômenos estruturais, fenômenos
relacionados ao uso das expressões, fenômenos relacionados às imagens que os
usuários das expressões supõem para si e para os outros falantes/ouvintes,
fenômenos ligados às posições ideológicas assumidas pelos falantes, etc.). O objeto
observacional tomado pelo linguista é de natureza complexa porque contém em si
fenômenos dificilmente relacionáveis.
Da mesma forma, a complexidade pode estar ligada à dificuldade de construir
modelos teóricos capazes de abranger o maior número de fenômenos – de construir
modelos teóricos que consigam dar conta do maior conjunto possível de fenômenos
de naturezas distintas. Construir uma teoria qualquer supõe fazer um recorte no
objeto observacional e em “organizar” essa porção do mundo a partir de noções
teóricas.
Aparentemente, é fácil fazer isso para alguns recortes. Podemos, por exemplo, decidir
que vamos nos ocupar apenas do elemento fônico que serve de apoio material para as
línguas. Neste recorte, reconhecemos fones, organizamos os fones em vogais e
consoantes (que são noções teóricas), estruturamos as sílabas, acrescentamos
prosódia, etc. Ou seja, tomamos um objeto observacional e construímos, a partir dele,
um objeto teórico: a fonologia da língua. Podemos, por outro lado, decidir que vamos
nos ocupar dos elementos significativos da língua (do material que dá apoio
semântico). Podemos decidir que nossa unidade é o morfema ou que nossa unidade é
a palavra (que também são noções teóricas). Vamos organizar nossas unidades em
classes e estudar, por um lado, as possibilidades combinatórias que essas unidades
admitem (fazer “sintaxe da palavra”, por exemplo) ou, por outro lado, as relações que
podemos encontrar entre essas unidades e “coisas” do mundo (e fazer “semântica
lexical”).
ReVEL, vol. 8, n. 14, 2010 [www.revel.inf.br] 2
A grande questão, no entanto, está em unificar esses objetos. Fazer fonologia e fazer
semântica lexical, separadamente, é fácil. O difícil é criar uma teoria que unifique
esses vários objetos teóricos. Uma teoria capaz de dar conta da semântica lexical em
termos fonológicos.
Uma olhadela no que acontece em outras ciências sempre é instrutiva. Vejamos o
seguinte trecho do livro de Michel de Pracontal2:
Um sólido cristalino é constituído de uma rede de átomos dispostos segundo
um motivo que se repete regularmente, um pouco como o de um papel
pintado, salvo que ele é em três dimensões. O motivo depende de ligações
químicas garantidas pelos elétrons. Nesse sentido, a “forma” do cristal é a
expressão de sua estrutura. Esta se interpreta em termos de química
eletrônica, e sua explicação se situa no nível atômico.
É completamente diferente para a morfologia de uma planta ou de um
animal. Ela depende de interações muito complexas entre as células que a ou
o constituem. Se as células são elas próprias feitas de átomos ou de
moléculas, não se pode descrever a “forma” externa de um organismo a
partir de uma estrutura atômica. A arquitetura de um babirussa3 não
depende dos mesmos mecanismos que a estrutura de um cristal. Ela é o
resultado de um processo evolutivo que não pode reduzir-se apenas aos
conceitos da física ou da química fundamentais, da mesma maneira que o
estilo de uma mesa Luís XVI não pode se explicar apenas pelas propriedades
dos átomos ou das moléculas que compõem a madeira. Isso não quer dizer
que o babirussa e a mesa “escapam” às leis da física: isso significa que nem
sempre existe tradução entre os diferentes níveis da descrição científica.
Apesar, então, da óbvia natureza fônica das palavras e das sentenças da língua, a
explicação de sua “forma” (de sua estrutura) nada tem a ver com a matéria fônica. A
descrição fônica e a descrição estrutural de uma sentença seriam mutuamente
“intradutíveis”. É isso, aliás, o que está por trás da conhecida distinção de André
Martinet, a dupla articulação da linguagem.
Provavelmente, o caminho do linguista diverge do caminho do físico, nesse momento:
enquanto o físico procura unificar sua ciência, buscando uma teoria que unifique a
física quântica (que trata bem do microcosmos) e a física relativística (que trata bem
do macrocosmos), caberia ao linguista estabelecer que porções de seu objeto
constituiriam áreas “intradutíveis”. Em outras palavras, caberia ao linguista aceitar
que as duas articulações de Martinet se constituem em dois objetos, sujeitos a
diferentes elaborações teóricas porque de naturezas distintas.
2 Pracontal, Michel de 2002. A impostura científica em dez lições. São Paulo: Editora da UNESP, p.
289-290.
3 O babirussa é um mamífero da Malásia (JBN).
ReVEL, vol. 8, n. 14, 2010 [www.revel.inf.br] 3
Precisamos ter claro que a linguagem engloba fenômenos de diversas ordens,
heterogêneos, que pedem explicações também heterogêneas. Creio que aí reside parte
da complexidade a que se alude na pergunta.
De outro lado, tentar entender o tratamento dessa massa heterogênea de “objetos”
como um quebra-cabeça, em que as partes se completam e permitem a visualização
do todo, não me parece o melhor caminho. Em outro lugar4, eu afirmo que a imagem
do conjunto de fotos de uma mesma casa não serve como metáfora da construção da
linguística porque nunca podemos ter certeza de que as várias fotos são, de fato, fotos
de uma mesma casa. Cada linguista, a partir de seus recortes no objeto observacional,
cria uma imagem teórica (um modelo) de seu objeto que é fruto de concepções
“metafísicas” e que não precisa coincidir, ajustar-se ou ser compatível com nenhum
outro modelo, seja do mesmo recorte no observacional, seja em recortes
“complementares”. Isso impede que se tome por princípio a complementaridade e
impede que a metáfora das fotos de uma casa possa ser sustentada.
Creio que as tentativas de enxergar a linguagem e suas partes como um grande lego
podem ser substituídas pela metáfora da sinfonia5, em que as várias partituras (dos
violinos, do oboé, dos contrabaixos, das trompas, etc.), não sendo “complementares”
já que se sobrepõem a todo momento, permitem um conjunto harmonioso. Às vezes
os violinos se calam enquanto os metais são acionados; às vezes o fagote faz um solo;
outras vezes todos os instrumentos tocam simultaneamente; e esses movimentos, no
seu conjunto, constituem o todo harmônico.
Talvez eu esteja ficando velho, mas penso que considerar que há uma abordagem
única (ou, mesmo, unificada) da linguagem é uma falsa crença. Eu arriscaria dizer
que sabemos muito pouco sobre as línguas e que, assim, fica difícil até sabermos por
onde começar a pensar em unificação. O desenvolvimento harmônico das áreas
(mesmo sem unificação teórica) parece ser o caminho. Certamente, devemos ter
pessoas pensando nas interfaces entre as teorias e buscando articulações entre elas.
4 Ver “Diálogo sobre as razões da diversidade teórica na linguística”, recolhido como Capítulo 1 (p. 17-
29) de Borges Neto, J. 2004. Ensaios de Filosofia da Linguística. São Paulo: Parábola.
5 Essa metáfora da sinfonia aparece no texto de Pracontal (2002, p. 297) e é atribuída a Walter
Gehring. O uso que Pracontal faz da metáfora, no entanto, é substancialmente diferente do uso que
faço aqui.
ReVEL, vol. 8, n. 14, 2010 [www.revel.inf.br] 4
Não posso deixar de dizer que vejo o Programa Minimalista de Chomsky como uma
primeira tentativa realmente séria de desenvolver um programa de investigação com
o objetivo de entender como algumas dessas articulações poderiam ser constituídas.
Acho, no entanto, que os caminhos trilhados por Chomsky não vão nos levar lá,
embora, com certeza, vão nos legar uma montanha de conhecimentos sobre a sintaxe
das línguas – o que não é pouco. A centralidade da sintaxe impede que uma parte
importante dos lugares de articulação entre as teorias possa ser adequadamente
visualizada.
Podemos ficar no seguinte estado: por um lado é preciso admitir um “relativismo”
temporário; por outro lado é preciso procurar a harmonia consistente entre as várias
“linguísticas”.
ReVEL – No plano do fazer epistemológico, há diferenças entre
linguística teórica e linguística aplicada? Isto é, há diferença entre o
compromisso do pesquisador em relação ao conhecimento quando faz
ciência teórica ou quando faz ciência aplicada?
Borges Neto – Esta é uma questão complexa. Em primeiro lugar, precisamos
entender que o rótulo “Linguística Aplicada” tem pelo menos dois sentidos: a
aplicação de descobertas da uma linguística, digamos, teórica, na resolução de
problemas de outra ordem (Processamento de Língua Natural, aprendizagem de L2,
aquisição de L1, tratamento de patologias da linguagem, aquisição de escrita, etc.) ou,
estritamente, o ensino e aprendizagem de L2.
Provavelmente porque, no Brasil, a primeira aplicação da linguística se deu na área
do ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras, a expressão “linguística aplicada”
acabou se ligando preferencialmente a essa área de estudos. É interessante notar que,
embora constituída como uma área de estudos desde, pelo menos, o século XIX (e se
ignorarmos o uso do termo, desde a antiguidade), a grande explosão dos estudos
linguísticos se dá na metade do século XX, como consequência, em parte, da Segunda
Grande Guerra. É justamente no final dos anos 40 do século XX que começam a
surgir os departamentos de linguística nas universidades americanas, por exemplo. E
ReVEL, vol. 8, n. 14, 2010 [www.revel.inf.br] 5
parte importante das discussões se dará no quadro do ensino/aprendizagem de
línguas estrangeiras. No Brasil, sintomaticamente, um dos primeiros centros a
desenvolver pesquisa linguística e a congregar pesquisadores foi o Yázigi, que era
uma escola de línguas estrangeiras. Não tenho certeza disso, mas possivelmente foi o
grupo ligado ao Yázigi que cunhou o termo “linguística aplicada” para denotar o
trabalho que faziam. É importante notar, também, que os esforços para a criação das
organizações brasileiras de pesquisadores em linguística – Abralin e GEL –
receberam forte influência dos seminários do PILEI (Programa Interamericano de
Linguística e Ensino de Idiomas).
Não podemos, no entanto, esquecer todas as outras “aplicações” dos resultados das
teorias linguísticas. Em grande parte surgidas mais recentemente (e , muitas delas,
caudatárias da Gramática Gerativa), as aplicações da linguística na descrição da
aquisição de primeira língua, na aquisição da escrita, no tratamento de patologias da
linguagem, no processamento computacional de língua natural, etc., por um lado,
nada têm a ver com o ensino de línguas estrangeiras enquanto, por outro lado, são
“aplicações” muito mais claras e diretas dos resultados da teoria linguística a novos
objetos. Temos um caso interessante de aplicação da linguística em outras áreas na
proposta que Zeno Vendler faz aos filósofos analíticos, no capítulo 1 de seu livro
“Linguistics in Philosophy”6 (chamado “Linguistics and the A priori”), de que
deveriam olhar para os resultados que a linguística obtinha e levar esses resultados
em consideração em suas pesquisas filosóficas.
É preciso reconhecer, no entanto, a constituição de algumas dessas áreas “aplicadas”
como algo mais do que simplesmente a aplicação da linguística a novos objetos. Um
estudo que surge área de interface ou de aplicação pode conseguir autonomia e
constitui-se como uma nova ciência, com novos objetos observacionais e,
consequentemente, com novos objetos teóricos.
De certa forma, é o que penso acontecer com o Processamento de Língua Natural
(PLN), por exemplo. Os recortes no objeto observacional e o tipo de teorização
determinada pela natureza do meio computacional acabam por colocar os
pesquisadores de PLN numa rota paralela à do linguista. Há transações de lado a
6 Cornell University Press, 1967, p. 1-32.
ReVEL, vol. 8, n. 14, 2010 [www.revel.inf.br] 6
lado, mas nem os objetivos, nem os procedimentos podem ser os mesmos. Lembro de
ter apontado a pesquisadores de PLN, numa época em que estive envolvido com o
assunto, que os mecanismos teóricos utilizados por eles eram insuficientes, seja
porque permitiam determinados resultados (que não se verificavam na língua
portuguesa), seja porque impediam certas construções claramente gramaticais, e a
resposta padrão era que incluir ou excluir esses mecanismos era muito custoso e que
o sistema funcionava a contento para a esmagadora maioria dos casos. E o assunto se
encerrava por aí. Certa vez, propus discutir as classes de palavras usadas na anotação
de textos pelos etiquetadores (classes que, para mim, como linguista, não diziam
nada ou, pior, diziam o que não deviam dizer). Não houve nenhuma voz a favor da
discussão. Ouvi de uma pesquisadora importante da área de PLN que os linguistas
eram “sonhadores” e que, para ela, a gramática do Celso Pedro Luft era suficiente.
Enfim, tal como vai, a linguística e o PLN rapidamente não terão nada a dizer um
para o outro.
Da mesma forma, raras vezes encontramos trabalhos de ensino de L2 que sejam, de
fato, aplicações da linguística teórica. Eles existem e são muito interessantes, mas de
forma geral os pesquisadores em ensino/aprendizagem de L2 recusam a teoria
linguística. É moda hoje, propor cursos de letras exclusivamente voltados à formação
de professores de línguas estrangeiras que prescindem totalmente de conhecimentos
teóricos de linguística. Ao invés de um curso de fonologia, por exemplo, fica-se no
nível das generalidades sobre a pronúncia das palavras, e assim por diante. Em
outras palavras, implicitamente, a área do ensino/aprendizagem de L2 recusa o
rótulo de “linguística aplicada”, mesmo quando, explicitamente, o usa.
Quanto aos compromissos ligados ao fazer científico, não vejo diferenças entre o
pesquisador “teórico” e o pesquisador “aplicado”. Em outras áreas – isso não fica
claro na linguística – o pesquisador “aplicado” desenvolve, basicamente, tecnologia
(enquanto o pesquisador “teórico” faz a chamada “ciência básica”). O antropólogo
Bruno Latour – embora faça uma filosofia da ciência, no mínimo, polêmica e nem
sempre merecedora de citações – argumenta, convincentemente, que as fronteiras
entre a ciência básica e a tecnologia estão cada vez mais borradas. Quando Galileu
construiu sua luneta (feito tecnológico) usou uma teoria ótica (ciência básica); para
justificar e dar credibilidade a suas observações com a luneta, precisou desenvolver e
ReVEL, vol. 8, n. 14, 2010 [www.revel.inf.br] 7
aperfeiçoar a teoria ótica (ciência básica); por meio das observações com o uso da
luneta, trouxe novos conhecimentos sobre a natureza dos corpos celestes (luas de
saturno, superfície da lua, etc.) que reforçaram a teoria copernicana (ciência básica).
Em suma, os feitos tecnológicos permitem avanços na ciência básica que, por sua vez,
permite o surgimento de novas tecnologias que, na sequência, interferem nas
observações dos cientistas, e assim por diante. Qualquer biólogo sabe que nenhuma
biologia teórica seria possível sem o massivo auxílio da tecnologia. Embora, no mais
das vezes, com objetivos bastante distintos, as atividades dos cientistas e dos
“tecnólogos” se interpenetram a todo instante. De certo modo, era isso que eu
gostaria de ver acontecer na linguística: “aplicados” auxiliando “teóricos” e vice-versa,
numa espiral de cooperação que só faria bem a todos. Claro que para isso, seria
preciso que as formações desses dois tipos de cientista mudassem radicalmente, com
o desaparecimento dos feudos e das intolerâncias.
Uma das experiências mais interessantes que vivi foi no final dos anos 80 quando
comecei a lecionar linguística num curso de informática. Depois de alguns tropeços,
resolvi entender como funcionava a área de estudos dos alunos e fui aprender a
programar, entender a lógica das linguagens de programação, a ver as questões do
ponto de vista da informática. Esse esforço (inútil, em parte, já que definitivamente
não sou um programador) me permitiu abordar com os alunos as questões
linguísticas de uma forma que fizesse sentido para eles. Durante cerca de dez anos
mantive uma disciplina de linguística, obrigatória, no curso de informática da UFPR,
com alguns resultados notáveis (um deles, talvez, foi o de ter alguns alunos fazendo
letras depois de formados em informática).
ReVEL – Qual é a relevância, na pesquisa em Linguística, de conhecer e
se orientar pelos filósofos da ciência? Como eles devem dialogar com a
Filosofia da Linguística?
Borges Neto – Rodrigo Faveri – orientando meu de doutorado na UFPR que fez um
estágio com Marcelo Dascal na Universidade de Tel-Aviv – acha que a ciência e sua
filosofia são interdependentes – e tem alguns argumentos para sustentar sua posição.
Eu, por outro lado, não tenho clara essa relação. Acho que os cientistas, de modo
ReVEL, vol. 8, n. 14, 2010 [www.revel.inf.br] 8
geral, ignoram a filosofia e grande parte dos filósofos não tem formação científica. O
diálogo, assim, é muito difícil.
Há um descompasso entre o que é e o que deveria ser. Não quero ser normativo, mas
um certo grau de “idealização” não pode ser evitado. Minha posição é a de que a
filosofia deveria ser sempre acompanhada da História da Ciência, que vai nos mostrar
como tem sido o comportamento dos cientistas para que escapemos das armadilhas
normativas. E, na história da relação entre filósofos e cientistas, vemos muito mais os
filósofos atentos ao trabalho dos cientistas do que os cientistas atentos às
recomendações e constatações dos filósofos. O caso de Vendler – que apontei em
resposta acima – é exemplar.
Se passamos a “o que deveria ser”, creio que os linguistas deveriam estar mais atentos
aos filósofos, porque assim não fariam tantas bobagens.
Um bom exemplo é o da felizmente falecida sociolinguística paramétrica. Uma
tentativa de fazer coexistir, numa mesma teoria, a gramática gerativa – com seu
inatismo, suas regras determinísticas, sua busca do invariante nas línguas – e a teoria
laboviana da variação – com seu culturalismo, suas regras variáveis, sua busca da
variação nas línguas. E uma tentativa de construção teórica sem qualquer alteração
significativa nas teorias “compatibilizadas”, uma mera justaposição de teorias. Se, por
um lado, não creio ser impossível a construção de uma sociolinguística no seio da
teoria gerativa, por outro lado não creio que a gramática gerativa saia ilesa desse
processo. O mesmo acontece com a teoria da variação. Tentar justapor as teorias – e
essa é a minha questão – não passa da mais rematada bobagem, fruto de um
entendimento ingênuo da natureza do conhecimento científico. Este seria um lugar –
e um momento – em que uma maior atenção à filosofia seria essencial para o
linguista.
Da mesma forma, os filósofos também deveriam estar mais atentos ao fazer dos
linguistas. Os filósofos trazem para o interior da linguística, sem nenhuma
modalização, suas questões (e, pior, suas respostas) e também dizem bobagens.
Há filósofos, por exemplo, que defendem o realismo semântico. E seriamente.
Explico.
ReVEL, vol. 8, n. 14, 2010 [www.revel.inf.br] 9
O realismo metafísico é uma teoria que sustenta que os objetos do mundo existem
independentemente da atividade cognitiva de algum agente e que nossa experiência
desse mundo externo tem como causa imediata esses objetos. O realismo semântico,
além disso, sustenta que as expressões linguísticas significam esses objetos, isto é,
que todas as afirmações sobre o mundo são verdadeiras ou falsas em função de como
as coisas do mundo são em relação a esses objetos existentes independentemente,
sem levar em consideração quaisquer pensamentos, crenças ou experiências de um
agente cognitivo.
Ora, é possível pensar que existe um mundo exterior independente de nós e de nossas
atividades cognitivas. Em outras palavras, o realismo metafísico é uma teoria
ontológica respeitável. Por outro lado, assumir o realismo semântico é – ao menos
para um linguista – uma rematada bobagem. É óbvio que as expressões linguísticas
falam de coisas que não existem (ou a literatura seria impossível), falam de coisas que
só existem para pessoas que compartilham certas ideologias, e que tais expressões
são verdadeiras ou falsas – no interior dos discursos – como quaisquer outras.
Aqui, a necessidade de mais atenção por parte dos filósofos ao que os linguistas
dizem seria fundamental.
ReVEL – Quais são os problemas de epistemologia mais comuns que têm
ocorrido nas pesquisas em linguística, especialmente no Brasil? Nesse
aspecto, há diferenças entre a pesquisa no Brasil e em outros países?
Borges Neto – Creio que o problema mais sério, porque recorrente, é a criação de
“monstrinhos teóricos”. O linguista lê um autor que lhe parece interessante e passa a
usar suas ideias acriticamente, sem nunca perguntar sobre a consistência das ideias,
suas consequências para a manutenção das propostas assumidas em conjunto. De
modo geral, onde deveria haver síntese só há justaposição.
É preciso ser justo, no entanto. Esse tipo de atitude entre os linguistas é herdado dos
gramáticos que dominaram os estudos linguísticos por muitos séculos. O problema
da linguística atual é a grande dificuldade de se desvencilhar dessa herança.
ReVEL, vol. 8, n. 14, 2010 [www.revel.inf.br] 10
Posso dar um exemplo. Na morfologia, os gramáticos, tradicionalmente, usam o
modelo de análise que Hockett7 denominou “palavra-e-paradigma”. Neste modelo, a
palavra é a unidade de análise (e nada há abaixo da palavra). As palavras podem ser
ditas variáveis ou invariáveis e essa distinção apóia-se na existência de apenas uma
ou de mais de uma forma no paradigma associado à palavra. A palavra “número” é
variável porque seu paradigma contém as formas “número” e “números”; a palavra
“aqui” é invariável porque seu paradigma contém apenas a forma “aqui”. O verbo
“cantar” também é variável, já que seu paradigma contém as formas “cantar”,
“cantei”, “cantávamos”, “cantando”, “cantasses”, etc., num conjunto de mais de
setenta formas alternativas da mesma palavra. Esse é o ponto crucial: as formas dos
paradigmas são formas de uma mesma palavra. Ou assumimos isso ou deixa de fazer
sentido falar em palavra variável.
No modelo “palavra-e-paradigma”, as noções de flexão e derivação são obtidas de
forma absolutamente coerente: é a flexão que opõe as formas do paradigma entre si,
enquanto a derivação permite a obtenção de novas palavras a partir de palavras,
digamos, “primitivas”. E essas novas palavras terão seus próprios paradigmas. Por
exemplo, de “número”, cujo paradigma tem duas formas (“número” e “números”),
podemos obter “numérico”, cujo paradigma tem quatro formas (“numérico”,
“numérica”, “numéricos” e “numéricas”). Ou seja, flexão é uma relação
intraparadigmática e derivação é uma relação interparadigmática.
Pois bem. Os gramáticos tiveram contato com um modelo de análise morfológica
alternativo: o modelo que Hockett chamou de “item-e-arranjo”.
No modelo “item-e-arranjo”, a unidade não é a palavra, mas o morfema. As palavras
são objetos teóricos construídos a partir dos morfemas. As palavras podem ter apenas
um morfema, como “aqui”, dois morfemas, como “números” (que além do morfema
raiz “número” apresenta o morfema “-s”, indicador do plural), três morfemas, como
“senhoras” (que contém os morfemas “senhor”, “-a” e “-s”), e assim por diante. Na
medida em que a palavra é entendida como um conjunto de morfemas (ordenados
7 Hockett, Charles F. (1954). Two models of grammatical description. Word 10, p. 210–231. [Reprinted
in Joos, M. (ed.) (1957). Readings in linguistics I. Chicago, IL:University of Chicago Press, p. 386–
399.]
ReVEL, vol. 8, n. 14, 2010 [www.revel.inf.br] 11
num arranjo), fica difícil pensar que “senhoras” e “senhor” sejam formas de uma
mesma palavra, já que essas duas palavras são constituídas por conjuntos diferentes
de morfemas. Já não podemos mais falar em palavras variáveis. A distinção
variável/invariável perde o sentido. Também não podemos mais falar em flexão e
derivação (ao menos com o sentido anterior desses termos), já que a noção de
paradigma desaparece.
Pois não é que os gramáticos passam a falar de morfemas no interior mesmo do
modelo “palavra-e-paradigma”. Definem “morfema” como a menor unidade
significativa da língua (que, no seu modelo de análise, deveria ser a palavra) e são
capazes ainda de dizer que a vogal temática e as consoantes e vogais de ligação são
morfemas. Claro que a análise apresentada nas gramáticas continua sendo
exatamente a análise que vem sendo copiada de gramático a gramático desde
Dionísio Trácio, no séc. I a.C. Alguns ocultam a inconsistência ao usar termos como
“morfemas flexionais” e “morfemas derivacionais”. Mas, essas novas noções precisam
ser definidas e explicitadas. E não podemos mais usar a noção de paradigma para
fazê-lo. Pior: os resultados a que devemos chegar com as novas noções devem ser
exatamente os mesmos a que chegaríamos sem elas. Ou seja, os “morfemas
flexionais” devem corresponder exatamente às desinências, e os “morfemas
derivacionais” devem corresponder aos afixos. Ora, se era para chegar exatamente ao
mesmo lugar, para que as novas noções?
Eu estou dizendo que isso acontece com os gramáticos – e é verdade. Mas isso
também acontece com boa parte dos trabalhos de morfologia feitos pelos linguistas.
Tem muita gente tentando distinguir flexão de derivação; gastando tempo e energia
com uma distinção que só faz sentido numa determinada perspectiva teórica que, na
maior parte das vezes, não é a perspectiva assumida pelo linguista. Se a desculpa é
que só se está usando o termo e não a noção teórica associada a ele, fica a questão de
que sempre se procura chegar ao mesmo lugar a que termo e noção nos levavam.
Estou tentando não me referir a ninguém especificamente (as carapuças servirão para
alguns), mas não posso deixar de dizer que um dos responsáveis por este
procedimento, no mínimo, estranho, é o Mattoso Câmara Júnior, que,
aparentemente, não entendeu o que estava em jogo quando tentou – fora do modelo
ReVEL, vol. 8, n. 14, 2010 [www.revel.inf.br] 12
“palavra-e-paradigma” – distinguir flexão de derivação (sem abrir mão dos
resultados a que o modelo anterior chegava). E muita gente boa continua,
inutilmente, a seguir seus passos.
Se isso não é a busca deliberada de “monstrinhos teóricos”, não sei o que mais
poderia ser.
No fundo, a questão toda se liga a uma ignorância geral dos linguistas quanto às
questões epistemológicas. Ao menos, a um desprezo generalizado por essas questões,
que parecem para alguns como uma reflexão “de filósofos”, que não interessa ao
linguista.
Outra questão tem a ver com a quase completa ausência de uma história da
linguística (o quadro vem mudando substancialmente nos últimos anos, devo
reconhecer).
A História que muitas vezes se faz é a história externa (“fofoca externalista”, como me
disse alguém há uns anos). Uma história assim serve pouco aos interesses da
Filosofia da Linguística. Pior, desserve, já que por não se remeterem às questões
epistemológicas, dão vazão, e até incentivam, o sincretismo.
Eu tenho tentado incentivar meus alunos a que se dediquem à história da linguística e
tenho obtido algum sucesso, principalmente entre os alunos de línguas clássicas e
com a preciosa colaboração dos professores de grego e latim da UFPR. Muitos alunos
têm dedicado esforços na tradução e no comentário de autores clássicos (“linguistas
anacrônicos”). Já conseguimos uma boa tradução para o português (direto do grego)
da Tekhne Grammatiké de Dionísio Trácio (séc. I a.C.); uma tradução de boa parte da
Gramática Especulativa de Tomás Erfurt (1310), escrita originalmente em latim;
uma tradução diretamente do grego dos Dissoi Logoi (do séc. V a.C.), texto de autor
anônimo, mas de possível autoria do sofista Protágoras; uma tradução de boa parte
das Noites Áticas do latino Aulo Gélio (séc. IV). Tenho uma aluna trabalhando na
tradução de Varrão e outra na tradução de Sexto Empírico. Creio que assim podemos
dispor de um acervo mínimo de história do pensamento linguístico antigo e medieval
para podermos começar a pensar os fundamentos da gramática. Além disso, já temos
alguns trabalhos sobre as primeiras gramáticas portuguesas (Fernão de Oliveira, em
ReVEL, vol. 8, n. 14, 2010 [www.revel.inf.br] 13
particular) e estamos começando a investir na análise das gramáticas filosóficas
(portuguesas e brasileiras) dos séculos XVIII e XIX. Tenho também alunos pensando
historicamente a linguística do século XX, com a gramática gerativa como objeto
privilegiado. Enfim, há muito o que fazer, e estamos procurando dar nossa pequena
contribuição.
Quanto à situação no exterior, não creio que seja muito diferente do que ocorre no
Brasil. Por um lado, tenho a tentação de dizer que não é. Por outro lado, vejo muito
mais trabalhos epistemológicos sobre a linguística publicados lá fora, o que poderia
indicar a presença mais forte desse tipo de reflexão.
Claramente, a história da linguística é imensamente mais forte no exterior do que no
Brasil.
ReVEL – O senhor poderia sugerir alguns livros e textos sobre História e
Filosofia da Linguística, especialmente no que tange à Linguística
brasileira?
Borges Neto – Em primeiro lugar, meu livro “Ensaios de Filosofia da Linguística”
(Editora Parábola, 2004). Não quero ficar fazendo propaganda em causa própria,
mas creio que é a única publicação explicitamente destinada a explorar esse conjunto
de questões.
Acho interessante, também, ler os textos de Kanavillil Rajagopalan (Rajan). Falo,
particularmente, de Por uma linguística crítica e de A linguística que nos faz falhar8.
Embora eu discorde de muitas das ideias de Rajan, acho que ele é extremamente
provocativo e instigador de reflexões importantes. A argumentação inteligente de
Rajan nos força a repensar nossas ideias e presta, assim, serviço inestimável para o
amadurecimento da linguística e da filosofia da linguística no Brasil.
8 RAJAGOPALAN, Kanavillil. 2003. Por uma linguística crítica: linguagem, identidade e a questão
ética. São Paulo: Parábola.
RAJAGOPALAN, Kanavillil; SILVA, Fábio Lopes da. 2004. A linguística que nos faz falhar –
investigação crítica. São Paulo: Parábola.
ReVEL, vol. 8, n. 14, 2010 [www.revel.inf.br] 14
A leitura dos clássicos da filosofia da ciência – Popper, Kuhn e Lakatos, por exemplo
– sempre é interessante. Há uma série de introduções à filosofia da ciência
(infelizmente, a grande maioria escrita em inglês) que também podem ser lidas com
proveito. Embora esses textos não abordem a linguística, a compreensão de como as
questões são tratadas nas outras disciplinas científicas pode ser muito instrutiva.
Na história da linguística, não podia deixar de citar o trabalho de Cristina Altman, da
USP, que é, sem dúvida, a grande responsável no Brasil pelo desenvolvimento da
historiografia linguística9. Cristina Altman formou – e continua formando – um
grupo importante de historiadores da linguística e – não podia deixar de citar – criou
o primeiro arquivo de fontes para uma história da linguística no Brasil: o Centro de
Documentação em Historiografia Linguística (CEDOCH).
Há também um grupo de pessoas – infelizmente, disperso – que atua na história da
gramática. Posso citar como exemplos Ricardo Cavaliere, da Universidade Federal
Fluminense, (autor de Fonologia e morfologia na gramática científica brasileira.
Rio de Janeiro: Editora da Universidade Federal Fluminense, 2000), e Marli Quadros
Leite, da USP, (autora de O nascimento da gramática portuguesa: uso e norma. São
Paulo: Paulistana/Humanitas, 2007).
9 Ver ALTMAN, Cristina. 1998. A Pesquisa Linguística no Brasil: 1968-1988. São Paulo: Humanitas.
ReVEL, vol. 8, n. 14, 2010 [www.revel.inf.br] 15
Você também pode gostar
- Formulários para Avaliação de Tratamentos Do AutismoDocumento14 páginasFormulários para Avaliação de Tratamentos Do AutismoCarol Sader100% (4)
- HEGEL Fenomenologia Do Espírito (Prefácio) PDFDocumento24 páginasHEGEL Fenomenologia Do Espírito (Prefácio) PDFCristiano CarvalhoAinda não há avaliações
- Acho Que Tenho TDAH - Gerson BorgesDocumento46 páginasAcho Que Tenho TDAH - Gerson BorgesÁgatha SilveiraAinda não há avaliações
- A Construção Dos Numeros (Completo) PDFDocumento134 páginasA Construção Dos Numeros (Completo) PDFAnderson Georgino100% (5)
- Educando para a argumentação: Contribuições do ensino da lógicaNo EverandEducando para a argumentação: Contribuições do ensino da lógicaAinda não há avaliações
- Apostila Linguagens Codigos e Suas Tecnologias PDFDocumento37 páginasApostila Linguagens Codigos e Suas Tecnologias PDFHilton Barbosa100% (1)
- Exercícios Concordância Nominal e VerbalDocumento3 páginasExercícios Concordância Nominal e VerbalAlexandre Melo100% (2)
- Tese Avaliação Da Linguagem Oral PDFDocumento135 páginasTese Avaliação Da Linguagem Oral PDFCarla Ganço100% (2)
- ENTREVISTA - Umberto Eco - O Excesso de Informação Provoca AmnésiaDocumento6 páginasENTREVISTA - Umberto Eco - O Excesso de Informação Provoca AmnésiaAlexandre MeloAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios AcentuaçãoDocumento2 páginasLista de Exercícios AcentuaçãoAlexandre MeloAinda não há avaliações
- Livro Educação EspecialDocumento94 páginasLivro Educação Especialmarcosrobertosilva100% (1)
- Sujeito e Predicado Completo e AtividadesDocumento42 páginasSujeito e Predicado Completo e AtividadesAnnaliesAinda não há avaliações
- Semântica e Linguistica TextualDocumento47 páginasSemântica e Linguistica TextualDEBORA HRADEC100% (5)
- Estilos Literários - 01. Quadro-Resumo Da Literatura Brasileira - 6p.Documento6 páginasEstilos Literários - 01. Quadro-Resumo Da Literatura Brasileira - 6p.Alexandre Melo100% (1)
- A Natureza Da Linguagem HumanaDocumento29 páginasA Natureza Da Linguagem HumanaDianaNakashima100% (1)
- A Importância Do Latim Na Atualidade - Mário Eduardo Viaro (USP) PDFDocumento11 páginasA Importância Do Latim Na Atualidade - Mário Eduardo Viaro (USP) PDFAlexandre MeloAinda não há avaliações
- Apostila Tecnica de Entrevista InvestigativaDocumento25 páginasApostila Tecnica de Entrevista InvestigativaPaulaAinda não há avaliações
- Atividade Sobre QuinhentismoDocumento2 páginasAtividade Sobre QuinhentismoAlexandre Melo100% (1)
- Curso Bíblico Do Gênesis Ao Apocalipse - Paletras Do Prof. Felipe AquinoDocumento6 páginasCurso Bíblico Do Gênesis Ao Apocalipse - Paletras Do Prof. Felipe AquinoAlexandre Melo100% (3)
- Semantica e Linguistica TextualDocumento47 páginasSemantica e Linguistica TextualVanessa FariaAinda não há avaliações
- Mandalas TibetanasDocumento0 páginaMandalas TibetanasJane Ashworth100% (1)
- Caderno - de - Questoes - Integrado - Atual (EXAME DE SELEÇÃO PARA IFAL-ALUNO)Documento10 páginasCaderno - de - Questoes - Integrado - Atual (EXAME DE SELEÇÃO PARA IFAL-ALUNO)Alexandre Melo100% (1)
- ORLANDI Eni, A Análise de Discurso em Suas Diferentes Tradições Intelectuais - o BrasilDocumento18 páginasORLANDI Eni, A Análise de Discurso em Suas Diferentes Tradições Intelectuais - o BrasilEDisPALAinda não há avaliações
- Aula 1 - Questões-Chave Sobre EnunciaçãoDocumento16 páginasAula 1 - Questões-Chave Sobre EnunciaçãoClaudiene DinizAinda não há avaliações
- Enunciado Como Unidade Da Comunicação VerbalDocumento7 páginasEnunciado Como Unidade Da Comunicação VerbalMEIRE.C3311Ainda não há avaliações
- Critérios Do BrincarDocumento27 páginasCritérios Do BrincarAna MalaggiAinda não há avaliações
- IX Análise Alberto CaeiroDocumento3 páginasIX Análise Alberto CaeiroBianca Silva75% (12)
- BenvenisteDocumento16 páginasBenvenisteClaudiene DinizAinda não há avaliações
- Comunicacao Oral e EscritaDocumento30 páginasComunicacao Oral e EscritaRaquel Almeida0% (1)
- Introducao A Linguistica Cognitiva Primeiro CapituloDocumento18 páginasIntroducao A Linguistica Cognitiva Primeiro CapituloAlberto Araújo100% (1)
- A Ordem Do Discurso de Michel FoucaultDocumento2 páginasA Ordem Do Discurso de Michel FoucaultElis VasconcelosAinda não há avaliações
- A Naturalização Da Gramática Tradicional e Seu Uso ProtocolarDocumento7 páginasA Naturalização Da Gramática Tradicional e Seu Uso ProtocolarZoltan MarkósAinda não há avaliações
- Do Que Se Trata A Linguistica, Afinal?Documento2 páginasDo Que Se Trata A Linguistica, Afinal?Thaís Frota100% (1)
- Capítulo I - Visadas Epistêmicas Sobre SignosDocumento33 páginasCapítulo I - Visadas Epistêmicas Sobre SignosRuiz PesquisadorAinda não há avaliações
- FuncionalismoX GerativismoDocumento10 páginasFuncionalismoX GerativismoNícolas Totti LeiteAinda não há avaliações
- AmostraDocumento10 páginasAmostraThiago FariasAinda não há avaliações
- Sssssssssssssss Matelota DefiniDocumento11 páginasSssssssssssssss Matelota DefiniSileyrAinda não há avaliações
- Análise de Discursos Sobre Como Lidar Com o Aluno-Problema em Sala de Aula - Enfoque Semântico Argumentativo - IX Colóquio de LinguísticaDocumento14 páginasAnálise de Discursos Sobre Como Lidar Com o Aluno-Problema em Sala de Aula - Enfoque Semântico Argumentativo - IX Colóquio de LinguísticaMarlon RioAinda não há avaliações
- TEXTO COMPLEMENTAR Semntica Formal PDFDocumento12 páginasTEXTO COMPLEMENTAR Semntica Formal PDFLuanna FreitasAinda não há avaliações
- Diálogos Possíveis Entre Platão, Saussure eDocumento12 páginasDiálogos Possíveis Entre Platão, Saussure eJônatas SilvaAinda não há avaliações
- Estados Léxicas PortuguesDocumento5 páginasEstados Léxicas PortuguesJustino José RauanhequeAinda não há avaliações
- Miranda (2014) Concepções de Textos Nos Materiais de Ensino de PleDocumento20 páginasMiranda (2014) Concepções de Textos Nos Materiais de Ensino de PleLucia TorresAinda não há avaliações
- Linguística e PsicanáliseDocumento13 páginasLinguística e PsicanáliseGabriel DaherAinda não há avaliações
- Atividade - Questionário Estruturalismo-1Documento8 páginasAtividade - Questionário Estruturalismo-1Karolinne SouzaAinda não há avaliações
- Unidade 2 - Questões Tradicionais Vistas A Partir Do Enfoque LinguísticoDocumento22 páginasUnidade 2 - Questões Tradicionais Vistas A Partir Do Enfoque LinguísticoRosimeireAinda não há avaliações
- 43614-Texto Do Artigo-146985-1-10-20170114Documento19 páginas43614-Texto Do Artigo-146985-1-10-20170114walanyfontcerqAinda não há avaliações
- DANES AEntoaçãoSentencialDeUmPontoDeVistaFuncional TradDocumento18 páginasDANES AEntoaçãoSentencialDeUmPontoDeVistaFuncional TradDiego XavierAinda não há avaliações
- A Antonímia em Sala de AulaDocumento10 páginasA Antonímia em Sala de AulaThalita Nogueira DiasAinda não há avaliações
- Int. GeralDocumento7 páginasInt. GeraljukuetassoAinda não há avaliações
- Fluencia Verbal Rosana Novaes PintoDocumento8 páginasFluencia Verbal Rosana Novaes PintoPatrícia GrilloAinda não há avaliações
- MARANTZ - Alec - SEM ESCAPATÓRIA DA SINTAXE - NÃO TENTE FAZER ANÁLISE PDFDocumento26 páginasMARANTZ - Alec - SEM ESCAPATÓRIA DA SINTAXE - NÃO TENTE FAZER ANÁLISE PDFJorge Viana de MoraesAinda não há avaliações
- História e Métodos Experimentais em Linguística e Neurociências Da LinguagemDocumento5 páginasHistória e Métodos Experimentais em Linguística e Neurociências Da LinguagemkesleycdsAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento13 páginas1 PBRick StifyAinda não há avaliações
- A Trajetória Da Linguística Textual: Paulo de Tarso Galembeck (UEL)Documento13 páginasA Trajetória Da Linguística Textual: Paulo de Tarso Galembeck (UEL)Jhonnatan Deivid Salazar RojasAinda não há avaliações
- O Ensino Do Campo Lexical "Habitação" para Aprendiz de PBSL - Artigo Final (Grupo 1)Documento10 páginasO Ensino Do Campo Lexical "Habitação" para Aprendiz de PBSL - Artigo Final (Grupo 1)Carol NishiyamaAinda não há avaliações
- AULA01Documento18 páginasAULA01DeniseAinda não há avaliações
- A Perspectiva Enunciativa Do Estudo Da LinguagemDocumento36 páginasA Perspectiva Enunciativa Do Estudo Da LinguagemDavid GarcíaAinda não há avaliações
- Alguns Aspectos Sobre As Metaforas de Lakoff e Johnson PDFDocumento6 páginasAlguns Aspectos Sobre As Metaforas de Lakoff e Johnson PDFJessica CostaAinda não há avaliações
- La Lexicologie: Resenhado Por: Félix Buguefio MirandaDocumento2 páginasLa Lexicologie: Resenhado Por: Félix Buguefio MirandaJulia DutraAinda não há avaliações
- Música É Linguagem PDFDocumento10 páginasMúsica É Linguagem PDFkrapperAinda não há avaliações
- Fundamentos Sobre A Continuidade em WittgensteinDocumento4 páginasFundamentos Sobre A Continuidade em WittgensteinFernando JuniorAinda não há avaliações
- A Lexicologia e A Teoria Dos Campos LexicaisDocumento12 páginasA Lexicologia e A Teoria Dos Campos LexicaisFábio FrohweinAinda não há avaliações
- O Estruturalismo - Camara Jr.Documento46 páginasO Estruturalismo - Camara Jr.ErikMilettaAinda não há avaliações
- Cognição, Emoção e Reflexão Na Sala de Aula: Por Uma Abordagem Sistêmica Do Ensino/aprendizagem de InglêsDocumento20 páginasCognição, Emoção e Reflexão Na Sala de Aula: Por Uma Abordagem Sistêmica Do Ensino/aprendizagem de InglêsCida ZolnierAinda não há avaliações
- AULA 3 - Gêneros textuais breve históricoDocumento15 páginasAULA 3 - Gêneros textuais breve históricoJorge GreyAinda não há avaliações
- Língua Portuguesa: Linguística TextualDocumento24 páginasLíngua Portuguesa: Linguística Textualnathalia costaAinda não há avaliações
- Lógica Plano de AulaDocumento17 páginasLógica Plano de AulaEmanuel TorquatoAinda não há avaliações
- Trabalho de PortuguesDocumento7 páginasTrabalho de Portuguesbrito dique joseAinda não há avaliações
- 8 - Entrevista Com Jean Paul Bronckart Sobre Interacionismo Sócio-Discursivo - REVELDocumento15 páginas8 - Entrevista Com Jean Paul Bronckart Sobre Interacionismo Sócio-Discursivo - REVELEvelyn DelgadoAinda não há avaliações
- Processos de Referenciação Na Produção DiscursivaDocumento18 páginasProcessos de Referenciação Na Produção Discursivalorenafaria3Ainda não há avaliações
- Como As Palavras Se Organizam em ClassesDocumento19 páginasComo As Palavras Se Organizam em ClassesAna CavalcantiAinda não há avaliações
- Introducao A Linguistica Vol 3 FundamentDocumento11 páginasIntroducao A Linguistica Vol 3 FundamentIngrid Knuivers Franco100% (1)
- 8 Teorias Linguisticas ContemporaneasDocumento54 páginas8 Teorias Linguisticas ContemporaneasNádia NelzizaAinda não há avaliações
- Teoria de LiteraturaDocumento13 páginasTeoria de Literaturadom aleftAinda não há avaliações
- 49882-Texto Do Artigo-61460-1-10-20130114Documento15 páginas49882-Texto Do Artigo-61460-1-10-20130114Paloma ReginaAinda não há avaliações
- Respostas Léxico - PietroforteDocumento9 páginasRespostas Léxico - PietroforteThales MenisAinda não há avaliações
- Lgca 1 FragmentosDocumento3 páginasLgca 1 Fragmentosgabizinha alomaAinda não há avaliações
- A Linguagem e As Operações Intelectuais - PiagetDocumento5 páginasA Linguagem e As Operações Intelectuais - PiagetolhaopapainoelAinda não há avaliações
- 2 Avl FilosDocumento8 páginas2 Avl FilosLanna SouzaAinda não há avaliações
- Latim A Arte de RaciocinarDocumento103 páginasLatim A Arte de RaciocinarAlexandre MeloAinda não há avaliações
- Tese Beatriz BoclinDocumento294 páginasTese Beatriz BoclinAlexandre MeloAinda não há avaliações
- Páginas Faltantes em Mira MateusDocumento1 páginaPáginas Faltantes em Mira MateusAlexandre MeloAinda não há avaliações
- O Ritmo Na Poesia de Ovídio - Prof. Estêvão Da Rocha LimaDocumento65 páginasO Ritmo Na Poesia de Ovídio - Prof. Estêvão Da Rocha LimaAlexandre MeloAinda não há avaliações
- Curso de História Da Igreja (Visão Protestante) - Juliano HeyseDocumento9 páginasCurso de História Da Igreja (Visão Protestante) - Juliano HeyseAlexandre MeloAinda não há avaliações
- Artigo Argumento Luiz Roberto C KonigDocumento19 páginasArtigo Argumento Luiz Roberto C KonigLuiz C. KönigAinda não há avaliações
- Argumentaçao para Relatorios de AvaliaçaoDocumento10 páginasArgumentaçao para Relatorios de AvaliaçaoMara SilviaAinda não há avaliações
- Classificadores em Libras Tania - Felipe PDFDocumento16 páginasClassificadores em Libras Tania - Felipe PDFCarolina PradoAinda não há avaliações
- Semiótica e Análise Do ComportamentoDocumento4 páginasSemiótica e Análise Do Comportamentochristiano_tre3Ainda não há avaliações
- A Inportancia Da Psicologia para A EnfermagemDocumento6 páginasA Inportancia Da Psicologia para A EnfermagemLuciana Arrizabalaga Rodrigues PereiraAinda não há avaliações
- Gabarito e Teoria Dos Exercícios de Conhecimento PedagógicosDocumento21 páginasGabarito e Teoria Dos Exercícios de Conhecimento PedagógicosvaniaAinda não há avaliações
- LOGICA E LINGUAGEM - Conceitos e TermosDocumento11 páginasLOGICA E LINGUAGEM - Conceitos e TermosDiego SilvaAinda não há avaliações
- Aula4 Relacoes Logico-SemanticasDocumento3 páginasAula4 Relacoes Logico-SemanticasClaudia LazariniAinda não há avaliações
- Planejamento 4º Ano Prof AndréaDocumento11 páginasPlanejamento 4º Ano Prof AndréaMarieli Louzano Da Costa OliveiraAinda não há avaliações
- Teorias Contemporâneas Da Aprendizagem. V2Documento18 páginasTeorias Contemporâneas Da Aprendizagem. V2Marciana HubbAinda não há avaliações
- Níveis de LinguagemDocumento5 páginasNíveis de LinguagemGold Ink100% (1)
- Avaliação de Aprendizagem em EAD - Edmeia Santos PDFDocumento17 páginasAvaliação de Aprendizagem em EAD - Edmeia Santos PDFAnonymous JNwGhrAinda não há avaliações
- Composicao Escrita - AulaDocumento20 páginasComposicao Escrita - AulaMussagyamade mustafaAinda não há avaliações
- A Psicologia Concreta de Vigotski Implicações para A EducaçãoDocumento15 páginasA Psicologia Concreta de Vigotski Implicações para A Educaçãomaluko2100% (5)
- Avea Versus AvaDocumento11 páginasAvea Versus AvaSebastiao S. Bueno JuniorAinda não há avaliações
- E Book+ +parte+1+ (V.final) Gratuito 1Documento57 páginasE Book+ +parte+1+ (V.final) Gratuito 1Otavio GumsAinda não há avaliações