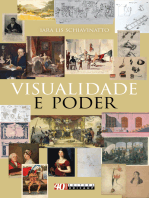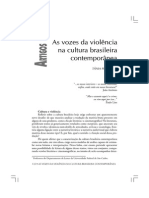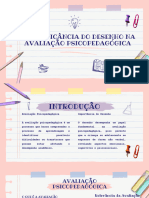Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Mulheres Reescrevendo A Nação, RITA TEREZINHA SCHMIDT
Enviado por
gabriela.puschiavoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Mulheres Reescrevendo A Nação, RITA TEREZINHA SCHMIDT
Enviado por
gabriela.puschiavoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
RITA TEREZINHA SCHMIDT
Mulheres reescrevendo a nação
Uma das formas mais contundentes do exercício desse poder foi a exclusão da
representação da autoria feminina no século XIX, período formativo da identidade
nacional, em que a literatura se institucionalizou como instrumento pedagógico de
viabilização da nossa diferença cultural em razão de sua força simbólica para sustentar
a coerência e a unidade política da concepção romântica da nação como “o todos em
um”. O nacional, enquanto espaço das projeções imaginárias de uma comunidade
que buscava afirmar sua autonomia e soberania em relação à metrópole, constituiu-se
como um domínio masculino, de forma direta e excludente.
Hoje o resgate de obras de autoria feminina rompe o monólogo masculino, nas
palavras de Mary Louise Pratt, “or at least challenge its claim to a monopoly on
culture, history, and intellectual authority”. A visibilidade e a circulação dessas
obras no campo acadêmico da construção de saberes não só afetam o estatuto
da própria história cultural e literária, instalando na reflexão historiográfica
interrogações acerca de premissas críticas e cristalizações canônicas, como
tensionam as representações dominantes calcadas no discurso assimilacionista de
um sujeito nacional não marcado pela diferença. A hegemonia desse sujeito sempre
esteve calcada em formas de exclusão de outras vozes, outras representações.
Nesse sentido, o processo de desconstrução da nacionalidade implica
reconhecer textos marginalizados em razão das diferenças de gênero, raça e classe
social. É a vontade de construir a história dos próximos 500 anos, como resultado da
ação emancipadora de um conhecimento do passado, que nos leva a percorrer alguns
caminhos do processo de naturalização da nação homogênea e a ouvir vozes
silenciadas nas suas fronteiras internas.
A relação estreita entre literatura e identidade nacional se impôs no século XIX
para uma elite dirigente empenhada na elaboração de uma narrativa que pudesse,
simbólica e ideologicamente, traduzir a independência política e a necessidade de
singularizar culturalmente a nação emergente. Construir a nação significava
constituir uma literatura própria, começando pela demarcação de sua história,
conforme princípios de seleção e continuidade que pudessem sustentar um acervo de
caráter eminentemente nacional.
Dessa forma, a construção social do Brasil como estado moderno, como
nação constituída em termos de um povo soberano, consciente de suas
especificidades e independência política, andou afinado com o movimento literário
romântico, cuja destilação nacionalista foi um importante agente na luta pela
coesão social e pela autonomia cultural. Neste sentido, fazer uma nação e fazer uma
literatura foram processos simultâneos, conforme coloca Antonio Candido em sua obra
acima referida.
O problema que se coloca hoje é o estatuto idealizante do nacionalismo
romântico, na medida em que seu discurso, fortemente apoiado num sentimento
ufanista, cristalizou-se numa ideologia estética e política que se rendeu à concepção
idílica e unívoca de nacionalidade. Esta, ao sublimar diferenças e conflitos internos,
colocou-se a serviço da empresa colonizadora, institucionalizando mecanismos de or-
ganização e exclusão.
Já as mulheres, desde sempre destituídas da condição de sujeitos históricos,
políticos e culturais, jamais foram imaginadas e sequer convidadas a se imaginarem
como parte da irmandade horizontal da nação e, tendo seu valor atrelado a sua
capacidade reprodutora, permaneceram precariamente outras para a nação, como
bem coloca Mary Louise Pratt em “Mulher, literatura e irmandade nacional”.
Compreende-se, dessa forma, que o projeto romântico, mesmo quando
articulava o desejo político de construção identitária que promovesse as
particularidades locais, estava acumpliciado ao modelo cultural dominante da
missão civilizatória em alerta contra a irrupção da barbárie, figurada na condição
essencialista do outro, dentro do paradigma etnocentrista do colonizador. O romance
Iracema, de José de Alencar, publicado em 1865 no apogeu do indianismo brasileiro,
considerado a narrativa fundadora da nação brasileira, proclama a origem da nova
raça como fruto da miscigenação, a união harmoniosa do elemento branco e do índio.
Todavia, sob o leitmotiv romântico, tem-se uma narrativa que trata de política sexual
e racial, de relações de poder que resultam na eliminação da mulher índia, na
subjugação dos índios “maus” e no branqueamento do índio “bom”, bem como a
destruição do habitat natural do indígena. O final da narrativa sublinha a vitória
do herói português que se torna pai de um filho, ícone emblemático do encontro das
duas raças e fundador da nacionalidade brasileira. Como figura idealizada a serviço
da missão civilizatória, Moacir é, do ponto de vista genealógico, o herdeiro dos
valores paternos e, portanto, articula filiações primeiras à sua origem européia,
reafirmada no processo de desterritorialização e silenciamento do outro. A narrativa de
Alencar inscreve os limites de uma consciência nacional no contexto de uma
experiência histórica marcada pelo modo de produção colonial-escravista, cuja utopia
étnica efetivamente conjuga interesses metropolitanos com os da classe dominante.
Nessa perspectiva, a explicação histórica da nação se consolida nas bases de
uma ordem social simbólica pautada na imagem da integridade de um sujeito
nacional universal, cuja identidade se impõe de forma abstrata, dissociada de
materialidades resistentes como raça, classe e gênero, as quais representam a
ameaça da diferença não só às premissas daquele sujeito, presumidamente
uniforme e homogêneo, mas ao próprio movimento de sua construção na produção da
nação como narração. Os esforços da elite letrada brasileira em construir uma narrativa
nacional no século XIX e a concomitante psicologização da política, com a
institucionalização de uma memória coletiva, de caráter uniformizador, resultante da
violência perpetrada em nome de uma identidade que se projeta, do ponto de vista de
classe, raça e gênero como hegemônica.
[...] Traduz o alinhamento com um paradigma de centralidade colonial
assentado na concepção de um estado-nação, cuja identidade imaginada se
processa sob o signo da elitização, masculinização e branqueamento da cultura
como critérios de civilização.
[...] O resgate da autoria feminina do século XIX traz à tona, de forma explosiva,
aquilo que a memória recalcou, ou seja, outras narrativas do nacional que não só
deixam visíveis as fronteiras internas da comunidade imaginada como refiguram a
questão identitária nos interstícios das diferenças sociais de gênero, classe e raça
reconceitualizando, assim, a nação como espaço heterogêneo, mais concreto e real,
atravessado por tensões e diferenças. Pelo viés da ótica feminina, nacionalizar o
nacional, o que soa aparentemente como um despropósito, significa, justamente,
questionar a matriz ideológica do paradigma universalista que informou o princípio
do nacionalismo brasileiro, responsável pela constelação hegemônica de forças
políticas, sociais e culturais presentes na formação e no desenvolvimento da nação
como narração. Talvez essa seja uma das explicações para o silêncio e a
exclusão de nossas escritoras da historiografia literária, da moderna tradição crítica e
da história das idéias no Brasil, já que mostrar o país, na perspectiva de muitas
delas, era problematizar as bases das ideologias masculinas de nação.
Você também pode gostar
- Brasil-Afro: História, historiografia, teoria do conhecimento em história. Escritos forjados na negaçãoNo EverandBrasil-Afro: História, historiografia, teoria do conhecimento em história. Escritos forjados na negaçãoAinda não há avaliações
- Mulheres Reescrevendo A Nação - Rita Terezinah SchmidtDocumento14 páginasMulheres Reescrevendo A Nação - Rita Terezinah SchmidtFlavia MariaAinda não há avaliações
- Graciliano Ramos: uma narrativa social como reflexãoNo EverandGraciliano Ramos: uma narrativa social como reflexãoAinda não há avaliações
- Identidade Nacional em Tempos de Pós-ColonialidadeDocumento18 páginasIdentidade Nacional em Tempos de Pós-ColonialidadeHenrique Ferras GregoriAinda não há avaliações
- Visualidade e poder: Ensaios sobre o mundo lusófono (c. 1770-c. 1840)No EverandVisualidade e poder: Ensaios sobre o mundo lusófono (c. 1770-c. 1840)Ainda não há avaliações
- NARRANDO A NAÇÃO - Homi BhabhaDocumento7 páginasNARRANDO A NAÇÃO - Homi BhabhaJéssica LimaAinda não há avaliações
- Argumento Indianista e o Esforço Unificador de J.de AlencarDocumento22 páginasArgumento Indianista e o Esforço Unificador de J.de AlencarDenise SantiagoAinda não há avaliações
- Fichamento Brasil IndigenaDocumento11 páginasFichamento Brasil IndigenaEstevam MachadoAinda não há avaliações
- ZILA BERND Cultura e Identidade NacionalDocumento26 páginasZILA BERND Cultura e Identidade NacionalCarlos Jorge Dantas de Oliveira100% (3)
- A Historia Da Lit Tem Genero - Rita SchmidtDocumento11 páginasA Historia Da Lit Tem Genero - Rita SchmidtRenataAinda não há avaliações
- ST 17 - Anny Karine Matias Novaes Machado e Luciano Barbosa Justino TCDocumento8 páginasST 17 - Anny Karine Matias Novaes Machado e Luciano Barbosa Justino TCPatriciaVieiraAinda não há avaliações
- Resumo Texto José Luiz FiorinDocumento3 páginasResumo Texto José Luiz FiorinThayna CorsiAinda não há avaliações
- BORA, Zélia FREITAS, M. N. Negrismo e Modernismo. A Crítica Cultural de Raul Bopp em UrucungoDocumento14 páginasBORA, Zélia FREITAS, M. N. Negrismo e Modernismo. A Crítica Cultural de Raul Bopp em UrucungoVitor DiasAinda não há avaliações
- Bhabha HomiDocumento10 páginasBhabha HomiPatrick BastosAinda não há avaliações
- Identidade e Memória RegionalDocumento15 páginasIdentidade e Memória RegionalTâmila Carolini TavaresAinda não há avaliações
- Paulo PradoDocumento6 páginasPaulo PradoHeitor Dutra100% (1)
- Rafaela SanchesDocumento10 páginasRafaela SanchesfernandalinsAinda não há avaliações
- 03 Identidade Cultural e Consciência Nacionalista Nas Literaturas Africanas LusófonasDocumento6 páginas03 Identidade Cultural e Consciência Nacionalista Nas Literaturas Africanas LusófonasAryanna OliveiraAinda não há avaliações
- Hommi Bhabha 1 PDFDocumento15 páginasHommi Bhabha 1 PDFRafael TelesAinda não há avaliações
- SCHMIDT, Rita Terezinha Mulheres Reescrevendo A NaçãoDocumento20 páginasSCHMIDT, Rita Terezinha Mulheres Reescrevendo A NaçãoMylena GivoniAinda não há avaliações
- Artigo Luiza Baldo Identidade NacionalDocumento14 páginasArtigo Luiza Baldo Identidade NacionalAlexandre Piana LemosAinda não há avaliações
- AD1 Teoria Da HistóriaDocumento3 páginasAD1 Teoria Da HistóriaMaria Eduarda RodriguesAinda não há avaliações
- RICUPERO, Bernardo. O Romantismo e A Ideia de Nação No Brasil 1830-1870Documento4 páginasRICUPERO, Bernardo. O Romantismo e A Ideia de Nação No Brasil 1830-1870Leonardo NóbregaAinda não há avaliações
- Artigo de Manoel Salgado Nação e CivilizaçãoDocumento23 páginasArtigo de Manoel Salgado Nação e CivilizaçãoKelly Silva PradoAinda não há avaliações
- Nepe Literatura FinalDocumento10 páginasNepe Literatura FinalFelipe SouzaAinda não há avaliações
- A Emergencia Da Literatura AmerindiaDocumento3 páginasA Emergencia Da Literatura AmerindiaIvy SantanaAinda não há avaliações
- Texto de ArtigoDocumento30 páginasTexto de ArtigoJESSICA CAMPOSAinda não há avaliações
- Literatura de Dois GumesDocumento3 páginasLiteratura de Dois GumesMarllon Valença100% (1)
- As Vozes Da Violência Tania PellegriniDocumento22 páginasAs Vozes Da Violência Tania Pellegrinirenatorocha171990Ainda não há avaliações
- Dois Conceitos de BolivianidadeDocumento23 páginasDois Conceitos de BolivianidadeBruno Rafael Matps PiresAinda não há avaliações
- Trabalho Ev056 MD1 Sa9 Id1250 20082016000521Documento11 páginasTrabalho Ev056 MD1 Sa9 Id1250 20082016000521Poliana MacedoAinda não há avaliações
- LM Gisela Lacourt e Marcia BarbosaDocumento15 páginasLM Gisela Lacourt e Marcia Barbosabeneditaf.roque20Ainda não há avaliações
- Projeto Mestrado BrunaDocumento14 páginasProjeto Mestrado BrunacunhabfAinda não há avaliações
- Lidia CardelDocumento13 páginasLidia CardelEdilvan Moraes LunaAinda não há avaliações
- Discurso Literário e Construção Da Identidade Nacional BrasileiraDocumento10 páginasDiscurso Literário e Construção Da Identidade Nacional BrasileiraSueli SaraivaAinda não há avaliações
- D. Narcisa de Villar PDFDocumento12 páginasD. Narcisa de Villar PDFhokaloskouros9198Ainda não há avaliações
- Resenha o Ensino de Historia e A Criação Do FatoDocumento3 páginasResenha o Ensino de Historia e A Criação Do FatoEsdras OliveiraAinda não há avaliações
- Comentário CríticoDocumento3 páginasComentário CríticoThays de BritoAinda não há avaliações
- Fronteiras Da Identidade: o Texto Híbrido de Gloria Anzaldúa Ana Cristina Dos SantosDocumento22 páginasFronteiras Da Identidade: o Texto Híbrido de Gloria Anzaldúa Ana Cristina Dos SantosJosé VianaAinda não há avaliações
- A Escola e A República e Outros EnsaiosDocumento39 páginasA Escola e A República e Outros Ensaioslice_assis799878% (9)
- Literatura e História - Imagens de Leitura e de Leitores No Brasil Do Século XIXDocumento10 páginasLiteratura e História - Imagens de Leitura e de Leitores No Brasil Do Século XIXGustavo AlmeidaAinda não há avaliações
- Thiagoneto, Gerente Da Revista, 8 - RECONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA NA LITERATURA AFRO-BRASILEIRA DE CONCEIÇÃO EVARISTODocumento14 páginasThiagoneto, Gerente Da Revista, 8 - RECONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA NA LITERATURA AFRO-BRASILEIRA DE CONCEIÇÃO EVARISTOMirele silvaAinda não há avaliações
- Nação, Um Discurso Simbólico Da Modernidade - Márcia Fagundes BarbosaDocumento14 páginasNação, Um Discurso Simbólico Da Modernidade - Márcia Fagundes Barbosabezerra88100% (1)
- Midia e Naçao em Tempo HeterogeneoDocumento15 páginasMidia e Naçao em Tempo HeterogeneoJoão Ricardo Ferreira PiresAinda não há avaliações
- Antonio Candido Raizes Do BrasilDocumento3 páginasAntonio Candido Raizes Do BrasilJackson BarbosaAinda não há avaliações
- Literatura e História: Imagens de Leitura e de Leitores No Brasil No Século XIXDocumento14 páginasLiteratura e História: Imagens de Leitura e de Leitores No Brasil No Século XIXBianca SalesAinda não há avaliações
- Resenha Do Texto Literatura AfroDocumento2 páginasResenha Do Texto Literatura AfroJosé Carlos Redson CarlosAinda não há avaliações
- Retorica e Politica Sexual Na Conquista Da AmericaDocumento14 páginasRetorica e Politica Sexual Na Conquista Da AmericaFelipe RangelAinda não há avaliações
- Jubiabá, A Representação Da Cultura e Da Identidade Da BahiaDocumento15 páginasJubiabá, A Representação Da Cultura e Da Identidade Da BahiaDareRoseAinda não há avaliações
- O Lugar Do Não-Lugar: Ruídos Na Narrativa de Ronaldo Correia de BritoDocumento12 páginasO Lugar Do Não-Lugar: Ruídos Na Narrativa de Ronaldo Correia de BritoCarol LimaAinda não há avaliações
- Relatório 19 1 24Documento8 páginasRelatório 19 1 24Thiago CostaAinda não há avaliações
- Apresentação Da Obra - A Escrava IsauraDocumento7 páginasApresentação Da Obra - A Escrava IsauraJoão Marcus SoaresAinda não há avaliações
- Artigo A Importância Da Literatura Como Fonte de PesquisaDocumento10 páginasArtigo A Importância Da Literatura Como Fonte de PesquisaMarisa Soares100% (1)
- Quilombo Residual - Texto de Wesley CorreiaDocumento15 páginasQuilombo Residual - Texto de Wesley CorreiaMaurício da AnunciaçãoAinda não há avaliações
- Colonialidade e Silenciamento Nos CanoneDocumento16 páginasColonialidade e Silenciamento Nos CanoneAndré RamosAinda não há avaliações
- Mario Cesar Lugarinho - Nasce A Literatura Gay No BrasilDocumento11 páginasMario Cesar Lugarinho - Nasce A Literatura Gay No BrasilSandro AragãoAinda não há avaliações
- O Caminho Da Transculturação em O Outro Pé Da SereiaDocumento13 páginasO Caminho Da Transculturação em O Outro Pé Da SereiaRodolfo MelloAinda não há avaliações
- Veloso Monica A Brasilidade Verde Amarela Nacionalismo e Regionalismo PaulistaDocumento22 páginasVeloso Monica A Brasilidade Verde Amarela Nacionalismo e Regionalismo PaulistaDouglas Pavoni ArientiAinda não há avaliações
- 2011 EvandroCharlesPizaDuarte v2Documento474 páginas2011 EvandroCharlesPizaDuarte v2Kelpper CozinhasAinda não há avaliações
- No Fio Da Navalha-Literatura e Violência HojeDocumento20 páginasNo Fio Da Navalha-Literatura e Violência HojeAngie Melissa Gamboa YaruroAinda não há avaliações
- 3 Chamada Sisu 2024Documento40 páginas3 Chamada Sisu 2024Harusame YokuAinda não há avaliações
- Plano Anual Inglês 1º Ano Ensino MédioDocumento6 páginasPlano Anual Inglês 1º Ano Ensino MédioDaniella Freitas Silva CavalcanteAinda não há avaliações
- Espaco e Interacao Geografia 9 AnoDocumento372 páginasEspaco e Interacao Geografia 9 Anokarine.santos46556Ainda não há avaliações
- As Tres Culturas NaomarDocumento11 páginasAs Tres Culturas NaomarCarvalhoadmAinda não há avaliações
- RELATÓRIO DE INTERVENÇÃO - Leonardo HinzeDocumento8 páginasRELATÓRIO DE INTERVENÇÃO - Leonardo HinzeLeonardo HinzeAinda não há avaliações
- Atividade 2 - Administração de Conflitos e Relacionamentos - 51-2024Documento8 páginasAtividade 2 - Administração de Conflitos e Relacionamentos - 51-2024admcavaliniassessoriaAinda não há avaliações
- AlexandraDocumento260 páginasAlexandraElaine Cristina BorgesAinda não há avaliações
- Bauer e Gaskell - Cap. 10 - Análise Do DiscursoDocumento13 páginasBauer e Gaskell - Cap. 10 - Análise Do DiscursoRayane AndradeAinda não há avaliações
- 2018 Superior Orientador PedagogicoDocumento10 páginas2018 Superior Orientador PedagogicoFelipe WagnerAinda não há avaliações
- Questões Revisão N1 Bueno NoturnoDocumento4 páginasQuestões Revisão N1 Bueno NoturnoNatália MaiaAinda não há avaliações
- Plano de Curso Geografia 9º Ano 2024Documento12 páginasPlano de Curso Geografia 9º Ano 2024Jeovane BorgesAinda não há avaliações
- Slide Da Unidade - Cultura, Liderança e Comunicação No TrabalhoDocumento27 páginasSlide Da Unidade - Cultura, Liderança e Comunicação No TrabalhoMariany StefaneAinda não há avaliações
- Direitos Humanos e Sistema de Protecao de Direitos Humanos em MozDocumento9 páginasDireitos Humanos e Sistema de Protecao de Direitos Humanos em MozRenato TiagoAinda não há avaliações
- Cartilha Emendas - 2024Documento47 páginasCartilha Emendas - 2024Kléberson CardosoAinda não há avaliações
- Exercícios de Teoria LiteráriaDocumento3 páginasExercícios de Teoria Literáriathaynna369Ainda não há avaliações
- Unidade 3 Superdotação e Currículo Escolar - Potenciais Superiores e Seus Desafios Da Perspectiva Da Educação InclusivaDocumento18 páginasUnidade 3 Superdotação e Currículo Escolar - Potenciais Superiores e Seus Desafios Da Perspectiva Da Educação Inclusivasofiapedagogia94Ainda não há avaliações
- TCC ElaineDocumento15 páginasTCC ElaineDAYANNEAinda não há avaliações
- Volume 1 - Sociologia - 3 SérieDocumento28 páginasVolume 1 - Sociologia - 3 SérieanacarolinaraujocostaAinda não há avaliações
- Questionario - I Processos GrupaisDocumento4 páginasQuestionario - I Processos GrupaisSISIAinda não há avaliações
- 4 Chamada Sisu 2024Documento27 páginas4 Chamada Sisu 2024Harusame YokuAinda não há avaliações
- Drielle Afonso 00610Documento272 páginasDrielle Afonso 00610RANIEREAinda não há avaliações
- Resenha LOGICA, Cauan EESDocumento4 páginasResenha LOGICA, Cauan EESCauan Elias1822Ainda não há avaliações
- Resumão Educação Formal e Não FormalDocumento35 páginasResumão Educação Formal e Não FormalCah TeixeiraAinda não há avaliações
- A Sociologia Do Direito e As Ciências SociaisDocumento13 páginasA Sociologia Do Direito e As Ciências SociaisviniciusguanambiAinda não há avaliações
- Ii Encontro Institucional Pibid/Prp - Ufcg: Centro de Formação de Professores - CFP Cajazeiras - Paraíba - BrasilDocumento7 páginasIi Encontro Institucional Pibid/Prp - Ufcg: Centro de Formação de Professores - CFP Cajazeiras - Paraíba - BrasilMaria Elizabeth da Silva VarelaAinda não há avaliações
- Questão Incorreto Atingiu 0,00 de 0,67Documento4 páginasQuestão Incorreto Atingiu 0,00 de 0,67jocielepioAinda não há avaliações
- Avaliação 1Documento6 páginasAvaliação 1Alana CentenoAinda não há avaliações
- Lista de Exercicios Sociologia Auguste Comte Revis 240303 224634Documento3 páginasLista de Exercicios Sociologia Auguste Comte Revis 240303 224634lok semideusAinda não há avaliações
- Slide PsicopedagogiaDocumento10 páginasSlide Psicopedagogiamalupatto16Ainda não há avaliações
- Avaliação Parcial - AP3.1 (Vale 40% Da Nota Final) - Revisão Da Tentativa.....Documento11 páginasAvaliação Parcial - AP3.1 (Vale 40% Da Nota Final) - Revisão Da Tentativa.....Gessica RayaneAinda não há avaliações
- Noções de Direito Tributário Municipal: um guia da teoria à práticaNo EverandNoções de Direito Tributário Municipal: um guia da teoria à práticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Finanças Organizadas, Mentes Tranquilas: A organização precede a prosperidadeNo EverandFinanças Organizadas, Mentes Tranquilas: A organização precede a prosperidadeNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (17)
- Planejamento Patrimonial e Sucessório: controvérsias e aspectos práticos: Volume IINo EverandPlanejamento Patrimonial e Sucessório: controvérsias e aspectos práticos: Volume IIAinda não há avaliações
- Guia Prático de Planejamento PatrimonialNo EverandGuia Prático de Planejamento PatrimonialAinda não há avaliações
- O CAPITAL - Karl Marx: Mercadoria, Valor e Mais valiaNo EverandO CAPITAL - Karl Marx: Mercadoria, Valor e Mais valiaNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (17)
- Os engenheiros do caos: Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleiçõesNo EverandOs engenheiros do caos: Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleiçõesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (24)
- Freud e o casamento: O sexual no trabalho de cuidadoNo EverandFreud e o casamento: O sexual no trabalho de cuidadoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Como passar concursos CEBRASPE -Raciocínio Lógico, Matemática e InformáticaNo EverandComo passar concursos CEBRASPE -Raciocínio Lógico, Matemática e InformáticaAinda não há avaliações
- Inventários E Partilhas, Arrolamentos E TestamentosNo EverandInventários E Partilhas, Arrolamentos E TestamentosAinda não há avaliações
- Manual de Gramática Aplicada ao Direito: aspectos práticos da norma culta da língua portuguesaNo EverandManual de Gramática Aplicada ao Direito: aspectos práticos da norma culta da língua portuguesaAinda não há avaliações
- Direito penal do inimigo: Aspectos jusfilosóficos e normativosNo EverandDireito penal do inimigo: Aspectos jusfilosóficos e normativosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Uma leitura negra: Interpretação bíblica como exercício de esperançaNo EverandUma leitura negra: Interpretação bíblica como exercício de esperançaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Analise Grafotécnica Para IniciantesNo EverandAnalise Grafotécnica Para IniciantesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Psicopatas homicidas: um estudo à luz do Sistema Penal BrasileiroNo EverandPsicopatas homicidas: um estudo à luz do Sistema Penal BrasileiroAinda não há avaliações
- Legislação De Segurança Do Trabalho: Textos SelecionadosNo EverandLegislação De Segurança Do Trabalho: Textos SelecionadosAinda não há avaliações
- Desvendando O Metodo De Taufic Darhal Para Mega SenaNo EverandDesvendando O Metodo De Taufic Darhal Para Mega SenaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (3)