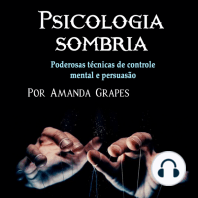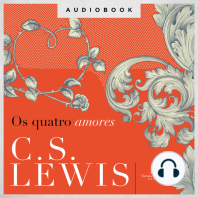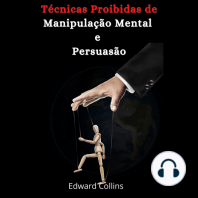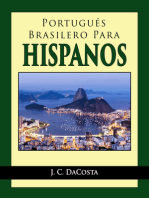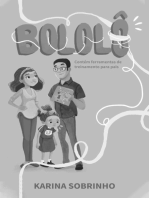Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cavell e A Filosofia Da Linguagem Ordinária
Enviado por
Luis Filipe Maciel0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
54 visualizações5 páginas1) O documento discute as objeções de Benson Mates à filosofia da linguagem ordinária e as respostas de Stanley Cavell.
2) Mates argumenta que o método é inadequado pois filósofos da linguagem ordinária discordam sobre usos ordinários.
3) Cavell rebate que o desacordo se deve a Ryle caracterizar insuficientemente situações excepcionais, não ao método.
Descrição original:
Título original
Cavell e a Filosofia da Linguagem Ordinária
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documento1) O documento discute as objeções de Benson Mates à filosofia da linguagem ordinária e as respostas de Stanley Cavell.
2) Mates argumenta que o método é inadequado pois filósofos da linguagem ordinária discordam sobre usos ordinários.
3) Cavell rebate que o desacordo se deve a Ryle caracterizar insuficientemente situações excepcionais, não ao método.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
54 visualizações5 páginasCavell e A Filosofia Da Linguagem Ordinária
Enviado por
Luis Filipe Maciel1) O documento discute as objeções de Benson Mates à filosofia da linguagem ordinária e as respostas de Stanley Cavell.
2) Mates argumenta que o método é inadequado pois filósofos da linguagem ordinária discordam sobre usos ordinários.
3) Cavell rebate que o desacordo se deve a Ryle caracterizar insuficientemente situações excepcionais, não ao método.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 5
Cavell e a Filosofia da Linguagem Ordinária
Para se entender a filosofia de Stanley Cavell é imprescindível entender a importância
da filosofia da linguagem ordinário para o seu itinerário filosófico. Neste pequeno ensaio
pretendo apresentar a resposta cavelliana frente a duas objeções do filósofo Benson Mates a
filosofia da linguagem ordinária. A primeira, diz respeito à adequação do método empregado
pelos filósofos da linguagem ordinária para resolver problemas filosóficos. A segunda, diz
respeito a natureza das implicações das declarações dos filósofos da linguagem ordinária. O
ensaio está organizado de modo a apresentar cada objeção seguida da sua respectiva resposta
cavelliana.
Primeira Objeção
O método da Filosofia da linguagem ordinária é tipicamente um procedimento que
lida com problemas filosóficos apontando para palavras que estão sendo usadas de forma não
padrão, ao mesmo tempo que restaura o emprego ordinário delas. Restaurar o emprego
ordinário das palavras nada mais é do que: primeiro, apontar para instâncias do que é
ordinariamente dito pelo o “homem comum” e, segundo, quando necessário, propor
explicações do que é implicado performaticamente pela instância do que é ordinariamente
dito (HAMMER, p 4). O “homem comum” deve ser compreendido como equivalente ao que
“nós normalmente dizemos quando”. Mates, contudo, entende que o método da filosofia da
linguagem ordinária é inadequado para tratar de questões filosóficas. Para sustentar seu ponto
ele parte do desacordo entre Ryle e Austin sobre quais situações é apropriado usar a palavra
“voluntário”. De acordo com Mates, tal desacordo é sintomático da inadequação do método
da filosofia da linguagem ordinária. No que se segue apresento o desacordo seguido da
objeção de Mates.
Para Ryle os filósofos tradicionalmente usam a palavra “voluntário” de forma
não-ordinária e, portanto, permitem que obscuridades, tais como o problema da liberdade do
querer, emerjam. Segundo Ryle, caso atentemos para o uso ordinário dessa palavra essas
obscuridades são dissolvidas. Com relação ao uso da palavra “voluntário” nós apenas a
usamos em circunstâncias excepcionais. Circunstâncias em que faz sentido culpar ou não
uma pessoa, ou seja em circunstâncias que uma ação não deve ser feita (MATES, p 162).
Nessas circunstâncias excepcionais existe a dificuldade em atribuir responsabilidade a uma
pessoa, pois essa atribuição depende de julgarmos se o seu ato foi voluntário ou involuntário.
No entanto, a generalidade dos filósofos desconsidera essas circunstâncias excepcionais e
amplia uso da palavra “voluntário” para além do uso ordinário, para cobrir, por exemplo,
ações meritórias. Ryle entende que essa ampliação é o que origina obscuridades relacionadas
ao “problema da liberdade do querer” e que podem justamente serem evitadas caso se atente
aos limites do uso ordinário de “voluntário”. Faz sentido, por exemplo, dizer de uma criança
que ela foi responsável por quebrar a janela, mas não que ela foi responsável por terminar seu
dever de casa em um ótimo tempo (MATES, p 162).
A explicação de Ryle supõe que situações excepcionais do uso da palavra
“voluntário” são constituídas apenas por ações que “não devem serem feitas”, ou seja,
situações nas quais se exige um difícil julgamento moral. Entretanto, ao que parece Austin
apresentou exemplos de situações excepcionais nas quais não se trata de ações que “não
devem serem feitas”. Nomeadamente, quando nos alistamos voluntariamente no exército ou
damos um presente voluntariamente. Nessas situações não faz sentido alegar que somos
culpados ou responsáveis pelo nossos atos. Elas não exigem um julgamento moral. Portanto,
nem sempre é o caso que empregamos a palavra “voluntário” em situações excepcionais que
exigem um julgamento moral.
Se o método da filosofia da linguagem ordinária é um método adequado, então deve
haver acordo sobre quais usos são instâncias do que é ordinariamente dito pelo “homem
comum”. No entanto, o que se percebe é que ambos filósofos que apelam para o que é
ordinariamente dito discordam justamente sobre quais instâncias são ordinárias. Tanto Ryle
quanto Austin supõem enunciar verdades acerca do uso ordinário da expressão “voluntário”.
Portanto, o método da filosofia da linguagem ordinária não é um método adequado. De
acordo com Mates, o que explica o desacordo é a seguinte suposição: Ambos filósofos da
linguagem ordinária supõem que o “homem comum” coletou uma quantidade suficiente de
informações sobre o uso ordinário das expressões em jogo e, portanto, pode confiar na sua
intuição e memória para citar instâncias do que é ordinariamente dito (MATES, p 165).
Porém, a própria suposição de que o homem médio está de posse de uma quantidade de
informação suficiente acerca do uso de uma determinada expressão é uma hipótese empírica
e não pode ser assumida aprioristicamente pelos filósofos da linguagem ordinária. Ainda que
se assuma essa hipótese pelo menos duas objeções podem serem feitas. Primeiro, não é
manifestamente claro que os indivíduos são enunciadores confiáveis daquilo que eles
consideram que é o uso corrente de uma determinada expressão. Segundo, o próprio
desacordo entre experts, tais como Austin e Ryle, já é uma amostra (ainda que pequena) do
amplo desacordo que pode existir na linguagem ordinária. Portanto, o procedimento de apelar
para o que é ordinariamente dito não é adequado. Para saber o que o “homem comum” diz é
necessário, antes, recorrer a procedimentos estatísticos (MATES, p 165).
A resposta cavelliana para as objeções envolve, primeiro, mostrar que a explicação
para o desacordo, proposta por Mates, entre Ryle e Austin é falsa. Segundo, envolve
apresentar uma outra explicação para o desacordo que não implica na inadequação do método
da filosofia da linguagem ordinária. Cavell rejeita a suposta pressuposição que Mates atribui
aos filósofos da linguagem ordinária. Para mostrar a falsidade da explicação de Mates do
desacordo, Cavell oferece pelo menos três objeções. Primeiro, o método da filosofia da
linguagem ordinária não depende da suposição de que o “homem comum” precisa já estar de
posse de uma “quantidade suficiente de informação” para fazer declarações do que
normalmente é dito. Depende, apenas, que o “homem comum” seja um falante competente da
sua língua. Quando um estrangeiro nos pede para explicar uma determinada expressão, ele
não supõem que sejamos linguistas ou gramáticos. Ele supõe (o que soa uma trivialidade) que
sejamos capazes de falar bem a nossa língua e, portanto, saibamos apontar o uso correto da
expressão. Saber se temos “uma grande quantidade de informação sobre nossa língua é
irrelevante” para os procedimentos da filosofia da linguagem ordinária. Segundo, na
realidade se as intuições do “homem comum” não são suficientes para determinar o uso
correto de uma determinada expressão, então torna-se impossível a própria construção de
uma gramática. Mesmo que se recorra a procedimentos estatísticos, o linguista descritivo que
empreende uma pesquisa empírica está fadado a confiar nas intuições do falante nativo.
Terceiro, o homem comum não confia na sua memória. Ele pode até esquecer e lembrar
algumas expressões, mas ele não esquece ou relembra a sua língua (HAMMER, p 5). Para se
falar uma língua não é necessário estar de posse de uma grande quantidade de informação
empírica, se requer apenas que seja verdade a proposição de que a linguagem natural é que
os falantes nativos desta linguagem falam (MWM, p 5).
É ponto pacífico entre Ryle e Austin que a questão sobre a “voluntariedade da ação”
só pode emergir em situações excepcionais. A falha de Ryle, segundo Cavell, reside em
caracterizar insuficientemente essas situações excepcionais. Ryle não percebe a existências de
uma ampla gama de “situações excepcionais” que não dizem respeito a “ações que não
devem serem feitas”. Se meu vizinho dá de presente um carro para seu filho de três anos, é
plausível que nos perguntemos, dada a estranheza da ação, se ele está fazendo isso
voluntariamente. Embora, Ryle, ao discordar dos filósofos acerca de quais ações são
voluntárias, corretamente aponte que o termo “voluntário” está sendo usado para além do seu
uso ordinário, ele é incapaz de especificar com precisão em quais circunstâncias a questão da
inteligibilidade do uso do termo emerge. Portanto, os contra-exemplos de Austin não revelam
um sintoma da inadequação do método da filosofia da linguagem ordinária, mas revelam
justamente essa insuficiência rylena em perceber a variedade de circunstâncias em que é
inteligível levantar a questão da voluntariedade. Tendo em vista que parte do esforço dos
filósofos quando se valem dos procedimentos da filosofia da linguagem ordinária é chamar a
atenção para aspectos negligenciados do uso das palavras (HAMMER, p 6), nada impediria
Ryle de reconhecer a insuficiência do seu tratamento e, portanto, conceder o ponto ao Austin.
Segunda Objeção
Existe na filosofia um par de distinções que supostamente ajuda a elucidar certos
tipos de proferimentos. Ele é conhecido como semântica e pragmática. A grosso modo a
semântica é o que é propriamente dito o “significado” de um termo, enquanto que a
pragmática diz respeito ao contexto do proferimento. Mates vale-se da distinção para
defender que ao proferir declarações tais como “ele não diria isso… a menos que implicasse
isso…” ou “nós dizemos isso… quando queremos implicar isso…” os filósofos da linguagem
ordinária não estariam explicando o uso da expressão. Salientar o que é “implicado” não é a
forma correta de explicar o significado ordinário de um termo (MULHALL,p xx). É verdade
que nós damos um presente voluntariamente apenas em situações excepcionais, mas isso
revela apenas um fato contingente acerca do uso dessa expressão. Não diz nada acerca do seu
significado. A relação entre a expressão e o contexto de proferimento não é lógica. Não é
possível derivar essa “implicação” da expressão, nem indutivamente, nem dedutivamente
(MULHALL, p xx). Dado que não se trata de uma relação lógica, segue-se que é uma
relação convencional que refere-se apenas a pragmática. Consequentemente, não pertence ao
significado ordinário da expressão.
A resposta cavelliana consistem em primeiro fazer notar que a explicação do Mates
não faz justiça a “necessidade” que é revelada pelas declarações do tipo que são feitas pelos
filósofos da linguagem ordinária. Simplesmente apelar para distinção semântica e pragmática
não explica o tipo de relação existente entre a expressão e o contexto de proferimento. Se
minha prima me pergunta se me vesti voluntariamente, certamente não vou interpretá-la
como querendo saber algo acerca dos meus processos psicológicos, mas como sugerindo
(ironicamente) que me vesti de forma peculiar. Isso não significa que “peculiar” faça parte do
significado de “voluntário”, mas “peculiar” nessa circunstância é uma condição de
inteligibilidade linguística do seu proferimento (HAMMER, p 8). Caso eu sistematicamente
desconsidere as implicações de questionamentos como esse que minha prima fez, isso não
faria ela revisar suas intuições linguísticas. Pelo contrário, revelaria, primeiro, uma
deficiência no meu aprendizado linguístico, pois aprender as “implicações do que nós
devemos dizer quando” também faz parte do aprendizado da linguagem (MWM, p 11-12).
Segundo, revelaria minha inabilidade em arcar com a responsabilidade das implicações dos
meus proferimentos e dos outros (HAMMER, p 8).
Referências:
Must We Mean What We Say - Stanley Cavell.
On The Verification of Statements About Ordinary Language - Benson Mates.
Introduction to the French edition of Must We Mean What We Say? - Sandra Laugier.
Skepticism, Subjectivity, and the Ordinary - Esper Hammer.
Philosophy’s Recouting of Ordinary - Stephen Mulhall.
Você também pode gostar
- Arquiteturas Conceituais: Estudos FilosóficosNo EverandArquiteturas Conceituais: Estudos FilosóficosAinda não há avaliações
- EL2 Texto PRAGM 2Documento13 páginasEL2 Texto PRAGM 2gabrielaAinda não há avaliações
- Filosofia Analitica - IPBDocumento8 páginasFilosofia Analitica - IPBMarcus Vinicios Pantoja da SilvaAinda não há avaliações
- "Referência e Descrições Definidas" de Keith DonnellanDocumento19 páginas"Referência e Descrições Definidas" de Keith DonnellanMarcos BarretoAinda não há avaliações
- Possenti 1996Documento13 páginasPossenti 1996NathanBastosAinda não há avaliações
- Desenvolvimentos RecentesDocumento15 páginasDesenvolvimentos RecentesBrian AugustoAinda não há avaliações
- Putnam O Significado de SignificadoDocumento44 páginasPutnam O Significado de SignificadoFelipe Santos AlmeidaAinda não há avaliações
- Atos Performativos ConstantivosDocumento19 páginasAtos Performativos ConstantivosjanaoseiAinda não há avaliações
- Atos de Fala Nas Tiras de MafaldaDocumento9 páginasAtos de Fala Nas Tiras de MafaldaIvania GadelhaAinda não há avaliações
- Alteridade Radical É Só Outra Forma de Dizer "Realidade". Resposta de David Graeber A Viveiros de CastroDocumento19 páginasAlteridade Radical É Só Outra Forma de Dizer "Realidade". Resposta de David Graeber A Viveiros de Castronelsonmugabe89Ainda não há avaliações
- A Aplicabilidade Das Máximas Conversacionais Nas Perguntas CotidianasDocumento211 páginasA Aplicabilidade Das Máximas Conversacionais Nas Perguntas CotidianasMoniqueAinda não há avaliações
- O Que e Lo GicaDocumento12 páginasO Que e Lo GicaLuiz ArturAinda não há avaliações
- FALÁCIASDocumento38 páginasFALÁCIASLuke StoneAinda não há avaliações
- Falácias E Teoria Da ArgumentaçãoDocumento17 páginasFalácias E Teoria Da ArgumentaçãofredsvAinda não há avaliações
- Hermenêutica Jurídica e Concepções de LinguagemDocumento4 páginasHermenêutica Jurídica e Concepções de LinguagemFeliph Sena SantosAinda não há avaliações
- RASO Capítulo 8Documento43 páginasRASO Capítulo 8Cris Faria100% (1)
- BaixadosDocumento17 páginasBaixadosJéssica GomesAinda não há avaliações
- Texto ImperativoDocumento7 páginasTexto ImperativoFernanda VieiraAinda não há avaliações
- Austin 07Documento2 páginasAustin 07Daiana AmorimAinda não há avaliações
- GRICE - Máximas ConversacionaisDocumento23 páginasGRICE - Máximas ConversacionaisBrunaThalenberg100% (1)
- O Estatuto Lógico Do Discurso FiccionalDocumento14 páginasO Estatuto Lógico Do Discurso FiccionalulyssespoaAinda não há avaliações
- Putnam O Significado de SignificadoDocumento47 páginasPutnam O Significado de SignificadoSimone StierAinda não há avaliações
- Atividade Filosofia AnalíticaDocumento3 páginasAtividade Filosofia AnalíticaMaxsuel FreitasAinda não há avaliações
- Metáfora Do Tubo (Reddy)Documento22 páginasMetáfora Do Tubo (Reddy)Cristiano PratesAinda não há avaliações
- Teoria Dos Atos de FalaDocumento18 páginasTeoria Dos Atos de FalaPatrícia BordeAinda não há avaliações
- Skinner, B.F.-análiseOperacional de Termos PsicológicosDocumento13 páginasSkinner, B.F.-análiseOperacional de Termos PsicológicosDaniel Sá RorizAinda não há avaliações
- A Semântica e o Corte SaussurianoDocumento21 páginasA Semântica e o Corte SaussurianoRodrigo Sousa FialhoAinda não há avaliações
- Skinner (1945) - A Análise Operacional de Termos PsicológicosDocumento13 páginasSkinner (1945) - A Análise Operacional de Termos Psicológicosmayyraaa fernandaAinda não há avaliações
- Sobre o Conceito de Imanência em HjelmslevDocumento9 páginasSobre o Conceito de Imanência em HjelmslevGabrielAinda não há avaliações
- Ae LógicaDocumento43 páginasAe Lógicammj1962Ainda não há avaliações
- 8 Teorias Linguisticas ContemporaneasDocumento54 páginas8 Teorias Linguisticas ContemporaneasNádia NelzizaAinda não há avaliações
- Retórica e VirossimilhançaDocumento20 páginasRetórica e VirossimilhançaWilson MoisésAinda não há avaliações
- Teorias de Verdade Brevíssima IntroduçãoDocumento11 páginasTeorias de Verdade Brevíssima Introduçãobordonal100% (1)
- Apostila 2º Ano RedaçãoDocumento23 páginasApostila 2º Ano RedaçãoPedro henriqueAinda não há avaliações
- WITTGEINSTEIN. Contra o Enfeitiçamento Da LinguagemDocumento9 páginasWITTGEINSTEIN. Contra o Enfeitiçamento Da LinguagemFernanda CarolinaAinda não há avaliações
- Elementos para Uma Análise Do Discurso PolíticoDocumento32 páginasElementos para Uma Análise Do Discurso PolíticoMaria Danielly ChavesAinda não há avaliações
- Carnap, A Superação Da Metafísica Pela Análise Lógica Da LinguagemDocumento10 páginasCarnap, A Superação Da Metafísica Pela Análise Lógica Da LinguagemRogério P. SeveroAinda não há avaliações
- A Refutação Do Solipsismo e A Noção de Critério em WittgensteinDocumento19 páginasA Refutação Do Solipsismo e A Noção de Critério em WittgensteinRan OmeleteAinda não há avaliações
- A Lógica Dos Valores Segundo Perelman e Sua Contribuição À Análise Do DiscursoDocumento16 páginasA Lógica Dos Valores Segundo Perelman e Sua Contribuição À Análise Do Discursoprofessorwagner2011Ainda não há avaliações
- Austin e Habermas - A Ling Como Meio de Interação SocialDocumento9 páginasAustin e Habermas - A Ling Como Meio de Interação SocialWillian PassosAinda não há avaliações
- A Pragmática Normativa de Robert BrandomDocumento21 páginasA Pragmática Normativa de Robert BrandomAlexsandraAinda não há avaliações
- Narrar É Contar Uma HistóriaDocumento5 páginasNarrar É Contar Uma HistóriaMayara NespoliAinda não há avaliações
- Teorias Linguisticas II 1360074342 UnlockedDocumento54 páginasTeorias Linguisticas II 1360074342 UnlockedThais FernandaAinda não há avaliações
- Analise Discurso Argumentativo 2011Documento21 páginasAnalise Discurso Argumentativo 2011herlaneAinda não há avaliações
- Carnap - Eliminação Da MetafísicaDocumento17 páginasCarnap - Eliminação Da MetafísicaSam OliveiraAinda não há avaliações
- O "Eu", o "Outro" e o Espelho de LacanDocumento5 páginasO "Eu", o "Outro" e o Espelho de LacanHaataelAinda não há avaliações
- Aula 1 - Questões-Chave Sobre EnunciaçãoDocumento16 páginasAula 1 - Questões-Chave Sobre EnunciaçãoClaudiene DinizAinda não há avaliações
- 52 - Ryle, Austin, Quine, Strawson - 1 Ed - RB-compactadoDocumento352 páginas52 - Ryle, Austin, Quine, Strawson - 1 Ed - RB-compactadoGuilherme da Costa Coutinho MagalhãesAinda não há avaliações
- 02 - Paradoxos - Considerações IniciaisDocumento16 páginas02 - Paradoxos - Considerações Iniciaisjuliana petronzioAinda não há avaliações
- RAJAGOPALAN, K. (2000) - Sobre o Porquê PDFDocumento8 páginasRAJAGOPALAN, K. (2000) - Sobre o Porquê PDFDaniel CisneirosAinda não há avaliações
- Formalismo, Funcionalismo e SociolinguísticaDocumento20 páginasFormalismo, Funcionalismo e SociolinguísticaDeis SilvaAinda não há avaliações
- Carnap, Rudolf - Superação Da Metafísica Pela Análise Lógica Da LinguagemDocumento21 páginasCarnap, Rudolf - Superação Da Metafísica Pela Análise Lógica Da LinguagemAntonio ISAinda não há avaliações
- Bersntein, R. - Experiência Após A Virada LinguísticaDocumento31 páginasBersntein, R. - Experiência Após A Virada LinguísticaJoseph JRAinda não há avaliações
- Ficha de Trabalho-CorrecaoDocumento7 páginasFicha de Trabalho-Correcaojfjsc.a6Ainda não há avaliações
- Três Tipos de Ambiguidade LinguísticaDocumento18 páginasTrês Tipos de Ambiguidade LinguísticaRan OmeleteAinda não há avaliações
- Martin Holbraad - Estimando A NecessidadeDocumento39 páginasMartin Holbraad - Estimando A NecessidadeGabriella SouzaAinda não há avaliações
- Alteridade RadicalDocumento19 páginasAlteridade RadicalAllisson VieiraAinda não há avaliações
- Semântica ArtigoDocumento14 páginasSemântica ArtigoDeyvillaAinda não há avaliações
- PROJETO DE ENCENAÇÃO MapacriaçãoDocumento1 páginaPROJETO DE ENCENAÇÃO MapacriaçãoLuis Filipe MacielAinda não há avaliações
- Organograma Teorias II de Leituras 2023-2Documento2 páginasOrganograma Teorias II de Leituras 2023-2Luis Filipe MacielAinda não há avaliações
- TCE-EO - ENO-UFRGS-para-preenchimento Corrigido Veio Por EmailDocumento7 páginasTCE-EO - ENO-UFRGS-para-preenchimento Corrigido Veio Por EmailAugusto BandeirAinda não há avaliações
- RiccoboniDocumento1 páginaRiccoboniNelly CoelhoAinda não há avaliações
- ENF03061Documento1 páginaENF03061Luis Filipe MacielAinda não há avaliações
- TCE-EO - ENO-UFRGS-para-preenchimento Corrigido Veio Por EmailDocumento7 páginasTCE-EO - ENO-UFRGS-para-preenchimento Corrigido Veio Por EmailAugusto BandeirAinda não há avaliações
- O Inferno É HippieDocumento5 páginasO Inferno É HippieLuis Filipe MacielAinda não há avaliações
- Flores No Abismo-Experimento StrindbergDocumento11 páginasFlores No Abismo-Experimento StrindbergLuis Filipe MacielAinda não há avaliações
- DentroDocumento6 páginasDentroLuis Filipe MacielAinda não há avaliações
- Resenha I - Pagador de PromessasDocumento2 páginasResenha I - Pagador de PromessasLuis Filipe MacielAinda não há avaliações
- Roteiro1 07 - 07 - 2020Documento2 páginasRoteiro1 07 - 07 - 2020Luis Filipe MacielAinda não há avaliações
- Resenha 2 - Eles Não Usam Black-TieDocumento2 páginasResenha 2 - Eles Não Usam Black-TieLuis Filipe MacielAinda não há avaliações
- Moralismo e Nelson RodriguesDocumento3 páginasMoralismo e Nelson RodriguesLuis Filipe MacielAinda não há avaliações
- Prova 1 - Teatro Medieva, Rei Lear e Romeu e JulietaDocumento4 páginasProva 1 - Teatro Medieva, Rei Lear e Romeu e JulietaLuis Filipe MacielAinda não há avaliações
- 4 A Importância Da Comunicação Da Missão Visão e Valores para Os EmpregadosDocumento4 páginas4 A Importância Da Comunicação Da Missão Visão e Valores para Os EmpregadosShirley MartinsAinda não há avaliações
- ÉticaDocumento3 páginasÉticaCláudio MaffeiAinda não há avaliações
- Guia Pratico Modulo IntermediarioDocumento409 páginasGuia Pratico Modulo IntermediarioGerman Gervas Diez Gervas DiezAinda não há avaliações
- As Luvas Brancas Na MaçonariaDocumento4 páginasAs Luvas Brancas Na MaçonariaBeto MachadoAinda não há avaliações
- 482 A Arquitetura Como Uma Manifestacao SensorialDocumento25 páginas482 A Arquitetura Como Uma Manifestacao SensorialANDREZAAinda não há avaliações
- Ética, Dever, Liberdade e JustiçaDocumento4 páginasÉtica, Dever, Liberdade e JustiçaRogério AndradeAinda não há avaliações
- 10 - Vencendo A TimidezDocumento3 páginas10 - Vencendo A TimidezNildo MoutaAinda não há avaliações
- Promessa em Azul e BrancoDocumento5 páginasPromessa em Azul e BrancoGercilene Santos100% (1)
- CONCEITOS BÁSICOS LACAN (Salvo Automaticamente)Documento27 páginasCONCEITOS BÁSICOS LACAN (Salvo Automaticamente)Isabella100% (1)
- O Fantastico Sr. RaposoDocumento6 páginasO Fantastico Sr. Raposolud_matoss100% (1)
- (D&D 3.5) Grand History of The RealmsDocumento1 página(D&D 3.5) Grand History of The RealmsBruno ScotelaroAinda não há avaliações
- Semanario Humanas 4S 3anoDocumento12 páginasSemanario Humanas 4S 3anoGrassAinda não há avaliações
- Cap 05Documento16 páginasCap 05hgvassolerAinda não há avaliações
- Monitoria de Sociologia Aula 2 - Auguste Comte e o Positivismo - Lista de ExercíciosDocumento4 páginasMonitoria de Sociologia Aula 2 - Auguste Comte e o Positivismo - Lista de ExercíciosSocorro WanderleyAinda não há avaliações
- Atividade Filosfia MarceloDocumento6 páginasAtividade Filosfia MarceloMarcelo SampaioAinda não há avaliações
- Sinonimia ParafraseDocumento20 páginasSinonimia ParafraselopanrsAinda não há avaliações
- 2023 - Dissertação - Amadeu Alakra NetoDocumento138 páginas2023 - Dissertação - Amadeu Alakra NetotormentaguildaAinda não há avaliações
- Argumentacao Logica FormalDocumento83 páginasArgumentacao Logica FormalcatarinaAinda não há avaliações
- Teste VecaDocumento22 páginasTeste VecaVivianAlfradique80% (10)
- Curso 183035 Aula 01 Somente em PDF b1d3 CompletoDocumento144 páginasCurso 183035 Aula 01 Somente em PDF b1d3 CompletoAluno envioAinda não há avaliações
- Questionário EysenckDocumento4 páginasQuestionário EysenckStefany de Jesus Alves0% (1)
- Texto 1 - RAJAGOPALAN, Kanavillil. Apresentação. Cadernos de Estudos Linguísticos, Campinas, 30, Jan Jun, 1996Documento11 páginasTexto 1 - RAJAGOPALAN, Kanavillil. Apresentação. Cadernos de Estudos Linguísticos, Campinas, 30, Jan Jun, 1996Felipe Renam Camargo MelloAinda não há avaliações
- Blavatsky, H. P. - Comentários Sobre A Doutrina SecretaDocumento90 páginasBlavatsky, H. P. - Comentários Sobre A Doutrina SecretaLázaro Omena100% (2)
- Livro o Comportamento Humano Dentro DasDocumento195 páginasLivro o Comportamento Humano Dentro DasVitor MartinsAinda não há avaliações
- Resenha Boas Formacao Antropologia AmericanaDocumento7 páginasResenha Boas Formacao Antropologia AmericanaEvander Eloí KroneAinda não há avaliações
- David Hume, PopperDocumento11 páginasDavid Hume, PopperBárbara DuarteAinda não há avaliações
- LinksmobiDocumento452 páginasLinksmobiandersonwcAinda não há avaliações
- (Annablume Classica) Verity Harte - Parte e Todo em Platao. A Metafisica Da Estrutura PDFDocumento478 páginas(Annablume Classica) Verity Harte - Parte e Todo em Platao. A Metafisica Da Estrutura PDFHenrique GuimarãesAinda não há avaliações
- Atividades Sobre Ética e MoralDocumento7 páginasAtividades Sobre Ética e MoralAlynne SoutoAinda não há avaliações
- UFCD 6456 Ficha 3 NovaDocumento6 páginasUFCD 6456 Ficha 3 Novaana silva67% (3)
- Focar: Supere a procrastinação e aumente a força de vontade e a atençãoNo EverandFocar: Supere a procrastinação e aumente a força de vontade e a atençãoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (53)
- Os Códigos do Mindset da Prosperidade: destrave os bloqueios em sua mente e cresça em todos os aspectos de sua vidaNo EverandOs Códigos do Mindset da Prosperidade: destrave os bloqueios em sua mente e cresça em todos os aspectos de sua vidaAinda não há avaliações
- Psicologia sombria: Poderosas técnicas de controle mental e persuasãoNo EverandPsicologia sombria: Poderosas técnicas de controle mental e persuasãoNota: 4 de 5 estrelas4/5 (92)
- 35 Técnicas e Curiosidades Mentais: Porque a mente também deve evoluirNo Everand35 Técnicas e Curiosidades Mentais: Porque a mente também deve evoluirNota: 5 de 5 estrelas5/5 (3)
- Técnicas Proibidas de Manipulação Mental e PersuasãoNo EverandTécnicas Proibidas de Manipulação Mental e PersuasãoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (3)
- Treinamento cerebral: Compreendendo inteligência emocional, atenção e muito maisNo EverandTreinamento cerebral: Compreendendo inteligência emocional, atenção e muito maisNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (169)
- O fim da ansiedade: O segredo bíblico para livrar-se das preocupaçõesNo EverandO fim da ansiedade: O segredo bíblico para livrar-se das preocupaçõesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (16)
- E-TRAP: entrevista diagnóstica para transtornos de personalidadeNo EverandE-TRAP: entrevista diagnóstica para transtornos de personalidadeNota: 5 de 5 estrelas5/5 (3)
- Diálogo entre Terapia do Esquema e Terapia Focada na Compaixão: Contribuição à integração em Psicoterapias Cognitivo-ComportamentaisNo EverandDiálogo entre Terapia do Esquema e Terapia Focada na Compaixão: Contribuição à integração em Psicoterapias Cognitivo-ComportamentaisNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Técnicas De Terapia Cognitivo-comportamental (tcc)No EverandTécnicas De Terapia Cognitivo-comportamental (tcc)Ainda não há avaliações
- Simplificando o Autismo: Para pais, familiares e profissionaisNo EverandSimplificando o Autismo: Para pais, familiares e profissionaisAinda não há avaliações
- Como aprender mais rápido: Métodos e dicas para se tornar mais inteligenteNo EverandComo aprender mais rápido: Métodos e dicas para se tornar mais inteligenteNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (8)
- A fé na era do ceticismo: Como a razão explica DeusNo EverandA fé na era do ceticismo: Como a razão explica DeusNota: 5 de 5 estrelas5/5 (9)
- Bololô: contém ferramentas de treinamento para pais e filhosNo EverandBololô: contém ferramentas de treinamento para pais e filhosAinda não há avaliações
- Focar: Elimine distrações, perfeccionismo e faça maisNo EverandFocar: Elimine distrações, perfeccionismo e faça maisNota: 5 de 5 estrelas5/5 (21)
- 15 Incríveis Truques Mentais: Facilite sua vida mudando sua menteNo Everand15 Incríveis Truques Mentais: Facilite sua vida mudando sua menteNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (15)