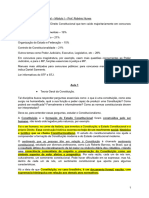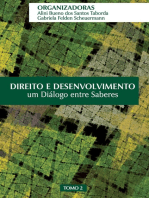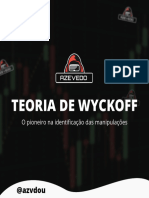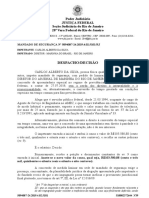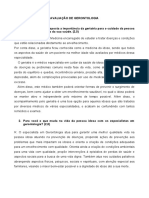Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
115 224 1 SM
Enviado por
IGOR ANDERSON LUZ CASTRODescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
115 224 1 SM
Enviado por
IGOR ANDERSON LUZ CASTRODireitos autorais:
Formatos disponíveis
O SIGNIFICADO E AS FUNÇÕES DA CONSTITUIÇÃO NA ERA
GLOBALIZADA: POR UMA ÉTICA CONSTITUCIONAL
REPUBLICANA
THE MEANING OF CONTITUTION ON GLOBAL ERA: A CONSTITUTIONAL REPUBLICAN ETICHS
JOSÉ CLÁUDIO PAVÃO SANTANA*
Resumo: A importância da Constituição como Norma Fundamental do Estado de Direito é observada em
face da globalização. Sua importância, sua concretização e a busca de uma ética na sua aplicação que
observe os preceitos fundamentais do Estado Republicano. A contraposição da força normativa interna
e da conjuntura internacional propiciam a discussão acerca do real sentido da Constituição, permitindo
perquirir sobre sua sobrevivência ou extinção diante dessa irreversível realidade política.
Palavras-chave: Constituição, globalização, concretização normativa, ética constitucional, República.
Abstract: The meaning of the Constitutional law in the State of Rights is examined in front of the
globalization fenomenom. It’s meaning to the concretization of the norms, the fundamental principles,
the internal power of law versus global reality are subjects of this work.
Key words: Constitution, globalization fenomenon, the normative practices, Republican Constitutional
Ethics.
Introdução
O presente trabalho tem a pretensão de oferecer singela contribuição ao estudo do
Direito Constitucional em torno do tema eleito, distanciando-se de qualquer propósito
exauriente.
Busca-se discutir o papel da Constituição diante da realidade mundial globalizada, dentre
cujas características marcantes está tornar as fronteiras muito mais virtuais do que físicas,
refletindo, sobremodo, a força do capital como fator de produção, instrumento político que
impõe conflitos jurídicos quase intermináveis, mercê da necessidade de flexibilização de normas
e direitos constitucionalmente assegurados. Indagar acerca do papel da Constituição, seus
postulados informadores do regime político adotado, sua concretização pelos instrumentos
normativos necessários que lhe dão formulação ética conjugados com a realidade mundial é o
caminho eleito.
*
Doutorando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mestre em Direito pela Faculdade de
Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Adjunto IV de Direito Constitucional da
Universidade Federal do Maranhão. Membro Efetivo da Academia Maranhense de Letras Jurídicas. Colaborador de
diversos jornais do Maranhão.
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 8 – jul./dez. 2006 283
O SIGNIFICADO E AS FUNÇÕES DA CONSTITUIÇÃO NA ERA GLOBALIZADA:
POR UMA ÉTICA CONSTITUCIONAL REPUBLICANA
JOSÉ CLÁUDIO PAVÃO SANTANA
A proposição temática sugerida pelo gentil convite da RBDC é das mais arrojadas,
considerando o momento que vivemos, particularmente no Brasil.
Falar-se sobre o futuro é temerário, porque o fato político não se submete a esquemas
rígidos que não possam ser desmentidos pelos homens. Mas é necessário considerar-se que é no
plano teórico onde se constroem as idéias, procurando estabelecer uma base discursiva sobre o
assunto.
Não lhes trago previsões, pois não sou mago; nem sou apologético do caos e da incerteza,
mas minha tarefa de professor exige-me um compromisso com a liberdade de manifestação e a
crença de que a educação é a única alternativa de desenvolvimento. Por isso, tenho o
compromisso de dizer o que penso sobre o assunto, desvinculado de laços que sirvam de
bálsamo a narcisistas e convenientes.
Dizer da sobrevivência da Constituição no futuro, sem compreender-lhe a essência, é tê-la
como uma norma a mais no ordenamento, que pode ser objurgada pela deformidade resultante
do excesso ou da longevidade do poder, fenômeno muito comum nos feudos ainda existentes e
reticentes pelo Brasil afora.
Não se pode compreender o que seja uma Constituição sem apreende-lhe o significado,
sem possuir a vivência, aquilo “o que temos realmente em nosso ser psíquico, o que real e
verdadeiramente estamos sentindo, tendo, na plenitude da palavra ‘ter’” (MORENTE, 1980, p.
24/25).
Há uma diferença significativa (demonstra o autor) entre o conceito, a idéia (por mais
elaborados e minuciosos que possam ser) e a posição do sujeito cognoscente frente ao objeto do
conhecimento; é como conhecer Paris, pelos livros, com riqueza de fotografias e cores, e ter
estado apenas vinte minutos naquela cidade. Assim é a Constituição.
A apreensão do seu significado, de sua importância, é que dará ao operador do Direito
(por dever) e ao homem comum (por intuição) a dimensão de que se trata de base institucional e
orgânica do Estado, embora para este último isto não se apresente na maioria das vezes.
E se o operador do Direito não possuir o discernimento necessário para compreender que
sua autoridade deriva dessa norma (a Constituição), não terá percebido que seu abuso viola o
próprio fundamento de poder, na parcela que possui.
O insigne Professor Miguel Reale, aliás, chega a ser enfático ao enfrentar o que denomina
de “Necessidade de uma Consciência Constitucional”, confessando que o que mais o
284 Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 8 – jul./dez. 2006
O SIGNIFICADO E AS FUNÇÕES DA CONSTITUIÇÃO NA ERA GLOBALIZADA:
POR UMA ÉTICA CONSTITUCIONAL REPUBLICANA
JOSÉ CLÁUDIO PAVÃO SANTANA
...impressiona nas divergências sobre o papel do Estado em nossa economia
é a absoluta falta de consciência constitucional. Esse é um dos piores males
que afligem o País, estendendo-se até aos mais altos postos de governo,
sem exclusão do Judiciário, pois magistrados há que continuam a sentenciar
segundo o espírito e os parâmetros da tão malfadada Carta do regime
tecnocrático-militar, acolhendo decisões burocráticas que consubstanciam
inadmissível abuso de poder (REALE. 1999, p. 47).
Por isso, pretendo iniciar o enfrentamento do tema sob o enfoque do que chamo de
“instrumento de conquista do Estado de Direito.
É o que passo a fazer, dando-lhe o contorno de brevidade necessária.
1. A constituição como instrumento de conquista do Estado de Direito
De certo que entre o absolutismo monárquico e o denominado Estado Constitucional está
visivelmente configurado o Estado Legal, porquanto nele funda-se todo o arcabouço legislativo
que retirou do homem enquanto indivíduo e transferiu à lei o papel orgânico da sociedade. A
despeito disso, nunca é demais lembrar que o Estado Constitucional configura-se como marco da
nossa abordagem.
A passagem do absolutismo monárquico para o Estado Constitucional pode ser
comparada, guardando-se as devidas proporções, à passagem da barbárie à civilização.
Aos céticos, contudo, o fato histórico representou apenas a passagem do estádio de
“opressão por revelação” para a “opressão legislada”, ou seja, da determinação divina à
determinação humana.
Fato, entretanto, é que a formação do constitucionalismo é doutrinariamente apontada
como o conjunto de idéias iluministas que se consolidaram ao final do Século XVIII e que
encerravam a necessidade de fundamentar racionalmente o poder.
Sob essa perspectiva, o Estado Constitucional nasce como sinônimo de Estado de Direito
(precedido pelo Estado Legal), manifesto por um documento consolidando regras orgânicas, com
a instituição de limites do poder, previsão de direitos, em homenagem ao homem.
Na sua origem há, sobremodo, um ideário contratualista, firmado no convencimento de
que a convergência dá-se pelo pacto social, derivado do senso comum de que os homens são
naturalmente bons, altruísmo mais tarde infirmado pelos fatos históricos decorrentes.
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 8 – jul./dez. 2006 285
O SIGNIFICADO E AS FUNÇÕES DA CONSTITUIÇÃO NA ERA GLOBALIZADA:
POR UMA ÉTICA CONSTITUCIONAL REPUBLICANA
JOSÉ CLÁUDIO PAVÃO SANTANA
Elaborou-se, assim, a noção de que todo Estado que possuísse Constituição seria um
Estado de Direito, porque dispunha de norma originária decorrente de uma fonte racional.
Não nos é dado ignorar que essa concepção (hoje tida como insuficiente) representou,
como representa, notável avanço no estudo do Estado de Direito, sem que se possa censurar
esse entendimento inicial, com critérios e elementos informativos que a ciência contemporânea
nos veio a fornecer posteriormente.
Mas como seria natural, a discussão envolvendo a fonte do poder logo ganharia reforço,
alimentada pelo embate entre Direito e Justiça, respectivamente representados por legalidade e
legitimidade, enfrentamento que sobreviveu aos tempos e sempre se fará presente enquanto a
categoria PODER estiver em discussão.
Exatamente desse confronto é que, mais tarde, surgiriam (ou pelo menos teriam tido
avanço) as formações ideológicas mais discutidas na história da humanidade, polarizadas em
comunismo e capitalismo.
Liberdade e igualdade, dissociados de fraternidade, então, transpuseram o ideário
revolucionário burguês, fundando uma nova concepção de estado, cada qual ao seu paladar
político.
Enquanto, sob um prisma, o homem não nascera para ser oprimido pelo Estado, tendo
sua liberdade e autodeterminação como fatores de felicidade, sob outro prisma a igualdade seria
inerente à própria natureza humana, não podendo ser subjugada ao sistema econômico
selvagem que despersonaliza o homem, tornando-o mais um elemento gráfico da expressão
aritmética.
Se por um lado a concepção de Estado de Direito rompe com a concentração do poder,
através da separação dos Poderes e a subsunção de homens e governo ao instrumento
legislativo, por outro, não impediu que sob o manto da legalidade se construíssem sistemas
políticos que banalizavam a própria integridade humana, verdadeiros instrumentos de força
fantasiados de Estado de Direito.
Impunha-se, assim, uma nova concepção do Estado de Direito, sob uma nova ótica, capaz
de transpor o formalismo orgânico.
O Estado de Direito passa a merecer um novo enfoque, recebendo o adjetivo
DEMOCRÁTICO, já a partir do seu próprio conceito, mas dando-se ênfase material à proposição.
A própria Constituição Federal em vigor no Brasil assim denomina a República Federativa.
286 Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 8 – jul./dez. 2006
O SIGNIFICADO E AS FUNÇÕES DA CONSTITUIÇÃO NA ERA GLOBALIZADA:
POR UMA ÉTICA CONSTITUCIONAL REPUBLICANA
JOSÉ CLÁUDIO PAVÃO SANTANA
Mas, não seria um contra-senso falar-se de um Estado de Direito (portanto,
constitucional) e rotulá-lo de democrático?
Esta indagação, pelo menos no que se refere à Constituição do Brasil, encontra no
Professor Miguel Reale preciso ensinamento na obra O Estado Democrático de Direito e o
Conflito das Ideologias1:
Em contraposição aos autores que defendem a sinonímia entre “Estado de Direito” e
“Estado Democrático de Direito”, o insigne professor sustenta que:
Pela leitura dos Anais da Constituinte infere-se que não foi julgado bastante
dizer-se que somente é legítimo o Estado constituído de conformidade com
o Direito e atuante na forma do Direito, porquanto se quis deixar bem claro
que o Estado deve ter origem e finalidade de acordo com o Direito
manifestado livre e originariamente pelo próprio povo, excluída, por
exemplo, a hipótese de adesão a uma Constituição outorgada por uma
autoridade qualquer, civil ou militar, por mais que ela consagre os princípio
democráticos.
Poder-se-á acrescentar que o adjetivo “Democrático” pode também indicar
o propósito de passar-se de um Estado de Direito, meramente formal, a um
Estado de Direito e de Justiça Social, isto é, instaurado concretamente com
base nos valores fundantes da comunidade. “Estado Democrático de
Direito”, nessa linha de pensamento, equivaleria, em última análise, a
“Estado de Direito e de Justiça Social”.
Sem dúvidas, este é o sentido da “Constituição Cidadã”, mercê de sua base principiológica
presente no texto permanente, porquanto estabelecida com base em fundamentos, princípios e
objetivos que dão a própria essência material da Constituição, e, por conseguinte, do Estado de
Direito democraticamente concebido.
A estes elementos juntamos o preâmbulo, que, a despeito das mais autorizadas
inteligências deste país, preferimos considerar como norma descritivo-enunciativa-vinculante,
pois precedente ao texto permanente, mas com propósito declaratório do Estado que se propõe
a concretizar no texto permanente a enunciação principiológica ali contida, que vincula o
processo de interpretação e aplicação da Constituição.
Assim, de Estado Constitucional como sinônimo de Estado de Direito passamos à idéia de
Estado Democrático de Direito, que é sucedido pela idéia de Estado Social do Direito, e hoje já
sendo alvo de indagação uma nova dimensão: a sustentabilidade ambiental.
1
São Paulo: Saraiva, 1999, p. 2.
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 8 – jul./dez. 2006 287
O SIGNIFICADO E AS FUNÇÕES DA CONSTITUIÇÃO NA ERA GLOBALIZADA:
POR UMA ÉTICA CONSTITUCIONAL REPUBLICANA
JOSÉ CLÁUDIO PAVÃO SANTANA
É o que faz o renomado professor lusitano José Joaquim Gomes Canotilho, ao destacar as
dimensões do Estado de Direito: juridicidade, democracia, socialidade e sustentabilidade
ambiental (CANOTILHO.1999, pp. 23/45).
Portanto, acompanhando toda a trajetória evolutiva do Estado de Direito, a Constituição
sempre esteve presente como instrumento fundamental de “solenização”, ora merecendo
observação como fenômeno político, como resultado da vontade real do poder, ora como
resultado da vontade geral do povo, ora como simples norma acima de todas as que compõem o
ordenamento jurídico.
Qualquer que seja o enfrentamento que se lhe dê, todavia, um ponto é comum nas
concepções acerca da Constituição: é elemento instituidor e supremo, que preferimos
denominar de Norma Fundamental para guardar coerência com a concepção particular de que
toda manifestação do Direito é uma manifestação normativa; e a Constituição, em que pese ser
documento político, ao menos formalmente pode, e deve, ser considerada elemento do Direito,
pois adota sua forma objetiva para tornar-se válida no plano jurídico.
2. “Fetichismo” constitucional
Reservo um instante para falar acerca da Constituição da República Federativa do Brasil.
Faço-o, entretanto, tendo em consideração a indagação acerca da existência de um “fetichismo”
constitucional, expressão cunhada pelo professor Raymundo Juliano Feitosa (1998. pp. 372/378).
Em que consistiria o “fetichismo” constitucional?
Tem-se como tal, a prática de inserir no texto constitucional tudo aquilo que se nos afigure
matéria de direito, inclusive das respectivas garantias; inserindo-se na Constituição, sua
salvaguarda estará assegurada, porque o processo de reforma constitucional confirma a
natureza rígida de nossa Constituição.
É óbvio que esse mecanismo necessita de muita cautela para ser diagnosticado,
mormente em se tratando de Brasil, cujo quadro histórico de regime militar durante quase trinta
anos dá a dimensão fiel do estado formal de direito de que já falamos.
De certo que muitas poderiam ser as explicações. Prefiro, entretanto, considerar que essa
verdadeira “ordinarização” de normas constitucionais decorreu desse período de exceção em
288 Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 8 – jul./dez. 2006
O SIGNIFICADO E AS FUNÇÕES DA CONSTITUIÇÃO NA ERA GLOBALIZADA:
POR UMA ÉTICA CONSTITUCIONAL REPUBLICANA
JOSÉ CLÁUDIO PAVÃO SANTANA
que o Direito pouco representou como instrumento de garantia, senão do próprio regime de
exceção.
Isto, também, mas não exclusivamente, explicaria o apanágio de normas constitucionais
que só podem desfrutar dessa natureza sob o aspecto formal.
A “tradição jurídica liberal” (como destaca o Professor Raymundo Juliano Feitosa) é de que
prevalece o entendimento segundo o qual a lei é instrumento suficiente para modificar a vida
social.
Rotineiramente fala-se em reformas constitucionais como o “tiro de misericórdia” para
tornar governável um país que nasceu com uma Constituição que inviabiliza qualquer governo.
Este argumento capeou durante algum tempo os discursos mais resistentes ao novo quadro
político instaurado.
E para que não pereça o argumento, chega-se mesmo à quase insanidade de considerar
uma decisão do Excelso Pretório como sendo uma forma de inviabilizar o projeto de
desenvolvimento do estado. É lastimável!
Lastimável, sim, porque nenhum meio de comunicação da imprensa houve por bem
veicular que a decisão reafirma a supremacia da Constituição, renovando as esperanças no
Estado Democrático de Direito, à qual se submetem todos os homens, inclusive (e
principalmente) aqueles que solenemente juram cumpri-la.
A Constituição de 1988 nasce sob duas condições: criar as condições jurídicas para a
estabilização política das instituições governamentais, através da formulação de uma ordem
constitucional capaz de assegurar a governabilidade de um “regime aberto”, e estabelecer os
parâmetros normativos e os instrumentos legais para a promoção ordenada e controlada de
mudanças sócio-econômicas no âmbito de uma sociedade estigmatizada pelas contradições nas
suas estruturas de riqueza e poder (FARIA, apud FEITOSA. 1998, p. 376).
A tudo isto (acrescentaríamos) subordinam-se os princípios republicanos em cujo cerne
estão a eletividade dos cargos, a temporariedade dos mandatos e a responsabilização dos
governantes, posto gerirem a res publicae, não a res nullius.
Ninguém duvide que as constituições devem ser concisas, pois como norma fundamental
bastaria traçar os elementos orgânicos e fundamentais para o Homem e para o Estado, com
realce na base política adotada como regime e como sistema. Contudo, Constituição se
apresenta, também, de acordo com o grau de civilidade das autoridades constituídas, a
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 8 – jul./dez. 2006 289
O SIGNIFICADO E AS FUNÇÕES DA CONSTITUIÇÃO NA ERA GLOBALIZADA:
POR UMA ÉTICA CONSTITUCIONAL REPUBLICANA
JOSÉ CLÁUDIO PAVÃO SANTANA
responsabilidade que demonstram no desempenho de sua função, enfim, a maturidade que
demonstrem possuir enquanto agentes delegados do poder constituinte originário.
Pois bem, não resta dúvidas que nossa Constituição Federal é um documento analítico, se
preferirmos, prolixo, mas decorrente da necessidade de se reunir direitos, atendendo-se o maior
número possível de fatias da comunidade para que se dê eficácia à representatividade, por isso
mesmo sendo até denominada de messiânica.
Porém, essa característica da Constituição decorre até mesmo de uma realidade social
flamejante: frustrado pela derrota do projeto de eleições diretas, o sentimento de esperança é
restaurado com a instalação da Assembléia Nacional Constituinte, (ou, como prefiro) do
Congresso Ordinário com poderes de Assembléia Constituinte.
Demais, o sentimento de desconfiança nos governantes contribuiu para que a
Constituição Federal alcançasse um certo grau de “codificação institucional”, mercê das
decepções sofridas sucessivamente.
Portanto, falar-se em “fetichismo” constitucional no Brasil sem estas ponderações será, de
alguma forma, contribuir para o discurso acerca de normas apenas formalmente constitucionais,
que podem ser retiradas da Constituição sem prejuízo substancial, argumento que acalenta o
“fetiche” do liberalismo (o capital) em detrimento do elemento da democracia, o próprio
homem.
Este o verdadeiro embate que hoje ocorre no Brasil e diante do qual a Constituição
Federal tem sido posta à prova.
Mas, haveremos de indagar: e o significado da Constituição? E sua importância e função
no Estado globalizado? Continuarão existindo as constituições, diante da nova ordem
internacional?
É o ponto que passo a examinar.
3. Globalização e Constituição
Tive oportunidade de afirmar em artigo que a discussão acerca da globalização se
processa:
...como se esse fenômeno fosse resultado da queda do “Muro de Berlim” ou
da derrubada da “Cortina de Ferro”. Em verdade, o que se processa
atualmente é apenas a formalização de um quadro mundialmente composto
290 Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 8 – jul./dez. 2006
O SIGNIFICADO E AS FUNÇÕES DA CONSTITUIÇÃO NA ERA GLOBALIZADA:
POR UMA ÉTICA CONSTITUCIONAL REPUBLICANA
JOSÉ CLÁUDIO PAVÃO SANTANA
muito tempo atrás, seja pela criação de organismos internacionais voltados
ao financiamento de países pobres e endividados, seja pela submissão
2
desses países à política daqueles organismos .
Com maior acuidade e saber, o Juiz e Professor Cândido José Martins de Oliveira enfatiza
que
o processo de globalização, que não é novo, graças à tecnologia, para se dar
razão a Adam Smith, com a divisão do trabalho, e a Karl Marx, com as forças
produtivas, chega a um estágio de tal magnitude, a exigir uma ruptura
epistemológica a ponto de termos que reconsiderar os conceitos e a
aplicação de espaços e leis nacionais, posto que os fenômenos ultrapassam
3
a dimensão nacional.
Já se havia identificado há algum tempo a influência internacional nas ordens jurídicas
internas dos estados através de fenômenos como a internacionalização do Direito Constitucional
— “recepção de preceitos de Direito Internacional por algumas Constituições modernas, que
incorporam e chegam até a integrar o Direito externo na órbita interna”.
Por seu turno, e de época mais recente, a constitucionalização do Direito Internacional,
consubstanciada na “idéia de implantação de uma comunidade universal de Estados,
devidamente institucionalizada” (BONAVIDES. 1994, pp. 32/33)4 ganha corpo, impondo nova
dimensão a conceitos como o de soberania, inerente à própria idéia de Constituição, hoje
observado sob os aspectos interno e externo, neste último assumindo uma perspectiva relativa,
como “qualidade do poder, que a organização estatal poderá ostentar ou deixar de ostentar”
(BONAVIDES. 1994, p. 122)5.
Basta lembrar, a propósito, a Emenda Constitucional 45/2004, que trouxe para a Norma
Fundamental dois dos mais polêmicos parágrafos ao seu artigo 5º: o que trata dos tratados
internacionais relativos a direitos humanos (e qual o direito que não é?, § 3º) e o que trata da
submissão do Brasil à jurisdição do Tribunal Penal Internacional (§ 4º, de temerosa extensão).
2
Globalização, Justiça e Paz Social. Jornal A voz da OAB – MA, ano VIII, nº 36, edição especial, 1998.
3
Aula da Saudade proferida no Curso de Direito, da Universidade Federal do Maranhão, em 15/10/99.
4
BONAVIDES, Paulo, Curso de Direito Constitucional, 5ª edição revista e ampliada. São Paulo: Malheiros, 1994, pp.
32/33.
5
, BONAVIDES, Paulo, Ciência Política, 10ª edição revista e ampliada. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 122.
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 8 – jul./dez. 2006 291
O SIGNIFICADO E AS FUNÇÕES DA CONSTITUIÇÃO NA ERA GLOBALIZADA:
POR UMA ÉTICA CONSTITUCIONAL REPUBLICANA
JOSÉ CLÁUDIO PAVÃO SANTANA
É partindo dessa idéia de constitucionalização do Direito Internacional através da adoção
de uma ordem supra-estatal institucionalizada que se submete a Constituição às indagações
antes formuladas.
Desaparecerá a Constituição em função do aparecimento dessa nova ordem?
Sob a ótica interna dos estados, as constituições não desaparecerão, mas sofrerão
significativa transformação, tornando-se muito mais instrumentos institucionais, de modelo
conciso, guardando, assim, autenticidade com a sua concepção histórica conhecida no
Continente Americano.
Nesse sentido, a Constituição mantém o seu significado emblemático de “conjunto de
normas que organiza os elementos constitutivos do Estado” (SILVA. 1998, pp. 39/40),
estreitando, significativamente, o rol de direito sociais, v.g., que se encontram em direta colisão
com o capital, no que atinge substancialmente o homem e, por conseguinte, a democracia.
Por certo que não faltará à discussão o papel das cláusulas pétreas, tão decantadas como
núcleo irreformável, na visão de José Afonso da Silva, ou cláusulas irrevisíveis, para lembrar Jorge
Miranda.
Esse conjunto de preceitos fundamentais não sofrerá substancial mudança no meu
entender, exclusivamente no que se refere às regras fundamentais universais, resumidas
naquelas atinentes à liberdade (em seus vários graus e espécies) e a dignidade da pessoa
humana.
No caso da Constituição Brasileira, todavia, penso que aos direitos sociais, protegidos por
previsão decorrente alcançada, também, pela hermenêutica, o mesmo limite não será
respeitado, porquanto se põe em confronto com a determinação do capital, essencial para os
investimentos internos.
É indispensável, portanto, que as forças democráticas da representação política oponham-
se ao discurso restritivo de direitos, pois a linguagem de desenvolvimento pode, também,
transpor os limites da própria ordem jurídica instituída, convencendo o governante de que
possui competência e poder que não lhe foi outorgado pelo Poder Constituinte Originário.
A própria exigência externa de celeridade das decisões, não acompanhadas pelo processo
legislativo regular, mormente frente aos transtornos peculiares ao Poder Legislativo no Brasil,
porá em xeque “o futuro da própria democracia representativa, enquanto estrutura institucional
para formação da vontade coletiva e definição dos ‘interesses gerais’” (FARIA. 1999, p. 309),
fator que até o presente momento não vimos posto em discussão pelo Parlamento Brasileiro.
292 Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 8 – jul./dez. 2006
O SIGNIFICADO E AS FUNÇÕES DA CONSTITUIÇÃO NA ERA GLOBALIZADA:
POR UMA ÉTICA CONSTITUCIONAL REPUBLICANA
JOSÉ CLÁUDIO PAVÃO SANTANA
Se observarmos o fenômeno sob o prisma externo, e tomando emprestado o conceito de
Constituição em sentido material, diríamos que a própria estrutura orgânica supra-estatal que
surge já será, por si mesma, uma Constituição, embora reunindo estados soberanos, mas
vinculados pela lei da própria sobrevivência, sob pena de submeter-se à subsistência,
determinada pela degradação que é capaz de submeter o capital sem fronteiras.
4. Ética constitucional?
A epígrafe tem proposição interrogativa deliberadamente. É que existe um exacerbado
discurso em torno de alguns princípios constitucionais, particularmente no que concerne à sua
concretização.
De quando em vez vê-se pelos meios de comunicação ou em discussões parlamentares o
entendimento de que a ausência de norma específica inviabiliza a possibilidade de concretização
de direitos. É nesse espaço que nascem as apologias às restrição de direitos, uma vez inexistindo
lei específica para o seu exercício. Cria-se, assim, uma espécie de fetichismo legal (o legalismo),
que representa o mais enfático e retrógrado discurso em torno do papel da norma jurídica.
O entendimento é: falta a lei, não pode haver direito, “preceito”, entretanto, que não
possui a mesma extensão quando se está diante da punição, por exemplo, em que logo são
buscados critérios formais para a impunidade: não há lei, não há como punir-se, inobstante a
patente e clara evidência dos fatos.
Essa verdadeira “escravidão legislativa” conduz à ilação lastimável acerca dos
fundamentos da própria Constituição, uma vez que neles vários entendimentos são decorrentes
e podem (devem mesmo) ser inferidos.
Tome-se como exemplo o artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil.
Ora, o sistema é republicano, sistema político que contém em sua essência a eletividade
dos cargos, a temporariedade dos mandatos e a responsabilidade dos governantes pelos seus
atos.
Sendo assim, todos os atos administrativos, normativos, legislativos são essencialmente
vinculados a estes postulados e neles devem se inspirar para serem produzidos, interpretados e
aplicados, o que envolve os três Poderes da República.
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 8 – jul./dez. 2006 293
O SIGNIFICADO E AS FUNÇÕES DA CONSTITUIÇÃO NA ERA GLOBALIZADA:
POR UMA ÉTICA CONSTITUCIONAL REPUBLICANA
JOSÉ CLÁUDIO PAVÃO SANTANA
É que a república estrutura-se na noção de representatividade, o que importa em
gerenciamento do patrimônio de todos, o que exige do administrador cautela, prudência, zelo e
responsabilidade.
A isto denominamos de ética republicana, uma vez sendo postulados de um regime que se
expressa na proposição de construir uma sociedade livre, justa e solidária.
De certo que ética não se especifica pela particularidade do conhecimento, porquanto a
ética é uma só. Contudo, sua aplicação no âmbito da Constituição força a uma atenção ainda
mais ajustada aos postulados contidos no “pulmão da Constituição”, o filtro em cuja seara todas
as normas precisam se inspirar para que possam efetivar a Constituição com fundamentos sólido
e democráticos.
Conclusão
Desejo concluir estas considerações penitenciando-me pela extensão, mas certo de que
me esforcei para contribuir com esta Revista, cuja preocupação revela a responsabilidade de
seus dirigentes.
Por certo, diante de todas estas reflexões, fico na crença de que a Constituição, como
instrumento de organização política do Estado, sobreviverá aos tempos, pois os princípios que
“permitem” aos países ricos, por seus mercados, determinarem a sorte dos povos do terceiro
mundo, e esse é o convencimento desses países, encontram-se nas suas Normas Fundamentais,
sejam elas consideradas sob o aspecto formal, seja, afinal, sob o aspecto material.
De qualquer modo, os problemas que antes pareciam internacionais passam, a cada dia, a
tornarem-se mais presentes, internamente, nos estados, por isso mesmo impondo também ao
Poder Judiciário um repensar o Direito, porque as aflições cotidianas não param, e nelas, como
resultado da globalização econômica, fatalmente existirão “o sucateamento de profissões, a
ampliação do desemprego estrutural, o crescente fosso salarial entre os mais qualificados e os
menos qualificados, a heterogeneização das relações trabalhistas, o aumento do número de
excluídos da economia formal e a disseminação de uma insegurança generalizada na sociedade”
(FARIA. 1999, p. 311).
Não se pode, contudo, pretender um discurso constitucional desvinculado dos preceitos
contidos no arcabouço principiológico da Constituição, no qual residem fundamentos (ou
preceitos) cuja dimensão são um leme à concretização e eficácia da Constituição.
294 Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 8 – jul./dez. 2006
O SIGNIFICADO E AS FUNÇÕES DA CONSTITUIÇÃO NA ERA GLOBALIZADA:
POR UMA ÉTICA CONSTITUCIONAL REPUBLICANA
JOSÉ CLÁUDIO PAVÃO SANTANA
No caso do Brasil, sobremodo, o compromisso republicano está a exigir que a
concretização da Constituição tenha em mente que o Estado Democrático de Direito não
prescinde do dever de observar os preceitos fundamentais do Regime Republicano, cuja órbita
encerra a responsabilidade como fim e a ética como modelo.
Desejo concluir, portanto, reafirmando minha crença de que a Constituição continuará a
possuir fundamental importância na era globalizada, mesmo que adaptada a uma nova
conjuntura, e com roupagem mais modesta.
Mas para que isto ocorra é necessário que as autoridades constituídas nos três Poderes da
República tenham a responsabilidade de perceber que repensar o Estado é tarefa que exige,
sobretudo, respeito à dignidade humana.
Integrar a ordem econômica globalizada é direção em que o Brasil caminhará fatalmente,
mas seu povo, ao carregá-lo, não precisa ter a marca da chibata e a dor da ingratidão.
REFERÊNCIAS
CANOTILHO, J. J. Gomes. Estado de Direito. Coleção Fundação Mário Soares, Lisboa: Gradiva, 1999, pp. 23/45.
FARIA, José Eduardo. Globalização, autonomia decisória e política. In: 1988 – 1998 uma década de Constituição. Rio
de Janeiro: Renovar, 1999.
FEITOSA, Raymundo Giuliano. “Fetichismo” Constitucional: El Intento de Constitucionalizarlo Todo. In: Direito
Constitucional, Coleção Bureau Jurídico – Volume II. Brasília (DF): 1ª edição, 1998.
MORENTE, Manoel. Fundamentos de Filosofia – Lições Preliminares. 8ª edição. São Paulo: Mestre Jou, 1980.
OLIVEIRA, Candido Jose Martins. Aula da Saudade proferida no Curso de Direito da Universidade Federal do
Maranhão, em 15/10/99.
REALE, Miguel. O Estado Democrático de Direito e o Conflito das Ideologias. São Paulo: Saraiva, 1999.
SANTANA, Jose Cláudio Pavão. Globalização, Justiça e Paz Social. In: Jornal A voz da OAB – MA, ano VIII, nº 36,
edição especial, 1998
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 8 – jul./dez. 2006 295
Você também pode gostar
- A defesa da Constituição: participação democrática no controle de constitucionalidadeNo EverandA defesa da Constituição: participação democrática no controle de constitucionalidadeAinda não há avaliações
- O Papel Democrático do Supremo Tribunal Federal nas Práticas de Ativismo JudicialNo EverandO Papel Democrático do Supremo Tribunal Federal nas Práticas de Ativismo JudicialAinda não há avaliações
- Material para Revisão - ConstitucionalDocumento10 páginasMaterial para Revisão - ConstitucionalJúlia FragosoAinda não há avaliações
- Direito e A Constituicao. Constituicao de MocambiqueDocumento15 páginasDireito e A Constituicao. Constituicao de Mocambiquesardio dos santosAinda não há avaliações
- FICHAMENTO Manoel Jorge e Silva NetoDocumento12 páginasFICHAMENTO Manoel Jorge e Silva Netooto luiz da silvajuniorAinda não há avaliações
- Teoria Da ConstituiçãoDocumento12 páginasTeoria Da ConstituiçãoAtendimento Avila Junior AdvocaciaAinda não há avaliações
- Dialnet JurisdicaoConstitucionalELegitimidade 761386Documento26 páginasDialnet JurisdicaoConstitucionalELegitimidade 761386Wendelson Pereira PessoaAinda não há avaliações
- Constitucionalismo Cabo-Verdiano - Grupo 2Documento16 páginasConstitucionalismo Cabo-Verdiano - Grupo 2jaimearaujo2bAinda não há avaliações
- COMPARATO Ensaio Sobre o Juizo de Constitucionalidade de Politicas Publicas - Fabio Konder Comparato Seminario4Documento10 páginasCOMPARATO Ensaio Sobre o Juizo de Constitucionalidade de Politicas Publicas - Fabio Konder Comparato Seminario4Viktor RuppiniAinda não há avaliações
- Limites Ao Poder Constituinte - Marcus Gouveia Dos SantosDocumento62 páginasLimites Ao Poder Constituinte - Marcus Gouveia Dos SantosLuatom LimaAinda não há avaliações
- Pós Aula 02-Direito EconômicoDocumento1 páginaPós Aula 02-Direito Econômicothais.snt13Ainda não há avaliações
- Maria Fernanda Salcedo Repoles-1 PDFDocumento20 páginasMaria Fernanda Salcedo Repoles-1 PDFDeivide RibeiroAinda não há avaliações
- Há Excesso de Judicialização No BrasilDocumento22 páginasHá Excesso de Judicialização No Brasiled3000Ainda não há avaliações
- VorneCursos Constituicoes FullDocumento31 páginasVorneCursos Constituicoes Fullbgsbru22Ainda não há avaliações
- Soberania e PC - Constitucionalismo e DemocraciaDocumento16 páginasSoberania e PC - Constitucionalismo e DemocraciaJoão Guilherme Walski de AlmeidaAinda não há avaliações
- Antinomia Entre Normas ConstitucionaisDocumento20 páginasAntinomia Entre Normas ConstitucionaisRaphael BarbieriAinda não há avaliações
- Noção de Constituição, Ficha 13Documento12 páginasNoção de Constituição, Ficha 13MILTON DE MERCEN MANUEL SITOEAinda não há avaliações
- Fichamento 01 (Leandro Aragão) - A Essência Da Constituição, de Ferdinand LassalleDocumento6 páginasFichamento 01 (Leandro Aragão) - A Essência Da Constituição, de Ferdinand LassalleLeandro Santos de AragãoAinda não há avaliações
- Trabalho de ConstitucionalDocumento2 páginasTrabalho de ConstitucionalBruna machadoAinda não há avaliações
- Direito Constitucional e Administrativo - 1Documento30 páginasDireito Constitucional e Administrativo - 1Brunno MarquesAinda não há avaliações
- UnlockedDocumento20 páginasUnlockedBriss QuaresmaAinda não há avaliações
- 03 Conceitos de ConstituiçãoDocumento13 páginas03 Conceitos de ConstituiçãoEduardo DiasAinda não há avaliações
- Direito Constitucional - Módulo I - Prof. Robério NunesDocumento157 páginasDireito Constitucional - Módulo I - Prof. Robério NunesMarina NovisAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido - Direito Constitucional I (Teoria Da Constituição)Documento26 páginasEstudo Dirigido - Direito Constitucional I (Teoria Da Constituição)larissacamargosreis11Ainda não há avaliações
- Fichamento 1 - Pedro LenzaDocumento3 páginasFichamento 1 - Pedro LenzaGiovanna RegueroAinda não há avaliações
- Admin, DELEGAÇÃO DE PODERES PDFDocumento10 páginasAdmin, DELEGAÇÃO DE PODERES PDFAdilson L. M.de AlmeidaAinda não há avaliações
- A Foca Normativa Da Constituicao Leonardo FernandesDocumento12 páginasA Foca Normativa Da Constituicao Leonardo FernandesAmanda Santos da SilveiraAinda não há avaliações
- DFS - A Baixa Densidade Democrática No Brasil e Sua Relação Com Conservadorismo Do Poder Judiciário Na Interpretação ConstitucionalDocumento25 páginasDFS - A Baixa Densidade Democrática No Brasil e Sua Relação Com Conservadorismo Do Poder Judiciário Na Interpretação ConstitucionalDenival SilvaAinda não há avaliações
- Resenha - Teoría Constitucional Da Democracia ParticipativaDocumento7 páginasResenha - Teoría Constitucional Da Democracia Participativam074h3u5100% (1)
- Monografia MathausDocumento11 páginasMonografia MathausEVANDROAinda não há avaliações
- Mariarfs,+907 2790 1 CEDocumento31 páginasMariarfs,+907 2790 1 CEKelly CáceresAinda não há avaliações
- Gustavo ZagrebelskyDocumento9 páginasGustavo Zagrebelskyandrew amaralAinda não há avaliações
- Poder Constituinte - Conceito, Esboço Histórico, Titularidade, Tipos de Poder Constituinte e Outras Considerações Acerca Do TemaDocumento16 páginasPoder Constituinte - Conceito, Esboço Histórico, Titularidade, Tipos de Poder Constituinte e Outras Considerações Acerca Do TemaAlexandre SilvaAinda não há avaliações
- Duquelsky - El Rol Del Juez en Una Sociedad Democrática OK-2.Doc - 1447323947889Documento21 páginasDuquelsky - El Rol Del Juez en Una Sociedad Democrática OK-2.Doc - 1447323947889Belu MolinariAinda não há avaliações
- Ativismo JudicialDocumento18 páginasAtivismo Judicialmarketing.erickmarquesAinda não há avaliações
- UntitledDocumento19 páginasUntitledMaycon SilvaAinda não há avaliações
- A Eficácia Horizontal Dos Direitos Fundamentais e Os Limites Ao Princípio Da Autonomia Da Vontade Nos Contratos: Uma Breve Visão Da Constitucionalização Do Direito CivilDocumento10 páginasA Eficácia Horizontal Dos Direitos Fundamentais e Os Limites Ao Princípio Da Autonomia Da Vontade Nos Contratos: Uma Breve Visão Da Constitucionalização Do Direito CivilDouglas Pinheiro BezerraAinda não há avaliações
- A Essência Da Constituição e A Força Normativa Da ConstituiçãoDocumento3 páginasA Essência Da Constituição e A Força Normativa Da ConstituiçãoSamara TelesAinda não há avaliações
- O Que É Direito PositivoDocumento3 páginasO Que É Direito Positivokpr.mmoAinda não há avaliações
- Direitos FundamentaisDocumento26 páginasDireitos FundamentaisMissionário Vando LimaAinda não há avaliações
- 012 EbertDocumento30 páginas012 Ebertflow.controlxAinda não há avaliações
- Artigo - Judicialização Do Processo LegislativoDocumento11 páginasArtigo - Judicialização Do Processo LegislativoTarcisoAinda não há avaliações
- VorneCursos Constitucionalismo e Neoconstitucionalismo FullDocumento20 páginasVorneCursos Constitucionalismo e Neoconstitucionalismo Fullbgsbru22Ainda não há avaliações
- Princípios Constitucionais Penais (Intro)Documento2 páginasPrincípios Constitucionais Penais (Intro)Família MatosAinda não há avaliações
- Direito Constitucional Aula 02Documento21 páginasDireito Constitucional Aula 02JOSE EDUARDOAinda não há avaliações
- Maurizio Fioravanti. As Doutrinas Da Constituição em Sentido MaterialDocumento7 páginasMaurizio Fioravanti. As Doutrinas Da Constituição em Sentido Materialspain1492100% (2)
- Texto - A Importância Da ConstituiçãoDocumento6 páginasTexto - A Importância Da ConstituiçãoRaphaella CastroAinda não há avaliações
- Lenio Luiz Streck - A Revolução Copernicana Do Neoconstitucionalismo e A (Baixa) Compreensão Do Fenômeno No Brasil - Uma AbDocumento34 páginasLenio Luiz Streck - A Revolução Copernicana Do Neoconstitucionalismo e A (Baixa) Compreensão Do Fenômeno No Brasil - Uma AbMateus Barbosa Gomes AbreuAinda não há avaliações
- HILLANI, Allan M. Estado de Exceção e Capitalismo: Ação Política Transformadora e Repressão EstatalDocumento21 páginasHILLANI, Allan M. Estado de Exceção e Capitalismo: Ação Política Transformadora e Repressão EstatalAllan M. HillaniAinda não há avaliações
- Resumo ConstitucionalismoDocumento6 páginasResumo ConstitucionalismoCecília PaivaAinda não há avaliações
- Monitoria Aula 1 - INTRODUÇÃODocumento17 páginasMonitoria Aula 1 - INTRODUÇÃOLeonardo DiasAinda não há avaliações
- Direito E Desenvolvimento:No EverandDireito E Desenvolvimento:Ainda não há avaliações
- OAB 2fase ConstitucionalDocumento93 páginasOAB 2fase ConstitucionalCarolAinda não há avaliações
- Direito ConstitucionalDocumento2 páginasDireito Constitucionalconstancapinto06Ainda não há avaliações
- A Hermenêutica Constitucional Sob o Paradigma Do Estado Democrático de DireitoDocumento14 páginasA Hermenêutica Constitucional Sob o Paradigma Do Estado Democrático de DireitodinizaAinda não há avaliações
- Constitucional - Pontos 1 A 15Documento329 páginasConstitucional - Pontos 1 A 15maria aliceAinda não há avaliações
- Artigo Jurisdição Constitucional BonavidesDocumento24 páginasArtigo Jurisdição Constitucional BonavidesFelipe Dalenogare AlvesAinda não há avaliações
- 2013 - 10 - 11733 - 11765 Poder Const Locke Rousseau PDFDocumento33 páginas2013 - 10 - 11733 - 11765 Poder Const Locke Rousseau PDFcarolinaAinda não há avaliações
- Fichamento - Pietro Costa - Ricardo Marcelo - Democracia Política e Estado ConstitucionalDocumento7 páginasFichamento - Pietro Costa - Ricardo Marcelo - Democracia Política e Estado ConstitucionalAnderson Pressendo MendesAinda não há avaliações
- As Limitações Do Poder Constituinte Originário Na Instauração de Uma Nova Ordem JurídicaDocumento20 páginasAs Limitações Do Poder Constituinte Originário Na Instauração de Uma Nova Ordem JurídicaAndersonAyresBellodeAlbuquerqueAinda não há avaliações
- Teoria de Wyckoff - TLLDocumento13 páginasTeoria de Wyckoff - TLLteffyempreendendoAinda não há avaliações
- E - Book - CrasDocumento25 páginasE - Book - CrasLarissa oliveira fariasAinda não há avaliações
- Ato #271 2020 Pm-Coordendptoensino - Relação FinalDocumento5 páginasAto #271 2020 Pm-Coordendptoensino - Relação FinalFrança Fishing F2Ainda não há avaliações
- Agente - Penitenciario 22Documento21 páginasAgente - Penitenciario 22Alison BalbinoAinda não há avaliações
- Edital de Licitação SabespDocumento290 páginasEdital de Licitação Sabesprubya.cagepaAinda não há avaliações
- Resumo Aula 01 - Introdução e Temas GeraisDocumento45 páginasResumo Aula 01 - Introdução e Temas GeraisJÉSSICA NascimentoAinda não há avaliações
- Aula 04 (Estudo Da Lei 11343)Documento63 páginasAula 04 (Estudo Da Lei 11343)cleandrodiogoAinda não há avaliações
- 2 TA Jefferson Out2022aabril2023Documento2 páginas2 TA Jefferson Out2022aabril2023VicenteBarreiraNetoAinda não há avaliações
- Julgado Aposentadoria Especial IntegralDocumento10 páginasJulgado Aposentadoria Especial IntegralGuatipuruAinda não há avaliações
- CONTRATO de LOCAÇÃO Enedir X EllyezerDocumento11 páginasCONTRATO de LOCAÇÃO Enedir X Ellyezerla lindaAinda não há avaliações
- De PINHO, Humberto Dalla Bernardina. A Mediação Online e As Novas Tendências em Tempos de Virtualização Por Força Da Pandemia de Covid-19.Documento21 páginasDe PINHO, Humberto Dalla Bernardina. A Mediação Online e As Novas Tendências em Tempos de Virtualização Por Força Da Pandemia de Covid-19.Hian GualbertoAinda não há avaliações
- 6 Acórdão Irdr Nova EscolaDocumento13 páginas6 Acórdão Irdr Nova EscolaLucas ReisAinda não há avaliações
- Avaliação Final - Maria Da PenhaDocumento10 páginasAvaliação Final - Maria Da PenhaJéssica SilvaAinda não há avaliações
- Bilhete de SeguroDocumento4 páginasBilhete de SeguroSeja FitnessAinda não há avaliações
- Rev0 Adam 4017Documento2 páginasRev0 Adam 4017Tarso AnjosAinda não há avaliações
- Rsi 1 DGSSDocumento5 páginasRsi 1 DGSSPortaria SFP AlcântaraAinda não há avaliações
- LTCAT - N. Siqueira & Cia LtdaDocumento37 páginasLTCAT - N. Siqueira & Cia LtdaAlexsander CardozoAinda não há avaliações
- Habeas CorpusDocumento4 páginasHabeas CorpusNova SimonAinda não há avaliações
- 08 - Descendo o Amazonas - Tomo IV - 436 PGDocumento435 páginas08 - Descendo o Amazonas - Tomo IV - 436 PGHiram Reis Silva100% (1)
- Nas Garras Da Máfia - Brenda RipardoDocumento323 páginasNas Garras Da Máfia - Brenda RipardoLuiza Simões67% (3)
- Edital de Abertura N 01 2020Documento83 páginasEdital de Abertura N 01 2020Shay MotaAinda não há avaliações
- ImpugnaçãoDocumento6 páginasImpugnaçãoGilfredo MacarioAinda não há avaliações
- DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES E Book ComDocumento374 páginasDIREITOS HUMANOS DAS MULHERES E Book Comjosetadeumendes1772Ainda não há avaliações
- Recibo FeriasDocumento1 páginaRecibo FeriasAdriano CordeiroAinda não há avaliações
- Simulacao CCB FIDÚCIA 21-12-2022Documento2 páginasSimulacao CCB FIDÚCIA 21-12-2022gmigueel95Ainda não há avaliações
- Pet 9456Documento2 páginasPet 9456Juliana BarbosaAinda não há avaliações
- Corrigida 1Documento8 páginasCorrigida 1Lorrane MartinsAinda não há avaliações
- Chamada Publica Fsa Producao Cinema 2023Documento15 páginasChamada Publica Fsa Producao Cinema 2023Jose Lucas Miranda D'Avila e CostaAinda não há avaliações
- Diario 06042021Documento21 páginasDiario 06042021Fernandes JuniorAinda não há avaliações
- Avaliação GerontologiaDocumento5 páginasAvaliação Gerontologiahenrique289Ainda não há avaliações