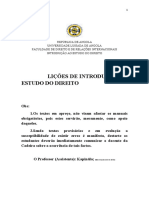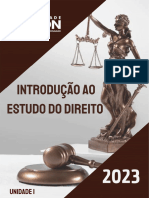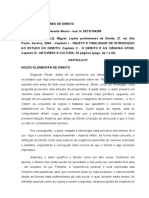Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Liv Ro Daniel Coelho
Liv Ro Daniel Coelho
Enviado por
Viviane Martins Dos ReisDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Liv Ro Daniel Coelho
Liv Ro Daniel Coelho
Enviado por
Viviane Martins Dos ReisDireitos autorais:
Formatos disponíveis
DANIELCOELHODESOUZA
ProfessorcatedrticodaUniversidadeFederaldoPar
ExmembrodoConselhoFederaldeEducao
INTRODUO
CINCIA
DODIREITO
6edio
editor aCcejup
INTRODUO
A introduo cincia do Direito responde, no curso jurdico,
necessidadedeumadisciplinageral.Oscursossuperiores,desenvolvidospor
disciplinas especializadas, reclamam que ao estudo setorial preceda outro
geral. Esta convenincia mais veemente no curso jurdico, cujo objeto
histrico: regras obrigatrias de conduta na sociedade de um tempo, o que,
provavelmente, levou Benjamin de Oliveira Filho a reivindicar para a
introduocartereminentementecultural.
No , alis, este imperativo apenas de ordem didtica. O saber
jurdico, qualquer que seja o nvel em que o consideremos, s pode ser bem
exposto e compreendido, se o seu estudo se inaugura pelo exame das suas
generalidades, pretenso mais ambiciosa e fecunda do que a sua simples
visosintticasugeridaporA.B.AlvesdaSilva.
Objetivo de tal natureza sempre foi almejado. Vrias foram as
tentativas de alcanlo: a enciclopdia jurdica, a filosofia do Direito, a
sociologia jurdica, a teoria geral do Direito e a introduo cincia do
Direito.
Enciclopdiajurdica
A enciclopdia jurdica foi a mais remota. Adotava por padro a
estruturadoCorpusJuris,tradicionalcodificaodoDireitoromano.
Pretendem alguns que a obra de Gulielmus Durantis 12371326), o
SpeculumJudiciale(1275),sejaconsideradapioneiranognero,oqueoutros
contestam. O texto de Durantis abrangia o Direito romano e o cannico,
destinandosemaispropriamentesautoridadesjudiciriasdoqueaoestudo
doDireito.
A literatura enciclopdica floresceu a partir do sculo XVI, quando se
divulgaram numerosos trabalhos compreendendo todos os ramos do direito
demaneirasistemtica,entreosquaissedestacaramosdeLaguseHunnius,
atribuindo alguns a este ltimo a verdadeira fundao da enciclopdia
jurdica.
No sculo XVIII, resultante do divrcio entre a filosofia e as cincias
positivas,duas tendncias passaramaatuarnaenciclopdiajurdica,doque
decorreuquealgumasobrasseinclinassemnosentidodogmticooupositivo,
como a de Stphane Ptter, e outras no sentido filosfico, como a de
Nettelbladt.
No comeo do sculo XIX, sob influncia de Georg Wilhelm Friedrich
Hegel (17701831) e Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (17751854),
procurase fazer da enciclopdia uma cincia prpria, no mero repositrio
mais ou menos ordenado de informaes. Surgiram, assim, as enciclopdias
deKarlPtter,Friedlaender,Rudhart,HeinrichAhrens(18081874),Waltere
outros.
A partir da segunda metade do sculo XIX a literatura enciclopdica
entra em decadncia, no merecendo referncia seno obra de Adolf
Merkel (18361896), cuja primeira parte dedicada j ao estudo da teoria
geraldodireito:conceito,caracteres,divisoegnesedoDireitoelementos,
diviso e gnese das relaes jurdicas aplicao do Direito e cincias
jurdicas.
O trabalho dos enciclopedistas, sem embargo da amplitude terica de
algumas de suas obras, era, principalmente, de organizao do Direito
positivo. No podia a enciclopdia emanciparse da experincia jurdica,
alcanar conceitos gerais e servir, assim, de instrumento til para um
conhecimentojurdicodebasenoemprica.
Adquirir uma idia sucinta das parcelas, como pondera Eusbio de
Queiroz Lima, no ter uma noo exata do todo. E alm disso, repara
Ernesto Eduardo Borga, por sua orientao empirista, atendose aos fatos,
somentepoderiaresultarnumateoriadoDireitoPositivo,nuncanumateoria
que abarcasseo direitotodo, menos ainda o conceito elaborado em vistado
DireitoPositivo.
Filosofiadodireito
A filosofia do direito integrou, durante muito tempo, o currculo
jurdico, proporcionando ao estudante contato com as mais gerais noes
jurdicas. E certo, conforme anota Huntington Cairns, que a especulao
jurdica,atravsdetodaasuahistria,apesardofatodequeoseuobjetoem
grandeparteexistencial,tomoumaisdafilosofiadoquedacincia.
fora de dvida, porm, que por ela no se poderia jamais iniciar o
estudodoDireito. Noseconcluada, quenotenhavaliosasignificaono
elencodasdisciplinasjurdicas.Apenas,osaberfilosfico,dopontodevista
lgico, seno cronolgico, deve suceder ao cientfico. O conhecimento
filosfico a sntese mais alta que o homem alcana, a nenhuma sntese se
atinge, com exatido e coerncia, sem a prvia anlise dos elementos que a
pressupem. A atividade filosfica crtica em alto nvel, e os nveis mais
altos de crtica no podem ser alcanados sem que antes tenham sido
percorridos osinferiores.Osaberfilosficospodeseratingidoapoiadoem
conhecimentoanterior mais modestoporquesaberderemate. Nemvivel
pretender a filosofia de um objeto sem o seu prvio conhecimento cientfico,
dadoqueaquela,explicaJosephVialatoux,umretour,umareentrada,uma
reflexodeumsaberaomenoscomeado.
A tendncia geral, em nossos dias, deslocar a filosofia jurdica do
currculo de graduao para o de psgraduao, posio de culminncia
quejlheforaassinaladaporAlessandroLevi.TambmonossoPedroLessa
(18591921), que entendeu ter sido um erro grave a eliminao dessa
disciplina dos cursos jurdicos, pretendia vla situada no ltimo ano da
academia.
Sociologiajurdica
Podemos estudar os fatos sociais na sua generalidade, naquilo que
todos tmemcomum,examinlos,portanto,emsentidolatoparalelamente,
podemos considerar alguns deles que tm qualificao prpria e promovem
um processo adaptativo peculiar. A sociologia geral, consoante Nicholai S.
Timacheff,estudaasociedadeemnvelaltamentegeneralizadoouabstrato,e
as cincias sociais particulares, sob um determinado e especfico aspecto.
Segundo PitirimSorokim(18891998),alinhadedemarcaoexistenteentre
estas e aquela decorre do fato de que, se existem, dentro de uma classe de
fenmenos, N subclasses, deve haver N + 1 disciplinas para estudlas: N
paraestudarcadasubclassee maisumaparaestudaraquiloquecomuma
todas,bemcomoacorrelaoentreelas.
Ofatojurdico,sendosocial,podeserobjetodeumadelas,asociologia
jurdica. Sucede, porm, que a sociologia jurdica considera o Direito sob o
aspecto da sua causalidade histrica, que apenas um elemento para
compreendlo. O Direito , antes de tudo, norma e valor. No cabe
compreendidonasuauniversalidadesemapesquisadasexignciasticasque
inspiramsuasregras,aoquenoatendeasociologiajurdica.
Esta , ademais, uma cincia de temtica polmica e de contornos
relativamenteimprecisos,oqueainabilitaparaservirdedisciplinageralnos
estudosjurdicos.oqueassinala,tambm,Andr FrancoMontoro,quando
a caracteriza como disciplina que ainda no se consolidou suficientemente,
nosentidodenodispordeumcorposistemticodeconcluses,comobjetoe
mtodos definidos, atraso de desenvolvimento que atribui hostilidade de
dois setores afins: de um lado, os juristas resistem penetrao, em seu
campo, de uma disciplina estranha dogmtica jurdica, e, de outro, os
socilogos desconfiam da objetividade e do carter cientfico de estudos
vinculadosnormatividadejurdica.
Almdisso,asociologiajurdicanofocaliza,nemlhecaberiafazer,a
regra jurdica em si, na sua estrita significao normativa. Dedicase
anlisedos seus pressupostosfticos,osfatores sociais quea determinam.E
estes,relevantesquesejamparaosocilogoouohistoriador,nosatisfazem
necessidade de prconhecimento cientfico do ordenamento jurdico,
porquedelenoproporcionamumanooautnticaemetdica.
TeoriageraldoDireito.
A teoria geral do Direito, no campo dos estudos jurdicos, refletiu a
influncia avassaladora do positivismodosculo XIX.Escola antimetafsica,
o positivismo alimentava a convico de que a filosofia jamais alcanaria,
como sempre se propusera, o conhecimento das essncias. Sob sua feio
ortodoxa, importava verdadeira contestao da autonomia do conhecimento
filosfico,dadoqueentendiacaberaesteamissodeintegrarecoordenaro
conhecimentocientfico.
Nosetordosestudosjurdicos,afilosofiapositivistaengendrouateoria
geraldodireito,quedeviasubstituirafilosofiajurdica.Ojuristapartiriada
anlisedarealidadehistricosocialpara,porcomparaoeinduo,alar
se aos conceitos. Cincia, conforme pretendia ser, a sua primordial
caracterstica seria a de subordinarse ao mtodo cientfico. Nenhum saber
jurdico poderia convergir para outro objeto que no o prprio direito
positivo. Ao jurista competia observar as instituies, determinar as suas
afinidades, assinalar as suas relaes permanentes, e, finalmente, por
induo,alcanarasrespectivasnoesgerais.
Embora a teoria geral do Direito no tenha ocupado a posio que
almejava,umavezquedavaporsucumbidaafilosofiajurdicadiagnstico
em que falhou totalmente, pois, como assinala Alceu Amoroso Lima (1893),
assistimos nosltimosanos aumrecrudescimentoemtornodosfundamentos
filosficosdoDireito,comotalvezjamaissetenhavistonodecorrerdetodaa
histria certoqueseintegroudefinitivamentenadoutrinadodireito.
indubitvel, porm, que ela no exaure os nossos conhecimentos
tericos.Bastateremmente quecondenavaafracassoqualquertentativade
conhecimento jurdicofilosfico, o que contradiz toda a cultura jurdica
contempornea.
IntroduocinciadoDireito
A introduo uma disciplina cuja meta mais pretensiosa est na
formulao de princpios gerais aplicveis ao conhecimento jurdico. uma
disciplina epistemolgica, no uma disciplina jurdica em sentido restrito,
porque no estuda uma normatividade jurdica histrica. No se ocupa de
normas jurdicas, de sistemas de direito positivo, de nenhum ordenamento
jurdico vigente. uma cincia da cincia do direito. Considera as noes
gerais do direito, tal como podem ser abstratamente formuladas, quase
semprefazendoomissodosseusmatizeshistricosreais.
Uma das suas caractersticas mais tpicas o seu sentido pragmtico.
Seu contedo no rigoroso, exato, rgido. Defensvel, at certo ponto,
incluirouexcluirdelecertasmatrias.Constituemnanoesqueprofessores
etratadistasentendemadequadas paraainiciaoaocurso deDireito.Essa
circunstnciageraadiversidadedosprogramasdeensino.
Uma das facetas da sua preocupao prtica est em que ela deve
servir de trnsito entre o curso mdio e o superior. Problema que hoje
objeto de preocupaes e cuidados, justificando a reivindicao de um
processodeintegraodaescolamdiacomauniversidade.
As dificuldades da passagem daquela a esta no so exclusivas do
curso jurdico. Afligem, em parte, os candidatos a outros cursos, como o de
Medicina,odeEngenharia,odeEconomia,etc.NocursodeDireito,porm,
como enfatiza Gaston May, se agravam. Em relao a outros, o currculo
mdio proporciona, de algum modo, conhecimento prvio que ter utilidade
direta no curso superior. Em Medicina, por exemplo, o estudante j se
contactoucomaBiologiaeaFsica.EmEngenharia,asnoesdeFsicaede
Matemtica obtidas no curso mdio so de vantagem decisiva no superior.
ParaoestudantedeDireito,noentanto,humhiatoentreocurso mdioeo
superior. por isso que a introduo, sem prejuzo do seu ncleo de idias
gerais a que corresponde, em princpio, a chamada teoria geral do Direito
colige noes no jurdicas, mas filosficas, sociolgicas e, eventualmente,
tambm histricas, e delas se utiliza como ponte entre o curso mdio e o
superior.
Para justificla, ainda poderiam ser citadas as palavras de que se
serviuCousinparapleitearacriaodessadisciplinaemFrana,transcritas
por Lucien Brun: Quando os jovens estudantes se apresentam em nossas
escolas, a jurisprudncia para eles um pas novo do qual ignoram
completamenteomapaealngua.DedicamsedeincioaoestudodoDireito
Civil e ao do Direito romano, sem bem conhecer o lugar dessa parte do
Direito no conjunto da cincia jurdica, e chega o momento em que, ou se
desgostamdaaridezdesseestudoespecial,oucontraemohbitodosdetalhes
e a antipatia pelas vistas gerias. Um tal mtodo de ensino bem pouco
favorvelaestudosamploseprofundos.Desdemuitotempoosbonsespritos
reclamamumcursopreliminarquetenha porobjetoorientardealgum modo
osjovensestudantesnolabirintodajurisprudnciaquedumavistageralde
todas as partes da cincia jurdica, assinale o objeto distinto e especial de
cada uma delas, e, ao mesmo tempo, sua recproca dependncia e o lao
ntimoqueasuneumcursoqueestabeleaomtodogeralaseguirnoestudo
do Direito, com as modificaes particulares que cada ramo reclama um
curso, enfim, que faa conhecer as obras importantes que marcaram o
progresso da cincia. Um tal curso reabilitaria a cincia do Direito para a
juventude, pelo carter de unidade que lhe imprimiria, e exerceria uma
influnciafelizsobreotrabalhodosalunos eseudesenvolvimentointelectual
emoral.
Complementarmente, vlido observar que a introduo atua como
verdadeiro teste vocacional. A experincia mostra que o universitrio de
outroscursos,pelotratoanteriorcommatriasqueaelespertencem,tem,de
um modo geral, embora imprecisamente, relativa informao quanto
natureza dos dotes pessoais que lhe sero preferentemente reclamados. O
discpulo que no curso colegial sente predileo pela Matemtica tem
razovelprobabilidadedexitonocursodeEngenharia,ouemoutroemque
o conhecimento matemtico seja bsico. J o estudante de Direito
habitualmenteseinclinaparaocursoporumaescolhanegativa.afaltade
ajuste s cincias experimentais, quase sempre, que o leva do colgio
faculdade,quandonoumainclinaoliterriaouumsimplespendorparaas
leituras propiciatrias de cultura geral. Essa escolha no escuro encerra o
riscodeumaopoaquenocorrespondainclinaoautntica.
Oestudojurdico,comoodequalquercurso superior,especializado,
oque importadizer que resultadomelhor obtido quando tentado por quem
possui real inclinao para as matrias que o integram. Por isso, a
introduo,dandoaoestudanteumprimeirocontatocomocurso,facultalhe
julgar das suas prprias habilitaes e retificar ou confirmar uma escolha
quepodeterfeitosemoselementosimprescindveissuadeciso.
SUMRIO
1. Dadosfilosficos
1.1Realidadeevalor
1.2Homemevalor
1.3Direitoejustia
2. Dadossociolgicos
2.1Fatosocial
2.2Sociedadeshumanas
2.3Fenmenopoltico
3. Dadossociofilosficos
3.1Normatividadesocial
3.2Normasticasenormastcnicas
3.3Normasmoraisenormasjurdicas
3.4Normasconvencionais
4. Disciplinasjurdicas
4.1Disciplinasfundamentaiseauxiliares
4.2Filosofiajurdica
4.3CinciadoDireito
4.4TeoriageraldoDireito
5. Noesfundamentais
5.1Normajurdica
5.2Norma,sanoecoao
5.3Sanesjurdicas
5.4FontesdoDireito
5.5Direitosubjetivo
5.6Direitospessoaisedireitosreais
5.7Proteodosdireitossubjetivos
5.8Deverjurdico
5.9Relaojurdica
5.10 Atosjurdicos
5.11 SujeitodeDireito
5.12 ObjetodoDireito
5.13 Atoilcito
6. Instituiesjurdicas
6.1Instituiesjurdicas
6.2OEstado
6.3Personalidade
6.4Famlia
6.5Propriedade
6.6Posse
6.7Obrigaes
6.8Sucesso
7. Enciclopdiajurdica
7.1Classificaodasnormasjurdicas
7.2Problemasdeclassificao
7.3Critriosdeclassificao
7.4DireitoConstitucional
7.5DireitoAdministrativo
7.6DireitoPenal
7.7DireitoProcessual
7.8DireitodoTrabalho
7.9DireitoInternacionalPblico
7.10 DireitoCivil
7.11 DireitoComercial
7.12 DireitoInternacionalPrivado
8. Tcnicajurdica
8.1Tcnicajurdica
8.2Vignciadalei
8.3Interpretao
8.4Integrao
8.5Eficciadaleinoespao
8.6Eficciadaleinotempo
Bibliografiaconsultada
1. DadosFilosficos
1.1 REALIDADEEVALOR
1.1.1Realidadeevalor
Gustav Radbruch (18781949), reportandose s doutrinas de Wilhelm
Windelband (18481915) e Heinrich Rickert (18631936), considera bsica a
distinoentrerealidadeevalor.Comenta,comevidenteacerto,queemmeio
aos dados de nossa experincia, surgidos de maneira uniforme em nossas
prprias vivncias, realidade e valor mostramsenos mesclados. Homens e
coisas, saturados de valor e de desvalor, aparecem associados sem que
possamosfazerentreelesntidadistino.
Quando refletimos sobre a nossa experincia, percebemos que o valor
no est nascoisase simem ns mesmos. Se digo de umatela que bela,a
belezanoestnela,masnomeujulgamento.Sedigodeumentequetil,a
suautilidadenolheintrnseca,masumatributoquelheconfiro.
O primeiro ato da conscincia parece ser o de formular uma
reivindicao do prprio eu, libertandodos dados de experincia aqueles que
sopessoais,eissolevaadistinguirrealidadedevalor.
Realidade e valor pertencem a setores autnomos realidade
objetividade valor, subjetividade. No podemos falar de valores como se
fossemreaisaindaqueparaMaxScheler(18751929),segundo AlfredStern,
nos sejam dados antes de toda experincia e, portanto, aprioristicamente e
nem de realidades como se um valor lhes fosse inerente. Ao valor
correspondente umaessncia prpria,tambm realidade,outra. Realidadee
valor so inconfundveis. Uma , outro deve ser. A realidade existe, um
atributo do ser o valor se afirma, um julgamento do sujeito, sem o qual o
mundo,observaWilhelmSchapp,noteriainteresseparaohomem.
Essadistinobsicaparaafilosofiajurdica,porqueodireitojulgao
comportamento.Nenhumjulgamentopode,logicamente,existirsemaidiade
umvalor,porquejulgarcompararumobjetoaumvalor,paraconcluirdasua
compatibilidade ou incompatibilidade. O direito, fazendo apreciao da
conduta,porquediscriminaentrelcitoeilcito,importaestimaodevalores.
Nopertence,portanto,nasuairredutvelessncia,aoplanodarealidade.
1.1.2 Seredeverser
Da distino entre realidade e valor resultam duas posies: a que se
refere ao ser dos entes e a que se refere ao dever ser do homem. E, como
corolrios dessas, os conceitos de lei natural e lei tica, distino essa cujo
desconhecimento, conforme Raimundo Farias Brito (18621917), atenta
contraanaturezadascoisaseamaiscomumexperincia.
1.1.2.1 Juzosenunciativosevalorativos
Esses conceitos so alcanados atravs de juzos que so a alavanca
fundamental da atividade cognitiva da inteligncia humana, o que deles faz
sejaminteiramentediversosdasrepresentaes,mesmoconsideradosdoponto
devistapsicolgico,comoafirmaFranzBrentano(18381917).
Aexperinciatem por objeto coisasefatos individualizados. Sobreela
amentedohomemelaboraoconhecimento.Mas assimnofaria,nofossea
suapossibilidadedeformularjuzos,
Essa aglutinao pode darse por anlise ou por sntese, isto , ou
consiste numa decomposio do objeto da experincia em seus elementos
intrnsecos, ou num acrescentamento ao objeto de algo que no lhe pertence
por essncia. H, portanto, juzos analticos e sintticos. Segundo Emmanuel
Kant (17241804), a quem coube formular com clareza a distino, os
analticosnoampliamnossoconhecimento,apenasdesenvolvemoconceitoe
otornam mais inteligvel. Aocontrrio, os sintticos so autnticosjuzos de
experinciaesobreelesseconstremtodasascinciasexplicativas.
Alm do mais, construdos os juzos sintticos na base da observao,
podemelesmesmosserligados,numasegundaoperaolgica,cujonvelde
criatividade maior. Se temos noes resultantes da experincia de duas
coisas singulares e conseguimos aglutinlas, formamos uma terceira noo
representativa de uma nova realidade, cuja criao dependeu da experincia
apenas indiretamente. E nesse processo atingimos, progressivamente, nveis
cada vez mais altos de compreenso e generalidade. Como explica G. J.
Romanes,apartirdomaissimplesjuzopossvele,portanto,damaissimples
proposio(correspondentegramaticaldojuzo),aintelignciahumanaeleva
sedeummodouniformeeininterrupto.Nemoutraalio deKant,quando
ensinaqueosjuzosestabelecemumaunidadeentreasnossasrepresentaes,
pois que a uma representao imediata substituem outra mais elevada que
contm a primeira, assim como vrias outras, de modo que muitos
conhecimentospossveissoreunidosemums.
Os juzos atendem diferena entre natureza e valor. H juzos
pertinentescompreensodo mundonatural ejuzosque traduzem valorese
definem atitudes do homem sensibilizados por eles. Da a distino entre
juzos enunciativos e juzos valorativos. Podemos dizer isto, ou dizer deve
seristo.svezesacpulaverbalser,outras,deverser.Quandousamosser,
para coordenar duas idias, formulamos um juzo enunciativo. Se a
coordenao se faz com dever ser, o juzo valorativo. Os enunciativos so
juzosdeexperinciaosvalorativos,estimativosdevalor.
Os enunciativos so descritivos. Quando dizemos de algo que ,
fazemos apenasumadescrio,tanto maisperfeita quanto mais impessoal. A
atitude do naturalista de completa neutralidade: narrao de uma
experincia. Por isso, dizemos que os juzos enunciativos so tericos.
Medemsepelocritriodaveracidade,isto,podemserverdadeirosoufalsos.
Um juzo enunciativo verdadeiroquando h coincidncia entre o liame que
prende asidias no juzoeo queexiste entreas coisasoufatos aque elas se
referem, quando, na frase magistral de Joaqun Xirau (1895), o seu perfil se
calca sobre o perfil do ser. Se declaramos que A B, e de fato existir uma
ligao objetiva entre A e B, igual que afirmamos, temos um juzo
verdadeiro. Ele vincula, logicamente, idias de realidades, tambm
naturalmente vinculadas. H perfeita identidade entre a teoria do fato e ele
prprio. Falso um juzo equivocado, no qual se pretende estabelecer
logicamenterelaoinexistentenoplanodarealidade.
Os juzos verdadeiros dividemse em verdadeiros necessrios e
verdadeiroscontingentes,distinoequivalentequesefazentreverdadesde
razoeverdades defato,claramentefeita porGottfriedWilhelmvonLeibniz
(16461716), a qual, na observao de Manoel Garcia Morente (18881942),
resultadanecessidadedesedeterminaracurvageraldodesenvolvimentodas
ligaes existentes entre os vrios estados internos da percepo. H idias
ligadas entre si por necessidade lgica, de maneira que impossvel a sua
recprocadesvinculao.Quandooeloqueuneduasidiastemessanatureza,
ojuzo que indica arelaodescritivo necessrio. Ao dizermos que a linha
reta a distncia mais curta entre dois pontos, estamos fazendo uma
afirmativa que a razo asseveraser inconcebvelnegarem qualquersituao.
Se declaramos que duas coisas iguais a uma terceira tambm o so entre si,
afirmamosumaverdade derazo, porque estaevidenciaaimpossibilidade de
haver duas coisas que, sendo iguais a uma terceira, no o sejam entre si.
Nesses exemplos enunciamos juzos verdadeiros, descrevendo realidades tais
como so, e necessariamente verdadeiros, porque no podemos conceber
circunstncia, no tempo e no espao, capaz de desmentir a ligao lgica
estabelecidaentreasidiasnojuzo.
Um juzo verdadeiro contingente descreve uma realidade como ela se
apresenta, mas, sendo essa realidade suscetvel de transformaes (pode ter
sido uma ontem, pode ser outra hoje, poder amanh ser uma terceira), a
veracidade do juzo fica condicionada a uma certa circunstncia de tempo e
espao.Sedescritacomohoje,formulamosumjuzosecomoseramanh,
talvezformulemosoutrojuzo. Assim,emrefernciatemperaturaambiente,
se dizemosqueestquente,podemosterfeito umjuzo verdadeiro,pelo fato
deestarefetivamentequente.Se,horasdepois,aocalorsucederofrio,ojuzo
verdadeiro ser outro. Como o prprio objeto do juzo contingente, ele
vlidoparacadamomentodaexperincia.
Os juzos valorativos da conduta so prticos, porque servem
realizaodeumfim.Epostulativos,dadoqueenunciamexignciaspositivas
ounegativasdeprocedimento.
1.1.2.2Leinaturaleleitica
Os juzos enunciativos e valorativos conduzem aos conceitos de lei
naturaleleitica.Anaturalafrmulamaisevoludadoenunciativoatica,
amaisevoludadovalorativoprtico.
Segundo Emmanuel Kant, a filosofia tem esses dois objetos,
abrangendoambasas leis,emdoissistemasparticulares,aindaqueambicione
suasntesefinal.
Conquantonopossamosadmitirleinaturalsemjuzoenunciativo,nem
lei tica sem juzo valorativo, existe distino entre lei natural e juzo
enunciativo,leiticaejuzovalorativo.
Numa experincia, submetemos um pedao de metal ao do calor.
Verificamosqueometalsedilatou,edeclaramosqueometalX,submetidoao
calor,sedilatou. Esteum juzodescritivo verdadeiro.Pela multiplicao da
experincia e a anlise das suas condies passamos a uma lei geral: o calor
dilata os corpos. Quando alcanamos uma noo geral que explica toda a
experinciarealizadaepossvel,temosumaleinatural.
Se deixamos cair um objeto, constatamos que ele cai em direo
Terra.Pelomesmoprocesso,chegamosadeterminaraleida gravidade. Alei
natural a generalizao exemplar de um juzo enunciativo. Se no
pudssemos assim construir, adverte mile Meyerson (18591933), de nada
nosvaleriamasregrasqueformulssemossobreaexperinciadosfenmenos,
quesoinfinitamentediversos.
Surge, assim, o conceito abstrato de causa, pelo qual se estabelecem
relaes entre o passado e o presente, que so, a rigor, meramente provveis
devendo a lei natural desempenhar, como observa Jos Juan Bruera, uma
funo meramentesinticadas regularidades constatadas pela experincia, as
quais, embora praticamente equivalentes certeza, dela apenas so,
teoricamente, aproximativas.
Esta uma contingncia lgica do mtodo indutivo, que se eleva das
sensaes generalidade, ainda que adotado com as cautelas recomendadas
por Francis Bacon (15611626): elevarse lentamente, seguindo marcha
gradual,semsaltarnenhumdegrau.
Bertrand Russel (18721970) dnos uma clara idia dos princpios a
queessemtodoestsubmetido:
a) quando uma coisa de uma certa espcie, A, for achada com
freqncia associada com outra de espcie diversa, B, e nunca for achada
dissociadadacoisadaespcieB,quantomaiorsejaonmerodecasosemque
A e B se achem associados, maior ser a probabilidade de que se achem
associadosemumnovocasonoqualsaibamosqueumadelasestpresente
b) nas mesmas circunstncias, um nmero suficiente de casos de
associaoconverteraprobabilidadedanova associao emquasecertezae
farcomqueseaproximedeummodoindefinidodacerteza.
Ainda que o mesmo raciocnio no se possa aplicar lei tica (tanto
maisquearadicaldistinoentrenaturezaevalorjfoiantesressaltada),nem
por isso podemos ignorar a significao da experincia na orientao da
conduta. Vendo uma pessoa agredir outra, julgamos que no deve proceder
assim valorizamos uma situao, e, portanto, fazemos um juzo valorativo
(no deve ser), diante de um acontecimento humano, circunscrito a uma
experinciasingular.Atica,disciplinafilosfica,habilitanosaalcanaralei
tica,normadeconduta vlidaparaumauniversalidadedesituaes. Ojuzo
valorativo,feitoemfunodoincidentesingular,sgeraleiquandoconduza
regrasgeraiscompretensodevalidadeuniversal.ConsoanteensinaWilhelm
Dilthey (18331911), construmos generalizaes acerca de estados afetivos,
valores vitais, virtudes e deveres, e estes recebem por sua vez fora dos
sentimentoseimpulsosquesurgemdaimitaodoconcretonelescontidoedo
sentimentotranqiloqueasuasubordinaonosinfunde.
Os predicadosquedistinguem juzodescritivo e valorativo permitema
distinoentreleitica,comassuascaractersticasprprias,eleinatural,com
assuasqualificaesparticulares.
A lei natural um porqu explicativo da realidade, verdadeira ou
falsa,exatamenteporqueobinmioverdadeerroprevalecenomundoterico.
Se dizemos quequandoocorreAocorreB, essaafirmativa uma leinatural,
se assim acontecer no plano da realidade ao qual se refere. A lei natural
apresentaosfenmenos,dandolhesexplicaocoincidentecomasuaprpria
realidade intrnseca. Caso no coincidam explicao e realidade, estaremos
diante de uma lei falsa, porque todas as leis da natureza assentam no
pressuposto,quenocientfico,masfilosfico,dainvariabilidadedaordem
natural, a qual nos concede prever os fatos uns pelos outros, sem o que,
consoante afirma Henri Poincar (18541912), no se pode aceitar a
legalidade e a possibilidade mesma da cincia. Como explica David Hume
(17111776),todososraciocniosconcernentescausaeaoefeito,quesoos
cientficos, esto fundados na experincia e todos os raciocnios tirados da
experincia esto fundados na suposio de que o curso da natureza
continuarsendouniformementeomesmo.
A lei tica vlida ou invlida. No verdadeira ou falsa, porque, no
campo do comportamento, verdade e erro no tm presena, dado que
pertencemaoplanodasenunciaes.Umaleijustaouinjusta,fundamentada
ouarbitrria,eqitativaouviolenta.vlida,nestesentidofilosfico,quando
expressaumvalorautnticoelhefielinvlida,quandonotraduzumvalor
ouofazdemodoinadequado.
Uma lei natural presumidamente invarivel, no pode ser, em
nenhuma circunstncia, em nenhum momento, desmentida pela experincia.
Podemos acumular sculos de observao, concluir uma lei natural, mas se
uma experincia desmentila, passa a ser falsa. Terse constatado, ento, o
acertodaobservaodeAndrCresson,quandoafirmaqueumaleinaturalse
apoia em verificaes que so como zero em relao generalizao que se
lheatribui.
J com a lei tica acontece diversamente. S podemos aceitar a sua
existnciaseelaforsuscetveldeinfrao.Opressupostodequalquerumao
de que se dirige a pessoas livres. Quando se diz devese fazer assim, est
implicitamenteadmitidooutroprocedimento.
Entre lei natural e lei tica fez Hermann Ulrich Kantorowicz (1877
1940), um paralelo diferenciador de extrema clareza, ao afirmar que aquela
descreve invariveis relaes causais ou conexes estruturais (de fatos,
mudanas,quantidades,propriedades)impeobrigaes,nosobreaconduta
humana,mas,nocasodeveracidade,sobreaintelignciaconstituimatriade
cognio e prova, no de sanes, sim de conseqncias no de autoridade,
simdeexperincianodeconscincia,simdecincianodedeveres,simde
acontecimentosconstantes.Aleinaturalgiraemtornodoquereal,enquanto
queasnormasdecondutaprescrevemumcomportamentoquepodeserouno
real,masquedeveriaserreal.
1.2HOMEMEVALOR
Hvaloresdiversos. Segundooensinamentode Scheler,soabsolutos,
maneiras desentirquenodependemdasensibilidadeedavida,epodemser
classificadosnumaescalacrescentedeperfeio:
a) teis(utilidade)
b) vitais(nobreza,sade,fora)
c) espirituais(conhecimento,arte,direito)
d) religiosos(sagrado).
Acadavalorcorrespondeoseuoposto,umdesvalor.Assim,utilidade
corresponde a inutilidade, nobreza o comum, sade a doena, fora o
despauperamento,verdadeoerro,aobeloofeio,aolcitooilcito,aosagrado
oprofano.
1.2.1Atitudesanteosvalores
Diante dos valores, o homem assume atitudes diferentes. Uma delas
avalorativa a Segunda, valorativa a terceira, supravalorativa, e a ltima,
referencial.
Nossa atitude cega aos valores, de neutralidade e indiferena,
avalorativa.Senossituamosemposiodesensibilidadeaosvalores,esta,em
contraste com a precedente, valorativa. Entre essas posies extremas,
radicalmente opostas, h posies mistas, que participam das antecedentes.
Uma a referencial, na qual no nos encaminhamos diretamente para os
valores, mas nos conduzimos motivados por ele. A outra a de
transcendncia,desuperaodosvalores,asupravalorativa.
1.2.1.1Atitudeavalorativa
Podemos ver os objetos, insensveis aos valores, inclusive na presena
daqueles propcios a uma atitude valorativa. Diante de uma tela ou uma
escultura sentimos reao esttica. Esta reao valorativa, expressa uma
estimativasegundoovalordobelo.Entretanto,umespecialistaemdeterminar
autenticidade de pinturas, diante de um quadro, apenas analisa a tcnica do
pintornaaplicaodatinta,acomposioqumicadesta,aconstituiofsica
da tela, etc. Mesmo diante de uma obra de arte que a todos sensibiliza, lhe
cumprir sufocar a tendncia para valorizla e ficar indiferente aos seus
mritos estticos. Os prprios atos humanos so sujeitos considerao
avalorativa. O crime, por exemplo, que produz ressentimento coletivo, pode
ser friamente analisado por socilogos ou estatsticos, agindo indiferentes a
qualquer estimao. A posio avalorativa, indispensvel no estudo da
natureza, leva criao das cincias descritivas, ou na expresso de Claude
Bernard(18131878),cinciascontemplativas.
1.2.1.2Atitudevalorativa
Podemosnoscolocar,aocontrrio,numaposiovalorativa.
Nossa mente povoada de valores, que no so arbitrariamente
subjetivos, porque, se o fossem, cada um teria os seus prprios e, entretanto,
h valores comunsatodososhomens. No podemos definilos, porque a sua
essncia nos escapa. Mas donos eles emocionalmente. No entanto, a nossa
vida motivada por eles, sejam utilitrios, morais, jurdicos, religiosos,
estticos,etc. Tmolos, permanentemente, diante de ns,oquefaz da nossa
condutaumaescolhaconstantedepossibilidades.
Podemos nos desprender do mundo em sua pura manifestao
fenomnica, tentar ascender ao plano dos valores, saber o que so e
determinarlhesahierarquia.oquefazafilosofiados valores.Assimcomo
as cincias naturais so frutos da posio avalorativa, a filosofia dos valores
resultadaposio valorativa,eseencaminha,segundoCarlosAstrada,paraa
determinao de um possvel sentido da vida em funo do valor, da sua
vivnciaedasuarealizao.
As atitudes expostas so contrastantes. Numa, eliminamos a
sensibilidade para qualquer valor, porque nos interessa apenas ser igual ao
espelhoquereproduzaimagem.Nossametaveredescrever,semcogitao
de como poderia ou deveria ser. Noutra, nos desligamos da experincia
imediata,etentamosalcanarummundoidealqueaelasesobrepe.
Essas posies podem ser complementadas por mais duas: a
supravalorativaeareferencial.
1.2.1.3Atitudesupravalorativa
Asupravalorativatranscende,aomesmotempo,naturezaevalor,quese
mostram,s vezes,contraditrios.Eumdosdramashumanosexatamenteo
contraste entre o que e o que deve ser. Essa contradio no apenas da
conscincia individual, mas tambm da histria dos povos, e nos inspira a
tentativadesuperla,detranscendla,atumplanoemquearealidade seja
iguala valore viceversa. Ohomem anseiapor uma sntesenaqual selibere
dessa contradio que marca toda sua vida. Se a alcana, confessa, como
NicolasMalebranche(16381715):euconceboquetodos essesefeitos quese
contradizem,essasobrasque se embatem e se destroem,essas desordens que
desfiguram o Universo, que tudo isso no assinala nenhuma contradio na
causa que o governo, nenhum defeito na inteligncia, nenhuma impotncia,
senoumaperfeitauniformidade.
Essa tentativa de alcanar um estado espiritual em que ser e dever ser
coincidam,expressasenaposiosupravalorativa.Areligioprodutodesse
esforo.Deus,aomesmotempo,oqueeoquedeveser.Nele,existnciae
valor confundemse. Porque Nele, conforme William James (18421910), a
quemmileBoutroux(18451921)comparavaaBlaisePascal(16231662),o
crente continuase num. Eu mais vasto do qual se difundem experincias
liberatrias.
1.2.1.5Atitudereferencial
Finalmente,comopodemos versomenterealidade,somentevaloreno
ver realidade nem valor, tambm podemos adotar uma ltima posio, a
referencial, que ensaia estender uma ponte entre realidade e valor, como que
encaminhandoavidaparaaeternidade,naspalavrasdeWilhelmSauer(1879
1962).Nela,oqueohomemcrianovaloremsi,masrefernciaavalor.Ela
engendraacultura.
1.2.1.5Cultura
Cabeaquidarumconceitodecultura,oquenofcil,poissetratade
vocbulocujasignificao mltipla. Daremos uma idiaelementarque nos
bastafinalidadedestecaptulo,partindodadistinoentreculturaenatureza.
Anaturezanos dada mas o homem,comoente biolgico que no sebasta,
que se move para alm de si (Francisco Pontes de Miranda (18921979),
quebraaspedras parauslas lascadas,depois polidas,descobreofogo,faza
suahabitao,cultivao gado eas plantas e acabaconquistando oespao. Na
proporo em que progride, emancipase da natureza, da qual, segundo
Oswald Spengler (18801936), tornase cada vez mais inimigo. Ele implanta
nomundoalgoaindainexistente,equepassaaexistircomocriaosua,oque
PauloDouradodeGusmochamaoreinodasinterpretaes,dasdestinaes,
dos sentidos e dos significados. A isso chamamos, embora a idia seja
imperfeitaesuscetveldecorrigenda,cultura,que,nafrasedeMaxScheler,
antesdemaisnadaumprocessopeloqualohomemsefazhomem.
Aoenriqueceromundocomosseusprodutos,ohomemcriaemfuno
de fins, inspirado pela motivao de valores. Cria as obras de arte, inspirado
pelo belo o direito, pela justia, etc. Em si mesmo, o valor inatingvel se
atingido, deixaria de slo e passaria a realidade. A posio do homem,
portanto,comoserquecriacultura,aderefernciaeaproximaoavalores.
1.3DIREITOEJUSTIA
Distinguimos realidade de valor para observar que pertencem a
hemisfrios incomunicveis, a cada um dos quais corresponde uma atitude
humana. O direito no cabe ao plano da natureza. obra de cultura e,
portanto,criaovisandoavalores.
1.3.1 Valoresjurdicos
O valor inerente a qualquer norma. Quando pretendemos de uma
pessoa que se conduza de certo modo, sabendo que pode proceder de outro,
fazemoloemfunodeummotivo,queovalordapretenso.Seelegemos
uma, dentre vrias condutas possveis, fazemolo por julgla meritria. A
regra jurdica, como qualquer outra, dirigese a fins e s tem sentido quando
estes so considerados. Sendo tais fins histricos, os valores que lhes
correspondemsofremaseuturnopressessociais,geradaspeloinconscientee
vigoroso sentimento de unidade social a que se refere Alfred Adler (1870
1937).
Os fins almejados pelo direito so diversos: a ordem, a segurana, a
harmonia, a paz social, a justia. A eles correspondem outros tantos valores
jurdicos.Asnormasjurdicassepautamporeles,meiosquesopararealiz
los.
Esses valores apresentam, como os demais, uma hierarquia, embora,
no raro, sejamos obrigados a sacrificar um superior por outro inferior. O
valor jurdico mais alto, aquele que, por excelncia, torna legtima a
proposiojurdica,ajustia.
Embora sendo ela o mais alto, s vezes outros se lhe sobrepem. Em
poca de crise social, comumente sobrepujada pela segurana ou pela
ordem. Assim ocorre em perodo de guerra, quando se mutilam as garantias
individuais,embenefciodaseguranacoletiva.Emestadodenormalidade,o
direito tanto mais perfeito quanto mais refletir as exigncias humanas de
justia.
Para Carlos Cossio (1903), a revelao dos valores jurdicos resulta da
anlise do homem em suas trs dimenses existenciais: o mundo objetivo, a
pessoaeasociedade.coexistnciaenquantocircunstncia(mundoobjetivo)
correspondem os valores jurdicos da ordem e da segurana. coexistncia
enquanto pessoa, o poder e a paz. Por ltimo, coexistncia enquanto
sociedade,acooperao easolidariedade.Osvaloresjurdicosformampares
eemcadaumdesteshumvalorautonmicoeumvalorheteronmico,isto,
de expanso da personalidade e de restrio personalidade. So
autonmicos: a segurana, a paz e a solidariedade. So heteronmicos: a
ordem, o poder e a cooperao. Como os valores de autonomia so suportes
dosdeheteronomia,situamseaquelesemplanosuperioraestes.
justia, que sempre consideramos o valor jurdico por excelncia,
reservou Cossio sentido semelhante ao que tem na teoria platnica. No lhe
pertence umcontedoespecfico, sombra que de todososvaloresbilaterais
daconduta,aosquais dequilbrioeproporo,atuandocomocritrioparaa
suarealizaosimultneaeproporcional.
1.3.2TeoriadaJustia
No campo da filosofia jurdica, a teoria da justia uma imposio
lgica. Referindoselhe a regra de direito, como seu valor peculiar, ela
insuscetveldesercompreendida,interpretadaeaplicada,senoemreferncia
justia.
1.3.2.1Idiadajustia
Seindagamos,porm,oquejustia,logoveremosqueoseuentendimento
polmico. A pergunta uma s, mas as respostas so numerosas e
desencontradas, dando lugar a teorias filosficas e sociais e a ideologias
polticas, talvez porque o tema, como pensava Pascal, seja sutil demais para
serabordadoporinstrumentoshumanos.
No entanto, observa Lus Recasns Siches (1903), um levantamento
dessas teorias demonstra, por trs de sua aparente contradio, alguma
identidade.Asimilitudeestemqueanoodejustia vemsempreligada
de igualdade. O smbolo desse entrelaamento tambm o da justia: a
balanadepratosniveladosefielvertical.
Se recordarmos algumas definies doutrinrias, teremos confirmada a
observao.
1.3.2.1.1Plato
Plato(428347a.C.)meditousobreajustiacomovirtudeindividuale
como critrio de organizao social. O princpio comum a ambas, escreve
PaulNatorp(18541924),odaorganizao,segundooqualumapluralidade
de foras, acompanhadas de seus efeitos, encadeiamse, promovendose
mutuamente (e promovendo, portanto, sua obra comum), sem estorvarse em
nenhumponto.
Soboprimeiroaspecto,vianelaumaespciedevirtuderegente.Aalma
humanaabrigaumsemnmerodetendncias,desentimentos,deafeies,de
inclinaes, e solicitada pelos elementos diversos de que se compe.
justia caberia ordenar e unificar esse universo ntimo, dando harmonia s
suas partes. Tal como o maestro que tira dos instrumentos de uma orquestra
somharmoniosos,ajustiadariaaos elementosdaalmaasuaexatamedidae
os comporianumatranqilaunidade. No seidentificariaela,portanto,como
umavirtudeaoladodeoutras,mascoordenadoradetodas.
Sobre a justia social, entende Plato que definila somente se pode
quando se recorda a razo que leva o homem vida social: a existncia de
diversas necessidades e a descoberta da maneira pela qual podem ser
satisfeitas,medianteadivisodotrabalho.
Se uma pessoa atende, somente ela, a uma certa necessidade de todas,
das demais obtm a satisfao das suas prprias necessidades, para as quais
nadaproduz.Emconseqncia,umasociedade,pororigem,umareuniode
pessoas desiguais, o que assegura a solidariedade dos seus componentes e
resguarda a sua unidade. Proceder justamente desenvolver sua funo
prpria,qualdevemcorresponderasinatasaptideshumanas. Asociedade,
paraserjusta,devesituarcadahomemna suafunoadequada,condio da
suaperfeitaunidade.Asfunessociaiscorrespondems faculdades daalma
individual. Por isso, reduzemse essencialmente a trs: a produo, realizada
pelos trabalhadores, equivalente ao desejo elementar de alimentao, cuja
virtude, para quem a realiza, a temperana a defesa, desempenhada pelos
soldados, cuja virtude a coragem e o governo, que corresponde
inteligncia reflexiva, e exige de quem o exerce uma virtude prpria, a
prudncia.
justaumasociedadenaqualcadaindivduofazoquelheprprio.
1.3.1.2Aristteles
Aristteles (384322 a.C.) foi o primeiro filsofo a desenvolver
exaustivamenteotema,sendoconsideradooverdadeirofundadordateoriada
justia,detalmaneiraqueosestudosposteriores,inclusiveosmodernos,aele
sereportamcomosuaprimeirafonte.
Tambm Aristteles considerou a justia em seu duplo papel, como
virtudedo indivduoecritriodeordemsocial,semlheemprestar,porm,no
primeiro, a superior posio que lhe conferia Plato, para situla como
virtude a par de outras. Formulou, dirseia que com perfeita atualidade, a
observao de que a justia no pode ser atuante sobre toda a alma porque
tutelaapenasasrelaesdosindivduosentresi.
Decalcado na realidade institucional do seu tempo, indicoulhe as
finalidadesprprias:
a) distribuiodehonrariaseriquezaspelosindivduos
b) garantiasdoscontratose
c) proteocontraoarbtrioeaviolncia.
Caberiaaprimeiratarefajustiadistributivaeasduasltimasjustia
comutativa.Emborasemoutraafinidadeentresi,emtodasessasmodalidades
de justiaassinalava Aristteles umtrao comum:a igualdade. Afirmarseia
esta,emrelaojustiadistributiva,sob aformadeproporcionalidade,dado
que asbenessessociaisdeveriamser distribudas segundoos mritos deseus
destinatrios. E o princpio da igualdade aritmtica inspiraria as duas
subdivisesdajustiacomutativa,cabendoaosmagistrados,emrelaoaelas,
restabelecersempreaigualdadeemfavordolesado.
1.3.2.1.3Ulpiano
Os latinos deixaram algumas, ainda que imprecisas, definies de
justia.Nemsepoderiadiversamenteadmitir,dadoqueagranderealizaoda
civilizao romana foi o direito que est para ela como a filosofia e as artes
estoparaacivilizaogrega.
Umadas definies maisconhecidasadeDomicio Ulpiano(170228
a.C.),consoanteaqualajustiaconsisteemdaracadaumoquelhedevido.
1.3.2.1.4TomsdeAquino
Toms de Aquino (12251274) estuda o direito como objeto particular
de uma virtude especfica, a justia, no podendo ambos ser compreendidos
seno como pertinentes condio social do homem. Considera prprio da
justiaordenar o homemem suas relaescomosdemais, posto que implica
certa igualdade e a define como tendo por contedo dar a cada um o que
seu,isto,oquelheestsubordinadoouestestabelecidoparasuautilidade.
Nosesatisfaz,conformeexplicaEtienneGilson(1884),semqueseassegure
orespeitoigualdadeentrepessoasdiferentes,interessadasnummesmoato.
Distingue a justia de todas as demais virtudes porque, enquanto estas
se voltam diretamente para o agente do ato, exigindo a pureza de intenes,
aquelaresidenaadequaodoatopraticadocomummodeloextrinsecamente
dadodeantemo.
Inspiradoem Aristteles,divideajustiaem:legal(colaboraoparao
bemcomum),comutativa(relaesentreosindivduos)edistributiva(partilha
deencargosebenefciospblicosentreosindivduos).
1.3.2.1.5Spencer
Herbert Spencer (18201903), observando que na idia de justia duas
outras se inserem, uma de afirmao e outra de restrio liberdade
individual, a primeira positiva e a Segunda negativa, comenta que aquela
conduz desigualdade em funo dos resultados a que podem chegar os
indivduos pela aplicao das suas diferentes possibilidades realizao dos
prprios fins, enquanto que a Segunda, limitativa dos inevitveis conflitos a
queaprticadaliberdadeconduz,levaaopensamentodequetodasasesferas
de aes se limitam uma s outras, o que implica uma concepo de
igualdade.
1.3.2.1.6Stammler
Segundo Rudolf Stammler(18561938), o contedodeuma normajurdica
justo quando ela, em sua peculiar posio, concorda com o ideal social. Por
difcilquesejadefinirestepadro,Stammlerjulgouencontrlonomodelode
uma comunidade de homens de vontade livre, coexistindo, assim, em
condiesdeperfeitaharmoniaeespontaneidade.
1.3.2.2Comentriocrtico
Emboradiversas,asteoriassobreaconcepodejustiaapresentamum
trao comum. Em todas elasexiste uma referncia direta ou implcita idia
matemtica da igualdade. Tpica a noo de Kantorowicz, quando ensina
que a essncia da justia est em tratar o que igual como igual. Ou a de
Lester Frank Ward (18411913), quando afirma que a justia consiste na
imposio artificial, pela sociedade, de uma igualdade em condies que so
naturalmente desiguais. Ainda a de Friedrich Nietzche (18441900),
invocando Tucdides(471395 a. C), quando afirmava que a justiasempre
uma compensao e uma troca entre poderes opostos mais ou menos iguais.
Tambm a sempre lembrada definio de Dante Alighieri (12651321), para
quem o Direito seria a proporo real e pessoal de homem para homem que,
conservada, conserva a sociedade e que, destruda, a destri. O prprio Hans
Kelsen(18811973),emcujadoutrinaotemanotemacolhida,entendeque
oprincpiodajustia,referidoaumaordemsocial,nosenooequivalente
dos princpios lgicos da identidade e da contradio, sensvel, assim,
evidncia dessa constante de todas as definies. Seja ela equilbrio,
proporcionalidade ou harmonia, mas qualquer dessas noes nos leva,
inevitavelmente,deigualdade.
Agora perguntamos: essas teorias satisfazem as nossas necessidades
tericas de formulao do princpio da justia? No. Ao invs de eliminar
problemas,adverteSiches,suscitamoutros.
Se a justia fosse a prpria igualdade, numa relao de troca, perfeita
seria aquela em que duas pessoas reciprocassem objetos idnticos. Se tenho
umquilodetrigoatrocar,anicamaneiraderecebercoisaexatamenteigual
receber outro quilo de trigo. Da se v que a compreenso da justia como
frmula igualitria de compensar o homem em suas relaes recprocas nada
significa, porque, sempre que mutuamos alguma coisa, por algo distinto,
absurdoquepermutarcoisasiguais.
Se eu quiser trocar o trigo por outra mercadoria, como no podemos
compararcoisasheterogneas,fazsenecessrioestabelecerumterceirovalor,
que,nocaso,opreo.Permutooquilodetrigoporumacertaquantidadede
moedaquemehabilitaafazerumaaquisioconformeaminhaconvenincia.
Na comparao, e hipoteticamente, com o dinheiro da transao, fico em
condiesdecomprardoisquilos demilho.Nosendopossvelrealizaressas
trocasdiretamente,tenhoquefazerrefernciaaumvalor,queoeconmico.
Aindaassimsurgemoutros problemas. Por que, vendendoum quilo de
trigo, no posso, com o produto, comprar um de ouro? A resposta seria que
trigo e ouro no se eqivalem, quando referidos ao terceiro elemento da
transao(ovalor),queatuacomodeterminantedospreos.
Mas isso importa reconhecer que o conceito de justia, representando
igualdade, formal, esquemtico, no bastando dizer que os homens devem
ser dispostos igualitariamente numa sociedade ou que os seus interesses
devemsercompostosdeacordocomumprincpiodeigualdade,paraalcanar
aidiaquelhecorresponde.
Humsculoatrs,nos termosdaquelafrmula,poderamosdizerque
a igualdade estaria em consentir aos homens massacraremse mutuamente a
fimdequeosmaiscapacitadossobrevivessememmelhorescondies.Alivre
concorrnciaexpressaum esquema de igualdadedecondies paratodos, no
qualJeanJacquesRousseau(17121778)viraaprpriajustia:oshomensso
iguais, as leis so iguais para todos, deixemolos disputar segundo suas
pretenses. No entanto, numa sociedade moderna, esse esquema produziria
flagranteinjustia.
Significativasdessaproblemticadajustiasoashiptesesconcebidas
por Edgar Bodenheimer (1907). Se todos os membros de uma coletividade,
observa, ou mesmo a sua maioria, estiverem reduzidos ao mesmo estado de
escravido ou de opresso, no h razo para admitirse que a justia tenha
sido alcanada graas a uma simples igualdade de tratamento. Se criminosos
que tenham cometido iguais delitos de pouca gravidade forem todos
condenados pena de morte ou de priso perptua, o simples fato de
igualdadedasuapunionosatisfazjustia.
Ateoriadajustia,repetese,noesgotaainvestigaosobreosvalores
daregrajurdica.umdegrauapartirdoqualbuscamos,noimportasobque
denominao, outra escala de valores, que do substncia ao conceito
meramenteformal de justia. Entendemos que esta,comoexigncia humana,
no somente idia, mas tambm ideal. A idia essa mesma que
assinalamos atravs da histria da filosofia do direito. a regra que nos
orienta em sociedade, visando a obter uma satisfao equilibrada dos
interesses humanos. , entretanto, vazia de autntica significao, nada mais
nada menos que uma equao algbrica (Leon Grinberg), porque, longe de
exaurir a problemtica tica ligada a uma ordem social, apenas abre
oportunidade para estudla num plano superior, onde procuramos valores
capazesdeproporcionarcontedoesentidoqueleconceito.
Essesvaloresnopertencemaoplanodafilosofia,masaodahistria,o
queafinacomoensinamentodeGeorgesGurvitch(1894),consoanteoquala
justiaetodososvaloresjurdicossooselementosmaisvariveisentretodas
asmanifestaesdoesprito,porquevariamsimultaneamente,emfuno:
a) dasvariaesdaexperinciadosvalores
b) das variaes na experincia das idias lgicas e das representaes
intelectuais
c) das variaes nas relaes recprocas entre a experincia volitiva
emocionaleaexperinciaintelectuale
d) das variaes na relao entre a experincia dos dados espirituais e a
prpriaexperincia.
Explicase,assim,queoconceitodejustiasetenhaconservadoestvel
na filosofia, enquanto o ideal humano que lhe corresponde tanto se tenha
alterado.
1.3.3Formasdejustia
Ajustiaapresentasedebaixodetrsformasecadaumadelasjustifica
uma posio prpria no seu estudo. Vrias definies de justia podem
divergir entre si, e, sem embargo disso, so aceitas, desde que se refiram
justiasobformasdiferentes.
Astrsformasso:asubjetiva,aobjetivaeaideal.Nasubjetiva,uma
virtude. A expresso subjetiva, usada na sua significao verdadeira, quer
dizer relativa ao sujeito. Tratase, pois, de justia como uma virtude do
sujeito. No caso, evidentemente, o homem, porque s h justia nas relaes
humanas. Quando dizemos de algum que justo, empregamos o vocbulo
justo no sentido subjetivo, expressando que a pessoa tem uma virtude, a
justia.NadefiniodeUlpiano,ajustiaconsistenadisposiodedaracada
qualoqueseu.DemodoidnticonadeMarcoTlioCcero(10643a.C.)
tribueresuumcuique.Emambasajustiavistanoseucartersubjetivo.
Masajustia,porexcelncia,valordeumaordemsocial.Significando
critrio debaixo do qual uma sociedade est estruturada, a justia, no seu
aspecto objetivo, exteriorizase em normas. Sob tal modalidade que a sua
noomaisseaproximadadedireito.Direitotentativadeafirmaoobjetiva
da justia, definida em regras compulsrias de conduta. Quando Scrates
(469399 a.C.), condenado morte, recusou a fuga, considerando o respeito
quedeviajustiadasuasociedade,aestasereferianoseusentidoobjetivo.
Quandocumprimos umdeverem submisso justiadanossasociedade,ou
acatamos uma norma em obedincia justia do nosso grupo, justia
aludimosnomesmosentido.
Finalmente, a justia valor. Sendo todo valor transcendente, ela
tambmo.Sobtalfeio,permitenosacrticadaordemsocial,essamesma
que se nos apresenta como justia objetiva, e por isso nos obriga a praticar
certos atos e nos abster de outros. Isso nos permite sentila como valor
afirmado e como valor contestado. Podemos dizer, por exemplo, que uma
sociedade injusta e que outra justa, que uma imposio leal justa e que
outrainjusta. Ajustia,traduzindovalor,referidaaumordenamentosocial,
autorizanosajulgardasualegitimidadeouilegitimidade.
1.3.4Modalidadesdajustia
So duas as modalidades da justia: geral e particular. A geral
converge para o interesse da comunidade. A particular pertinente
consideraodosinteressesindividuais.
Ajustiageralpretendeobemcomum.Pararealizloprescrevequeo
indivduo, como parte de uma sociedade, contribua com algo para a
sobrevivncia e o desenvolvimento dela. Fixa os deveres de cada um com
relaosociedadeemque vive,eserealizaquandoexigedosindivduos de
maneiraigualeeqitativa.
Asociedadequeexigissedeseusmembrosumaquantiafixaattulode
impostoseriainjusta,porquetantooricocomoopobreestariamcontribuindo
com importncia igual. E injusto seria tambm se o que exigisse no
destinasseaobemcomum,masaodeumaminoria.
Ajustiaparticular,emborasobumaspectotraduzaoexercciodeuma
funosocial,sensvelsmotivaesesnecessidadesparticulares.
Divideseemjustiacomutativaedistributiva.
A comutativa rege as relaes de troca. Dela a expresso mais fiel
exatamente a igualdade. Se alugo uma casa, estou trocando o seu uso pelo
dinheirodoaluguel.Sevendoumobjeto,trocoopelodinheirodocomprador.
Sempre que damos alguma coisa para receber outra, a situao regida pela
justia particular comutativa, cujo enunciado : aquele que d algo a outrem
deve receber, em compensao, valor apropriado ao que deu. Se h
correspondncia entre os valores permutados, sejam mercadorias, servios,
etc.,atransaojusta.
A justia particular distributiva, embora visando ao interesse do
indivduo, corresponde a uma funo social. Toda sociedade, pelo fato de
impor limitaes aos indivduos, tornase depositria de valores, riquezas,
utilidadesevantagens,queredistribuipelosseusmembros.Ajustiaquedeve
presidir a essa atividade a distributiva. O seu critrio o da eqidade e do
mrito,noodaigualdade.
1.3.5Direitopblicoedireitoprivado
As modalidades de justia, a geral e a particular, a ltima nas suas
submodalidades, comutativa e distributiva, do margem a que possamos
perceberqueasregrasjurdicas,quesooudevemsermanifestaessensveis
da justia, podem ser distribudas emdois grandes setores: normas de direito
pblico e normas de direito privado. As de direito pblico correspondem
justiageraleparticulardistributiva,easdedireitoprivadocomutativa.
2.DadosSociolgicos
2.1FATOSOCIAL
Estudaremosofatosocialemtrspartes.Naprimeiradeterminaremosa
noo estrita da significao de social. Na Segunda, apresentaremos o seu
conceito.Naterceira,analisaremosasuanatureza,considerandoadiversidade
doutrinriasobreamatria.
2.1.1Noodesocial
Fatosocialum fato humano, ao qual qualificamosdesocial, tema de
umacinciaprpria,asociologia.O vocbulosocialperfeitamentedistinto
do vocbulo plural. necessrio que pluralidade se acrescente algo mais
paraquesejaconsideradamanifestaosocial.
de rejeitar, portanto, qualquer tendncia espria, j antes
eventualmente manifestada no decurso da histria da sociologia, tendente a
ver o social como uma categoria do ser, presente em qualquer realidade,
desdeaintraatmicaatadossistemasestelares.
O fenmeno social conduta. Conduzirse implica uma atitude. Ora,
somente osseres dotadosdepsiquismotmcomportamento. Onde noexiste
psiquismonohconduta.Logo,fatosocialigualafatosocialhumano.
Asociologiaumacinciadohomem,investigaprocessoshumanosde
convivncia. As prprias supostas sociedades animais, algumas apresentando
formasdefinidasdecoexistncia,nopodemserincludasnoseucampo,nem
mesmoemreasperifricas,porqueosanimaisapenascoexistem,oqueum
fato biolgico. Henri Bergson (18591941), a cuja obra Edourard le Royu
empresta importncia igual de Kant, escreve que, quando ns vemos as
abelhas de uma colmia formarem um sistema to estreitamente organizado
que nenhum dos indivduos pode viver isolado alm de um certo tempo,
mesmo se lhe fornecermos alimentao e alojamento, temos de reconhecer
que uma colmia, realmente, no metaforicamente, umorganismonicodo
qual cada abelha uma clula unida a outras por laos invisveis. O instinto
queanimaaabelhaconfundesecomafoadequeaclulaanimada.Logo,
oestudode taissociedades incumbe Biologia,queseocupadosfenmenos
davida,emtodasassuasmodalidadesesobtodososseusaspectos.
A sociologia, diversamente, se dedica a uma ordem de fenmenos aos
quaissaconvivnciahumanadorigem.
Num mundo sem humanidade no haveria sociologia, porque no
existiriaambientesocial,emcujo interiorocorremosacontecimentosquelhe
so prprios. A sociologia estuda as maneiras de comportamento do homem
numdeterminadomeioesuasdiferentesmodalidadesdeadaptao.
2.1.2Conceitodefatosocial
O homem habita em duas ambincias: uma natural e outra social.
Natureza e sociedade so climas em que vive. Caracterstica da vida
manifestarse como processo de adaptao. O homem se adapta ao meio
natural, atravs de mecanismos fisiolgicos e recursos tcnicos, e ao social,
porprocessoschamadossociais,quesedesenvolvembasedeinterao.
Vivendo em grupo, ns interatuamos, isto , cada um de ns exerce
sobreosoutrosumainflunciae,namesmamedida,arecebedosoutros.Esta
influnciarecprocadosindivduosqueconvivemainterao.Estasignifica,
antes de mais nada, qualquer alterao no comportamento de duas pessoas,
umadiantedaoutra.Porisso,dizsequeainteraoocorrespondentesocial
daaorecprocadaFsica.
Fundamentalnesseprocessodeinterao a linguagem,porque, como
proclama mile Gouiran,a sociedadeum fato cujas causas,nem porserem
mltiplas, deixam de se reduzir a uma s: a necessidade para o homem de
existir pensando e a impossibilidade de pensar sem uma palavra que lhe
responda.Asociedade ,assim,essencialmente,alinguagemdohomem,pois
ondeo homem se expressa h sociedadeenem seexpressaele seno porque
hsociedade.
Para sua acomodao ao meio natural o indivduo modificase para
obedeclo,ouomodifica,valendosedastcnicas.Igualmente,suaadaptao
ao meio social, ou a outro indivduo tem duplo sentido: corrente que vai,
correntequevem,emalternativasdeinflunciasubordinanteesubordinada.
A interao o suporte ftico de toda a realidade social. Sem ela, no
existiriafatosocial. No se deduza daque basta quehajainterao para que
se produza um fato social. A prpria irradiante interao existente nas
multides no cria seno estados de esprito intensos, mas momentneos,
conforme Gustave Le Bom (18411931). Para que a interao ultrapasse o
recinto da mera realidade psicolgica interindividual, dando lugar a um
fenmeno sinttico novo, o social, necessrio que, falta de melhor
expresso, diramos, atinja um certo nvel de densidade. Assim, o fato social
apresentacaractersticasquebemodistinguemdopsicolgico:
a) generalidade(comumaosindivduos)
b) coero(traduzumapressodogruposobreoindivduo)
c) repercusso (a qual se processa independentemente das intenes
individuais)
d) transcendncia (no sentido de que se situa fora e acima da ao dos
indivduos).
2.1.3Grupossociais
Osgrupossociaissosistemasmaisoumenospermanentesdeinterao
cooperativa.
Numa famlia, pais, filhos, irmos, parentes que vivem em comum, h
interao. Num grupo de trabalho, as pessoas organizadas para uma tarefa
interatuam.Umacomunidadeuniversitriaformaumsistema,mais ou menos
fechado, de interao,noqualencontramos sistemas menores, sries, turmas,
classes, pequenos grupos cujos componentes levam uma vida mais comum.
Teremos grupos menoresdentro de outrosmaiores, que estaro dentrodeum
ainda maior.Cadaumdelesformacomoqueumaconstelaode influncias,
porqueumsistemadeinteraes.
Oindivduonoestvinculadoaumsgrupo.Temasuafamlia,asua
igreja,oseupartido,oseuclube.Eleocupa,assim,aomesmotempo,distintas
posies emdiferentes sistemas. Noapresenafsicadoindivduo qued
aosistemaasuaautonomia.
O grupo social, como sistema de interao, uma entidade abstrata,
porque intangvel na sua essncia. Numa escola, acabada a aula, cada
estudante volta sua casa,epassaa estarisoladodos colegas. No entanto,o
grupo subsiste. Num quadro de futebol, finda a concentrao ou o jogo,
aconteceomesmo.Cadamembroregressasuacasa,masseugruposubsiste.
O grupo existe desde que uma parcela de comportamento do indivduo
seja ditada por ele. O estudante que, em casa, dedicase aos seus deveres
escolares, est procedendo de acordo com uma exigncia de seu grupo. Se
deixa de ir a uma festa ou dela sai mais cedo, para no perder a aula do dia
seguinte, o mesmo acontece. Desde que vrias pessoas, em carter
permanente,dediquempartedesuacondutaaumgrupo,esteexisteesubsiste,
mesmoquandoseusintegrantesnoestocontactando.
exatamente porque mister no se faz que a conduta individual seja
consagrada exclusivamente a um grupo, que o indivduo pode participar de
vrios e, assim, pertencer a diferentes sistemas de interao, uma vez que
colaborecomtodos.
2.1.4Formas,processoserelaes
Os grupos sociais ordenamse de formas diferentes. Diversos so os
seus procedimentos de manuteno e alterao. E mantm intercmbio uns
com outros. Por isso, podem ser considerados quanto sua organizao, aos
seus processos de manuteno e de transformao e s suas relaes com
outrosgrupos.
Aorganizaodosgruposvariada.Umgrupodepresidirios,sujeitoa
umargidadisciplina,noestorganizadodemaneiraidnticaaumclubeoua
uma universidade. A famlia no est organizada, em toda parte, da mesma
maneira,enemoestevedemodoigualemtodosostempos.
Relativamente aos processos de conservao e alterao, devemos
salientar que a vida social essencialmente dinmica e que os grupos
representam sistemas de foras em tenso. Em cada grupo h dois processos
fundamentais: um, de conservao, sem o qual ele pereceria outro, de
transformao, sem o qual se anquilosaria. Esses processos, a seu turno, se
diferenciam em sua significao especfica: religiosa, ticos, estticos,
gnoseolgicos,polticoseeconmicos.
Finalmente, os grupos sociais entram em contato uns com os outros, o
quedorigemafenmenossociaisdeumaclassepeculiar.
2.1.5Temasdasociologia
Comoosgrupossociaispodemserapreciadossobessestrsaspectos,a
sociologia,cinciaqueosestuda,temessetrpliceobjeto.
E. em relao a ele, segundo o ensinamento de Leopold von Wiese
(1876),procedesemprenumritmopendularentrearealidadeeaabstrao:1.
Abstraiosocialinterhumanodorestopertencentevidahumana2.Constata
os efeitos do social e do modo como se produzem 3. Restitui o social ao
conjuntodavidahumanaparafazercompreensveissuasrelaescomela.
2.1.6Caractersticasdosgrupos
So caractersticas essenciais dos grupos sociais: cooperao e
participaoharmnica.
A primeira caracterstica mais evidente. Vida social vida
cooperativa,deassociao, deconjugao deesforos. Onde o indivduo no
colabora, no existe vida social, ipso facto, grupo social. A cooperao se
apresenta numa faixa extensa de gradao. Pode ser mnima ou mxima. Se
algumdamximacooperaoacertogruposocial,afastasedosdemais,e
pertence somentequele. Diminuindo, entretanto, a cooperao do indivduo,
aumentaasuapossibilidadedefazerpartedeoutrosgrupos,doandoacadaum
delesparceladasuadedicao.
Uma equipe de futebol, jogando num campo, exemplifica de forma
exata a cooperao como qualidade grupal. Todos cooperam, indivduo para
indivduo, em busca do mesmo fim. Inconscientemente, tambm, esto
cooperando num grupo mais amplo. Cada equipe visa a ultrapassar a
adversria, mas, se algum tentar interromper a competio, as equipes
passam a cooperar para evitar a intromisso. que elas formam um grupo
maior, tanto que, atingidas por uma afronta comum, reagem como conjunto,
deixamdeserduasequipesdistintas,apenasumasreagindocontraointruso.
E, assim,por queelasacatamregras iguais de procedimento,formando outra
unidademaior,composioprpriadiantedeterceiros.
A segunda caracterstica, mais ntida para definir o contorno de um
gruposocial, o senso de participaoharmnica, isto, osentiradiferena
entrepertencerenopertenceraumcertogrupo.Saspessoaspertencentesa
um grupo tm direitos e deveres, relativamente a ele. Esta conscincia de
privilgios, regalias, vantagens, direitos e encargos separa os integrantes de
umgrupodosqueaelenopertencem.
Autores h que citam caractersticas mais numerosas: pluralidade de
indivduos, objetivos comuns, interao mental, relativa durabilidade, certa
organizaoesentimentodeautonomia.Cremos,porm,todosessesatributos
contidos, embora alguns implicitamente, naqueles que citamos, segundo a
liodeH.M.Johnson.
2.1.7Naturezadofatosocial
Hoje a Sociologia no se preocupa com a pergunta metafsica sobre o
que sociedade. Nem outras cincias tm mais a mesma veleidade. A
Psicologianoindagamaisoqueaalma,nemaFsicaperguntamaisoque
matria. A Sociologia, como qualquer cincia, observao de fenmenos
paraasua compreenso. O interesse do temaestapenas emque elepermite
umasucintavisodahistriadaSociologia.
Situemosoproblema.
Observamos, entreos homensdeterminadosfenmenos quechamamos
sociais. S existem quando esto agrupados, no podendo ser explicados
apenasemfunoderealidadesinerentesaoindivduo.Daapergunta:qual
asuanatureza?
Podemosdeterminar,arespeito,quatroposiesprincipais:ofisicismo,
obiologismo,opsicologismoeosociologismo.
Ofisicismoaexplicaodofatosocialcomovariantedomecnico.O
biologismoasuaexplicaocomomodalidadedobiolgico.Opsicologismo
a sua explicao como maneira de ser do fenmeno psquico. O
sociologismo , finalmente, a tendncia para a explicao do fato social por
elemesmo,nocomoepifenmenodeoutroquelhesejasubjacente.
Explicado o fato social como mecnico, no existir, a rigor,
Sociologia,masumamecnicasocial.Seoexplicamoscomofatobiolgico,a
Sociologia ser apenas o ltimo e mais avanado captulo da Biologia. Se
dizemos que o fato social manifestao de fenmeno mental, tambm no
haverumaSociologia,masumaPsicologiasocial.Serprecisoafirmarqueo
fatosocialno modalidade deoutro,queconstituiumarealidade irredutvel
aqualqueroutra,paraquepossamosterumacinciapeculiardeseuestudo,a
Sociologia.
A Sociologia uma cincia recente, cujo batismo ocorreu no sculo
XIX,comopositivismo,filosofiadeAugusteComte(17981857),oprimeiro
areconhecerlhe autonomia, incluindoa na suafamosaclassificao, naqual
distribuaascinciasemordemdecrescentedesuageneralidadeecrescenteda
sua complexidade. Essa classificao partia da cincia mais ampla e mais
simples, a Matemtica, at atingir, no seu termo, uma cincia nova, mais
complexaemaisrestrita,aSociologia.
Ingressando a Sociologia entre as cincias, surgiram debates sobre a
natureza do fato social, caracterizados pela pretenso de expliclo como
variante de outros, j estudados. Ocorreu com ela o que se passa com toda
cincianefita:enfrentaraconcorrnciadecinciasmais amadurecidas,mais
desenvolvidas, tradicionais, que pretendem chamar a sia explicao do novo
fato observado, negandolhe a autonomia, caracterstica essencial para ser
objetodeumacinciaprpria.
2.1.7.1Fisicismo
Sob a rubrica de fisicistas devem ser citados aqueles que, participando
de um momento de extraordinrio prestgio da Fsica, cincia que ento
parecia a chave para o conhecimento completo da realidade, pretenderam
deslocar os seus mtodos para o estudo das manifestaes de vida social. Os
grupos sociais seriam considerados semelhana de corpos, e os processos
sociais entendidos tal como se interpreta a atuao de foras mecnicas.
Wilhelm Ostwald (18531932) o mais destacado representante do
movimento.
2.1.7.2Biologismo
O biologismo, posio, entre outros, de Spencer, Pavel Federovich
Lilienfeld (18291903) e Ren Worms (18671926), correspondeu a um
perododeeuforiadaBiologia.
At certa poca, o fato vital, objeto dessa cincia no havia sido
caracterizado na sua perfeita autonomia, diante dos fenmenos fsicos e
qumicos. Considerava Ren Descartes (15961650), um dos filsofos que
inauguraram a Idade Moderna da filosofia, os seres vivos em tudo iguais a
mecanismos,esuasfunesresultantesexclusivamentedadisposiodeseus
rgos, semelhana do que ocorre nos movimentos de um relgio. Assim
pensando, observa Marx Frischeisen Kohler, aproximavase ele da idia de
umaderivaohistricadosorganismos,partindodanaturezainanimada.
Avanando paulatinamente, realizando uma revoluo que E. Boinet
compara de AntoineLaurent Lavoisier (17431794) no estudo dos corpos
inorgnicos, a biologia foi repudiando tais noes, at que MarieFranois
Bichat (17711802) trouxe uma contribuio decisiva para a sua plena
autonomia,aoafirmarqueofatovitalerainteiramentediversodosfenmenos
fsicos e qumicos que se passam no corpo, tese que ainda repercute nas
doutrinas contemporneas de Elsasser e Planyi. No somente diverso, mais
exatamenteopostoqueles.Deonderesultouasuadefinio,segundoaqual
avidaumconjuntodefunesqueresistemmorte.Avidaseriaumestado
depermanenteluta,dequeocorposeriacenrio,entreaspropriedadesfsicas
e qumicas da matria, de um lado, e, de outro, suas propriedades vitais. As
doenas seriam momentos de crise nessa luta pela sobrevivncia das
propriedadesvitais,cujaderrotafinalestarianamorte.
Bichat precisou a noo de organismo, como um conjunto sui generis,
caracterizado pela recproca dependncia entre o todo e as partes. E foi
exatamenteoconceitodeorganismoquepareceu,emcertomomento,sedutor
demais, a ponto de justificar a sua ampliao ao campo de outras cincias,
entre estas a sociologia. A sociedade poderia, ento, ser comparada a um
organismo vivo, precisamente porque, nela, tal como sucede neste, o todo
depende de cada uma das suas partes e estas daquele. Assim, os mtodos da
biologia poderiam ser legitimamente aplicados ao estudo dos fatos e das
instituiessociais.
Os partidrios da escola organicista, conforme observa Antonio
Dellepiane, bifurcamse: uns identificam a sociedade a um organismo vivo
(Lilienfeld, Jacob Novicow (18491912), Worms) e outros estabelecem uma
analogia mais formal do que substancial entre ambos (Albert E. Friedrich
Schafle(18311903),Spencer).
Spencer, ambicionando uma sntese global da realidade, via no
Universo uma estrutura em forma de pirmide, construda por um incessante
processo de evoluo,em cuja baseestaria o mundo inanimado (inorgnico),
logo em cima o mundo animado (orgnico) e no topo o mundo social
(superorgnico). As sociedades seriam, ento, verdadeiros superorganismos,
cuja estrutura se determinaria em funo da estatura, da fora, dos meios de
defesa,dognerodealimentao,dadistribuiodosalimentosedomodode
propagao, relativamente a cada espcie. semelhana dos organismos,
teriam rgos, sistemas, funes, nasceriam, cresceriam, envelheceriam e
morreriam.
Naescolabiologistasituaseochamadodarwinismosocial,fundadona
tesedeCharles Darwin(17311802),segundoaqualcadaorganismomantm
seu lugar por uma luta peridica, o que lhe parecia indubitvel em face da
circunstncia de se multiplicarem todos os seres em progresso geomtrica,
enquantoque,emmdia,permaneceototaldasubsistnciadoqueresultariaa
explicao da evoluo social por esse processo competitivo espontneo. O
erro maior da doutrina, consoante observa Marcel Prenant, foi exatamente o
de referir sociedade humana a falsa lei de Thomas Robert Malthus (1766
1834)comosefosseumaleiuniversaldavida,quandonada maistraduziado
queconstataesfeitasnasociedadeburguesadaInglaterra.
A tese organicista, que a mais representativa da corrente biologista,
conduziuacomparaespitorescas,noesforodeseustericosdeconfirmara
pretendida semelhana. As funes de governo corresponderiam s funes
nervosas, a produo seria o equivalente da nutrio, os transportes, da
circulao,etc.,etc.
2.1.7.3Psicologismo
Mais tarde, o psicologismo assumiu atitude de contestao s doutrinas
anteriores.
Foi seu fundador Gabriel Tarde (18431904) que, escreve Fernando de
Azevedo (18941974), conseguiu, numa luta de 20 anos contra todas as
formas de biologismo, desprender da Biologia a nova cincia, mas para
subordinlaaoutra:aPsicologia.
Ensinava ele que um fenmeno somente pode ser objeto de
conhecimento cientfico se ele se repete. Assim, por exemplo, acontece na
Fsica, com as vibraes que se sucedem, e na Biologia, com a
hereditariedade.
Os fatos sociais, no seu entender, podem ser reduzidos a um s, de
ndole individual, a imitao. Por esta, um sentimento, uma idia, um gesto,
transmitese de uma pessoa a outra. O ponto de partida da imitao a
inveno,fatoessencialmenteindividual,porquesomenteoindivduoinventa.
Toda vida comum invenoou imitaoe, unicamente, sob essesaspectos,
pode ser estudada. Procurar como se apresenta e se modifica a imitao, em
todasascircunstncias,ofimdaSociologia.
Considerado o fato social manifestao de um processo nitidamente
individual, no se lhe poderia predicar natureza peculiar diversa da natureza
dofenmenomental.ASociologia,ento,seriaumaPsicologiainterindividual
ou intermental, da qual todos os elementos bsicos seriam dados pela
Psicologiadecadaumdosindivduos,cujacolaboraoproduzavidasocial.
2.1.7.4Sociologismo
mile Durkheim (18581917) foi o verdadeiro fundador da Sociologia
cientfica.
Conceituou os fatos sociais como maneiras de sentir, pensar e agir
exterioresecoercitivas.Hmaneirasdepensar,sentireagirquedependemdo
indivduo e so projees da sua mente, cujo estudo incumbe psicologia.
Masoutrashquesesingularizampelaexterioridadeetraduzemobedinciaa
um padro extramental, em relao aos quais a conduta no pode ser
entendida em termos meramente psicolgicos. Nesta situao, o
comportamentodoindivduocondicionadoporfatoresqueestoforadasua
mente.
A exterioridade dos fatos sociais bem se evidencia na circunstncia de
existirem independentemente de ns. Precedemnos e nos sobrevivem.
Exemplo: as religies. Dentro de um credo, que nos sobrevive, nascemos e
morremos. As crenas no existem como frutos de elaborao da mente
individual,mascomorealidadessociais queseimprimemnoespritodecada
um de ns. Tambm a linguagem, fato social por excelncia, revela o
condicionamento imposto pela sociedade ao indivduo. Se algum quiser se
dirigir aos membros do seu grupo, sem usar da linguagem comum, ficar
privado de comunicao. Por outro lado, ela, a bem dizer, modela a prpria
formaodaconscinciadoindivduo,toprematuraetotalasuaimposio.
Alm de exteriores, os fatos sociais exercem presso sobre os
indivduos, impondose sua conduta, e nisso est a sua coercitividade.
Segundo Durkheim, a coercitividade que nos permite reconhecer o carter
social de um fato, como elemento caracterstico do seu perfil, a marclo de
modonitidamentedistintoemrelaoaofatopsquico.Amoda,porexemplo,
quepode,emtermostericos,sertidapormodelodecondutafacultativa,atua,
porm, irresistivelmente, sobre os homens, como autntica realidade social
que , a ponto de, como aponta Gustave Le Bom (18411931), levlos a
admirarcoisasseminteresseequeparecero,alguns anosdepois,deextrema
fealdade.
Durkheim instituiu uma sociologia positiva, visando a descobrir, pelos
mtodos ordinrios de observao e induo, as leis que ligam certos
fenmenossociaisaoutros,porexemplo,osuicdioaoaumentodapopulao.
Fielmaneirapositivadequalquercinciaabordaroseuobjetoprprio,
recomendou aos socilogos tratassem os fatos sociais como coisas, regra
basilardoseumtodo,daqualoscorolrios:
a) arredarprenotaes
b) precisaroobjeto positivodapesquisa, medianteogrupamentodefatos
emfunodosseuscaracteresexteriorescomuns
c) apreender os fatos pelo aspecto em que se mostram emancipados das
suasmanifestaesindividuais.
Fugindo disperso especulativa dos predecessores, Durkheim
concentrouseuesforotericonaprecisaconceituaodonicoinsubstituvel
objetodasociologia,osfatossociais.ContrapondoseaTarde,paraquemeles
noseriamsenoasomadasrepresentaesindividuais,noencerrandoassim
nada mais que j no estivesse nas parcelas, proclamou a sua natureza
sinttica e, portanto, a sua autonomia. Da ser a sociedade, para Durkheim,
como explica Armand Cuvillier, no apenas um total de indivduos, mas um
compostooriginal suigeneris.
Daanlisedaavassaladoraatuaodaambinciasocialsobreoesprito
humano, em conseqncia da qual sociedade se atribuiu a condio de
fundamento de todas as funes mentais superiores, resultou verdadeira
hipertrofiadaimportnciadacinciasocialnoelencodascinciasdohomem.
A psicologia foi aquela cujo objeto prprio mais pareceu comprometido. A
essaexpansodoslimitescientficosdasociologiacorrespondeuomovimento
doutrinriorotuladodesociologismo.
2.2SOCIEDADESHUMANAS
As sociedades humanas so grupos sociais caractersticos, ou seja,
possuem os atributos comuns a todos os grupos, cooperao e senso de
participao harmnica, e outros que lhes so peculiares. Grupo, portanto,
gnero sociedade, espcie. Da a concluso: toda sociedade um grupo
social,masnemtodogrupoumasociedade.
Asociedadehumana o gruposocialplenamente evoludo.Em nossos
dias, as idias de sociedade humana e nao tm, freqentemente, a mesma
extenso, o que nos autoriza a dizer que as sociedades humanas so grupos
totais,nosubgruposdeumgrupo.Nestesentidonosreferimos,porexemplo,
sociedadeamericana,brasileira,etc.
2.2.1Caracterizaodassociedades
Os atributos,quefazemacreditara certos grupos humanos a qualidade
de sociedades, so: territrio definido, reproduo sexual, cultura de longo
alcanceeindependncia.
Aprimeiracaractersticadeumasociedadehumanaadefiniodoseu
territrio,dasuareadeimplantao geogrfica.Asociedade francesaocupa
umterritrio,aamericana,outro.
A segunda a reproduo sexual, isto , a manuteno da sua massa
demogrfica por um processo interno de multiplicao. Isso no exclui a
incorporaodeelementosestranhosatravsdaimigrao.Masocontingente
migratrio, enquanto no assimilado, deve ser sensivelmente menor, na
composio populacional, em relao ao das criaturas nela concebidas pelos
seusprprios integrantesnatos.Asociedadequecontmmais imigrantesque
integrantesdeorigemestfadadaaperdersuaprpriaidentidade.
A terceira caracterstica a cultura de longo alcance, e o conceito de
culturajfoi tratadoanteriormente,quandoassimconsideramos tudooqueo
homem faz, pelo seu esforo de criao. Agora, porm, cabe um reparo que
faamaisexplcitoentidooconceito,porque,sedizemos queculturatudo
aquiloqueohomemfaz,corremosoriscodeestabelecerconfusoentreoque
cultura eoqueso objetos culturais. A cultura, ,realmente,o conjuntode
habilitaes quepermitemaohomemcriare,nestesentido,aforma interna
dacriatividadehumana,naexpressiva linguagem de Oswald Spengler(1880
1936). Assim, est menos nos objetos criados do que na capacidade de cri
los.
Um gruposocial,paraternveldesociedade,devepossuirumacultura
de longo alcance,que lhe assegure a afirmao dasuapersonalidadecultural
prpria. E, como afirma John Dewey (18591952), para que um grupo de
pessoasformealgoquesepossachamarumasociedadeemseusentidoamplo,
necessrioquehajavaloresestimadosemcomum.Semeles,qualquergrupo
social, classe, povo ou nao, tende a desperdiarse em molculas que no
tero entre si mais do que conexes de significao meramente mecnica.
Embora as relaes intergrupais concorram para aproximar os padres
culturais,talintercmbionochegaapontodesuprimirastipicidadesdecada
sociedade.
Por ltimo, uma sociedade humana um grupo independente. Mesmo
politicamente dominada, conserva a sua independncia, pela capacidade de
resistir a serabsorvida culturalmente pelo grupo dominante. Se politicamente
livre, a sua autonomia se afirma como a atitude de decidir nas reas de seu
interesse,daqualnopoderenunciar.
2.2.2Sociedadeshumanasesupostassociedadesanimais
As sociedadeshumanas, jagorausadaa expressoem amplosentido,
no no restrito em que dela nos utilizamos no item precedente, possuem
caracteresgenricosqueasdistinguemdassupostassociedadesanimais.
A distino fundamental reside em que a sua natureza repousa num
substrato de ndole psicolgica, e a das chamadas sociedades animais, cujos
indivduos so seres incrustados e sumidos na realidade vital correspondente
aos seus estados orgnicos (Max Scheler), de base biolgica (instintiva). O
homem pertence aumasociedade tem a conscincia da sua vinculao a ela,
conscincia que lhe d tanto maior liberdade quanto mais alto o nvel da sua
sociedade, a ponto de Jacques Maritain (18821973) afirmar que uma
sociedadeumorganismofeitodeliberdade.Oanimalgregrioassociaseaos
demaisdamesmaespcieporimposiobiolgicairresistvel.
Dessadistinoessencialresultamasdemais,quepassamosaenumerar.
Associedadesanimaissoestticas.Asatividadesqueosindivduosde
umacolmeiadesenvolvemhojesoasmesmasanteriormentedesenvolvidase
as que sempre desenvolvero. So biolgicas, portanto permanentes e
imutveis. As sociedades humanas so dinmicas e evolucionais. Um grupo
humano estacionrio entra em decadncia, e seu futuro inexorvel ser o
desaparecimento.
As sociedades animais so aculturais as humanas, culturais. Aquelas
no tm poder de criao, as humanas, ao contrrio, so essencialmente
criadoras. E assim acontece, tambm, porque o gregarismo das supostas
sociedades animais mero exerccio de uma imposio instintiva, enquanto
que a convivncia dos homens consciente e, por isso, no suprime a
personalidadeindividual.
Finalmente, as sociedades humanas so normativas e as supostas
sociedades animais, anormativas. Nenhuma sociedade humana pode
sobreviver sem um mnimo de preceitos para reger a conduta de seus
membros, normatividade de que no necessitam as supostas sociedades
animais. Nestas, a conduta, ressalvada a impropriedade do termo,
decorrncia de uma estrutura biolgica, e, assim, desempenhada sempre do
mesmo modo. Nas sociedades humanas, o indivduo livre desse
determinismo, mas, ligado a um grupo, sua liberdade h de ser limitada
segundo os interesses gerais. E apenas se pode restringir a conduta de
indivduoslivresprescrevendolhesnormasdeprocedimento.
2.3FENMENOPOLTICO
Ofenmenopoltico decorrncianecessriadocarternormativo das
sociedadeshumanas.
Todasociedadetemumestatutodeconduta,nosomenteparalimitaro
interesse do indivduo, restringindolhe a liberdade, como para disciplinar a
sua atividade, de modo a pla a servio dos fins e dos interesses gerais.
Quando pretendemos impor a algum que proceda segundo certo padro, s
podemos fazlopormeiodenormas. Associedadessonormativas,tambm
na medida em que os indivduos exigem dela a satisfao de certas
conveninciaseutilidades.
O fenmeno poltico, do ponto de vista sociolgico, isto , numa
posio esvaziada de sentido ideolgico, filosfico ou valorativo, o poder.
Quando, num grupo humano, se institui o poder, dotado da faculdade de
constranger incondicionalmente os governados (Michel Debrun), este fato
poltico, pouco importando a sua natureza, a sua substncia, a maneira pela
qual se exerce, a finalidade que colima. Sempre que algum manda e os
demaisobedecem,hmanifestaodepoder,fatopoltico.
2.3.1Formaodopoder
Sendo as sociedades normativas, a existncia de um poder lhes
inerente. A normatividade seria incua se fosse facultativa, se os indivduos
tivessem a liberdade de infringir, inconseqentemente, os cdigos de
procedimento. Uma normatividade dessa natureza no representaria fato
socialpoderiaserumformulriodeprincpiosideais,jamaisfenmenosocial.
Se a sociedade impe determinados tipos de comportamento,
indispensvel uma entidade que obrigue os indivduos a respeitlos. Da
aparecer o titular do poder. Poder ser uma pessoa, ou um grupo, e a forma
maisavanada dessaentidadechamamosEstado.Opoderasseguraaeficcia
da normatividadesocial, conseguindoobter da maioriaconduta coerentecom
os seus padres. No se trata de um fenmeno tardio, pois coincide com a
estabilizaodogruposocial.
Opoder, na suaorigem, manifestasesob aparnciadifusa. No existe,
ento, entidade que tenha o monoplio da autoridade. Todos so, ao mesmo
tempo, governantes e governados. o poder na sua prmanifestao, ainda
no como faculdade de uns exigirem de outros a prtica ou a absteno de
certos atos. Ele se alimenta das crenas, das tradies, dos costumes, das
convenes,poistodoogrupoostem,deorigemimemorial.Oindivduoque
os infringe alvo de ressentimento social. O grupo reage como um todo,
voltandose contra o transgressor, no raro para castiglo ou, mais
freqentemente, para banilo. Nessa fase, so os homens de idade avanada
que tutelam a comunidade, porque o seu repositrio de tradies maior do
queoequivalentedeummembrojovemdogrupo.
2.3.2Individualizao
Maistarde,ocorreaindividualizaodopoder:apassagemdopoderde
todos para o de um, ou de alguns. Antes, todos eram, simultaneamente,
governantesegovernados,cadaumobedeciaatodososdemaise,aseuturno,
fazia parte de todos para julgar e punir os que divergissem dos padres
incorporados conduta mdia do grupo. Com a individualizao do poder,
despontapropriamenteofenmenopoltico.
Essa individualizao realizase ao sabor de variadas circunstncias.
Acontece sempre, mas no do mesmo modo. So as condies peculiares a
cada grupo que estabelecem modalidades diferentes. Num grupo social que
viveemconstantesguerras,aindividualizaodseemtermos militares.o
homemmaisaudacioso,omaishabilitadoparaaluta,omaisqualificadopara
o combate que empolga o governo. Com o tempo, o poder, que s se
constitua por ocasio de conflitos, tornase permanente, e assim surge quem
governaequemobedece.
A individualizao do poder ainda pode ser atingida em funo de
outrosprocessos.H,porexemplo,umfatorrelevante,dendolepsicolgica.
Existem homens predestinados liderana, com personalidade carismtica,
capazesdeempolgaroutros.Traopsicolgico,contrastandocomodemuitos,
avessosaqualquercomando,tambmrespondepeladivisodogrupoentreos
quegovernameosqueobedecem.
Noutrosgrupos,aindividualizaotemorigemreligiosa.Houvepocas
emqueosacerdotefoitambmgovernante,porqueinvocavaosobrenatural,a
sano que mais temeo homem primitivo. Essa faculdade lhe davacondio
excepcionalparaoexercciodogoverno.
Em outras circunstncias, poder o fato econmico gerar o mesmo
resultado. o detentor de riqueza, possuidor das terras, senhor de um fator
importantedeproduo,quemgoverna.
Poucoimporta a maneirahistricapelaqualo fenmenoseregistra. O
certo que, em toda sociedade, o poder atravessa duas fases: difuso na
origem,logomais,individualizado,prerrogativadeumoudealguns.
2.3.3Maioriaeminoria
Gerase sempre uma separao entre maioria e minoria: uma faco
minoritriagovernanteeoutra majoritria governada.Claraarepresentao
desse fenmeno nos conceitos de Max Weber (18461920) e Nicolas
Timacheff. Para o primeiro, o fato poltico a diviso da sociedade em dois
subgrupos,ummenorquemandaeummaiorqueobedece.EparaTimacheff,
no fenmeno poltico h sempre minoria central ativa e maioria perifrica
passiva,minoriapolarizadoraemaioriaquesedeixapolarizar.
2.3.4Institucionalizao
Individualizao, o poder passa sua terceira etapa: a de
institucionalizao,quandoquemobedeceofazpordever.Apartirdequando
avontadede governar deum obtmaceitao da maioria governada,opoder
seinstitucionaliza.
Ainstitucionalizaooperaseporprocessosvariados.Omaiselementar
odoterror,doqualoestadopolicialformatpica.Hpovosoprimidosque
atravessamanossemumprotestopblicocontraseugoverno.Inegavelmente,
nelesopoderestinstitucionalizado,atmesmoporqueessamedidafunciona,
no plano internacional, para reconhecimento de sua representatividade. Mas,
j ensinava Rousseau, em quem Romain Rolland (18661944) viu o mais
esclarecidoeomaisfirmedos legisladores,queomaisfortenuncabastante
forte para ser sempre senhor, se no transforma sua fora em direito e a
obedinciaemdever.Daainstabilidadedopoderinstitucionalizadorevelia
dessepreceito.
Processo contemporneo de institucionalizao do poder a
propaganda.Conquistadoogovernopelafora,osgovernantesopopularizam
pelapropaganda,atravsdaimprensa,dordio,dateleviso,etc.Aevidncia
dasuainstitucionalizaodadaporimensasmanifestaesdemassa.
Democraticamente,a institucionalizao se processa pelo sufrgio, isto
, pela manifestao expressa da opinio individual dos governados. O
referendo, a eleio e o plebiscito so modalidades de audincia dos sditos
quantosuaaquiescnciaaopoder.
2.3.5Estabilizao
O poder pode ser formado, institucionalizado e passado a ser
representativo de um grupo, e ainda lhe faltar estabilidade. A estabilizao
traduz permanncia. Ocorre na medida em que afinam governantes e
governados por interesses comuns. a identificao de ambos que gera a
estabilizao. Um grupo pode assaltar o poder, desencadear uma ampla
campanha de propaganda prpria, conseguir, em dado momento, a
unanimidade dos governados para a sua autoridade, mas se, no decorrer do
tempo, a conduta dos governantes no se harmonizar com os interesses dos
governados,seudomniocair.
Assim, na origem simples fato que separagovernantes egovernados,o
poder se estabiliza quando uns e outros confluem para um fim comum e a
linhaqueosafastaamaistnuepossvel.
2.3.6Formas
O poder assume trs formas: poder puro e simples, poder tradicional e
poderrevolucionrio.
Essas formas so cambiantes. O puro e simples pode e tende a se
transformaremtradicionalotradicionalpodeconverterseempuroesimples
orevolucionrio,emtradicional,eassimpordiante.
Puro e simples o poder tal como na sua origem, despreocupado de
legitimidade, caracterizado pelo arbtrio. Seu limite a prpria vontade de
quemgoverna.
Otradicionaloque,construdoaolongodahistriaficatovinculado
a uma sociedade que passa a ser tradio. O exemplo tpico, sempre
caracterstico,odaCoroaBritnica.Podesetransformarempuroesimples,
quando perece a tradio e ele subsiste como tal j ento sem legitimidade,
fundadomeramentenafora.
Com o poder revolucionrio, ensina Bertrand Russell (18721970),
aparece um novo credo, implicando novos hbitos mentais, conseguindo
imporseobastanteparainstalarumnovogoverno,emharmoniacomosseus
princpios, no lugar do existente, ento considerado obsoleto. Como explica
Sorokin(18991968),reportandosea Alexis de Tocqueville (18051859)ea
Hippolyte Adolphe Taine (18281893), destroem as revolues somente as
instituies e organizaes moribundas, que teriam morrido de qualquer
maneira,mesmoemsuaausncia.
A democracia moderna, por exemplo, procedeu da ideologia liberal
democrataehojelutacontraformassocialistasdeorganizaoestatal,tambm
ideolgicas, que a tem substitudo em certas reas, tal como ela sucedera
ideologiadosregimesabsolutistas.
Sempre que h mudana de governo, por fora de substituio de uma
ideologia caduca por outra, vlida e contempornea, temos o poder
revolucionrio. Essa mudana realizase pelas revolues sociais, que se
distinguem das polticas, nas quais h apenas substituio de pessoas, sem
alterao de estruturas e credos polticos. Duas revolues, uma liberal, a
francesa, outra socialista, a russa, deram origem a tpicas formas de poder
revolucionrio.
O poder revolucionrio no igual ao poder de fato. Uma ideologia
nova empolgando o poder, certo que desaparecem constituio, leis,
autoridades. Uma concluso apressada diria que o poder revolucionrio
ditatorial(puroesimples)vistoatuarcomliberdade,poisnoestcontidopor
normas rgidas. Tem um limite, porm, na prpria ideologia revolucionria.
Limite impreciso, de contornosinexatos,masque,como tempo, secristaliza
emnormasobjetivasdeumanovalegalidade.
3DadosSociofilosficos
3.1NORMATIVIDADESOCIAL
Normatividade social o conjunto de regras, escritas ou orais, de
origemdeterminadaou indeterminada,quetutelamacondutados homensem
grupo, impondolhes deveres positivos ou negativos. Em qualquer sociedade
humana, rudimentar que seja o seu nvel, h normas que dizem aos seus
componentesoquepodemeoquenopodemfazer,oquedevemeoqueno
devem fazer, como devem e como no devem fazer. No h sociedade sem
ordem e nem ordem sem normatividade, porque esta o espelho daquela. A
ordem social projetase em normas de conduta, que traam o campo da
liberdadedoindivduoedefinemoquelheproibido.
A normatividade uma decorrncia necessria do carter psicolgico
dassociedadeshumanas.Nelas,oindivduocnsciodasuacondiosocial,
asua integrao consciente,e, emessncia,consentida. Por isso, h os que
resistem s imposies sociais, tornandose alguns deles pioneiros de outras
pocas,eoutros,simplesmentemarginaisaoseugrupo.
Se o homem intrinsecamente livre e se a sociedade entende que das
possibilidadescontidas nasualiberdade umasdevemsereliminadas,algumas
aceitas, outras estimuladas, cabelhe indiclas. E isso importa formular
normas que representam o julgamento da sociedade sobre a conduta
individual.
3.1.1Formao
A normatividade produto histrico que se acumula e sedimenta
atravs do tempo. Como puderam os homens crila? Para responder a
indagao deparamos com diferentes explicaes. Nenhuma delas
integralmente verdadeira, embora acaso possam todas slo parcialmente,
porque, como adverte Anbal Ponce, de toda a obra de Lucien Levy Bruhl
(18571939)emergeestaverdade:intilpretenderexplicarasinstituies,os
costumes, as crenas dos primitivos, fundandose sobre a anlise psicolgica
doespritohumano,abstraindoanaturezaprlgicaemsticadamentalidade
primitiva.
ParaIclio Vanni(18551903),osfatoresdeterminantesforamohbito
e a imitao, o que tambm aceito por Luis da Cunha Gonalves (1875
1956).Ohomemrepeteseasi mesmoeaos seus semelhantes. Ohbito,que
William James comparou enorme roda volante da sociedade, e a imitao
constituem agentes relevantes da tradio social. Diante de uma situao,
agimos de certo modo. No futuro, levados pelo hbito, repetimos nosso
procedimento e, insensivelmente, formulamos, para ns mesmos, uma norma
de procedimento, num processo assemelhado ao que Jacques Chevalier
denominouatransfiguraodohbitopeloesprito.
Passaassimacondutaaobedeceraumparadigma.
Tambm a imitao contribuiu para darlhe coerncia e seqncia. Se,
numa eventualidade, o grupo traa uma diretriz, concomitantemente adota
uma frmula que tende a ser reiterada e conquistar prestgio. A soluo,
concebidaparaumcasosingular,pelarepetioseconverteemmodelo.
Dohbito e da imitao surgem os costumes,que Artur Ramos (1903
1949) caracteriza como imitao por herana social, correspondendo
credulidade,autoridadeeobedincia.
HenryJamesSumnerMaine(18281888)emprestarelevoaoutrofator:
ocultodosantepassados,comumhistriadassociedades.Asuaorigempode
ser objeto de controvrsia, mas a sua efetiva ocorrncia incontestvel.
Ensina Nietzche que, no seio dassociedades primitivas, reinaa convicode
que nopersistiunasua duraoaespciesenoem virtude dossacrifciose
dos inventos dos antepassados. Da o culto que se lhes dedicava, em
sacrifcios,festasesanturios. Ora, cultuar os ancestrais eleger um modelo
de comportamento pessoal. O culto memria dos mortos conduz
reproduo daquelas vidas pelos que lhe sobrevivem, estabilizao dos
valoressociaisemanutenodeumacondutamdia.
A experincia teve igualmente importncia na formao da
normatividade. Por ela, adquirimos conhecimento e definimos posies.
Surgido um problema de conduta, natural que se sucedam apreciaes
diferentes. Se no h normas que orientem a deciso, o julgamento tem que
serimprovisado. Dentreasopiniesdiversas,uma,aquepareamaisidnea,
justificaraexperinciadasuaadoo.Nofuturo,ememergnciasemelhante,
aplicada automaticamente a soluo precedente, surge o embrio de uma
norma.
3.1.2Diferenciao
A normatividade, na sua origem, um bloco compacto de preceitos
heterogneos, semdiferenciaodenatureza efinalidade. Hoje,porexemplo,
temos regras que so apenas de higiene pessoal, temos preceitos religiosos,
temosnormasobrigatriascomoasjurdicas,temosoutrasfacultativas,como
asmorais,temosalgumasquenosonemjurdicasnemmorais,comodeboa
convivncia, de tratamento cordial, de urbanidade, de correo social, etc.
Outrora no ocorria assim. A normatividade era nica uma regra religiosa
tinhanveleestruturaiguaisaos deumajurdica.Essarealidadeseevidencia
atmesmonas maisantigascodificaes, que continham regras pertinentesa
todos os setores da conduta, sem qualquer diferenciao. assim que,
lembrandooManava DarmaSastra,coleodeleis deManu,oZendAvesta,
de Zoroastro(sec. VII a.C) os livros de Confcio (551479a.C), a legislao
de Moiss (secs. XIIIaXII a.C)eo Coro, lse emJosIsidoroMartinsJr.
(18691904)quenos primrdios dasociedadeavidacoletivano ostentavao
polimorfismo que nela verificamos atualmente. A confuso mais completa, o
sincretismo mais absoluto dominavam as instituies sociais e as relaes
individuaisreligio,moral,cincia,arteeindstriaeramraiosdeum mesmo
crculo, coincidindo ou sobrepondose uns aos outros. A autoridade que
antropomorfizava Deus e os deuses era a mesma que estatua sobre os
costumes privados, que dava a explicao dos enigmas do mundo, que
inspirava a criao artstica e regulava as atividades prticas. Tudo estava
comonocaosbblico:escuroeamorfo.
Certo , por isso, que s tardiamente as normas se especializaram em
jurdicas,convencionais,morais,religiosasetc.
A individualizao do poder exerceu influncia sensvel sobre esse
processo,daresultandoofatodeterogrupodeixadodejulgarembloco,para
fazloporintermdiodosdetentoresdaautoridade.
Ojulgamentogrupalemotivo,escravodevaloresadotadoscegamente
e dcil tradio que os endossa. O indivduo que julga desprendese da
experincia pessoal para alcanar conceitos, sem o que no haveria normas
diferenciadas. Da, normas antes indistintas comearam a sofrer paulatino
processodediferenciao.
Religio, moral e direito, que formavam um todo, principiaram a
distinguirse. Primeiramente, se destacaram as normas referidas a um plano
sobrenatural,apoiadasem valores msticos, as religiosas, daspertencentes ao
plano natural, amparadas em valores positivos, as morais e jurdicas. A
normatividade homognea fragmentase em duas: a religiosa e a tica lato
sensu,abrangendoasregrasmoraisejurdicas.
Somente mais tarde divorciaramse moral e direito. Com efeito, foi o
individualismo, ligado ecloso do movimento liberalista no mundo, que
produziu evidente separaoentre indivduoe sociedade, a qual,por suavez,
provocou ntida diferenciao entre moral e direito. S ento se distinguiram
normas de tica individual das de tica social, aquelas destinadas a nortear a
vidadoindivduocomotal,asltimaselaboradasparagovernarasuavidana
comunidade.
Ainda ficou um resduo complexo e sutil, incapaz de ser logicamente
apreendido,formadopelasnormasconvencionais.
3.2NORMASTICASENORMASTCNICAS
As regras que formam a normatividade social podem ser objeto de
divisoesubdiviso.
Aprimeiradivisodistinguenormastcnicas deticas.Todos estamos,
em princpio e por intuio, habilitados a diferencilas. Quando lemos uma
receitaparaprepararumalimento,sabemosquesetratadeumanormatcnica,
que nos diz o que fazer para lograr um determinado fim. Ao tomarmos
conhecimento de um dispositivo legal, de uma regra moral, intuitivamente
compreendemosqueestanoseconfundecomaprecedente,tica.
A primeira idia que nos acode, e logo mais constataremos a sua
imperfeio, para explicar essa intuitiva conscincia, a de que as normas
tcnicas representam aptides para vencer a natureza, diante da qual
assumimos atitude prpria, parte da nossa condio existencial. O domnio
sobre a natureza presume a posse de um instrumental de ao, de recursos e
expedientes,paraadaptaro homem ao meionatural, de modo atuante.J das
normas ticas nossa primeira noo a de que elas no presidem relao
homemnatureza, sim relao homemhomem. Sempre que est em jogo a
conduta de uma pessoa diante de outra, aplicamse regras que no so
tcnicas, no tm carter simplesmente instrumental, antes procuram
estabelecerumequilbriodeposies.
Essa distino parece prtica, pois nos d uma embrionria idia da
diferena entre normas tcnicas e ticas. No , porm, verdadeira. H
tcnicasrelativasaointercmbioentreosindivduos.Porexemplo,astcnicas
das comunicaes, da publicidade, das relaes pblicas, demonstram que as
relaes homemhomem podem ser tecnicamente consideradas. Assim, a
noo vlida para um exame elementar e intuitivo do problema, mas no
levaocritrioseguro.
3.2.1Korkounov
Sobre esta matria uma lio tradicional foi ensinada durante decnios
como verdade definitiva, a do renomado jurista N. M. Korkounov, que foi o
representante maiscategorizado da teoria geraldo direito na Rssia. Mas,na
obra de um dos mais notveis juristas da atualidade, o argentino Carlos
Cossio, encontramos doutrina capaz de substituir com vantagem a de
Korkounov.
Dequalquermaneira, oensino desteclssicoenopodeseromitido,
ainda que objetado, porque se reveste de excelente carter didtico. At
mesmoateoriadeCossiosermelhorentendida,setivermosconhecimentoda
deKorkounov.
Este faz diferena material entre as normas tcnicas e as ticas, o que
importa dividilas objetivamente. Se a normatividade social pudesse ser
comparada a uma superfcie, nesta traaramos uma linha divisria,
abandando, para um lado, o conjunto de normas tcnicas, e, para outro, o de
regrasticas.
Korkounov discrimina as respectivas caractersticas. Umas apresentam
predicadosque,almdedistintos,tambmcontrastamcomosdasoutras.
Para distinguirmos entre ambas seria necessrio analisar a norma
encontradas certas caractersticas, diramos ser tica, encontradas outras,
diramossertcnica.
As tcnicas objetivariam consecuo de fins singulares as ticas,
consecuo de fins conjuntos e simultneos. As tcnicas seriam materiais as
ticas, formais. As tcnicas apresentariam extrema variedade as ticas, uma
certaunidade. Astcnicas seriam objetivasas ticas, subjetivas. Finalmente,
astcnicasseriamfacultativaseasticas,obrigatrias.
Estudaremoscadaumdessespredicados,fazendoanlisemaiscompleta
do primeiro, porque a boa compreenso dele nos permitir, com maior
facilidade,entenderaliodojuristarusso.
As normas tcnicas propiciam ao homem fins singulares. As normas
ticas presidemconduta,paraqueelepossalograr,simultaneamente,vrios
fins.
Temos, diante de ns, possibilidades inumerveis e heterogneas. A
cada uma delas corresponde uma tcnica. Se quero ser pintor, no vou me
dedicar ao estudo de arte culinria, mas visitar museus, galerias, etc. Se
carpinteiro,mdicoouengenheiro,buscooutrastcnicas.Qualquerquesejao
objetivo pretendido, temos de recorrer ao meio adequado, mediante tcnicas,
sejam empricas, quase instintivas, ou mais refletidas. Cada tcnica conduz a
umnicofimesomenteaele.Todososfins,queatcnicapermiteaohomem
alcanar,soautnomos.
Emfacedemltiplaspossibilidadespoderamos,teoricamente,aspirara
todas,noforaaaoserlimitadanotempoenoespao.Da,oimperativode
opo,envolvendoporseuturno,sacrifcioerenncia.
A tcnica no nos habilita a escolher fins, no boa nem m em si
mesma, apenas nos concede dispor de todos. H a tcnica do bandido que
assaltaumbanco,comoado policialque procuraidentificloeaprisionlo.
No basta saber que existem muitos fins e que todos podem ser obtidos por
umatcnica.precisoelegeralguns.Esemprequeoptamosporalgumacoisa
repelimosoutra.
Atica nos permite fazeraseleo,noconjuntodos fins, teoricamente
todos possveis, dos que devem ser colimados e dos que devem ser
desprezados, estabelecendo, assim, distino entre bem e mal. O bem so os
finsmelhores,oseleitosomal,ostidoscomopiores,osrepudiados.
A eleio de fins tem de ser coerente, nunca contraditria, e as ticas
permitemarealizaosimultneadevrios,porqueapontamparaaquelesque
no se contradizem. Ningum pode, ao mesmo tempo, ser juiz e salteador,
policial e bandido. Enquanto as regras tcnicas s facultam fins singulares,
porquecadatcnicaum mundofechado emsi mesmo,as ticas, orientando
uma seleo coerente de diferentes fins, consentem aes coordenadas e
simultneaspararealizlos.
As normas ticas distinguemse das normas tcnicas como as formais
das materiais. As ticas no determinam seno a forma da realizao
simultnea de todos os fins diferentes do homem. A sua observao acarreta
apenas a correlao mtua dos fins numa forma harmoniosa, sem levar
realizao do seu contedo, ou de um fim determinado. Esta realizao se
efetua sempre em conformidade com as regras tcnicas. As normas ticas
fazemapenaspossvelarealizaosimultneadevriosfins,definindoolado
formal de suas relaes recprocas, mas esses fins em si mesmos no se
realizam seno de acordo com regras (tcnicas) que sejam conformes sua
naturezaintrnseca.
A terceira caracterstica apontada por Korkounov a da variedade das
normas tcnicas, em contraste com a unidade das ticas. Essa caracterstica
est diretamente vinculada primeira. As tcnicas so variveis, visto se
proporema nortear a condutahumana para fins heterogneos. A unidade das
ticasresultadequeoseuobjetivopermitiraohomemarealizaoconjunta
defins simultneos. Aextremadiversidadedosfinsocasionaadesvinculao
entre eles, produzindo a variedade das normas tcnicas que lhes
correspondem. Se me proponho um objetivo de ordem higinica, esse
objetivo, que nadater aver com outro, de natureza artstica,digamos, exige
normas tcnicas distintas daquelas a que recorreria, se me dedicasse arte.
Mas, visando a determinados fins escolhidos uns com relao aos outros e
compatveisentresi,asnormasticasapresentamcertaorganicidade.
A quarta caracterstica a objetividade das normas tcnicas e a
subjetividadedasticas.Umaregratcnicaobedeceimposiodoobjetoao
qualvaiseraplicada,ouseja,oobjeto determinaasuaelaborao. Assim,se
algum pretende traar um preceito higinico, condio bsica conhecer o
corpo humano e suas funes. No caso, o conhecimento da natureza do
organismo,dasuaestruturaedassuasfunes,quevaiimporoenunciadoda
norma. Esta tanto mais perfeita quanto mais adequada ao objeto. A cincia
precede tcnica, porque conhecimento, e a tcnica, aplicao do
conhecimentoparaumfimtil.Sendo oconhecimentoimpreciso,atcnica
ineficaz. A tcnica no uma adequao do objeto ao homem, mas deste
quele.
Diferentemente, as ticas so subjetivas, relativas ao sujeito. Como o
nico sujeito da conduta o homem, elas dirigemse a ele e so as suas
condies que lhes determinam a formulao. A tica manifestao do
sujeito,traduodosseusvalores,afirmaodassuasexignciaspessoais.
A ltima distino entre regras ticas e tcnicas est no carter
facultativodestaseobrigatriodaquelas.Assegundassofacultativas,porque
suaimportnciacondicional.Sdevemosobedinciaaumanormatcnicase
queremos realizar certo fim. Assim como livre a escolha dos fins o
tambmaadoodasnormas.Oassentimentodanossacondutaaumpreceito
tcnico depende da nossa soberana vontade. No podemos obrigar algum a
aprender a tcnica da composio literria, se no lhe interessa a
correspondentefinalidade.Pormaisqueumatcnicasejaaconselhvel,temos
aliberdadedeseguilaouno.
As normas ticas apresentam caracterstica diferente. So obrigatrias
porque, permitindo ao homem selecionar fins prioritrios, essa eleio no
pode ser feita com inteira liberdade, limitada que fica ao respeito de quem a
fazpelodireitoigualdetodos.
3.2.2Cossio
OensinamentodeKorkounovsuscetvelcrtica,porqueinaceitvel
desdobrar a condutaem atos de diversasnaturezas. A diviso da condutaem
atos tutelados pelas normas tcnicas e atos tutelados pelas ticas assenta em
precriosuportefilosfico.ContraateoriadeKorkounov,devemoscitar,pela
suaatualidadeesabedoria,aimpugnaodeCarlosCossio.
A tese de Cossio repousa numa anlise da conduta, na qual encontra
umaestruturateleolgicovalorativa.Integraramnatrselementos: valor,fim
e ao. Todo ato motivado por um valor para um fim. Mesmo nos mais
banais,nosmaistriviais,hvalorefim.
Nocotidianodanossaexperincia,nonosdamosconscinciadovalor
dos nossos atos. No obstante, conduzirse sempre caminhar para um fim,
sensibilizado por um valor. Ao a ligao desses elementos. Se algum,
chegadoa lugaronderesideconhecidoqueestima,resolve visitlo,suaao
tem esta seqncia: dado o fato de estar no local, onde mora pessoa que
estima, seguese o dever de visitla. A temos:o valor a amizade, ofim,a
visita,eaao,ircasadapessoaamiga.
Se a conduta valorativoteleolgica, ela unidimensional. Sua
dimenso sempre para a frente. A todo momento estamos nos conduzindo,
porque estar aqui no estar ali, fazer isso importa no fazer aquilo. A
conduta permanente projeo para o futuro. A vida do homem, como dizia
JosOrtegayGasset(18831955),constantequefazer.Nessesentido,como
ensinaBergson,todaconscinciaantecipaodofuturo.ofuturoque,sob
a forma de esperanas, receios, expectativas e projetos, atua em ns como
fora viva e parte irredutvel do nosso serpresente (Otto Friedrich Bollnow).
Por isso, o que passou no mais conduta: petrificouse. Da a sua
unidimensionalidade,edestaaevidnciadequeelanopodeserfragmentada
empartetcnicaepartetica.
No existem atos que, pela sua natureza, estejam subordinados s
normas tcnicas, e outros, s ticas. Apenas a conduta pode ser mirada do
pontodevistatcnicooudotico.
Sendo a conduta unidimensional, sempre presente para o futuro em
traado unilinear, s pode ser distinguida de dois pontos diferentes:
considerada tal como ,detrsparafrente, e,hipoteticamente,defrentepara
trs.
A distino entre as normas tcnicas e as ticas decorre dessa
duplicidade de posio. A conduta observada tal como , de trs para frente,
s pode ser compreendida em funo de seus fins, que nos so dados pelas
normasticas.Aocontrrio,vistahipoteticamentedefrenteparatrs,spode
ser explicada em funo dos seus meios, que nos so dados pelas normas
tcnicas. Ainda que imperfeitamente, diramos que a tica dita ao homem o
quefazereatcnica,comofazer.Nopodemosalcanaroqusemocomoe
nemtemosporquepraticarocomosem oqu.
No mesmo ato encontramos, indissolveis, o qu, aspecto tico, e o
como, aspecto tcnico. Ao vista em funo do para que se destina
consideradadopontode vistatico,eemrelao aocomosefaz,aocomose
realiza,consideradadopontodevistatcnico.Eassimpodemos distinguir,
nomesmoato,oaspectotcnicodotico.
3.2.3Moraledireito
Os fins visados pelas normas ticas so coordenados. Por isso, elas
apresentam,comojobservamos,predicadodequeastcnicasnodispem,o
da organicidade. As tcnicas, comparadas entre si, no podem ser objeto de
julgamentodevalor.Asticas,opostamente,impemumaopo,feitaperante
um valor. Sendo tecnicamente possveis todos os fins, mas estandoohomem
subordinado necessidade de escolher alguns apenas, haver de seguir um
critrio:ocritriotico.
Essaescolhaobedeceaduasrazes:ouosfinssocomparadosentresi,
ou escolhidos com o respeito devido ao direito igual que tm os outros
homens.
Concedidomeescolherentre dois objetos,comparoos, vejo qual deles
me interessa mais, qual tem mais valor para mim, opto por um. No caso, o
critrioadotadofoiodacomparao.Aelacorrespondeumdepartamentoda
tica,amoral,quenoshabilitaacompararaescolherfins.
Se os homens vivessem em solido, a seleo de seusfins obedeceria
apenas ao critrio da sua significao relativa. Mas, vivendo em grupo, este
no lhes basta, porque no atende necessidade que tm de eleger fins
compatveiscomos interessesalheios.Seriaimpossvelaconvivnciasocial,
se facultada aos indivduos a liberdade de selecionar fins para si prprios,
acaso conflitantes os de uns com os de outros. Impeselhes, assim,
considerar os fins, no somente quanto ao seu valor relativo, mas segundo o
direitoquetodos tm de fazer a suaescolha. Por outras palavras:aopode
uns deve, dentro de certo limite, coincidir com a dos demais. Quando o
indivduo procede, atendendo, em relao s metas de sua vida, ao respeito
que deve aos interesses dos outros, seu procedimento passa tutela de uma
outranormatica,queajurdica.
Assim, os critrios de seleo tica so basicamente dois: o interesse
prprio (critrio moral) e o interesse alheio (critrio jurdico). O direito ,
portanto,umalimitaodaliberdadepessoaldiantedaalheia.
Na escolha de fins, em respeito ao interesse alheio, assumimos duas
variantes: ou consideramos o interesse dos outros indivduos, singularmente,
ou o coletivo, isto , o de todos. Da a subdiviso da normatividade jurdica:
direitoprivadoedireitopblico.
3.3NORMASMORAISENORMASJURDICAS
A distino entre moral e direito um dos mais difceis problemas
tericosdadoutrinajurdica.
Otemapodeserapreciadodedoisngulos:histricoefilosfico.
Sobosegundoaspecto,motivaasespeculaesquesefazemprocura
de um conceito do que moral e do que direito, atribuindo a um e a outro
caractersticas inconfundveis. Sem embargo dessa cogitao doutrinria, a
matria parece sujeita a um condicionamento histrico decisivo, refletido em
duasconseqncias:
a) adelimitaoprecisaentreoscamposdaconduta moraledajurdica
possvelemcertosmomentosdahistria,massumamentedifcil,seno
impossvel,emoutros
b) a linha que os separa movedia, de modo que a regra moral de um
tempopodeviraserjurdicadeoutro,eviceversa.
3.3.1Formulaohistrica
Uma separao rgida entre moral e direito caracteriza momentos em
que salvaguardada, com mais segurana, a liberdade individual. Em
princpio, o campo do direito prprio da atividade estatal, enquanto esta se
desenvolve como faculdade de impor normas compulsrias ao indivduo. O
mbito da moral o da liberdade, nele s o indivduo juiz de seus atos. A
distinoentremoraledireitoestligada,assim,distinoentreliberdadee
autoridade.
NosEstadosondeaautonomiapessoalnorigorosamenteassegurada,
tendeaseestabelecerumaespciederegiofronteiriaentremoraledireito,a
ponto de o indivduo no saber exatamente at onde vai a sua liberdade. A
autoridade como se expande para alm das fronteiras ordinrias da ordem
jurdicaevaialcanarohomemnoquemaisprprioseriaderegrasmorais.A
verdadetoevidentequeadiferenaentremoraledireitosfoiestabelecida
no sculo XVIII, em cujas ltimas dcadas se acentuaram os traos de
discriminao entre o indivduo e seu interesse e a sociedade e sua
convenincia.
H outra face do problema, intimamente ligada precedente: definir
moral e direito, em sentido positivo, quase impossvel, porque, em certas
pocas,regrasjurdicaspassamamorais,e,reciprocamente,emoutras,regras
deixadasaoarbtriodoindivduopassamajurdicas,tornandoseobrigatrias.
Remotamente, j nos referimos, no havia separao entre as normas
religiosas,rituais,higinicas,jurdicas,etc.
No perodo propriamente histrico, o tema deve ser tratado em ordem
sucessiva, na Grcia, em Roma, sob a influncia do cristianismo, na Idade
Mdiae,finalmente,naIdadeModerna.
3.3.1.1Grcia
O problema da distino entre moral e direito essencialmente
filosfico. Numafilosofiaamadurecida,comoa grega,elenopoderiadeixar
detersidoabordado.
Carl J. Friedrich comenta que Plato e Aristteles viam a lei como
participao na idia da justia, construindo a diferenciao entre moral e
direito em termos de configurao de uma teoria daquela. Essa abordagem
pareceincompleta,notendoconduzidoadistinoseguraeformulaoclara.
Oassuntofoitambmventiladopelossofistas,aosquaissedeveatribuir
razovel importncia,principalmentepela maneirainconvencionalcomo que
o trataram. Coubelhes desmistificar as instituies jurdicas, distinguindoas
das tradies e dogmas religiosos. E foi a partir deles que a lei passou a ser
vistanocomosagrado mandamento de umser divino, mascomocriaodo
prprio homem. Assim, o conceito de justia foi despojado das suas
qualificaesmetafsicaseanalisadonassuasnecessriascircunstancialidades
humanas.
Como adverte Teresa Labriola, a destruio a que se dedicaram era
imprescindvelnomomentodetransioquelhescoube.
3.3.1.2 Roma
Roma alcanou o seu mximo na criao jurdica. O direito romano,
monumento da civilizao latina, predominou no Ocidente durante muitos
sculos,comodireitocomum,deplenaaplicao,enocomentriodeHeinrich
Ahrens, no somente pelo seu valor legal, mas tambm pelo seu mrito
intrnseco. Seria, assim, de supor que encontraramos na cultura romana
perfeita discriminao entre moral e direito. Mas, teoricamente, isso no
ocorre,emborafosseatuanteadistino.
Distinguiamse as atividades sujeitas ao Estado e as reservadas
liberdade de orientao do indivduo. A diviso era real, concreta, tanto que
emRomasurgiuafiguradojurisconsulto,homemsbioemdireito,enquanto
que a filosofia jurdica da Grcia no foi obra dos juristas, o que diz
eloqentemente da presena de uma clara fronteira entre o conhecimento
moraleojurdico,refletidanasinstituiespositivasdacivilizaolatina.
3.3.1.3Cristianismo
O Cristianismo, nas suas manifestaes originais, elaborou clara
diferenaentrepolticaereligio.Poltica atuanumareareligio,noutra. A
polticaobedeceacertoscritriosareligio,adiferentes.NafrasedeCristo
Dai a Csar o que de Csar e a Deus o que de Deus, a distino est
simbolicamente estabelecida. Csar o Estado Deus, a Igreja. Csar a
poltica Deus, a religio. E quando h separao entre poltica e religio,
mxime quando esta absorve a moralidade individual, isso propicia o
aparecimentodeevidentedistnciaentremoraledireito.
Mas, na lio de Jacques Maritain, as coisas que pertencem a Csar
tinham,ento,umafunoministerialrelativamentesquepertencemaDeus.
3.3.1.4IdadeMdia
Porisso,noobstanteoCristianismoencaminharsenosentidodecriar
precondiesparaadistinoque maistardeseviriaafazer,sualinhasofreu
acentuado desvio na Idade Mdia, em virtude de um constante processo de
assimilaododireitopelamoral.Anoodepecado,genuinamentereligiosa,
passouareinarnaesferadamoraledodireito,sobrepondoseaambos.
3.3.1.5IdadeModerna
A diferena firmase no sculo XVIII, o da formao do liberalismo,
que iria estabelecer, na rea poltica, quase de maneira contrastante a
separao entre a liberdade individual, levada ao mximo, e a autoridade do
Estado,reduzidaaomnimo.
3.3.2Formulaodoutrinria
Foi na obra de Cristian Thomasius (16651728), publicada no ano de
1705,quepelaprimeiravezsefezmanifestadistinoentremoraledireito,da
qual resultaria a indicao de uma caracterstica ainda hoje invocada para
identificarasregrasrespectivas.
3.3.2.1Thomasius
Thomasius distinguiu, na conduta, ao interior de ao exterior, ou
interna de externa. A interna desenvolvese no foro ntimo de cada uma. A
externa no foro exterior, que no mais o de um s indivduo. Os atos
humanospodemserjulgadosnoforontimodoindivduooupelasociedade.A
ao interior no interfere na conduta alheia, pertence conscincia. A
exterior, ao contrrio, que pode levar a conflito, est submetida a um foro
exterior. Ao direito compete julgla. moral interessa a vida espiritual do
homemeoaperfeioamentodasuaconscincia,doqueelejuizexclusivo.O
direito cuida das projees da conduta pessoal. Se a moral cogita dos
problemas do foro ntimo e o direito do exterior, os deveres morais so
imperfeitos, porque ningum tem a faculdade de exigir de ningum que os
cumpra,aopassoqueosjurdicossoperfeitos,porqueexigveis.
3.3.2.2Kant
AteoriadeEmmanuel Kant,a quem Rousseau, como observa Rodolfo
Mondolfo (18771976), proporcionou a primeira orientao na tica,
estreitamente vinculada de Thomasius. Os fundamentos de ambas
coincidem.Adiferenaentremoraledireitorepousanadistinoentreaes
interiores e exteriores. Falar em aes interiores e exteriores pode originar
malentendido,umavezqueaao,pornatureza,pertenceaomundoexterior.
Mas no se cogita de aes subjetivas e aes que se projetem no plano
exterior da conduta apenas de distinguir o aspecto interior ou subjetivo da
ao do exterior. Interior, ela avaliada pela sua inteno exterior,
consideradanosatosemquesetraduz,nacondutaemqueseobjetiva.
Uma conduta moralmente inidnea quando, embora sendo
aparentementemoral,nolhecorrespondemotivaotica.Juridicamente,ela
adequada, desde que os atos praticados coincidam com a exigncia do
direito. Em outras palavras, a conduta moralmente s meritria em funo
das suas intenes, ao passo que, juridicamente, o , desde que os atos se
ajustemexignciadanorma.Sepraticoacaridade,paraservirmedelacomo
ostentao, exteriormente estarei sendo caridoso. Mas meu procedimento,
moralmente, desvalioso. A prpria inclinao para a virtude no tem
qualquer mrito, pois, na afirmativa de George Santayana (18631952), Kant
repudiou, de maneira expressa, como indigna de uma vontade virtuosa, toda
considerao de felicidade e tendncia e de suas conseqncias, seja para si
prprio,sejaparaosdemais,oquelevaAloys Wenzlaconsiderarquesualei
moral era apenas formal. Se a obrigao jurdica, todavia, o julgamento
diferente, pois, por exemplo, se pago um imposto, em nada interessa se meu
estado de esprito de aceitao ou de revolta, de qualquer maneira, o dever
jurdicoestcumprido.
Giorgio Del Vecchio (18711970) opsse tenazmente concepo
kantiana,queimporta,noseuentender,umacisoilgicadoconceitodeao,
aqualsempreinternaeexternaaomesmotempo.Nopodehaveratividade
puramente externa, porque se a um fenmeno falta contedo psquico
impossvel ser atribudo a um sujeito, no sendo, portanto, uma ao. Nem
existe atividade meramente interior, porque agir significa exteriorizarse a si
mesmo, e nenhuma ordem psquica h sem correspondncia ou correlao
com o mundo exterior. Admite, todavia, com o que esclarece sobremodo o
sentido do seucomentrio,queopontodepartidaparao julgamentojurdico
deveser,egeralmente,umdadofsico,masoseuobjetosempreumaao,
ouseja,umfatodendolepsquica,que,porsuaessencialnatureza,hdeser
tambmconsideradonoseurevestimentosubjetivo.
No obstante, a teoria kantiana recebeu, o aplauso consagrador de
Kantorowicz.Aorevidarascrticaslevantadascontraessateoria,observaque,
quandodizemosqueacondutamoralinternaeajurdica,externa,afirmamos
que a externa suscetvel de ser imposta, j a interna no o . Os sistemas
morais recomendam a conduta interna, fruto de volies, e a julgam
subjetivamente na sua virtude, enquanto que as regras jurdicas no ordenam
conduta interna, ainda que a conduta por elas previstas aceite considerao
subjetiva:boaf,previso,abstenodedelito,malcia,etc.
Acrescenta Kantorowicz que a teoria satisfatria at em situaes
extremas, quando a legislao contm preceitos de origem religiosa, como,
quandoexigedeumgovernantequeprestedeterminadojuramentoaoassumir
seu cargo. Em tal circunstncia a norma convertese em jurdica, perdendo a
suainterioridade.queodireitoimpearealizaodecertosmovimentosdo
corpo humano, membros, msculos, rgos de dico, etc., o que pode ser
feito consciente e voluntariamente, mas tambm mecanicamente, sem perder
seu significado jurdico. Se o devedor de um emprstimo o paga, a sua
obrigao legalest cumprida. Esse mesmoato, dentroda moral, poderiaser
julgado de modos diversos, atribudo, acaso, a egosmo, a dolo, a
conformismo,etc.
Detudoconclui Kantorowiczque a teoria deKant, pelaqualo direito,
como oposto moral, s exige mera legalidade, isto , a conformao da
condutaexternaaodireito, margem detodo motivosubjacenteconduta,
correta,no apenas com relao ao direitoem vigor, mas ainda comrespeito
aodireitoquedeveser:ajustia.
3.3.2.3Jellinek
GeorgJellinek (18511911) partedoreconhecimento do carterrealda
sociedade e de seu valor criador. Todo indivduo est socialmente
condicionado. Da sociedade, fato positivo da convivncia e cooperao dos
homens, irradiamdisciplinas queconsideramohomem, no como indivduo,
seno como membro da comunidade: ser religioso, poltico, econmico, etc.
Tendo o indivduo suas prprias necessidades primrias, sem cuja satisfao
suavidanoteriasentido,masexigindoasociedade,aseuturno,ainibiode
parte de seus impulsos, sem o que no seria possvel a vida comum, resulta
que a sociedade, em sentido global, uma sntese dessa contradio,
contradio apenas aparente, porque necessita dos prprios impulsos de
afirmao individual.Daaexistnciadenormasparaasociedadeeparatudo
mais orgnico. A tica social tem por pressuposto a solidariedade dos
membros de uma comunidade, razo pela qual uma tica de aes, no de
intenes, variandohistoricamenteoseucontedo,conformecadasistemade
condiessociais.
Se, na base de tais consideraes, indagarmos como possvel a
permannciadecertasituaosocialhistrica,prontoreconheceremosquetal
resultado s pode ser atingido pelo direito, que um mnimo tico de que a
sociedadeurge,acadamomento,parasobreviver.Assim,vistoobjetivamente,
o direito um conjunto de condies, dependentes da vontade humana,
imprescindvelconservaodeumasociedade.
A tica, portanto, uma s, abrangendo moral e direito. Este, por
comparao quela, constitui o mnimo de moralidade de que qualquer
sociedadenecessita.
3.3.2.4Petrazycki
Uma das concepes mais interessantes sobre a matria a de Lev
Petrazycki (18671931) que pretendeu fazer uma filosofia do direito de base
psicolgica, fundadanaconvicodeque os componentes essenciaisda vida
jurdica, como a noo de justia, de obrigao, de relao jurdica, etc.,
apresentamseemformadeintuiesemocionais.
Para Petrazycki, quando presenciamos um ato humano, temos uma
emooprpria.Estaemooofatonormativo.Anormaemergedaemoo
do homem diante da conduta do seu semelhante, a qual d lugar a duas
maneiras distintas de reao: ou se traduznumjuzo de reprovao,ou numa
atividade de exigncia. Diante de alguns atos humanos, a emoo crtica:
apenas reprovamos ou no. Em presena de outros, alm de reprovlos,
exigimosdequemospraticamodificao desuaconduta,adaptandoaacerto
padro.
Citemos o exemplo hipottico formulado pelo prprio autor. Um rico
senhorsaidoseupalcioeencontraummendigoportaquelhepedeesmola.
Ele passa indiferente, quando poderia, sem sacrifcio, atender o pedinte.
Presenciando tal ao,reprovoa, limitandomea considerar o seuagente um
homem egosta, sem caridade. Aquela mesma pessoa transpe a porta da sua
casa, toma um veculo rumo a outro local. Chegado ao destino, recusase a
pagaropreodaviagem.Jentomeujuzonoseriasomentedereprovao,
tambmatribuiriaaocondutorodireitodereceberaremuneraodevida. Eis
oindivduodescumprindodoisdeveres.Diantedaprimeiraomisso,apenaso
censuramos,diantedasegunda,almdecensurlo,aoutrematribumosalgo
contraele.
A tica impe deveres, e, em certas situaes, confere a algum a
faculdadedeexigilos.Amoralmeramenteimperativaodireito,imperativo
eatributivo.Amoraldizoquefazer,odireito,igualmente,aindaoutorgandoa
outremafaculdadedeexigirquele,oquefazer.Odireitoimperativoparao
sujeitopassivodarelao(dever)eatributivoparaosujeitoativo(direito).
3.3.2.5DelVecchio
Para Del Vecchio, a regulamentao das aes humanas presume, por
ela mesma, um princpio tico que, a seu turno, enseja dupla ordem de
valoraes,segundocorrespondenteduplicidadedengulosdebaixodosquais
a conduta estimada. Com efeito, os atos de um homem so julgados em
relao a ele mesmo e em relao a outros homens. Do primeiro prisma, se
diferentes atos possveis so facultados a uma pessoa, incumbe a ela a
respectivaopo,queseresolvenodilemafazerouomitir,desoluonaregra
moral.Mas,comooshomensconvivemunscomosoutros,acompatibilidade
deseusdiversosatos, nocaso,adquireestruturadiferente,dadoqueaescolha
no pode mais ser feita em termos subjetivos. Surge da uma considerao
objetivadaconduta,jqueaoatodeuma pessoanosecontrapeoutrodela
mesma,simapossibilidadedeimpedimentogeradoporoutra.
O dilema passa, ento, a ser fazer ou impedir e resolvido pela
coordenaoticoobjetiva,domniododireito.
Dessa duplicidade de valoraes resulta a unilateralidade da moral e a
bilateralidade do direito, no sentido j conhecido. Aquela impondo deveres,
esteexigindodevereseconferindofaculdades.
As valoraes jurdicas so, assim, sempre intersubjetivas ou
transubjetivas.DeondeadefiniodeDelVecchio:Direitoacoordenao
objetiva das aes possveis entre vrios indivduos, segundo um princpio
ticoqueasdeterminaeexcluitodoimpedimento.
Merece destaque na teoria de Del Vecchio, como conclumos dessa
sucinta exposio, no ser atribuda moral certa rea de conduta, nem ao
direito uma outra especfica. A conduta humana, na sua totalidade, objeto,
querdeestimativa moral, quer jurdica,podendoo mesmo atoserjulgado de
ambosospontos devista. Adistinoentremoraledireitonosealicerano
exame do contedo mesmo da conduta, mas no critrio sob o qual aquela
considerada.Seoatoestimadotendoseemcontasosujeitoqueopratica,
o critrio moral se em relao sua interferncia com outros sujeitos, o
critriojurdico.
3.3.2.6Kelsen
Hans Kelsenformulaemtermos contrastantesadistino entremorale
direito. A ordem moral autnoma (fruto da vontade pela qual ela em si
mesma uma lei) e a jurdicaheternima (valeporsi, independentementeda
vontade dos sditos). O dever moral um querer. As regras morais so do
acontecer real e nisso se aproximam das leis da natureza j s normas
jurdicas indiferente que seu contedo corresponda ou no ao mundo real.
Imperativa, a regra moral sofre excees sua validade, sempre que
infringida em contraposio, justamente a antijuridicidade propulsora da
atuaodanormajurdica.
Mais caracterstica da posio kelseniana, parecenos a argumentao
que o jurista desenvolve quanto ao fundamento da regra jurdica e da moral.
Ensinanosqueas normas morais valem,aconduta que prescrevemdevida,
em virtude da sua substncia. E assim, pelo fato de serem referidas a uma
norma fundamental, debaixo de cujo contedo podem subsumirse, como o
particulardentro do geral. Normas morais comoas que mandamnosedeve
mentir,nosedeveenganar,as promessas devemsercumpridas, derivam de
uma norma fundamental que consagra a veracidade. Outras, as que
recomendamno se deve causar dano a outrem, devese ajudar ao prximo,
etc.,podemreduzirseaumaregrafundamental: deveseamaroshomens.
As normas jurdicas no valem pela sua substncia, que pode ser
qualquer uma, dado que nenhuma conduta humana est isenta de sua
incidncia. A validez de uma norma de direito no pode ser questionada
porque seu contedo no corresponde a um valor suposto, desde que tenha
sido ditada em forma determinada, produzida de acordo com certa regra
determinadaeestabelecidaporumprocessoespecfico.
3.3.2.7Cossio
Carlos Cossio leva ao plano ontolgico a distino feita por Del
Vecchio no lgico. Entende que a moral tutela a conduta em interferncia
subjetivaeodireitoeminterfernciaintersubjetiva. Aprofundandooconceito
de intersubjetividade, Cossio o distingue do de mera alteridade, para
caracterizlo, no pela simples dualidade de sujeitos, sim como constitutivo
do prprio comportamento em si. A intersubjetividade jurdica est no fazer
compartido. Se o ato de uma pessoa est, por ele mesmo, impedido ou
permitidoporoutra,,emsi,umatoconjuntodeduaspessoas.Acondutaem
interferncia intersubjetiva, para Cossio, no se define apenas em termos de
impedimento, mas, tambm, de permisso, o que dilata sensivelmente o
respectivoconceito.
3.4NORMASCONVENCIONAIS
Fizemos uma apreciao geral da normatividade e dividimola em
tcnicaetica.Nesta,diferenciamosmoraledireito.Comessadiviso,porm,
no fica esgotado o tema. Restam normas que no so morais nem jurdicas,
mas,pelofatoderegerem aconduta, pertencem normatividade social.Tm
recebido vrias denominaes, como usos sociais, costumes sociais, moral
positiva, etc. e, preferentemente hoje, normas convencionais ou
convencionalismossociais.
Essas regras apresentam algumas caractersticas que devem ser
consideradas.
Em primeiro lugar, abrangem extensos setores da vida do homem,
tutelam os mais variados campos da sua existncia, e o seu contedo
extremamenteherogneo.
Em segundo lugar, tm numerosos pontos de contato com as normas
morais e jurdicas. A mesma situaopode gerarum problemaconvencional,
moral ou jurdico, fazendo com que as respectivas normas se tangenciem.
Assim,otrajetantopodeserobjetodeumaregraconvencional(moda)quanto
deumpreceitomoral(opudor).AprimeiraencontrarumlimitenaSegunda,
quando a mesma situao criar problema de dupla origem: convencional e
moral.Eventualmente,oproblemasuscitadopodesertrplice,sedilatarmoso
confronto para tambm incluir a regra jurdica. Se a exigncia convencional
(moda) no encontrar corretivo eficaz no limite moral (pudor), ferindo no
somente o decoro individual mas tambm o pblico, encontrar limitao no
corretivojurdico(lei).
As normas convencionais e jurdicas apresentam um trao comum, a
exterioridade. A regra jurdica satisfazse com a conduta aparente, sem
indagar da sua motivao. Igualmente a convencional: cumpridos os nossos
deveres sociais, no nos exigida adequao de conscincia ou de inteno.
Contudo, obrigatrias so as jurdicas, enquanto as convencionais so
facultativas. Mas tal distino no prevalece se atendermos para o contedo
das normas. Regras convencionais h que, em certa esferas sociais, podem
tornarse jurdicas.Por exemplo,decivilidade a saudaoque se fazauma
pessoa conhecida. No entanto, entre militares, a saudao (continncia)
obrigatria, e, portanto, apoiada por uma regra jurdica. As normas de
protocolo, convencionais em quase todas as situaes, no o so na vida
diplomtica, onde a sua obrigatoriedade lhes predica qualidade jurdica. O
mesmodevemosdizerdasregrasdetratamento,manifestaesespontneasde
respeitodeumapessoaaoutra(senhor,excelncia,senhoria,etc.).Noservio
pblico,otratamentodevidoacertasautoridadesobrigatrio.Assim,aregra
queoimpejurdica,noconvencional.
As normas convencionais alcanam ampla faixa de conduta humana,
podendo ser grupadas nos seguintes conjuntos principais, arrolados por
Kantorowicz:
a) boas maneiras (na mesa, na rua, em visita, ao falar com os superiores,
comestranhos,etc.)
b) ocasies e propriedade para estar presente a certos lugares e perante
certaspessoas
c) formasdesaudaoetratamento
d) temasdeconversao
e) modosdeescrevercartas
f) etiquetadecertoscrculosecertasprofisses
g) tato
h) comportamentoemcerimnias
i) asseionovestir
j) graudeliberdadepermitidonotratamentosexual
k) cortesiaentrenaes.
3.4.1Doutrina
S recentemente a matria despertou interesse. Observa Kantorowicz
que durante 2.000 anos, especialmente no sculo XX, elaboraramse muitas
definies de direito nas quais nem sequer se esboou o nico problema
difcil, isto , a noo de direito como algo oposto aos costumes sociais,
ressaltando, ao mesmo tempo, quea grandedificuldade do temaestem que
tanto o direito como os convencionalismos esto integrados por normas que
ordenamacondutaexterna.
Cabedoutrinaresponderaduasindagaes:
a) qualanaturezadasnormasconvencionais?
b) Sobqueaspectosdistinguemsedasmoraisedasjurdicas?
3.4.1.1DelVecchio
Como vimos, para Del Vecchio, as normas morais distinguemse das
jurdicasporseremunilaterais,enquantoestassobilaterais.Osproblemasde
conflito de aes so dois: de vrias aes diante do mesmo sujeito (conflito
subjetivo) ou das aes de vrios sujeitos, reciprocamente consideradas
(conflito intersubjetivo). moral cabe dirimir os primeiros, ao direito,
resolverossegundos.
Esse binmio enquadra toda a tica. Melhor, as normas ticas so
morais ou jurdicas, no restando lugar para uma terceira categoria, as
convencionais. Estas existem, mas seu ser meramente histrico. No
podemos,assim,responderperguntasobreoqueumanormaconvencional,
porque a possibilidade de conceituar normas de comportamento exaurese
naquelebinmio.
Entretanto, negar que se possa conceituar uma norma no arreda o
reconhecimento da sua existncia nem a necessidade de explicla. Del
Vecchio adverte que, embora as normas de condutaspossamser unilaterais
oubilaterais,ocontedodamoraledodireitotransmudasenotempo.Aeste
fato est ligada a existncia das normas convencionais, compreendidas como
normasemtrnsitoentreamoraleodireito:ousonormasmoraisemviade
jurdica,isto,unilateraisevoluindoparabilaterais,oujurdicasquepassama
morais,perdendogradualmenteabilateralidade,oquemaisfreqente.
3.4.1.2Radbruch
Adoutrinade Radbruch est vinculadaidia dasposiesdohomem
diantedosvalores:avalorativa,valorativa,referencialesupravalorativa.
Para abordar o problema, analisa a posio de referncia a valores,
prpriadohomemelaborandocultura.
Semprequefazemosalgumacoisa,buscamosumfim.Fazerimplicaum
para qu. Por isso, os objetos de cultura podem ser conceituados pela sua
finalidade.Aartetemumfim,abeleza.Asreligies,diversasentresi,tmno
mesmoideal,asantidade,apureza.As legislaes,quevariamnotempoeno
espao,refletem,noentanto,umapreocupaocomum,ajustia.Amoraltem
meta diferente: a bondade. S podemos conceituar um produto cultural pelo
seu fim especfico. Conceituamos o Direito pela justia, a religio pela
santidade,amoral pelabondade,aartepelabeleza,acinciapelaverdade.
As normas convencionais so criaes culturais, devendo, assim, ser
conceituadas segundo seu fim. Mas, ao tentarmos reconheclo, ele nos
escapa, e elas se mostram completamente vazias de finalidade. Por que, por
exemplo, o lado direito a posio de honraria? Certo gesto gentil e outro
grosseiro?Certotrajeeleganteeoutrono?Ospreceitosqueosimpemso
arbitrriosegratuitos,e,porisso,seufundamentonopodeseridentificado.
A explicao que d Radbruch para a existncia das normas
convencionaisdas mais interessantes. As regras de conduta, na suaorigem,
noestavamdiferenciadas.Nopoderamosdizerseumaerareligiosa,moral,
ou jurdica, porque todas tinham a mesma estrutura, a mesma sano e a
mesma importncia. Com o tempo processouse a diferenciao. Da tica
destacouseareligio,voltada paraosobrenatural.Maistarde,deuseaciso
entre a moral e o direito. Mas algo da normatividade primitiva restou,
exatamenteasnormasconvencionais.
A sua natureza residual patente at mesmo no aparecerem como
normas degradadas, desviadas de seu sentido primitivo. Com efeito, os
costumes sociais da velha tradio atuavam como fatores de unidade social,
comunsque eram para toda acomunidade, senhores e servos, pobrese ricos,
poderosos e humildes. Opostamente, hoje a normatividade convencional
fonte de diferenciao social. quase um privilgio de elites econmicas e
cadacrculotemasuaprpria.Agentepobreehumildenotemconvenes.
Asociedadebemplenadeformalidades.Tpicasnormasconvencionaisque
atuam como afirmativas de desigualdade social so os padres da moda. As
elitesqueoslanameadotamlogoosrepelemquandoelesseproletarizam.
3.4.1.3 Stammler
O entendimento de Stammler radica na indissolvel ligao entre a
normae suavalidade. A norma, para justificarasua prpria preceituao,h
de afirmar asua validade. Em conseqncia, no h normaque no pretenda
ser vlida, sem o que renunciaria ao seu prprio ser. Mas a pretenso de
validade noigualparatodas.Umasatemmais,outrasmenos.Mximaa
normajurdica,mnimaadaconvencional.Ajurdicaautrquicaaopostular
umaconduta,dispedeelementosparaimplaobrigatoriamente.Domesmo
predicadonodesfrutaaregraconvencional,quemeroapelofeitoconduta,
jamaisexignciadecertoprocedimento.
Estabelecendo tal distino, Stammler no equipara as normas
convencionais s morais, porque, embora estas no sejam igualmente
autrquicas, o sentido de seu apelo conduta diverso: dirigese
conscincia.Soexignciasindividuais.Asconvencionais,exignciassociais.
3.4.1.4Soml
FelixSoml(18731920)atribuisnormasjurdicasprocednciaestatal
es convencionaisorigem meramente social,enissoestoqueas distingue.
As regras convencionais surgem espontaneamente na ambincia social. As
jurdicassoprodutosintencionaisdoEstado.
A observao, numa sociedade ocidental moderna, retrata a realidade,
embora o faa apenas parcialmente. Est longe, porm, de satisfazer como
critrio seguro para a distino pretendida. Realmente, a legislao constitui,
na atualidade, o repositrio quantitativamente predominante das normas
jurdicas, mas algumas delas no procedem do Poder Legislativo, tendo
origem em atividade social espontnea. Referimonos s normas costumeiras
que tm naquela circunstncia a sua caracterstica tpica, e que, por muitos
sculos,foramapartemaissubstanciosadodireitopositivodetodosospovos.
Poroutrolado,dizerqueas normas jurdicas soprodutosdaatividade
estatalnoimportarecusarlhesorigemsocial,porqueoprprio Estadono
senoasociedadenasuaestruturapolticojurdica.
3.4.1.5Reale
Miguel Reale (1910) considera o problema em termos amplos, num
esquema geral de diferenciao de todas as regras de conduta, que situa em
quatrogrupos:religiosas,morais,jurdicaseconvencionais.
Como toda norma reflexo de um valor, diferencilas apenas
possvelserevelamosovalorprpriodecada grupo. Realeofaz da seguinte
maneira:
a) normasreligiosas,valortranscendente
b) normasmorais,valorimanente
c) normasjurdicas,valortransubjetivo
d) normasconvencionais,valorsocial.
As religiosas procuram imporseamparadasem valores queexcedem
conscinciaecompreensodohomem.Renderseaessesvalorescondio
para obedeclas. Se o valor no o sensibiliza, a norma no alcana a sua
conduta. Mas,semprequeaconduta motivadapor umfim que noestno
indivduo, nem nos demais homens, nem na totalidade dos homens, a sua
naturezareligiosa.
As morais apelam para um valor imanente ao prprio indivduo. Os
valoresemquerepousamsointegrantesdasuaconscinciaeasuaexecuo
umatodeautnticarealizaodohomememsimesmo.
As jurdicas impemse mediante valores que, ultrapassando o restrito
campo da conscincia individual, nem por isso se elevam a planos que a
transcendem. Aplicamse a um setor da conduta, no qual os valores so
comuns aos homens de cada grupo, no podendo, assim, o procedimento de
uns discrepar do de outros. Seus valores so compreensivos da conduta em
relao, e, por isso, transubjetivos, do que resulta a sua obrigatoriedade,
condioelementardesobrevivnciadasregrasqueosencarnam.
Asconvencionaistmumavalidademeramenteobjetiva,dirigindosea
umaextensamaspoucosignificativareadecondutaemconvivncia.Disso,e
somentedisso,tiramoseuprestgio,de modoqueoatodecumprilasode
umasubmissosemjustificativa.Nelassobrelevaaconformidadeexterior.
3.4.1.6Siches
Siches faz, tambm, extenso estudo de todas as normas de conduta, e
indicaasingularidadedecadaumdosseusgrupos.
As morais, as jurdicas e as convencionais, pelo fato mesmo de serem
normas, devem ser consideradas espcies de um gnero comum. Integrantes
de um gnero, no podem deixar de apresentar afinidades autnomas em
espcie, oferecem, por outro lado, caractersticas prprias. A tarefa terica
consiste, portanto, em indicar, comparando grupo a grupo, suas afinidades e
diferenas.
oqueSichesfaz.
Comparando as normas morais e convencionais, nelas assinala as
seguintessimilitudes:
a) no tendem execuoforada, sim imposio de umcastigo,o que
as extrema das jurdicas, que apenas se valem das sanes no
coincidentes,quandoimpossveisouinadequadasascoincidentes
b) sofacultativas.
Distinguemse,porm,claramente:
a) as morais visam ao indivduo em si, na sua condio singular
irredutvel, razo pela qual o acompanham em qualquer momento e
local,aopasso queasconvencionaisoconsideramem grupo,perdendo
sentidoemrelaoaoindivduoemsolido
b) avalidadeemqueseapoiamas moraisideal,representativasqueso
de um anseio da conscincia, a em que assentam as convencionais
meramentesocial
c) asmoraissoautnomas,asconvencionais,heternomas.
Fazendo paralelo entre as normas jurdicas e as convencionais, indica
lhesassemelhanas:
a) cartersocial,dadoquenodispemsenosobreacondutadohomem
emconvivnciaedestaprocedem
b) exterioridade
c) heteronomia.
Eassingularidades:
a) ocastigosempreasanodeumaregraconvencional
b) a regra jurdica almeja sempre que a conduta seja a que indica
(execuoforada),valendosedocastigoapenascomosucedneo.
3.4.2Concluso
Pareceaindamuitolongedeumaconstruodefinitivaadoutrinasobre
asnormasconvencionais,oquetantomelhorseaceitaquantobastantenova
asuaelaborao.
Em1935,emParis,reuniramserepresentantesdafilosofiadodireitode
13 pases, para debate sobre o tema Direito, Moral e Costume. Procuraram
seusparticipantes,laboriosamente,caracterizarcadagrupodenormassegundo
seucontedoesuaaplicao,abstrao,feitadesuassanes.
Manifestou,ento,Weber,queumcorpodenormas:
a) costume social, se a sua validade se acha garantida externamente pelo
fato de que uma conduta no ajustada s normas defrontase com uma
desaprovaopraticamenteuniversalerealmentegravosa,dentrodeum
crculodeterminadodepessoas
b) direito,seamesmavalidezseachagarantidaexternamentepelofatode
queseaplicarumacoao(fsicaoumental)porumgrupodepessoas,
cuja tarefa especfica consiste em tomar medidas diretamente
encaminhadasefetivaobservnciadasnormas,oubemaocastigopela
suatransgresso.
Na mesma oportunidade, Jean T. Delos (1891) estabeleceu a diferena
em outros termos, asseverando que a norma jurdica procede de um ato de
conscincia coletiva do grupo poltico, que essencialmente elaborao e
interpretao, transformandoseposteriormenteem ato de vontade imperativa
do grupo, enquanto que a norma social sofre uma transformao atravs de
sua elaborao e constitui, por isso, a matriaprima de uma construo ao
termodaqualanormaseapresentasobumaformanova.
Comosev,aprpriamaneiradeapresentaroproblemapodeconduzir
asutilezasedevassarperspectivasinteiramenteoriginais.
4DisciplinasJur dicas
4.1 DISCIPLINASFUNDAMENTAISEAUXILIARES
Desenvolveremosestamatriaemquatrotpicos.Noprimeiro,faremos
o estudo geral das disciplinas jurdicas e a sua diviso em fundamentais e
auxiliares. Em seguida estudaremos, em tpicos distintos, a Filosofia do
Direito e a cincia do Direito, disciplinas jurdicas fundamentais, e, por
ltimo, a Teoria Geral do Direito, cuja importncia, tanto no campo da
filosofia como no da Cincia do Direito, autoriza a sua considerao em
captuloprprio.
Qualquer objeto de conhecimento pode ser considerado de muitos
focos. Dessa circunstncia resulta ser alvo da convergncia de vrias
disciplinas. Num corpo, por exemplo, podemos analisar a forma, a estrutura,
asfunes,etc.Osabercientficoesgotaoexamedeumobjetoestudadosob
certa dimenso. Se ele pluridimensional, justificar tantas cincias quantas
suasdimenses.
O homem indivisvel. No entanto, pode ser examinado quanto sua
anatomia,suamorfologia,suafisiologia,suapsicologiaeassimpordiante. O
objeto um s: o homem. Os ngulos so muitos. A tantos critrios
correspondem tantas cincias. O mesmo acontece com o direito: o
conhecimentojurdicoresolveseemvriossaberesespecializados,acadaum
dosquaiscorrespondeumadisciplina.
As disciplinas jurdicas so fundamentais e auxiliares. As bsicas,
essenciais, indispensveis, denominamos de fundamentais. Sem elas no
existeautnticosaberjurdico. As auxiliares ou complementaresenriquecem
no,trazendolhenovoshorizontesecontribuiesoriginais.
Adistino entredisciplinasfundamentaisecomplementaresse arrima
nas caractersticas de cada grupo. As fundamentais apresentam trs: mnimo
de conhecimento, pureza de objeto e de mtodo. As auxiliares ministram
conhecimento complementar e, quanto ao mtodo e objeto, apresentamno
mescladoscomosdeoutrascincias.
As disciplinas fundamentais donos o mnimo de conhecimento
imprescindvel do Direito. Esse conhecimento, porm, no o nfimo, sim o
relativoaoobjeto integral. justamente porissoque,no seudesdobramento,
no comprometem a unidade do fenmeno jurdico, temida por Nelson
NogueiraSaldanhaaoabordaramatria,poisque,copiandolheaspalavras,
todoodireitoquecadaumadelasencara,emboraporseuprprioprisma.
claro,todavia,que,sepodemosapreciarumobjetodemuitosngulos,
tambm podemos acrescentar ao conhecimento mnimo total outros, alm da
integralidadedoobjeto,provenientesdecinciascomplementares.
O objeto de uma disciplina jurdica sempre o Direito, que um
complexo normativo, um conjunto orgnico e sistemtico de normas. As
disciplinasjurdicasfundamentaisconsideramoDireitonessapureza,svem
o seu aspecto normativo e nenhum mais. Da a pureza de seu objeto. J as
disciplinas complementares vemno debaixodeoutrosaspectos, cujosperfis
sodadosporoutrascincias.
Omesmosucedecomosmtodos.Osdas disciplinasfundamentaisno
se confundemcomosdas demais. J as disciplinas jurdicas complementares
ouauxiliaresadotam mtodosemprestados. Assim,do mtododaobservao
servesea sociologia jurdica, do mtodocomparativo,o Direito Comparado,
etc.
4.1.1Disciplinasfundamentas
De acordo com o entendimento que adotamos, disciplinas jurdicas
fundamentais so a Filosofia do Direito e a cincia do Direito. Esse critrio
novlidosomenteparaasdisciplinasjurdicas,masparatodas.Acogitao
intelectual bifurcase em Filosofia e Cincia, duas atividades aplicadas
pesquisadaverdade.
A propsito de todos os objetos existe uma posio filosfica e outra
cientfica. Temos, por exemplo, a Sociologia e a Filosofia da Sociologia, a
FsicaeaFilosofiadaFsica,aHistriaeaFilosofiadaHistria.
ACinciaconvergeparaoobjetorealizandotarefaanaltica,aFilosofia
encarao globalmente,pretendendoumresultadosinttico.De modoquetodo
objetopodeserconsideradodebaixodesseduplofoco:seuaspectofilosficoe
seuaspectocientfico,portanto,suacinciaesuafilosofia.Logo,nocampodo
Direito,aCinciaeaFilosofiadoDireito.
Reale apresenta outra enumerao das disciplinas jurdicas
fundamentais. Entende que no so duas, mas trs: Filosofia do Direito,
Cinciado Direitoe SociologiaJurdica. O Direito podeser vistocomofato,
normaouvalor.Fato,temumadisciplinafundamental,a SociologiaJurdica
norma,aCinciadoDireitovalor,aFilosofiadoDireito.Ressalvese,porm,
que este esquema resulta, apenas, da aplicao do pensamento do professor
paulista ao problema suscitado, sendolhe infiel, todavia, sob outro aspecto,
porque o prprio autor afirma que fato, valor e norma so apenas dimenses
nticasdoDireito,oqual,dessemodo,insuscetveldeserpartidoemfatias,
sob pena de ficar comprometida a natureza especificamente jurdica da
pesquisa. Ou, como explica o seu expositor Pablo Lopez Blanco, as cincias
destinadasaoexamedoDireitonosediferenciamentresipordistriburemse
fato,valorenorma,comoelementosdiferenciveis,simpelosentidodialtico
de suas respectivas investigaes, j que, se bem possa preponderar um
determinado ponto de vista, sempre haver de fazlo em funo dos outros
dois.
Entendemos, com HansReichel, que,por maior quesejaa importncia
doconhecimentosociolgicoparaojurista,asociologianodeixadeseruma
cinciajurdicaauxiliar.
4.1.2Disciplinasauxiliares
As disciplinas jurdicas complementares so inumerveis, dado que
qualquer cincia pode trazer sua colaborao ao conhecimento do objeto da
outra. As fundamentais so numerveis porque correspondem a modalidades
caractersticaseirredutveisdeatividadeintelectual,aomesmotempoemque
solimitadasnareadoobjetoqueabordam.Ascomplementaresserotantas
quantassejamaspossibilidadesdeoutrascinciastrazeremasuacontribuio
aoestudodoDireito.
Delasdestacamostrs:SociologiaJurdica,HistriadoDireitoeDireito
Comparado.
4.1.2.1Sociologiajurdica
Asociologiajurdica estudaoDireitocomofato,isto,comoprocesso
social, no mesmo nvel e adotando o mesmo interesse de outras cincias
sociais especiais em relao a diversos processos, o econmico, o poltico, o
religioso, o gentico, etc. A sua finalidade, explica C. H. Porto Carreiro,
estabelecer uma relao funcional entre a realidade social e as manifestaes
jurdicassobaformaderegulamentaodavidasocial.
AposiodaSociologia,diantedofatojurdico,naturalstica,diversa
daquela do jurista ante a norma. A cincia do Direito estuda a regra como
deverobjetivo,eaSociologiaaconsideranasrazessociaisqueadeterminam,
menoscuidandodaqueladoquedestas.
Kelsenexplica,depoisdequem,nojustoreparodeA.L.MachadoNeto
(19301977) a Sociologia e a Cincia do Direito ficaram nitidamente
separadas como cincias no s de diversos objetos, mas de diferentes
espritos ou estruturas tericas, explica com inteira propriedade, que nessa
preocupao exclusiva pela norma em si mesma que est a radical distino
entre a Cincia do Direito e qualquer outra modalidade de conhecimento da
realidade jurdica, especialmente daquela destinada a indagar as causas e
efeitos de certos fatos naturais que, interpretados pela norma jurdica,
mostramse como atos jurdicos, isto , da Sociologia do Direito. Esta,
efetivamente,temapenasquevercomalgunsfatos,osquaissoconsiderados
sem nexo com qualquer norma reconhecida ou suposta vlida. Destarte, as
relaes que pretende fixar nunca podero ser postas entre os fatos e as
normas,massempreentreosprimeiros,comocausaseefeitos.
exatamente o que observa Fritz Schreirer, quando afirma que seu
objeto so fenmenos da vida coletiva, tais como, por exemplo, o fato de os
homens disputarem entre si e resolverem suas pendncias de uma certa
maneira.
Estas ponderaes avultam entre outras que justificam no se possa
atribuir Sociologia jurdica a condio de disciplina fundamental, a menos
que, no rumo de Lon Duguit (18591928), pretendase fazer da prpria
dogmticajurdicaumadisciplinasociolgica.
4.1.2.2Histriadodireito
EntreasociologiadoDireitoeahistriadoDireitohclarasafinidades,
at mesmo porque esta fornece quela a massa de fatos necessria s suas
generalizaes. Mas a simples acumulao de fatos cronologicamente
ordenados, adverte Von Wiese, no basta para dar o conhecimento da
realidade, que apenas se obtm por um processo de abstrao, ao termo do
qual se alcana o conhecimento das relaes entre os homens que naqueles
interferem. Por isso, enquanto a Histria uma cincia individualizadora, a
Sociologiageneralizadora.Ohistoriadorprocuranosacontecimentososseus
matizespeculiares.Osocilogoosutiliza paraaformulao de leisabstratas,
de modo que o fato,uma vezaproveitado,tornase insignificativo. Ou,como
ensinaPontes de Miranda,aHistriaquerofatoconcreto,a vida,arealidade
complexa, particular, e a Sociologia procura em tudo isso o permanente, a
uniformidadeparaasinduescientficas,tantomelhoresquantomaisslidas
erigorosas.
A histria do Direito recapitula, ainda que ordenadamente, a evoluo
dasinstituiesjurdicas atravsdotempo,econstitui,naopiniodeThomas
A. Cowan, um instrumento indispensvel para a cincia do Direito. Sua
utilidade,consoante oesquemadeJuan AntnioIribarren,dupla: serve como
elementodeculturageralecomoauxiliarnoestudointensivodoDireito.
A histria do Direito pode ser interna e externa. A distino
relativamente graciosa e sem maior importncia. A externa relata a evoluo
das fontes formais do direito, principalmente a lei. superficial, visa a
realidade jurdica na sua aparncia. Da a denominao externa. A histria
interna,partindo doselementos ministrados pelaexterna, procura reconstituir
a evoluo das instituies jurdicas na sua intimidade, nas suas causas e
conexes profundas. A histria externa narra a interna, restaura. Por isso,
qualquerhistorigrafopodefazerhistria externadodireito, masa internas
o jurista. que esta, conforme destaca Abelardo Torr, no se limita a uma
simples narrao cronolgica do Direito Positivo, seno que explica suas
transformaesemfunodedistintascausasefatores(econmicos,polticos,
culturais, militares, morais,religiosos,psquicos etc.),situandoas instituies
jurdicas dentro de um processo histricosocial e enfocando o fenmeno
jurdiconoseueternodevir,comumafinalidade,aomesmotempo,descritiva,
interpretativaeexplicativa.
4.1.2.3DireitoComparado
O Direito Comparado uma disciplina jurdica complementar cuja
natureza emerge bem clara da sua prpria denominao. Tem por finalidade
essencial o estudo comparativo de vrios sistemas de Direito Positivo,
contemporneosouno.
A despeito da diversidade que existe entre os sistemas de Direito
Positivonacionais,aqual,todavia,vaiseabrandandosempremais,namedida
emqueseestreitamasrelaesentreospovosesemultiplicamosveculosde
comunicao, as instituies jurdicas parecem fiis a certos modelos
estruturais, e sua evoluo segue uma linha relativamente comum. O Direito
Comparado explora esse aspecto do Direito, procurando as similitudes e
coerncias, e tentando alcanar leis aplicveis evoluo das instituies.
Conforme explica Cndido Lus Maria de Oliveira (18451919), a
comparao, no tempo, deve consistir principalmente no estudo histrico do
fenmeno jurdico, desde o seu aparecimento inicial at a estratificao
definitivadahoraatual.Eocomparador,aoestabeleceroconfrontoanalgico,
estuda a contextura de cada um dos organismos sociais, aquilata o grau das
civilizaes respectivas e pe em cotejo, ao lado da regra de Direito, as
circunstncias peculiares a cada coletividade e os diversos setores tnicos e
culturais respectivos. Em conseqncia, o Direito Comparado nos d uma
noo extremamente vasta dos ordenamentos jurdicos nacionais de todos os
povos em todos os tempos, e, por isso, alm de fornecer precioso subsdio
TeoriaGeraldoDireito,cujassntesesindutivassomentepodemseratingidas
na base de uma farta experincia, alcana ele mesmo importantes snteses
conceituais,naexpressodeWilsondeSouzaCamposBatalha.
O Direito Comparado pde alcanar nvel de verdadeira disciplina
jurdicaauxiliara partirdaexpanso da culturaeuropia, na Segunda metade
do sculo XIX, desde quando os juristas passaram a almejar conhecimentos
mais amplos e tambm quando o prprio contedo da civilizao, como diz
Adolfo Rav (18791957), passou a ser fruto do encontro dos povos. Sua
origem remonta a Giambattista Vico (16681744), Anselm von Feuerbach
(17751833) e a Johan Jakob Bachofen (18151887). Mas aqueles que lhe
emprestaramseu maisaltosentido,odepesquisaras relaesquetmentre i
as formas e os fenmenos jurdicos que se apresentam diferentes no tempo e
no espao, buscando suas caractersticas fundamentais, foram Joseph Kohler
(18491919), um dos diretores da Revista Para a Cincia Comparada do
Direito, fundada em 1878, Hermann Post (18391895), Charles Letourneau
(18311902), Rodolphe Dareste (18241911), Maine, John Ferguson Mac
Lennan(18271881)eLewisHenryMorgan(18181881).
4.2FILOSOFIAJURDICA
A Filosofia Jurdica departamento da Filosofia Geral. Esta tem seus
problemas prprios, que noseconfundem com os de qualquer cincia e no
soasomadosproblemas dascincias.Paralelamente,hfilosofiasespeciais
correspondentes s vrias especializaes do saber cientfico. Porque toda
Cincia tem sua Filosofia, h uma Cincia do Direito e uma Filosofia do
Direito. O objeto de ambas o mesmo, o Direito. Divergem na posio que
assumem,natemticaquesugeremenoprocedimentoqueadotam.
4.2.1Cinciaefilosofia
AdistinoentrefilosofiaecinciadoDireitonopodeserabordadano
campo estrito do saber jurdico, porque no h distino especfica aplicvel
somenteaelas,mas caracteresquedistinguemafilosofia geraldacinciaem
geral.
Cincia e filosofia coincidem, enquanto tm alguma coisa de comum,
convergemparaomesmofim,traduzemoexercciodamesmaaptidomental.
MundoehomemsoobjetodecogitaotantodaCinciacomodaFilosofia.
Existe uma cincia do mundo e uma filosofia do mundo, uma cincia do
homemeumafilosofiadohomem.Ambasprocuraaverdade.
Adiferenaestnaposiodecadauma.
A cincia setorial, a filosofia, global. A cincia um elenco de
snteses parciais, a filosofia, uma sntese total. Por isso, existem muitas
cincias, mas s h uma filosofia. A cincia considera grupos de fatos e de
coisas, e procura integrlos num saber coordenado. Assim, h a cincia dos
fatosfsicos,dosqumicos,dospsquicos,dossociais,etc.
Cada cincia uma diminuta viso geral de um aspecto do mundo, de
umacoordenadadeacontecimentos.Naproporoemqueevolui,acinciase
fragmenta. Hoje, no temos mais uma s fsica, mas numerosas, cada uma
delas fazendo a sntese de uma certa classe de fenmenos fsicos. que o
sabercientfico,porsuaprprianatureza,levadodiversificao.
J a Filosofia tenta uma compreenso universal da tenta uma
compreensouniversaldarealidadeedaexistncia.Noseconformaemobter
conhecimentosintticodeumsetor,deumcampofenomnico,querformular
umaconcepodetodaarealidade.Afilosofiacosmolgicaumaconcepo
globaldomundo.Aantropolgica,umaconcepoglobaldohomem.
Sobesteaspecto,adistinoentreFilosofiaeCinciafoiconcebidaem
termos lapidares por Spencer: a Cincia o saber parcialmente unificado e a
Filosofia,osabertotalmenteunificado.,tambm,aidiadeWilliamJames,
cuja importncia doutrinria foi enfatizada por Bertrand Russel: a Filosofia
almeja a totalidade, tanto como unidade quanto como diversidade. Esse
critriovlido,tambm,paraafilosofiaeacinciadoDireito.
Observese, porm, que a temtica da Filosofia no a soma dos
problemas cientficos. O mesmo objeto, visto em setores, oferece certos
problemas,e,emconjunto,outros.
Alm disso, a Cincia meramente explicativa e a Filosofia, alm de
explicativa,tambmvalorativa.
A posio cientfica avalorativa. Fazer cincia descrever
imparcialmente, neutramente, a realidade. A Psicologia narra certos
fenmenos,aFsica,outros,aAstronomia,ainda,diferentes.
A posio do filsofo diversa. O primeiro apelo que lhe faz a
Filosofia,noensinamento de Johann Gottlieb Fichte (17621814), para que
eledirijaoolharparasimesmo,comohomem.Umdosseusgrandesmveis
o problema do homem, que no aceita estar no mundo semelhana dos
outrosseresapenasexistindo,masquerumaconscinciaprpriaedosvalores
que o norteiam. Como afirma Dilthey, a Filosofia uma obra que parte da
necessidade que experimenta cada esprito de refletir sobre sua ao, da
configurao interior e da firmeza do obrar. Por isso, toda filosofia encerra
uma tica, ou ela mesma uma tica, segundo o entendimento de Theodor
Haecker(18791945):concepodohomemcomoserprtico.
Ainda,acinciaassentaempressupostos,presumindoverdadessobreas
quais no faz crtica. Exemplo, a cincia que tem a maior presuno de
certeza, a matemtica, assenta em axiomas, verdades tidas por evidentes,
dispensando demonstrao. As cincias naturais, quando formulam leis,
partemdopressupostodequeaordemdomundoinvarivel,dequeascoisas
comosohojesempresero,queosfatoscomoacontecemaquiacontecemem
todaparte.Etodaspresumemqueohomempodeconheceraverdade.
A Filosofia que, segundo a expresso de Josiah Ruyce (18551916),
citadoporJosephBlau,temnodesesperodeumadvidacompletaeintegrala
sua mais tpica experincia, antes de examinar qualquer objeto de
conhecimento, analisa o prprio conhecimento. Tudo aquilo que a cincia
aceita como dogmas, a partir dos quais avana, alvo da crtica filosfica.
Assim,serlegtimoindagaremfilosofia:hdefatoumaordeminvarivelno
mundo?Omundotalcomoovemos?
O saber filosfico autnomo, bastase a si mesmo. Na expresso
sugestivadeAristteles,onicoquenotemdonoequepodeteronomede
livre.Constriseusprpriospressupostos,aopassoqueosabercientfico,que
assentaemdadoscujoexamecabeFilosofia,noo.
Finalmente, o problema da metodologia cientfica inserese na rea da
Filosofia, no da Cincia. Filosofia que incumbe indicar o mtodo
adequado de cada procedimento cientfico. No que diz com o conhecimento
jurdico, filosofia do Direito que cabe a indicao e a crtica do mtodo
prpriodacinciadoDireito.
4.2.2Objetodafilosofiajurdica
CoubeaIclioVannifazeraprimeirasistematizaomodernadostemasda
filosofia do Direito, cuja importncia o positivismo minimizara. Fazendo
traado paralelo ao que Andrea Angiulli (18371890) fizera para a filosofia
geral (saber, ser, ao), Vanni indicou como temas prprios da filosofia do
Direito:
a) problemagnoseolgico(saber),pertinenteindagaosobreoconceito
dedireito,emsentidoestritamentelgico
b) problemafenomenolgico(ser),peloqualseabordaarealidadejurdica
emsuamanifestaohistricapositiva
c) problemadeontolgico(ao),relativoconsideraodofimdodireito
em sentido tico, em enlace com a lei geral que preside s sanes
humanas.
Del Vecchio, em cuja filosofia jurdica est presente a influncia de
Vanni,atribuiaestadisciplinaaseguintetemtica:
a) problemalgico,porviadoqualseconsideraaformulaodoconceito
deDireito,semindagaodocontedodequalquernorma
b) problema fenomenolgico, relativo ao exame do Direito com fato, o
qualconduz,assim,concepodeumahistriauniversaldofenmeno
jurdico,namultiplicidadedesuasformas,aspectoserealizaes
c) problema deontolgico, em funo do qual se indaga o que deve ser
Direito, levando, assim, idia de justia como aspirao do esprito
humano.
Em conseqncia, define a filosofia jurdica como a disciplina que
investiga o Direito em sua universalidade lgica, investiga os fundamentos e
os caracteres gerais do seudesenvolvimentohistricoe os valores segundoo
idealdejustiadadopelarazopura.
Importante, na matria, a teoria Stammler, pela sua indiscutvel
influncia no ressurgimento da filosofia do direito, a partir das ltimas
dcadas da segunda metade do sculo XIX. Stammler atribui filosofia do
direito o exame de dois problemas fundamentais: o conceito e a idia do
direito, a cada um dos quais corresponde um departamento prprio,
respectivamente, a lgica jurdica e a axiologia jurdica. Sob influncia de
Kant,atribuiaoconceitosentidomeramenteformal.Assim,conceituaroque
uma realidade significa caracterizla a priori, de modo a distinguila de
qualquer outra. Em relao ao direito, o seu conceito, portanto, deveria ser
abrangente de qualquer realidade jurdica histrica. Mas o direito anseio
humanopor um valor, a justia. Assim, nopode asua filosofiaomitirse de
considerlosobtalaspecto.Oestudodestetemacabeaxiologiajurdica.
Traando as duas grandes linhas mestras da investigao filosfico
jurdica,indicouaindaStammleroutrostemas,quediramoscomplementares,
paraadisciplina:
a) estudo das categorias fundamentais do pensamento jurdico, derivadas
doprprioconceitodedireito(sujeitoobjeto)causarelaosoberania
subordinaoregularidadejurdicaantijuridicidade
b) fontesdeondeprovmasinstituiesjurdicaspositivas
c) tcnicas (normas, hermenutica, lacunas, etc.) e prtica (esforo de
realizaodosvaloresjurdicosnoDireitoPositivo).
Miguel RealedivideafilosofiadoDireitoemduaspartes:umageral,a
ontognoseologiajurdica,destinadaadeterminaranatureza,aconsistnciaea
essncia do Direito, isto , as suas estruturas objetivas, assim como a sua
conceituaoessencialeumaparteespecialquedivideem:
a) epistemologia jurdica, tendo por objeto o problema da vigncia e dos
valoreslgicosdoDireito
b) deontologia jurdica, ou doutrina dos valores ticos do Direito
(problemadofundamentodoDireito)
c) culturologiajurdica,doutrinadosentidodaconcretizaohistricados
valoresdoDireito(problemadaeficciadoDireito).
Entendemos que a filosofia jurdica no se limita ao estudo de
problemas formais. O jurista no pode ter do Direito somente uma noo
lgica, mas deve tambm conheclo na sua essncia. Por outro lado, as
cogitaesdenaturezahistrica,poramploquesejaohorizontedapesquisae
ambiciosas as concluses, escapam, sem dvida, temtica de qualquer
filosofiadeumacincia.
Inclinamonos, assim, a indicar os trs problemas fundamentais da
filosofiadoDireito:
a) problemalgico(lgicajurdicaemsentidoamplo),cujosobjetossoo
conceito do direito, pelo qual o distinguimos de tudo quanto no
direito, vlido para qualquer realidade jurdica positiva, em qualquer
lugar, em qualquer tempo, categorias jurdicas e o mtodo do
conhecimentojurdico
b) problema ontolgico (ontologia jurdica), relativo indagao sobre a
essnciamesmadodireitoemsi,comoconduta
c) problema axiolgico (axiologia jurdica), relativo especulao sobre
osvaloresjurdicos,emcujacpulaestajustia.
4.3CINCIADODIREITO
A cincia do Direito, ensina Eduardo Garcia Maynez (1908), tem por
finalidade a exposio sistemtica do Direito Positivo e o exame dos
problemasligadossuaaplicao.
O seu objeto sempre o Direito Positivo. Sendo este um para cada
Estado, aplicaseelasemprea um Direito Positivo, isto ,aum ordenamento
jurdicovigentenumlocalenumtempo.
Ela estuda a norma positiva de maneira esgotadora e sistemtica. Mas,
comoaregrajurdicanosomenteobjetodesaberterico,porqueseufim
essencialmente prtico, ao seu aspecto expositivo outro se acrescente, o
tcnico ou prtico, pelo qual se consideram os problemas ligados sua
aplicao.
Dividese, portanto, em duas partes, uma terica e outra prtica. A terica
chamamosdesistemticajurdica.Aprtica,detcnicajurdica.
AcinciadoDireito,comosistemticajurdica,temcarterdogmtico.
Esse carter justifica uma das suas denominaes (dogmtica jurdica) e
consiste em que, quando o jurista realiza atividade estritamente cientfica,
aceitaaregra jurdicacomoum dogma, semelhana do telogoque,diante
dopreceitocannico,deveapenasaceitloeinterpretlo.
Posiodiversaseriaequiparveldofsicoqueinvestissecontraasleis
naturais, que esto para as cincias naturais, neste sentido, como as jurdicas
para a cincia do direito. No quer isso dizer que o jurista, como filsofo,
poltico, socilogo, no possa contestar a lei e at mobilizar esforos para
revogla. Mas essa atitude no lhe ser prpria no campo especificamente
cientfico.Alis,todaatividadecientficaneutra,demerasensibilidadepara
oreal,enopodesercontaminadaporjuzoscrticosquelhecomprometeriam
apurezaascticadaatitudeavalorativa.
Caracteriza, tambm, a cincia do Direito oserreprodutiva,nosentido
deque,tendoporobjetonormas,noascria,masasreproduz.Devesenotar,
entretanto, que a reproduo, no caso, no apenas da norma em si mesma,
desenraizada da sua ambincia, mas daquela compreendida em funo das
suas vertentes, como espelho de valores comunitrios e, assim, expresso de
modelossociaisdecomportamento.
A cincia do Direito distinguese, com bastante clareza, da Filosofia
jurdicaedaTeoriaGeraldoDireito.
Da primeira bem se emancipa pela circunstncia de lhe ser estranha a
posio valorativa,que , porexcelncia, a dafilosofiadoDireito. Esta faza
crtica do direito positivo, ao passo que a cincia do Direito o analisa e
descreve.
TambmacinciadoDireitopartedenoesquetmporindiscutveis
osseuspressupostos.AFilosofiajurdicadedicaseanliseecrticadesses.
Eaindaomtododaquelacabeaestaindicar.
Adistino entrecinciadoDireitoeteoriageraldo Direitoresumese
emqueaSegundaanalisa os direitos positivos existentes,atuais oupassados,
para identificar as suas similitudes e, por induo, generalizar princpios
fundamentais,denaturezalgica,vlidosparatodos.AcinciadoDireito,no
entanto,adespeitodoseuinstrumentallgicoprprio,cinciadeumDireito
Positivo, do Direito Romano, do Direito germnico, do brasileiro, do
sovitico, etc., e, estudando um sistema de Direito Positivo, procura menos
destacarassuassimilitudescomoutrosdoqueassuascaractersticas.
Tambm as noes fundamentais formuladas pela teoria geral do
Direito,acinciajurdicaasdporpressupostasenoasaborda.
4.3.1Diviso
AcinciadoDireito,comojindicamos,divideseemdoisramos:
a) terico:sistemticajurdica
b) prtico:tcnicajurdica.
O contedo de ambos transparece do seu prprio conceito: disciplina
que tem por objeto a exposio sistemtica de um Direito Positivo (parte
terica, sistemticajurdica)eo estudodos problemas ligados aplicaodo
Direito(parteprtica,tcnicajurdica).
A sistemtica jurdica comea por uma tarefa classificadora, porque o
DireitoPositivoseoferececomoumaglomeradoderegrasdecondutaqueno
estoorganizadassegundoumesquemalgico.
Se visitssemos um povo, do qual nunca tivssemos tido notcia, e
quisssemosestudaroseudireitopositivo,comearamosporanotarasregras
de conduta obrigatrias e no arbitrrias, porque essas seriam as jurdicas.
Quando tivssemos aprecivel soma de material levantado, conheceramos o
seu Direito Positivo, ainda confuso. Sentiramos, ento, a necessidade de
organizaromaterialcoligido,vistoquenosepodecompreendereexporuma
realidade,semordenlapreviamentenumaestruturaracional.Essaamisso
inicial da sistemtica jurdica: organizar o Direito Positivo, classificando as
regras jurdicas que servem a finalidades diferentes. Organizamos as normas
pertinentes a um fim comum, e, em posio diversa, as alusivas a outro fim
comum. A primeira observao a de que h regras de Direito destinadas a
atender ao interesse pblico e outras reservadas s necessidades particulares.
TemosaoprimeiroesquemadecompreensodoDireitoPositivo.Dizemos:o
Direito pode ser pblico ou privado, conforme suas regras atendam a
necessidades sociais ou particulares. Considerando somente as segundas,
veremos que elas tambm se diversificam, de acordo com certas
caractersticas. Temos, assim, regras civis e comerciais. As civis servem a
finalidades diversas. Umas dispem sobre a famlia, outras sobre a
propriedade, outras sobre os contratos, etc. A todos esses campos do Direito
emprestamos umarranjolgico, para explos de maneiraorgnica,tarefa da
sistemticajurdica,comooprprionomeodiz,desistematizao.
No podemos entender nenhum ramo do Direito sem sistematizlo.
Qualquerpessoa,aindaamais ignorante,dotadadeboa memria,pode saber
de cor os artigos do Cdigo Civil. O civilista pode no memorizar nenhum,
massomenteelesabeoDireitoCivil,porquetemvisolgicadotexto,ainda
que a coordenao deste possa no ser logicamente impecvel. Por isso,
Martnez Paz, citado por M. Carbone, atribui sistemtica jurdica o estudo
dos processos lgicos necessrios para reduzir a sistema o conjunto dos
princpiosjurdicosquecompemumordenamentodeDireito.
A tcnica jurdica de formulao e aplicao. Porque as normas
jurdicas so formuladas e aplicadas, h uma tcnica para formullas, outra
para apliclas. O legislador as elabora, objetivando, como doutrinam Carlos
Mouchet(1906)e RicardoZorraquin Bec,transformaros finsimprecisos da
cinciaedapolticaemnormasquepermitamsuarealizao.
Atcnica legislativa, emsentido lato,segundo oensinamento de Hlio
FernandesPinheiro,envolvetodooprocessoevolutivodeelaboraodasleis,
isto , desde a verificao da necessidade de legislar para um determinado
caso, at o momento em que a lei dada ao conhecimento geral. Talvez
mesmo por ser demasiadamente ambiciosa essa meta, que Victor Nunes
(1914) confessa duvidar do xito pleno da formulao de boas normas de
tcnica legislativa, acrescentando que assim pensa porque o problema
essencialmentedecultura,emespecialdeculturajurdica.
So problemas da tcnica de aplicao: vigncia, interpretao,
integrao,eficciadaleinotempoeeficciadaleinoespao.
Atodosestudaremosnapartefinaldestetrabalho.
4.3.2Naturezacientfica
H quem conteste o carter cientfico do saber jurdico, pelo
entendimento de que somente os objetos naturais podem ser cientificamente
abordados.
Seracertadaestacontestao?Examinmola.
As palavras que maior eco encontraram foram as de Hermann
Kirchmann (18021884) que, numa famosa aula reitoral, contestou o direito
comocincia,demodoacrimoniosoe,svezes,pitoresco.
Partiu Kirchmann da observao, sem dvida procedente, de que o
objeto de uma cincia sempre independente dela mesma. Exemplificava: o
teoremadePitgoras(565497a.C.)existiaantesqueeleotivessedescoberto,
assimcomoosanimaissempreviveram,dentrodesuaprpriafisiologia,antes
que a cincia os descrevesse. O mesmo acontece com o conhecimento
jurdico,cujoobjetosoinstituies,afamlia,ocasamento,apropriedade,os
contratos, etc. Um povo pode viver sem cincia jurdica, no sem Direito.
Assim, cincia do Direito cabe misso igual das demais cincias em
relao ao respectivo objeto: compreendlo, achar suas leis, desenvolver
conceitos, precisar as conexes existentes entre as vrias instituies e, por
fim,tudoexporemumsistemaclaro.
lcito ento indagar: como tem ela desempenhado sua tarefa? A
respostadesanimaefrustra.Diantedeoutrascincias,ajurisprudnciarevela
espantoso atraso. Na Grcia, por exemplo, j alguns ramos do conhecimento
haviam feito aprecivel progresso, enquanto que a jurisprudncia, mxime a
relativa s instituies privadas, apenas iniciara seu trabalho. Com Francis
Bacon (15611626), firmado o princpio da submisso da especulao
experincia, as cincias progrediram espetacularmente, menos a do Direito
queficouestagnada.
A causa dessa situao, porm, no pode ser atribuda aos juristas,
tantos so os sculos de sua atividade, mas ao objeto mesmo daquilo que
pretendemsejaasuacincia.Ser,portanto,acomparaodesseobjetocom
osdeoutrasdisciplinasquerevelaraessnciadoproblema.
Se promovemos esse paralelo, vemos que os objetos de outras cincias
soimutveis (osastros, os corposanimais,etc.),jododireitocambiante.
Se uma cincia de objetos reais se atrasa, essa circunstncia no a
compromete: a qualquer tempo, ela os encontrar tal como eles soe sempre
foram.Mas,seajurisprudncia,porhiptese,aocabodelongosanos,pudesse
alcanarumautnticoconceito,umaverdadeiralei,seuobjetojteriavariado.
Suafatalidadechegartardiamenteaoconhecimentodaquiloaqueseaplica.
Porexemplo,oEstadogregosfoiperfeitamentecompreendidodepoisdasua
decadncia.
Da,comocorolrios:
a) a cincia do direito tende a oporse ao progresso do prprio direito,
razovel que seja que se apegue s suas verdades, ainda quando j
inexistenteoobjetoaquesereferem
b) por isso mesmo, inclinase com muita freqncia para o estudo das
instituiespassadas,cujoscontornossedelineiamcommaisfixidezdo
queosdasatuais.
Poroutrolado,aposiodeumestudiosodefatosnaturaispuramente
intelectual, e a do jurista habitualmente passional, uma vez que o prprio
objetodoseuestudosuscitapaixes,tendncias,ideologiasereivindicaes
Finalmente, se analisarmos as prprias leis jurdicas positivas em si,
veremos que elas jamais se podem prestar para tema de compreenso
cientfica,porque:
a) impemse, pouco importando sejam verdadeiras ou falsas, justas ou
injustas
b) quando verdadeiras, sua expresso comumente defeituosa, gerando
lacunas,contradies,obscuridadesedvidas
c) sorgidas,enquantoodireitomesmoprogressivo
d) soabstratas, alheias riqueza dasformaesindividuais, oquelevaa
conceitoshbridos,comoosdeequidadeearbtrioindividual
e) so arbitrrias, como as que fixam a maioridade em data certa, ou as
quemarcamprazo
f) sodceistantosabedoriadolegisladorquantopaixodotirano
g) abibliografia que seescreve sobre elasconverge,principalmente,para
seuaspectoimperfeito,oquefazdosseuserros os temas maiscomuns
da cincia do Direito, sendo levadas a srio autnticas questinculas
ridculas.
A crtica de Kirchmann reflete, em grande parte, uma atitude ligada a
um certo conceito histrico de cincia. Esta, com efeito, como assinala
Bergson, em certa poca apenas se preocupava com as grandezas e sua
medida, cuidado que logrou aparente xito no campo das cincias ditas
naturais. Quando estas atingiram alto desenvolvimento e, coincidentemente,
entraramemcriseas grandes sntesesfilosficasprecedentes, valorizouseao
extremo o saber da natureza, mentalidade que corresponderia,
necessariamente, idia de que cincia s o conhecimento de objetos
naturais. Somente a natureza teria a fixidez e a regularidade precisas para
emprestaremaumobjetoqualificaoadequadaaosabercientfico.
Quando assim afirmamos, porm, estamos endossando a tese de que o
suportecientficodeumconhecimentodadoexclusivamentepeloseuobjeto.
Assim, diramos que as cincias naturais so verdadeiras cincias, porque o
seuobjetocientfico.
Verdade,porm,que,seumsaberounocientficoemfunodo
seuobjeto,tambmoouno,segundoaposioqueohomemadotadiante
dele.Osastrospodemmotivar,aomesmotempo,aastronomia,umacincia,e
a astrologia, uma charlatanice. No simplesmente o objeto que ao saber
empresa atributo cientfico, mas tambmaposio e o mtodoqueohomem
adota para abordlo e explo. Como observa J. Arthur Thomson, a cincia
no se limita a determinada ordem de fatos caracterizase como uma atitude
intelectual.
Osabercinciaseohomem,aoconsiderarumobjeto,ofazatravsde
mtodosidneos,demaneirasistemticaeimpessoal.
AquelarestritaidiadecinciateveemDiltheyoseugrandedemolidor.
Apeou a filosofia da sua presuno de cincia do absoluto, afirmando no
existir filosofia, mas filosofias, pois que os princpios racionais saem do
homem histrico, emergem dos sentimentos vitais e da necessidade de
entender precisamente determinadas pocas histricas. Pondo o homem no
centrodouniversocientfico, precisou a existncia de cincias culturais, cujo
mtodo o da compreenso, sendo esta um reviver sentidos, dado que de
outro modoalgumserpossvelentender oqueohomemcria.Compreender,
portanto, seria reviver situaes humanas porque somente estas revelam a
significao do que cultura. Semelhante foi a orientao de Windelband,
Rickert e Georg Simmel (18581918). Lembrando o ensinamento kantiano,
consoante o qual o conhecimento objetivo no a mera imagem de uma
realidade externa, seno que vale pela sua universalidade e sua lgica
necessidade,Windelbandintroduziunoconhecimentodorealumelementode
valor,quetemseulugarprprioedefineumfocotolegtimodeconsiderao
dos objetos, quanto o sua simples observao. Rickert, cuja importncia
justamente realada por August Messer, observou que as cincias, assim
consideradasaquelaspuramentedescritivas,deixamescapartudoquantohde
particular e individual na realidade concreta, o que somente se alcana pelo
mtodohistrico,atuando este,portanto,comofundamentode umaautntica
atividadecognoscitiva.Eatribuiuprioridadelgicaaovaloreaodeverserna
determinaoda verdade.E Simmelrealoua importnciadaespeculaodo
homemsobreasuaprpriacultura.
Assim despontou a distino entre as cincias naturais e culturais,
respectivamente,deexplicaoedecompreenso.Cinciashque,diantede
um objeto, limitamse a descrevlo. Outras procura, para alm da sua
realidade,alcanarasuasignificao,oquesempreumdadohumano.Estas
compreendemoobjeto,assinalandolheosentido.
Alis, a convico de que o empirismo deve ser admitido como
princpiocientficogeralfoirebatidadeformadefinitivaporEdmondHusserl
(18591937), cuja obra, na justa observao de Teodor Celms, constitui um
mundo de idias cuja monumentalidade de dimenses assombra e ante cuja
maestriadeexecuonopodedeterse,senocomadmiraoerespeito,todo
aquele que tiver um srio interesse pela Filosofia. Dentre cujos argumentos
crticos destacase, pela sua simplicidade e limpidez, o relativo existncia
dos nmeros. Os objetos da matemtica nunca podem ser apreendidos
empiricamente,eaela,todavia,nosepodenegarcondiocientfica.
Podese, ento, concluir pela existncia de pelo menos trs grupos de
cincias,perfeitamenteautnomos:
a) ascinciasmatemticas,defundamentolgicoimediato
b) asnaturaisempricodescritivas
c) asculturaiscompreensivas.
Ao conjunto das cincias culturais pertence a do direito, visto que este
,emsimesmo,umprodutocultural.
4.3.3Procedimento
Admitido o carter cientfico do conhecimento jurdico, resta explicar
emqueconsiste.
O seu objeto so normas jurdicas, integradas num sistema. Sobre a
normaacinciadoDireitorealizaumtrabalhodeclarificaoecompreenso.
Ojuristanoselimitaaexpla.Dedicase,tambm,acompreendla,nasua
plenasignificao,edesdobrlaemtodaasuaaplicabilidade.
Estatarefarealizadaemtrsnveis:
a) interpretao
b) construo
c) sistematizao.
O primeiro labor do jurista o de interpretar a norma. Ao fazlo,
procura apreender a sua significao total, revelando a normatividade latente
que no raro se oculta sob a sua normatividade aparente. Como se trata de
processo que constitui captulo prprio da tcnica jurdica, deixamos seu
exame mais minucioso para a ltima parte deste trabalho, destinada,
exclusivamente, exposio dos problemas contidos nesse departamento da
cinciadoDireito.
Decalcado na interpretao, o jurista opera num plano lgico mais
elevado, que chamamos construo. O conceito de construo
indeterminado, no apresenta contorno ntido e se presta a entendimentos
variados.
O que se deve observar, de pronto, que no existe um abismo nem
umalinha divisria claraentre a interpretao e a construo, de modo que
difcil dizer quando a cincia do direito deixa de ser interpretao e passa a
construo.
A construo, em nosso entender, a prpria interpretao num plano
maisalto. Diramos que, interpretandoanorma,ojuristaaindaestadstritoa
ela.Construindo,jseemancipouumtanto,jseafastouumpouco,dandoao
seutrabalhomaiorcriatividade.
Quandointerpretamosnormasjurdicasepercebemosassuasconexes,
identificamos a organicidade com que se apresentam no seu conjunto e
observamos que parecem conduzir a uma idia comum. A conquista dessa
idiasntese, que a compreenso total de certo conjunto de normas,
alcanada pela construo. A construoum conceito sinttico, obtidopelo
jurista, depois que, interpretando diversas normas, colocase numa posio
capazdecompreendlas,nocadaumadepersi,nemtambmapenasnoseu
conjunto, mas numa idia a que todas se reduzem e que a todas explica. No
planodaconstruoquebemconstatamosoacertodocomentriodeJacques
Leclercq, ao ponderar que o Direito Positivo , de certo modo, a matria
primaqueosjuristasconvertememprodutoacabado.
Somente a construo nos permite conseguir amplos conceitos de um
Direito Positivo, intimamente ligados experincia mas superiores aela, tais
comoosdepropriedade,pessoa,etc.
A cincia do Direito opera num movimento de vaivm entre a
interpretao e a construo. Se logramos a construo pela interpretao,
usamos desta para testar aquela. No encontramos, por exemplo, a noo de
famlialegalbrasileiraemnenhumanormapositiva.Doconjuntodasnormas
do Direito Civil, porm, obtemos viso unitria do que a famlia legal no
Brasil. Se, por hiptese, tivermos uma questo para julgar, j partiremos
daqueleconceitoparaapliclosuasoluo.
Entreainterpretaoeaconstruoexisterelaodereciprocidade.S
podemos construirdepois deinterpretar,mas,feitaaconstruo,delaprovm
luzquedclaridadeaocampodapesquisainterpretativa,quepassaaserfeita
emfunodeumaidiasinttica.
Acinciadodireitoculminanasistematizao.Assimcomo no
podemos chegar construo sem interpretao, no podemos sistematizar
sem construir. H uma gradao nesses processos. Eles se sucedem e se
influenciam, de tal maneira que cada um o suporte do subsequente, e, por
sua vez, projeta sobre o precedente noo mais clara do que a anteriormente
obtida. Asistematizaoestparaaconstruoassimcomoaconstruo est
paraainterpretao.NotrnsitodaprimeiraparaaSegundafase,comonoda
Segundaparaaterceira,humprocessoquesecaracteriza pelasuacrescente
generalizao.Aconstruomais generalizadoradoqueainterpretao,ea
sistematizao,maisdoqueaconstruo.
Sistematizar considerar um setor do saber jurdico na sua
integralidade. Depois de atingidos conceitos parciais, como os de famlia,
propriedade, herana, etc., obtemos uma viso total da rea do saber jurdico
do qual emergiram. Exemplificando, interpretado o Direito Civil Positivo,
construdososconceitosdasinstituiescivis,chegamossuasistematizao.
Noserapenasumavisopanormica,simordenada. Sistematizarnover
delongeou vertudoemprestaraessavisocarterlgicototal.A leipode
seguir uma ordem e a sua exposio ser feita em outra pelo jurista que a
sistematiza, organizando logicamente a experincia jurdica, atribuindolhe a
configuraoracionalqueelaemsimesmanocontm.
Asistematizaoaltima tarefa da cincia do Direito,a integrao
da experincia jurdica num todo suscetvel de compreenso e exposio
lgicas.
4.3.4Evoluo
Vamos apenas citar os momentos marcantesdaevoluo da cinciado
Direito.
Ponto fundamental neste processo foi a conquista de autonomia pelo
saberjurdico.
4.3.4.1Laicizao
O protestantismo realizou a laicizao do Direito, emancipandoo da
religio. A inteligncia medieval no era infensa distino entre as normas
jurdicas, morais e religiosas. Doutrinariamente, a diferena estava j feita,
com clareza, principalmente nas obras de So Toms de Aquino e Francisco
Surez (15481617), os maiores nomes da escolstica na Filosofia jurdica.
Mas a tradio medieval impunha ao Direito e moral certa subalternidade,
diantedareligio.Ora,qualquerrealidade,cujofundamentosejasobrenatural,
nopodeserobjetodecincia.
O protestantismo contribuiu para afirmar o carter humano do Direito,
semembargodocarterdivinodamissoporelepretendida,oquefoiapenas
um dos aspectos da Reforma, que Alfred Weber considera o fato de maior
importncia universal realizado pelos alemes no movimento do mundo
ocidental.
4.3.4.2Separaodamoral
O conhecimento jurdico foi melhor encaminhado no rumo cientfico
pela separao entre direito e moral, j na Idade Moderna com Thomasius e
Kant. Da as regras de conscincia passaram a distinguirse das regras de
coexistncia.
OcorreudepoisaontologizaodoDireitoPositivo,ouseja,estepassou
aseraceitocomorealidadeemsi,noreflexodaoutra.Durantemuitotempo,
sobfeiesvariadas,perseverouanoodeumDireitoNatural.Basicamente,
significava, ento, algo existente que era direito naturalmente, direito justo,
direito na sua prpria substncia. A lei e os costumes, Direito Positivo,
poderiam ser direito ou no, conforme afinassem ou desafinassem com o
DireitoNatural.Parauns,esseDireitoNatural estavaligadoprprianatureza
dascoisas,paraalgunsresultavadarazodohomem,paraoutrosseriaumalei
gravada por Deus na conscincia humana. Em suma, a idia de um Direito
Natural importava a afirmativa de que o Direito Positivo, feito pelo homem,
seria algo de artificial, podendo, segundo sua coincidncia ou no
coincidnciacomoDireitoNatural,serounoDireito.Dasvriasconcepes
doDireitoNaturalaquemaisperduroufoiadoDireitoNaturalracional,pela
qualohomemtemumarazosuficienteemsi,capazdelhepermitirformular,
com exatido, regras vlidas e justas de convivncia, idia que, embora
metafsica, importava, como assevera Alceu Amoroso Lima (1893), a
afirmaodanaturezatemporaldohomemedoprprioDireito.
4.3.4.3Escolahistrica
A escola histrica, que teve como principais representantes Gustav
Hugo (17641844) e Friedrich Karl von Savigny (17791861), rebelouse
contra tal teoria, para sustentar que o direito nasce espontaneamente da
convivnciados homens,atribuindolhenaturezahistricaenoadefrutoda
razo.Semprequeos homensconvivem,odireitosurgeentreeles,atravsde
usosecostumes.Odireitoprodutodaconvivncia,noobradegabinete. A
razo dos juristaslimitaseapenas a constatar erevelar asua presena numa
ambincia social. Ou, como expe Edgar Bodenheimer, so eles apenas
depositrios da confiana do povo e autorizados, como representantes do
espritodacomunidade,aformularasleisnosseusaspectostcnicos.
Todoopovo,paraaescolahistrica,tem asuaprpriaconscincia, da
qual emergem suas tradies, costumes, usos e regras jurdicas. O Direito ,
assim, obra genuinamente popular, jamais inveno dos juristas. A escola
emprestavalhe origem histrica, da a sua denominao. O Direito um
acontecimento histrico como qualquer outro, e, sendo acontecimento,
provmdoprpriopovo.
AtarefadojuristasersensvelaesseDireito,existenteforadelenuma
difusa conscincia social. Ficava eliminada, assim, a dualidade de direitos:
um,Direitoemsi,Direitomesmo,outro,Direitoqueohomemcria.ODireito
ums.oquecomotalsevnasleis,noscostumes,enohoutroqueno
sejaesse.
A Revoluo Francesa havia gerado um sistema legal no qual se
cristalizara a concepo raiconalista do Direito: a razo, em autoesforo
criador,podiadescobriredecretarquaisasmelhoresformasdegovernoequal
o Direito mais perfeito e adequado para reger as atividades humanas. O
historicismo repudiou essa presumida onipotncia da razo, apontando a
imprescindibilidade de se considerar o passado vivido e as exigncias atuais
comodeterminanteslegtimasdequalquerlegislao.
Sob influncia do romantismo, que ia desentronizando a razo do seu
pedestal, a escola histrica procurou outras fontes de formao da realidade
fenomnica do direito. No pertenceram, porm, os juristas da escola
histrica, como observa Jos Corts Grau, citando Henri Bremond (1865
1933), galeria dos romnticos mrbidos, que amam o passado como as
vivas aos seus maridos, porque j no os tm, de modo que para aquele se
volvem em posio contemplativa, como fizeram George Noel Byron (1788
1824) e Joseph Ernest Renan (18231892) para o helenismo. Foram, sim,
romnticos tnicos, segundo a terminologia do mesmo autor, que amaram o
passadomasoreceberamcomofontedeinspirao,eoreanimaram.
Paraaescolahistrica,oDireito,comoamoral,areligio,alngua,a
arte, fruto das essncias mais ntimas do povo, produto do seu esprito,
concreovitaldassuasconvicesesentimentos,funodecadaconscincia
nacional. O esprito do povo no simples metfora de sentido duvidoso e
contedo impreciso, mas uma entidade real que se alimenta da histria. Por
isso, o costume, que a sua manifestao mais espontnea e direta, brota
comofonteprimordialdoDireito.
Hugo observou que o Direito pode aparecer e realmente aparece
margemdequalqueratividadelegislativa,comohaviaocorridoemRomaena
Inglaterra,nestaltimacriadopelosjuizes,mas,notaEdwardJenks,nascidoe
desenvolvido do povo, pois de costumes e de suas prticas foram tirados os
seus materiais. E fez um paralelo entre o Direito e a linguagem, ambos
semelhantesemseunascimentoedesenvolvimento.
Quando Anton Friedrich Thibaut (17741840) publicou monografia
preconizando a necessidade de um Direito Civil comum para toda a
Alemanha,teseopsse Savigny, realandoa importnciados costumes, os
quaislevouaoprimeiroplanocomoexpressonicaverdadeiradoespritodo
povo, afirmando que ao legislador mais no cabia seno ser intrprete e
tradutoroficialdasregrasconsuetudinrias.
A partir da escola histrica, o Direito passou a ser coisaemsi, no
sombradeumDireitoNatural.
4.3.4.4Teoriageral
Com isso, abriuse a perspectiva de uma real cincia do Direito, para
cujaaceitaonecessrioeraqueaoDireitoPositivofosseconferidarealidade
autnoma.
Na base desses elementos, a cincia do Direito pde libertarse dos
obstculosqueatolhiameatingiraprecivelnvelderigoreexatido.
J no sculo passado despontou a teoria geral do Direito, cuja
importncia,paraoseudesenvolvimento,nuncaexageradoestimar.Ateoria
geralreconheceunoDireitoPositivosubstancialidadeprpria,e,delefazendo
seu nico objeto, partiu para a formulao dos quadros em que opera a
experinciajurdica.
4.3.5Posioenciclopdica
A possibilidade de classificao do conhecimento jurdico no quadro
geral das cincias est na dependncia da aceitao de um conceito lato
modernodecincia.Porconseguinte,serintiltentarlocalizloemqualquer
classificaotradicional.
4.3.5.1Comte
Assim,naclassificaodeComte,naqualascinciasestavamdispostas
na ordem crescente da sua complexidade e decrescente da sua generalidade
(Matemtica, Astronomia, Fsica, Qumica, Biologia e Sociologia), no
encontramoslugarparaacinciadoDireito.
4.3.5.2Spencer
Classificaoquedurantealgumtempofoiobjetodelargaaprovao,a
de Spencer grupava as cincias em trs ramos: abstratas (Lgica e
Matemtica), abstratoconcretas (Mecnica, Fsica e Qumica) e concretas
(Astronomia,Geologia,Biologia,PsicologiaeSociologia).Nelatambmseria
impossvelencontrarposioadequadacinciajurdica.
4.3.5.3Bourdeau
A classificao de Louis Bourdeau (18241900), excelente para o seu
tempo, tambm no enquadrava qualquer cincia cultural: Ontologia positiva
ou lgica, cincia das realidades Metrologia ou Matemtica, cincia das
grandezas Teseologia ou Dinmica, cincia das situaes Poiologia ou
Fsica, cincia das modalidades Crasiologia ou Qumica, cincia das
combinaes Morfologia, cincia das formas e Praxiologia, cincia das
funes.
4.3.5.4Pearson
Muito bem esquematizada e ampla a classificao de Karl Pearson
(18571936), e nela se pode, por extenso, dar lugar cincia do Direito,
aindaquecomimpropriedade:
a) cincias abstratas (Lgica, Matemtica, Estatstica e Matemticas
aplicadas),asltimasservindodeenlacecomasprimeiras
b) cincias concretas fsicas (Fsica, Qumica, Mineralogia, Geologia,
Geografia,Meteorologia,etc.)e
c) cinciasconcretasbiolgicas(Biologia,PsicologiaeSociologia).
Passando s classificaes inspiradas na orientao filosfica de
WindelbandeRickert,oquadroalterasesensivelmente.
4.3.5.5Windelband
Windelband admitia dois grupos de cincias: as nomotticas e as
idiogrficas.Aoprimeirogrupopertencemascinciasexplicativas.Seuponto
de partida a observao, sem que seja esta, porm, a sua finalidade. O
objetivodelasaformulaodeleise,apenasemfunodessameta,servem
sedosfatosedascoisasaqueseaplicam.
A Astronomia, porexemplo, estuda os astros, masnose interessa por
estesemsimesmos,senoqueobjetivareduziraleisoseumovimento,etc.O
psiclogo examina as pessoas, sem tomar interesse por qualquer delas
individualmente. Da sua conduta servese para elaborar leis psicolgicas.
AssimtambmaSociologia,comissosedistinguindodaHistria.Osfatosde
que ambas lanam mo so os mesmos. Mas a Sociologia, j notamos,
somente se interessa por eles na medida em que a habilitam a enunciar leis
geraisdosprocessossociais.
Essas cincias no aderem ao seu objeto em sua singularidade, mas
procuram,antes,destalibertarseparaalcanarleisabstratas.
Ao lado de tais cincias, que s se ocupam de coisas, fatos e pessoas
enquanto servem de suporte abstrao, h as cincias histricas ou
idiogrficas. Dedicamseaos fatosem si, socincias individualizadoras,em
contrastecomasnomotticasquesogeneralizadoras.
A Histria, quando examina um acontecimento, quer vlo nas suas
caractersticas, naquilo em que ele diferente de todos os outros ou, como
escreveReichel,oqueexistecomcaracteresprpriosumanicavez enose
reitera.
As cincias nomotticas utilizamse dos fatos como trampolim para as
leis gerais, e as ideogrficas ou histricas pretendem os prprios fatos em si,
nasuapeculiaridade.
Adivisode Windelband, pormais amplaque seja,comparada com as
anteriores, no acolhe a cincia do Direito, que no uma cincia de leis
geraisnemdefatos,masdenormas.
4.3.5.6Cossio
Carlos Cossio adota classificao decalcada na teoria dos objetos, que
sodetrplicenatureza:ideais, naturaiseculturais.Os ideaisso:aespaciais
e atemporais, neutros ao valor, ausentes da experincia e alcanados por
inteleco. Correspondemlhes as cincias formais: Matemtica e Lgica. Os
naturaissoespaciaisetemporais,dosenaexperincia,soneutrosaovalor
e ao seu conhecimento obtido por explicao. Pertencem s cincias
naturais. Os culturais, tambm espaciais e temporais, revelamse na
experincia, so positiva ou negativamente valiosos, somente podem ser
conhecidos por compreenso. O seu estudo feito pelas cincias culturais,
tambmchamadassociaisehumanas.
Consoante Cossio, cabe a cincia do Direito entre as disciplinas
culturais.
4.3.5.7Kantorowicz
Kantorowicz, que dividia as cincias em trs grupos (da realidade, de
sentidoobjetivoedevalores),situavaadoDireitoentreasltimas.
4.3.5.8Kelsen
Kelsendivideascinciasemexplicativasenormativas.Asuadiviso
concebida luz da distino entre as categorias de ser e dever ser. Haver,
assim, cincias do ser, explorando o hemisfrio do ser, tendo por objetivo
aquilo que , e cincias do dever ser, explorando o hemisfrio da conduta,
enquantoreflexodeum dever.
Naclassificao de Kelsen, podemos incluiro Direito entreas cincias
normativas,dadoqueoseuobjetoprprioanormajurdica.
4.3.5.9Mynez
Mynez prope uma classificao que composio de elementos
extrados das precedentes, aqual, sem seroriginal, maisanaltica.Para ele,
as cincias grupamse em quatro categorias: explicativas, ideogrficas,
matemticas e normativas. Explicativas e ideogrficas so as mesmas
identificadas por Windelband. As matemticas so cincias dos axiomas,
inconfundveis, at mesmo pelo imediatismo do seu suporte lgico, com
quaisqueroutras.Normativas,asmesmasdaclassificaodeKelsen.
Mynez, com apoio em Soml, subdivide as cincias normativas em
nomotticas e normogrficas. As nomotticas consideram as normas na sua
formulaoeosproblemasligadosaesseprocesso.Asnormogrficasestudam
asnormasquantosuaaplicaoerespectivosproblemas.
Divididas assim as normativas, evidente que a cincia do direito, tal
comoadefinimos,seincluirnaSegundasubdiviso,porqueelanoestudaa
formulao de normas jurdicas, mas normas j formuladas, para explas
sistematicamenteeresolverosproblemasdesuaaplicao.
4.4TEORIAGERALDODIREITO
JnosreferimosteoriageraldoDireito,noprembuloeaocomparla
comacinciajurdica.
Aoestudaras disciplinasjurdicas, conclumos que somente duas eram
fundamentais: a Cincia e a Filosofia do Direito. Das complementares
citamos, apenas, a Sociologia Jurdica, a histria do Direito e o Direito
Comparado.
Quebrando esse esquema, surge a teoria geral do Direito, includa na
parte alusiva s disciplinas jurdicas, sem que entre essas tivesse sido
localizada.
Justificase a aparente incongruncia, j porque a singularidade da
teoria geral dificulta sua incluso num quadro didtico das disciplinas
jurdicas,jporquesuaimportncianojustificariaaomisso,podendooseu
aparecimento ser considerado o mais importante evento na evoluo da
doutrina modernado Direito. No lhebasta,portanto,umasimplesreferncia
eventual,senoquecaptuloprprionoplanejamentodocurso.
Alm disso, parece que a teoria geral ocupa como que uma regio
fronteiriaentreafilosofiaeacinciadodireito.Jhouvequemafirmasseque
ela o aspecto cientfico da filosofia do Direito e o aspecto filosfico da
cincia do Direito. Esta observao uma das mais sagazes que se podem
formular a respeito. Realmente, pela sua positividade, ela cientfica. No
entanto, pelos temas que considera e pela generalidade com que o faz,
filosfica.
4.4.1Origem
Para compreendermos o que a teoria geral do Direito devemos
comear pelo exame do sentido da filosofia que a impregnou. Na origem, a
teoriageraldodireitoestparaaFilosofiajurdica,comooPositivismoparaa
Filosofiageral.Elafoioreflexo,nocamporestritodaquela,deummovimento
ocorrido no campo mais amplo desta: o Positivismo, fundado por Augusto
Comte, que teve repercusso at no Brasil, talvez porque, repara Oliveira
Martins (18451894), era o exemplo singular de uma escola de Filosofia na
qualabundavammdicos,engenheiros,economistas,publicistaseatliteratos,
mas na qual no havia filsofos. Nos primeiros tempos da Repblica,
impossvel negar, conforme a opinio de Slvio Romero (18511914),
tenhamsidoosmilitareseospositivistasosdoisgruposmaisinfluentes.
O lema da bandeira brasileira positivista: a ordem por base e o
progresso por fim. Por ter alcanado no Brasil de ento grande ressonncia,
quando certo que ainda hoje, no comentrio de Cruz Costa, parece muito
cedo para que possa existir Filosofia em nossa terra, fcil concluir a que
pontochegou,emcertomomento,ainflunciadessemovimento.
A Filosofia prpositivista havia prescindido de toda problemtica
humana e enveredado do racionalismo para o idealismo mais transcendental.
Mash,nahistriadaFilosofia,umaespciedemovimentopendular.Ela,por
isso,teriaquevoltaraparticipardosproblemasimediatos davidadohomem,
essesqueointeressamrealmentedemaneiratotal.
O Positivismo foi um retorno da Filosofia realidade dos fatos e da
vida,razodasuaatitudeantimetafsica.
A metafsica o mais importante captulo da Filosofia especulativa,
porque consagrado ao conhecimento das verdades absolutas. O problema
metafsicoporexcelnciaodesernoesteouaquele,nemtodosumporum,
mas o ente todo, o ente como tal na totalidade, a que se refere Martin
Heidegger(18891976).
Ainda que no seja fcil caracterizlo em sntese, podemos, todavia,
equacionlo,observandooensinamentodeN.GonzaloCasas.Quandosomos
postos diante da realidade, podemos compreendla de trs pontos de vista,
cuja sucesso representa um aprofundamento crescente da viso e uma
generalizao progressiva do entendimento.O primeiro o sensvel. Pela sua
corporeidade mvel todas as coisas se identificam no mesmo nvel de
realidade,semembargodos seuspredicadoscaractersticos.Podemos,porm,
abandonarosaspectosdarealidade,sejamparticularesoucomuns,enosfixar,
unicamente,nasrelaesdequantidadeentreosobjetos.Veremos,ento,que
eles enquanto corpos, dose ao nosso conhecimento numquantum.Possvel,
ainda,nosumanovaabstrao,eindagarpelasuaentidademesma,oseuser
comum.Porquetodos,pordiversosquesejam,tmdecomumofatodeserem.
Da as perguntas que definem o perfil da metafsica: o que o ser? Como
entendlo?Qualasuacausa?Comoseapresenta?Aoformularindagaesde
talordemansiamosporumconhecimentoabsolutodoseremsi,almdasuas
relaes,qualidades,modalidades,etc.Eaquelasindagaes tantopodemser
feitasnoplanoamplssimodas universalidadesfilosficas,como,no limitado
dosobjetosdecadacinciaparticular.Assim,aFilosofiadeumacinciapode
enveredarpelametafsica.
exatamente esse conhecimento metafsico (de essncias, de verdades
absolutas)queoPositivismodeComtecontestou,recusandolhepossibilidade.
No contestou, ensina Farias Brito, cuja simplicidade de estilo gabada por
Jnatas Serrano (18851944), a existncia de causas primrias ou finais.
Afirmou,apenas,quesobreesseassuntonohconhecimentopossvel,sendo
quetodososesforosempregadosnosentidodedarsoluoaessesproblemas
tmsidosemprevosederesultadointeiramentenegativo,razopelaqualse
deveria desistir de qualquer nova tentativa. Na sua maneira de entender, o
saberhumanoconsegueapenasfixarrelaesdesemelhana esucessoentre
osobjetos,porissorelativosegundoascoordenadasemqueestocontidos,
oespaoeotempo.Dissoresultou,escreveM.Carbone,apretensodequeas
cincias naturais e as que se chamavam do esprito, culturais ou de fins,
fossem investigadas mediante os mesmos procedimentos. Houve assim a
observao de Antonio Caso (18851946) uma efetiva mutilao da
experincia,cujosprpriosresultadospossveisforamminimizados.
A ambio metafsica estril, por absoluta impossibilidade de
realizao. Dela devem afastarse as cincias. A estas compete procurar leis
ou relaes entre os fenmenos, e ignorar a natureza ntima e as causas das
realidadesouessnciasquecorrespondemaosseusobjetos.
Ora, se no podemos fugir aos limites da experincia externa (fatos
fsicos) e interna (fatos psquicos) e no possvel qualquer metafsica, a
filosofia h decontentarse tambmcomo conhecimento de fatossuscetveis
de experincia, para o efeito de entendlos unificadamente. Desempenhar,
naverdade,opapeldemetodologiacientfica.
Essateoriarepercutiuna Filosofiajurdica,inspirandoateoria geraldo
Direito. Abandonouse a especulao sobre o direito, sua essncia, sua
idealidade.Deixousedeconsiderarodireitoemsi,comoquesecontinuavaa
escola histrica. Passouse a considerlo apenas tal como era dado pela
experincia: o DireitoPositivo. Somenteestepoderiaser motivo de interesse
intelectual. Quaisquer conceitos a que se devesse chegar teriam de ser
alcanados a partir da experincia do Direito Positivo, e somente dela.
Tambm aqui a tarefa intelectual consistiria em observar, comparar e
generalizar.
OsprincipaisrepresentantesdateoriageraldoDireito,aotempodasua
formao, foram, na Alemanha, Karl Magnus Bergbohm (18491927) e
Merkel, na Itlia, Francisco Filomusi Guelfi (18421922), na Rssia,
Korkounov,naFrana,EdmondPicard(18361924)eErnestRoguin.
Antes,porm,jJohnAustin(17901859),fundandoachamadaescola
analtica de jurisprudncia, lhe antecipara a diretriz, atribuindo atividade
terica dos juristas a misso de expor as noes e os princpios gerais
abstrados dos sistemas jurdicos positivos. Observou ele que os sistemas
legais mais amadurecidos apresentam uma certa uniformidade de estrutura,
razo pela qual cincia do Direito caberia a tarefa de elucidar as suas
uniformidadeseanalogias,partindoexclusivamentedaobservao.
ParaateoriageraldoDireitoadoutrinajurdicateriabaseindutiva.At
ento,exceofeitadacontribuiodaescolahistrica,prevaleciaaaplicao
do mtodo dedutivo. Os jusfilsofos partiam de noes gerais e abstratas e
delas deduziam as conseqncias doutrinrias implcitas. Contra essa atitude
voltouse a teoria geral, postulando a criao de uma cincia jurdica
experimental.
Issoimportavaimporaojuristaaobservaodarealidadejurdica,que
oDireitoPositivo.Caberlheiacompararasinstituies jurdicas,determinar
o que houvesse de constante e de afim em todas elas, para identificar suas
noescomuns.
Verificadas as constantes, passaria a formular os princpios gerais. A
sua posio seria sempre positiva. Da observao caminharia pela
comparao, e, depois, por induo, do particular para o geral, chegando
generalizao.
4.4.2Desenvolvimento
Esta a verso da teoria geral do Direito, tal como apareceu.
Originariamentepositivista,enquantosubmissafilosofiadeComte,padeceu
decertaesterilidade.
Ulteriormente, libertandose dessa servido, conquistou resultados
notveis. Transformouse no que Siches denomina teoria fundamental do
Direito, captulo da Filosofia jurdica. Surpreendente foi, apenas, que tal
modificaose tivesse operadoatravs dacaptao de elementos nitidamente
influenciadospelopensamentokantiano.
A teoria geral, adstrita a procedimentos empricos, jamais atingiria
nveis significativos de generalizao, imprescindveis para que o
conhecimento do Direito possa estenderse aos horizontes de uma verdadeira
doutrina.Comosimplescinciaformalderelaese,porisso,completamente
divorciada da Filosofia (Huntington Cairns), seu horizonte ficou demasiado
restrito. Se a experincia indispensvel ao conhecimento de qualquer
realidadeetodosaberquedelasedivorciainclinaseparaaabstraovazia,a
inteligibilidade da experincia supe prrequisitos lgicos, sem os quais
invivel. Por exemplo, fazer do Direito tema de experincia presume saber,
porantecipao,oqueDireito,pelomenosemsentidoformal,afimdequea
observaofiquecircunscritaaoseuobjeto.OconceitomesmodeDireito,se
pretendido em termos abrangentes de qualquer realidade fenomnica sob a
qualeleseapresente,precedelogicamenteaexperincia.
Assimque, sabiamente, explica Giovanni Gentile (18751944), no
possvelfalardefenomenologiajurdica,comofazemsocilogos,historicistas
eempiristas de todaaespcie,sempostularumainvestigao quetranscenda
a rbita dos problemas a que se propem, esto , uma investigao da
categoriadascategoriasjurdicas.
4.4.3Contedo
Orientada para finalidades mais ambiciosas e doutrinariamente mais
importantes, a teoria geral, convertida em teoria fundamental do Direito,
especialmente pelas contribuies com que a enriqueceram e modificaram
Ernst Rodlf Bierling (18411919), Stammler e Kelsen, este proporcionando,
najustaobservaodeJeromeHall(1901),amelhorontologiajurdicadeque
atualmentedispeacinciadoDireito,procuracolimardoisresultados:
a) determinaroconceitode Direito,dealcance universal,capazdeconter
qualquer manifestao efetiva da realidade jurdica, atual, passada ou
futura,realoumeramentepossvel
b) formular conceitos mais restritos, vlidos para todas as disciplinas
jurdicas, sem os quais a experincia do Direito Positivo impossvel,
tais como os de norma, sujeito, objeto, relao, dever, direito,
legalidade,ilicitude,etc.
A determinao do seu preciso objeto, porm, ainda tema de
divergncia.
Para alguns, ela deve ser uma enciclopdia jurdica, viso panormica
doDireitoPositivo.Ora,spodemosfazerenciclopdiajurdicadeumDireito
Positivo,porquesomenteasuaorganicidadeapermite.Atitude,alisbastante
infielnaturezadateoriageraldoDireito,poisque,seestapretendealcanar
princpios gerais obtidos pela induo, no lhe corresponde confinarse a um
determinadosistemadeDireito.
Paraoutracorrente,ateoriageralaprpriaFilosofiajurdica.Posio,
historicamente mais autntica, por ter sido ela movimento doutrinrio que
visavaimplantaodeumadisciplinasucedneadafilosofiadoDireito.
H,tambm,quemestabeleaidentidadeentreateoriageraleacincia
do Direito. Essa pretendida identificao fundamentase em que a cincia do
Direito mira um Direito Positivo, mas exerce sobre seu objeto uma tarefa
conceitual que lhe concede formular princpios, no sendo, assim,
simplesmente descritiva. E como a teoria geral tambm se eleva da simples
experincia jurdica a princpios gerais, pode parecer, por isso, que existe
identidadeentreelaeacinciadoDireito.
A evidente diferena est, entretanto, em que a cincia do Direito, no
seu sentido estrito, como cincia de um sistema de Direito Positivo, parte
exatamente das noes fornecidas pela teoria geral, que, para ela, so
verdadeiros pressupostos, sobre os quais no especula, como as de relao
jurdica,sujeitoativoepassivodeDireito,objetodoDireito,fatojurdico,etc.
Com isso, verificamos que tanto a cincia do Direito como a teoria geral do
Direito, so matrias generalizadoras, sendo, porm, a generalizao da
Segunda muito mais ampla, e o seu ponto de partida mais recuado.
Observamos, todavia, que, para os que afirmam aquela identidade, a cincia
do Direito no concebida como pura exposio sistemtica de um Direito
Positivo. O verdadeiro saber jurdico cientfico seria o elaborado pela teoria
geral,tratadodenoescomunsatodasasordensjurdicaspositivas.
Atualmente, duas so as posies competitivas. No se pretende mais
que a teoria geral do Direito seja disciplina sucednea da Filosofia jurdica
tambm no se discute que no se pode confundila com a enciclopdia
jurdica. Continuam em conflitos duas teses: a teoria geral do Direito parte
da Filosofia jurdica (Siches) a teoria geral do Direito a cincia do Direito
(Kelsen).
comosehouvesseumaatraoemduplosentido.Paraalguns,ateoria
geral atrai a cincia do Direito. Para outros, a filosofia jurdica atrai a teoria
geral,quedaquelaapenasumdepartamento.
Recordamos, a propsito,comentrio anterior, quando observamos que
ateoriageraldodireitopareceocupar,entreaFilosofiaeacinciadoDireito,
umlugarfronteirio.
Tal circunstncia deve ter motivado a concluso de A. L. Machado
Neto, para quem a teoria geral, semelhana da introduo, no uma
disciplina jurdica propriamente dita, que desfrute de autonomia, sim uma
disciplinadidtica.
4.4.4Diviso
Atribuise preponderantemente teoria geral do Direito a considerao
dedoistemas:oselementosessenciaisdarelaojurdicaeatcnicajurdica.
Reputamos matria exclusiva da teoria geral o estudo dos pressupostos de
cognio, mais ou menos amplos, de qualquer ordenamento jurdico, o que
importasitulanocampodafilosofiadoDireito.
verdade que poderamos admitir, com certa sutileza, a incluso da
tcnica jurdica na teoria geral. que aquela, enquanto subordinada a regras
deDireitoPositivo,estinclusanacinciadoDireito.Mas,foradessembito
de sujeio, opera segundo princpios lgicos, e, estes, pela sua prpria
natureza,estoimunesdiversidadeexistenteentrevriossistemasdeDireito
Positivo. Mas, setalcircunstnciabastasse,por si mesma,para levarteoria
geralqualquermodalidadedeconhecimentojurdicoemrelaoaoqualfosse
atuante,tambmsechegariaaconclusoidnticaemrelaoprpriacincia
do Direito, dado que esta exerce, por igual, sobre a experincia jurdica, um
trabalhodeinteligibilidadequeobedeceaumalgicapeculiar.
5NoesFundamentais
5.1NORMAJURDICA
A cincia do Direito estuda a norma jurdica: este o seu objeto
prprio.
5.1.1Natureza
A propsito da natureza da norma jurdica, confrontamse teses
diferentes.
5.1.1.1Teoriaimperativista
Tradicionalmente, a normajurdica foi entendidacomoum imperativo,
oque importava conferirlhe carterdeentereal, aindaquedeumarealidade
no corprea, interpsicolgica ou social, conforme vista como manifestao
deumavontadepreponderanteoudeumquerersocial.
A teoria imperativista parece decorrer de uma ligao quase intuitiva
entre preceito e comando. Sendo a norma jurdica amparada pelo poder,
somoslevadosaconsiderlaumaordem.
Aprimeiradvidasignificativaqueselevantouarespeitofoiformulada
por Karl Binding (18411920), num comentrio sobre as leis penais. Nestas
no encontramos ordens positivas ou negativas. No leremos, porexemplo:
proibido matar, proibido roubar, proibido caluniar pena de tantos e
tantos anos de priso. Esses preceitos limitamse a admitir uma hiptese e
indicar a conseqncia que atinge a pessoa cuja conduta nela incida. Se
matarmos (hiptese), suceder a imposio de certa pena (conseqncia).
Observase completa ausncia de imperatividade, e isso numa norma que ,
sobcertoaspecto,tpica.
Binding assinalou este fato. Mas, mesmo constatando que a lei penal
no era enunciada como imperativo, no ps em dvida a teoria respectiva.
Entendeu que a cada preceito aparente corresponderia outro subjacente. Ao
preceito aparente corresponderia outro subjacente. Ao preceito ostensivo
matar, pena tal corresponderia um oculto no se deve matar. O dispositivo
legal seria a sombra ou projeo de um imperativo implcito. E conclui por
distinguirentreleienorma,aquelaemformadeumjuzohipottico,estasob
feioimperativa.
Del Vecchio afirma enfaticamente que a norma um imperativo,
considerando mesmo impossvel concebla sob outra fisionomia.
Reportandose a Ernst Zitelmann, Binding e Bierling, sustenta que as
proposies jurdicas so normas sobre pessoas, no podendo, por isso, ter
outra estrutura que no a de imperativos. E acrescenta que, se o imperativo
no aprece claro em toda norma, especialmente naquelas que apenas contm
autorizaes ou declaraes, a anlise profunda de qualquer delas o revelar,
comoresduojurdico,jexistindoporsimesmo,jenlaadoaoutro.
NomesmosentidoaopiniodeJamesGoldschmidt.
AcrticaefetivateoriaimperativistafoifeitaporKelsen.
Dasrazesqueinvoca,paracontestla,trssomaisexpressivas.
Pela primeira, observa que, se norma jurdica atribumos estrutura
imperativa, isso importa identificla moral. que esta, efetivamente,
impenosdeveres: scaridoso,stolerante,nomintas.E,porfazerassim,a
suanatureza,realmente, imperativa.MasoEstado(queparaeleaprpria
ordem jurdica personificada) no pode querer a conduta de ningum,
simplesmente porque no pode causla. Nem pode motivar condutas,
concedendo vantagens ou prometendo castigos, seno sancionar determinada
conduta,sobaduplaformadecastigoeexecuo.
Asegundarazoestemqueoimperativismorelegaaplanosecundrio
o momento mais significativo da vida do direito: o da coao. quando a
norma jurdica, resistindo nossa vontade, impesenos coativamente, que
lhe sentimos plenamente a vitalidade. Ora, se dizemos dela que um
imperativo, eliminarmos da sua prpria definio o que nela h de mais
relevanteecaracterstico.
Por ltimo, formula Kelsen o seu reparo mais sugestivo: a teoria da
imperatividadeexclui doconceito denormajurdicaumelementosemoqual
no a compreendemos, na sua essencialidade, o ilcito. Com efeito, se
dissermos que ela nos manda fazer ou deixar de fazer algo (imperativo),
deduzimosquehumacondutajuridicamenteadequada,quandoacumprimos,
e outra anmala, quando a desobedecemos. E mais: a ordem infringida
vulnerada a cada infrao, sendo a conduta que a infringe atentado sua
prpriavalidade.Mas,emrelaoaoDireito,oantijurdico(condutaproibida)
noinfrao,nosentidoemquedestaexpressonosutilizamosparaaludir
violao de um mandamento moral. apenas a conduta determinada na
proposiojurdicacomocondiodeum sujeitocontraquemsedirigeoato
coativo, que est nela estatudo como conseqncia. O antijurdico no a
negaodoDireito,simcondioespecficadoDireito,peloqueoconceitode
antijuridicidadeabandonaaposioextrasistemticaque lheconfereateoria
imperativista e adquire posio intrasistemtica. Os homens no violam ou
infringem o Direito, dado que este somente pelo antijurdico alcana a sua
funoessencial,queadesancionar.
A crtica da teoria da imperatividade tambm feita por Cossio, numa
exaustivaanlisefenomenolgicadanorma.Destadestacamos,pelasuamaior
acessibilidade,apenasumargumento.
Dizojuristaargentinoque,sepodemosconsideraranormacomojuzo
ou imperativo, veremos que aquele conceito se lhe aplica, no este. Bastaria,
nocaso,testlasegundoanoo dequeosjuzoscomportamreiterao,no
osimperativos.
Os juzos, por mais reiterados que sejam, no perdem sentido. A
reiteraodeumimperativo,aocontrrio,umcontrasenso.
Se digo ordeno que cales, enuncio um imperativo. Se o reiterasse,
nenhumsentidoteriafazlodizendoordenoqueordenoquecales.
Diversamente,servindomedeumjuzo,constatareiquepodereireiter
lo indefinidamente. Na medida em que o fizer a compreenso se tornar
progressivamentemaisdifcil,masojuzoconservarainteligibilidade.
Tomo de qualquer coisa e digo este objeto til. Estarei fazendo um
juzo,umavezquepredicandoumatributo(til)aumsujeito(objeto).Poderei
dizer: julgo que este objeto til. O juzo continuar perfeitamente
compreensvel.Estouemdvidasobreaminhaprpriaopinio.Aindapoderia
reiterar, observando julgo que julgo que este objeto til, e assim
indefinidamente, com o que apenas lograria tornar o juzo cada vez mais
complexo,semnunca,porm,tirarlhesentido.
Asnormasjurdicastambmseprestamreiterao.H,porexemplo,a
queobrigaodevedorapagarsuadvida.Serelaassimelaborada:odevedor
deve pagar sua dvida. Assisteme, todavia, reiterla, enunciando:julgo que
deveserqueodevedordevapagarsuadvida.Areiteraoserperfeitamente
lgica, significando que meu julgamento do dever o mesmo que dele faz a
norma. Poderia insistir:julgo que deve ser que deva ser que o devedor deva
pagar a sua dvida. A reiterao, ainda a, no teria comprometido a
inteligibilidade do juzo. Variando a distncia do sujeito face ao objeto do
juzonormativo,alteraseoenunciadodeste,semsacrifciodesuaperfeio.
5.1.1.2Anormacomojuzo
So relevantes os argumentos que Kelsen e Cossio opem teoria
imperativista.
Exporemos, a seguir, o que entendem sobre a natureza da norma
jurdica.
5.1.2.1Kelsen
Para Kelsen, a norma jurdica um juzo de dever ser. Expressa o
enlaceespecficodeumasituaodefatocondicionantedeumaconseqncia.
AleinaturaldizseA,B,(temdeserB)anormajurdicadizseA,deve
serB.
Nosendoimperativa,expressodevontade,,comojuzo,umafuno
deintelecto.Daseuenunciadogenrico:Emcertascircunstncias(umacerta
conduta de um homem), quer o Estado realizar certas aes (castigo e
execuo), ou seja, impor as conseqncias do fato antijurdico. O primeiro
elemento(conduta)odeverjurdicoaconseqnciaasanoouacoao.
Acadaumdesseselementoscorrespondeumanorma:
a) primria,aqueordenaacoao
b) secundria,aqueestabelececomodevidaaconduta.
Precisamenteporquesedesdobraemduas,anormapodeserformulada
emoutrostermos:Emdeterminadascondies,umhomemdeterminadodeve
conduzirse de um modo determinado se assim no procede, ento, outro
homem(orgodoEstado)devepraticarcontraele,demaneiradeterminada,
umatocoativo(castigoouexecuo).
Emlinguagemmaissimples,anormaprevacondutaantijurdicaesua
conseqncia. Para se poupar a esta, o homem procede de maneira inversa
prevista,eaistochamamoscondutalcita.
Gramaticalmente,afrmulade Kelsenassimsetraduz: NP=S,naqual
NPanoprestao(oantijurdico)e S, asano. Exemplotpicodenorma
jurdicaapenal:matar(noprestaododeverderespeitovida),penade
x a y anos de priso (sano). Esta a norma primria (NP=S). O homem,
para escapar sano, evita a hiptese prevista, segue a norma secundria:
dadoumfatotemporal,deveseraprestao(FT=P).
KelsenexacerbouapreocupaodedistinguirmoraleDireito.Dondea
extraordinria importncia dada por ele conduta proibida, que lhe parece o
prticodomundodoDireito.
5.1.1.2.2Cossio
Cossio critica em Kelsen exatamente o destaque por ele atribudo
condutailcita, minimizandoapermitida,aoconsiderlasimplesdesviopara
evitaraincidnciadaregraprimria.Entendequeacondutalcitaeailcita,a
nosancionada e a sancionada, tm igual importncia para o Direito. Assim,
umateoriasobreanaturezadanormajurdicadeveemprestaromesmorelevo
aambas. Dessaobservaoparteparaatribuirnormajurdica anaturezade
um juzo disjuntivo, que prev duas alternativas. Sua frmula gramatical a
seguinte: FT=P ou SP=S (dado um fato temporal, deve ser a prestao no
sendoaprestao,deveserasano).Exemplo:matarpenadexayanosde
priso.Essedispositivoresolvesenoseguintejuzo:dadoofatotemporalda
convivncia, deve ser o respeito vida humana no sendo o respeito vida
humana, deve ser a pena de priso. Portanto, fato temporal, a convivncia,
prestao,odeverderespeitovida:noprestao,o delitosano,apena.
Igual desdobramento podese fazer de qualquer regra jurdica. Por
exemplo: a que impe o dever de assistncia recproca aos cnjuges.
Diramos:dadoofatotemporaldocasamento,deveseraassistnciarecproca
entreoscnjugessealgumdelesseomitedessaobrigaooEstadolheimpe
umaprestaopecuniria.
Na frmula de Cossio, esto representadas, niveladamente, as duas
modalidadesdacondutadiantedanorma: apermitida, lcita,queseinsereno
primeiroelementodojuzo,eaproibida,ilcita,queseinserenoseusegundo
elemento.
A regra jurdica um juzo disjuntivo, traduzido numa proposio que
prev hipteses opostas que reciprocamente se sustentam, tendo cada uma a
sua validade na outra. Se seguimos a primeira alternativa, a da conduta
permitida, com isto no se caracterizam os pressupostos da segunda. Se a
violamos, expomonos segunda. Apresentase, assim, a regra como uma
disjuntivalgicacompletae,portanto,segundoaexpressodeWilliamJames,
comoverdadeiraopoforada.
Necessrio convir, porm, e a observao elementar, como ensina
Rudolf Lehmann, que na proposio hipottica se pensa sempre na
possibilidadedequenosecumpraacondio,doqueresultaapossibilidade
deoutrasntese,nosendoosjuzosdisjuntivossenoaquelesqueexpressam
essapossibilidadedistinta.
Prosseguindo na explanao, a norma jurdica, para Cossio, bifurcase.
Nelaexisteumanormamedular,aendonorma,eumaprotetora,envolvente,a
perinorma. A endonormacorresponde conduta lcita:dado ofatotemporal,
deveseraprestao.Aperinormacorrespondecondutailcita:nosatisfeita
aprestao,deveserasano.Semaperinormaaendonormaseriaincua.Se
o dispositivo jurdico dissesse que, dado um fato temporal, deveramos uma
prestao, e nada mais, poderamos negar a prestao, sem qualquer
conseqncia.paraobrigarasatisfazlaqueeleprotegeaendonormacoma
perinorma,queprevumasanoparaahiptesedeserrecusadaaprestao.
Comparadas as posies de Kelsen e Cossio, se admitimos que a
plenitude de qualquer ordem jurdica provm do seu envolvimento por uma
regra de liberdade ( permitido tudo que no proibido), que Zitelmann
considerou implcita, ainda que se lhe recuse a condio de preceito jurdico
concreto, chegase inevitavelmente concluso de que a primeira finalidade
do direito proibir o ilcito. Neste sentido procede a preponderncia que
Kelsen atribui ao dever primrio (no fazer) e a importncia do antijurdico
paraoDireito,noque,alis,noselhepodepredicarcompletaoriginalidade,
uma vez que j Arthur Schopenhauer (17881860) afirmar que o conceito de
ilcitooriginrioepositivo,enquantoqueodedireitoderivadoenegativo.
5.1.2Caracteres
discrepante a teoria, quando aponta os caracteres da norma jurdica.
Tratase, na verdade, de matria substancialmente polmica, porque a
indicaodecorredaposio doutrinriaemquenos situarmos,relativamente
aoentendimentoquefizermosdanaturezadanorma.
Semimergirnacontrovrsia,citaremosaquelesque,deummodogeral,
somencionados:bilateralidade,generalidade,heteronomiaecoercitividade.
5.1.2.1Bilateralidade
A bilateralidade da sua essncia, porque rege a conduta em
interferncia intersubjetiva. Pelo fato de que, no caso, se trata de conduta de
umsujeitoqueentreemconflitocomadeoutro,imprescindvelque,sendo
umadelasproibida,aoagentedaopostaseconfiramelementosparaimpediro
procedimento divergente. Anorma jurdica impedeverese outorga direitos,
ao contrrio da moral que unilateral, diz o que fazer, mas a ningum d a
faculdadedeexigilo.
5.1.2.2Generalidade
Asegundacaractersticadanormajurdicaageneralidade:prevuma
situao e vincula ocorrncia efetiva dela uma conseqncia. Num Cdigo
Penal lemos: matar, pena x furtar, pena y. So hipteses previstas de um
modo geral, para uma generalidade de indivduos. A norma no se dirige a
umindivduo ou aum grupo. Faz umasuposio genrica. Quemnela incide
sesujeitasanocominada.
5.1.2.3Exterioridade
A terceira caracterstica a exterioridade. O dever que impe
cabalmente cumprido pela simples prtica de atos que coincidem com a
determinao.Noindagadoaspectosubjetivooupsicolgicodaconduta.
5.1.2.4Heteronomia
A Quarta caracterstica a heteronomia. O dever imposto como
ordem estranha deliberao dos sditos. Cumprimos fielmente um preceito
jurdicoporqueeleassimnosmanda,noporimperativoprprio.
5.1.2.5Coercitividade
A ltima caracterstica a coercitividade. Se procedemos de maneira
divergente do que exige, utiliza elementos de constrangimento para obter a
condutadeterminada.
5.1.2.6Crtica
Passamos,agora,anlisedessespredicados.
Em relao ao primeiro, nada h que dizer. A bilateralidade
reconhecida, sem discrepncia, talvez como caracterstica fundamental da
regradeDireito.
Quantosoutrascaractersticas,existedivergncia.
A exterioridade, que se diz distinguila da regra moral, pode ser
contestada, em relao a ambas. Moral meramente intencional no tem
sentido. E no Direito encontramossituaesem quea normano se contenta
comasimplesconsideraodoprocedimentoexteriordoagente.Hconceitos
jurdicos quespodemserprecisados, emcada caso,consoanteaanlisedas
intenes. Algum mata e absolvido outro, condenado. A conseqncia
varia de acordo com a motivao da conduta. A noo de dolo (delito
intencional),aculpa(delito emque no houve inteno, masdescuido),ade
preterintencionalidade(delitodequeresultalesomaiordoqueapretendida),
a de legtima defesa, putativa (situao de quem pensa estar agindo em
legtima defesa, sem estar, por ser ilusria a conscincia da agresso), s se
alcanampelaanlisedacondutanoseuaspectosubjetivo.
Tambm no Direito Civil ocorre algo semelhante: nos atos jurdicos,
deveseatentarmaisparaoquefoipretendidopelosagentesdoqueparaoque
estpatentenumdocumento.
H,portanto,situaesemqueaincidnciadaregrajurdicapresumeo
examedacondutanasuainterioridade.
O direito cannico conhece situao tpica, na qual a interioridade da
condutarelevanteemsuaconseqnciajurdica.Tratasedareservamental,
causa de anulabilidade matrimonial, que Von Tuhr, citado por Luiz Jos de
Mesquita, define como uma divergncia consciente e voluntria entre a
declarao e a vontade, quando tacitamente o declarante no quer o que
declara.
Predicado tambm recusado o da generalidade. H normas jurdicas
gerais, mas tambm particulares, individualizadas, como as de um contrato,
quesomenteseaplicamaoscontratantes,adeumasentena,quesalcanaas
pessoas envolvidas no litgio, etc. A prpria lei pode ser individualizada,
assim,aqueconcedeisenotributriaparapessoadeterminada.
Em se tratando da coercitividade, o problema tornase mais complexo
por ser ela que nos d o perfil exterior, o trao de identificao da regra
jurdica,permitindonosdistinguilas,objetivamente,dasdemais.
Mas, para alguns autores, a coercitividade no peculiaridade
autnoma,masmerocorolriodabilateralidade.Seanormajurdicanofosse
bilateral,noseriacoercitiva,pelaausnciadeligaoentredeveresedireitos.
Outros chegam a afirmar, como faz Benedetto Croce (18661952), que a
coercitividade de uma lei somente se pode admitir diante de um estado
negativo de vontade e ao, pois ao e constrangimento so noes que
reciprocamenteseexcluem.
Almdisso,certas normasjurdicas soprivadasdecoercitividade,tais
como as de Direito Internacional Pblico. Os Estados as cumprem enquanto
querem e as violam quando lhes convm. Nem preciso invocar o Direito
Internacional Pblico, cuja situao reconhecidamente sui generis. No
prprio Direito Constitucional, h regras desprovidas de coercitividade, que
traduzemsimplesmenteprogramasdeaopoltica.
5.1.3Classificao
As normasjurdicas classificamsequanto aosistemaaquepertencem,
quanto sfontes dondeemanam,quanto ao seu mbitode validade, quanto
sua hierarquia, quanto sua sano, quanto s suas relaes de
complementao e quanto vontade das partes. So sete critrios distintos,
podendoamesmanormaserclassificadadebaixodetodoseles.
Diremosqueumanormanacional,consuetudinria,geral,devigncia
temporria,eassimpordiante,considerandoasobvriosfocos.
5.1.3.1Sistema
Asimplesexpressonormajurdicaumaabstrao.Noexistenorma
jurdica isolada, mas sempre integrando um sistema. H normas de Direito
brasileiro, concernentes ao sistema de Direito Positivo brasileiro h normas
de Direito americano,pertencentesaosistema do DireitoPositivoamericano.
OmesmopoderseiadizerdeumanormadeDireitofrancs,sovitico,etc.
Havendo sistemas de regras jurdicas, elas podem ser internas e
externas. Da a sua diviso em nacionais e estrangeiras. A norma nacional,
quando pertence ao prprio sistema no qual est sendo considerada, e
estrangeira,quandopertenceaqualqueroutro.
Em si mesma, porm, a norma no nacional nem estrangeira. Um
preceitodeDireitobrasileiro,parans,nacional,assimcomoumdeDireito
francs estrangeiro. Mas essas normas, consideradas do ngulo oposto, so,
respectivamente,estrangeiraenacional.
5.1.3.2Fontes
Conquantonohajauniformidadena indicaodassuasfontes,usual
distribulas em legislativas,consuetudinrias, jurisprudenciais edoutrinrias,
conforme derivem do Poder Legislativo, dos costumes, das decises
preponderantesdostribunaisoudaobradosjuristas.
As normas provenientes do Poder Legislativo recebem a denominao
deleis.
Quando os prprios interessados, na ausncia da lei, espontaneamente,
criamnormasquelhespermitematuardemaneiradisciplinadanaregnciadas
suasrelaes,soaquelasconsuetudinrias.
A palavra jurisprudncia empregada em diversos sentidos. Pode ser
usada como sinnimodecinciado Direitooudedogmticajurdica. Outras
vezes, para identificar, genericamente, as decises dos rgos judiciais. No
caso,significaasdecisesreiteradasdostribunais.
Cabe aos rgos jurisdicionais dizero Direito, e este osentido literal
da palavra jurisdio. A lei prestase, no raro, a entendimentos diferentes,
donde se origina a divergncia jurisprudencial, juizes e tribunais aplicando o
mesmo preceitodemodos diversos. Masas decises evoluem para uma certa
coerncia, at que se tornam reiteradas e idnticas. Do momento que se
estabelece uma jurisprudncia dessa ordem, ela tornase praticamente
obrigatriaporquerepresentaacompreensoautnticadalei.Setivermos,por
exemplo, uma transao a fazer, a realizaremos tranqilamente, desde que a
subordinemosregrajurisprudencialexistente.
As regras doutrinrias emergem do trabalho terico dos juristas,
dedicadointerpretaoesistematizaodoDireitoPositivo.
5.1.3.3mbitodevalidade
Conforme esquema mais amplo, as normas jurdicas tambm so
classificadas de acordo com o seu mbito de validade, isto , seu limite de
aplicabilidade.
A norma jurdica tem um mbito de validade espacial, porque integra
umsistemadeDireitoPositivo implantadonumadeterminada rea.Poroutro
lado, sempre de vignciatemporria,sujeita transformaodos processos
histricos,temcomeoefim,eentreelesestendeseombitodasuavalidade
temporal.Almdisso,certasnormasjurdicassedestinamatodasaspessoase
outrassomenteaalgumas.Tm,portanto, validadepessoalrelativa.Tambm
possuem validade material, porque o Direito Positivo comporta diviso
departamental.
Quanto sua validade espacial, as normas dividemse em gerais e
especiais.Sogeraisaquelascujocampoterritorialdeaplicabilidadecoincide
com a prpria rea de implantao do sistema ao qual pertencem. Especiais,
aquelasquespodemseraplicadasnumapartedessarea.
No Brasil, repblicafederativa e municipalista,htrs ordens polticas
e administrativas: a federal, a estadual, menor que a anterior, e a municipal,
menor que as duas. A lei federal tem validade espacial geral, aplicvel em
todo o territrio nacional. A estadual e a municipal tm validade espacial
especial,sovlidasapenasnosterritriosrespectivos.
Quantoaoseumbitodevalidadetemporal,asnormasso:devigncia
indeterminadaedevignciadeterminada.
Esta classificao particularmente vlida para as leis. As de vigncia
indeterminada, mais numerosas, no tm termo final de durao prefixado.
Somente quando surge lei nova que esta revoga a anterior. Outras tm
durao certa. Exemplo: a lei oramentria. Encerrado o ano civil, ela fica
automaticamente revogada, nos pases em que o ano fiscal coincide com o
civil. Assim tambm as leis que concedem moratria (prorrogao do
vencimentodeobrigaes),queestipulam prazodeterminadoparaofavor.E,
ainda, aquelas cujo tempo de eficcia tenha ficado condicionado a um
acontecimentofuturoousubordinadoaumasituaoprovisria.
Quanto validade pessoal, as normas podem tla: geral e individual,
sendo, respectivamente, gerais e individualizadas, distino j feita quando
consideramososcaracteresdanormajurdicaeanalisamosodageneralidade.
Finalmente,asnormasjurdicastmummbitodevalidadematerial.O
ordenamento jurdico dividese em setores: Direito Constitucional,
Administrativo, Penal, Processual, do Trabalho, Comercial, Civil, etc. As
normas podem ser classificadas paralelamente a esses vrios departamentos.
H regras constitucionais, somente vlidas em matria constitucional,
administrativas,igualmentevlidasapenasemmatriaadministrativae,assim
pordiante,penais,trabalhistas,processuais,civis,comerciais,etc.
5.1.3.4Hierarquia
Asnormassituamseemdiferentesposieshierrquicas,oqueprevine
a incoerncia dentro do mesmo sistema. Quando conflitam, a inferior cede
lugarsuperior.
Emrelaohierarquia,podemser:Constituio,leiscomplementares,
leisordinriaseregulamentos.
AConstituio,anormadamaisaltacategoria,traa ocontornodeum
sistemadeDireitoPositivo.
Abaixodelavmasleisquesedestinamacomplementla,verdadeiros
estatutosdesuasinstituiesmaisimportantes.Asuaenumeraotaxativae
s podem ser aprovadas por maioria absoluta, ou seja, pela metade mais um
dosmembrosquecompemoscolegiadoslegislativos.
Maisabaixoestoasordinrias,comuns,votadaspeloPoderLegislativo
pormaioriasimples,obtidasobreum quorumnecessrioparaostrabalhos.
Emgrauinferior,seguemseosregulamentos,atosnormativosdoPoder
Executivo. As leis, na maior parte dos casos, no tm a flexibilidade nem a
casustica reclamada para a sua efetiva aplicao. Por isso, algumas exigem
regulamentao, texto mais analtico, mais detalhado que, dentro da prpria
lei,dispemsobreasuaaplicao.
O poder regulamentador faculdade do Executivo para dispor sobre
medidas necessrias ao fiel cumprimento das leis, dando providncias que
estabeleam condies para tanto. Sua funo facilitar a aplicao da lei e,
principalmente,acomodaroaparelhoadministrativoparabemobservla.
Essas normas so todas hierarquicamente superiores umas s outras. A
Constituio superior lei complementar, esta ordinria e a ltima aos
regulamentos. Se o regulamento atenta contra a lei, por proibir o que ela
permite,concederoqueelaprobe,ou,dequalquermaneira,disporsemfaz
lonosseuslimites,oseuempregorecusadoporeivadeilegalidade.Seuma
leiordinriadispesobreassuntoquedeviaserobjetodeleicomplementarou
contraregranestacontida,asuaaplicaoigualmentenegada.Eseumalei
complementar ou uma ordinria viola preceito constitucional, o seu emprego
tambmrejeitadoporvciodeinconstitucionalidade.
Estaescalahierrquica,formuladaemtermosdoutrinrios,nocoincide
comaqueadotadapeloregimeconstitucionalbrasileiroatual.
5.1.3.5Sano
Quanto sano, as leis podem ser perfeitas, menosqueperfeitas e
imperfeitas,segundocritrioprovenientedoDireitoromano.
Esta classificao adequada apenas para as leis imperativas (jus
cogens).Aleiperfeitatemsanoexatamenteparalelasuafinalidade,sendo
esta, assim, perfeitamente alcanada. A prtica de um ato contra a sua
prescrionoconduzaqualquerresultado,umavezquealeiodeclaranulo.
E o ato nulo, em sentido legal, inexistente. A lei menosqueperfeita no
determina a nulidade do ato praticado contra seu preceito, apenas comina ao
infratorumcastigo.Assimera,porexemplo,noDireitoromano,emrelao
proibio de legados superiores a certo valor, exceto a algumas pessoas. O
legatrio ficava somente sujeito a restituir ao herdeiro o excesso, em
qudruplo.Asleis imperfeitasnoacarretamaanulaodoatonemcominam
pena a quem as desobedece. Ainda no Direito romano, o exemplo perfeito,
segundo Vandick L. da Nbrega, o da Lex Cincia de Donationibus, que
vedava, entre algumas pessoas, doaes superiores a certo valor, mas no
anulava as que fossem realizadas alm do limite nem impunha pena aos
transgressores.
5.1.3.6Relaesrecprocas
Quantossuasrelaesdecomplementao,asnormasso: primriase
secundrias. A que complementa outra, secundria em relao a esta. Se
uma lei tem sentido impreciso, de forma que cada tribunal a entende de um
modo,cadaautoridadeaaplicaemumsentido,eparasanarainconvenincia,
elaborase uma Segunda lei, que a esclarece. Esta lei, dita interpretativa,
secundriaemrelaoquelainterpretada,aprimria.
5.1.3.7Mododeagir
As normas jurdicas, finalmente, se classificam segundo sua posio
diantedavontadedosinteressados.
Sob este critrio, so: absolutas ou permissivas, formando o que, no
direitoromano,sechamavajuscogensejusdispositivum.Asabsolutas,sejam
imperativas ou proibitivas, no admitem composio contrria ao que
preceituam. As permissivas so interpretativas ou supletivas. Regulam certo
negcio jurdico, mas os interessados gozam da liberdade de realizlo de
outra maneira, de acordo com a sua vontade. Somente se silenciam que
prevaleceodispositivolegal,comoseestetivessesidoadotado.
5.1.3.8Condutaeorganizao
H tambm, alm das precedentes, uma classificao muito ampla das
normas jurdicas que as considera em sua prpria funcionalidade: normas
destinadasaregeracondutadaspessoas,decujanaturezavinculativaresultam
direitos e deveres, e normas de organizao, como as que dispem sobre os
rgos do Estado, os servios pblicos, os regimes polticos, etc., distino
que,segundoClaudeduPasquier,atribudaaW.Burckhardt.
Miguel Reale pretende que a existncia de normas de organizao
invalida a teoria de Kelsen sobre a natureza da norma jurdica, por no
poderem aquelas ser reduzidas, seno por artifcio, frmula de juzos
condicionaisouhipotticos,apenasaceitvelparaasnormasquesedestinama
regerocomportamentohumano.MachadoNetoopeserestriodeReale,
procurando mostrar que, ao contrrio, qualquer norma jurdica pode ser
apresentadacomojuzodisjuntivo.Almdomais,tambmemsentidooposto
ao de Reale, poderseia ponderar, como faz, embora no a esse expresso
propsito, Recasns Siches, que nem todo artigo de uma lei constitui um
preceito jurdico, dado que h alguns que so apenas partes deste,
determinando,apenas,algunsdeseuselementos.Assim,porexemplo,oartigo
que fixa a maioridade por si s no estabelece der algum, nem constitui um
preceitojurdico:umacondiocomumeparteintegrantedetodaumasrie
deles. Alm do mais, cabepor igualconsiderarquetodaorganizaojurdica
(normas de organizao) um sistema de direitos e deveres, no se devendo
ceder tentao de materializla, porque toda organizao jurdica
organizao de conduta humana, e esta, para o Direito, resolve,
inevitavelmente,emfaculdadeoudever.
5.2NORMA,SANOECOAO
As idias de norma e sano emergem, como corolrios, das noes
precedentementeexpostas.
5.2.1Elementosdanorma
A norma jurdica encerra dois elementos: um ideal (validade) outro
material (eficcia). Julgando a conduta humana, o faz por um valor que lhe
servedejustificativa,emrelaoaoqualpodeserconsideradajustaouinjusta.
Mas, qualquer que seja seu ndice de validade intrnseca, procura a
normasereficaz,imporseaquemobriga.Osmeios dequesevaleparaesse
fimsoelementosdesuaeficcia.
Adosagemdesseselementosnemsempreadequada.Algumasnormas
tmvalidademximaeeficciamnima,outras,inversamente,eficciatotale
nenhuma validade. Exemplo das primeiras a regra de Direito Internacional
pblicoque prescrevea igualdadejurdicados Estados, desconhecendo a sua
situao relativa de poderio e debilidade. indiscutvel a aquiescncia
universal a ela, inegvel a sua correspondncia com os princpios
fundamentais da justia internacional. No entanto, a sua infringncia
reiterada, impondose os Estados militar e economicamente mais fortes aos
maisfracos.Aocontrrio,umanormarepudiadapelacomunidadepodelograr
plenaeficcia,seamparadaemdispositivosirresistveisdepoder.
Hgidaanormajurdicanaqualambososelementossecompensame
reciprocamentesesustentam.
Aqui, temos empregado o vocbulo validade em sentido axiolgico,
comosignificativodovalorinerenteaqualquernormadecondutae,portanto,
tambmjurdica.
Porapegoaessavalidadeideal,oTribunalConstitucionaldaRepblica
da Alemanha Ocidental, aludindo ao perodo de nacionalsocialismo,
proclamousernecessrioqueos tribunais tivessemapossibilidade,emcertas
circunstncias, de dar preferncia ao princpio da justia sobre o da ordem
pblica, admitindo que, quando h extrema violao quela, a lei deve ser
declaradainvlida.
Enleada no mesmo problema e tambm no perodo posterior a Adolf
Hitler (18891945), a Corte Suprema decidiu pela existncia do direito de
resistncia a mandamentos legais intolerveis, tal como o que determinava a
qualquer pessoa que dispusesse de uma arma que matasse os desertores do
serviomilitar,independentementedeprocesso.
Nessas circunstncias, debateuse o problema de validade das leis em
termosaxiolgicos.
Mas, em outro sentido, as expresses validade e eficcia tambm se
confronta, como elementos de qualquer norma jurdica, dando primeira um
entendimentodiverso.
Sendo a ordem jurdica autnoma e cerrada, o fundamento de uma
norma no podendo ser seno outra, vlida a norma elaborada de acordo
com a delegao e o procedimento autorizados por outra que lhe seja
hierarquicamentesuperior. Assim,a leitira asua validade da Constituio,o
decreto,dalei,assentenaseasnormascontratuais,dodecretoedalei.
Tambm nesta significao validade e eficciadistinguemse, podendo
quasecoincidiroudistanciarse.Umalei,elaboradanolimitedaConstituio,
,semdvidavlida.Podeser,talvezporcircunstncias ligadasdificuldade
de sua aplicao ou completo repdio popular, minimamente eficaz. Uma
sentena,igualmenteexaradanoslimiteslegais,vlidamas,sesecontrape
obstculoirremovvelsuaexecuo,nenhumaeficciater.
A distncia relativa entre validade e eficcia, no tocante s normas
gerais, no pode exceder certo limite. Assim, a validade de uma ordem
jurdica, considerada estacomo um sistema integrado, no em relao a uma
norma isolada, tem por condio, reconheceo Kelsen, certa eficcia, o que
significa, nocaso,umarelaodecorrespondnciaentreanormaeaconduta
real. Como escreve o fundador da Teoria Pura, validade e eficcia so duas
qualidades perfeitamente distintas no obstante, h certa conexo entre elas.
A jurisprudncia considera uma norma jurdica como vlida somente se
pertence a uma ordem jurdica que seja eficaz em geral. Isto , se os
indivduos cuja conduta regulada pela ordem jurdica se comportam, no
principal, de acordo com o prescrito por ela. Se uma ordem jurdica perde a
sua eficcia por qualquer causa, ento a jurisprudncia j no considera as
suasnormascomovlidas.
5.2.2Normaesano
Todanormatemsano,porquedispesobreacondutaemliberdadee
nemhsanoquenosejadenorma.
s vezes, ouvimos que a norma jurdica se diferencia das demais
porque sancionada. Isto um equvoco. Toda norma sancionada, porque
infringvel. A conduta sujeita a uma condio inevitvel no pode, sob este
aspecto, ser objeto de norma. Pressuposto desta a possibilidade de no ser
cumprida.
Combasenestasnoes,podeseafirmarqueentreasidiasdenormae
sano existe uma inseparabilidade lgica, no meramente ftica. Da ser
inadequado dizer, como habitual, embora isso facilite o entendimento, que a
sano um elemento que se acrescenta norma. Assim no . Ela
integrantedaregra,oquefica,ademais,perfeitamenteevidenciadoquandose
analisa a estrutura da norma jurdica, seja conforme o entendimento de
Kelsen,oudeCossio.
Em que consiste a sano em si mesma? Tambm aqui a concepo
comumadequeelaa promessadeum mal. Certoqueeste umdadoda
experincia mas no basta para um conceito terico, porque a idia de mal
importa uma referncia axiolgica, ainda que precria, o que a desloca do
plano cientfico para o filosfico. No pode, assim, servir de base para um
conceitodesano,nosquadrosdacinciadodireito.Poroutrolado,aprpria
sano aparentementemais maligna,comoapenal,podeservistacomoum
bem,setemosemcontaqueatuacomocausaderecuperaododelinqente.
Por isso, na doutrina mais moderna, procurase alcanar uma idia de
sano em termos lgicos, distanciados da vivncia dos atos em que ela
importa. Assim, Mynez limitase a definila como a conseqncia jurdica
que o nocumprimento de um dever acarreta para o obrigado. Kelsen a
caracteriza como a privao coativa de certos bens (vida, liberdade,
patrimnio). E Cossio, com apoio na sua teoria egolgica, a conceitua como
dado jurdico que opera prescindindo da liberdade do indivduo, ao contrrio
daprestaoqueapenasserealizaporatolivredoobrigado.
5.2.3Sanes
A moral religiosa ameaa com um castigo sobrenatural. A moral
comumtemasuasano:oremorso. Praticamosoudeixamos depraticarum
ato assim dizemos para ficarmos em paz com a nossa conscincia.
Cumprimos anormaconvencional,sobaameaadoscomentriosalheios,do
banimento de certos crculos, para evitar, finalmente, o constrangimento que
nosacarretasuainfrao.
A diferena, em relao norma jurdica, est em que a sua sano
compulsria, no depende de ns, mas de elementos exteriores, que nla
impemcoercitivamente.
5.2.4Normasancionadaenormasancionadora
Norma e sano distinguemse, embora integrem uma unidade lgica.
Lembramos a lio de Cossio: a norma jurdica prev um fato ao qual
corresponde uma conduta e, concomitantemente, se a conduta no segue ao
fato,umasano.
Logo,anorma,realmente,umenlacededuasnormas. Afusodestas
toperfeitaqueparecemambasformarumas.Mash,emverdade,duas:a
endonorma (oquese deveprestaremdecorrnciadeum fato)ea perinorma
(aoqueseficaexpostoquandosenegaaprestao).
Umanormaimpeumdeverquandoocorrecertofatotemporal,eoutra,
umasano,seodever,adespeitodofato,noprestado.
A existncia, em cada proposio jurdica, de duas normas, tambm
evidenciadaporKelsen,peladistinoentreregraprimriaesecundria.
A essa duplicidade correspondem dois deveres: um principal e outro
secundrio.
NateoriadeCossio,oprincipalocontedodaendonorma:devesera
prestao.Daperinormaresultaodeversecundrio:deveserasano.
No casamento, exemplo agora repetido, a obrigao de assistncia
recproca entre os cnjuges. Se um deles deixa de cumprila, viola o dever
principal. O outro tem, ento, a faculdade de exigir o dever secundrio, uma
pensoalimentcia.
Aregraprevdoisdeveres,entreosquaisoscnjugespodemoptar.
Odeverprincipalocontedodanormaeosecundrio,odasano,a
seu turno, tambm uma norma. A endonorma a norma sancionada e a
perinorma,asancionadora.
5.2.5Coao
Para eliminar a fora da soluo dos conflitos, elucida Francesco
Carnelutti(1879),odireito,emltimainstncia,somentedaforapodeservir
se.
Acoaoestparaa sanoassimcomoestaparaa norma. Quem no
acataanormasofreasano,quemnoaceitaasanosofreacoao.
Acoaoaltimalinhaderesistnciadaeficciadopreceito.Roberto
deRuggieroaconsideraoremdioextremoaqueodireitorecorreparaobtera
suaobservncia.
No exemplo das pessoas casadas, se o dever de assistncia recproca
noobservado,nemprestadaapensoalimentcia,ocnjugeomissosofrer
uma coao, que poder ir desde o mero desconto em seus ganhos at sua
priso.
A coao efetiva a sano. Podese infringir o dever principal, porque
paraelehumsucedneo,queasano,deversecundrio.Masnosepode
transgredirosecundrio,sujeitosqueestamosacumprilocoativamente.
A sano atua psicologicamente, porque, em regra, para prevenila, o
indivduo acata o dever principal. A coao tambm atua psicologicamente,
porqueoindivduo,parafugirviolncia,submeteseaela.
5.3SANESJURDICAS
Anormajurdicadesfrutadeumasanodotadadomximodeeficcia.
5.3.1Caracteres
Elaostentadoispredicados queasdemais nopossuem:organizaoe
coercitividade.
5.3.1.1Organizao
organizada porque existe um rgo especfico para aplicla (rgo
sancionador)eporquepredeterminada.
A organizao, portanto, resolvese em dois atributos: rgo
sancionadorepredeterminao.
Em poca recuada, no havia, propriamente, rgo sancionador.
Referimonos ao tempo da vingana privada. O indivduo atingido pela
infraodeuma regrajurdica, tinha a faculdade, tambm jurdica, de tomar,
elemesmo,desforocontraoofensor.Comamarchadacivilizao,asano
jurdicadeixoudeserdisponvelparaqualquerum.oqueseretratanafrase:
ningumpodefazerjustiapelasprprias mos.Apessoa injustiadatem de
apelar a uma entidade que aplique a sano: o Estado, que dispe do
monopliodacoao.
Organizada,tambm,asanojurdica,pelasuapredeterminao.Ao
infringirmosumanormajurdicasabemos,nasuajustamedida,dasanoque
nosatingir.Elafriaematematicamentequantificada.
Asanomoralvariadepessoaparapessoa.Indivduosquepraticamo
mesmoatomoralmentecensurvelsofremconseqnciasdiferentes.Umpode
ser mais sensvel prpria dor ntima, outro menos e um terceiro
completamenteinsensvel.Ainfraodeumaregraconvencionalpodeser,em
relao a certa pessoa, julgada severamente e, em relao a outra,
benignamenteconsiderada,toleradaeatconsentida.
A sano jurdica sempre igual para a mesma transgresso. Isso
verdadeiro em todos os ramos do direito, porm mais evidente no penal, que
indicaexatamenteapenaaquenosexporemossecometermosumdelito.
5.3.1.2Coercitividade
A sano jurdica coercitiva, dado que a sua aplicao prescinde do
concurso do infrator, autrquica, apoiada em elementos de poder, que
asseguramsuaefetivaoporconstrangimento.
A doutrina, com alguma sutileza, distingue, na coercitividade, a
coercibilidadeeacoero.Acoercibilidadeamerapossibilidadedecoero,
e a coero a coercitividade atuante. A coercibilidade o aspecto
psicolgico da coercitividade. Se certo ato acarreta efeito danoso, o homem
deixa depraticlo, vencidopeloefeitopsicolgicodasano. Noatuandoa
coercibilidade, surge o constrangimento efetivo, a coero real, melhor, o
empregofsicodaforacontraoinfratorparalheimporasano.
J. Flscolo da Nbrega entende que a coercibilidade (possibilidade de
coao)quedaessnciadanormajurdica,invocandoasituaodasregras
dedireitointernacionalpblico.
5.3.2Classificao
Citaremosduasclassificaesdassanesjurdicas.
A primeira toma para referncia a natureza da norma sancionada,
meraenumerao:assanessodistribudasdeacordocomasnormasaque
correspondem. A segunda obedece ao critrio de relao entre o dever
principaleosecundrio.Somenteestatemnaturezalgica.
5.3.2.1Relaocomanormasancionada
As normasde Direito,alis jobservamos, grupamse emconsonncia
comsuafinalidadetpica. Algumasorganizam politicamenteoEstado,soas
constitucionais. Outras dispem sobre o funcionamento da administrao
pblica, so as administrativas. H as que prevem crimes e penas
correspondentes, so as de Direito Penal. Poderamos prosseguir, citando as
trabalhistas,processuais,civis, comerciais,etc.
Assimcomohumacertapeculiaridadedasnormasdecada umdesses
setores, h igual peculiaridade das respectivas sanes: sanes tpicas de
DireitoPenal,deDireitoConstitucional,deDireitoAdministrativo,deDireito
Civil, de Direito Comercial,etc. Exemplificando, a pena uma sano tpica
do Direito Penal, o impeachment, que destitui por via de julgamento
legislativo os titularesdas funesexecutivas, uma sano prpria do Direito
Constitucional. A demisso, uma sano caracteristicamente disciplinar. A
indenizao,umasanodeDireitoPrivado.
Embora seja maior a importncia de certas sanes, em reas
determinadas de cada sistema de Direito Positivo, algumas so comuns a
vrias,ouatodas,comoanulidade,encontradaemqualquerramodoDireito.
H, portanto, impropriedade em se classificarem as sanes consoante a
natureza da norma sancionada, conquanto tal procedimento nos leve a
conhecerassuasmodalidadesmais comuns easuaincidncia maisusualnos
diversossetoresemquesedividemossistemasdeDireitoPositivo.
Sobestecritrio,assanessoclassificadas emtantos gruposquantas
so as disciplinas jurdicas particulares. Citando apenas as tradicionais, cuja
autonomia no contestada, as sanes podem ser: constitucionais,
administrativas,penais,processuais,trabalhistas,civisecomerciais.
5.3.2.2Sanespenais
Soaflitivasequasesempreconsistemnaprivaodeumdireito.
Entre elas esto as penas corporais, castigos fsicos, sendo as penas
privativasdaliberdade maiscomunsnoDireitoPenalmoderno,divorciadoda
inspirao de vingana, que durante muito tempo o influenciou. Podem estas
sercumpridasemvriosregimes,cujaindicaoseriainadequadaaqui.
O infrator da lei penal tambmpode ser privadodeoutros direitos, at
daquele que a condio dos demais, o direito vida, bem como do de
exercer uma atividade, de desempenhar uma funo, de estabelecer contratos
comaadministrao,etc.
H sanes penais pecunirias, que exigem o pagamento de certa
importncia attulo de multa. Sopenas, no geral, complementaresdeoutras
maispesadas,ouparainfraesleves,quenojustificamsanomaisonerosa.
5.3.2.3Sanesdisciplinares
Citaremos unicamente as que a administrao pblica aplica aos seus
servidores:priso,demisso,suspenso,repreensoeadvertncia.
A priso decretada pela autoridade administrativa, sem que o Poder
Judicirio possa rever o ato, a menos que violada alguma formalidade legal.
Aspira menos a punir do que impedir que o transgressor, em liberdade,
prejudiqueainvestigao.
A demisso a expulso do infrator do quadro de servidores pblicos.
Podesersimpleseabemdoserviopblico,estamaisgrave,porqueacarreta
impedimentoderetornoaoservio.
A suspenso a interrupo do exerccio, com privao das suas
vantagens.
Arepreensoumacensura,eaadvertncia,simplesreparo,visandoa
evitarfaltafutura.
5.3.2.4Sanesprivadas
Asusuaissoaexecuoforada,anulidadeeacompensao.
Consisteaexecuoforadaemsujeitaro agente dainfraoapraticar
odeveraqueserecusou,sobpenadeexecutloporeleorgosancionador.
Se o contribuinte no paga um imposto, forado a fazlo. O mesmo
ocorre com o pagamento de qualquer dvida de dinheiro. O Estado, em
benefcioprejudicado,vende os bens do devedor, apura oresultadoeentrega
aocredoroquelhecabe.
H formas ainda mais caractersticas desse tipo de sano. Algum,
vendendo um bem imvel a prazo, que findo o pagamento das prestaes,
recusase a assinar o documento definitivo da transao, pode o comprador
pediraojuizquelheexpeaottulorespectivo.
AnulidadeexisteemtodososcamposdoDireito,pormmaiscomum
no Direito Privado. Retira totalmente do ato qualquer eficcia. Ato nulo,
juridicamente, como se no existisse. H o desrespeito norma, mas a
violaoinoperante,porqueoatopraticadonoaproveitaaoseuautor.
A compensao confere pessoa prejudicada pela infrao o resultado
econmicoque teriaobtido,se odeverhouvera sido cumprido. Porexemplo,
algum compra uma mercadoria, por x, para recebla a 30 dias. Na data
aprazada,ela est custando x mais y. Seocomprador a recebesseevendesse
pelopreoatualizado,lucraria y.Seovendedornoentregaamercadoriaeo
comprador acaso tinha o compromisso de fornecla a terceiro, obrigado a
adquirila por x mais y, perdendo duas vezes y na transao. No podemos
exigir do vendedor a entrega, mas nos lcito obter dele importncia
correspondente que o comprador lograria, caso o compromisso fora
respeitado.
5.3.2.5Sanesfiscais
Socominadasaosinfratoresdalegislaotributria.
As principais so: execuo forada, multa, suspenso de atividade e
proibioderelaescomaadministraopblica.
Aexecuoforada,noDireitoFiscal,amesmasanoque,sobessa
denominao,jestudamosnoDireitoPrivado.
Asdemaissanessotipicamentefiscais.
A multa no tem natureza compensatria, sim penal, to pesado seu
valornageneralidadedasinfraes
A suspenso de atividades e a proibio de relaes com a
Administrao Pblica so compreensveis pelo seu simples enunciado.
Algumas atividades dependem de permisso administrativa. Nesse caso, seu
exerccio pode ser suspenso se o Poder Pblico cessa o licenciamento. Da
recusaderelaes coma Administraoresultamdanos,quepodemconsistir
na impossibilidade de participar de concorrncias pblicas, de fazer
fornecimentos Administrao, e, s vezes, de obter crdito em
estabelecimentodoEstadoounosquaiseletemparticipao.
5.3.2.6Relaocomodeverprincipal
A classificao de sanes adotada por Garcia Mynez tem rigoroso
fundamentolgico.Dispenasdeacordocomumcritrioqueasrenenasua
totalidade:odarelaoentreodeverprincipaleosecundrio.
Anormajurdica,jvimos,bifurcase:umadeterminaodeverprincipal,
acondutalcita,outra,odeversecundrio,quesseimpequandopraticadaa
condutadefesaounoprescrita.
Essesdeverespodemserdistintosouidnticos.
s vezes, o dever secundrio imposto pela norma sancionadora tem o
mesmo contedoque oprincipalexigidopelanorma sancionada. Nesse caso,
asanocoincidente,isto,coincidecomanorma.
Esta , por excelncia, a sano jurdica. A regra jurdica, quando
prescreve ou probe uma conduta, almeja obter realmente a conduta
recomendadaouaabstenodaproibida.
Como essa pretenso peculiar norma jurdica, so comuns as
sanes coincidentes. o caso da execuo forada, cujo mecanismo j
expusemos.
Nem sempre, porm, pode a norma jurdica impor sano desse tipo.
Quandoassim,odeversecundrio,decorrentedanormasancionadora,uma
espcie de sucedneo do principal, procedente da norma sancionada. Nesta
circunstncia a sano nocoincidente. Duas so as suas modalidades:
compensaoepena.
Asanocompensatria,jcitada,indenizaoprejudicadodoqueperde
oudeixadeganharpelainexecuododeverprincipal.
A sano penal a que mais desafina do dever principal. No pode
levar o infrator a cumprilo, irremediavelmente descumprido que fica pela
infringncia,nemcompensaodanosofrido.
Cossio aplaude a classificao de Mynez, mas diverge do seu
enquadramento.Sustentaqueaexecuoforadaeaindenizaointegramum
gnerocomum.Ambasprocuramaigualdade:oigualpeloigualeoigualpelo
equivalente. Num gnero parte situa as sanes penais, caracterizadas pela
irracionalidade.
5.3.3Medidasdesegurana
Em complemento ao estudo das sanes, devem ser abordados outras
idiasaeladealgummodovinculadas.
H medidas jurdicas que, pelo seu contedo, aparecem como sanes,
semoser.Privamaquematingemdecertosdireitos,semqueasuaimposio
decorradanoprestao.Referimonossmedidasdesegurana.
As sanes so repressivas, as medidas de segurana preventivas.
Aquelassucedemeestasantecedeminfrao.
Embora o conceito positivo de medida de segurana esteja contido na
esferadoutrinriadoDireitoPenal,asuasignificaomaisampla.Assim,o
internamentodeumalienadoemnosocmionoimportaojulgamentodoseu
estado e da sua eventual conduta luz de qualquer preceito de Direito
Criminal.Masaprovidncia,emsi,temcarterpreventivo.
naqueledepartamentodo Direito,porm,queestainstituiojurdica
temse divulgado, ainda que timidamente, pois, na maior parte dos pases, a
suaaplicao no podeserfeita seno a quem hajaefetivamente infringidoa
legislao penal. No Brasil, a medida de segurana somente aplicvel post
delictumepressupeapericulosidadedoagente.Visa,nadefiniodeAtaliba
Nogueira, a proteger a sociedade contra determinado indivduo perigoso,
imputvelouno,punvelouno,colocandoonaimpossibilidadedepraticar,
novamente,fatodefinidocomocrimeoucontraveno.
Em certos casos a periculosidade presumida, devendo a medida ser
imposta sempre: criminosos alienados, reincidentes em crime doloso,
participantes de quadrilhas de malfeitores, etc. Em outros, a sua necessidade
depender do convencimento do juiz, atravs do exame que fizer da
personalidadedodelinqenteedosmotivosecircunstnciasdodelito.
Devemos observar, com Werner Goldschmidt, que a medida de
seguranatemsempreemmiraprevenirumfuturodelitoenissoencontrasua
justificativa, no naquele que haja sido efetivamente perpetrado. Por isso,
perfeitamente distinta da pena, ainda que Basileu Garcia comente, em
contrrio,quequemacumprearecebecomocastigo.
O Direito Penal brasileiro prev as seguintes medidas de segurana:
internao em manicmio judicirio, em casa de custdia e tratamento, em
colnia agrcola ou instituto de trabalho, de reeducao ou de ensino
profissional,liberdadevigiada,proibiodefreqnciaadeterminadoslugares
eexliolocal.
5.3.4Sanopremial
Tal instituio somente de algum tempo para c vem merecendo
exame,emboratenhasempreexistidonosordenamentosjurdicos.
Aparentemente, os vocbulos sano e prmio repelemse, parecendo
ilgicaaexpressosanopremial,tocertoaceitarsetenhaaquelacarter
punitivo,nopodendo,assim,consistirnapromessadeumbenefcio.
H normas, porm, que, para lograrem eficcia, prometem uma
recompensa. Dizse que a sua sano uma vantagem. As leis fiscais
comumente favorecem com um desconto ao contribuinte que atender por
antecipao o pagamento do imposto devido. Para estimular atividades em
cujo exerccio o Estado est interessado, embora pouco atraentes para a
iniciativa privada, oferecem as leis proveitos para quem as promove. A atual
legislao brasileira de incentivos fiscais para investimentos em certas reas
econmicas tem natureza premial. Pode, ainda, o Estado desejar fomentar as
letras, as artes e as cincias. No dispondo de recursos de constrangimento
para fazlo, cujo xito, ademais, seria duvidoso, premia quem se entrega
suarealizao.Finalmente,osatosdealtrusmopodem,tambm,suscitarjusta
retribuio, na medida em que manifestam a aprimorada formao tica de
quemos pratica,fazendoseusagentesjus aumarecompensa.Emtodas essas
circunstncias, as normas emuladoras de tais procedimentos tm sano
premial.
Dirseia,numatentativadesituarasano premial noseu justo lugar,
queacondutadohomempodesedesenvolveremtrsnveis diferentes.Num
deles, limitase a dar a prestao exigida pela norma, que a ela se mostra
indiferente, sem punirnem premiar. Em outro,recusa a prestao, e a norma
reage, usando a sano. Num terceiro, a prestao cumprida alm do
estritamente exigido ou o ato em si mesmo no objeto de exigncia, e a
normacompensaoagente.Seria,namesmaordem,ocasodocontribuinteque
pagao imposto noprazo, do quenoopaga ou ofaz com atrasoedoqueo
pagacomantecipao.
Alguns autores consideram o prmio modalidade de sano. Admitem,
portanto, uma sano punitiva (sano propriamente dita) e uma sano
premial (recompensa). Esta a posio de Llambias de Azevedo, para quem
as retribuies ou sanes chamamse penas ou castigos, quando consistem
em males, e prmios ou recompensas, quando consistem em bens. Essencial
do direito seria a retribuio, que tanto pode ser um castigo como uma
recompensa.
Domesmomodo,GiuseppeMaggiore(18821954)opinaqueasano,
corretamente entendida, simplesmente o r3esultado da adequao ou da
inadequaolei.Tantopodeserummal quesegue transgressocomoum
bem que sucede obedincia. E constri, paralelos, umateoriado ato ilcito,
cujo correspondente o castigo, e do ato meritrio, cujo fruto o prmio,
amboscontidosnoconceitogenricodesano.
Mario Alberto Copello, em monografia que Cossio considerou o mais
perfeito trabalho sobre o tema, depois de criticar em profundidade a tese de
Maggiore, conclui que entre sano e prmio h uma completa e radical
diferena,nopodendosersituadoscomoespciesdeumgnero.Suaopinio
radica, basicamente, na afirmativa de que a sano tem seu fundamento na
perinorma, enquanto o prmio o tem na endonorma. Figura ele, assim, a
norma jurdica, segundo a estrutura de Cossio, j citada. O prmio
retribuio da endonorma, a cuja execuo se empresta carter atrativo, e a
sano a retribuio da perinorma. So portanto, entidades jurdicas
autnomas.
Semrefernciadiretaaoproblema,mascomevidenterepercussonele,
lembra Roberto Jos Vernengo que as tcnicas de socializao (mecanismos
de motivao da conduta socialmente requerida para o papel que cada
indivduocumpre)sodedoistipos:gratificantesepunitivas.
Mediante gratificaes e punies a sociedade controla o
comportamentodosseusmembros.
possvel obter que um indivduo cumpra a ao socialmente devida,
segundo o papel que desempenha, gratificandoo com prestgio, benefcios
materiais, segurana psicolgica, prmios etc. Ou o controle da conduta dos
membros de uma sociedade se efetua castigandose condutas desviadas, seja
comorepdio moraldosoutros membros dogrupo,oisolamentodo infrator,
ocastigofsico,asprivaespatrimoniais,etc.
Debaixo desse critrio, sociologicamente irrecusvel, sano e prmio
seriamtcnicasdeeficciacomunsatodasasnormasdeconvivncia.
5.4FONTESDODIREITO
Aexpressofontesdodireitopodeserempregadaemsentidosdiversos,
o que,emparte,respondepelasdiscrepnciasdadoutrinasobreotema.
5.4.1Acepes
Dela daremos o sentido sociolgico e o jurdico, este nas suas mais
comunssignificaes.
Sociologicamente,fontesdodireitosoas vertentessociais ehistricas
decadapoca,dasquaisfluemasnormasjurdicaspositivas.
Como fato social, o direito emerge das tradies, dos costumes, das
praxes, das convices, das ideologias e das necessidades de cada povo em
cadatempo.
As fontes sociolgicas so tambm chamadas fontes materiais do
Direito e so constitudas por elementos emergentes da prpria realidade
social ou dos valores que inspiram qualquer ordenamento jurdico. Entre as
primeirasdesatacamseosfatoreseconmicos,cujaimportnciafoienfatizada
por Karl Marx (18181883) e Stammler, representados pelas estruturas
econmicas,crisesetc.osreligiosos,atuantesnodireitodefamliaosmorais,
cujainfluncianoDireitomodernoeqivaledosreligiososnoDireitoantigo
os polticos,decorrentes da natureza do regimedecada Estado e os naturais
(secas,geadas,clima,raa,flora,faunaetc.).
Quando, dado um certo direito positivo, procuramos alcanar os
elementossociaisqueatuaramouatuamcomofatoresdesuaproduo,nossa
pesquisa tem por objeto as fontes do direito consideradas em sentido
sociolgico.
Juridicamente, a expresso pode ser utilizada sob trs acepes:
filosfica,formaletcnica.
Na acepo filosfica, cogitar de fontes de direito redunda em
julgamento crtico das suas matrizes sociais, tal como faz Del Vecchio. O
direito produto de vrias influncias e snteses de diversos elementos.
trabalho dos prprios interessados que criam o costume, obra do legislador
queintencionalmenteproduznormaseempreendimentodosjuizesetribunais
que, ao apliclo, entregamse a uma tarefa verdadeiramente criadora, cujos
frutossocritriosuniformesdeentendimento,vlidoscomonormasgerais,e
ainda resultado da doutrina dos jurisconsultos, cujas lies motivam a
jurisprudnciaeolegisladoreorientamosinteressados.
Da a indagao: desses vrios elementos que integram a ordem
jurdica, qual o mais autntico, genuno e prefervel? A resposta obriga a
umaconsideraoestimativadaquelasfontese,porisso,filosfica. Quando
a escola histrica, por exemplo, ensina que o direito, por excelncia, na sua
mais pura legitimidade, est nos costumes de cada povo, sua posio em
relaoaessafontefilosfica.
Naacepo formal, consideramos as fontes do direitosoboaspecto da
suavalidade. Repousandoa validade deumanormasempreemoutra,afonte
deumaaprecedentequelheservedesuporte(veritem5.2.1).
Na acepo tcnica, fontes do direito so as instncias havidas, numa
sociedade, como autorizadas para julgar da conduta em interferncia
intersubjetiva. A estimativa da conduta no podendo ser arbitrria, h de ser
feita mediante paradigmas aceitos pela sociedade, provenientes de entidades
ou instncias a que atribui legitimidade para elaborlos. Estas, a seu turno,
assinala Julio Ayasta Gonzlez, atuam observando regras adequadas e
inspiramseemmatrizesdeopinio.
Neste sentido, quando perguntamos o que so fontes de direito,
cogitamos, exatamente, dos rgos de cuja atividade resulta a produo de
modelos de estimativa jurdica. Assim, se temos um negcio a praticar e
indagamosdequemaneiraeledeveserfeito,essainterrogaoimplicitamente
encerra outra: em que fontes encontrar as normas aplicveis ao negcio? Ao
juristacompeteprocurararegra,queencontrarnumafontedeproduo.Ir
lei, aos arquivos de jurisprudncia, aos tratados doutrinrios, e s de posse
dos elementos colhidos orientar a questo. Tudo isso eqivale a ir a uma
fonte para trazer a regra. por isso que Claude du Pasquier, considerando a
expressofontesdedireito,entendeacomoumametforabastanteadequada,
porque, explica, remontar s fontes de um rio procurar o local onde suas
guas nascem igualmente, inquirir sobre a fonte de uma regra jurdica
procurar por onde ela saiu das profundidades da vida social para aparecer
superfciedoDireito.
Alguns autores (entre ns Limongi Frana e Amauri Mascaro do
Nascimento) preferem usar a palavra forma (ou a locuo forma de
expresso), em vez do vocbulo fonte, acreditando aquela mais adequada.
Argumentam que as fontes reais e primeiras do Direito Positivo (parte
principal) so a atividade estatal e a popular, que criam a lei e o costume,
respectivamente.Emconseqncia,leiecostumenosomaisdoqueformas
de expresso do direito gerado pelo Estado e pela conscincia popular,
segundo o ditame das necessidades sociais. Como a jurisprudncia e a
doutrinanoseriamsenoformasdaatividadedostribunaisedosdoutos.
Entendemos que a controvrsiaocorre pormera dualidade deenfoques
pelos quaisotematratado. Comefeito,o mesmodado,digamosa lei,pode
ser considerado do ponto de vista de sua gerao e do ponto de vista de sua
aplicao. Do primeiro, aparecenos ela como resultado de uma atividade e,
portanto, como sua forma cristalizada numa norma escrita. Como produto
finaldeumtrabalhoelaaformaacabadadoseuresultado.Masojurista,ao
examinar o caso pendente de soluo, j ir encontrar a lei definitivamente
elaborada.Eaelarecorrer,assim,comoaumafontecapazdelheministrara
soluodesejada.
A mesma dualidade de posio justifica a diviso das fontes em
materiaiseformais.
Asfontesdeproduopodemseroriginriasederivadas.
Asderivadassolimitadasumas pelasoutras:ajurisprudncia pelalei,
aleipelaConstituio.
O juiz, ao proferir sentena, no pode exorbitar do limite legal. O
legislador, ao formular a lei, h de se haver, tambm, no limite da
competnciaquelheoutorgouaConstituio.
A liberdade criadora da fonte originria ilimitada, no est contida
num mbito de competncia traado por outra. Quando um movimento
insurrecional quebra a continuidade histrica do Direito Positivo, o poder
revolucionrio,extraindosua legitimidadeeautoridadedoprpriofatodeser
poder, atua como fonte originria. Cabelhe constituir uma ordem jurdica
nova.ImplantadaumaConstituio,cessaafonteoriginria,porqueoprprio
poder de reforma constitucional deriva da Constituio, tal como o dos
legisladoreseodosjuizes.
5.4.2Diviso
Asfontesderivadasso:lei,costume,jurisprudnciaedoutrina.
A ordem em que esto citadas no arbitrria. Obedece a uma
gradao,deformaadividilasemfonteimediataefontesmediatas.
A consulta s fontes de direito deve ser sistemtica e progressiva. S
podemospassarSegunda,quandoexauridaaprimeira,eassimpordiante.
Ojuristanopodedirigirseaumtratadoterico,pararesponderauma
consulta, ou guiarse de incio pela jurisprudncia. Seu primeiro dever ir
lei, para procurar a soluo, no apenas tratandoa na sua superficialidade
gramatical, na sua significao literal, mas na sua normatividade latente e
implicaes implcitas. Somente se no encontra soluo nela, passa ao
costume,depoisjurisprudncia,e,porltimodoutrina.
Dessasucessodecorrequeumadasfontesimediata,principal,aquela
a que em primeiro lugar nos dirigimos: a lei. As demais so consultadas na
ausncia de regra legal, servem para suprir as omisses da lei, expurgla de
incoerncias,eliminarassuasobscuridadesedarlheumsentidounvoco.So
fontesmediatas.
5.4.3Lei
Lei uma norma geral, escrita, coercitiva, que obedece a um processo
peculiardeelaborao,provenientedeentidadecompetente.Nesteconceitoh
quatro elementos: um material, a generalidade, e trs formais, o processo, o
carter escrito e a entidade da qual provm. Qualquer regra jurdica sem um
desseselementosnolei,ouseja,senotemcartergeral,senoescrita,
se elaborada em desacordo com o processo constitucional (causa de sua
nulidade,explicaFranciscoCampos)ouprocedentedeoutrorgoquenoo
legislativo.
A lei prev uma situao para uma universalidade de pessoas, no se
dirigeaalgumisoladamente.atingidopelaconseqnciaquemquerquese
enquadrenahiptese prevista. Nisso consisteasua generalidade, que o seu
elementomaterial.
Hoje, jo vimos,nose aceitasera generalidadeatributoessencial da
lei, porque h leis individualizadas: as que concedem permisso para uma
atividade, as que outorgam iseno tributria para pessoa determinada e
outras.
Por esse fato mesmo, costumase fazer distino entre lei em sentido
material e lei em sentido formal. Em sentido material a que, alm dos
requisitos formais, tambm dispe do material, a generalidade. Em sentido
formal,aquenotemoatributodageneralidade,masdesfrutadosdemais:
escritaeelaboradapeloPoderLegislativo,atravsdeprocessoadequado.
5.4.3.1Problemasdeelaborao
A elaborao legislativa suscita problemas, ligados, principalmente,
extraordinriaimportnciaatualdaleicomofontededireito.
Nos pases de organizao democrtica, cabe ao Congresso, eleito por
sufrgio popular, a elaborao legislativa. O Congresso no um rgo
tcnico, mas poltico, por ser a investidura dos seus componentes feita por
sufrgio. A caracterstica de um rgo poltico ser representativo de
interesses. Da ser sem fundamento a crtica habitualmente feita
incompetncia intelectualdas assemblias legislativas. No so estas grmios
culturais,nemacademiadecincias.Provmdeumacomunidadeerefletema
condiodela.
Nas sociedades modernas crescente o intervencionismo do Estado,
mesmo nos pases fiis ao liberalismo, principalmente na atividade
econmica.OEstadointervmemqualquersetorsocialpelaafirmaodasua
vontade, manifestada atravs das leis que promulga. Donde a necessidade de
umalegislaoservidaporumsuportedeculturanemsempreencontradonas
assemblias legislativas. No sendo estas corporaes tcnicas, deparamcom
dificuldades originadas na falta de qualificao de seus integrantes para a
elaborao de legislao adequada. O problema se agrava de dia para dia e
deledecorreogradualdesfalquequevosofrendoosrgoslegislativos.
Em alguns pases, o Legislativo procura cercarse de um
assessoramento tcnico to bom como aquele de que equipado o Poder
Executivo.Issoacontece,porexemplo,nosEstadosUnidos.
Noutros, a soluo mais encontradia a de atribuir competncia
legislativa ao Poder Executivo, de maneira que a ele caiba, quase sempre, a
iniciativadasleis,quandonoaprerrogativadepromulglas,submetendoas,
posteriormente,aexamedoLegislativo.
Outro problema pertinente elaborao das leis o da polmica entre
unicameralismoebicameralismo.
Quando, neste trabalho, aludimos a PoderLegislativo, referimonos ao
rgo, qualquer que ele seja, ao qual uma sociedade defere a atribuio de
legislar. Este rgo pode ser um homem s, uma comisso, uma cmara ou
muitas cmaras. Mas verdade que, sob a influncia do movimento
constitucionalista, nos estados modernos o rgo legislativo geralmente
colegiado.
Indagase, ento, se deve comporse de uma s cmara, sistema
unicameral,ouduas,sistemabicameral.
O problema poltico, pois em nada compromete a sabedoria e a
legitimidade de uma lei ser elaborada por uma s cmara. E o processo de
elaborao legislativa unicameral to democrtico quanto o bicameral. No
entanto, os legislativos bicamerais so numerosos. No Brasil, o Congresso
divididoemduascmaras:aCmaradosDeputadoseoSenadoFederal.
Os que defendem o bicameralismo alegam, principalmente, que o
Congresso deveter uma composio heterognea. Uma das cmaras deve ser
conservadora e aoutra renovadora. Esta diversidade dendolesobtmse,em
princpio, por duas providncias. Para o ingresso na cmara que se pretende
mais atuante e mais renovadora, o limite mnimo de idade menor do que
para a outra que se pretende mais conservadora. E o mandato dos membros
destacostumaterduraomaior,fazendoserenovaodeseuselementosem
parcelas, quartos, teros, etc., de modo que sua composio se altera
lentamente.
No Brasil, acmararenovadora a dos Deputados e aconservadora,o
Senado.
A tese do bicameralismo tem grande reforo nos Estados federais, que
so grupos de estados numa Unio. Neles prevalece o princpio da isonomia
dos estados federados. Assim como, no plano internacional, os Estados
soberanosdevemterigualdadepoltica,noplanofederal,osEstadosmembros
ou federados devem ter a mesma condio. No entanto, uma federao um
conjunto de estados diferentes demograficamente. Como o nmero de
representantes varia de acordo com a populao, alguns estados tm mais
numerosa representao do que outros. Para compensar essa desigualdade,
dividese o Congresso em duas cmaras e numa delas a representao dos
Estadosmembrosparitria.
NoBrasilarepresentaoparaaCmaradosDeputadosproporcional
aoeleitorado,enquantoqueparaoSenadoparitria,isto,todososestados,
qualquersejaasuapopulaoeoseucorpoeleitoral,tmomesmonmerode
representantes.
5.4.3.2Fasesdeelaborao
Cinco so as fases de elaborao das leis: iniciativa, discusso
(poderamosacrescentaravotao,masestaapenasconclusodadiscusso),
sano,promulgaoepublicao.
Consideraremos a elaborao em termos tericos, mas ela variar se o
Legislativo for unicameral ou bicameral. Presumimos um colegiado
legislativoeumtitularindividualdoPoderExecutivo.
A iniciativa a fase inaugural do processo legislativo. No esquema
configurado, pode provir de qualquer membro do Legislativo ou do Poder
Executivo. usual as constituies conferirem ao Executivo a iniciativa
exclusivadecertosprojetosdeleieexigiremqueela,nocolegiadolegislativo,
no seja individual, sim de um grupo de representantes. s vezes tambm
permitidaargosnoestatais.
Aps, iniciase a discusso, que pode ser feita num s turno, ou em
vrios, dependendo isso da Constituio ou do regimento do colegiado. A
discussoterminapelavotao,porviadaqualsemanifestaoplenriocontra
ou a favor do projeto. A votao encerrase por maioria simples ou maioria
qualificada. NanossaConstituioatual,umaleiordinriapodeseraprovada
por maioria simples, mas uma lei complementar s por maioria absoluta, ou
seja,ametademaisumdosmembrosdoCongresso.
Seavotaoconcluipelaaprovaodoprojeto,eleenviadoaotitular
do Poder Executivo, que tem dupla opo: aquiescer a ele, ou recuslo. A
aquiescnciaasano,atopeloqual,participandodaelaboraolegislativa,
o titular do Executivo d a sua aprovao ao projeto. A sano pode ser
expressa quando se manifestapor despacho dochefe doExecutivo,outcita,
quando este se omite, deixando que se esgote o prazo constitucional, sem
deciso.
No mesmo perodo pode o titular do Poder Executivo oporse ao
projeto. A oposio o veto, que pode ser parcial ou total. Parcial, quando
atingeapenascertosdispositivostotal,quandoabrangetodos.
Um projeto vetado retorna ao Legislativo, que tem a faculdade de
aceitar ou rejeitar o veto. Se aceita, est findo o processo legislativo. Se
recusa,oqueemregraspodeocorrerpormaioriaqualificada,oprojetovolta
aotitulardafunoexecutivaparapromulglo.
Apromulgaosucede sano ou recusado veto.o atopeloqual
seafirmasolenementeaexistnciadalei. Noh,portanto,contradioentre
otitulardafunoexecutivavetaroprojetoporquediscordavadele,e,depois,
confirmadoquefoipeloLegislativo,promulglopordeverconstitucional.
Pode,porm,otitulardoPoderExecutivo,quevetouoprojeto,recusar
se a promulglo. Ento, cabe a promulgao presidncia do colegiado
legislativo.
Emseguida,aleipublicada.
A publicao hoje feita pela imprensa, rgo por excelncia de
divulgao. Tambm pode ocorrer por outros meios: editais, avisos e at
leituraempraapblica.
Qualquer que seja o meio adotado, somente depois de publicada que
setornaobrigatria,ou,poroutraspalavras,entraemvigor.
5.4.3.3Nomenclatura
As leis, como normas jurdicas, so classificadas consoante a
nomenclaturageral.
Quando estudamos a norma jurdica, consideramos sua classificao
quanto ao sistema, mbito de validade, matria, sano, relaes de
complementao e posio em relao vontade individual. Esses critrios
sogenricosparatodasasnormasjurdicas.
As leis, quanto ao sistema a que pertencem, podem ser nacionais e
estrangeirasquantoaoseumbitodevalidadeespacial,geraiseespeciais(no
Brasil: federais, estaduais e municipais) quanto ao mbito de validade
temporal,de vignciadeterminadae indeterminadaquantoaoseu mbito de
validade pessoal, gerais e individualizadas quanto sua matria,
constitucionais, administrativas, processuais, penais, trabalhistas, civis,
comerciaisetc.quantosano,perfeitas,menosqueperfeitaseimperfeitas
quantosrelaes decomplementao,primriasesecundriasquantosua
posioemrelaovontadedaspartes,absolutasepermissivas.
Tambm, como j vimos, podem ser materiais e formais, conforme
tenhamounoopredicadodageneralidade.
Classificamse, ainda, em substantivas e adjetivas. Substantivas so as
que conferem direitos ou impem deveres. Adjetivas, as que dispem sobre
como os direitos se exercem e os deveres se exigem. So as chamadas leis
processuais,indicamaotitulardeumdireitoorespectivoprocedimento.
A Constituio, por exemplo, declara: darse habeascorpus sempre
que algum estiver sofrendo ou ameaado de sofrer injusto constrangimento
nasualiberdadedelocomoo.Estanormaprotegeodireitoliberdadedeir
evir,easseguraao indivduoafaculdadedeimpetrarhabeascorpus.Deque
valeria, porm, essa regra constitucional, se a pessoa molestada injustamente
na sua liberdade no soubesse como atuar para defender o seu direito? lei
processual criminal cabe dispor sobre o processo de habeascorpus, suas
formalidades, as autoridades competentes para conhecerem do pedido, os
recursosadmitidosdadecisoconcessivaoudenegatria,osprazos,etc.Essas
normasnodoodireitoahabeascorpus,masdizemcomoobtlo.
Quanto sua aplicao, as leis podem ser: autoaplicveis e
dependentes de complementao. As primeiras, que constituem regra geral,
apresentam os requisitos necessrios para sua vigncia imediata. As outras
tm a sua vigncia a depender da edio de normas que as complementam,
seusregulamentos.
Soboutrocritrio,quenoimportaclassificao,soelucidadososdois
sentidos do vocbulo lei:sentido latoerestrito. Emsentido lato, lei significa
toda norma escrita em restrito, somente a norma elaborada pelo Poder
Legislativo. No primeiro, lei a Constituio, a lei propriamente dita (a
elaboradapeloPoder Legislativo),oregulamento,qualqueratonormativo
da Administrao. Em sentido restrito, apenas a lei ordinria, isto ,
formuladapeloPoderLegislativonolimitedasuacompetncia.
5.4.3.4Leidelegadaedecretolei
H modalidades de lei que discrepam do seu conceito clssico: a lei
delegadaeodecretolei,masnopodemosdizerquesejamformasexticasde
legislao, dada a tendncia atual de ampliar a competncia legisferante do
PoderExecutivo.
A lei delegada elaborada pelo Poder Executivo, por outorga
legislativa. A faculdade do Legislativo, mas este a transfere ao Executivo,
quedelasomentepodedispornolimiteexatodarespectivadelegao.
No Brasil, algumas leis delegadas integram o ordenamento jurdico,
principalmenteasleissobreeconomiapopular.Aotempodesuapromulgao
o regime era parlamentar, e no parlamentarismo que tm mais cabimento,
porque quem exerce o governo o Gabinete, rgo de confiana do Poder
Legislativo, de modo que h entrosamento entre as funes legislativas e
executiva.
Decretolei a forma que assume a legislao elaborada pelo Poder
Executivo. Sua natureza mista. Lei, porque dispe sobre matria de
competncialegislativaetemgeneralidade,oatributomaterialdaleidecreto,
porqueatodoPoderExecutivo.Porisso,dizJosCretellaJr.,queodecreto
leisubstancialmenteatodelegislaoeformalmenteatoadministrativo.
O decretolei pode ser modalidade extraordinria ou ordinria de
legislao. extraordinria quando utilizada em momentos de crise
institucional. No Brasil,a legislaoatual,nasua maiorparte, dedecretos
lei, promulgada em face da ruptura na ordem jurdica constitucional. A
legislao por decretoslei nem sempre corresponde a momentos de
anormalidade constitucional. H regimes em que faz parte da prpria ordem
institucionalregular.
5.4.4Costume
Ocostumejurdicoumainstituioque,pelafluidezdeseucontedoe
indeterminao do seu contorno, difcil de ser conceituada, ainda mais
porquehcostumesnojurdicos,assimosconvencionalismos.
A distino do costume jurdico do que no o est num elemento de
convico. Em relao ao jurdico, h conscincia da sua obrigatoriedade, j
quantoaonojurdico,conscinciadasuafacultatividade.Auniformidadeda
conduta continuada e duradoura, esclarece Savigny, revela como sua raiz
comum,poroposioaomeroacaso,aconvicodopovo.
Os autoresdefinem o costume como normaconstantenoescrita obrigatria,
sdiversadaleinoaspectoformal.Aleiescrita,ocostume,no.Tambma
leiintencionalmenteelaboradaocostumeformaseespontaneamente.
Vistosnasuaobjetividade,semexamedoselementosdasuamotivao,
leiecostumesoiguais.
Oqueidentificaocostumeaconvicocoletivadasuavalidade.Dir
seia que, quando um costume se integra normatividade de um grupo,
impondose obrigatoriamente, acatado sem que os interessados saibam que
se trata de umcostume, comotambm, muitas vezes, seguimos uma lei,sem
saberrealmentesehregraescrita.Essainconscinciadacondiocostumeira
da regra, nos estados em que o Direito Positivo preponderantemente
legislado,amaispositivacaractersticadocostumejurdico.
5.4.4.1Elementos
Doutrinariamente,distinguemseoselementosdocostumeeminternoe
externo.Diviso,alis,artificial,porqueelessoinseparveis.
Ointernooquesechama,desdeodireitoromano,opinionecessitatis,
exatamenteaconscinciadanecessidadedocostume,seuelementosubjetivo,
aconscinciadequeeleexiste,comoregravlidaseguidainvariavelmente.
Oexternoouso,acondutahumanaque,pelofatodeacompanharum
certopadro,evidenciaasuaexistnciaelheservedeprova.
5.4.4.2Diviso
Os costumes, comparados com as leis, podem ser secundum legem, ou
seja, de acordo com a lei praeter legem, paralelos lei e contra legem,
contrrioslei.
O costume secundum legem complementa a lei. Uma situao objeto
de disposio legal, e acrescentaselhe o costume. Tem este carter
interpretativoouregulamentador.Acrescentaselei,nomesmosentido,para
tornla mais flexvel, de aplicao mais fcil, ou de casustica mais
minuciosa.
O praeter legem o costume tpico, como fonte mediata de direito.
Quandonohnormalegalpararegercertasituao,osprpriosinteressados
avocriando.
Ocostumecontralegemcontradizalei.Aleiencerracertaprescrio,e
ocostume desenvolvesecontrariamente aela. grandeonmero de autores
que afirmam no ser aplicvel o costume contra a lei. De fato, havendo lei e
costume,ojuizobrigadoaaplicaralei,noeste.Ocostumecontraaleiatua
como fator de revogao desta, porque somente surge, e isto bvio quando
elainadequadaemcertamatria.
pequena a atuao do costume no direito moderno, no qual
exacerbada a importncia da lei como fonte de direito, at mesmo porque as
necessidades da vida contempornea reclamam padres ntidos de
procedimentos,eessanitidezspodeseralcanadanostextosescritos.
Adespeitodisso,ocostumeatuacomocorretivodas leisquedivergem
dosreaisinteresseshumanos.
Ainda tem relativa influncia no Direito Comercial, o que se explica
porqueasnormasmercantisforamdeorigempopular.AocontrriodoDireito
Civil, obra da sabedoria romana, o Comercial foi fruto da atividade dos
comerciantes, pois,comodiz Edmond Thaller,citadopor AlfredCostFloret,
foi do uso que ele saiu. A par disso, a vida comercial se caracteriza pela
celeridade das suas transformaes, que correm ao mesmo passo em que se
dinamizam os meios de transporte e de comunicao. A lei, de elaborao
vagarosa, nem sempre acompanha as suas necessidades. Sendo estas
prementes, os interessados do a frmula para resolver a disparidade entre o
desenvolvimentodassituaeseodalegislaocorrespondente.
TambmsubsistemnoDireitoInternacionalPblicomuitasnormasque
no constam de textos, e sua observncia se apoia na autoridade dos
precedentes.
5.4.5Jurisprudncia
Como fonte do Direito, jurisprudncia o conjunto das decises
reiteradasdejuizesetribunais,revelandoomesmoentendimento,orientando
sepelomesmocritrioeconcluindodomesmomodo.
A importncia da reiterao tornase assinalada quando se refere a
temas polmicos. Uma lei, ao ser empregada, pode ensejar multiplicidade de
entendimentos. Juizes e tribunais divergem. Com a marcha do tempo e pela
influncianaturalqueostribunaisdenvelsuperiorexercemsobreosdenvel
inferioretambmpeladepuraodoutrinriapelaqualamatriavaipassando,
as solues discordantes tendem ase aproximar,atquetodas coincidem. Se
temos umadvidae ignoramosa maneira acertada de solvla, mas sabemos
que os tribunais mais categorizados tm sobre o assunto compreenso
invarivel, as suas decises podem ser obedecidas como normas. Jean Cruet
registra que, quando sobre um ponto de direito existe uma jurisprudncia
constanteeuniforme,elaacabaporadquiriruma fixidezquase comparvel
dalei,passandoodireitodojuizaserumverdadeirodireitoescrito,respeitado
apontodeos advogados,paraganharemsuasquestes,seabsteremdeatac
lo de frente, preferindo mais habilmente iludilo, alegando que no se aplica
aosfatosdacausasobseupatrocnio.
No se deduza da, porm, seja este o maior mrito da jurisprudncia,
como processo de criao do direito. Antes ao contrrio,comoadvertePedro
BatistaMartins,dasuaadaptabilidadeedasuamaleabilidadequeresultasua
maior importncia, podendose afirmar, sem receio de contestao, que a
jurisprudncia tem sido, nos ltimos tempos, a precursora das mais
importantesreformaslegislativas.
5.4.5.1Unificao
Se cada juiz entendesse a seu belprazer, cada tribunal decidisse da
maneira peculiar, jamais a jurisprudncia poderia constituir fonte de direito,
porque as soluesjurdicasdevem serobjetivas, uma vez quedesseatributo
resultaacertezacomquenosnorteiam.
Porisso,grandeautilidadedosprocessosqueconduzemunificao
dajurisprudncia. Somentesendouniforme,constante,pacfica,ser,almde
fatordeseguranasocial,autnticafontedeparadigmasjurdicos.
Os processos que buscam essa finalidade so diversos, grupados em
duasclasses.
5.4.5.1.1Jurisprudncianormativa
H sistemas jurdicos que admitem jurisprudncia normativa. As
decises de certos tribunais so obrigatrias para os tribunais e juizes de
categoria inferior. Assim, elas atuam como normas a que estes esto
obrigados. Se um problema jurdico suscita controvrsia, existindo rgo
judicialautorizadoparaeditarnormasgerais, eleo abordaeformula critrios
para resolvlo, passando estes a ter fora de lei. O tribunal superior julga o
conflitoindividualeelaborapreceitosgeraissobreamatria.
Nos Estadosemquergidaaseparaodospoderespolticos,embora
essa rigidez no caracterizasse o modelo originrio ingls, segundo a
observao de Begehot, citado por Augusto Olmpio Viveiros de Castro
(18671927), a jurisprudncia normativa atenta contra esse princpio. A
separao dos poderes impe que normas gerais sejam promulgadas pelo
Legislativo, cabendo ao Judicirio a sua aplicao aos casos concretos. Por
isso, suas decises s so aplicveis s pessoas diretamente empenhadas no
litgio.
5.4.5.1.2Unificaorecursal
Mais generalizadassoas frmulas, diversas de umpara outrosistema
jurdico, de unificao por via de recursos. Recurso o ato processual pelo
qual a deciso de um juiz ou tribunal submetida a outro de categoria
superior, competente para anulla ou reformla. Graas a essa tcnica, as
decises judicirias, diferentes na sua periferia, podem ser levadas
unificao no seu centro. E essa uma das tarefas que os recursos
desempenham com eficincia, como observa Joo Claudino de Oliveira e
Cruz.
Afora os recursos genricos, que atuam neste sentido, h especficos
pretendendoomesmoresultado:odecassao,oderevistaeoextraordinrio.
5.4.5.1.2.1Recursodecassao
Orecursodecassaopermitequesejatornadasemefeitoumadeciso
deumtribunaloudeumjuizportribunalsuperiorqueconsideredefeituosaa
aplicao da lei. O tribunal superior, decidindo segundo um certo critrio,
cassando decises dele divergentes, uniformiza as de rgos jurisdicionais
inferiores. Ao cassar uma deciso contrria ao seu entendimento, o tribunal
remeteofeitoparargoinferiordo mesmonvel,queirresolverdeacordo
com a compreenso do rgo jurisdicional superior, ou, ento, ele mesmo
reformaadeciso,conformearegrajurdicapositiva.
5.4.5.1.2.2Recursoderevista
O recurso de revista resulta da necessidade fundada no fato de os
tribunais dividiremse em turmas ou cmaras. Por exemplo, um tribunal de
dezoito membrospodeformarseiscmaras outurmasdetrs. Umrecurso da
instncia inferior no julgado pelo tribunal em conjunto, mas por uma das
cmaras.Comessaprovidnciaotribunalincrementaasuaprodutividade.
Dividido o colegiado, surge a possibilidade de discrdia das vrias
cmaras em relao mesma matria. Se j chocante a divergncia
jurisprudencial entre rgos distintos, mais o dentro do mesmo tribunal,
situaoque, na observaode Bilac Pinto (1908)e C. A. Lcio Bittencourt,
lana a perplexidade no foro, gerando o desapontamento e a censura dos
pleiteantes.
Para evitar a perpetuao desse estado intolervel, as decises
conflitantes so levadas a um conjunto de turmas, ou ao plenrio do tribunal
(matria regimental), para que a maioria tome a deliberao que venha a
preponderarnosfuturosjulgamentos.
O novo Cdigo de Processo Civil brasileiro suprime o recurso de
revista,eofaz poradotarmedidaquefuncionacomoperfeitoemais prtico
sucedneodele.
Assim,atribuiaqualquerjuiz,aoproferirseuvoto,naturma,cmaraou
grupo de cmaras, a faculdade de solicitar o pronunciamento prvio do
tribunalacercadainterpretaododireito,quando:
a) verificarqueaseurespeitoocorredivergncia
b) nojulgamentorecorridoainterpretaotiversidodiversadaquelhe
hajadadooutraturma,cmara,ougrupodecmaras.
Independentemente da iniciativa do juiz, a prpria parte no feito
tambmpoderrequererque,antesdejulgadoorecurso,sejaadotadaidntica
providncia.
Reconhecida a divergncia, o tribunal dar a interpretao a ser
observada. O julgamento assim adotado, quando aprovado pela maioria
absoluta dos membros do tribunal, ser objeto de smula e constituir
precedentenauniformizaodajurisprudncia.
5.4.5.1.2.3.Recursoespecial
O recurso especial tpico dos Estados federais, nos quais h duas
legislaes:federaleestadual. AfederalaplicadapelajurisdiodoEstado,
em decises definitivas, mesmo onde existe justia federal para decidir os
feitos nos quaishajainteressediretoouindireto da Unio. Mas, por exceo,
excepcionalmente, suas decises finais so passveis de um recurso que se
chama especial, por via do qual so apreciadas por um rgo mais alto da
jurisdio federal (no Brasil, o Tribunal de Justia), desde que se prove
desacordo entre decises da justia de um Estado e de outro, ou entre as da
justiadeumEstadoedoSupremoTribunal,naaplicaodaleifederal.
Dessa maneira, nos Estados federais, a cpula do Poder Judicirio
exerceafaculdadedeuniformizarajurisprudncia.
5.4.5.2Prejulgado
H um expediente sui generis para a unificao da jurisprudncia, que
no se confunde com a jurisprudncia normativa, nem com a uniformizao
recursal. o prejulgado, que apresenta similitude com a primeira, porque
formulado in abstrato, e,coma Segunda, porque s cabvel quando ocorre
problemaconcreto.
Suscitadacertaquesto,emrecurso,verificasequeelapodeensejarou
j ensejou maneiras diversas de apreciao. H, assim, diversidade
jurisprudencial real ou possvel dentro do mesmo tribunal. Para prevenir ou
sanar divergncia, o colegiado a prejulga, isto , julga em sentido geral,
eliminando previamente a dvida. O prejulgado formulado antes do
julgamentodorecurso,emrelaoaumcasoconcretoeaosfuturosidnticos,
e impede a jurisprudncia discordante no mesmo tribunal. Os seus
pressupostos so: existncia de uma deciso anterior de cmara ou turma
existnciadeumfeitoemjulgamentodivergnciaentreadecisoanteriorea
quepodesertomadapelacmaraouturmajulgadora.
Conforme a regra de Direito Positivo, o prejulgado pode ter maior ou
menor eficcia, como recurso tcnico destinado a uniformizar a
jurisprudncia.
Assim, por exemplo, no Direito brasileiro, os seus efeitos so mais
amplos no mbito do Direito do Trabalho do que na processualstica civil.
Nesta,opronunciamentoprviotemporobjetivouniformizarajurisprudncia
deumdadotribunale,assim,preveniraproliferaoderecursosderevista.O
prejulgado trabalhista, at a anterior Constituio, obrigava as instncias
inferiores,isto,tinhaforavinculativa,estabeleciaumaregradedireitogeral
comamesmaforaimpositivadequedesfrutaumdispositivolegal.
5.4.6Doutrina
Altimafontemediatasoosprincpiosgeraisdodireito,cujanatureza
doutrinria e corresponde, segundo Paulino Jacques, ao complexo de
princpiosqueembasamossistemasjurdicos.
Quando a lei e o costume, mesmo interpretados, no forneam
disposioadequadaaumasituao,nemaestasepossaaplicarpreceitolegal
ou costumeiro por analogia, se tambm inexiste regra jurisprudencial,
configuraseahiptesedeconsultaaosprincpiosgeraisdodireito.
Estes princpios no podem ser abstrata e arbitrariamente formulados,
segundoconsideraessubjetivasouprefernciastericaspessoais.
Diversaadoutrinaquantodeterminaodoseucontedo.
Perante a letra do artigo 7 do Cdigo Civil austraco, so eles os
prprios princpios do direito natural, entendimento que teve o patrocnio de
Antonio Brunetti, e mais recentemente o vigoroso reforo da opinio de Del
Vecchio.
Francesco Invrea considera os princpios gerais do direito anteriores
legislao positiva, formando o que denomina direito fundamental, que
abrange duas partes: o direito fundamental natural e o cultural. O primeiro
correspondesprpriasexignciasdanaturezaracionalesocialdohomem.O
segundo o conjunto de normas reconhecidas de um modo geral, pelos
juristas,numacertaetapadacivilizao.
Para Meyer, os princpios gerais do direito so, principalmente, as
normas de uma cultura. E para Schmolder eles correspondem noo de
equidade.
Para Francesco Saverio Bianchi, os princpios gerais so aqueles
admitidospeladoutrina.
opinio de Bianchi adere Giovanni Pacchioni (18671946), que
nitidamente separou os princpios gerais da legislao dos mais gerais
princpios do direito, observando que nem sempre bastam aqueles para
resolvertodasascontrovrsias.Pelasuatese,aoinvocarumprincpiogeralde
direito,deveojuizprocuraraquelequetenhaamparodajurisprudnciaouque
doselementosdestapossaserinferido.
Limongi Frana grupa os autores que tm versado o tema em cinco
correntes:
a) correnteromanista,queconsideracomoprincpiosgeraisdedireitoaqueles
encontradosnalegislaodeJustiniano(483565)
b) corrente do positivismo estrito, para a qual se resumem s mximas que
dominamoDireitoPositivoemvigor
c) corrente positivista lata, segundo a qual tais princpios deveriam ser
buscados nas linhas gerais de todo o ordenamento jurdicopoltico do
Estado
d) corrente cientfica estrita, cujos autores acrescentam aos elementos da
precedenteosdadosministradospeloDireitoCientfico
e) correntecientficapropriamentedita,quereconhececomoprincpiosgerais
do Direito, alm dos admitidos pela anterior, tambm os princpios do
Direito Natural, em sentido amplo, isto , as mximas que decorrem da
naturezadascoisasedasnecessidadessociais.
DebatesetambmseessesprincpiossoapenasosdoDireitoNacional
outambmosdoDireitoUniversal.
Adotam a primeira orientao A. Demante, Franois Laurent (1810
1887)eJosephUnger.
Parece claro, todavia, que a simples hiptese de ser possvel uma
situaonoprevistanodireitonacionalexcluipossaeledelimitaroconceito
dos princpios gerais. Por outro lado, por serem estes a ltima fonte mediata
do Direito, no podem padecer de qualquer limitao. Devese observar,
porm, que o apelo aos princpios do Direito Universal s pode ser feito
depoisdeexauridososprincpiosdoNacional.
necessrio sempre ressaltar que a consulta aos princpios gerais de
direitodevesefazergradualmente,procurandose,emprimeirolugar,osmais
prximos, e somente ao termo os mais remotos. A este respeito ensina
Eduardo Espnola Filho: tais princpios, embora hauridos, sempre, na fonte
maisprofundadanaturezadascoisas,podem,maisdiretaeimediatamente,ser
inferidos, por um lado, do esprito e das idias fundamentais das leis e
costumes, que formam o sistema jurdico do prprio pas, e, pelo outro lado,
ser achados com o recurso aos trabalhos tericos dos sbios e a anlise das
circunstncias histricas, os quais uns e outros influram sobre a prpria
legislaoecontinuamadesenvolversecomoestudoeaaplicaodasleise
com os ensinamentos da legislao comparada. Em outras palavras, esses
princpiospodemformarsenarelaocomoconjuntodeleisecostumes,que
constituem o Direito Positivo do pas, e na conformidade do esprito que o
domina, e podem estenderse aos resultados mais gerais do estudo da
jurisprudncia, da cincia jurdica e da legislao comparada. A orientao
razoveleeficazestemdirigirseoaplicador,primeiramente,aos princpios
gerais do Direito Nacional, e somente quando no lhe ofeream eles a
contribuiopedida,recorreraosprincpiosdodireitouniversal.
SegundoVicenteRo(18921978),aoconsultarosprincpiosgeraisdo
Direito o grau de generalizao deve ser progressivo, iniciandose sobre o
sistema jurdico positivo da legislao de que se trate, prosseguindo pelo
exame das leis cientficas do Direito e concluindo por alcanar a esfera da
filosofia jurdica,quenos ensinaos princpios fundamentais,os maisamplos,
inspiradores de todos os ramos da cincia do Direito e constitutivos da
unidadedoconhecimentojurdico.
5.4.7Concluso
As fontes de direito foram por ns citadas de maneira que sua
enumerao correspondesse aos nveis sucessivos do processo de integrao
doqualcuidaremosnapartederradeiradestetrabalho.
Fugindo contenda sobre se algumas delas so realmente fontes, no
podemos, todavia, deixar de assinalar que, mesmo sem aprofundada
indagao, observase no terem todas a mesma natureza, sendo artificial a
suaseriao.Ocostume,porexemplo,fontedeverdadeirasregrasjurdicas,
cujaformaointeiramenteautnoma.
A jurisprudncia , em certo sentido, fonte autntica, enquanto
repositrio de paradigmas jurdicos. Mas indiscutvel que ela se forma, em
grandeparte,pelaassimilaodeelementosdoutrinriosesedebrua sobrea
leieocostume.
A doutrina, finalmente, , na sua maior parte, elaborao terica sobre
outras fontes, tal como a jurisprudncia, embora constitua indiscutvel fonte
formadoraemfacedasinstituiesnascentes.
Emconcluso,teoricamenteexaminadaamatria,apenas leiecostume
estonomesmoplanojurisprudnciaedoutrinasofonteseatividades.
5.5DIREITOSUBJETIVO
As noes de dever e de direito so correlatas, resultado da
bilateralidadedaregrajurdica.
O dever a relao jurdica mirada de um foco o direito, a mesma
relao vista de outro foco. E ambos se reportam norma. Temos, portanto,
umtrinmio,trsplosdamesmarealidade,queseentrelaamparaconstituir
uma situao ntegra, cujos elementos apenas por abstrao podemos
distinguir.Sporabstraopodemosconsideraranorma,fazendoomissodo
direito e do dever. S por abstrao podemos considerar o direito, fazendo
omissodanormaedodever.Esporabstraopodemosconsiderarodever,
fazendoomissodanormaedodireito.
A noo de direito subjetivo das mais antigas na teoria do Direito,
embora o ensinamento tradicional no corresponda mais ao que se tem por
certo no assunto. Tratase de uma distino j feita no direito romano.
Referiamseosjuristasromanosaojusnormaagendieaojusfacultasagendi,
o direito com o norma de agir e o direito como faculdade de agir. O direito
comonormadireitoobjetivocomofaculdade,direitosubjetivo.
Numcontextojurdicorealencontramosnormasquesoasuatessitura,
e relaes, estabelecidas entre os indivduos, nas quais existem direitos e
deveresdepessoaparapessoa.
Assim,aapalavradireitopodeserempregadaemdoissentidos.Separa
identificar um ordenamento jurdico, as suas regras, usamola em sentido
objetivo.Separareferirafaculdadequetemalgumdeagiroudeixardeagir,
utilizamolaemsentidosubjetivo.
Dizendo que o direito penal brasileiro tolerante, o vocbulo direito
tem sentido objetivo, porque referido a normas jurdicas tambm se
afirmamos que entre o direito ingls e o continental existem assinaladas
distines, ainda o vocbulo tem sentido objetivo, por significar dois
ordenamentos jurdicos: o insular e ocontinental. Se digo, porm,que, como
credor, me assiste o direito de exigir do devedor que pague a dvida, isto ,
quetenhoafaculdade,queexercereioudeixareideexercer,ameuarbtrio,de
exigir dele o pagamento, ento a palavra direito encerra sentido subjetivo.
Como proprietrio, proclamando o meu direito de obter de todos que
respeitemoexercciomansodos meuspoderessobreobemapropriado,estou
empregandoovocbulodireitoigualmenteemsentidosubjetivo.
Da decorre a noo de que direito objetivo e direito subjetivo so
realidades distintas, ou seja, que o direito objetivo tem uma natureza e o
subjetivo, outra. Esta lio clssica est sendo atualmente revista. No
podemos compreender direito subjetivo, faculdade, que no repouse numa
norma, isto , no direito objetivo nem direito objetivo do qual no resultem
direitossubjetivos,isto,faculdades.
5.5.1Manifestaes
Conquantoodireitosubjetivosejasomenteesempreumafaculdadedo
sujeito,eleseapresentadebaixodemanifestaesdiferentes.
At recentemente, apontvamos trs. Hoje, a pesquisa cientfica
evidenciouaexistnciademaisuma,ochamadopoderdeinordinao.
Em primeiro lugar, o direito subjetivo revelase como corolrio da
liberdade jurdica. Toda ordem jurdica traa um setor dentro do qual a
conduta do indivduo tutelada por normas, e outro em que est livre da
incidncia delas, reservado sua liberdade. Neste segundo est a liberdade
jurdica, que um bem protegido. A Constituio o define, quando diz que
ningumobrigadoafazeroudeixardefazeralgumacoisasenoemvirtude
da lei. Algum pretendendo impor a uma pessoa certo comportamento ou
limitar a sua autonomia em rea no coberta pelo ordenamento jurdico,
afrontaodireitosubjetivodestaliberdadejurdica.
Odireitosubjetivotambmseapresentasoboutramanifestao,alis,a
maistpicaeaquemelhorseprestaparaoseuentendimentodidtico.Tratase
dequandoentreduaspessoasseestabeleceumarelaoquedaumadelasa
faculdadedeexigirdaoutraaprticaouaabstenodeumato.Apessoaque
temafaculdadedeexigirtitulardeumdireitosubjetivoaoutratitularde
um dever jurdico. No direito de famlia, por exemplo, os pais tm direitos a
exigir dos filhos e viceversa, os cnjuges tm direitos recprocos. No vasto
campododireitodoscontratosproliferamasrelaesjurdicasdessetipo.
A terceira manifestao do direito subjetivo dse quando ele se
apresenta como poder de criao e de extino de relaes jurdicas.
Exemplo: a faculdade de testar, pela qual podemos dispor, segundo as
circunstncias, total ou parcialmente, de nosso patrimnio para depois da
morte. O testador, por simples ato de vontade, cria uma situao jurdica. O
poderdecriarimportaodeextinguir,quelhecorrelato.
Osdireitosformativosgrupamseemtrsclasses:
a) direitosgeradores,comoodetestar,odepreferncia
b) direitosmodificadores,comoodeescolhaentreobrigaesalternativas,
odeconstituiremmora
c) direitos extintivos, como o de denunciar contrato, o de requerer
divrcio.
Odireitosubjetivotambmpodeconsistir nafaculdadedeinordinao,
que aquela que tem a pessoa, obrigada por um dever, de exigir das demais
quenocriemembaraoaoseucumprimento.
Ospaistm obrigaesparacomosfilhos. Ningumpodeturblosno
exerccio desses deveres. Se algum deve certa importncia, e o credor se
recusa a recebla, cabe ao devedor uma soluo: forlo, judicialmente, a
recebla. O direito subjetivo , no caso, a faculdade de prestar o prprio
dever.
5.5.2Teorias
Citaremosquatroteorias:adavontade,deBernhardWindscheid(1817
1892),adointeresse,deRudolfvonJhering(18181892),amista,deJellinek,
eanormativa,deKelsen.
Distribuemse em dois grupos de distinta filiao filosfica. As trs
primeirasadavontade,adointeresseeamistaestoligadastesedeque
o direito subjetivo tem natureza prpria, diferente da do direito objetivo, da
qualdiscrepaaltima.
5.5.2.1Teoriadavontade
ParaWindscheid,a vontade individual aessncia eofundamentodo
direitosubjetivo.
AtesedeWindscheiddesfrutoudelargapopularidade,masacrticaque
selhepodefazermostraasuainsustentabilidade.
Hdireitosubjetivosemvontadeevontadesemdireitosubjetivo.Como
decorrnciadessefato,aessnciadodireitosubjetivonopodeseravontade
individual.Porexemplo:osincapazessoprivadosdevontade,noentantotm
direitos subjetivos. O menor e o alienado, embora incapazes, podem ter
direitos,protegidos pela pessoaqual a ordemjurdica confere oencargode
zelar por eles. Em tais circunstncias, no h vontade, mas existe direito
subjetivo. Viceversa, a vontade pode se afirmar exuberantemente e no
produzir efeito. Algum, pretendendo legar bem de sua propriedade,
inutilmente proclamar sua inteno, mesmo fruto da mais firme vontade, se
nohouversidoconsumadooatojurdicoformal,queotestamento.
5.5.2.2Teoriadointeresse
A teoria de Jhering sustenta que a essncia do direito subjetivo o
interesse. Da a definio: o direito subjetivo o interesse protegido pela
norma.Constituemnodoiselementos:umessencialeumformal.Oessencial
o interesse e o formal a ao, recurso que a ordem jurdica coloca
disposiodotitulardodireitopararesguardodoseuinteresse.
CriticaseatesedeJheringasuainsuficinciaparaexplicararealidade
de direitos subjetivos quando no h interesse. Exemplificando: quando uma
pessoa sumamente rica empresta uma importncia nfima para outra
sumamente pobre, parece claro que no tem interesse algum em receber a
quantia mutuada. Mas o seu desinteresse no far desaparecer o direito
subjetivo.
5.5.2.3Teoriasmistas
Pararesponderscrticasfeitassteorias da vontadeedointeresse,as
teorias mistas procuraram fazer uma sntese das precedentes, reunindo no
direitosubjetivooselementosdeambas.
Jellinek conceitua o direito subjetivo como manifestao de vontade
tendo por objeto um interesse. Aliando as noes de interesse e vontade,
pretendia enfrentaras crticas que se faziam a cada uma delas, isoladamente.
Masclaroqueoserrosdasduasacompanhamaterceira,poisatodassepode
objetar que partem da errnea suposio de que o direito subjetivo uma
realidadeemsi,intrinsecamenteprpria,distintadadodireitoobjetivo.
5.5.2.4Teorianormativa
Contrasta com essa orientao a teoria normativa moderna de Kelsen,
contestando a existncia da dicotomia direito subjetivo e direito objetivo, e
vendonaqueleapenasosegundofocadodeumcertopontodevista.
A norma jurdica se formula sob o seguinte enunciado: dada a no
prestao, deve ser a sano (norma primria). O indivduo, para fugir
incidncia da sano, procede de maneira oposta (obediente norma
secundria), prestando o dever jurdico. A outra face do dever jurdico o
direito subjetivo. Portanto, o dever jurdico emerge de norma secundria,
como procedimento que previne a incidncia da norma primria, e se reflete
emoutradireo,adedireitosubjetivo.
Dever e direito no so mais do que fenmenos de subjetivao das
normas.Originamsedanormareferidaapessoasindividualizadas,aumadas
quaisconfereumdevere,outra,umdireito.
Seria,assim,pleonsticaaexpressodireitosubjetivo,vistoqueeleno
passa de uma certa maneira peculiar de atuao do direito objetivo. Estar
facultado a uma conduta significa no estar obrigado oposta. A noo de
direitosubjetivonoautnoma,senooreverso dadedever.Ecorresponde
situao em que a norma jurdica faz depender a execuo do ato coativo
(exigncia do dever) de uma manifestao de vontade, qual chamamos de
direitosubjetivo,oufaculdade.
A faculdade apenas uma estrutura possvel, uma tcnica especial de
que o direito se serve, mas da qual no tem irremovvel necessidade. , na
expresso literal de Kelsen, a tcnica especfica da ordemjurdicacapitalista,
construda sobre a instituio da propriedade,por isso atendeparticularmente
ao interesse individual, sem, todavia, dominar toda a ordem jurdica
capitalista, como se v no direito penal, em que o paciente do delito
substitudonoseuinteresseporumrgodoEstado.
Jean Dabin (1889) opsse frontalmente historicidade atribuda por
Kelsen ao direito subjetivo, sustentando que este surge, em seu contexto
formal, independentemente dequalquerrefernciaauma doutrinapolticaou
social.
5.5.3Elementos
No direito subjetivo encontramos quatro elementos essenciais: sujeito,
objeto,relaoeproteojurisdicional.
Sujeito a pessoa que tem faculdade de fazer ou deixar de fazer, de
exigiroudeixardeexigir,aquelaquesedenominaofacultado.
Oobjetoobemjurdicosobreoqualincideafaculdade.Oobjetodo
direito de um titular de crdito de dinheiro o ato do devedor paglo. O
objetoocontedododeveralcanadopeloexercciododireito.
Para que algum tenha faculdade sobre algo, necessrio que se
estabeleaumarelaojurdica,amatrizdodireitosubjetivo.
O que caracteriza esta relao ser protegida. Se tenho um direito
subjetivo,meassegurado,complementarmente,exigirdoPoderPblicoque
o ampare, na hiptese de ameaado, turbado ou violado. A proteo dada
pelaao.
A doutrina costuma acrescentar a esses quatro elementos estruturais
maisdois.
Umofatojurdico,oacontecimento,naturalouvoluntrio,geradorda
relao.Ofatoelementologicamenteintegrantedaidiaderelaojurdica,
considerada elanasua dinmica. Masnolhe pertenceestruturalmente. Uma
vez ocorrido, estabelecese a relao, que subsiste ao seu desaparecimento.
Portanto,analisadaarelaoemsimesma,ofatopodeseromitido.
Ooutroelementoosujeitopassivo.Essaindicaovemdeumateoria
prpria quanto natureza dos direitos reais, discrepante da noo comum.
Com efeito, se admitimos que o direito real um poder jurdico de pessoas
sobre coisas, vnculo direto entre aquelas e estas, o sujeito passivo apenas
seria constitutivo das relaes de direito pessoal. Assim, no poderia ser
genericamente apontado como elemento inerente a toda relao jurdica.
Somenteemseaceitandotesedivergente,queentendeimpossvelaexistncia
de relao jurdica pessoacoisa, com a qual, alis, concordamos, podemos
generalizar a indicao deste elemento. Matria discutida, ser exposta na
oportunidadeapropriada.
Ao sujeito do direito chamamos pessoa. A pessoa pode ser: fsica ou
natural,oqueapenasquestodenomenclatura,ejurdica.Pessoanaturalou
fsica o homem. Todo homem sujeito de direitos. A sua condio lhe
confere essa qualificao. Entidades h, porm, que, no sendo seres
humanos, tm direitos, como por exemplo, as associaes. So pessoas
jurdicas.
Odireitosubjetivopode terporobjetoatributos personalssimos,aes
humanasecoisascorpreaseincorpreas.
Os atributos personalssimos so inerentes pessoa, como a vida, a honra, a
liberdade,onome,aprpriafigura,aintegridadefsica,asade,etc.
As aes humanas, umas resultam dos liames de famlia, outras da
existncia de um vnculo jurdico, pelo qual uma pessoa se obriga a fazer,
deixardefazeroudaralgumacoisaaoutra.
As coisas, juridicamente consideradas, podem ser corpreas e
incorpreas. As corpreas tm uma dimenso no espao, so materiais. As
incorpreas formam a propriedade intelectual que Miguel Maria de Serpa
Lopesdistribuiemcincogrupos:
a) obrasliterrias,cientficaseartsticas
b) invenesindustriais
c) firmascomerciais
d) insgniasdeestabelecimentose
e) marcasdefbrica.
Quandoarelaojurdica submete uma coisaa uma pessoao direito
realquandoseestabeleceentrepessoas,odireitopessoal.
5.5.4Classificao
Hnumerosasclassificaesdosdireitossubjetivos.
5.5.4.1Gaio
Comearemos pela que nos parece a mais antiga, a de Gaio (sc. II),
jurisconsulto romano, par quem gruparseiam em trs conjuntos: os direitos
das pessoas (sobre ou contra pessoas), direitos das coisas (poder sobre uma
coisa) e direito das aes (faculdade de impetrar a proteo jurisdicional ao
seuprpriodireitosubjetivo).
5.5.4.2Savigny
Savigny dividia os direitos subjetivos em direitos de famlia e direitos
dos bens. Essa disposio apoiase no reconhecimento de que as duas
instituies privadas so a famlia e a propriedade. Os direitos dos bens,
subdividiaos em direitos relativos s coisas e direitos obrigacionais, estes
faculdadescontrapessoas,suscetveisdeestimativapecuniria.
5.5.4.3TeixeiradeFreitas
O nosso grande jurisconsulto imperial Teixeira de Freitas (18171883)
adotou outra classificao, que influiu na estrutura do Cdigo Civil da
Argentina.Distinguiaosdireitossubjetivosempessoaisereais,relaesentre
pessoaseentrepessoasecoisas.
Os pessoais, subdividiaos em direitos de famlia (relao de pessoa a
pessoaresultantesdovnculofamiliar,comooptriopodereopodermarital)
edireitospessoaiscivis(relaesdepessoaparapessoa,tendoporcontedoa
obrigaodeumadelasdepraticarouabstersedeumatooudeentregaruma
coisa).
Nosegundogrupo,direitosdosbens,situavadoissubgrupos:osdireitos
reais sobre coisa prpria e os direitos reais sobre coisa alheia, conforme o
direito incidisse sobre coisa pertencente ao seu titular (propriedade) ou sobre
coisapertencenteaoutrem(usufruto,penhor,hipoteca,etc.).
5.5.4.4Picard
Picard distribua os direitos subjetivos em quatro ramos: direito auto
pessoais (inpersonaipsa),direitosobrigacionais(inpersonaaliena),direitos
reais(inremateriali)edireitosintelectuais(inreintelectuali).Osintelectuais
sopoderessobrecoisasincorpreas.
5.5.4.5Roguin
Roguin, seguindo Windscheid, agrupou os direitos subjetivos em dois
conjuntos principais e um complementar. Os principais seriam os direitos
absolutos e os relativos. Absolutos so aqueles em que de um lado est o
titulardodireito e,deoutro,estotodas as pessoas, alheiasaodireito,como
dever de respeitlo. So direitos erga omnes, isto , oponveis contra todos.
Exemplo: o proprietrio tem poder sobre um objeto, no relativamente a
algum, mascontra todos os demais, que tmo dever negativoderespeitara
suapropriedade.Aoutrafacedodireitoumdeveruniversalnegativo.
Notese que Adolf Reinach (18831916) atribua a verdadeira
caracterstica dos direitos absolutos no universalidade, sim
impossibilidade, diante deles, de qualquer contraposio, sendo aquela
produtodesta.
Os direitos relativos dirigemse a pessoas determinadas, o que diz da
suarelatividade. Se Apedeuma importnciaaB,BspodecobrladeA. O
direitodeBrelativoaA,enoaC,aD,aE,ouaqualqueroutrapessoa.Em
tais relaesjurdicas,osujeitopassivodeterminado,enas relaesemque
odireitosubjetivoabsolutoosujeitopassivoindeterminado.
Os direitos absolutos, segundo Roguin, so: os autopessoais, os
potestativoseosreais.
Osrelativosso osobrigacionais.
Aessesdoisgrupos (direitos absolutos erelativos) somava Roguin um
terceiro, direitos, no seu entender, nem relativos nem absolutos, que
denominava monoplios de direito privado. So os direitos intelectuais: a
exclusividade que temo autor de uma msica de autorizar a sua execuo,o
privilgio que tem o inventor de uma patente de explorla industrialmente,
etc.
5.5.4.6Kelsen
Kelsen define o direito subjetivo como manifestao do objetivo. Se o
direito objetivo a fonte dos direitos subjetivos, estes s podem ser
classificados quando mirados na sua relao com aquele. Melhor, s podem
advir de uma peculiar posio do indivduo diante da norma jurdica. Esta
posioassumetrsmodalidades:liberdade,subordinaoeatividade.
Oindivduoestemposiodeliberdade,quandocertoaspectodasua
condutaconstituisetordesuavidaqueanormaseabstmdetutelar,deixando
quefiqueaoseuarbtrio.Essaumarelaonegativa:anormaabstmseeo
indivduotemcompletaliberdade.Estemposiodesubordinao,quandoa
normamandafazer,sujeitandoacondutaaoqueprescreve.Anormamandae
oindivduocumpre.Exemplo:aprestaodeserviomilitar.Entreessesdois
contrastes,existeumaposionaqualo indivduoativoperanteanorma.
nessaposioquesurgeo direitosubjetivo,quandoanormanodcompleta
liberdadeaoindivduonemosubordinaporinteiro,masfazdainiciativadele
condio de sua atuao. Se a norma diz quem tem uma dvida deve pag
la,est impondoumdever,masaexigibilidadeefetivadodeverdependeda
atividadedocredor.Odireitosubjetivoprocededestaposiodeparticipao.
Na posio de atividade, a pessoa participa da formao de normas
gerais e particulares. A criao de normas gerais (leis) pode ser promovida
diretamente (democracia direta) e indiretamente (democracia representativa).
Noprimeirocaso,cadacidadotitulardeumdireitosubjetivodevozevoto
nas assemblias populares. No segundo, o grupo maior dos eleitores possui
certos direitos chamados eleitorais e o menor, dos eleitos, tambm outros
direitos, recebidos da investidura conferida. A todos denominamos direitos
polticos.
Nacriaodenormasparticulares,odireitosubjetivopodeseconstituir
coma manifestao da vontadedapessoa obrigada pelodeverousemela. O
ato, portanto, bilateral ou unilateral. Unilateral, quando decorre de uma
determinao estatal: despacho administrativo e sentena judicial bilateral,
quandodeumconcursodevontades:contrato.
5.5.4.7Escolaegolgica
Partindo das premissas fundadas pela teoria egolgica de Cossio,
MachadoNetoadotaumaclassificaoamplaeatual.
Asfaculdades(direitos subjetivos)sode inordinao (prestaralgo)ou
de senhorio (obter algo). As ltimas correspondem noo de direito
subjetivo em sentido estrito e so absolutas ou relativas, tomados os
qualificativos da mesma acepo j estudada em relao ao esquema de
Roguin.Osdireitosabsolutossesubdividemempblicoseprivados.Estono
segundo grupo os direitos personalssimos, os reais e os intelectuais. O
primeiro constitudo pelo aspecto pblico dos direitos privados absolutos,
dadoqueemrelaoaestestambmoEstado,pelodeverderespeitlos,est
emposiodepassividadejurdica.Osdireitosrelativostambmsubdividem
se em pblicos e privados. So pblicos aqueles em que o Estado sujeito
ativo (cobrana de impostos) ou passivo (direito de ao e direitos polticos)
da relao. So privados os potestativos e os obrigacionais, ambos j
anteriormenteconceituados.
5.6DIREITOSPESSOAISEDIREITOSREAIS
Em quase todas as numerosas classificaes de direitos subjetivos,
encontramosadistinoentredireitospessoaisereais.Essadivisoapresenta
particular importncia, porque no somente de interesse terico, seno que
tambmprtico.
Conformeodireitosubjetivosejapessoaloureal,oseuexercciovariae
asuaproteoassumeformasdiferentes.
Emborausual,adistinoobjetodeseverascrticas.Hjuristasquea
impugnam,entendendoque todos os direitos soreais e,assim, os chamados
pessoais no passam de modalidades daqueles. Outros, inversamente, em
atitude mais afinada com a moderna teoria geral do direito, contestam a
existnciadedireitosreais,quereduzemnaturezadosdireitospessoais.
Aoexporapolmica, indicaremosos seustermos, justificaremos a sua
importnciaeesclareceremososeulimite.
Se um direito real, o seu titular o exerce diretamente sobre o objeto.
Se,porm,pessoal,otitularnoalcanaoobjetodiretamente.Spodeobt
loatravsdeumatodosujeitopassivodarelao,atoquenopodeconseguir
compulsoriamente,demaneiraqueoseudireitoseresolvenumaindenizao.
Um exemplo tpico: nas locaes residenciais, o inquilino tem
prefernciacompradoimvel,acasoalienadopelolocador.Seoproprietrio
vende o imvel sem dar a preferncia ao locatrio, qual o direito deste?
Haverduassolues,conformeodireitodeprefernciasejaconsideradoreal,
um direito sobre coisa, o imvel, ou pessoal, um direito contra pessoa, o
locador. Considerado real, o inquilino, sabendo da venda, deposita o preo e
obtmo prdio,diretamentedocomprador. Mas, se, como diz, alis, anossa
lei,essedireitopessoal,asuainfraoresolvesenaindenizaodeperdase
danos.Oinquilinonopodeircontraoadquirentepararecuperaracoisa,mas
contraoproprietrio,paraobterdeleumaindenizaododanoquelhecausou
aviolaododever.
Vse, assim, da importncia prtica da distino que Tito Fulgncio
caracterizadaseguinteforma:
a) no que toca ao direito material,porqueo direito real confere ao seu
titular duas vantagens considerveis: o direito de preferncia e o
direitodeseqela
b) no referente ao direito formal, porque varia a competncia judicial,
conformesetratedeaespessoaisoudeaesreais.
5.6.1Teoriadualista
A dicotomia tem sido tradicionalmente aceita, obra de uma longa e
penosa evoluo, que, no dizer de Manuel Incio Carvalho de Mendona
(18591917), teria atingido em nossos dias um grau de perfeio completa a
ponto de se apresentar como inerentenaturezadas coisas. Dizemos que os
direitos reais geram uma relao entre a coisa e o sujeito e um poder deste
sobreaquela.Ospessoaisgeramumarelaoentreduaspessoaseafaculdade
deumadelascontraaoutra,suscetveldeestimativapecuniria.
Aceitaadistino,talcomorotineiramenteformulada,estabeleceremos
caractersticasprpriasdecadaum.
Os direitos reais so absolutos, os pessoais relativos. Nos reais existe,
deumlado,otitulardodireito,e,deoutro,todasaspessoasestranhas,coma
obrigao de respeitlo. Nos pessoais, existe uma pessoa titular do direito
relacionada a outra pessoa, o sujeito passivo, obrigada pelo dever. O direito
realoponvelcontratodos.Opessoal,apenascontrapessoasdeterminadas.
Nosdireitosreais,existeumarelaodiretaentreosujeitododireitoeo
seu objeto. Nos pessoais, essa relao indireta. Para que o titular de um
direito real exera o seu direito, basta dirigirse coisa da qual objeto. Na
relaodedireitopessoal,osujeito,paraalcanaroobjeto,temquesedirigir
a uma pessoa e atravs de um ato desta que pode atingilo. Se algum se
compromete a me prestar um servio, s posso obter a prestao por um ato
seu.
Da decorre a estrutura bielementar do direito real e a trielementar do
pessoal.Orealsecompe,nasuaestruturamnima,dedoiselementos(sujeito
eobjeto),aopassoque opessoalspodemosconceber,no mnimo,comtrs
elementos (sujeito ativo, sujeito passivo e objeto). Posso dizer: sou
proprietrio disso. Mas no posso dizer: sou credor de US$ 500,00, a
expressoseriaincompleta.Credordequem?Tereideacrescentar:defulano.
Entre os direitos pessoais e os reais ainda h uma diferena: o objeto
patrimonial do direito real determinado e o do direito pessoal,
indeterminado. Ser proprietrio slo de coisa certa. Os direitos pessoais
tambm tm fundo patrimonial, porque, se o devedor no cumpre o dever, o
credor, como sujeito ativo, tem a faculdade de lanar mo do patrimnio
daquele,paraseindenizardeperdaedanosdecorrentesdoinadimplementoda
obrigao.Masnoexistequalquerbemdodevedordiretamentevinculadoao
compromisso. todo o seu patrimnio que, genericamente, responde pela
indenizaoquelheincumbiremcasodeinsatisfaododever.
5.6.2Teoriasmonistas
Esta a noo clssica pela qual diferenciamos direitos reais de
pessoais.
Noentanto,horientaesdoutrinriasquenegamalegitimidadedessa
distino.
So as teorias monistas, que reduzem estes dois direitos a um s,
emborasustentemtesescontraditrias.EugneGaudemeteGazinidentificam
odireitopessoalaorealesustentamqueopessoalnosenomodalidadesui
generis do real Marcel Planiol e Jos Louis Ortolan (18021873) equiparam
osdireitosreaisaospessoais,afirmandoqueaquelessomodalidadesdestes.
Antesdeexporasduasmaneirasdejulgaroproblema,imprescindvel
explicar o sentido exato em que a expresso direito pessoal usada, para
distinguircertosdireitosdosdireitosreais.
Quando aludimos a direitos pessoais e reais referimonos a uma
subdiviso dos direitos patrimoniais, isto , os que tm por objeto bens
economicamenteavaliveis.Osbenseconmicospodemsercoisas,cujovalor
econmico o seu preo, e crdito ou atos ou omisses alheias, cujo
descumprimentotraz,paraotitulardodireito,umacompensaopatrimonial.
Deve ser prestado este esclarecimento, porque, s vezes, usamos a
expresso direitopessoalcomsignificao mais ampla, para referir, tambm,
osdireitospersonalssimoseosemergentesdasrelaesdefamlia.
So esses direitos patrimoniais, pessoais e reais, que a doutrina
tradicionalmente contrasta, relacionando as diferenas tpicas entre uns e
outros. So os mesmos que alguns doutrinadores pretendem tenham uma s
natureza.
5.6.2.1GaudemeteGazin
A teoria que reduz o direito pessoal natureza do direito real de
Gaudemet, Jallu, Gazin e outros. Entendem que o direito pessoal apresenta a
mesmanaturezadoreal,comadiferenadequeobempatrimonialobjetodo
direitorealdeterminado,aopassoque obempatrimonial,objeto do direito
pessoal,indeterminado.
Nodireitoreal,aordemjurdicaconfereaumapessoaopoderdefruir
das vantagens que uma certa coisa lhe pode proporcionar. Por exemplo, o
direito de propriedade d ao proprietrio a faculdade de fruio de um bem
determinado. Igualmente acontece com outros direitos reais: o usufruto, a
hipoteca,openhor,etc.
No direito pessoal, o titular do direito, que recebe a denominao de
credor, se o sujeito passivo (devedor) no presta o compromisso, dele pode
obter uma compensao correspondente, e o que responde por esta o
patrimnio do obrigado. Logo, objeto do direito sempre patrimnio:
patrimniodeterminado,nosdireitosreais,indeterminado,nospessoais.
IgualoentendimentodeSavigny,paraquemaobrigaotemnatureza
semelhante da propriedade, no somente porque ambas traduzem um
domnio ampliado da nossa vontadesobreumaparte do mundo exterior, mas
tambmporoutrasrazes:
a) pelapossvelestimaodas obrigaesemdinheiro,o quenoseno
suatransformaoempropriedadededinheiro
b) porqueamaiorpartedasobrigaes,precisamenteasmaisimportantes,
tendemparaaaquisiodapropriedadeousuafruioprovisria.
5.6.2.2PlanioleOrtolan
Para Planiol, Ortolan, Roguin e outros, a simples formulao tradicional
dos direitos reais envolve um absurdo, porque a relao jurdica sempre
entrepessoas.
O que chamamos direito real, consoante a maneira tradicional de
conceitulo,,paraaquelesjuristas, umfato, noum direito. Mas neste fato
noestodireito,tantoqueapossedoproprietrioumaeadoladro,outra.
A do proprietrio legtima, deve ser respeitada por todos, a do ladro, um
simplesfatomaterial,notemproteojurdica.
O suposto direito real apenas esconde uma forma sutil de
intersubjetividade das relaes jurdicas. Nele, o sujeito passivo da relao
indeterminado,auniversalidadedaspessoasestranhasaodireito.Aestrutura
dodireitorealidnticadopessoal,direitoqueseexercecontr apessoas.
A diferena est, apenas, em que no direito pessoal o sujeito passivo
determinado (ser credor ser credor contra algum) e, inversamente, no
direito real, sujeitos passivos so todas as pessoas estranhas ao direito, que
tmparacomoseutitularumdevernegativodeacatamento.
foradedvidaqueadoutrinatradicionalsobreanaturezadosdireitos
reaisinadmissvel.CitandoDelVecchio,lembraramosqueanormajurdica
resolvesempreconflitosintersubjetivosdeao.Noexiste,portanto,situao
jurdica que no seja entre, no mnimo duas pessoas. Para que haja algum
comumdireitologicamenteimprescindvelquehajaalgumcomumdever.
Ningumpodeterdireitos sobrecoisas,porquecoisasnopodemsersujeitos
passivosdedeveres.
5.7PROTEODOSDIREITOSSUBJETIVOS
Arelaojurdica subjetiva protegidapor umelemento envolvente,a
garantia.
Odireitosubjetivotemseu fundamento no ordenamentojurdico, dado
queanormageradeveresedireitos.Sendoodireitosubjetivoumpoderquea
ordem jurdica confere ao indivduo e caracterizada a norma jurdica pela
coercitividade, osdireitos subjetivos gozamda mesmaproteo dispensada
norma. Asociedade,pelo rgo quedetm o monopliodoconstrangimento,
o Estado, ampara os direitos subjetivos, eliminando as ameaas que se lhe
faam, asturbaes que os molestem,e os restaurando, emcasode violao.
Para isso, o titular do direito subjetivo tem a faculdade paralela de invocar a
proteoestatal.Estafaculdadeodireitodeao.Exemplo:ocredordeuma
nota promissria tem o direito subjetivo de exigir o seu resgate e tambm
dispedaaoexecutiva,seodevedornolhepaga,exigindodoEstadoqueo
constranjaafazlo.
Direito subjetivo e ao so indissociveis. A todo direito subjetivo
correspondeumaao.
Ao apelo formulado na ao o Estado atende exercendo a funo
jurisdicional. Ao fazlo, cumpre um dever que, segundo Pedro Batista
Martins, a um tempo jurdico e poltico. dever poltico porque a
organizao de uma jurisdio umpostulado deordem pblica, dado quea
sociedade no poderia subsistir sem que a um poder soberano se atribusse a
tarefa de impor coativamente a cada indivduo a observncia da lei. E um
dever jurdico, porque cada indivduo isoladamente considerado poder, em
certas emergncias, invocar, por meio de uma ao judicial, a proteo do
Estadoparaumdireitoreconhecido.
O Estado exerce essa funo por via de atos adequados a cuja
concatenao chamamos processo. A sucesso e a coordenao desses atos,
como sublinha Jos Frederico Marques, no poderia ser arbitrria, nem seria
concebvel que o respectivo modus procedendi ficasse entregue ao alvedrio
daspessoasquenele intervm,razopela qualoprocessoestsubordinadoa
normas e princpios que formam um conjunto de regras denominadas
processuais.
Odesfechodoprocessoasentena.Otitulardodireitosubjetivoalega
juntoaorgojudicirioquetemumdireitocontraalgumedeacordocoma
lei este lhe deve uma prestao o juiz conhece do fato, conhece da norma
geral, verifica que o fato est enquadrado nela e prolata a norma
individualizada,vlidaentreaspartes.Seodireitosubjetivoexistir,aproteo
serdeferida.
Quando se diz que a sentena vlida entre as partes, deve ser
observadoquetalexpressotemsentidorelativo.Comefeito,oqueasentena
decide tambm oponvel a terceiros. Assim, uma sentena declaratria de
estado,emboraresultedeumconflitodepretensesentreduaspessoas,define
o estado de um dos litigantes ou de ambos para todos, mesmo em relao
quelesquenoforam partes noprocesso.ConformeaponderaodeEnrico
Tullio Liebman, o juiz que, na plenitude de seus poderes e com todas as
garantias outorgadas por lei, cumpre sua funo, declarando, resolvendo ou
modificando uma relao jurdica, exerce essa atividade (e no possvel
pensardiferentemente)paraumescopoqueoutracoisanosenoarigorosa
e imparcial aplicao e atuao da lei e no se compreenderia como esse
resultadotodoobjetivoedeinteressegeralpudesseservlidoeeficazspara
determinadosdestinatrioselimitadoaeles.
5.7.1Mutaeshistricas
Sempre e onde quer que haja direitos subjetivos h proteo a eles,
porquedireitodesprotegidonodireito.
5.7.1.1Autodefesa
Hoje a proteo se realiza pela prestao da funo jurisdicional. Mas
nem sempre foi assim. A modalidade de tutela mais primitiva do direito
subjetivo ocorreu quando o titular do direito o era tambm das respectivas
faculdades executivas, fazia justia pelas prprias mos. o regime da
autodefesa. A sociedade concedia aos indivduos direitos e lhes reconhecia
habilitao para defendlos. O indivduo no podia apelar para a sociedade,
pedindoaatividadedestaembenefciodeumdireitoseu.
5.7.1.2Talio
Na segunda fase, o direito de autodefesa passa a ser limitado. O
indivduoaindatitulardasfaculdadesexecutivasdodireito,masprivadode
exerclasaseutalante.Antes,seodireitoindividualeralesado,opacienteo
defendiasegundooseusoberanocritrio. Nestafase,adefesaobedeceauma
certamedida:nopodeiralmdaagresso.otalio:olhoporolhodente
pordente.Oinfratorreceberetribuiocorrespondenteofensa.
Ulteriormente, essa prpria regra restringida, passando a prevalecer
apenas para a punio de certos delitos. Assim, por exemplo, ocorreu no
Direito muulmano, segundo registra Jos Lopez Ortiz, no qual as obras de
jurisprudncia passaram a catalogar as leses justificativas do talio, deste
excluindo algumas, j por sua pequena importncia, j pelo risco de que a
aplicaocausasseaoculpadodanomaiordoqueoporeleproduzido.
O talio, no ensinamento de Francisco Consentini, subtraiu a regra
sancionadora ao arbtrio individual, elevandoa ao nvel de princpio social.
Louis Proal entende que ele testemunha um sentimento elevado de justia e
estlongedemerecerodesprezodospenalistas.
5.7.1.3Composio
Em terceira fase, surgiu a composio. As solues jurdicas evoluem
sempre das formas violentas para as pacficas, at mesmo porque o direito
uma soluo pacfica dos conflitos de interesse. s formas agressivas
precedentes a autodefesa e o talio sucede a composio. As partes em
litgio procuram compor a sua dificuldade, eliminar a contradio de seus
interesses, determinar a estimativa de seus danos atravs de uma frmula
pecuniria. Entra na histria das sanes jurdicas a indenizao, reparao
dosdanosporumaprestaodevaloreconmico.
5.7.1.4Jurisdio
Comeou,ento,aafloraroqueveioaseraformadefinitivadeposio
dos direitos subjetivos, a jurisdio. O titular do direito passa a ser
exclusivamente titular do direito, despojado das faculdades executivas.
Somente a sociedade tem o monoplio destas faculdades, somente ela pode
dizersehounodireito,oquesucedeaquemnocumpreodever,epraticar
atos de constrangimento contra o transgressor. Nesta fase final, ao titular do
direitosubjetivocabeapenaspleitearaoEstadoqueoproteja.
5.7.2Naturezadaao
Na doutrina, indagase qual a relao entre o direito subjetivo e a
ao. So irmos xifpagos, que no podem existir separadamente? Haver
entreelesdiversidadedeimportnciaesignificao?Serumprincipaleoutro
acessrio? Qual , finalmente, a natureza desse liame que prende direito
subjetivoeao?
A posio doutrinria mais antiga noautonomista. A ao seria um
corolriododireitosubjetivo,nuncadireitoqueexistaperse.
Outras teorias asseveram que a ao um direito autnomo, cuja
existnciaseafirmaindependentementedaexistnciadodireitosubjetivo.So
teoriasautonomistas.
5.7.2.1Teorianoautonomista
Destacamse,entreasprimeiras,adeNicolaCovielloe,modernamente,
adeKelsen.
Covielloreputaaaoumafunododireitosubjetivo.Sendoproteo
que a ordemjurdica dispensaaodireito subjetivo, nopode existirsemeste.
Admitir o contrrio levaria noo absurda da existncia de direitos
subjetivosemsi,privadosdeproteojurisdicional.
Na ao, Coviello distingue o aspecto material (potencialidade) do
formal(atuao).Nomaterial,odireitodedemandaraproteojurisdicional
faculdade subjetiva,por isso complementardodireitosubjetivo.Noformal,
conjunto de atos em cuja coordenao consiste o processo. apenas um
fato, com aparncia de autonomia, donde alguns juristas a considerarem
direitoautnomo.
Kelsen v indissolvel ligao entre o direito subjetivo e a ao. O
direitosubjetivo,insistimosnarepetio,aoutrafacedodeverjurdico,que
resulta da norma. Sendo odeverexigvel, forosamente odireito exercvel.
Aexignciadegarantiadodireitonopodedeixardeserintimamenteligada
exignciadecumprimentododever,sobpenadecertasano.Norma,direito,
dever e ao formam uma unidade jurdica, cujos elementos so incindveis,
resultandodaimpossibilidadedeseconsiderarautnomoqualquerdeles.
5.7.2.2Teoriaautonomista
Ao lado das teorias noautonomistas encontramos, e atualmente com
preponderncia na teoria do Processo, as autonomistas, que consideram o
direito subjetivo um e o da ao outro. Destacamse as de Adolf Wach,
GiuseppeChiovenda,JamesGoldschmidteUgoRocco.
Asteoriasautonomistasestofundadasemdiversosargumentos.
Entre eles est o da existncia de aes sem direito. Se h aes a que
no corresponde uma alegao de direito subjetivo, logicamente a ao
autnoma. Exemplo: a ao declaratria, a qual, na lio de Alberto M.
Malver, tende exclusivamente a obter uma sentena que reconhea a
existnciaouainexistnciadeumdireito,diversamentedaaocondenatria,
que impe o cumprimento de uma obrigao positiva ou negativa, e da ao
constitutiva, que cria um estado jurdico novo, ou modifica ou extingue um
estadojurdicojexistente.
Mais tpico o argumento das aes declaratrias negativas que
objetivamporsentenaanegaodeumdeveroudeum vnculo,comoao
negatriadepaternidade, que visaapenas adeclaraonegativa dofato. No
hdireitosubjetivo,noentanto,existeao.
ComoproclamaCelsoAgrcolaBarbi,oreconhecimentodoutrinrioda
existnciadaaodeclaratriafoiogolpedemortenadoutrinacivilista(no
autonomista)daao.
Inversamente, h direitos sem aes. As obrigaes naturais no
autorizam o sujeito ativo exigir seu cumprimento mas, se cumpridas, seus
efeitosnosorevogveis.Exemplo:asdvidasdejogo.Oganhadornotem
ao para demandar o pagamento da importncia ganha. Mas, se o devedor
paga, no se poder pleitear restituio. H direito subjetivo, porque, se no
existisse,opagamentoseriaindevidoe,emconseqncia,restituvel.
Argumentam,ainda,osadeptosdas teoriasautonomistas,queaprpria
natureza do direito de ao desmente a sua dependncia do direito subjetivo.
AaodireitosubjetivocontraoEstado,aopassoque,namaioriadoscasos,
osdireitossubjetivosproteladospelaaosocontraindivduos.
Por isso, o direito de ao sempre pblico, e os direitos subjetivos
protegidos,nasuamaiorparte,soprivados.
Restaobservar,comofazAmilcar A. Mercader,quenosopoucos os
processos que terminam com a desistncia recproca dos direitos pretendidos
pelasparteslitigantesouqueseencerram,svezes,comadeclaraoexplcita
de que no existem as circunstncias de fato alegadas para a propositura da
ao, com o que se estabelece a inexistncia dasrelaes jurdicas invocadas
nopleito.Emambososcasos,aaochegaaseuplenodestino,esgotandose
noatodeumasentena,semquetenhahavidoanecessidadedeserjustificada
pelaexistnciadasrelaesjurdicasqueocasionaramopleito.
5.7.3Classificaodasaes
Das numerosas classificaes de aes, a mais simples, ainda que de
escasso mrito doutrinrio, divideas em dois grupos: aes pessoais e aes
reais,deacordocomanaturezadodireitoqueprotegem.Seodireitosubjetivo
pessoal,aaopessoal,sereal,aaoreal.
Conforme o caso, varia a competncia do juiz. Nas aes pessoais, a
competncia, emprincpio, do juiz do domicliododemandado,o ru. Nas
reais,acompetnciadojuizdolocalondeseencontraacoisa.
Almdessas,existemasaesdeestadoeaspenais.
Asaesdeestadotmporobjetooestadocivildapessoa.Exemplo:as
aes de investigaes de paternidade, de destituio do ptrio poder, de
desquite,deanulaodecasamento,etc.
As penais destinamsea apurararesponsabilidadedos que infringema
leipenaleimporlhesapenadevida.EmregraasuainiciativacabeaoEstado.
Se considerarmos apenas as aes civis, podemos adotar outras
classificaesmaismodernas,queatendemprincipalmenteaoresultadoquese
lograpelasentena,assimcomo,porexemplo,aadotadaporTorquatoCastro:
a) aes condenatrias, que visam,almdadeclaraodeumarelao
jurdica ou do direito a uma prestao, a condenao do obrigado a
ela
b) aes declaratrias, que pretendem a simples declarao de
existnciaouinexistnciadeumarelaojurdica
c) aes constitutivas, que visam instituir uma mudana de estado ou
constituirefeitosjurdicosaindainexistentes.
5.8DEVERJURDICO
A matria deste captulo est diretamente vinculada distino entre
normasmoraisejurdicas.
Cuidase de saber se o dever jurdico tem natureza prpria, incapaz de
equvococomadodevermoral.
Podemos chegar a dois resultados: concluir pela identidade de ambos,
ou atribuir a cada um deles uma essncia. Temos, portanto, duas teses: uma
queidentificaodeverjurdicoaomoraloutraquelheatribuinaturezadistinta.
5.8.1Teorianoautonomista
Toda a doutrina filosfica que conclui pela identidade entre o dever
jurdicoeomoral(daqualtpicaasentenadeViktorCathrein(18451931):
umdevernomoralumacontradio)fluidafilosofiadeKant,querepousa
nasnoesdeautonomiaeheteronomia.
5.8.1.1Kant
Kant distingue, objetivamente, o dever moral do jurdico, adotando o
princpio de que as aes humanas esto sujeitas a duas modalidades de
constrangimento.Humconstrangimento exteriorqueapenasalcana os atos
externos.Eumconstrangimentoqueexercemos sobrensmesmos, vencendo
obstculos que as inclinaes da nossa natureza opem ao cumprimento de
uma lei de conscincia. A esta, por causa mesmo desse antagonismo,
chamamosdever.
Asobrigaesquepodemserobjetodeconstrangimentoedelegislao
exteriores,correlativasquesodedireitos alheios,denominaKantdeveresde
direito. As outras, que escapam a qualquer coao exterior, sancionadas que
so,unicamente,pelasexignciasdanossaconscincia,soasmorais.
Diferenciamse, ainda, os deveres jurdicos dos morais, por gerarem
aqueles obrigaesestritaseestes,obrigaes latas. Asprescries de direito
noadmitemmaisoumenos,oqueexigemsempreclaroepreciso.Asregras
demoraldeixamaonossoarbtrioumacertalatitude,dentrodecujoslimitesa
ao pode se restringir ou ampliar. A moral prescreve mximas gerais, sem
indicaratosdeterminados,odireitofixaexatamenteoquepretendedaconduta
emcadacircunstnciaparticular.
Mas uma obrigao jurdica, em si mesma, jamais constitui autntico
dever, porque este, somente pode ser uma exigncia tica interna, e o direito
secontentacomameralegalidade,isto,aadequaodoatoaoparadigmada
regra.Danoserpropriamentemeritriaasimplesconformaodasaesao
direito. Entretanto, essa conformao pode passar a meritria e aquela
exignciaconverterse em dever,seentendidascomodecorrentes da mxima
segundoaqualdevidoorespeitoaodireito.Assim,ohomemsedporfimo
direito da humanidade, e amplia seu conceito de dever alm dos limites
daquiloquejuridicamentedevido.Comefeito,segundooquefacultaaregra
jurdica, outras pessoas podem exigir de mim aes conforme a lei, mas no
pretenderqueadotealeicomomveldaquelasaes.Sefao,elevomealm
da estrita obrigao jurdica, e dessa maneira a converto em dever. Como
explica Riccardo Miceli, segundo Kant, a coao e a exterioridade, que os
juristas consideram as notas distintivas do Direito, so caracteres extrnsecos
do direito frente moral, pois nunca impulsionam a ao seno
transformandoseem impulsos de conscincia e convertendose de exteriores
eminteriores.
O dever jurdico uma obrigao tica indireta: provm de imposio
alheia conscincia, mas pode se transformar em autntico dever, se aceito
como tal, e com isso convertido em autnomo. Essa atitude, porm,
essencialmentemoral,nojurdica.
5.8.1.2Laun
AtesedeKantfoirenovadaemtermosenfticosporRudolfLaun.
Para ele, o indivduo pode submeterse a uma ordem, sem lhe dar
anuncia, sem sentir a sua legitimidade, sem aceitar o seu fundamento,
havendonoseuatoapenassujeioaopoder,noexecuodeumdevernem
submisso ao direito. O direito s imperativo de conduta se lhe correlata
uma regra autnoma, se sua validade acatada. A regra jurdica s obriga
comodever,quandodasualegitimidadeparticipaaconscinciaindividual.
Ohomempode,portanto,sujeitarseaumanorma,nasituaodomais
fraco diante do mais forte. Mas, subordinarse fora completamente
distinto de praticar um dever, o que , e ser sempre, um ditame da
conscincia.
5.8.2Teoriaautonomista
EmcontrastecomKanteLaun,encontramosposiesdoutrinriasmais
compatveiscomasnecessidadescientficasdodireito,afirmandoaautonomia
dodeverjurdico.
5.8.2.1Kirchmann
Kirchmannassentaadistinonarazopsicolgicaquelevaohomema
cumprir os deveres. O moral, cumprimolo espontaneamente, por uma
exignciantima.Ojurdico,acompanhadodeumapromessadedanoemcaso
de descumprimento, observamolo no por satisfao individual, mas para
prevenirocastigocomqueanorma,emqueodeverrepousa,nosameaa.
Aessamaneiradeentendercabemdoisreparos.Primeiro:aexperincia
parecedesmentirsersomenteomedodasanoqueleveohomemaexecutar
um dever jurdico. Sendo ele legtimo, preponderantemente cumprido,
porque o indivduo reconhece a sua validade, e o obedece quanto obedeceria
um dever moral, tanto assim que a conduta concorde com o dever domina
avassaladoramente sobre a discrepante. Segundo: se o indivduo vence o
receito de quefalaKirchmann e descumpreodever, a resistncia psicolgica
que opesanodenada lhe vale,porqueaquele da mesma maneirase lhe
impor,eatcommaisvitalidade.
5.8.2.2Radbruch
Tese tambm afirmativa da autonomia do dever jurdico a de
Radbruch. O dever moral meramente imperativo o jurdico, imperativo e
atributivo.
Odevermoralprescrevedeterminadaconduta,masaningumoutorgaa
faculdadedeexigila.
O dever jurdico imposto a uma pessoa de adotar certo procedimento
confere a outra a faculdade de reclamar dela, compulsoriamente, o
comportamentoprescrito.
Assim, a distino entre dever moral e jurdico est na inexigibilidade
do primeiro e na exigibilidade do segundo. Da a sua expresso muito feliz,
sntese clara de toda essncia do dever jurdico: ele no apenas dever,
tambm dvida. E dvida algo que se deve a algum. Portanto, o dever
jurdicosemprevinculatriodeumapessoaaoutra.
5.8.2.3Kelsen
Em Kelsen encontramos uma teoria do dever jurdico em termos
estritamente formais, porque a caracterstica da sua doutrina situarse no
planodalgicajurdica.
Kelsen atribui as insuficincias doutrinrias ao esquecimento de um
dadoprimrio: nohdeverjurdicosem norma.Eseesta,abstraofeitaao
seu contedo, pode ser formalmente conceituada com inteira autonomia,
inevitvel serreconhecer,tambm,aautonomiadaquele.
Anormajurdicaencerraumpreceitodenaturezageral,doqualodever
jurdicoasubjetivao.Somentepodemosfalaremdeverjurdicodealgum
estabelecendo uma referncia da sua conduta regra de direito. O dever
jurdicoanormapostaemrelaoaoindivduo.Noumarealidadedistinta
darealidadedanorma,masdestaemergeesetransmudaemdeverindividual,
que tem destinatrio certo e pode ser exigido de pessoa identificada. A sua
tipicidaderesultadatipicidadedanormajurdica.
5.8.2.4DelVecchio
DelVecchioreconhecequenopodemosdistinguirosdeveresjurdicos
dos morais, analisando oseu contedo. No a matria de umdeverquediz
seelejurdicooumoral.
Odevermora,sedimanadeumainterfernciasubjetivadeaes,e
jurdico, se emerge de uma interferncia intersubjetiva de aes, tal como j
expusemosnodcimocaptulo.
5.8.3Incioefim
O dever jurdico nasce de um fato. Nem todos os fatos, porm,
acarretam deveres. Somente aqueles aos quais o direito empresta uma
conseqncia,e,porisso,sochamadosdefatosjurdicos.
Devriasmaneirasextinguemseosdeveresjurdicos.
a) pelo adimplemento, que o cumprimento da obrigao. O dever
consistenumaprestao. Desdequeapessoaobrigadaacumpra,elese
extingue.Setenhoumadvidaeapago,sedevoentregarumobjetoeo
entrego, se devo prestar um servio e o presto, cessam os respectivos
deveres.
Pela novao: a substituio de um dever por outro. O novo dever
cancela o anterior. Se algum, por exemplo, assume uma dvida, e, ao
invs de pagla, contrai nova, pelo mesmo ou por valor superior ou
inferior, a dvida nova substitui a antiga. O primeiro dever extinguese
pelosurgimentodonovo.
b) pelarennciadotitulardodireitoprestaoexigvel.
c) Pela morte, cuja eficcia, porm, em relao a esseresultado, somente
alcanaosdireitospersonalssimos,noospatrimoniais.
Ainda cessam os deveres pela prescrio, instituio que Antnio
AlmeidadeOliveiraaliacontingnciadetudoquehumanoterumfim.Se
o titular de um direito no atendido, hiptese, portanto, em que ocorre a
omisso do dever alheio correspondente, no apela para a proteo
jurisdicionaldaquele,dentrodecertoprazo,dizsequeaaoquelhegarantia
a faculdade prescreve. Prescrita a ao, caduca o direito e, logicamente,
desaparece o dever correspondente. Assim, se o credor por uma dvida no
paganorespectivovencimento,deixadeacionarodevedorporumcertoprazo
subsequente, prescreve a ao que lhe era facultada, cessando o dever do
sujeitopassivo.
O fundamento da prescrio, como escreve Antnio Lus da Cmara
Leal, o interesse jurdicosocial de evitar que a instabilidade do direito se
perpetue,comsacrifciodaharmoniasocial.
De outras maneiras, igualmente, extinguemse os deveres
jurdicos,merecendosercitadas:
a) oacordoentreosujeitoativoeopassivo
b) a fora maior ou o caso fortuito (evento inevitvel e imprevisvel que
tornaimpossvelaprestaododever).
5.8.4Classificao
H vrias classificaes de deveres jurdicos, todas, claro, aplicveis
universalidade dos deveres, porque cada uma os considera debaixo de um
critrio.
Umaclassificaoosdistribuiempositivos,oudeao,enegativos,ou
de omisso. Os positivos consistem num ato a cuja prtica uma pessoa se
compromete: fazer ou dar. Donde as obrigaes positivas de fazer e as
positivas de dar, tendo por contedo, respectivamente, a prestao de uma
certa conduta (por exemplo: um servio) e a entrega de uma coisa (a
devoluo de um objeto recebido em depsito). Os deveres negativos, que
consistem na absteno de um ato, quase sempre so de respeito ao direito
alheio.
Dividemse tambm os deveres em pblicos e privados, acaso
provenientes de uma norma de direito pblico ou de uma de direito privado.
Como o direito pblico abrange o constitucional, o administrativo, o
processual, o criminal e o trabalhista, h deveres constitucionais,
administrativos,criminais,processuaisetrabalhistas.Ecomoodireitoprivado
compreendeocivileocomercial,temoscorrespondentemente,deverescivise
comerciais.
Tambmseclassificamosdeveresempatrimoniais,quandoseuobjeto
suscetveldeestimativapecuniria,isto,anoprestaododeverresolvese
num valor econmico equivalente, e nopatrimoniais, de nmero hoje
restrito,querepelemestimativaeconmica.
Classificamse, ainda, em permanentes e instantneos, na medida da
duraodotempo da suaexecuo. Instantneos, quando cumpridos numato
s que exaure toda a sua execuo. Exemplo, pagar uma dvida dever que
cessa atravs de um ato Permanentes, se acompanham constantemente a
pessoa, como os de respeito aos direitos alheios: no matar, no furtar, no
caluniar,etc.
Porltimo,osdeveressosimplescomplexosealternativos.Ossimples
consistem na prtica de um ato. o exemplo do dever de pagar uma dvida.
Os complexosimportam aprtica de vrios atos. Assim,sealgumassumea
obrigao de realizar uma obra por empreitada, fica sujeito prtica de atos
numerosos, para a completa execuo do dever. Alternativos so os que
concedempessoaobrigadaodireitodeescolherentreprestaesdiversas.
5.9RELAOJURDICA
A relao o elemento medular da estrutura do Direito subjetivo. Sua
realidade exclusivamente jurdica, diversa da do sujeito e do objeto que
podemservistosdebaixodeoutrosaspectos.
Para que se estabeleam relaes jurdicas necessrio um fato e uma
normaparaaqualelesejasignificativo.
Anormajurdicacompesedehiptese,aprevisodealgopossvel,e
disposio, a conseqncia. A hiptese sempre um fato que acontece no
tempo. E somente quando este ocorre que se desencadeia a conseqncia
contidanadisposio.
5.9.1Fatoseatosjurdicos
ExplicaJeromeHallqueaclassificaodecertosfatosemeconmicos,
polticos, ou sociais no repousa em qualquer caracterstica singular de cada
um deles. No existem, portanto, fatos econmicos, sociais ou polticos por
natureza, pairando no Universo, nem existem fatos jurdicos por natureza. O
fato um produto de alta abstrao e s adquire sentido quando visto pelo
prisma de determinadas idias. Assim, exemplifica, se os operrios de uma
fbricaabandonamcoletivamenteotrabalho,deliberandosomenteregressarse
os seus salrios forem aumentados, temos a umfato econmico, unicamente
porque tal acontecimento tem significao quando encarado em relao a
certasproposiesformuladasporumadisciplinachamadacinciaeconmica.
A mesma situao, relacionada com a sociologia, que encara os fatos em
relaoacertasteoriasconcernentessrelaesentrepessoas,grupoprimrio,
liderana etc., passaria, ento, a ser um fato social. E, se a mesma situao
fosse encarada em relao a teorias concernentes luta pelo poder, seria,
ento,umfato poltico. Acrescentaramos que, se considerssemos a situao
dos pases quelimitamodireitodegreve, aindaaquelamesmasituao,vista
quanto sua admissibilidade ou proibio, passaria a configurar um fato
jurdico.
Nessaordemdeevidncias,chegaseconclusodequetodosos fatos
aque as normas jurdicas dosentidoso fatosjurdicos. E postos eles nessa
relao situamse em dois grupos: fatos conforme o Direito e fatos anti
sociais,violaesdanorma.
Definese, portanto, fato jurdico como acontecimento, natural ou
voluntrio, ao qual o direito positivo atribui significao. Um fato s
jurdico se recebe da ordem jurdica esse atributo. O percurso das nuvens no
cu um fato, mas no jurdico, porque no gera direitos e deveres. J uma
inundao, tambm uma ocorrncia natural, pode ser fato jurdico, se, como
imprevisvel e inevitvel, altera as condies de uma pessoa a ponto de
impossibilitladesolverseuscompromissos.
Os fatos jurdicos podem ser acontecimentos naturais e ato humanos
(manifestaes de vontade). A expresso fato jurdico tem sentido amplo e
restrito. Em sentido amplo, abrange fatos da natureza e atos do homem. Em
restrito,aplicasesomente aoseventos naturais,denominandoseossegundos
atosjurdicos.
Se a relao jurdica deriva de um fato em sentido restrito, ocorrido o
fato,automaticamente, elasurge. Sedeum ato, indispensvel acondutade
algumparaoenlacedahiptesecomadisposio.
Schreirer, que identifica as noes de pressuposto e fato jurdico,
aplicando ao direito o mtodo fenomenolgico, divide os fatos jurdicos de
modoexclusivamenteformal:independentesedependentes.Osprimeirosdo
seisoladamenteedeterminamconseqnciasporsimesmos.Ossegundosso
partesdeumconjuntoe,assim,suaeficciaestligadaocorrnciadeoutros.
Citando Husserl, define os dependentes: pressupostos em relao aos quais
prevalece a regra de que somente podem existir como parcelas de uma
totalidade. A dependncia absoluta e relativa. Absolutamente dependentes
so os fatos jurdicos que por si mesmos no engendram nenhuma
conseqncia, a menos que integrem um fato jurdico total. Relativamente
dependentes, os que produzem por si determinadas conseqncias de direito,
nooutras,quesomentegeramquandounidosanovosfatosjurdicosrelativa
ouabsolutamentedependentes.
Esclarecendo,amoraumfatojurdicoabsolutamentedependente.No
tem sentido considerla fato jurdico que ocasione por si somente
conseqncias de direito. Ela pressupe outro fato jurdico condicionador,
umaobrigao.Relativamentedependente,emrelaoaofatojurdicototalda
constituiodopenhor,aentregadacoisa.Estaumatoquetambmproduz
conseqnciasdedireitosemhaverpenhor,mascertassnocasodehaver.
5.9.1.1Eficcia
Realizado o fato jurdico, ocorre certo resultado, no que consiste a sua
eficcia, que pode ser constitutiva, resolutria, modificadora, transmissora e
conservadora.Razodedizersequefatojurdicoacontecimento,naturalou
voluntrio, que cria, extingue, modifica, transmite ou conserva direitos. Se o
fatocriadireitos,asuaeficciaconstitutivaseosextingue,resolutriaseos
modifica, modificadora se os transmite, transmissora se os conserva,
conservadora.
Consideradaquantoaotempoemqueseproduz,aeficciaimediatae
diferida, conforme os efeitos sejam imediatamente subsequentes ao fato, ou
tardios,emmomentoulteriorquelependentesdeocorrnciafutura.Estapode
ser incerta, suscetvel de ocorrer ou no, ou certa, quando forosamente
ocorrer,emdataindeterminadaoudeterminada.Noprimeirocaso,tratasede
umacondionosegundo,deumtermo.
5.9.1.2 Negciosjurdicos
Por influncia dos juristas alemes, notadamente Klein, Von Tuhr e
Dernburg, a doutrina moderna, conforme acentua Sady Cardoso de Gusmo,
inclinase a estabelecer uma distino entre atos jurdicos e negcios
jurdicos,modalidadesdistintas,contidasnaexpressogenricaatojurdico.
NoBrasil,coubeaPontesdeMirandaomaisextensodesenvolvimento
damatria.
Dada quejfoianoogeraldeatojurdico,cabeaquidistinguirentre
suas duas modalidades, ainda que a distino, pelo que nos parece, somente
mereaespecialreferncianoestudodoDireitoCivil.
Citando Domenico Barbera, entende Serpa Lopes que, enquanto o ato
jurdico em sentido restrito surge limitado por um numerus casus, contendo
categorias de figurastpicas, isto, previstas emleiepor estas disciplinadas,
no negcio jurdico a relevncia exercida pela vontade intencional faz com
que esta inteno livre produzaum desenvolvimento impossveldese darna
classe dos atos jurdicos. Assim o negcio jurdico uma declarao de
vontade por fora da qual se obtm a produo de um determinado efeito
jurdico,incumbindoordemjurdicaassegurararealizaodesseefeito.
Concluindo, Serpa Lopes traa as caractersticas prprias do fato
jurdico,doatojurdicoemsentidorestritoedonegciojurdico.Ofatoum
acontecimento qualquer produtor de uma modificao do mundo jurdico,
voluntrio ou no. O ato sempre voluntrio, mas nele a vontade pode no
exercitar uma funo criadora, modificadora ou constitutiva de uma
determinadasituao jurdica,comouma declarao de nascimentoperantea
autoridade competente. O negcio sempre uma manifestao de vontade
produzindo efeitos jurdicos, isto , destinada a produzir os efeitos jurdicos
atribudospelanormaaosatoslcitos.
PontesdeMiranda,natentativadeesclarecerbemoconceitodenegcio
jurdico, explica que ele surgiu exatamente para abranger os casos em que a
vontade humana pode criar, modificar ou extinguir direitos, pretenses e
aes,sendomanifestadaprecisamenteparaessafinalidade.
ParecenosmaisclaraaexplicaodeF.SantoroPassarelli,paraquem,
seoatointeressacomomeropressupostodeefeitospreordenadospelalei,ele
pertence categoria dos atos jurdicos em sentido restrito. Seus efeitos so
estabelecidos, no pela vontade privada, mas exclusivamente pela norma
jurdica.Exemplo:reconhecimentodefilhoilegtimo.Se,diversamente,oato
interessa como expressodeuma vontadedirigida produodeefeitos,ele
pertence categoria dos negcios jurdicos, que so atos cujos efeitos so
determinados pela vontade privada, autorizada a isso pelo ordenamento
jurdico.Exemplo:oscontratos.
Comenta Miguel Velloro Toranzo que, embora a distino entre atos
jurdicos emsentidorestritoenegciosjurdicossejaaceitaportratadistasde
mrito, no foi ainda suficientemente acolhida nem oferece bastante clareza,
desortequenumerosaslegislaesdestesculocontinuamprescindindodela.
Acrescentese a isso que a doutrina, em resultado de suas prprias
divergncias, oraatribui a certos atosanaturezadeatosjurdicos emsentido
restrito, ora a de negcios jurdicos. Isso acontece, por exemplo, com o
casamento, o reconhecimento de filhos, a adoo (quando uniforme o seu
regime) etc. Vse, assim, que o tema encerra, de fato, uma sutileza que no
est ao alcance de quem se inicia no curso jurdico, razo de ser imprprio
neleinsistirnumtrabalhodeintroduo.Porissolhereservamosestasnotas,a
ttulomeramenteinformativo,prosseguindoaexposiosemvoltarareferilo.
5.10ATOSJURDICOS
Atojurdicomanifestaodevontadedeacordocomanormajurdica,
da qual resulta a criao, a conservao, a modificao, a transmisso ou a
extinodedireitos.
5.10.1Requisitos
Requisitos dos atos jurdicos: sujeito capaz, objeto lcito, possvel e
srio,eformaprescritaounoproibidaemlei.
5.10.1.1Sujeito
O agente (quem pratica o ato) deve ter aptido para praticar por si os
atos da vida civil, alcanada a partir de um certo limite de idade, se o
discernimentonocomprometidopormotivodeinsanidade.
5.10.1.2Objeto
Oobjetodeveserlcito,possvelesrio.Lcito,noatentarcontraalei
nemcontraosbons costumes. Uma sociedade organizada paraexploraodo
crime tem objeto ilcito, e , por isso, juridicamente inexistente. Possvel:
aquiloaquealgumseobrigadeveserprestvel. Os deveresimpossveis so
inexigveis. Aimpossibilidadedequeodireitocogita,adverteVicente Ro,
a absoluta, aquela que a todos atinge, indistintamente de condio pessoal.
Srio, no cmico ou burlesco ou praticado sem inteno de eficcia
(declaraojocosa,didtica,cnica).
5.10.1.3Forma
Requisitodoatojurdicoqueseprestamaisfreqentementeaequvoco,
razodeseuconceitoreclamarclareza,odeforma.
Dada a maneira usual de se realizarem os negcios, o leigo quase
sempreligaanoodeformadedocumento,porqueaescritapreferidana
provadosatosjurdicos.Noentanto,oconceitodeformamuitomaisamplo.
Forma do ato jurdico significa sua exterioridade. Como escreve
Francisco Pontes de Miranda (1892), em direito, s se levam em conta as
vontades que se enformaram. Se duas pessoas celebram um contrato, o
contratodevesertangvel,nosomenteparaelas,masparatodos.
Qualquer que seja o elemento de que a vontade se valha para se
exteriorizar, esse elemento uma forma. As formas so vrias, desde as
complexas e aparatosas at as mais singelas. Podem consistir numa
solenidade,comoa celebrao do matrimnio numato praticado peranteum
servidor pblico, como as escrituras pblicas num documento lavrado pelos
prprios interessados, como as escrituras particulares, uma carta, um bilhete,
um telegrama, um texto qualquer. A forma pode ser tambm verbal ou
consistirnumgestoeatnosilncio.Sechamamosalgum,porexemplo,para
nos prestarum servio,celebramos umcontrato verbal. Se estamosnuma via
pblicaequeremos chamarumtxi,acenamos comamo.Onossogestoa
ofertadeumcontratodetransporte,concludopelaaquiescnciadomotorista.
Se algum, autorizado por lei ou contrato, interpela outra pessoa para, num
determinado prazo, pronunciarse sobre algo, sob pena de, em nada dizendo,
seterasuavontadecomomanifestadaemcertosentido,osilnciodasegunda
valercomoformademanifestaodesuavontade.
Portanto,repetindo,formatodoequalquerelementoqueexteriorizaa
vontade, porque a vontade de que cuida o Direito no a psicolgica, mas a
que se objetiva e suscetvel de ser constatada. Admitirse diversamente,
explica Erich Danz, daria lugar s maiores injustias nos contratos da vida
diria,vistocadaumadaspartesspoderresponderoutratendoemateno
a vontade exteriorizada. Pela mesma razo, observa com acerto Darcy
Bessone OliveiraAndrade,se,emregra,prefervelavontadereal,casos h
em que, por convenincia de segurana nas relaes jurdicas, a vontade
declarada deve prevalecer, pois que, sendo a declarao o meio normal de
revelaodavontadeinterna,nodevemosquenelaconfiamsofrerprejuzos
peladivergnciaacasoexistenteentreumaeoutra.
Os atosjurdicos dividemse, quanto forma,em formais ousolenese
no formais. Formais so os que devem revestir certa forma no formais,
aqueles cuja forma facultativa, isto , qualquer forma em admitida em
Direito.SendoprincpiodoDireitomodernoqueaessnciadosatosjurdicos
a vontade de seus agentes,o qual,comoanota Regina Gondim, lentamente
se construiu pela influncia do Direito cannico e da prtica comercial, na
atualidade s excepcionalmente se exige determinada forma para os atos
jurdicos.
5.10.2Classificao
H vrias classificaes dos atos jurdicos, alm da j antecipada,
decorrentedesuaforma.
Uma emerge da sua prpria definio. Se do ato jurdico resulta a
criao,aconservao, a modificao, a transmisso eaextino de direitos,
paralelamente existe uma quntupla classificao: atos que criam, que
conservam,quemodificam,quetransmitemequeextinguemdireitos.
Os atos jurdicos, sob outro aspecto, dividemse em unilaterais,
bilateraisemultilaterais.
Sounilateraisaquelescujosefeitosocorrempelasimples manifestao
de uma pessoa, ou, como claramente ensina Vicente Ro, por vrias pessoas
agindo unitariamente dentroda mesmaenicadireodeinteresses.Embora
os efeitosdoato unilateralseproduzam pela mera enunciaode vontadede
uma ou diversas pessoas, nesta ltima hiptese em sentido convergente, em
algunscasosavontademanifestadadirigeseapessoadeterminada,emoutros
no. No primeiro caso, mister se faz seja comunicada ao seu destinatrio, o
que requisito da sua eficcia, como, por exemplo, a revogao de um
mandato. Em outros casos, no dirigida a pessoa determinada, a eficcia no
ficanadependnciadacomunicaoaquemquerseja,comoarennciapurae
simplesdeumdireito.
Hatosjurdicosunilaterais,todavia,cujosefeitosdependemdoulterior
concurso da vontade de outrem. Em tal circunstncia, a unilateralidade
consiste em que os efeitos do ato, no que diz com a pessoa que emite a
vontade, so j definitivos, mas apenas exigveis depois que surge a vontade
de outra pessoa coincidente com a que foi antes enunciada. Exemplo: as
promessas de recompensa e os ttulos ao portador. Comumente, a imprensa
divulga ofertas de recompensa a quem achar e devolver a seu dono objeto
perdido. Ajexistedeterminadaapessoadosujeitopassivodaobrigao(o
promitente),paraquemocompromissoirrevogvel,antesquedeterminadaa
pessoa do sujeito ativo. Da mesma natureza o ttulo de crdito cujo
pagamentoseprometeaquemoapresente.
Atosbilateraissoaquelesque pressupem umacordode vontades: os
contratos.
Atos multilaterais so os de cuja formao participam mais de duas
partes com direitos e deveres prprios. Exemplo: a constituio de dote por
estranho,daqualparticipam,emposiesautnomas,oinstituidor,aesposae
omarido.
Outra classificao: atos principais e acessrios. Principais so os que
tm existncia prpria, autnoma. Acessrios, os que existem em funo de
outro, cuja sorte acompanham. O contrato de locao um ato jurdico
principal. O de fiana, pelo qual algum se responsabiliza pelos deveres do
inquilino,acessrio,segueodestinodoprincipal.Extintaalocao,extintaa
fiananulaalocao,nulaafiana.
Classificamse,tambm,osatosjurdicosemintervivosemortiscausa.
Osefeitos doatointervivosdevemproduzirseem vidadequemopratica,e
os dos atos mortis causa depois da sua morte. Mais numerosos so os atos
intervivos, porque praticamos os negcios jurdicos para o curso da nossa
existncia,eescassososmortiscausa,comootestamento,cujosefeitos,ata
mortedotestador,soapenaspotenciais.
Osatosjurdicos podemser,ainda, gratuitos eonerosos.Nosonerosos,
aumavantagemcorrespondeumencargo.Porexemplo:acompraevenda.O
comprador tem uma vantagem, recebe a coisa, mas tem um encargo, paga o
preo o vendedor tem uma vantagem, recebe o preo, mas tem um encargo,
entregaacoisa.Nosgratuitos,umadaspartesbeneficiriadavantagemsem
contraprestao, como a doao, transferncia no onerosa de um bem
econmicodopatrimniododoadorparaododonatrio.
5.10.3Ineficcia
Seavontadeserevelaemdivergnciacomanorma,estaflaineficaz.
declaraodeineficciachamamosnulidade.
Ateoriadasnulidadessofreuumaevoluoquedeveserrecapitulada,
semoquenoacompreenderemosnasuafeioatual.
Nos primeiros tempos do Direito romano, o conceito de nulidade era
amplo. Sea manifestao de vontadedivergiadoparadigmanormativo,oato
eranulo.Querfosseainfraograveouvenial,pertinenteessnciadoatoou
meramente ritual, a conseqncia era a mesma. A simples supresso de uma
palavra,asimplesomissodeumgestoacarretavanulidade.Tograndeeraa
importncia da forma que por ela se sacrificava at o prprio sentido da
vontade (Serpa Lopes). O Direito era ento eminentemente formalista,
resultadodoseucontatocomareligio,daqualtrouxeapompaeoritual.
Maistarde,comeouaserfeitadistinoentreinfraesgraveseleves.
Se a infrao eragrave, o atoera nulo de pleno direito se venial,a nulidade
teria de ser reconhecida atravs de uma ao judicial. Neste caso, o ato era
apenasanulvel,isto,poderiaounoseranulado,deacordocomanatureza
dafalta.
Estabeleceuse, ento, a distino entre atos nulos, que atentam contra
uminteressesocial,eanulveis,quecomprometeminteresseindividual.
O ato nulo no produz efeitos. Os seus efeitos fticos aparentes so
juridicamente inexistentes.Oanulvelproduztodososefeitos,comosefosse
vlido,enquantonodecretadaanulidade.
A nulidade do ato nulo pode ser decretada ex officio. Qualquer
autoridadejudicialcompetente,queconstateasuaexistncia,devedeclarla,
mesmosemprovocao.Adoatoanulvelsdecretadaapedidodoprprio
interessado.
O ato nulo no pode ser revalidado, definitivamente nulo. No h
remdio para a enfermidade de que padece. O anulvel pode convalescer do
vcio. A correo se faz pela ratificao. Por exemplo: um ato jurdico
praticadopormenorde21anosemaiorde16,noBrasil,apenasanulvel.Se
o menor, chegado aos 21 anos, quando poderia argir que havia praticado o
ato em idade em que por lei lhe era defeso fazlo, confirma a vontade
enunciada,oatoficaexpurgadodevcio.
A ratificao expressa, se consumada por manifestao da vontade
destinada a fazla. Tcita, se resulta de atos que demonstrem, da parte da
pessoaprejudicada,arennciaargiodafalta.
5.10.3.1Nulidade
Segundo o nosso Cdigo Civil, os atos jurdicos so nulos quando
padecem dos seguintes vcios: incapacidade absoluta do agente, ilicitude do
objeto, infrao forma prescrita, ausncia de formalidade essencial e
declaraolegal.
5.10.3.1.1Incapacidadeabsolutadosujeito.
Seoagentedoatonotemcapacidadeparapraticlooatonulo.So
absolutamenteincapazesosmenoresde16anos,osloucosdetodogneroeos
surdosmudosimpossibilitadosdeexpressarasuavontade.
Os loucos no tm o entendimento de seus atos. Sua vontade ,
portanto,juridicamenteinoperante.
Quanto surdomudez,hque distinguirentre os pacientes que podem
e os que no podem enunciar sua vontade. Sendo o ato jurdico no apenas
vontade, mas vontade manifestada, quem padece de defeito que lhe impede
exteriorizla no pode praticlo. Por isso, contrariamente, se o surdomudo
podeexpressarasuavontade,porqualquermeioaceitvel,demaneiraclarae
positiva,incapacidadenoh.
5.10.3.1.2Objetoilcito.
O conceito de ilicitude do objeto amplo. Prevalece, quando o ato
ofende a ordemjurdica, quandocomprometea moral mdia dacomunidade,
quandoimpossvelounotemobjetosrio.
5.10.2.1.2Forma
Em relao forma, a lei dispe de dois modos: permite que o ato
revista qualquer forma por ela admitida, ou prescreve para ele uma forma
especial.Seosatosparaosquaishprescriodeforma,noaassumem,so
nulos. Por exemplo: a adoo, a compra e venda de bens imveis de valor
superior a uma certa importncia, o pacto antenupcial (que dispe sobre o
regime debens paradepoisdocasamento)devemrevestirsempreaformade
escritura pblica. Se algum desses atos praticado, sem observncia dessa
forma,nulo.
Determinante da nulidade do ato , ainda, ausncia de formalidade
essencial,oque,tambm,somenteatingeosatosformais.
Para certos atos, a lei exige formalidades adequadas, pertinentes sua
essncia.Sealgumaomitida,aessnciadoatoatingida.Exemploclaroo
testamentopblico, queserealiza da seguinte maneira: o testadorcomparece
perante o tabelio, acompanhado do nmero legal de testemunhas, dita a sua
vontadequele,queredigeotextoedepois olparaotestador,afimde que
este confirme a exatido do que foi lavrado. Todas essas formalidades so
essenciais. Se alguma delas desatendida, ainda que a forma seja legal
(escriturapblica),oatonulo.
Finalmente,nulooato,sealeiassimodeclara.Nestacausaagrupam
se todas as demais que no podem ser situadas nas precedentes. A lei,
habitualmente,cominaapenadenulidadeaoatodivergentedoqueprescreve.
Ajustesentreempregadoreseempregadosemdiscrepnciacomotextodalei,
porexemplo,sosimplesmentedeclaradosnulosporela.
5.10.3.2Anulabilidade
Dois so os motivos, conforme o nosso Direito Civil, que acarretam a
possibilidadedeanulaodoato:aincapacidaderelativadoagenteeosvcios
doconsentimento.
5.10.3.2.1Incapacidaderelativadosujeito.
Relativamente incapaz o agente ao qual a ordem jurdica defere
autorizao para a prtica de algunsatosenega paraados demais, exigindo,
emrelaoaestes,oconsentimentoouaassistnciadeoutrapessoa.
PelonossoCdigoCivil,sorelativamenteincapazesos maioresde16
anosemenoresde21anos,osprdigoseossilvcolas.
O menor entre 16 e 21 anos, de ummodo geral,somente podepraticar
atosjurdicoscomassistnciadeumapessoa,paioume,seestiversobptrio
poder,tutor,sesobtutela.
Prdigo quem dissipa o seu patrimnio em despesas inteis e
sacrifica, com isso, a sua prpria subsistncia e a daqueles que dependem de
seus recursos. O direito pe o prdigo sob curatela, quanto aos atos de
negociaopatrimonial.
H um terceiro caso de anulabilidade peculiar ao direito brasileiro: a
incapacidaderelativadossilvcolas,isto,dos ndiosaindano incorporados
civilizao.Nastransaescomoscivilizados,devemserassistidosporuma
entidade de direito pblico, o antigo Servio de Proteo aos ndios, atual
FundaoNacionaldondio.
5.10.3.2.2Vciosdoconsentimento.
A anulabilidade resultante de vcio do consentimento leva em
considerao a vontade, elemento essencial do ato jurdico. Para que se lhe
atribuaeficcia,deveserinteligente,livreelcita.Inteligenteoagentedeve
saber o que est fazendolivre oagente devetera liberdade de fazer o que
estiverfazendolcitanoconflitantecomanormajurdica.
Quandoavontadeprejudicadanasuainteligncia,nasualiberdadeou
nasualicitude,dizsequeviciada.
Osvciosdoconsentimentoso:erro,dolo,coao,simulaoefraude.
Oerroeodoloatentamcontraodiscernimentodoagenteacoao,contraa
sualiberdadeasimulaoeafraude,contraalicitude.
5.10.3.2.2.1Erro.
Erro um falso conhecimento da realidade. Em Direito o vocbulo
compreende no somente o erro propriamente dito, o falso conhecimento,
comoodesconhecimento,aignorncia.
Sealgumpraticaumatojurdico,desconhecendofatoque,sefossedo
seuconhecimento,oteria levadoanorealizlo,ouseofazmalinformado,
estemerro.
Doutrinariamente, distinguese o erro de fato, desconhecimento ou
conhecimento deturpado de uma realidade, do erro de direito,
desconhecimento ou mal conhecimento de uma norma jurdica. Causa da
anulabilidade,apenas,oerrodefato.Oerrodedireitono,porqueumadas
condies de eficcia da ordem jurdica que ningum possa alegar
ignornciadalei.
No todo erro que ocasiona anulabilidade. H erro substancial e erro
acidental. Substancial o que atua como causa eficiente da execuo do ato,
demaneiraquehajaacertezadeque,semerro,aquelenoseteriaverificado.
Oerrosubstancialagecomocausadeterminantedamanifestaoda vontade.
O acidental no. O ato ocorreria, mesmo sem erro, embora sob outra
modalidade. vcio leve, que no compromete a vontade e no causa
anulabilidade.
Herrosubstancial quandoele incidesobreanaturezadoato,oobjeto
dadeclarao,ouqualidadeessencialdepessoaoucoisa.
Incidesobreanaturezadoatoseoagentedeumatojurdicosupeque
est praticando diverso. Exemplo: assina um documento de doao, na
suposiodequeestfazendoumemprstimo.
O erro incide sobre o objeto da declarao, se o agente declara a sua
vontade, julgando que est se referindo a um objeto e, na verdade, o est a
outro.
O erro relativo a pessoa ou coisa quando diz respeito a alguma
qualidadeessencialdelas.Secomproumobjeto,cujaqualidadeservirauma
certa finalidade, e a ela no serve, a sua essencial qualidade no existe. Se
firmo relao jurdica com uma pessoa, ignorandolhe defeito que, acaso
conhecido,meterialevadoanoconstitula,h,igualmente,erro.
Noteseque,nosegundocaso,oerrospodeserargidoseaqualidade
dapessoarelevanteparaoato.
Seingressonumestabelecimentocomercialecomproumobjeto,pouco
importaquemsejaovendedor.Aoadquirilo,noofizpelassuasqualidades,
simpelasdoobjeto.
Atos, porm, h em que a qualidade da pessoa decisiva para a
afirmao do consentimento. Exemplo tpico o casamento. A ignorncia,
anterioraocasamento,decertascondiespersonalssimasdooutroconsorte,
tais como as relativas sua sade fsica e mental, sua fama e honra, cujo
conhecimentoulteriortorna insuportvelavidaconjugal, autorizaaanulao
doconsrcio.
Alis,nos pases cujalegislao noadmiteodivrcio,ateoriadoerro
essencial, nas palavras de Loureno Mrio Prunes, uma vlvula cuja
manuteno deve ser preservada zelosamente, porque somente ela permite
mitigarsituaesdolorosas,poroutraforma,irreparveis.
5.10.3.2.2.2Dolo.
Odolo,vcioqueprejudica ainteligncia doagente,deentendimento
toamploquenopodesercontidonumadefinio.todamanobraastuciosa
que leva algum a efetivar um ato contra seu prprio interesse, em benefcio
do agente ou de terceiro. So seus elementos, consoante aponta Afonso
Dionsio da Gama, a astcia, a trapaa, a finura, o artifcio, as manobras, as
dissimulaes insidiosas, as palavras e simulaes calculadas, o emprego de
falso nome ou falsa qualidade, a alegao de falsos empregos, de poder, de
crditoimaginrio,aexcitaodasesperanasoutemoresquimricos,oabuso
deconfianaeoabusodacredulidade.
Odolopodeserprincipaleacidental,correspondendoestaqualificao
mesmaquesefazdoerro,emsubstancialeacidental.Seaastciadoagente
levouopacienteaefetuaroato,demaneiraquesejalcitojulgarque,semela,
o ato no teria sido concretizado, h dolo substancial. Se, diversamente,
chegamos certeza de que, mesmo sem ocorrer malcia, o ato terseia
celebrado, embora sob outra modalidade, o dolo acidental. Apenas na
primeirahipteseoatoanulvel.
Hsemelhana entredoloeerro.Bastanotarqueamboscomprometem
a inteligncia da vontade. A distino bsica est em ser o erro um estado
naturaleodolo,umestadoprovocado.
O dolo dse por ao e por omisso. Quando o agente inculca falsa
motivao para a realizao do ato, h dolo por ao. Quando oculta
informao que, se conhecida do paciente, este no praticaria o ato, o dolo
poromisso.
O dolo pode ser praticado por uma das partes do ato em benefcio
prprio,comoem benefciodeterceiro, ou porterceiro em benefciodeuma
daspartes.
Em caso de dolo recproco, o ato no sofre de vcio. Duas pessoas
enganandose reciprocamente, sendo ambas, ao mesmo tempo, agente e
pacientedo dolo,dseacompensao.Oatojurdicovlido,porqueaboa
fcondioparaqueseinvoquevciodeconsentimento.
5.10.3.2.2.3Coao.
A coao atenta contra a liberdade da vontade: o agente pratica o ato
sujeitoaconstrangimentofsicooumoral.
Fsico, se sob ameaa de um mal fsico moral, se sob ameaa de um
dano moral. Se algum, ameaado de sevcia, pratica um ato jurdico, h
coao fsica. Se o faz sob ameaa de chantagem, h coao moral.
AcertadamenteassinalaOrosimboNonato(1891),oquecaracterizaacoao
aameaadomaleotemorqueelainspira.
5.10.3.2.2.4Simulao.
Asimulaoeafraudedesacatamrequisitoessencialparaqueavontade
afinecomaordemjurdica,odalegalidade.
O ato simulado apresenta exterioridade distinta do seu fundo. A
aparncia uma, a realidade outra. Simular, at mesmo gramaticalmente,
criarumaaparnciaquenocondizcomarealidade.ComoescreveFrancesco
Ferrara(1908),asimulaonoperdeasuanaturezavulgar,aopassarparao
mundo do Direito. Ela no engendra uma realidade, mas uma fico de
realidade.
O ato jurdico ressentese desse vcio. As partes podem fingir que
praticamumnegcio,pretendendoresultadodiversodoaparente.
Seonegcioquesedisfarasobaaparnciadeoutronocausaprejuzo
aningum,asimulaoinocente,nosuscitaanulabilidade.Exemplocitado
porEduardoEspnolaodopaiquesimulainsucessofinanceiro,prejuzonos
negcios, perda de seu patrimnio, para corrigir o filho que lhe esteja
dissipandoafortuna.
Asimulaodeterminaaanulabilidadedoatoquandoocasionaprejuzo
deoutrapessoa.ocasododevedorinsolventeque,parapouparseusbensdo
pagamentodeseusdbitos,simulavendlos.
5.10.3.2.2.5Fraude.
A fraude, em algumas legislaes, tem sentido muito extenso,
qualificandotodososprocedimentosatentatriosadireitosalheios.NoDireito
brasileiro, a expresso tem significao restrita. Nosso Direito Civil Positivo
nosereferesimplesmenteafraude,mas,analticaeespecificamente,fraude
contracredores.
O ato cuja finalidade causar prejuzo aos legtimos interesses do
credorfraudulento.
NasistemticadonossoCdigoCivil,fraudecontracredoresatoque,
comprejuzodoscredores,tornaodevedorinsolvente,ouque,comomesmo
fim, cometido por devedor insolvente. insolvente o devedor cujo ativo
patrimonial,isto,suasdisponibilidadeseconmicas,inferioraseupassivo.
Empalavrassimples,quemdevemaisdoquetemparapagar.
Cumprea uma pessoaqueestejanasituao de insolvnciaresguardar
seu patrimnio para no lesar seus credores. Todos os atos que importam
desfalquepatrimonialouocasionemprejuzoaoscredoresconstituemfraude.
Por exemplo, o devedor notemquanto baste para pagar oque devee
ainda faz doao de um bem, ou d quitao gratuita de um crdito.
Fraudulento,tambm,oprocedimentodequemtemcredoresquirografrios,
isto , com ttulos sujeitos a rateio (pagos em proporo ao resultado
pecunirio que seaufere pela alienaodopatrimnio do devedor),que,para
beneficiarumdeles,dlheumahipoteca,ttuloqueprefereaosdemais.
primeira vista, parece que existe similitude entre a simulao e a
fraude. A distino est em que na simulao o ato no existe, mera
aparncia, ao passo que na fraude o ato real, efetivamente se realizou, tal
comoaparentaterserealizado,apenasasuafinalidadeilcita.
5.11SUJEITODEDIREITO
Se a norma jurdica dirime conflitos intersubjetivos de ao, s h
relao jurdica entre pessoas. Nem a prpria relao de direito real se
estabelece entre pessoa e coisa, que podem estar em relao, mas nunca
jurdica, porque o Direito s cogita de relaes humanas, conflitos ou
situaesentrepessoas.
Arelaojurdica sempreaconjugao deumdireitoedeumdever.
Vista emumadas faces, se apresentacomodireito,e, em outra,comodever.
Num dos seus extremos est o titular do direito, no outro, a pessoa obrigada
pelo dever. O titular do direito o sujeito ativo da relao, e a pessoa
obrigada,osujeitopassivo.
O sujeito passivo em alguns casos determinado. Assim nas relaes
obrigacionais ou creditrias. Em outros, indeterminado, a totalidade das
pessoasestranhasaodireitodosujeitoativo.Oexemplotpicoodosdireitos
reais.
5.11.1Personalidade
Sujeito ativo e sujeito passivo esto compreendidos na expresso mais
ampla pessoa.
Oconceitojurdicodepersonalidadeinconfundvel.Apsicologiadizo
que a pessoa, a moral igualmente nos d o seu conceito. Entretanto, o
conceitojurdicoautnomounicamenteanormajurdicadizquempessoa.
5.11.1.1Problemas
A abordagem terica do conceito de pessoa leva a um problema
controvertido. Na raiz dessa divergncia est a multiplicidade de posies
assumidas.Convmenumerarasprincipais.
Quatroindagaesfundamentaispodemserfeitas.
Primeira: que pessoa? A resposta cabe teoria geral do Direito. No
se indaga quempessoano Direitobrasileiro e no argentino, e,sim,sobreo
conceito de pessoa, o que justifica a resposta: o ente capaz de exercer
direitos e assumir compromissos. Qualquer que seja ele, se uma ordem
jurdica outorgalhe qualificao para exercer direitos e assumir
compromissos, uma pessoa. Esse conceito vlido para qualquer Direito
Positivo,atual,passadooufuturo.
Segunda: quais so as pessoas? Esta indagao se faz no plano da
dogmtica jurdica. Ela ter tantas respostas quantas forem as diferentes
enumeraes que os ordenamentos jurdicos positivos fizeram dos entes que
reconhecemcomopessoas.
Terceira:qualoserdaspessoas?Seaordemjurdicaatribuiaumente
acondiodepessoa,elaoconfereaumser.Seaconcedeaohomem,eleo
ente personificado, como ser biolgico, psicolgico e social. E nas
associaes,qualoentequerecebeoatributo?Oquenelaspersonificado?
Qualoseuser?Estainquirio,arigor,nopertenceaocampodequalquer
disciplinaexclusivamentejurdica.
Quarta: quem deve ser a pessoa? Esta interrogao leva o problema a
um plano superior, filosfico, de poltica legislativa, ou de ideologia social.
Quando, no Brasil, se desenvolvia a campanha abolicionista, os seus
promotorespretendiamqueosescravostambmfossempessoas.
Estudaremos a matria apenas em dois ngulos: o da teoria geral do
Direitoeodadogmticajurdica.
Pessoa o ente ao qual a ordem jurdica reconhece aptido para o
exerccio de direitos e a assuno de compromissos. pessoa o homem, a
quem denominamos pessoa natural ou fsica. Alm dele h outros entes que
tambmpodemexercerdireitoseassumircompromissos:aspessoasjurdicas.
5.11.2Pessoanatural
Todohomemrecebedaordemjurdicafaculdadeparaexercerdireitose
assumircompromissos.
Essa afirmativa vlida para o nosso tempo, porque nem sempre foi
assim. Houve homensqueno erampessoas:os escravos.Eramcoisas, logo,
objetos e no sujeitos de direito. A escola egolgica de Carlos Cossio e seus
seguidoresnegaordemjurdicapositivaarbtriototalparaindicarquemseja
pessoa, por no admitir que se possa recusar ao homem tal qualificao. Por
issooescravoteriaopoderdeinordinao:direitodecumpriroprpriodever.
Se a ele no se negava esse direito, era pessoa, visto no poder haver direito
quenosejadeumapessoa.
Parece discutvel a concluso. A rigor, o escravo no tinha direito de
cumprir o dever, porque lhe faltava a faculdade de, molestado na execuo,
obter proteo jurisdicional. Logo, no era um direito, pois no h direito
subjetivo sem garantia paralela. Da dizer Alexandre Gorovtseff que, no
homem,osujeitodedireitonoelemesmo,comosercapazdevolies,mas
asuavontadeabstratamenteconsiderada.
5.11.2.1Durao
A personalidade da pessoa fsica comea com o nascimento com vida.
Nobastaserexpulsodoventrematerno,precisonascercomvida.
Oconceitodevidanopertence ao Direito,quecomo taladmiteo que
assiminformadopelascinciasnaturais.
Outrora, a aquisio da personalidade dependia de outros requisitos,
como, por exemplo, a aparncia humana e a viabilidade. O novo ser no
deveriaserdisforme,monstruoso.Esenasciaemcondiestoprecriasque
autorizavamacertezadequelogomorreria,senoeravivel,aordemjurdica
lhenegavapersonalidade.
A doutrina para o qual o princpio de durao da personalidade o
nascimento contestada por alguns civilistas, que entendem deva aquele
momento remontar concepo. A tese foi patrocinada no Brasil, inclusive
por Clvis Bevilqua (18591944), invocando diversas razes, entre elas a
puniodoabortoprovocadoeanoexecuodamulhergestante,nospases
emquehapenademorte.
A teoria defendida por Clvis Bevilqua no prevaleceu no Cdigo
Civil,conquantoestedispenseproteoaonascituro.
Amorteotermodeduraodapessoafsica.
O conceito de morte no jurdico, mas mdicolegal.
Tradicionalmente, caracterizava o fato a cessao dos batimentos cardacos.
Hoje,amedicinainclinaseaaceitarcomofimdavidaacessaodaatividade
cerebral.Dequalquermaneira,oproblemanojurdico.Ofatocaracterizado
pelacinciacomootermodavidaouquevenhaacaracterizlo,acarretara
conseqnciajurdicadeporfimduraodapessoafsica.
Olimitededuraodapessoafsicaensejaoutrosproblemas.
5.11.2.2Mortecivil
Alguns ordenamentos jurdicos positivos admitiam a morte civil. A lei
declaravamortaapessoaaindabiologicamenteviva.
Assim,porexemplo,noDireitoportugus,aotempodesuavignciano
Brasil,osservos depenaeramprivados detodososatoscivis. Nopodiaum
condenadoadquirirbens,eosquejpossuasetransferiamaosseusherdeiros
oudiretamenteaofisco. ODireitofrancstambm incluaa mortecivilentre
suasinstituies.
5.11.2.3Comorincia
Fatoque merece referncia ocorrequandodiversas pessoas morremno
mesmo evento, ou, mais amplamente, ao mesmo tempo, sem que se possa
determinar qual delas faleceu antes. Sendo todas estranhas entre si, isso no
geraconseqncias.Mas,separentes,osherdeirosdaquesobreviveuherdam
os bens da que morreu primeiro. A essa morte simultnea ou aparentemente
simultneachamamosdecomorincia,freqentenosacidentesemtransportes
coletivos.
No Direito romano e no francs prevaleciam, em tal circunstncia,
presunesdesamparadasdeapoiocientfico.Noprimeiro,seoscomorientes
eram ascendente e descendente, presumiase aquele falecido antes, se
impbere, ou depois, se pbere. No Cdigo Civil francs, se os falecidos
tivessem menos de 15 anos de idade, presumiase haver o mais velho
sobrevivido se tivessem mais de 60 anos, presumiase haver sobrevivido o
mais moo se um tivesse menosde15eoutromais de 60 anos, presumiase
sobreviventeoprimeiroetc.
NoDireitobrasileiro,hpresunodesimultaneidade.Sevriaspessoas
morrem, sem que se possa definir qual morreu antes e qual depois, supese
quetodastenhamfalecidoaomesmotempo.
Mas h presunes absolutas e relativas. A lei impe as absolutas e
contra elas no admite prova contrria, mesmo que a evidncia as desminta.
As relativas subsistem enquanto no so desmentidas pela prova. que, em
relao a elas, como escreve Carlos Martinez Silva, o objetivo da norma
apenas resguardar direitos ou estabelecer um ponto de partida para as
indagaes que se faam para o descobrimento da verdade, razo pela qual
no exclui a possibilidade de se comprovar a falsidade do fato que ela
presume.
A presuno de simultaneidade de bito na comorincia relativa. Se
provadoqueumapessoasobreviveuaoutra,aprovapredomina.
5.11.2.4Ausncia
H ainda um caso ligado ao fim de durao da pessoa natural, o da
morte presumida. A quem se afasta do seu domiclio, sem dar notcias, a lei
declaraausenteepresumidamentemorto.
No Brasil, a sucesso do ausente abrese dois anos depois, se no
deixou procurador, e quatro depois, se deixou. Essa sucesso provisria. A
transmissodopatrimniodoausentefeitacomcautelas,paraahiptesede
eleaparecer,epoderrecuperaros seus haveres. Asucessopassaadefinitiva
emduascircunstncias:20anosapsaaberturadasucessoprovisria,ouem
prazo menor, se o ausente contar 80 anos de idade e as suas ltimas notcias
dataremdemaisdecinco.
5.11.2.5Sinaiscaractersticos
A pessoa natural tem um sinal caracterstico de sua identificao, o
nome, elemento de seu prprio conhecimento, o qual, observa Limongi
Frana, como a designao dos objetos, torna conhecidos os respectivos
titulares.
Nosregimesdenobrezahoutrossinais:osttulos.
O nome distingue uma pessoa das demais. Compese de dois
elementos: o nome propriamente dito, nome de famlia, e o prenome,
habitualmente chamado nome de batismo, que identifica a pessoa como
indivduo.
5.11.2.6Estado
Estadodapessoafsicaasuacondiojurdicageral,comosujeitode
direito. AssimoconceituamEduardoEspnola(18751967)eEspnolaFilho,
demaneiraclaraeampla.
O estado definese em funo de trs situaes principais: poltica,
familiar e individual. Outras circunstncias so significativas apenas para
certosordenamentosjurdicos.
Oprimeiroelementodeterminadordoestadocivilacondiopoltica,
ou de cidade. Sob esse aspecto, as pessoas so nacionais e estrangeiras, e,
sendonacionais,nacionaisdeorigemenacionaisnacionalizadas.Sernacional
quase sempre importa usufruir vantagens negadas ao estrangeiro. O nacional
tem direitos que o naturalizado e o estrangeiro no tm, e ainda outros,
juntamentecomonaturalizado,queoestrangeironotem.
Houve poca em que a qualificao nacional e estrangeiro quase
desapareceu como elemento modificador do estado civil, principalmente
durantepartedosculoXIXeasprimeiras dcadasdoatual.Deumtempoa
estaparte,porm,ressurgemnovasformasdenacionalismo,esemprequeeste
se exacerba acentuase a diferena. A influncia da nacionalidade no estado
varia de acordo com as necessidades de um povo, seu nvel de
desenvolvimentoe,especialmente,ascircunstnciasdapoca.
Tambm a condio familiar determina o estado civil. Importante a
relativa ao casamento. O maior solteiro pode praticar todos os atos da vida
civil, j o casado no pode praticar alguns sem o consentimento do outro
cnjuge,como,porexemplo,aalienaoeaoneraodebensimveis.
No Direito brasileiro, a modificao do estado pelo casamento, em
relao mulher,durante algum tempofoi to marcantequeonosso Cdigo
Civilincluaamulhercasadaentreosrelativamenteincapazes.Recentemente,
aleiampliouasuacapacidade,oseupoderdecomandonafamliaeeliminou
adaquelerol.
H circunstncias estritamente individuais que tambm determinam o
estadodapessoa:idade,sexoesade.
Todaordemjurdicafixaum momentoemquepresumehaverapessoa
atingido o nvel pleno do seu desenvolvimento intelectual, estando em
condiesdedispordesimesmaedeseusbens.Aduraodaidadedividese
emdoisperodos:um,antesdestemomento,e,outro,apartirdele. Operodo
anterior o de menoridade o posterior, o de maioridade. Assim, as pessoas,
quantoidade,podemsermenoresemaiores.Osmenoressoincapazese,os
maiores,capazes.
A menoridade, que em nosso direito cessa aos 21 anos, gera
incapacidade absoluta, at certo momento, e relativa, desse momento at a
maioridade. O nosso Cdigo Civil distingue entre menores impberes, de
menos de 16 anos, e menores pberes, entre 16 e 21. Os primeiros so
absolutamente incapazes e os segundos, apenas relativamente. A adjetivao
pbereseimpberesjuridicamenteimprpria,porquenoapuberdadeque
determinaacessaodaincapacidadeabsoluta.
A idade tambm, pode modificar o estado, desde que muito avanada.
IstonoocorrenoDireitobrasileiro.Seelacomprometeodiscernimento,este
fato modificar o estado, no pela idade em si mesma, sim pelas suas
conseqnciasemrelaosadedapessoa.
Quanto sade, as pessoas normais e anormais, mediante os padres
mdios e estatsticos aos quais se referem os respectivos conceitos. No
tratamosaquidesadefsica.Nenhumaenfermidadefsicamodificaoestado,
a no ser que comprometa rgo essencial manifestao da vontade, como
na surdomudez. So, para o direito, o indivduo que tem discernimento
para,com intelignciae liberdade,afirmara sua vontade, governandose a si
prprioegerindoosseusbens.Quemsofredeumaafecomentalque,como
dizNinaRodrigues(18621906),importaalienaodacapacidadecivil,oude
leso fsica que lhe incapacite a vontade, tem seu estado modificado, em
funodessasanormalidades.
Osexo,atualmente,deixoudesercausamodificadoradoestado,porque
acondiojurdicadohomememulherparitria.Noentanto,durantemuito
tempofoi vedada mulher a prticadenumerosos atos e oacesso a diversas
atividades.
Outrascircunstnciassoprpriasdecertosordenamentosjurdicos.
NoBrasil,asituaodossilvcolasalteralhesoestado.
A raa, em alguns pases, motivo altamente modificador do estado.
Basta citar o exemplo da frica do Sul e os exemplos, ainda recentes, da
AlemanhahitleristaedaItliafascista.
5.11.2.7Capacidade
A noo de capacidade, embora simples, deve ser bem compreendida
paraevitarconfusocomadepersonalidade.
Pessoa um ser ao qual a ordem jurdica outorga um atributo, que a
faculdade de ter direitos e obrigaes. Esse atributo chamase personalidade.
Oser,qualificadopelaordemjurdica,passaapessoa.
A soma dos direitos no a mesma para todas as pessoas, mas varia
segundodeterminadamedida.Estamedidaacapacidade.
Todos os homens so pessoas, tm personalidade, mas nem todos tm
capacidade.Hostotalmenteprivadosdela,algunscomrelativaeoutroscom
plena.Capacidadeamedidadospoderescontidosnapersonalidade,noada
personalidade,queigualparatodos.
Apessoatemdireitosedeveres.Sepodeexerclosdiretamente,porsi,
semrestrio,terplenacapacidadesesalguns,tercapacidaderelativase
nenhum,nenhumacapacidadeter.
Em qualquer caso, sempre pessoa. Um incapaz tem direitos sobre
imveis, masnopode vendlos, gravlosoualuglos.Tempersonalidade,
nocapacidade,pornopoderexercerporsiosdireitosdequetitularcomo
pessoa.
Pessoa o ente personalidade, o atributo capacidade, o exerccio
efetivodosdireitosedeveresencerradosnapersonalidade.
Outrora, faziase distino entre capacidade de direito e capacidade de
fato,capacidadedegozoecapacidadedeexerccio.
Chamavase capacidade de direito e capacidade de gozo ao que
chamamoshojepersonalidade.
A pessoa pode ser absolutamente incapaz, relativamente capaz (e
relativamenteincapaz)ecapaz.Seabsolutamenteincapaz,nopodepraticar
atoalgum. Se tiver quepraticar umatohaverque fazlo por intermdio de
pessoa que a representa: o filho menor impbere representado pelo pai, o
menor sob tutela, pelo tutor, e o maior sob curatela, pelo curador. Se
relativamenteincapaz(erelativamentecapaz),podepraticaralgunsatos,mas,
emrelaoaoutros,terdeserassistidoporoutrem:ofilhomenorpelosseus
pais,otuteladopelotutor,ocurateladopelocurador.
5.11.3Pessoasjurdicas
Comojvimos,aspessoaspodemserfsicasounaturais(oshomens)e
jurdicas (entidades que tambm podem exercer direitos e assumir
compromissos).
O Direito brasileiro tem adotado, com uniformidade, a denominao
pessoa jurdica para indicar os entes que, no sendo homens, recebem
qualificao pessoal. uma entre muitas das designaes originrias do
Direito alemo. Mas j as chamaram de pessoas morais, expresso preferida
pelos franceses e belgas. Alm dessas duas denominaes, encontramos
outras, como pessoas fictcias, pessoas coletivas, pessoas ideais, pessoas
abstratasetc.
5.11.3.1Teorias
O estudo da pessoa jurdica suscita problemas, dos quais o mais
importantenadoutrinaestnestasinterrogaes:qualoseuente?Oquenela
recebepersonificao?
Em se tratando de pessoas fsicas, a resposta bvia: o prprio
homem. Se de pessoas jurdicas, cuja realidade no corprea, a resposta
difcil.
Hteoriasquenegamasuasubstancialidade,julgandoasmerasfices
dedireito(Savigny,ScheideAloisvonBrinz(18201887))
Hteoriasquenegamasuaexistncia,comoentesdistintosdaspessoas
fsicasqueas compem,afirmandoqueosverdadeirostitularesdosdireitose
deveressoestas(Jhering).
H teorias que afirmam a sua substancialidade, isto , que tm uma
realidadeprpria(ZitelmanneOttoFriedrichvonGierke(18411921)).
AindahateoriadeKelsen,discordantedascitadas.
5.11.3.1.1Teoriadafico
Ateoriadafico,cujorepresentantemais autorizado Savigny, parte
da idia de que todo direito existe em funo da liberdade inata do homem.
Assim, reconhecer direitos importa reconhecer a existncia de seres dotados
devontade.Eonicoentedotadodevontadeohomem.Logo,somenteele
sujeitodedireitos.
Pode o Direito Positivo, porm, negar capacidade a certos homens,
como fez em relao aos escravos, e conferila a entes que no so homens.
Nosegundocaso,aregracriaartificialmenteumsujeitodedireitos,atravsde
uma fico. Da resulta a definio de pessoa jurdica, para a escola: um
sujeitocriadoartificialmente,capazdeterumpatrimnio.
evidentequetalteoriaconduzdiretamenteaoutradaqualWindscheid
foi exmio defensor, a da existncia de direitos sem sujeito. A respeito da
pessoa jurdica, dizia seu patrono, os direitos no tm sujeitos, destinamse
simplesmenteaservirafimimpessoal.
FrancescoFerrara,paraquemoprolongadoprestgiodateoriadafico
devese fora da tradio, maravilhosa simplicidade e lgica com que
enfrenta o complexo problema, fazse, alm de outros, dois reparos
fundamentais:
a) o homem no sujeito de direitos simplesmente porque dotado de
vontade, tanto assim que seres juridicamente desprovidos de vontade,
comoascrianaseosalienados,sosujeitosdedireitos
b) contrriaaoensinamentodahistria,que nos mostraqueos direitos,
antesdeseremconferidosaosindivduos,oforamaosgrupos.
5.11.3.1.2Teoriapatrimonial
Brinz considera as pessoas jurdicas patrimnios sem sujeito. No h,
como supomos,duas classesdepessoas,as naturaisoufsicas, easjurdicas.
Oquehqueopatrimniopodeserdeumsujeitoeserdeningum.
Napessoanaturalhumvnculoentrebenseumapessoanajurdica,o
patrimnio est liado a um fim, que, sendo socialmente importante, a ordem
jurdicaprotege,comosefosseopatrimniodealgum.
A teoria de Brinz, que supe a existncia de direitos sem sujeitos,
encerraumentendimentocujadeficinciamaiorconsistaemnoseraplicvel
spessoasjurdicasprivadasdepatrimnio.
5.11.3.1.3Jhering
Comoantesvimos,Jheringcontestouseravontadeoelementoessencial
do Direito Subjetivo, conferindo tal papel ao interesse. Sujeito de direito
quempodepretender,noquerer,sim gozar.oenteaquemaordemjurdica
destinaautilidadedeuminteresse.
Como qualquer concepo que se tenha quanto natureza da pessoa
jurdicaestinelutavelmenteligadaquesefaadedireitosubjetivo,decorre
que, com fundamento naquelas premissas, Jhering conclui que, no caso das
pessoasjurdicas,osdireitosnaverdadeaproveitamaosseus membros,sendo
estes,noela,seusverdadeirosdestinatrios.
Quandovriaspessoastmdireitoseobrigaescomunsoseuexerccio
tornase difcil. A dificuldade removese pelo expediente meramente tcnico
de conceblas como se formassem, em conjunto, um ente distinto, uma
pessoajurdica.Nopassaesta,portanto,deumaformadeapropriaodeum
patrimnioaosinteressesefinsdeumgrupodeindivduos.
5.11.3.1.4Teoriarealistadavontade
AteoriadeZitelmann,cujosuportefilosficoidealista,pretendeque,
quandovriosindivduosserenemdemodopermanente,paraarealizaode
um mesmo fim, formase uma unidade autnoma, completamente nova e
distinta dos indivduos que a compem, possuindo as qualidades individuais
comunsaosseuscomponentes.
Paralelamente,destaca ofatodequeoconceitodepessoanocoincide
com o de homem, mas com o de sujeito de direito, e, assim, no lhe
imprescindvel a corporalidade, mas a aptido para querer. Portanto, onde
quer que haja essa aptido, ainda quando no reunida a um ente corpreo,
devesereconheceraexistnciadeumapessoajurdica,poisaqualquerpessoa
correspondesempreumavontade,nemsempreumcorpo.Aspessoasjurdicas
seriamverdadeirasvontadesincorpreas.
5.11.3.1.5Teoriaorganicista
Gierke, seu mais ldimo representante, v as pessoas jurdicas como
entescoletivosreaisorganismossociais,providosdevontadeedecapacidade
deagir,distintadavontade edacapacidadedos indivduos. Noselhes pode
deixarde reconhecer a qualidadedesujeitos de direitos. A regra jurdica no
oscria,tmrealidadeprpria.
teoria organicista filiase o jurista brasileiro Francisco de Paula
LacerdadeAlmeida(18501943),aindaquecomoriginalidade.Paraele,uma
pessoa jurdica, tal qual outra humana, tem corpo e alma. O corpus, nas
associaes,umacoletividademais ou menosampla,e,nasfundaes,uma
pessoa ou grupo reduzido. O animus a meta a que as pessoas jurdicas se
dedicam.Nasassociaes,ofimcomumquecongregaosseuscomponentes.
Nas fundaes, a finalidade para a qual o seu instituidor destinou o
patrimnio.
5.11.3.1.6Kelsen
Kelsen,fielperspectivaexclusivamentenormativista,ponderaque,no
campo estrito da cincia do Direito, a noo de personalidade corresponde
de uma realidade exclusivamente jurdica. Pessoa simplesmente a quem se
aplica a proposio jurdica, a quem se imputam deveres. Entre os conceitos
dehomemepessoanohqualquerligao,eainvestigaosobreosubstrato
realdaspessoasrigorosamentedescabida.
A anlise da pessoa, feita sem idia preformada, mostra que, quando
convergimosaatenoparatalobjetivo,encontramosapenascertaquantidade
de deveres e direitos referidos a um mesmo foco. Se usamos de um
substantivo para citar aquela realidade, como se esta existisse independente
dos direitos e dos deveres constatados, fazmolo nos servindo de uma
expresso unificadora, que no se refere a qualquer entidade real. Assim, o
conceito de pessoa expressa a unidade de uma pluralidade de deveres e
direitos, o que eqivale a dizer que traduz a unidade de uma pluralidade de
normasqueestatuemessesdireitosedeveres.
Pessoafsicaexpressounitriadasnormasqueregulamacondutade
um homem. Jurdica expresso unitria de um complexo de normas que
regulam a conduta de vrios homens. Ora a personificao de uma ordem
parcial(estatutodeassociao),oraapersonificaodeumaordemtotal,uma
comunidade jurdica compreensiva de todas as comunidades parciais (o
Estado).
Quandoaordem jurdicafacultaumapessoajurdica,istosignifica que
ela converte em direito ou dever a conduta de um homem, sem determinlo
individualizadamente. A determinao fica delegada a uma ordem jurdica
parcial (o estatuto, por exemplo). H, ento, uma obrigao e um direito
mediatos da conduta de um indivduo por intermdio de uma ordem jurdica
parcial.
Asnormasque,naexpressocorrente,obrigamoufacultamumapessoa
jurdica,somentedefinem oelementoobjetivo(fazeroudeixardefazer),no
o subjetivo (que indivduo deve prestar a conduta), cuja determinao fica
delegadaaumaoutranorma(aindaoestatuto,porexemplo).
Os direitos e deveres da pessoa jurdica so direitos e deveres de
indivduos, embora estes os tenham no individualmente, sim coletivamente.
E o patrimnio de uma pessoa jurdica , na verdade, dos homens que a
formam, embora dele no possam dispor, como podem dos seus bens
particulares,porquesosujeitosaumaordemjurdicaparcial.
5.11.3.2Classificao
AspessoasjurdicassodeDireitoPblicoedeDireitoPrivado.
SodeDireitoPblicoasqueexercematividadepblica.SodeDireito
Privadoasquepromovemarealizaodeinteressesparticulares.
AspessoasjurdicasdeDireitoPblicosodeDireitoPblicoexternoe
deDireitoPblicointerno.Seapessoaseprojetonoplanointernacional,asua
personalidade de direito pblico externo, se no plano nacional, de direito
pblicointerno.
Aspessoasdedireitopblicoexternosoos Estados,tomadaapalavra
no sentido poltico geral e no no restrito como possuiemnossaorganizao
poltica, e outras entidades que atuam no plano internacional, a sua
personalidade de direito pblico externo, se no plano nacional, de direito
pblicoexterno,senoplanonacional,dedireitopblicointerno.
As pessoas de direito pblico interno, entidades que operam no plano
nacional, so aquelas cuja existncia decorre da organizao poltica e
administrativadecada Estado. NoBrasil: aUnio,osestados,os municpios,
asautarquias,ospartidospolticos,etc.
Pessoasdedireitoprivadoso:
a) associaescivis
b) sociedadescivisemercantis
c) fundaes
O nosso Cdigo Civil, assinala Yara Muller Leite, no estabeleceu
distino propriamente entre sociedade e associao civil, reservada esta
denominaoparaassociedades defins noeconmicos.Porisso,segundoa
suasistemtica,todasaspessoasdedireitoprivadopodemserreduzidasadois
grupos:
a) civis(associaescivis,sociedadescivisefundaes)
b) mercantis(sociedadescomerciais).
As entidades civis distinguemse das mercantis em funo do seu fim
especfico, ou de expressa disposio de lei. Mercantis so as que exercem
atividadecomercial,ouasqueassimaleimanda.Civis,asquenoseocupam
de atividades mercantis, ou melhor, que operam numa atividade civil por
natureza.
Aspessoascivisso:
a) associaes civis, isto , corporaes que visam realizao de fins
ideais(culturais,religiosos,recreativos,etc.)
b) sociedades civis, corporaes que visam realizao de fins
econmicos(servios,etc.)
c) fundaes, patrimnios destinados realizao de uma finalidade
expressa.
Problemtica, s vezes, a distino entre sociedades civis (entidades
quevisamafinslucrativos)esociedadesmercantis,semprelucrativas.
Planiol e Georges Ripert (18801958) adotam o critrio seguinte: se a
atividadeaquesepropeasociedade,quandoexercidapeloindivduo,civil
por natureza, civil ser a sociedade que a desempenhar. Exemplo: o ensino,
profissionalmenterealizadopeloindivduo,umaatividadelucrativacivilpor
natureza. Se uma sociedade o explora, ser civil, ainda que sua forma seja
mercantil.
Associedadesmercantis assumemvriostipos,cujaespecificaocabe
ao direito comercial. Indicaremos, aqui, os grupos bsicos: sociedades de
responsabilidade ilimitada e sociedades de responsabilidade limitada. Nas
primeiras,opatrimniodossciosresponde,subsidiariamente,pelosencargos
sociais. Se os bens de uma sociedade desse padro no bastarem para o
ressarcimentodesuasdvidas,seuscredorestmafaculdadedelanarmodo
patrimnioparticulardosscios.Nassociedadesderesponsabilidadelimitada,
a situao diversa. A garantia nica dos encargos sociais o prprio
patrimniodasociedade,norespondendoossciossenopelaintegralizao
desuaparceladecapital.Osbensparticularesdossciosnorespondem,nem
mesmo subsidiariamente, pelas dvidas da sociedade. Atualmente, mais
comumotipodesociedadelimitada.
5.11.3.3Durao
As pessoas jurdicas tm comeo e fim, semelhana das pessoas
fsicas.
Asdedireitopblicoexternopassamaexistirapsseureconhecimento
pelacomunidadeinternacional.
AsdedireitopblicointernoexistemdesdeadatadaConstituioouda
leiqueasinstitui.
O comeo da personalidade das pessoas jurdicas de direito privado
ocorrenadatadoregistrodoseuatoconstitutivonorgocompetente.Paraas
pessoas jurdicas civis, o registro, no Brasil, o de ttulos e documentos, e
para as pessoas jurdicas mercantis, o das juntas de comrcio. Serpa Lopes
recorda a profunda diferena que existe entre o registro das pessoas naturais
(nascimento, morte, casamento, adoo, filiao e tutela) e o das pessoas
jurdicas.Aqueledecorredanecessidadedeosfatosregistradosnoficarem
merc da memria dos interessados ou certificados por qualquer dos modos
admitidoscomomeiosdeprova,enquantoqueesteformalidadesubstancial,
indispensvelmesmo,paracomunicarpersonalidadeaoente.
Os Estados, como pessoas jurdicas de direito pblico externo,
extinguemsepelaanexaoaoutrosEstados.
Outras entidades de direito pblico externo desaparecem por fatos que
lhes retiram legitimidade, como aconteceu com a antiga Sociedade das
Naes,depoisdaIIGuerraMundial.
A durao das pessoas de direito pblico interno cessa na data da
Constituiooudaleiqueassimodeclare.
As pessoas de direito privado extinguemse de vrios modos. As
associaes, por dissoluo voluntria, dissoluo legal, dissoluo por ato
administrativo,dissoluoportermodeduraoe,seasociedademercantil,
tambmporfalncia.
Naprimeirahiptese,osseusprpriosintegrantesdeliberamsobreasua
extino.
Hdissoluolegal,quandoaleiprevque,verificadacertaocorrncia,
aassociaoestdissolvida,devendoentraremliquidao.
Se a pessoa jurdica executa atividade ilcita, socialmente prejudicial,
assiste ao Poder Pblico a faculdade de pleitearlhe a dissoluo junto ao
PoderJudicirio.
Tambm extinguemse as associaes por tempo de sua durao,
quandoassimoprevoseuatoconstitutivo.
Quantossociedadesmercantis,houtrocasodeextinoafalncia
nahiptesedeestareminsolventes.
As fundaes extinguemse por trs causas: nocividade (fim
antijurdico), impossibilidade (deficincia de recursos de que resulta a
insolvncia)evencimentodoprazodeterminadoparaasuaexistncia.
5.11.4Domiclio
Odomicliopolticoecivil.
Domicliopolticoolugaremqueapessoafsicaexerceosdireitosde
votareservotadacivil,ondeapessoa,fsicaoujurdicapodeserdemandada
paraocumprimentodassuasobrigaes.
damaiorconveninciadaspessoasadeterminaodeumlugarcerto,
ondelhespossamserexigidos,esomentenele,osseusdeveres.
O domiclio civil da pessoa fsica onde ela reside com nimo
definitivo.
O dapessoajurdica o determinado por lei,oquedecorredoseuato
constitutivoouaqueleemqueelaexerceefetivamenteasuaatividade.
Para alguns civilistas, a pessoa s pode ter um domiclio. Para outros,
vrios, desde que faa a sua residncia ou centro de atividades em lugares
diferentes.OnossoDireitoCivilinclinousepelasegundatese.
Odomicliopodeser:voluntrioenecessrio.
O voluntrio depende da vontade da pessoa, e o necessrio da sua
condiodeorigemoudedispositivolegal.
O domiclio voluntrio geral, como lugar em que a pessoa reside com
nimo definitivo, no qual pode ser genericamente demandada para o
cumprimento de seus deveres, decorre, inevitavelmente, da atividade da
pessoa,noadquiridoporatoexpressodemanifestaodavontade.
Quem, todavia, tem domiclio num lugar, pode convencionar que, em
relao a certa obrigao, esta lhe seja exigida em outro, ento chamado
domicliovoluntriodeeleio.
Odomiclio necessrio adquirido sem manifestaodevontade tcita
ou expressa. Domiclio necessrio de origem o dos filhos menores: o
domicliopaterno.Domiclionecessriolegal,odepessoasparaasquaisalei
odetermina expressamente. Por exemplo: odomiclio do funcionriopblico
ondeestsediada asuarepartio,odo militar,oda guarnio naqualest
servindo,odorupreso,olocaldoestabelecimentopenitencirio.
5.12OBJETODODIREITO
Consideradaarelaojurdicadofocodosujeitoativosignificadireito,
e,dofocodosujeitopassivo,significa dever.Ocontedododeverdosujeito
passivoedodireitodosujeitoativoumcompromissodaqueleparacomeste.
Porisso,oobjetododireitosempreumaprestao.
Se aceitssemos a existnciaderelaes entre sujeitoe coisa, teramos
que dar outra noo de objeto do direito. Neste caso, o objeto seria um ato
humano (positivo ou negativo) ou coisas. A teoria jurdica, porm, repele a
relao homemcoisa. A relao jurdica vincula sempre dois sujeitos, ainda
queopassivo,emcertassituaes(direitosabsolutos),sejaindeterminado.
Sendoo objeto dodireito uma prestao, distinguese de bem jurdico.
Oobjetododireitoaprpriaprestao,masestaconcedeaosujeitoativoum
proveito queo bem jurdico. Dadizermos queo objetododireito podeser
imediato e mediato. O imediato a prestao e o mediato, o que o sujeito
ativo alcana por ela. Numa compra, o comprador tem a faculdade de exigir
dovendedorquelheentregueacoisa,quesalcanar,porm,atravsdeuma
prestao (o ato da entrega). Como as noes de dever e de direito so
correlatas, essa distino eqivale que adota A. B. Alves da Silva, em
relaomatriadodever:matriaimediataemediata.
Bem jurdico expresso que tem duplo sentido: restrito e amplo. Em
restrito, significa direitos que so imateriais e valiosos. O bem jurdico do
proprietriodeumacoisaodireitodepropriedadequetemsobreela.
Nemtodososbensimateriaissojurdicos.Oconceitojurdicodebem
menor do que o correspondente filosfico. Jurdicos so apenas os bens
imateriais e valiosos, valiosos para a ordem jurdica, que assim os estima.
Tm valor econmico ou no, havendo, portanto, bens jurdicos
economicamentevaliososebensjurdicoseconomicamentenovaliosos.
5.12.1Divisodosbens
H bens autopessoais, pessoais e coisas, conforme j foi indicado no
vigsimocaptulo,apropsitodoselementosdodireitosubjetivo.
5.12.2Patrimnio
A situao da pessoa, diante de seus bens economicamente valiosos,
define o seu patrimnio. O patrimnio determinase pelo cotejo de dois
elementos:oativoeopassivo.Oativoasomadetodososbenseconmicos
disponveis,isto,cujovalorpodeserreduzidopecnia.Opassivoasoma
dosencargoseconmicos.
5.12.3Classificaodosbens
Osbensclassificamsesobtrscritrios:
a) emrelaoasimesmos
b) emrelaorecproca,isto,unsemrelaoaosoutros
c) emrelaospessoasquedelesseutilizam.
5.12.3.1Emsimesmos
Considerados em si mesmos, so: corpreos e incorpreos mveis e
imveis fungveis e infungveis consumveis e inconsumveis singulares e
coletivosdivisveiseindivisveis.
Os bens corpreos tm existncia material, so tangveis. Incorpreos
soosdireitos.
Adivisodosbensemimveisemveisderealadaimportncia,por
sercaracterstico dodireito moderno o rigore o formalismo com quetrata as
transaes quetmporobjetoa propriedadeimobiliria,hojesustentculoda
riquezaeconmica,eatolernciacomquedispesobreasquetmporobjeto
bensmveis.
Imvel,emprincpio,obemquenopodeserdeslocadodeum lugar
paraoutromvel,oquepodeslo,semprejuzo.
Alm dos bens imveis e mveis, h uma terceira categoria, a dos
semoventes, os animais, que se movem por fora prpria, que no apresenta
particularinteresse,porqueoseuregimejurdicoomesmodosbensmveis.
Osimveisgrupamseemvriasclasses:imveispornatureza,imveis
poracesso natural, imveispor acessofsicaartificial, imveis poracesso
intelectual e imveis por foa de lei. H, na verdade, um bem imvel por
natureza, e outros que se lhes acrescentam por processo natural mecnico ou
destinaointelectual,ealgunsquesomenteosopordisposiolegal.
Onicoimvelpornaturezaosolo.
Osqueselheacrescentamporprocessonaturalsoimveisporacesso
natural:asrvores.
Os que se lhe aditam pela obra do homem so imveis por acesso
fsica:asedificaesdequalquernatureza.
So imveis por acesso intelectual os bens que, mveis por natureza,
passam a imveis pela sua situao e o seu destino. Um equipamento
industrial, por natureza mvel, montado numa indstria passa a ser imvel,
comounidadedeumconjuntomaiorimplantadonosolo.
A lei, que tem arbtrio para determinar a natureza dos bens, pode
considerarcertosbensimveissemlevaremcontaasuanatureza,apenaspara
lhes impor o regime jurdico desses bens. No caso, o bem imvel por
disposio legal: aplices da dvida pblica oneradas com a clusula de
inalienabilidadeetc.
Bens fungveis so coisas mveis que se determinam por quantidade e
gnero,eque,porisso,notmindividualidadetpica.Soinfungveisosque
se terminam em funo dos seus predicados particulares e representam
indivduos distintos de qualquer outro. Os bens fungveis podem ser
substitudos uns pelos outros, porque a sua determinao se faz por padres
genricos,aopassoqueosinfungveissoinsubstituveis.
Na prtica jurdica essa distino importante. Quem vende mil sacas
de feijo vende quaisquer das que tenha em estoque. Uma saca de feijo de
certotipo,comcertopeso,absolutamenteigualaumaoutradomesmotipoe
do mesmo peso. Quem recebe mercadoria em depsito no obrigado a
restituir a mesma mercadoria recebida. Desde que entregue mercadoria do
mesmo tipo, na mesma quantidade, ter restitudo o bem. O melhor exemplo
de um bem fungvel o dinheiro. Quem restitui certa importncia no
obrigadoafazlocomasmesmascdulasrecebidas.
Os bens infungveis no podem ser substitudos uns pelos outros.
Exemplo: uma obra de arte, que tem valor ligado sua autenticidade. Uma
cpia, acaso mais bela do que o original, no pode ser entregue em
substituiodeste.
Bens consumveis so os que perecem usados. Assim, um gnero
alimentcio.ComoexplicaOrlandoGomes,obemconsumveldesaparecepor
um s ato de gozo. Bens inconsumveis so os que podem ser usados sem
perdadesuasubstncia:umlivro,lidomuitasvezes,nodeixadeexistir.
Aconsuntibilidadepodesernaturaloujurdica.Umbemnaturalmente
consumvel quando, por fora da sua prpria natureza, seu uso acarreta
perecimento, como os gneros alimentcios. Um bem juridicamente
consumvelquando,sendonaturalmenteinconsumvel,paraoseuproprietrio
servirse dele importa perdlo. Exemplo: o prprio livro, bem inconsumvel
pornatureza,naprateleiradolivreiroconsumvel,porqueotemparavender.
Os bens singulares constituem uma unidade autnoma. Os coletivos
resultamda integrao devrios benssingulares paraumafinalidadecomum,
sendo,assim, consideradosem conjunto. Uma mquina umbemsingular,
uma unidade que existe por si, distinta de qualquer outra. Uma fazenda ou
umaindstria so bens coletivos,asvriasunidades queas integramformam
umconjuntoparaarealizaodeumfimcomum.
Os bens singulares dividemse em simples e compostos. Simples so
aqueles cuja unidade to perfeita que suas partes no podem ser
consideradas distintamente do conjunto: um animal, um edifcio. Os
compostos formamse do aproveitamento de objetos independentes que,
reunidos,constituemumaunidade.
Bens divisveis so aqueles de cuja partilha resultam fraes que
constituem unidades ntegras, sem prejuzo econmico. Bens indivisveis,
aqueles de cuja partilha no resultam unidades perfeitas ou cuja diviso
importaprejuzoeconmico.
Odinheiroumbemdivisvel.PodemosdividiraquantiadeCr$90,00
portrspessoasemfraesdeCr$30,00,quesoimportnciasntegras,cujo
valor, aps a diviso, permanece igual ao que tinham enquanto integravam o
total.Aocontrrio,umacasaindivisvel.Sepretendermosdividilaporduas
pessoas,noobteremosduascasas,masfraesincompletaseheterogneasde
uma. Tambm um pequeno terreno urbano, de cuja repartio decorra a
desvalorizao dos lotes obtidos, indivisvel, no por natureza, mas por
prejuzoeconmico.
5.12.3.2Emsuarelaorecproca
Considerados os bens na sua relao recproca, distinguemse em:
principaiseacessrios.
Principaissoosquetmexistnciaautnomaacessrios,aquelescuja
existnciasupeadeoutro.
A acessoriedade pode ser natural, industrial e civil, ou seja, um bem
pode ser acessrio de outro por imperativo de um processo natural, de uma
atividade do homem e de uma determinao legal. So bens acessrios
naturais as rvores em relao ao solo. So acessrios por indstria os
edifcios que esto implantados no solo, a ele incorporados pelo trabalho do
homem. E h casos em que s a regra jurdica faz de um bem acessrio de
outro,comoosrendimentos.Suacondioacessria,concernenteaocapital,
civil,porquegeradaporumainstituiojurdica.
Soacessriososfrutos,osprodutoseasbenfeitorias.
Frutossoasutilidadesqueumacoisaproporcionaperiodicamente,sem
diminuio da sua substncia. As colheitas so frutos do solo, os juros, do
capital.
Produtos so as utilidades que uma coisa proporciona, mas de cuja
percepo resulta seu desgaste. Por exemplo: as minas, na medida em que
exploradas,ficamdesfalcadas.
As benfeitorias so obras que se fazem num bem para seu
melhoramento.
Os frutos, quanto ao momento em que so vistos, podem ser
percepiendos,pendentes,percebidos,estanteseconsumidos.
Perecepiendos so os que deviam ser mas no foram percebidos.
Pendentes,os queaindaestoligadoscoisaqueos produziu.Percebidos,os
que jforamcolhidos. Estantesoudepositados, os que, percebidos, estoem
depsito.Consumidos,osjpercebidosequenoexistemmais.
As benfeitorias podem ser: necessrias, teis e sunturias ou
voluntrias.
Necessriassoasquesefazempararesguardaraexistnciadeumbem
ou para a sua conservao teis, as que aumentam a sua serventia
sunturias, as que, no aumentando a utilidade do bem nem servindo sua
conservao,tornamnomaisatraenteouconfortvel.
5.12.3.3Emrelaospessoas
Os bens, em relao s pessoas a que pertencem, so privados e
pblicos,conformepertenamaodomnioprivadoouaopblico.
Privados, se de propriedade particular pblicos, se pertencem ao
Estado.
Estesdividemseembenspblicosdeusocomum,benspblicosdeuso
especialebensdominicais.Osdeusocomumqualquerpessoaosfrui:asruas,
as praas pblicas. Os de uso especial, apenas servidores de entidades de
direito pblico: o prdio de uma repartio civil, um quartel. Os bens
dominicais pertencem ao Estado que sobre eles exerce propriedade como
pessoadedireitoprivado.OEstadopodeter,porexemplo,umimvelealug
lo, possuir florestas, fbricas, minas, etc., e explorlas. Neste caso, a
propriedade que exerce semelhante do particular, ainda que desfrute de
privilgiosespeciais.
5.13ATOILCITO
DarelaojurdicasubjetivaoudiretamentedaregradeDireitoPositivo
procede o dever a uma prestao, positiva ou negativa. O ato ilcito a
condutadosujeitopassivoquedescumpreaprestao, omitindosedaprtica
doatoobrigado,oupraticandooproibido.
OestudodoatoilcitoadquiriurealcedepoisqueKelsenocaracterizou
comoelementointrasistemticodoDireito.
5.13.1Delimitao
Otemaexigeumadelimitaogradualdoconceitodeilicitude.
As conseqncias da conduta ilcita, indica Mynez, so quatro: a
primeirasimplesmentemodificaarelaojurdica,tornamaisonerosoodever
do sujeito passivo. Exemplo: a obrigao de pagar juros a que fica sujeito o
devedor em mora, sendo esta um injusto retardo de adimplemento de uma
obrigao,conceitoclssicoque,nocomentriodeOswaldoPitz,temvencido
aforadestruidoradotempo.AsegundaacarretaacaducidadedoDireito,em
prejuzodo sujeitoativo.Exemplo: ocasamento impe aoscnjugeso dever
de fidelidade. Se esse dever violado por um, o outro tem ao de divrcio.
Mas, se o outro concorreu para a infidelidade conjugal de um dos consortes,
fica este privado do direito de divrcio. A sua conduta ilcita, contribuindo
direta ou indiretamente para o adultrio do outro cnjuge, importou a
caducidadedoseudireito de impetraro divrcio. Aterceira a obrigao de
indenizar, imposta a quem procede antijuridicamente, causando dano a
outrem.Aquartaaimposiodepena.
Conceituamosrestritamenteilcitasapenasasduasltimasmodalidades
de procedimento, as que geram um dever de indenizar (ilcito civil) ou a
sujeioaumapena(ilcitocriminal).
5.13.2Ilcitocivileilcitocriminal).
Parece impossvel, doutrinariamente, distinguir entre ilcito civil e
ilcitocriminal.AdistinofeitaemfunodoDireitoPositivo.
Oilcitocriminalaviolaodepadresdecomportamentoaosquaisa
sociedade empresta valor mais significativoque aoutros. Asua identificao
temdeserfeitaemtermoshistricos.Temosqueestimarsempreoque,numa
sociedade,emcertotempo,sedizilcitosimplesmentecivileilcitocriminal.
Delitos houve, no passado, que hoje no o so mais, e atos hoje tidos
pordelituososnemsempreoforam.
A conduta antijurdica pode ter maior ou menor repercusso. A que
sensibiliza, alm do prprio paciente e pessoas diretamente ligadas a ele,
tambm a comunidade, provocando reao coletiva, o Direito define como
ilcitacriminalmente.
O ato ilcito civil conduta antijurdica que incita s a reao do
indivduo atingido por ela, e repercute, por isso, num crculo estreito. Na
lcidaexplicaodeHenriLalou,neleh,apenas,deumladoavtimadeum
dano,e,deoutro,umapessoaobrigadaareparlo.
O ato ilcito pode ser, ao mesmo tempo, ilcito civil e criminal. Se
algum mata, comete ato criminoso, mas tem a obrigao de indenizar os
parentes da vtima. Aregra mesma esta:todo ato ilcitocriminal tambm
ilcitocivil,vistocomooagentedeumcrimetemsempreodeverdeindenizar
avtima,ouosseusparentesedependentes,dodanocausadopelodelito.Mas
aproposiocontrrianoverdadeira.
Seoatoilcitocivil,originaresponsabilidadepatrimonialsecriminal,
responsabilidade pessoal. No primeiro caso,o querespondepela indenizao
no a pessoa fsica do agente, mas seu patrimnio, tanto que, se quem
praticaumilcitocivilnotempatrimnio,odeverdeindenizarseesvaziade
alcance prtico no segundo, responde pela imposio da pena o prprio
agente.
H sensvel distino entre responsabilidade patrimonial e pessoal. A
pessoal intransfervel, embora no Direito antigo as penas se pudessem
aplicar tambm aos parentes do criminoso. A responsabilidade patrimonial
transmitese aos herdeiros e pode se deslocar do agente do ato para outra
pessoa,isto,oilcitocivilserpraticadoporA,eBserresponsabilizadopela
indenizao. Se um empregado, no exerccio de sua tarefa, causa dano a
algum,quemrespondepelaindenizaonoele,masseupatro.
Sendo embora impossvel, por entendimento exclusivamente terico,
distinguiroatoilcitocriminaldocivil,asconseqnciasrespectivas,todavia,
isto,apenaeaindenizao,assentamempressupostosclaramentediversos,
assim resumidos por Hans Albrecht Fischer: a pena impese por causa da
culpadodelinqente,eaindenizaopararepararodanosofridopelolesado
apenanopresumeaexistnciadeumdano(exemplo:tentativadedelito),ao
passo que, pelo contrrio, sem dano no h indenizao a pena propese
juntar ao mal sofrido pelo lesado um outro mal a ser padecido pelo seu
causador, e a indenizao pretende apenas reparar o mal causado a pena
sempre conseqncia de um delito e o ato ilcito tos uma das vrias
circunstnciasqueobrigamaindenizar.
5.13.3Elementos
Oatoilcitointegrasepeloconcursodosseguinteselementos:
a) antijuridicidade
b) imputabilidadee
c) culpabilidade
A antijuridicidade tem natureza objetiva, manifestase na prpria
conduta exterior do agente. A imputabilidade e a culpabilidade tm ndole
subjetiva,sopertinentesacondiesprpriasdoagente.
5.13.3.1Antijuridicidade
A antijuridicidade revelase como contrariedade, ao Direito e causa
prejuzo.Umatoilcito,quando,contrrioregrajurdica,prejudicaalgum.
5.13.3.2Imputabilidade
Imputabilidade a capacidade de receber as conseqncias jurdicas
decorrentes da conduta ilcita. Algumas pessoas tm imputabilidade e outras
no, ou seja, umas respondem pelas conseqncias jurdicas dos seus atos e
outras no. Se uma criana, manejando uma arma, mata uma pessoa, atenta
contraoDireito,causaprejuzo,masnotemcondiespessoaisderesponder
juridicamentepelasuaconduta.umacriaturainimputvel.
5.13.3.3Culpabilidade
Aculpabilidadedeconceitocontrovertido.
Emregra,ssofreumasano quemprocedeintencionalmenteousem
adotarcautelasadequadas.Seumindivduocausadanonopremeditadooua
despeito dos cuidados possveis para prevenilo, dizse que agiu sem
culpabilidade.Numapalavra,aculpabilidadeimportaoexamepsicolgicoda
conduta.
5.13.3.4Nveisdeculpabilidade
A culpabilidade manifestase em trs nveis, citados na ordem
decrescentedasuagravidade:dolo,preterintencionalidadeeculpa(nosentido
restritodestevocbulo).
Hdoloquandooagentepraticaoatoilcitointencionalmente,visando
a produzir o dano verificado. O dolo a culpabilidade proposital, o
procedimento de quem causa mal, com a inteno de fazlo. Doloso um
crime, quando desejado o seu resultado. Doloso o ilcito civil, quando o
agentepretendeu,exatamente,odanosofridopelopaciente.
A preterintencionalidade dse quando algum, tencionando (portanto,
dolosamente) causarcerto danoa outrapessoa,causalhe umsuperior ao que
desejava.Por exemplo,um indivduo,usandodearma branca parafazeruma
pequena leso, ocasiona ferimento do qual decorre a morte da vtima. O
agente usou da arma para causar uma leso leve, e provocou a morte. Pode
havertambmpreterintencionalidadenoilcitocivil.Suponhamosquealgum
queira prejudicar outra pessoa, incendiando um objeto seu e que o incndio
pretendido se estenda a outros bens. Intentava um dano limitado e motivou
outromaisextenso.
A culpa, tomada em sentido restrito, a conduta no vigilante para a
possibilidade de prejuzoeventual aoutrem. A convivnciasocial impe que
os indivduos, ao atuarem, tenham sempre presente a necessidade de
resguardarointeressealheio.Seagimos indiferentesaessedever,aconduta
culposa.
5.13.4Manifestaodaculpa
Como a idia de culpa elstica e abstrata, do que resulta, alis, a
fluidez do seu conceito doutrinrio, apontada por Wilson Melo da Silva, e o
Direito procura sempre objetividade, necessrio indicar os tipos de
procedimento nos quais se caracteriza: a imprudncia, a negligncia e a
impercia.
A distino entre imprudncia, negligncia e impercia sutil, a ponto
decertosatos,svezes,nospareceremimprudentes,negligentesouimperitos
aomesmotempo.
5.13.4.1Imprudncia
A imprudncia procedimento excessivo. Comportase imprudentemente
quemexcedeomximotoleradoparadarseguranaconduta.Diramosquea
imprudncia ir alm de, ultrapassar um limite. O motorista que excede a
velocidade mxima permitida numa pista est agindo imprudentemente.
Assim,tambm,seultrapassaoutroveculonumalombadaounumacurva.
5.13.4.2Negligncia
A negligncia est no oposto. Se a imprudncia um mais de qu, a
neglignciaummenosdequ.Hneglignciaquandoalgumatuadeixando
de cercarse dos elementos mnimosdesegurana. O motoristaqueassumea
direo de um veculo, sem verificar das suas condies de freio ou de luz,
negligentemente o dirige porque no adotou algumas primeiras cautelas. O
cirurgio, praticando uma operao, sem se certificar de que o seu
instrumental est assptico, negligente, porque desleixou medidas mnimas
desegurana.
5.13.4.3Impercia
A impercia a culpa dos profissionais. Todo profissional deve ter
habilitaoqueevitedanos aosqueseutilizamdeseusservios.Seospresta
sem competncia, ensejando prejuzo, procede culposamente. o cirurgio
que, numa manobra desastrada, secciona uma artria que no deveria ser
alcanadanumcertocampooperatrioomotoristaque,porfaltadeaptido,
nogovernaseuveculocomprecisonumaemergnciaopintorqueaplica
umatintasemsabercomodeveriafazlo,obrigandooproprietriodaobraa
substitula. Comose v,aquele conceito lato deconduta no zelosa resolve
seemoutrosconceitosmaispreciososelimitados.
5.13.5Modalidadesdaculpa
Aculpadiretaquandoapessoaimputveloprprioagentedoatoou
daomissoindireta,nahiptesecontrria.
A culpa indireta apresentase sob trs modalidades que tm suas
denominaes provenientes do Direito romano: culpa in vigilando, culpa in
eligendo,culpaincustodiendo.
5.13.5.1Culpaextracontratual
Culpainvigilandoadequem,tendopessoasujeitaaoseupoder,no
exerce sobre ela a necessria vigilncia. , por exemplo, a culpa dos pais
pelos atos dos filhos menores. Se estes causam danos a terceiros respondem
aquelespelaindenizao.
Culpa in eligendo afaltadezelonaescolha de quem pomosa nosso
servio. , por exemplo, a culpa do proprietrio de um veculo que admite
motorista para guilo. Este, causando dano a terceiro, responde pela
indenizaooproprietrio.
Culpa in custodiendo a dos proprietrios ou detentores de animais.
Quem possui animal sob custdia deve vigilo, a fim de no maleficiar a
ningum. Se ele lesa fsica ou patrimonialmente uma pessoa, o proprietrio
respondepelaindenizao.
Essas trs modalidades de culpa constituem, em conjunto, a chamada
culpaextracontratual.Emrelaoaelasodeverdeindenizartemfundamento
legal.
5.13.5.2Culpacontratual
Paralelamente, h culpa contratual, ou culpa in contrahendo, cuja
ocorrncia supe a prvia existncia de um contrato, resultando do
inadimplemento ou da imperfeita ou incompleta execuo das respectivas
obrigaes. A parte que descumpre dever contratual obrigada a indenizar a
outrapelovalordodanocausado.
5.13.6Fundamentodaresponsabilidadecivil
Oatoilcitocivil,comojdistinguimos,podeserdolosoeculposo.
Em relao ao doloso, no h problema quanto ao fundamento da
responsabilidade do agente, porque elementar que o autor de um dano
voluntrioeintencionaldevaresponderpeloseuato.
Quando, porm, se trata de ilcito civil culposo, a matria mais
delicadae,svezes,aosensocomum,aregradeDireitopareceinjusta.Seum
indivduo causa um prejuzo involuntariamente, a primeira idia que lhe
acode,expressadaemlinguagemcomum,adequenoteveculpa.
Que significa ter ou no ter culpa? Como o Direito pode punir uma
pessoa,mesmocausadoradeummal,senoopretendeu?
Parece, primeira vista, que, no havendo propsito, isto , dolo, a
conduta no merece punio. Da a elaborao doutrinria quanto ao
fundamento da responsabilidade resultante de ato ilcito civil culposo, que
Agostinho Alvimdefine como uma questotormentosa, cujas dificuldades se
multiplicammedidaquesobreelarefletimos.
5.13.6.1Teoriadaculpa
A lio tradicional, ainda hoje incorporada ao nosso Direito Civil
positivo, a da culpa. Por ela se diz que, independentemente da inteno,
todos em sociedade tm o dever de ser previdentes na sua conduta. Quando
nohintenomasfaltadecuidado,estaomissojustificaasanojurdica.
Sealgumtomadeumobjetopesadoeoatirapelajanelaeatingeumapessoa,
provocandolhe dano, claro que no pensava causlo. Mas absurdo que
notenharefletidosobreoquepoderiaocorrer,sendoa viapblicalocalpor
onde todos circulam. Sofrer uma conseqncia, no pela inteno que no
houve,maspelodescuido,pelafaltadezelo,pelaimprevidncia,pelafaltade
cuidadocomointeressedeterceiros.
Donde, quando ocorre um ilcito civil, o agente ser ou no ser
responsabilizado. Se a sua conduta foi culposa, ou seja, imprudente,
negligenteouimperita,serresponsabilizado.Mas,seevidente,aocontrrio,
que,apesardetodasascautelas,detodososcuidados,detodasasprecaues,
aindaassimodanoseregistrou,noserresponsabilizado.
5.13.6.2Teoriadorisco
Essateseserviusnecessidadesdomundodurantemuitotempo,porm
avidamodernafoimostrandoasuaprecariedade.
Alvino Lima cita vrias circunstncias que tornaram obsoletos os
antigos critrios: a densidade progressiva das populaes, a diversidade das
atividades de explorao do solo e suas riquezas, a multiplicao das causas
produtoras de danos resultantes de invenes criadoras de perigo e, a par de
tudo, a necessidade de se proteger a vtima, assegurandolhe afetiva e pronta
reparao do dano sofrido, no seu conflito contra os interesses de empresas
poderosas e na sua dificuldade de provar com suficincia a causa dos
acidentesocorridos.
Tais circunstncias no se compadeciam com a duvidosa pesquisa
psicolgicadacondutadoagenteeimpuseramfosseaquestolevadaaplano
diversodeapreciao,noqualsesituava,emprimeirolugar,anecessidadede
reparar odano,pelo mal mesmoque elerepresentava, independentementede
suarelaocausalcomumcertotipodeprocedimento.
Surgiu, assim, a teoria do riscoproveito, cujo mais representativo
defensor foi Louis Josserand. Assentada a necessidade de preservar a
segurana da vtimadodano,ateoriadoriscoproveitobaseiaseuargumento
fundamental numa tese: os indivduos que, nas suas atividades, buscando
proveitos, criam riscos, devem suportar os encargos e os nus correlativos e
responderpelosriscosquedisseminam.
Os pacientes dos danos no podem ter seus interesses pendentes de
apreciao judicial demorada e cheia de dificuldades. A indenizao ser
sempredevida,desdequeodanoprovenhadeatividadealheiapromovidaem
busca de vantagem. O industrial que tira sua fortuna do seu estabelecimento,
deveassumir o encargode indenizar os danos queatingem seus empregados.
Oproprietriodeumaempresadetransportedepassageirosecargasatribuise
o risco de indenizar os prejuzos eventuais causados por seus veculos. O
profissional que tira do seu trabalho a sua subsistncia no pode fugir ao
mesmodever.
A teoria do risco chamada objetiva, em contradio da culpa,
chamadasubjetiva.Pelateoriadaculpa,aresponsabilidaderesidenaconduta
doagente,j,nadorisco,ofundamentodaresponsabilidadeobjetivamentea
posiosocialdaquele.Enquantoantessediziaqueocausadordeumdano
obrigado a indenizlo, se agiu culposamente, hoje dizemos, laconicamente,
quesempreobrigadoaindenizlo.
5.13.7Seguro
A teoria do risco conduz generalizao do seguro, que logra duas
finalidades: efetiva a indenizao e dilui o risco. Exemplifiquemos: um
operriodemodestaoficina,manobrando equipamentorudimentar,sofreuma
leso e morre. O patro no tem recursos para indenizar aquela vtima, mas
temparapagarumacontribuioprevidncia,eestaoindeniza.
Assim, a primeira funo do seguro efetivar a indenizao, muitas
vezes impossvel se o responsvel no tem capacidade patrimonial para
satisfazla.
O seguro tambm exerce a funo social de diluir os encargos
indenizatrios, absorvidos, no diretamente pelo agente, mas por uma grande
massadepessoas.Muitos indivduos,assegurandoseusveculoscontradanos
causados a terceiros, pagam prmios parcos e todos suportam o encargo das
indenizaes.Aresponsabilidadetornaseexeqvel.
Cabeaindaaoseguro,lembraOliveiraeSilva,evitaroempobrecimento
dapessoacautelosaqueinfligedanoaterceiro,semembargodozelohabitual
doseuprocedimento.
Por outro lado, na sagaz observao de Jorge Peirano Facio, o seguro
atua como agente causal dos prprios fatos cujo risco cobre e de seu
agravamento.Acertezadaindenizaoatenuaapreocupaodeevitarodano
einfluencianoaumentodoscasosderesponsabilidadecivil.
Dequalquermodo,aincorporaodateoriadoriscoaodireitopositivo
conduz generalizao do seguro, voluntrio ou obrigatrio, na maior parte
das vezes obrigatrio, parecendo a alguns, entre os quais Carlos G. Posada,
quesemestaqualidadedenadavaleainstituio.
6InstituiesJur dicas
6.1INSTITUIESJURDICAS
Oconceitodeinstituiovrionadoutrina.Daremosapenasaidiada
acepoemqueestempregadonestetrabalho.
Instituio jurdica simplesmente um conjunto de regras de direito
organicamente concatenadas visando realizao de um fim. H regras
jurdicas esparsas, cuja finalidade meramente ordenadora, e outras que se
polarizam ao redor de um interesse, adquirem um sentido estatutrio e
apresentam certa organicidade. Se o interesse ao redor do qual se polarizam,
unificadas para determinada realizao, constante, temos uma instituio
jurdica.Nageneralidadedosconceitosjurdicos,expeTheodorSternberg,o
elementoteleolgicoficadiludo,epostoemdestaquenodeinstituio.
6.1.1Elementos
Deste conceito resultam suas duas caractersticas: permanncia e
organicidade. A historicidade das normas de uma instituio jurdica lenta,
ficando estas, assinala Roberto Piragibe da Fonseca, a flutuar acima dos
embatesdeopinio e dasdisputas. Embora no eternas, sua transitoriedade
menosacentuada,oquelevouMauriceEugneHauriou(18561929)aafirmar
que as instituies representam no direito, como na histria, a categoria da
durao e da continuidade. A famlia, a personalidade, a propriedade so
instituies que evoluem paulatinamente. Ao mesmo tempo, todas se
constremparaasatisfaodeumfimhumanofundamental,dondedecorrea
suaorganicidade,asuafeiosistemticaecoordenada.
Aorganicidadedasnormasdeumainstituiojurdicapatenteiasebem
na interdependncia existenteentre elas, entre cada uma delas eoconjuntoe
entre este e cada uma delas. Desse fato decorre a dificuldade com que as
normasdeumainstituiopodemsermodificadas,quegera,comocorolrio,o
fato, observvel na histria, de que as transformaes institucionais quase
sempre se do por processos crticos ou revolucionrios e apenas raramente
emetapasevolucionaissucessivas.
O conceito jurdico de instituio no discrepa do seu correspondente
sociolgico, especialmente do de Charles Horton Cooley (18641929), para
quem ela uma estrutura integrada do comportamento coletivo, assente na
heranasocialecorrelativadeumanecessidade permanente. Nemdivergedo
de George Santayana, que Michele Federico Sciacca considera o mais genial
dos realistas crticos, segundo o qual o lastro de sabedoria que a opinio
pblica, numa sociedade primitiva, tira do hbito e da eloquncia, ela
consegue,numasociedadealtamenteorganizada,desuasinstituies.
Hauriou, num conceito que nos permite identificar os elementos
completosdeumainstituiojurdica,defineacomoidiadeobraouempresa
queserealizaedurajuridicamente,emummeiosocial,paracujarealizaose
organiza umpoder, queprocura rgos poroutrolado, entreosmembrosdo
grupo social interessado na realizao da idia tm lugar manifestaes de
comunho,dirigidaspelosrgosdopodereregidasporumprocedimento.
Dessadefinioemerge,expressiva,anaturezaidealdetodainstituio.
Naverdade,qualquerinstituiocorrespondeaumaidiahumana,queidia
de obra ou empresa, portanto, projeto, para cuja realizao se institui uma
normatividade. Sendoidealaessnciadetodasas instituies,cabe, porisso,
conter no seu justo alcance a diviso que delas habitualmente se faz em
corpreas e incorpreas. Embora as primeiras mobilizem elementos fsicos
para a sua realizao, o que tambm em pequena escala ocorre s segundas,
em tais elementos, porm, no est a instituio, mas na idia para cuja
realizaoforamelesmobilizados.
Cabendoinstituiopromoverumprojetocomunitriodeexistncia,
tangvel nela o elemento finalstico, pea essencial do seu entendimento
terico.
H que considerar, ainda, nos termos da definio de Hauriou, que a
instituio jurdica se realiza e dura juridicamente. Nesse realizarse
juridicamente est o especfico de toda instituio jurdica. Se a idia se
realizaemobedinciaaoutranormatividade,quenoajurdica,poderhaver
instituiosocial,masnoinstituiojurdica.
Referese, ainda, Hauriou circunstncia de que a realizao e a
durao da instituio ocorrem num meio social, observao bvia, porque
nadahdesocialque no ocorranum meiosocial. Reparese,porm, que as
instituiestmmatizesdiferentesconformeoespecfico meiosocialemque
surgem. E mais: tambm sobre elas influencia o meio geogrfico, do que
bomexemplodapropriedade,aqual,aseuturno,serefleteemoutras,comoa
famlia,oscontratosetc.
Tambm certo, como afirma Hauriou, que qualquer instituio
realizada exige um poder. Quando os interesses humanos se compensam em
regimecontratual,seustitularesnivelamse,semdiversidadehierrquica.No
assim, porm, quando se polarizam ao redor de instituies, cuja estrutura
hierarquizada e dotada de poder. E como qualquer poder somente atua por
intermdio de rgos, o mesmo sucede ao poder da instituio: assemblias,
convenes, conselhos etc. E esses rgos promovem, periodicamente,
manifestaesdecomunho, manifestaes quecomoquecobramumtributo
de fidelidade humana aos ideais da instituio. Assim os comcios, as bodas
pomposas,ascerimniasreligiosasetc.
6.1.2 Formao
Aindaquedissonosepossaterevidnciahistrica,masapenaslgica,
toda instituio tem o seu ponto de partida mais remoto numa conduta
individual,porque somente o indivduo inventa. Seu embrio, portanto, um
fato individual, que pode passar a interindividual pela imitao, hiptese em
que se esgota a fase espontnea de sua formao. Se a conduta individual
expressiva, no sentido de traduzir comportamento adequado a uma
necessidade social emergente,numacerta circunstncia detempo eespao,o
fato interindividual transformase em social, pela adeso da maioria. Nesse
passo, a instituio alcana sua fase planejada, que se consolida pela
generalizada aceitao social, ligada a uma tendncia conservadora, a qual
decorre, a seu turno, da fundamentalidade dos interesses humanos ao redor
dos quais ela se constri, o que acaba por lhe trazer uma conotao moral,
quandonoreligiosa.Porfim,ainstituiosesacraliza,geraaconscinciada
suainsubstituibilidade,oudasuaeternidade,aqual,porsuavez,passar,mais
cedo ou mais tarde, a responder pela sua inevitvel desatualizao, cuja
progressopodegerarasuaeventualquedanumprocessoviolentoderuptura
entreopassadoeopresente.
6.1.3Sistemasinstitucionais.
O emprego do vocbulo instituio, no singular, apenas lcito
didaticamente. Na verdade, as instituies se estruturam em sistemas
policntricos e esto sempre ligadas umas a outras, numa tessitura
diversificadaenumerosa.Aessepropsito,ensinaClaudedePasquierqueas
suas regras agrupamse ao redor de ncleos, sendo a instituio jurdica um
conjunto tpico de relaes organizadas pelo Direito. Quando diversas
instituiesjurdicassereduzemaumtipocomum,comoavendaealocao
se reduzem ao contrato, estamos em presena de instituies secundrias e
instituiesprincipais.Assim,asinstituiesseordenamem tornodecentros
intermedirios,depoisestesemtornodecentrosmaisimportanteseassimpor
diante. O contrato de aprendizagem, por exemplo, uma substituio,
relativamenteaocontratodetrabalho,eeste,aseuturno, gravitaemtornoda
instituio jurdica que o contrato, qual se sobrepe a instituio da
obrigao. O legado uma instituio jurdica particular ligada instituio
maisgeraldasdisposiesdeltimavontade,queculminamna instituio da
sucesso.
6.1.4Diviso
As instituies jurdicas so pblicas e privadas. A diviso provm da
naturezapredominantedointeressequalatendem.Sesocial,sopblicasse
individual,privadas.
6.2OESTADO
OEstado,pordefinio,anaopoliticamenteorganizada,isto,sob
oaspectodefuncionamentodeseuspoderespolticos.
A sociedade evolui e atinge sua plena maturidade, seu completo
desenvolvimento,quandoseapresentacomonao.
6.2.1Nao
Naoasociedadequealcanouperfeitaunidade.Detalmaneiraesta
sua caracterstica marcante que a vrias naes correspondem diferentes
mentalidades. assim que nos referimos, por exemplo, mentalidade
francesa,espanhola,inglesa,norteamericana, germnica,significando
apersonificaodogruposocialnoapogeudasuaintegrao.
Discutem socilogos, historiadores e polticos sobre quais so os
elementos de maior importncia gentica para o aparecimento dessa unidade
perfeita que transforma um grupo social em nao. O nosso Slvio Romero
observou que a passagem da tribo para a nao um problema cheio de
embaraos.
Entre os muitos fatores apontados, mais freqentemente so citados a
raa,alnguaeareligio.Povosquefalamamesmalngua,quetmamesma
origem racial,que adotam amesmareligio, encontram nessa circunstnciaa
determinantedasuaunidadepolticae,portanto,dasuaunidadenacional.
Seriafalsonegarovalordetaisfatorescomocoadjuvantesnaformao
das nacionalidades, mas preciso notar que nenhum tem significao
exclusiva.
Encontramos raas distintas integrando, comumente, a mesma
nacionalidade,issoparanofalarqueanooderaaaltamenteduvidosado
pontodevistacientfico.
A lngua, na qual Tocqueville enxergava o lao mais forte e mais
durvel que possa unir os homens, condio importantssima de unidade
nacional,porquealinguagem,detodososprocessossociais,omais atuante
no condicionamento que o grupo exerce sobre o indivduo. No entanto, h
povosfalandoamesmalnguaeconstituindonacionalidadesdiferentes,como,
por exemplo, Brasil e Portugal. Inversamente, h naes falando lnguas
vriase,noobstante,apresentandoamesmaunidadentegra,comoacontece,
eesteumexemploclssico,naSua.
Igual observao podemos fazer relativamente religio. Sem dvida
queaunidadedecrenasconduzidentidadeespiritual,eestacaracterstica
das naes. Na medida, porm, em que as sociedades progridem e a vida se
torna mais complexa, a religio tem perdido gradativamente a sua influncia
social.Este regressodaimportnciasocialdas religies no secompadeceria
comaafirmativa,queparaos nossostemposseriaanacrnica,dequeauma
identidadedereligiorespondeoutrapoltica.
Algunsautores,earespeitoclssicaaliodeRenan,preferemverna
tradio a fora motriz da unidade nacional. Assim como a identidade do
indivduo sedimentase atravs da sua vida e repousa na continuidade do seu
passado, o mesmo poderamos dizer dos grupos. a continuidade histrica
que d a um povo a conscincia da sua personalidade. Agir como pessoa,
sentir como pessoa, ter a unidade de uma pessoa, transformam um povo em
nao.
Qualquer debate sobre a matria ser sempre inconcludente, porque as
nacionalidades emergem de processos histricos, e estes desenvolvemse em
relaoacadapovocomassuaspeculiaridades.
Liderana poltica, tradio, raa, religio, lngua, etc. so fatores de
unidade nacional, mas por esta nenhum deles pode responder isoladamente.
ExcelentealiodeMaxWeberarespeito:numcertosentido,oconceitode
nao significa, indubitavelmente, acima de tudo, que podemos arrancar de
certos grupos de homens um sentimento especfico de solidariedade frente a
outrosgrupos.Masumanaonoamesmacoisaqueumacomunidadeque
fala a mesma lngua e isso nem sempre suficiente,comoodemonstram os
srvios e croatas, os norteamericanos, os irlandeses e os ingleses. Pelo
contrrio,uma lngua comumno pareceser absolutamentenecessriaauma
nao.Asolidariedadenacionalentrehomensquefalamamesmalnguapode
ser rejeitada ou aceita. A solidariedade pode, ao invs disso, estar ligada a
diferenasnosoutrosgrandesvaloresculturaisdasmassas,ouseja,umcredo
religioso, como no caso de srvios e croatas. A solidariedade nacional pode
estar ligada a estrutura social e mores diferentes e, da, a elementos tnicos,
como o caso dos suos e alsacianos alemes frente aos alemes do Reich,
ou dos irlandeses frente aos britnicos. No obstante, acima de tudo, a
solidariedade nacional pode estar ligada s memrias de um destino comum
comoutrasnaesentreosalsacianos,umdestinocomum,comosfranceses
desde a guerra revolucionria que representa sua idade herica comum, tal
como os baresblticos com os russos, cujo destino polticoeles ajudarama
orientar.
Caracterstica das naes a unidade espiritual que se reflete no
comportamento e nos gestos dos seus integrantes, de que foi exemplo,
apontado por Spengler, a nao italiana, no Renascimento, ainda antes de
constituda em Estado, que se podia seguramente reconhecer num quadro,
numpensamento,numaatitude,numaopinio.
Aogruponacionaloindivduonosesentepresoapenaspelasuaraa,
pelasuaorigem,pelasuareligio,pelasualngua,oupelosseusinteresses.H
algumacoisamaisqueoprende,umeloafetivo.Jhouvequemafirmasseser
aunidadedasnaesumaunidadedeamor.
essetraoafetivoqueempresanaoasuacaractersticaunidadede
esprito, e somente ele justifica o devotamento integral do indivduo sua
nao.Osacrifcioquefazporeleomesmoquefazpelasuafamlia,porque
ambas o envolvem num clima afetivo. to peculiar a natureza do vnculo
queligao indivduonaoqueseufundamentovoluntrio.Pertencemosa
uma nao se queremos, porque podemos nascer numa e nos nacionalizar
noutra. Sendovoluntrio,eleconsciente econsentido,eoconsentimentose
traduzumadoaoirrestrita.
6.2.2Sociedade,naoeEstado
Osconceitosdesociedade,naoeEstadolgicaecronologicamentese
sucedem.
Logicamente, a idia de sociedade antecede de nao e esta de
Estado.
Cronologicamente, primeiro existe a sociedade, depois a nao,
finalmenteoEstado.
Alm do mais, logicamente, esses trs conceitos so progressivamente
menoresodesociedademaiorqueosdenaoeodenaomaiorqueode
Estado. Mas essas distncias so relativas. Embora o conceito de nao seja
maiorqueodeEstado,narealidadenemsempreocorreassim.HEstadosque
abrangemmaisdeumanaoenaesfragmentadasemEstados.
A prpriadistncia realentre sociedade e Estado varia. OEstado pode
ter muitas dimenses. As mnimas so a poltica e a jurdica. Pela primeira,
assegura a ordem e promove a defesa pela Segunda, elabora o ordenamento
legaledistribuijustia.NumEstadodessanatureza,adistnciaquevaidele
sociedademxima.
No entanto, um Estado que, alm do exerccio dessas duas funes,
realiza outras, como a cultural, a religiosa, a econmica, a esttica, etc., tem
essadistnciarelativadiminuda.
6.2.3CaractersticaconceitualdoEstado
DivergeadoutrinanaconceituaodoEstado.Adificuldadeseagrava,
principalmente, porque o prprio vocbulo nem sempre usado para
identificaramesmarealidade.
Para Joo Jos de Queiroz, a idia de Estado empregada em
correspondnciacomtrsdistintasrepresentaes intelectivas. Aprimeiraa
de Estadotipo, fruto de um conceito cultural construdo na base da
experincia oferecida pela histria poltica. a idia do Estado tal como ele
foie,segundoasuamaneiradedarsenossaobservao.Asegundaado
Estadonorma, que desemboca numa conceituao dupla. Uma destas, a
teleolgica,repousanumanooidealpatrocinadapelos inovadorespolticos.
CogitasedoEstadocomodeveserparacoincidircomafinalidadeespecfica
quesepretendesejaasua.Aoutra,adogmtica,decorredaquiloqueodireito
pblico afirma ser o Estado atual. H, finalmente, uma noo de Estado
realidade, a qual engendra, tambm, duas posies diversas no exame do
tema. Ou se considera o Estado tal como , em concreto, o que dele permite
um conceito analtico, ou se procura determinar o que, a despeito da
diversidade dos numerosos Estados, constitui a essncia comum de todos,
tentando,assim,umconceitosinttico.Estaltimaatitudelevaaotemacentral
dateoriageraldoEstado.
As tentativas de definir o Estado tm sido todas frustradas. Por isso,
melhorpareceabordarapolmicaapenasnoplanodasuanaturezaconceitual.
6.2.3.1Definiesfinalsticas
AutoreshquepretendemconceituaroEstadoemvirtudedosseusfins.
Dessa posio originamse definies finalsticas. O Estado, como entidade,
temportarefaguiaranaoaoseudestinohistrico.Anao,comoqualquer
sociedade, tem ndole teleolgica, atua para a concretizao de fins. A
caracterstica do Estado seria a de mobilizar recursos nacionais para efetivar
essesfins.
6.2.3.2Definiesfilosficas
HdefiniesinspiradasnumaconcepofilosficadeEstado,emcujo
estudo no ingressaremos, at mesmo porque seria impossvel fazlo sem
noes filosficas prvias. O problema do Estado passa a elemento de um
sistemafilosficogeral.oqueacontececomasteoriasdeSchellingeHegel,
quevemnoEstadoarealizaodoespritoobjetivo.Ovocbuloespritotem
sentido subjetivo individual, mas o esprito, como idia, tambm se realiza
exteriormente. A histria seria a afirmao objetiva do esprito, e o Estado,
sua manifestao, verdadeiro universo tico dentro do qual se desenvolve a
vidadeumpovo.
6.2.3.3Soberania
No sculo XVI, paralelamente ao enfraquecimento do poder poltico
proveniente do feudalismo e do prestgio temporal da Igreja, comearam a
surgir Estados marcados pela pujana de sua autoridade. quando se aponta
uma nova caracterstica do Estado, que se inseriu definitivamente na
nomenclaturapolticaaindausadacomatualidade.
Foi Jean Bodin (15301596) quem predicou para o Estado, como sua
qualidade inconfundvel, a soberania, atributo que tem ele, e somente ele, de
noencontrarnenhumaautoridadeacimadasua.
A tesedasoberania logrou grandesignificaoparaa teoria do Estado
e, no Direito Constitucional, foi historicamente oportuna, porque gerou a
substncia doutrinria de que necessitava o Estado para atingir a sua feio
moderna.
6.2.3.4Autoorganizao
Jellinek, depois de assinalar ser a idia de soberania meramente
histrica, conclui por afirmar que ela no o trao essencial do poder do
Estado e no se ajusta ao entendimento de numerosos tipos de Estado, como
osconfederadoseosmedievais,deummodogeral.
Para ele, prprio do Estado que seu poder no derive de nenhum
outro, sim de si mesmo e segundo seu direito. Onde quer que haja uma
comunidadecomumpoderoriginrioeadisponibilidadedemeioscoercitivos
paradominar seus membroseseuterritrio,obedecendouma ordemprpria,
existeumEstado.
O que caracteriza o Estado a capacidade de autoorganizao. Se a
organizaodadaporoutraentidade,nohEstado.
Portanto,Estadoanao,cujorgosupremo,quepeemmovimento
aatividadesocial,independente,nocoincidindocomodeoutroEstado.
6.2.3.5Monopliodacoao
Korkounov empresta ao tema tratamento simplesmente descritivo, e
indigitaacaractersticadoEstadonomonopliodoconstrangimento.
6.2.3.6Kelsen
Nosepode,hoje,falaremteoriado Estado,sem lembrarKelsen,cuja
doutrinafundamentalestexpostaexatamentenolivrointituladoTeoriaGeral
doEstado.
OproblemaabordadoporKelsenemposioespecfica,porqueelese
atm, principalmente, ao exame das relaes entre o Estado e o Direito, e
concluipelaunidadedeambos.
ParaquepossamoscompreenderKelsenprecisoremontarsuateoria
sobreapessoajurdica,aqual,conformeverificamos,noparaeleumente,
mas um sistema unitrio de normas pertinentes s relaes recprocas de
vriaspessoas.
ApalavraEstadometforadequenosservimosparapersonificaruma
ordem jurdica ntegra, assim como pessoa jurdica metfora que significa
um sistema unitrio de normas que presidem s relaes recprocas de certas
pessoas.
O Estado uma ordem social coativa idntica ordem jurdica, dado
queambossocaracterizadospelosmesmosatoscoativos.OEstadosempre
uma ordem jurdica, mas nem toda ordem jurdica Estado, seno apenas
aquela que institui, para a produo e a execuo de normas, rgos que
funcionamdeacordo com oprincpiodadivisodo trabalho,e quealcanou
certo grau de centralizao. No se distinguem, assim, uma do outro, sendo
esteexpressodaunidadedaquela,meropontoconvergentedeimputaoque
ohomemhipostasia,supondoreal.
Por isso, explica Lus Legaz y Lacambra, Estado e Direito so nomes
comquesedesignamamesmacoisaEstadoedireitosonomes comquese
designamamesmacoisaEstadonotemexistncianatural,sendo,apenas,a
unidadedeumsistemadenormas quedispesobreascondiessobquais se
pratica a coao contra um homem por outro homem. O que aparece da
autoridadedoEstadosoaeshumanas,queerroneamenteimputamosauma
essnciaincorprea.
6.2.4Elementosempricos
O Estado possui trs elementos estruturais: territrio, populao e
governo. Mas, adverte Alessandro Groppali (18741959), no se confunde
comnenhum,representaumasntesesuperiorexistenteporsi.
6.2.4.1Territrio
O territrio nem sempre foi considerado essencial existncia do
Estado, e, ainda recentemente, durante a ltima guerra, vimos Estados no
exlio,sempodersobrequalquer territrio. No se podeaceitar ofato,seno
como desvio da condio normal, porque atualmente inconcebvel Estado
privadodeterritrio,povoegoverno.
TerritrioareadasuperfcieterrestresobreaqualoEstadoexercea
suasoberania.
6.2.4.2Populao
ApopulaooelementohumanodoEstado.Vistoemrelaoaela,o
Estadotemdupladimenso:umademogrfica,dadaportodaasuapopulao,
abrangendo, assim, nacionais e estrangeiros, e outra pessoal, dada apenas
pelosnacionais.
6.2.4.3Governos
Elemento do Estado, essencialssimo no plano lgico, o governo,
unidade de constituio e funcionamento dos poderes polticos. Para
Themistocles Brando Cavalcanti (18991980), identificase a idia de
governocomasdeautoridadeeproteo.
6.2.5FormasdeEstado
Apreciados em sua forma, os Estados podem ser simples e compostos,
diviso que resulta de sua estrutura poltica. Se esta una e os poderes,
portanto, concentrados, o Estado simples se diversificada, sendo os
poderes partilhados,o Estadocomposto. No primeiro caso,temoso Estado
unitrio,queGeorges Bourdeaudefinecomoaquelequenopossuisenoum
centrodeimpulsopoltico,natotalidadedosseusatributosedassuasfunes,
estconcentradonumtitularnicoqueapessoajurdicadoEstado.Todosos
indivduos postossobsuasoberaniaobedecemaumasemesmaautoridade,
vivemsobomesmoregimeconstitucionalesoregidospelasmesmasleis.
6.2.5.1Estadoscompostos
Os tipos de Estado compostos so: unio pessoal, unio real, unio
incorporada,confederaoefederao.
6.2.5.1.1Uniopessoal
Unio pessoal um conjunto de estados que, guardando plena
soberania,ficam,emcertomomento,subordinadosaomesmogovernante.Nas
monarquias, sendo o poder pessoal e hereditrio, eventualmente, vnculos de
parentescolevamestadosindependentesaficaremsobaautoridadedomesmo
monarca. Foi em decorrncia de fato dessa natureza que Filipe da Espanha
(15271598)setornoutambmreidePortugal.
6.2.5.1.2Unioreal
Verificase a unio real quando Estados independentes se renem para
adotar uma poltica exterior comum sob o governo de um s soberano e
tambm,acaso,alguns aspectosdasuaadministrao.Auniorealoriginase
de uma convenincia de ordem poltica. Os Estados congregamse para se
projetar no plano internacional sob o mesmo governo, com uma nica
personalidade, constituda com o propsito de permanncia, ainda que
conservemagestoindependentedosseusnegciosinternos.
6.2.5.1.3Unioincorporada
Aunioincorporadamodalidademais ntimadeunio.Delaadvma
constituio de nova entidade poltica que absorve as que lhe deram origem,
sendomaisumprocessodefusodeEstados.
6.2.5.1.4Confederao
A confederao aliana de Estados em carter permanente para a
defesa externa e a manuteno da paz interna, conservando seu prprio
governo.DaconfederaopodesobrevirumEstadofederalouatunitrio.A
Sua, em origem, foi uma confederao, a Confederao Helvtica. Hoje
um Estado descentralizado, que apresenta todas as peculiaridades de unidade
poltica. Na confederao, os Estados preservam a faculdade de, a qualquer
momento, prtermo unio. Os EstadosUnidosda Amrica, antesdeserem
um Estado federal, foram uma confederao sui generis, instituda pela
coalizodeantigascolniasbritnicas.Essafoi,alis,circunstnciainvocada
na cruenta Guerra da Secesso. Alguns Estados entenderam ser direito seu
recuperaraanteriorcondio.
6.2.5.1.5Federao
AfederaoformadeEstadoinspiradaempadresnorteamericanos.
Consiste na diversificao de elementos de ndole estritamente interna
numa unio definitiva. Na federao, somente a Unio exerce atividade
internacionalesoberana.Osseusmembros gozamapenasdeautonomia,ou
seja,poderdegestoemassuntosrespeitantesaoseupeculiarinteresse.
Afederao,noplano internacional,apresenta as caractersticas de um
Estado simples. Sua composio somente aparece no plano interno, na
existnciadeunidadesque,desfrutandodeautonomia,desempenhamopoder
poltico (Legislativo, Judicirio e Executivo), na esfera de sua competncia
privativa.
O federalismo, processo de descentralizao poltica e administrativa,
no se realiza em toda parte debaixo da mesma configurao. H Estados
federaisemqueacompetnciadasunidadesmembrosmuitoamplaeoutros
em que muito reduzida. Fatores histricos concorrem decisivamente para
essa variedade de matizes. Algumas federaes procederam da fuso de
Estados soberanos e outras do desmembramento de Estados unitrios. H
federaes que surgiram por fora centrpeta e federaes surgidas de foras
centrfugas. O processo de federalizao norteamericano, por exemplo, foi
centrpeto.Jofederalismobrasileiro,quenasceudodesmembramentodeum
Estado unitrio, obedeceu a foras centrfugas. Da a grande diversidade
existente entre um e outro. Na Amrica do Norte, ampla autonomia dos
Estados. Ainda hoje, h conflitos em matria de competncia entre a unio e
osEstados,apropsitodeproblemascomoodaintegraoracialnasescolas,
sendonecessrioqueaSupremaCorte,queaConstituioviva,osdirima.
interessante observar, em relao ao Brasil, que, como j assinalara
Francisco Jos Oliveira Vianna (18851951) desde 1930, a minimizao da
autonomia dos Estados tem sido constante, no decorrer de toda a vida
republicana. Atenuase sempre mais o carter composto do federalismo
brasileiro,osEstadosprogressivamenteesvaziadosdasuacompetncia.Alis,
o mesmo fato, ainda que em proporo infinitamente menor, ocorrer na
Amrica do Norte, principalmente em decorrncia da necessidade de
planificaodaeconomia.
6.2.6TiposhistricosdeEstado
Alguns tipos histricos de Estado devem ser conhecidos, at porque
representarammodalidadespeculiaresdeorganizaopoltica.
6.2.6.1Estadoteocrtico
O mais antigofoio Estadoteocrticooriental. NoEstado teocrtico h
vinculao entre o poder poltico e o religioso, entre quem governa e Deus.
Eleapresenta,pelomenos,duasvariantes.Seogovernantedivinizadoouse
exerce o poder poltico como mandatrio de Deus, o Estado robusto, sua
atuao decisiva na vida social. Havendo separao, em relao aos
respectivostitulares, entre opoderpolticoe o religioso,competindoaestea
defesadocredooficial,opoderpolticofrgil,dependentequeficadaclasse
sacerdotal.
6.2.6.2Estadogrego
NaGrcia,existiuumaformasingulardeEstado,quepermitiuaprtica
da democracia direta: o Estadocidade. As condies geogrficas e culturais
helnicas, aquelas muito destacadas por Jean Hatzfeld,responderam pelo seu
aparecimento. Em geral, geograficamente, o Estado uma unidade poltica
extensa, e a cidade, ao contrrio, diminuta. Na Grcia, essas duas unidades
coincidiram. A algumas cidades correspondia uma ordem poltica autnoma:
Esparta, Atenas, Tebas, etc. A geografia grega, com sua topografia
caracterstica, conduziu insegurana, quando os homens mais se
preocupavam com proteo em caso de guerra. As aldeias plantavamse nas
cercaniasdemontanhas,fortificadaaeminnciadoterrenocontraosinimigos.
No seu interior erguiamse os palcios reais. Nas faldas da montanha
agrupavamse cabanas onde habitavam camponeses, artesos e comerciantes.
Emtornodesseplofundavaseacidade,sededogoverno,aparecendo,assim,
acidadeEstado.
De um modo geral, a evoluo das cidadesEstados foi idntica:
comeammonrquicas,passamaoligrquicas,transformamseem tirnicase
somente no fim tornamse democrticas. Informa Aristteles que o seu
progressoiasemprenumaumentocrescente, medida quese intensificavaa
democracia.
Os gregos no se consideravam sditos da autoridade, mas agentes do
poder. Accioli deVasconcelos comentaqueo Estadoem tudo interferia, sem
limitesmoraisoujurdicos,masEstadoeindivduoestavamtoligadosqueos
interesses de ambos se confundiam. O Estado absorvia as personalidades
individuais, maserareputadoamais perfeitaformadesociedade,tantoquea
subordinaodoindivduoaeleeraconsentida,enissoosgregosencontravam
uma afirmao do seu prprio valor. Entenderam eles, com a mxima
perfeio, segundo assinala Homero G. Guglielmini, que somente todos os
homensfazemohumano,razopelaqualsuaexpressopolticapredominante
foi o ideal da cidade autrquica organizada jurdica e hierarquicamente,
segundo o valor social das pessoas. Por isso, a polis, como escreve Werner
Jaeger (18881961), era a fonte de todas as normas de vida vlidas para os
indivduos.
6.2.6.3Estadoromano
Embora influenciado pelo pensamento poltico helnico, o Estado
romanoapresentoutraosprprios.Eramaisobjetodeespeculaojurdicado
quepoltica.Notendeununcatranscendentalizao.
Neleseencontram,comojanotaraLouisdeMontesquieu(16891755),
os primeiros rudimentos do princpio da diviso dos poderes polticos: o
monrquico (cnsules), o aristocrtico (Senado, com grandes atribuies
legislativas)eodemocrtico(assembliaspopulares).
Qualquerquetivessesido,emcertos momentos, ahipertrofiadopoder,
jamaisopensamentopolticoromanotolerouaassimilaodo indivduopelo
Estado.
6.2.6.4Feudalismo
Mais tarde, despontou o Estado feudal. O feudalismo foi uma
organizao socialestratificadaem numerosas camadas, emforma piramidal,
erepousavanaexploraoeconmicadaterra.Entreasvriascamadas,havia
um liame de hierarquia e reciprocidade, que vinha desde o servo, que no
passava de um acessrio do solo, at o prncipe, grande senhor feudal. O rei
distribua o poder por entre os suseranos, de modo que estes o detinham
efetivamente. Por isso, a autoridade do Estado feudal era frgil pela sua
diviso entre numerosas pessoas que, dentro de cada feudo, tinham completa
soberania, legislavam,julgavam e aplicavam a lei. Machado Pauprio refere
se aofeudalismocomo apocaem queo Estadoseeclipsou. Na verdade,no
regime feudal, informa Guizot (17871874), havia uma confederao de
pequenos soberanos, de pequenos dspotas, desiguais entre si e tendo, uns
para com os outros, deveres e direitos, mas investidos em seus prprios
domniosdeumpoderarbitrrioeabsoluto.
6.2.6.5Estadoabsoluto
Na fase seguinte, a caracterstica do Estado contrasta com a da
precedente. Chegamos ao Estado absoluto, surgido quando declinou o
prestgiotemporaldaIgrejaCatlicaoqueremontareformaprotestante,mas
para cujo aparecimento A. Esmein atribui profunda influncia ao Direito
romano.
Os reis avocaram a si poder absoluto, exatamente na poca em que
BodinafirmavaserasoberaniaatributodoEstado.Seasoberaniaqualidade
intrnseca do Estado, no poderia haver nenhum poder acima dele. Por
influncia dessasidiaseresultado de outras alteraes histricas, emergiu o
verdadeiro Estado moderno, absolutista, Estado em que o poder do governo
noencontrarestrio.
6.2.6.6Estadoconstitucional
Graas s revolues inglesa, americana e francesa, chegamos ao
Estado constitucional, o dos nossos dias, ainda que esta afirmativa seja
relativa,porquenossostemposso,tambm,decrisedoconstitucionalismo.
Uma lei suprema tutela tanto o poder e sua autoridade quanto o
indivduo e a sua liberdade. Outros princpios juntamse a este, assim o da
diviso dos poderes, apontada como corolrio de um regime de verdadeiras
franquiasconstitucionais.Mas,noseuconceitoessencialdizseconstitucional
oEstadoemquealeisesobrepeaopoder.Nele,oindivduotemumaesfera
deliberdadeemqueintangvel,eoEstado,emboraamplaasuaautoridade,
umcampodeterminadodeatuao.
Francisco Ayala acentua, com razo, que a caracterstica do Estado
constitucional est precisamente no respeito liberdade da pessoa individual
diante do poder pblico, qualquer que seja a estrutura do seu governo,
singularidade que o situa fora de comparao com qualquer outra criao
poltica que a histria nos possa oferecer, pois corresponde a uma valorao
doindivduopeculiardenossacultura.
6.2.7Formasdegoverno
AorganizaopolticadoEstadopodeassumirvriasmodalidades.
6.2.7.1Aristteles
Aclassificaotradicional,aindaadotadacomonomenclaturalnoestudodeste
tema, a de Aristteles, pela qual toda organizao poltica importa a
existncia de governante e governados. Lgico seria, portanto, classificar as
formas de governo levando em conta o nmero das pessoas que exercem o
poder. Ora, a quantidade resolvese em trs situaes: pode ser unidade,
pluralidade e totalidade. Assim, pode o governo ser exercido por uma,
algumasetodasaspessoas.
Daadivisoaristotlica:monarquia(ogovernodeums),aristocracia
(odealguns)edemocracia(odetodos).
Analisando esses regimes, Aristteles no se inclina, ostensivamente,
pornenhum.Todos solegtimos e,desdequeexercidosparao bemcomum,
so formas puras de governo. Monarquia governo de um para o bem de
todos.Aristocracia,odeumaeliteparaomesmofim.Democracia,odetodos
paraobemdetodos.
A essas formas correspondem outras, impuras ou anmalas, em que a
situao quantitativa a mesma, mas a finalidade oposta. Assim,
monarquia corresponde a tirania, poder de um para seu prprio bem
aristocracia, a oligarquia, o governo de uma minoria em seu benefcio
democracia, a oclocracia ou demagogia, governo da plebe aulada pelas
paixes.
Hoje, impossvelconter asformasreaisde governodentro do quadro
aristotlico. Outros critrios as distinguem, mais compatveis com a sua
apresentaomoderna.
6.2.7.2Governoabsolutoeconstitucional
Temos, por exemplo, a diviso: governo absoluto e governo
constitucional.Absolutoaquelecujotitularpodetudo,segundoasuaprpria
vontade. Constitucional o em que existe limite da autoridade, traado por
umaleimaior aConstituio.
6.2.7.3Monarquiaerepblica
Distinguemse, tambm, os governos em monrquicos e republicanos.
Na monarquia, o poder pessoal, vitalcio e hereditrio. Na repblica,
temporrioedeorigemeletiva.
6.2.7.4Governodiretoerepresentativo
O governo direto, quando o prprio povo o desempenha em
deliberaes coletivas representativo, quando o faz por intermdio de
mandatrios.
Eqidistantes dessas formas, h as semidiretas, em que o governo, em
princpio representativo, no delibera, em certas questes, sem consulta ao
povo.Quandosetratademedidademaiorrepercussooudemudanapoltica
expressiva, o povo ouvido para ratificla ou no. o referendo, prtica
direta,numgovernorepresentativo.
6.2.7.5Governoparlamentarepresidencial
Nos Estados modernos, o governo exercido por trs poderes:
Legislativo,ExecutivoeJudicirio.
Emalgunspases,entreelesaInglaterra,queexemploeparadigma,a
separao no rgida, sendo o Executivo uma projeo do Legislativo, ou,
como se expressa Afonso Arinos de Melo Franco (1905), sua simples
delegao. Seu regime parlamentarista. Do Parlamento sai o Gabinete que
exerce o governo. A figura do titular do Poder Executivo simblica,
representativa do Estado. O chefe do governo o primeiroministro, que
organizaoGabineteconformeasuareceptividadenoParlamento.
Umavezconstitudo, oGabinetepoder,todavia,cair,seoParlamento
no lheder, de pronto, um voto de confianaou, mais adiante,sedesaprovar
suasmedidasmaisimportantes.
O parlamentarismo, em certos pases, tem produzido grande
instabilidade poltica, o que no acontece na Inglaterra, fato que justifica a
observao, comumente feita, de que s vivel em Estados em cuja
populao h idias polticas nitidamente formuladas, representadas por
partidoscorrespondentesagruposdefinidosdeopinio.
No presidencialismo o Poder Executivo est concentrado num titular
das respectivas funes, de quem os ministros so simples auxiliares de
confianapessoal.
6.2.7.6Kelsen
Segundo Kelsen, numa das suas obras mais admirveis, Essncia e
Valor da Democracia, podemos dividir as formas modernas de governo,
abstraofeitadasuaestruturaaparente,quepodedisfararumaditadurasob
capa de Repblica, um regime liberal sob a de Monarquia, em duas:
democraciaeautocracia.
Destacaremos a fundamental dentre a indicao das caractersticas de
ambas. Nas autocracias, a vontade psicolgica de quem governa confundese
com a vontade poltica do Estado. O governante atua pelas suas virtudes e
defeitos. Sua vontade prepondera no exerccio do governo. Nas democracias,
o poder essencialmente impessoal. Em verdade ningum o tem, somente o
povoealei.Ogovernanteinstrumentodopoder,noseutitular.Oexerccio
impessoal do poder, nos limites da lei, sem a contaminao de qualquer
elemento psicolgico, caracteriza a democracia como regime de garantias
objetivas de liberdade, que no ficam a merc da vontade, ou do carter de
quemgoverna.
6.2.7.7Pisanelli
Segundo comisso presidida por Codacci Pisanelli, instituda pela Unio
Interparlamentar,asformasdegovernodevemsergrupadascomosegue:
a) as em que o presidente eleito por sufrgio universal e tem maior
autonomia(formamonista)
b) as em que o presidente exerce o governo juntamente com uma
assemblia(formadualista)
c) as em que h um executivo colegiado emanado do Parlamento (forma
sovitica).
6.2.7.7Loewestein
AclassificaodeLoewesteinmaisextensa:
a) democraciadireta
b) governodeassemblia
c) governoparlamentar
d) governodegabinete
e) governodeconselho,diretoriaoucolegiado.
6.3PERSONALIDADE
Asinstituiesjurdicasprivadasassentamnumainstituiomatriz,ada
personalidade.Sem quesereconheaaohomemaptidoparaexercerdireitos
e assumir compromissos, impossvel a existncia de tais instituies. A
personalidade condicionante de todas elas. , no dizer de Caro, citado por
Boirac, a raiz do direito, reside na constatao de que o homem, enquanto
homem,seseparadorestodanatureza.
6.3.1Evoluo
A personalidade evoluiu atravs de trs fases diferentes: a coletiva, a
familiareaindividual.
Em poca recuada, o indivduo no tinha condio jurdica autnoma.
Nessa fase de anonmia jurdica do indivduo, o grupo era, e somente ele,
pessoa, porque o indivduo no era titular de direitos que lhe pudesse
contrapor, e a personalidade jurdica, no comentrio de Jacques Estve, tem
por fundamento a necessidade de garantir o indivduo contra o excesso de
constrangimentosocial.
Depois a personalidade se tornou familiar. a famlia a pessoa que se
realiza em vida social. Os interesses dos seus integrantes no tm proteo
jurdica. Apenaselaexerce direitos ereivindica interesses,comocomunidade
personificada.
NoDireitoromano,perodoclssico,podemossituaressemomento.
Afamlia,ento umaunidadesocialdegrandeporte,abrangendotodas
as pessoas de uma s prognie ou sujeitas a uma s autoridade, atuava
poltica, religiosa, cultural e economicamente, como verdadeira pessoa de
direito,sobocomandoepelarepresentaodeseuchefe,opaterfamilias,que
dispunhadeautoridadeampla,desdobradamequatropoderes:patriapotestas
(sobrefilhosenetos),dominicapotestas(sobreosescravos),manus(sobreas
mulheresqueingressavamnafamliaemvirtudedomatrimnio)emancipium
(sobreosfilhosalheiosvendidosoudadosempagamentodedvida).
Com o tempo, a hipertrofia da autoridade do paterfamlias foi sendo
limitada.
Assim,emrelaodominicapotestas,o imperadorCludio(10a.C.)
tornou livresosescravosabandonados por velhice. Gublio Elio Adriano(76
138)proibiuque os senhores os matassem, salvocom ordemjudicial, ou que
fossem torturados para confessarfaltas, amenosque contraelespesasseuma
acusao concreta, extinguiu o crcere privado e tornou ilegal a sua venda
parapromotores de espetculos gladiatrios. Eo imperadorTito Antonio Pio
(86161) autorizou os escravos a se queixarem aos magistrados quando
maltratados.
Fato idntico ocorreu quanto manus. A situao social e jurdica da
esposaalterousenoperodorepublicanoesobodomniodosimperadores.O
matrimnio com manus foi cedendo lugar ao livre, a ponto de no ltimo
sculo da Repblica, ser aquele uma exceo, A Lex Julia de Adulteriis
extinguiuopoderdevidaemortedomaridosobreamulher,mesmonoenlace
commanus.EaotempodeJustinianojaleinooreconheciamais.
A patria potestas, igualmente, foi sendo mitigada. Caracala (188217)
proibiuavendadefilhos,salvoemcasodeextremamisria.Adrianopuniuo
paterfamliaspeloabusododireitodematarofilho. Os imperadores Antonio
Pio e Marco Aurlio (121180) suprimiram o direito de o pai obrigar o filho
ouafilhasuijurisasedivorciaremdocnjugeaquesehouvessemunidopelo
casamentolivre.Nofimdoperodoimperialreconheceuseodeverpaternode
sustentarosfilhos,restringiuseopoderdopairelativodisposio dosbens
dos filhos maiores.E ao tempo de Augusto(63 a. C 14) os soldados ainda
sob patria potesta receberam o direito de dispor dos bens que houvessem
adquiridoduranteoserviomilitar.
Por ltimo, a personalidade se individualizou, tornouse condio do
indivduo,quepassouatitulardedireitosecompromissos.
Individualizada, ainda evolui por um processo de gradativa
generalizao, sob influncia de dois fatores principais, mesclados de
elementosreligiosos,culturaiseeconmicos:aemancipaodosescravoseda
mulher.
A personalidade serve de eixo a duas instituies privadas bsicas:
famlia epropriedade. Doestas ao indivduodireitoanpciase utilizao
exclusiva das vantagens que as coisas podem proporcionar. A essas
instituies duas outras se acrescentam: as obrigaes e a sucesso. As
obrigaessovnculosjurdicosdefundopatrimonialportanto,spoderiam
aparecer depois da propriedade. A sucesso ligada famlia, porque a sua
motivao histrica foi permitir a transformao do patrimnio a sucessivas
geraes da mesma famlia, e ligada propriedade, porque uma das
maneirasdetransferila.
6.3.2Direitosdepersonalidade
A personalidade, como vimos, , por definio, o atributo que tem um
entedeexercerdireitoseassumircompromissos.Quandoseafirma,portanto,
de um ente que pessoa, se lhe reconhece a aptido para o exerccio de
direitos. Dizer, todavia, por exemplo, que o homem, como pessoa, pode
exercer direitos, pouco significa se a tal possibilidade no corresponder um
mnimo concreto de direitos. Tais direitos, sem os quais a prpria noo de
personalidadeseriapuramente formal, sochamados direitos personalssimos
oudepersonalidade.Exemplos:direitovida,honra,liberdade,nome,figura,
privacidade,etc.
Embora a disciplina de tais direitos na legislao civil apenas venha
surgindo recentemente, cresce, todavia, de dia para dia, o interesse pela sua
tutela e pela ampliao do seu contedo. O nosso vigente Cdigo Civil, por
exemplo,noreservadispositivos especiais paraessesdireitos. Masoprojeto
emcursono Congresso Nacionala eles expressamenteserefere, declarando
osintransmissveiseirrenunciveis,edispondo,especialmente,sobreodireito
integridade fsica, ao direito ao cadver, recusa de assistncia mdica, ao
nomeeaimagem.
Os direitos de personalidade caracterizamse por serem necessrios,
vitalcios, absolutos privados, nopatrimoniais, intransmissveis e
impenhorveis.Sonecessriosporqueimprescindveisexistnciamesmada
pessoa como ser capaz de direitos. A vitaliciedade, ou seja, o fato de serem
conferidos pessoa do nascimento morte, corolrio da prpria
necessidade.Soabsolutosprivados,porquepertinentesaointeressediretodo
indivduo (privados) e oponveis contra todos, sendo sujeito passivo do
correlato dever de respeito a totalidade das pessoas notitulares. A no
patrimonialidadesignificaquetaisdireitosnopodemserestimadosemvalor
econmico, no podendo, portanto, ser negociados. Notese, porm, que a
nopatrimonialidade do direito em si, no, em certos casos, do seu
exerccio. Assim, por exemplo, o exerccio do direito exclusividade da
prpria imagem pode gerar compensao econmica, tal como acontece
relativamente aos modelos humanos, usados para qualquer fim. So esses
direitos,ainda,intransmissveis,porque,constituindorequisitofundamentalda
existncia da prpria pessoa, no plano do Direito, deles ningum pode se
despojar.Finalmente, so impenhorveis. Sendo apenhora o atopeloqual se
iniciaaexpropriaodosbensdodevedor,para,comoulteriorprodutodesua
venda,satisfazerseocrditodeseucredor,aimpenhorabilidadenada mais,
no caso, do que uma resultante da nopatrimonialidade, porque crditos no
sesatisfazemsenocomoprodutodavendadebenspatrimoniais.
Orlando Gomes divide os direitos de personalidade em dois grupos:
direitos integridade fsica e direitos integridade moral. A classificao
precria, pela incindibilidade dos respectivos conceitos, tanto que, ao se
analisaremparticularmentealgunsdeles,constataseadificuldadedesitulos
num ou noutro grupo. Como, porm, doutrinariamente, a matria ainda est
emfasedeformao,podeseacataradiviso,nafaltademelhor.
So direitos integridade fsica: o direito vida, o direito sobre o
prprio corpo e o direito ao cadver. So direitos de integridade moral: o
direitohonra,odireitoliberdade,o direitoaorecato(ouprivacidade),o
direitoimagemeodireitoaonome.
Noquedizcomodireitovida,queprecondiomaterialdetodosos
demais, no se deve entendlo como direito mera sobrevivncia,
ampliandose,aocontrrio,sempremais,osinteressescontidos naexpresso:
avidacomoexistnciaemcondiesdedignidadehumana,comproteoaos
riscos resultantes da tecnologia moderna, garantia de assistncia mdica e
hospitalar etc. Diretamente ligado ao problema do direito vida est a
discutida tese da eutansia, ou seja, da morte, por piedade, s pessoas
portadorasdeenfermidadeincurvel.Aindamais:comoalcancedamedicina
moderna e o aparecimento de um arsenal de recursos capazes de prolongar a
vidaquandojnoconsistemaiselasenonoexerccioinconscientedemeras
funes vegetativas, surgiu, tambm, o problema da chamada eutansia
passiva, isto , sobre a licitude de serem sustados ou no os recursos que,
numa tal emergncia, prolongam a vida do enfermo sem qualquer esperana
desuarecuperao.
O direito ao prprio corpo assegura a inviolabilidade deste a qualquer
leso e, por serem os direitos de personalidade intransmissveis, leva
polmica sobre a legitimidade de dispor a pessoa de partes de seu prprio
corpo.Oaparecimentodatcnicacirrgicadostransplantesacendeuinteresse
sobre a matria. Orientase a doutrina no sentido de proibir os atos de
disposio do corpo que acarretem diminuio permanente da integridade
fsica do doador. Neste setor situamse os problemas ligados inseminao
artificial de seres humanos, legitimidade das prticas de esterilizao, um
supostodireito ao aborto, justificado pelasfeministasnaqualidade de donas
de seuprprio corpo, odireito de recusaassistncia mdica e a ilicitudede
todos os procedimentos policiais ou judiciais que, sob as mais variadas
modalidades de tortura, atentam contra a integridade fsica dos acusados
detidos.
Odireitoaocadver,cujoexerccio,comobvio,nocabeaoextinto,
seno como disposio de ltima vontade, mas a seus parentes, justifica,
porm, da partedaquele a destinao prviadoprpriocadver,quandofeita
parafinscientficosoualtrusticos.
Dos direitos integridade moral o primeiro o direito honra, que os
lxicos definem como um sentimento de dignidade que leva o indivduo a
procurarmereceremanteraconsideraogeral.NocampodoDireitoPenal,a
tutelahonrasefazpelaincriminaodacalnia,dadifamaoedainjria.A
calnia a falsa imputao a algum de ato capitulado como crime. A
difamaoatentacontraareputaodapessoa.Eainjriaatentacontraoseu
decoro e a sua dignidade. No Direito Civil, na parte relativa famlia, a
condutadesonrosadeumcnjugejustificaopleitodeseparaodooutro.
O direito liberdade ontologicamente estrutural da prpria ordem
jurdica, segundo o princpio de que o que no est proibido est permitido.
Nissoestocampodachamadaliberdadecivil.Enissoestagarantiadeque,
ressalvada afaixa de condutaque alei pe sob a tutela de suas prescriese
no resguardo total da vida ntima, hoje assolada pela multiplicao dos
instrumentosdedetecoadistncia,sejadeimagens,sejadepalavras.
Odireitoimagemtutelaaaparnciaexteriordapessoa,maistpicano
aspectofisionmico,masjuridicamentesignificandoinviolabilidadedodireito
quetemapessoadenoveraprpriaimagemusadaparafinscomerciaisno
autorizados ou de maneira comprometedora de sua fama. Sua proteo varia
na medida de condies pessoais que divergem de indivduo para indivduo.
No constitui violao desse direito a divulgao moral de retratos ligados a
atos pblicos por sua natureza ou sem finalidade lesiva aos interesses da
pessoa.
O direito ao nome d pessoa exclusividade para seu uso, vedado,
portanto,aterceirofazlo.Aproteodonomeabrangeoprenomeeonome
patronmico,eaindaopseudnimoadotadoparaatividadeslcitas.
6.4FAMLIA
A famlia uma instituio que acolhe, simultaneamente, interesses
geraiseparticulares.Instituioprivada, porqueligadacondioindividual,
a sua projeo social imensa. No podemos dizer qual o seu aspecto mais
importante,seoparticularouosocial.
As relaes sexuais, emborasejampressupostos fticosdafamlia, no
aintegramcomoinstituio.Afamliaformasedaligaoestveldepessoas
desexosdistintos,queseinvestemdedireitosedeveresrecprocosparacoma
sociedade e a prole que provier da sua unio, consumada segundo um
paradigmasocial.
6.4.1Evoluo
Aevoluodafamliaconstituimatriacontrovertida.
Tradicionalmente se admitiu tivesse assumido, desde sua origem, a
estruturadeumcasalsobaautoridademasculina.
Essa tese veio, mais tarde, a sofrer contradita, pretendendo substitula
por outra, fundada nas pesquisas de Bacchofen, Morgan, Mac Lennan e
outros, da qual Friedrich Engels (18201895)eo socilogoespanhol Manuel
SalesyFerrfazemcircunstanciadaexposio.
Sustentaqueafamliateriaaparecidotardiamenteeevoludoconforme
outroesquema.Antesteriahavidoatribo heterista,pocaemqueas relaes
sexuaispromscuasnoconduziamaqualquertipoconstantedeconvivncia.
Vriastradies soreferidas emabono da afirmativa. Entreelasa de
povos em que o parentesco no se definia em termos individuais, mas de
geraes,demodoqueumageraoerapaternaemrelaoseguinteefilial
em relao anterior, sendo os indivduos da mesma considerados irmos, o
quejustificariaaexogamia,pelaqualaspessoaseumgruposomentepodiam
manterrelaescomasdeoutro.
Aprimeiramaneiradeserdafamliafoiamatriarcalcomodecorrncia
da maior ligao da mulher prole. O parentesco se determinava em termos
maternos,e a famlia estavasob autoridade materna. Afamlia matriarcalfoi
originariamentepolindrica:umasmulherparaumgrupodehomens.
Afamliamatriarcalpolindricatransformouseempatriarcal,passando
o parentesco a se definir pela linha viril. Sua primeira modalidade foi
patriarcalpolgina,justamenteoopostodamatriarcalpolindrica:umsvaro
eumgrupodeesposas.
Finalmente apareceu a famlia moderna, monogmica e patriarcal,
homem,esposaefilhos,sobaautoridademasculina.
Para alguns socilogos, a hiptese exposta contradita noes
elementares de biologia, que nos mostra o macho sempre ciumento da posse
da fmea, observao vlida para todas as espcies animais, inclusive a
humana.
Por outro lado, a hiptese assenta em vestgios de instituies
observadas em grupos que ainda hoje se conservam em estado primitivo, e
numasriedeinformaeshistricas.
razovel crer que seja impossvel admitirse um s esquema de
evoluoparatodosos grupos.Antesestateriasidovria,segundocondies
econmicas,imperativosreligiososepadresculturais.
A famlia moderna, alm de monogmica, igualitria. Uma das
conquistasdonossotempoaigualdadesocial,cultural,econmicaepoltica
da mulher. Mulher e marido partilham dos mesmos direitos e dos mesmos
deveres.
6.4.2Casamento
Ocasamentooatoconstitutivodafamlialegtima.
Difcildeterminarasuanaturezajurdica.
Para alguns civilistas, influenciados pelas modernas teorias da
instituio,ocasamentoumainstituio.
Para muitos um contrato mas alguns, embaraados em estabelecer a
sua natureza contratual, preferem chamlo contrato sui generis, isto , um
gnero,noespciedeumgnerocomum.
Oquedificultaconceituarocasamentocomocontratoasingularidade
dosdeveresedosdireitosqueimportae,nospasesantidivorcistas,tambma
suaindissolubilidade.
Apesar de tudo,prepondera no Direito Civilessa tendncia,tanto mais
queasituaodospasesondenoexisteodivrciojhojeextica.
6.4.2.1Evoluo
Aprimeiraformadecasamentoparecetersidoorapto,queconsistena
posse, violenta ou no, da mulher. A histria est repleta de exemplos.
EncontrmolosreferidosfundaodeEsparta,assimcomodeRoma,esta
iniciada com o famoso rapto das Sabinas, e revividos em tradies
minuciosamentecomplicadasporSampaioeMelo.
Acompradaesposasucedeuaorapto.Amulherrepresentava,napoca,
um valor econmico, que veio a perder completamente depois. Pelo
casamento, deslocandose de uma famlia para outra, desfalcava
economicamente a que abandonava. Da a obrigao do pretendente de
compensar o prejuzo. A composio assume forma de permuta pela entrega
de uma mulher da famlia do futuro marido da noiva, e, s vezes, pela
prestao de servios famlia desta. Com o aparecimento da moeda, a
transaotomaoaspectodecompraevenda:pagaseopreo.
S tardiamente ocasamentoassumiu feioconsensual, passando aser
atodevontadeapenasdosnubentes.
A consensualidade do casamento est na estrita dependncia da
condio da mulher. Enquanto a ordem social lhe deferia posio de
inferioridade, no se podia cogitar de casamento consensual, este
progressivamente se afirmando, na medida em que e emancipa a mulher, de
modo que, at mesmo recentemente, embora oregime jurdico do casamento
jfosseoconsensual,arealidadenocorrespondiaaoconceitolegal.
HquedestacarasignificaohistricadoCristianismonesseprocesso
de redeno social da mulher, e, modernamente, as imposies das novas
estruturasresultantesdasociedadeindustrial.
6.4.3Fimdasociedadeconjugal
A dissoluo voluntria da sociedade conjugal, no Ocidente, obedece
aos princpios originrios do direito romano ou do Direito cannico. Do
Direito cannico veio o que, no Brasil, denominamos desquite, simples
separao de corpos e bens, sem ruptura do vnculo matrimonial, o que
impede os desquitados de convolarem novas npcias. Do Direito romano
procedeu o divrcio a vnculo, pelo qual, voluntariamente, unilateral ou
bilateralmente,rompeseovnculomatrimonial,sendooscnjugesrestitudos
condioprmatrimonial,podendo,assim,contrairnovasnpcias.
A tradio divorcista foi um dos traos mais assinalados do direito
romano, no qual se estimava a essncia tica do casamento, que estava na
affectiomaritalis,adisposiodoscnjugesdeseremmaridoemulher,semo
que o casamento se esvaziava da sua nica e real motivao, no havendo
razoparamantlopormeraimposioobjetiva.Alegislaoromanasempre
foi divorcista, e os juristas e o povo de Roma sempre se opuseram a vrias
tentativas de limitao da liberdade de quebra do vnculo conjugal. Henri
Stoedtler, citado por Almquio Diniz (18801936), comenta que somente os
costumes e a opinio pblica, est muito poderosa na antiga Roma,
constituam um freio liberdade absoluta de divrcio, que era legalmente
completa.
6.4.3.1Dissoluolivre
Historicamente examinada a matria, verificamos que, antes
propriamentedehaverodivrciocomoinstituiojurdica,oque,atmesmo
dopontodevistalgico,presumeaexistnciadafamliainstitucionalizada,as
ligaes, que mais tarde se denominaram conjugais, dissolviamse com a
mesmaliberdadecomqueseconstituam.
Poderseia, assim, aludir, ainda que com impreciso tcnica, a um
recuado perodo em que os laos entre homem e mulher eram plenamente
dissolveis.
6.4.3.2Casamentoaprazo
Tambmantecedeaodivrcioaexistnciados chamados casamentosa
prazo, usuais em algumas comunidades, ainda que s vezes sob regime de
clandestinidade,nosquais,comoaprpriadenominaoodiz,estavacontida,
noatoconstitutivodaligao,asuaulteriordissoluo.
6.4.3.3Repdio
Outra modalidade de se pr termo sociedade conjugal foi o repdio,
comum aos povos orientais, embora tambm encontrado no Direito romano,
quase sempre como ato unilateral do marido de rejeitar a esposa, faculdade
quelheeraoutorgadaprincipalmentequandoocasalnogerasseprole,oque
entoseatribuaexclusivamentemulher.
6.4.3.4Direitoromano
S mais tarde surgiu propriamente o divrcio, com seus contornos
legais definidos e o seu elastrio amplo, do que modelo o j citado Direito
romano.
6.4.3.5Indissolubilidade
Sob influncia do Direito cannico e do prestgio temporal da Igreja
Catlica o casamento transformouse em liame indissolvel. Passouse a
admitir,apenas,ameradissoluodasociedadeconjugal(separaodecorpos
edebens),semrompimentodovnculomatrimonial.
6.4.3.6Divrcio
Tal situao, porm, no haveria de perdurar. Logo o princpio da
dissolubilidade voltou a afirmarse, gerando um irreversvel processo de
disseminaouniversaldodivrcio.
Decisiva foi a influncia da Revoluo Francesa, mais pelos seus
filsofos do que pelosseus juristas,conformeobserva Ernest Glasson (1839
1907). O seu prestgio no mundo ocidental foi amplo e, por isso, o divrcio,
comoinstituioessencialmenteliberal,tendeuasegeneralizar.
6.4.3.7Direitobrasileiro
No Brasil, at o ano de 1977, no havia divrcio, mas apenas a
separaodecorposebens,semquebradovnculomatrimonial,oquerecebia
adenominaodedesquite,podendooperarseamigveloulitigiosamente,no
primeirocasoapenasdepoisdedoisanos dematrimnio. Odesquite litigioso
era o que um dos cnjuges requeria contra o outro, alegando falta capaz de
justificaraconcessodamedida.Asrazesqueoautorizavameramdedireito
expresso:adultrio(violaododeverdefidelidade),sevcia(agressofsica),
injria grave(comportando ampla variedadedesituaes), tentativade morte
eabandonodolarconjugalpormaisdedoisanos,semjustacausa.
Em 1977 a Emenda Constitucional n 9 suprimiu da Magna Carta
brasileiraoprincpiodaindissolubilidadedovnculoconjugal,oquepermitiu
fosse aprovada, no mesmo ano, a lei n 6.515 que regulou os casos de
dissoluo da sociedade conjugal. Ao antigo desquite passou a lei a
denominar separao judicial. Pode esta ser amigvel, ou seja, por mtuo
consentimentodoscnjuges,desdequecasados hmais dedois anos.Epode
ser litigiosa, quando pedida por um dos cnjuges contra o outro, alegando
conduta desonrosa ou qualquer ato que importe em grave violao dos
deveres do casamento e tornem insuportvel a vida em comum. Vse,
portanto, que, acertadamente, a nova lei omitiuse de fazer enumerao
taxativa das causas que podem justificar o pedido de separao. A mesma
medidapodeserpleiteadaporumcnjugecontraooutroseprovararuptura
davidaemcomumhmaisdecincoanosconsecutivos,eaimpossibilidadede
sua reconciliao. E tambm pode ser pleiteada quando requerida contra
cnjuge que estiver acometido de grave doena mental, manifestada aps o
casamento,quetorneimpossvelacontinuaodavidaemcomum,desdeque,
aps uma durao de cinco anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de
cura improvvel. Tanto o pedido de separao fundado em ruptura da vida
emcomumcomoofundadoemgraveenfermidadementalserorecusadosse
puderem constituir causa de agravamento das condies pessoais ou da
doena do outro cnjuge, ou determinar, em qualquer caso, conseqncias
moraisdeexcepcionalgravidadeparaosfilhosmenores.
A separao judicial determina a separao de corpos e a partilha dos
bensepeatermoaosdeveresdecoabitaoefidelidaderecproca.
Somente depois de trs anos de separao judicial que pode ela ser
convertida em divrcio, podendo, em conseqncia, os j agora divorciados
contrair novo matrimnio. A converso pode ser requerida por ambos os
cnjugesouporsomenteumdeles,variando,emcadacaso,oprocedimento.
Consigna ainda a lei uma norma especial, pela qual, em havendo os
mesmosfundamentos,nocasodeseparaodefato,comincioanteriora28
de junho de 1977, edesdeque completado cincoanos, poder serpromovida
aodedivrcio,naqualsedeveroprovarodecurso dotempodaseparao
easuacausa.
Em conseqncia da promulgao da Constituio de 1988, a lei n
7.841, de 17 de outubro de 1989, reduziu os prazos para a obteno do
divrcio, que passaram a ser de um ano aps a separao judicial e de dois
anosconsecutivos depoisdaseparao de fato,esta caracterizvela qualquer
tempo.
6.5PROPRIEDADE
Propriedade a instituio privada que define a posio relativa de
homensecoisasnumcontextosocial.odireitoqueaordemjurdicaoutorga
aohomemparafruirdascoisascomexclusividade.
A propriedade um direito absoluto. Com isso no se afirma que o
proprietriopodetudo.Aocontrrio,soatualmentesensveisasrestriesao
exerccio do seu direito, condicionado que est pelo interesse social.
absoluto, no sentido tcnico do vocbulo: direito de uma pessoa, diante da
qualestotodasasdemaisobrigadasporumdevernegativoderespeito.
6.5.1Domniotiledomniodireto
Analisada na sua estrutura a propriedade um feixe de direitos. As
coisas proporcionam mltiplas utilidades e na propriedade contmse tantos
direitos quantas so as serventias que oferecem. Essas possibilidades esto
encerradas em trs grupos: direito de uso, direito de gozo e direito de
disposio. Por isso, dizse que o proprietrio tem o direito de usar, gozar e
dispordacoisa.
Usar uma coisa fruir a sua utilidade natural. Usa de uma casa quem
mora nela,deum livro quem o l. Numa hiptesecomonoutra,retiramos da
coisaavantageminerentesuanatureza.
Pelodireito de gozo, o proprietrio faculta o usodacoisaaoutrem,de
quemaufereumacompensao. Oproprietriodeumacasa,alugandoa,est
gozandodela,porquetransfereaolocatrioousoedelerecebeoaluguel.
Odireitodedisposioodeextinguiroprpriodomniosobreacoisa,
destruindoa,outransferindoaaoutrapessoa.
Aoconjuntodessesdireitoschamamosdomniotil.Aexpressobem
clara:elescorrespondemsutilidadesqueoproprietrioobtmdacoisasobre
aqualexercedomnio,ouseja,propriedadeplena.
Alm desses direitos que formam o domnio til, existe o vnculo
jurdico em si, pondo a coisa na dependncia da pessoa: o domnio direto.
Quempossuiumobjeto,mesmosemusar,gozaroudispordele,nemporisso
deixa de ser proprietrio. O liame de subordinao exclusivamente legal a
propriedadenasuapuraessnciajurdica.
Alcanandoogeralpeloparticular,diremosquepropriedadecondio
dedependnciaemqueoordenamento legalcolocaascoisasfacespessoas,
dependnciaque se resolve numa somadevantagens. Odireito s domnio
diretoodireitos vantagens,domniotil.Quandoamesmapessoatitular,
tantodo domniodiretoquantododomnio til, dizseque tem sobre a coisa
domniopleno.
6.5.2Evoluo
Apropriedadeevolui:
a) pelapassagemdamvelaimvel
b) dafasecoletivaparaafamiliaredestaparaaindividual.
A propriedade dos bens mveis antecedeu do solo. Os artefatos
produzidos pelo homem para a sua atividade foram os primeiros bens
apropriados. A propriedade mvel deve ter sido a nica quando a vida do
homem era nmade, limitada sua atividade econmica caa e pesca. A
economiahumanaerapredatria.Localizadonumarea,ohomemconsumiaa
caadaregioeopeixedassuasguas.Esgotadaariqueza,deslocavasepara
outraregio,ondeiarealizaramesmaempresa.Umaeconomiadessanatureza
nosecompadececomavidafixadanumdeterminadolocal.
Somente quando o homem passou a dedicarse ao pastoreio e
agricultura, conservando e recuperando as riquezas naturais, que sua vida
tornouse sedentria. quando se admite tenha surgido a propriedade
imobiliria.
No tocante aos seus titulares, a propriedade teve a mesma evoluo da
personalidade. Foi coletiva, familiar e individual. A passagem de uma fase
paraaoutraesteveestreitamenteligadaaosmtodosdeproduo.Nocomeo,
ogrupoproduzcomoumtodo,aeconomiacoletiva.Emconseqncia,dele
apropriedade. Maistarde,afamlia, como subgrupo,constituia matriz das
riquezas sociais. Como corolrio dessa organizao econmica surge a
propriedadefamiliar. Finalmente,o indivduotransformase,ele mesmo,num
valoreconmico,numaclulaprodutiva,eapareceapropriedadeindividual.
6.5.3Fundamento
Matria jurdica, sociolgica e politicamente polmica a do
fundamentododireitodepropriedade.
Nocabeaquiarestauraocompletadodebate,senoaindicaodas
idiasgeraissobreoeixodacontrovrsia.
As doutrinas que enfrentam o problema filiamse a duas teses:
individualistaesocialista
A distino depende do que se considera seja a grande finalidade do
Direito. Se pretendemos que os seus fins fundamentais so os do indivduo,
chegamos posioindividualista.Se,diversamente,que maisrelevantes so
os fins de interesse social, chegamos posio socialista. Para o
individualismoasociedadeomeioeoindivduo,ofimparaosocialismo,o
indivduoo meioeasociedade,ofim.Ou,comoensinaPaulinoJacques, o
individualismo organiza o convvio humanocolocandoo indivduo nocentro
da estrutura social, porque tudo parte dele e retorna para ele, e o socialismo,
ao contrrio, constitui o convvio pondo os grupos sociais no centro da
estruturadasociedade,porquetudoemanadelesevoltaparaeles.
Asteorias individualistasdapropriedadealcanaramasuaculminncia
no sculo XIX, sob a influncia do liberalismo que inspirou a Revoluo
Francesa.Elasgeraramaconvicodequeapropriedadeumdireitonatural,
que remonta fase prsocial da vida humana, verdadeira dimenso da
personalidade.VonJhering,porexemplo,afirmaqueapropriedadenomais
doqueaperiferiadapersonalidadeestendidaaumacoisa.
Asteoriassocialistas,emcontraposio,consideramquetodariqueza
social. Sendo a propriedade uma forma de fixao das riquezas, ela pertence
aogrupo.Aningumcabeaexclusividadededomniodascoisas.
Alheios discusso, os fatos evidenciam que as doutrinas metafsicas
sobre o direito de propriedade so hoje caducas, no cabendo admitilo, na
frase tpica de Alphonse Boistel, como fundado na prpria natureza do
homem. Mesmo nos pases em que a propriedade privada estrutural da
ordem econmicojurdica, a propriedade est sensivelmente limitada, indo
apenasatondenocolidecomointeressesocial.
6.5.4Desmembramento
A natureza multifilamentosa da estrutura do direito de propriedade
permite o seu desmembramento, que ocorre quando o proprietrio transfere
para terceiro os direitos contidos no domnio til. Sendo a propriedade um
direito real (direito sobre coisa, na verso tradicional), a pessoa beneficiada
pelo desmembramento, a que o proprietrio transmite seus direitos, tornase
titulardeumdireitorealsobrecoisaalheia.
Nem sempre, porm, como observa Lacerda de Almeida, a
desintegraodosdireitoscomponentesdodomniotilsignificalimitaodo
domnio. O meroexercciodealguns delespodesetransferirsemquesofrao
domnio diminuio da sua plenitude, tal o caso da locao, na qual o
proprietrio locador transfere ao locatrio omero exerccio do direitodeuso.
Stemoefeitodedesmembrarodomnioaalienaododireitoemsi,nodo
seusimplesexerccio.
Os direitos reais sobre coisas alheias so: servido, enfiteuse, uso,
usufruto,rendavitalcia,penhor,hipotecaeanticrese.
6.5.4.1Servido
Hservido,quandooproprietrio,poriniciativa prpriaou imposio
legal,permiteaonoproprietrioalgumaserventiadeumbemimvel.Casos
tpicos do clara idia da instituio. Assim, a servido de passagem. Se um
terrenonotemacessodiretoaumaviapblica,porseintercalarementreesta
eeleoutros terrenos,oseuproprietriopodeexigirdosconfinantes direitode
passagem.Oprdiooneradopelaservidochamaseservienteeobeneficiado
porela,dominante.
Lafayette Rodrigues Pereira (18341918) assinala, com propriedade, o
nexo que existe entre o sentido e a denominao dessa instituio, quando
explicaqueasservidesnosooutracoisasenodireitosporefeitodosquais
unsprdiosservemaoutros.
6.5.4.2Enfiteuse
A enfiteuse um contrato pelo qual o proprietrio de um imvel
transfereaoutrapessoa,denominadaenfiteutaouforeiro,todooseudomnio
til(uso,gozoedisposio),conservando,apenas,odomniodiretoquelhed
odireitodecobrardaquelaumapensoanual,denominadaforo.Seoenfiteuta
aliena o domnio til, obrigado a dar preferncia ao proprietrio para a
aquisionoconvindoaoproprietrioacompra,restalheodireitodecobrar
certapercentagemsobreopreodatransmisso,chamadalaudmio.
A enfiteuse s pode ser constituda sobre terras no cultivadas ou
terrenosquesedestinemaconstruo.onicocontratoperptuo,nopode
serrevogado,salvoseoforeiroseatrasarporcertoperodonopagamentodo
foro,quandoentosofreapenadecomisso,queimportarescisodaenfiteuse.
Enfituticooregimedas terras dopatrimniodasmunicipalidadesno
Brasil.
6.5.4.3Uso
Ousoa instituiopela qual odireito de fruir da utilidade naturalde
umacoisadeixadepertenceraoseuproprietrioepassaaoutrem.
6.5.4.4Habitao
Ahabitaomodalidadedeuso.usodeprdioresidencial.
NoBrasil,observouM.I.CarvalhodeMendonaquetantoousocomo
ahabitaoeraminstituiesdecadentes.Hoje,ocomentrionoseriadetodo
procedente. que a lein 4.121,de27deagosto de 1962, vitalizou o direito
real de uso, sob a modalidade de habitao, quando disps que ao cnjuge
sobrevivente, casado sob oregime de comunho universal de bens, enquanto
viver e permanecer vivo, ser assegurado, sem prejuzo da participao que
lhecaibanaherana,odireitorealdehabitaorelativaaoimveldestinado
residncia da famlia, desde que seja o nico bem daquela natureza e
inventariar.
6.5.4.5 Usufruto
Nousufruto,o proprietrioperdeodireitodeuso e gozo,embenefcio
dousufruturio,conservandoapenasodedisposio.
6.5.4.6Rendavitalcia
Constituise renda sobre coisa alheia, quando os rendimentos de um
bem imvel passam a ser vantagem vitalcia de pessoa que no seu
proprietrio.
6.5.4.7Promessadecompraevenda
Nostermosdoart.22doDecretolein58,de10dedezembrode1937,
conformeredaoquelhefoi dadapeloart.1da Lein649,de11demaro
de 1949, os contratos, sem clusula de arrependimento, de compromissos de
compra e venda de imveis, cujo preo tenha sido pago no ato de sua
constituio ou devaslo emuma ou mais prestaes,desde quelevados ao
Registro de Imveis, atribuem aos compromissrios direito real oponvel a
terceiroselhesconferemodireitodeadjudicaocompulsria.
6.5.4.8Direitosdegarantia
Algunsdesmembramentosdodireitodepropriedadeformamumaclasse
prpria, servindo para garantia de dvidas, em benefcio do credor. O direito
real resultante de garantia, porque sua finalidade assegurar
patrimonialmenteorecebimentoefetivodocrdito.
Explica Afonso Fraga que, no estado atual do direito, os bens do
devedor constituem os nicos objetos sobre os quais pode recair a ao
judicial dos credores. Mas essa garantia comum, no retirando do devedor a
livredisposiodosseusbens,totalmentealeatria.Daanecessidadedese
sujeitar uma coisa, no todo ou em parte, segurana do crdito pessoal.
exatamente essa a funo dos direitos reais de garantia: penhor, hipoteca e
anticrese.
6.5.4.8.1Penhor
Penhor ocontrato peloqualodevedor transfere ao credora posse de
um objeto mvel, ficando este com a faculdade de vendlo, se a dvida no
for paga no prazo, para embolsarse do valor do crdito, juros e despesas,
restituindo o saldo acaso apurado. So duas as caractersticas do penhor:
incidirsobreobjetomveleconstituirsecomatradio,queatransferncia
efetiva da coisa do poder do devedor para o credor. H casos excepcionais,
porm,depenhorsobrebensimveis,semtradiodacoisa,comooagrcola
eoindustrial,cujoestudodeespecializao,emcursodeDireitoCivil.
6.5.4.8.2Hipoteca
Ahipotecarecaisobrebensimveisenoimpeatradiodacoisado
devedor para o credor. Formase quando o proprietrio de um imvel o
vincula ao pagamento de uma dvida, podendo o credor, no solvido o
compromisso, promover a venda judicial do bem, a fim de se pagar do
principaledosacessrios,restituindoaodevedorosaldoapurado.
6.5.4.8.3Anticrese
A anticrese consiste na garantia que o devedor faz de sua dvida,
conferindo ao credor a faculdade de receber, at seu total resgate, os
rendimentosdeumbemimveldesuapropriedade.
6.5.4.8.4 Alienaofiduciriaemgarantia
Os direitos reais de garantia, precedentemente citados, deixaram h
algum tempo de exercer a funo econmica que lhes correspondeu, pela
crescente importncia dos valores mobilirios e o ritmo mais veloz dos
negcios jurdicos. Dessa circunstncia emergiu a necessidade de criao de
institutosdiferentesquepudessemservircomogarantiadocrditocommaior
desembaraoesimplicidade.
No Direito brasileiro, por exemplo, depois da venda com reserva de
domnio pelo vendedor,tambm j obsoleta, surgiuaalienao fiduciriaem
garantia, instituto que, embora novo em nosso Direito Positivo, remonta, em
suas origens e primeiras figuraes, ao Direito romano. Segundo a definio
de Caio Mrio da Silva Pereira, consiste ela na transferncia, ao credor, do
domnio e posse indireta de uma coisa, independente da sua tradio efetiva,
em garantia do pagamento de obrigao a que acede, resolvendose o direito
doadquirentecomasoluodadvidagarantida.
Deummodogeraloatoseconsumacomaparticipaodetrspessoas
em posies jurdicas diferentes: o vendedor, o comprador e o financiador,
quepropiciaaosegundorecursosfinanceirosparaaaquisio.Avenda,como
bvio,feitapeloalienanteaocomprador,quesetornadevedordequemlhe
propiciourecursosparaacompra.Ocomprador,paragarantiropagamentodo
dbito assumido, transfere ao credor o domnio e a posse indireta da coisa
comprada,delarecebendoapossedireta,quelhepermiteasuafruio.Nessa
transao, o comprador devedor se tornafiduciante, e o credor, fiducirio. A
garantia do credor est no fato mesmo de se tornar proprietrio e possuidor
indiretodacoisa negociada,razo pelaqualseodevedor deixa de saldar seu
dbito, inclusive deixando de pagar alguma parcela em que tenha sido
dividido, pode promover a apreenso do objeto e vendlo, para seu prprio
ressarcimento, sendo mnimas as formalidades processuais a que ter de
atender.
A alienao fiduciria em garantia , realmente, um direito real de
garantia. Mas tem natureza distinta dos assim capitulados no Cdigo Civil
brasileiro. que nestes h o desmembramento do domnio, modalidades que
sodosdireitosreaissobrecoisaalheia, oquenelanoacontece,dadoqueo
credor adquire do devedor o domnio pleno da coisa, tanto que, se apreende
pelainadimplnciadodevedor,podevendlacomoprpria.Odevedor,aseu
turno, possui o objeto na qualidade de seu fiel depositrio. Apenas a
propriedadedocredortemporriaetransitria,isto,tratasedepropriedade
resolvelqueseextinguepelopagamentododbito.
6.6POSSE
A posse uma instituio de direito privado intimamente ligada
propriedade, embora dela distinta. Ambas ase manifestam como poder do
homemsobreascoisas,reconhecidopelaordemlegal.
Para diferencilas, partiremos do que uma falsa premissa para obter
conclusoverdadeira.Afalsapremissaadequeaposseumestadodefato
e a propriedade, um estado de direito. Exemplificando, se algum,
encontrando terra desocupada, que supe no pertena a ningum, passa a
ocupla como prpria,adquireasuaposse.H,nocaso, umsimplesfatodo
qualredundaodomniofsicosobreacoisa.Se,todavia,aquelareadeterras
viesse a ser aforada mesma pessoa, nessa hiptese ela j no seria apenas
possuidora, sim proprietria, por ttulo jurdico idneo. O exemplo esclarece
em que sentido a posse um estado de fato e a propriedade, um estado de
direito.
Mas aceitarsimplesmentequeaposseumestadodefato,meropoder
fsico sobre coisas, impele a situaes embaraosas. s vezes, h o poder
fsicosemaposse,e,outras,elenoexisteehposse.Oladroapropriasede
umobjetoalheio,queficaemseupoder,masnopossuidor.Inversamente,o
dono de umobjeto pede a algum para guardlo, perde o poder fsico sobre
ele,noaposse.Portanto,apossenoapenasfato.
Para responder dificuldade decorrente desta evidncia, Savigny a
conceituoucomoresultantededoiselementos:corpuseanimus.Paraquehaja
posse,necessrioquea pessoadetenhaa coisa, com a inteno legtimade
proprietria. No basta o simples poder material, que apenas deteno. A
esta deve ser acrescentado um propsito de ordem subjetiva, o de manter o
objetocomoseu,aintenodeconservloattulodedono.
Esta inteno, todavia, deve ser legtima, isto , de boa f. Ela que
distingue a posse justa da injusta. injusta a contaminada por vcios:
violncia,clandestinidadeeprecariedadejusta,senenhumdelesacorrompe.
Aordemjurdicasprotegeajusta.
Posse violenta, a palavra diz, a que se obtm pela fora. Exemplo:
algum que encontre um terreno ocupado e expulse quem o tem sob o seu
poder.
Clandestina a posse subreptcia, a de quem se apodera de coisa,
ocultandoofatodolegtimoproprietriooupossuidor.
Posse precria a que resulta de abuso de boa f: a de quem recebe
coisaalheiaparaguardlaerecusaseadevolvla.
De tudo deduzimos que a posse no pode sersimples situao de fato,
nem perfeita situao de direito. O fato lhe d origem, mas sua validade
depende de como ocorreu. Se violenta, clandestina ou precariamente, no
dispor dela. Limongi Frana ensina que, embora seja em si mesma um
simples fato, a posse gera direitos e sob esse aspecto que interessa ao
Direito.
6.6.1Proteopossessria
Aordemjurdicadefereproteotantopropriedadequantoposse.
Seu amparo propriedade direito subjetivo parece fundada em
motivo bvio. Mas, e a da posse, consumada sem legitimao jurdica? A
estranheza dessa proteo tanto mais acentuada quanto certo que mais
rpida,eficazesimplesdoqueadapropriedade.
A matria cabe s doutrinas sobre o fundamento da proteo
possessria.Exporemos,apenas,asdeSavignyeJhering.
6.6.1.1Savigny
Sustenta Savigny, a cuja teoria sobre a posse Jhering fez severas
restries, entre ns aplaudidas por Rui Barbosa (18491923), que a ordem
jurdica no garante a posse por ela em si mesma, mas porque probe a
violncia. Um dos princpios em que se assenta a ordem legal o de que
ningumpode,emprincpio,nem mesmo alegandodireitoprprio,imporseu
interesse a outrem pela fora. Se h direito que deva ser assegurado,
reclamando o emprego de meios de constrangimento, a disposio dos
mesmos compete ao Estado. Por isso o Direito defende a posse apoiado no
princpiodequeaningumlcitousardeviolncia.Quemtemumacoisaem
seupoder, dela s podeser despojado pelo PoderPblico.Como esclareceJ.
M. de Azevedo Marques, estando uma coisa sob a atuao material de uma
pessoa, esta deveser respeitadacomo personalidade racional,de modo a no
poder outra pessoa, fora da Justia, obrigar aquela a abrir mo da coisa
possuda.
6.6.1.2Jhering
AteoriadeVonJheringdivergedadeSavigny.Apossevistacomoa
exteriorizaodapropriedade,amaneiradesemanifestarodomnio.Sabemos
que algum proprietrio da casa em que mora pela posse que exerce sobre
elaqueproprietriodocarroque dirige pelapossequeexercesobreele. A
posse no uma instituio autnoma, antes revelao ostensiva da
propriedade.
Quando o direito protege a posse, na verdade o faz por ser esta a
maneira mais eficaz deresguardarapropriedade. Figuremos que uma pessoa
subtraiaalgo deoutra. Se a prejudicada,parasedefender,tivesseque provar
suacondiodeproprietria,difcilseriaadefesa.Noentanto,seodireitose
contenta com a simples evidncia de que possuidora do objeto, a garantia
quelhedobjetiva,fcilerpida.
Eventualmente poder ocorrer que se proteja o possuidor contra o
proprietrio. Mas, via de regra, a proteo ao possuidor tambm a do
proprietrio.Nocaso,avantagemdeseguranacompensaacidentalinjustia.
6.6.1.3Interditos
Adefesadapossefazsepelasaespossessrias,s quais o possuidor
recorre para obter a garantia do Estado. Tais aes recebem a denominao
especialdeinterditospossessrios.
Apossepodesercomprometida:
a) porturbao
b) poresbulhoe
c) porameaa.
Opossuidordeumterrenoperiodicamenteinvadidosofredeturbao
suaposse.Seseuterrenoocupado,jnohsimplesturbao,simesbulho,
destitudo que foi da posse. Se h apenas promessa sria de turbao ou de
esbulho,suaposseestameaada.
A essas trs violaes correspondem outros tantos interditos: o de
manuteno,odereintegrao eoproibitrio,oltimodecarterpreventivo,
concedidoantesqueapossesejalesada.
6.7OBRIGAES
As obrigaes so vnculos de direito que se estabelecem entre duas
pessoas, ficando uma delas, sujeito ativo, ou credor, com a faculdade(direito
subjetivo)deexigirdaoutra,sujeitopassivo,oudevedor,prtica,abstenode
ato ou entrega de coisa, sob pena de, no o fazendo, responder o seu
patrimniopelaindenizaoequivalenteaodanocausado.
A obrigao direito pessoal patrimonial. No responde pelo
adimplementoda obrigao dosujeito passivo asua pessoafsica, mas o seu
patrimnio.
6.7.1Elementos
Do prprio conceito de obrigao emergem os seus elementos. O
primeiro o sujeito ativo, existente em qualquer relao jurdica. A
singularidade,nocaso, que osujeito ativochamase credor. Osegundoo
sujeito passivo, que, determinado ou indeterminado, tambm existe em
qualquer relao jurdica. No caso determinado e recebe a denominao de
devedor.Entresujeitoativoepassivo,atmesmoparaquepossamsersujeitos
ativoepassivo,humvnculojurdico,terceiroelementodaobrigao,quese
constitui por um fato jurdico, seu quarto elemento. O quinto o objeto, o
dever jurdico de fazer ou dar (deveres positivos) ou de no fazer (dever
negativo). Osextoeltimo elemento da obrigao a proteo jurisdicional,
com a qual o Direito Positivo envolve a relao, fazendo eficaz o direito do
sujeitoativo.
6.7.2Evoluo
Daremos apenas uma idia filosfica da evoluo das obrigaes, no
umretrospectohistricooureconstituiocronolgica.
A obrigao nem sempre foi caracterizada pela patrimonialidade. Fase
houve em que, sendo vnculo pessoal, a sua prpria pessoa respondia pelo
dever do sujeito passivo. No se distinguia entre responsabilidade civil,
somente indenizatria, e responsabilidade criminal, pessoal. Era generalizada
a noo, mais tarde confinada ao Direito Criminal, de que a prpria pessoa
respondia pelos seus encargos. Quem no pagava uma dvida poderia ser
aprisionado, escravizado ou sofrer dano fsico, sanes tpicas de Direito
Penal.
Feita a distino entre responsabilidade pessoal e responsabilidade
patrimonial, a obrigao converteuse num vnculo patrimonial, respondendo
seupatrimniopelodanooriundodonocumprimentododever.
Umaconstantenaevoluododireitoobrigacionalapassagemdotipo
pessoalparaotipopatrimonial.
Evoluram,tambm,asobrigaesnosentidodaautonomia.
Uma obrigao autnoma, quando, como crdito ou dbito, pode
emanciparsedaspessoasdossujeitosativoepassivo.
Na sua origem, a obrigao era vinculada s pessoas do credor e do
devedor.
Posteriormente, passou a se transmitir aos sucessores de ambos. Por
ltimo,osujeitoativopassouanegociaroseucrdito,acedloaterceiros,e
admitiuseasubstituiodosujeitopassivo.Aautonomiaveioseacentuando,
demaneiraque,emnossosdias,hcrditosquecirculamlivremente,comoos
ttulosaoportadoreossuscetveisdetransfernciaporendosso.
6.7.3Fontes
J vimos que sempre necessrio um fato para que haja direito
subjetivo.Aobrigao,modalidadededireitosubjetivo,deveprovir,portanto,
deumafonte.
Tradicionalmentesoindicadasasseguintesfontes:ocontrato,oquase
contrato,odelito,oquasedelitoealei.
Ocontratoumacordodevontadeslivres,afonte, porexcelncia,das
obrigaes.
O delito fonte de obrigaes, porque cria para o agente o dever de
indenizaravtima,seusparentesoudependentes,pelovalordodanocausado.
O quasecontrato, que se pode entender substituindo o vocbulo quase
pela expresso como se fosse, uma situao no contratual, qual a lei
atribui virtualidades contratuais. Assim, quando algum faz despesas para
evitarperecimentodebemalheio,semautorizaodoproprietrio(oqueseria
contrato),ficacomodireitodereembolso,comoseforaautorizado(comose
fossecontrato).
O quasedelito ato que, no sendo em si mesmo delito, por falta de
inteno,causaprejuzoaoutrem(objetivamenteigualaodanodeumdelito),
acarretando para o agente a obrigao de indenizar, tal como se fosse
delituoso. Quem atropelae mata uma pessoa notevea intenodefazlo,
nocometeucrime,masnemporissoficaisentododeverderepararodano.
A lei tambm fonte de obrigaes, exatamente daquelas que se
impem, fora de qualquer das situaes precedentes, por fora de seus
preceitos.
A doutrina mais moderna inclinase a reduzir as fontes a uma s: a
vontade, quer a individual, quer a geral (lei). A manifestao da vontade
individual o ato jurdico, unilateral ou bilateral. Unilateral quando
manifestada apenas a vontade do devedor, a obrigao , para ele, perfeita e
acabada, antes que se individualize a figura do credor: promessas de
recompensa e ttulos ao portador. Bilateral, se h acordo de vontades: o
contrato.Aleifontedeobrigaesemsituaesnocontratuaisequiparadas
scontratuais(gestodenegcios)eemcasodeatoilcito,emsentidoamplo.
6.8SUCESSO
O vocbulo sucesso pode ser empregado em dois sentidos: amplo e
restrito.
Emsentidoamplo, ocorre sucesso sempre que, numa relao jurdica,
dse substituio de pessoas. Por exemplo, se um bem vendido, o
compradorsucedeaovendedornasuapropriedade. Seumcrditocedido,o
cessionrio sucede ao cedente na titularidade do crdito. Como se v, expe
Lacerda de Almeida, continuidade da relao e mutao do sujeito so os
elementos mais simples da noo de sucesso em sentido amplo. A estes
elementos EvaristodeMoraesFilhoacrescentaaexistnciadeumvnculode
causalidadeentreasduassituaes,aanterioreaposterior.
Em sentido restrito, sucesso a instituio pela qual o patrimnio de
algum que morre se transfere a quem lhe sobrevive. exatamente nesta
significao que a sucesso uma instituio jurdica autnoma: sucesso
mortis causa. Pode ela darse a ttulo singular ou universal. Sucede a ttulo
singular quem recebe, de acordo com uma disposio de ltima vontade do
extinto, bens individualizados. O sucessor recebe, ento, a denominao de
legatrio. Sucede a ttulo universal quem recebe a totalidade da herana ou
umafraoaritmticadesta (metade, 1/3etc.), qual vira corresponder, na
partilha,qualquerbemoudireitodoacervohereditrio.Nestecaso,osucessor
recebeadenominaodeherdeiro.
6.8.1Fundamento
A base filosfica do direito sucessrio discutvel. Alguns autores
consideramno legtimo e outros, ilegtimo. Para os que defendem a
legitimidade, a sucesso corolrio da liberdade jurdica, que no consiste,
apenas, na faculdade de fazer ou deixar de fazer, mas tambm na de formar
patrimnio e transmitilo por morte. Assim, a sucesso seria uma inevitvel
projeo do direito de propriedade. Adolf Merkel categrico: os mesmos
fundamentos que conferem ao indivduo senhoria sobre seus objetos
patrimoniaisjustificamaextensodestesenhorioparaocasodemorte.
Os autores em contradio julgam o direito sucessrio profundamente
imoral,porserverdadeiraexacerbaododireitodepropriedade.
Entre esses contrastes situase a contenda, que, afinal, desemboca no
mesmoentrechoqueideolgicorelativoaodireitodepropriedade.
Alm disso, as modalidades histricasdasucessoestocondicionadas
s formas de previdncia de cada grupo. Onde a previdncia familiar cabe
iniciativa particular, parece claro que a sucesso coroa um justo esforo de
tranqilidade patrimonial. Onde, porm, a sociedade vela por todos, pode
tornarseociosaouperderseumaiorfundamento.
6.8.2Evoluo
Na histria das instituies privadas, o direito sucessrio deve ter
surgido tardiamente. Ele presume, pelo menos, a existncia de duas
instituies outras: propriedade e famlia. Sem propriedade no pode haver
sucesso, precisamente por ser, esta, forma de transferncia do patrimnio.
Tambm no se pode negar que a sucesso apareceu depois da plena
estabilizao da famlia, dado que destinada, originariamente, a preservar a
continuidadedopatrimniodomstico.
As primeiras formas de sucesso individual sofreram influncia
religiosa.Visavamaaquinhoarapessoaquesucedesseaochefedafamlia,no
cultodomstico.Daodireitodeprimogenitura,queprivilegiavaofilhovaro
mais velho. Assim, por exemplo, na ndia, segundo o relato de Arturo
Capdevila, onde os mortos no morrem e h que levarlhes, pois, para lhes
saciarafomeeasede,gualustral,arroz,uvase leite,missosacerdotalque
cabe ao primognito, o primeiro ungido do amor paterno, que assim herda o
podereoculto,acasa,oprado,ochoetc.
Ulteriormente, a sucesso transformouse em direito pessoal,
asseguradoporlei.
6.8.3Modalidades
Asucessopodeser:legtimaetestamentria.Legtima,aqueserealiza
por imposio legal. Testamentria, a que resulta de um ato de manifestao
deltimavontade,otestamento,queapresentaasseguintescaractersticas:
unilateral, porque perfeito e acabado com a s manifestao da vontade
dotestador
revogvel,podendo,portanto,otestadordesfazloaqualquermomento,
desde que o faa assim exige o Direito brasileiro tambm por outro
testamento
mortis causa, dado que seus efeitos somente se produzem depois da
mortedequemopratica
gratuito, uma vez que a disposio testamentria representa uma
liberalidade,semreciprocidadeemrelaoaquembeneficia
formal, porque deve assumir alguma das formas prescritas em lei, sob
penadenulidade
personalssimo, no podendo, portanto, ser praticado seno pelo prprio
testador,sempossibilidadederepresentao,sejalegal,sejaconvencional.
Historicamente consideradas essas modalidades de sucesso, vlido
afirmar que a primeira antecedeu segunda. Orosimbo Nonato lembra que,
pelodireito sucessrio, segundo o seu sentidooriginal,oherdeirocontinuava
a personalidade do defunto, assim nas relaes patrimoniais como no culto
domstico.Eumestranhosomenteseriachamadoaozelodessecultoquando
ho houvesse parentes consangneos paternos, razo pela qual seria
impossvelacoexistnciadasucessolegalcomatestamentria.
6.8.3.1Sucessolegtima
A sucesso legtima sucesso entre parentes, aos quais, pelo fato
mesmodoparentesco,aleiatribuiacondiodeherdeirosentresi.
Dentre osherdeiros legtimos, alguns so necessrios, isto, s podem
ser excludos da sucesso por motivos relevantes. Outros, embora legtimos,
dela podem ser excludos. Compreendemos claramente a distino entre
herdeiroslegtimoseherdeiroslegtimosnecessrios,tomandoparaexemploo
nosso Direito Civil. De acordo com este, a sucesso legtima se defere na
seguinte linha: em primeiro lugar, os descendentes (filhos, netos, etc.), em
segundo lugar, os ascendentes (pais, avs, etc.), em terceiro lugar, o cnjuge
sobrevivente e, em quarto lugar, os colaterais (irmos, etc.). Dessas quatro
classes de herdeiros os das duas primeiras no podem ser despojados da
herana pela vontade do sucedido, salvo por motivo grave capitulado em lei,
cuja prova, em sentido positivo ou negativo, respectivamente, cabe aos
beneficirios da deserdao ou ao herdeiro prejudicado, ambos interessados,
como escreve Orlando Gomes, aquele porque se beneficiar com a excluso,
substituindoodeserdado,esteem mostrarafalsidadedas increpaes,nos
por interesse econmico mas tambm moral. Os citados nas duas ltimas,
embora herdeiros legtimos, podem ser privados da herana, desde que o
sucedidodeixetestamentoquenooscontemple.
6.8.3.2Sucessotestamentria
A lei faculta ao indivduo dispor, conforme a sua vontade, sobre seus
bens para depois de sua morte. A sucesso que resulta de ato de ltima
vontade a testamentria que, no entender de Carlos Maximiliano (1874
1960)no maisdoqueumaconseqncialgica do direitodepropriedade,
umavezqueolegadonosenoumaddivadiferida.
Havendo herdeiros necessrios, o testador no tem a disponibilidade
total de seus bens. Sua liberdade vai at onde no os prejudicar. No Brasil,
quemtemherdeirosnecessriospodeapenasdispordametadedeseusbensa
outra metade constitui a legtima, isto , a parcela que caber aos herdeiros
necessrios,eque,porisso,indisponvel.
7EnciclopdiaJurdica
7.1CLASSIFICAODASNORMASJURDICAS
A introduo tem, tambm, por objeto, apresentar, resumidamente, e
comnfasenoseuaspectoterico,asvriasdisciplinasjurdicasparticulares.
Sobesteaspectoumaenciclopdiajurdica.
Quando estudamos a sistemtica jurdica, um dos captulos da cincia
dodireito,dissemosqueseuobjetivoeraorganizaroDireitoPositivo,segundo
uma viso coordenada e coerente. E acrescentamos que, para fazlo,
tradicionalmente,partiasedadistinoentreasnormasquevisamaointeresse
socialeas queatendemaointeresseindividual.Daseremtodasgrupadasem
doisconjuntos:DireitoPblicoeDireitoPrivado.
Estaumaclassificaoantiga,vindadoDireitoromano,paraoqualas
normas se diferenciavam, consoante a natureza do interesse protegido. Se a
normasedestinavaproteodeuminteressesocial,eradedireitopblicose
tuteladeuminteresseparticular,eradeDireitoPrivado.
Aindahoje,emboracomnuancesdoutrinrias,esteocritriocomum.
De fato, o direito , sob certo aspecto, uma frmula de composio do
interesse individual com o social, muitas vezes conflitantes. Pretendendo a
satisfao harmoniosa de ambos, ora aquinhoa mais um, ora mais outro. A
norma ser, portanto, de direito pblico ou de direito privado, conforme o
interesse que nela prepondere. Notese que no se diz conforme o exclusivo
interesse, mas conforme o interesse preponderante, porque no h interesse
individual que no tenha reflexo social, nem social que no tenha reflexo
individual.
Essadivisotemrecebidocrtica.Hjuristasqueserecusamaaceitla.
Todavia, talvez mesmo pela sua convenincia prtica, at hoje subsiste.
Embora contestada no seu fundamento doutrinrio, prevalece para a
organizaododireitopositivoedoscursosdeDireito.
Merece,porm,serressalvadoquenoexisteentreodireitopblicoeo
privado fronteira permanente. No podemos, doutrinariamente, dizer que
matrias pertencem a um e a outro. O fundamento lgico da diviso est em
que, visando o Direito a harmonia do interesse social com o individual, h
regrasque se consagram satisfao de cadaum deles. Mas, quandosetrata
dedizerqualmatriapertenceaodireitopblicoequalaoprivado,camosno
plano do Direito Positivo. Mesmo porque, como assevera Luiz Fernando
Coelho, saber numa determinada relao jurdica se est em jogo o interesse
coletivo ou se o individual que deve ser tutelado, depende muito mais do
intrprete, do ponto de vista pessoal, do que do contedo das normas e
relaesjurdicas.
Regras que, num ordenamento jurdico, so de direito privado, porque
esseordenamentoentendequepertinemauminteressemeramenteindividual,
podem ser, noutro, de direito pblico, porque este entende sejam relativas a
uminteressesocial.
Podemos dar dois exemplos que confirmam o comentrio.
Classificamosodireitocomercialdentrododireitoprivado,porque,entrens,
como na maior parte dos pases ocidentais, o comrcio uma atividade
reservada iniciativa do indivduo. Mas nos pases onde a economia
estatizada, ele direito pblico. As relaes entre empregado e empregador,
durante sculos, foram regidas pelo direito privado, mais particularmente,
pelas disposiesrelativas locao deservios. Quando aquelas relaes se
tornaramcrticas,apontodegerarachamadaquestosocial,oEstadosentiua
necessidadedesubtralasaoarbtriocontratualeimporlhesumpadrolegal.
AssimsurgiuoDireitodoTrabalhoque,pelasuaeminentefunosocialfoi,
semdvida,includonodireitopblico.
7.1.1Esquemageral
OscompndiosdeintroduocinciadoDireito,nasuageneralidade,
aotrataremdaenciclopdiajurdica,citam,almdas disciplinas consideradas
clssicas, que formam o miolo do currculo mnimo do curso, numerosas
outras, surgidas do desmembramento de algumas daquelas ou mesmo de
realidadessociaisemergentes.assimquesereferem,porexemplo,aodireito
agrrio, ao direito de minas, ao diplomtico, ao cosmonutico, ao financeiro,
ao penal militar, ao disciplinar, ao penal internacional, ao nuclear, ao
econmicoetc.
fato que o elenco das disciplinas jurdicas particulares hoje muito
rico, uma vez que o ordenamento jurdico se estende na mesma medida em
quesedesdobramesediversificamasrelaeshumanas.
Respeitando essa ponderao, no foi porm a orientao que
deliberamos seguir. Limitamonos a mencionar as disciplinas tradicionais, as
que nenhum currculo de Direito pode suprimir e que constituem, pela sua
maturidadeeasualatitude,ocernedoDireitoPositivo,permitindo,mesmo,a
extrapolaodemuitosdosseusconceitosparadisciplinasespecializadasmais
recentes. Acreditamos que ampliar o elenco das disciplinas particulares leva,
inevitavelmente,extensodemasiadadessapartedaintroduo,amenosque
de cada uma delas se limite o autor a uma definio lacnica e um tanto
dogmtica, informao didaticamente pouco lucrativa. Ao contrrio,
reduzindo o conjunto, fazse possvel dar de cada disciplina uma viso
relativamenteclaradoseucontedoedosproblemasmaisimportantesqueem
cadaumadelasselocalizam.
Emconseqncia, emnossoesquema, dentrodessa limitao, partimos
dequeodireitopblicoodireitodoEstado.SendooEstadoumaentidadede
duas faces, uma nacional, voltada para o plano interno, outra internacional,
voltada para o plano externo, dse a diviso do direito pblico em interno e
externo.
O externo, diz respeito s relaes dos Estados entre si, e possui um
nicoramo:oDireitoInternacionalPblico.
O interno subdividese em: constitucional, administrativo, penal,
processualedotrabalho.
ODireitoConstitucionaldispesobreaorganizaopolticadoEstado.
O administrativo preside ao exerccio da administrao pblica. O penal
define os atos delituosos e impe as penas que lhes correspondem. O
processual regula o exerccio da atividade jurisdicional do Estado. O do
trabalhogovernaasrelaesentreempregadoeempregador.
O Direito Privado subdividese em: civil, comercial e internacional
privado.
O civil regula a condio da pessoa, enquanto igual para todos. O
comercialdispesobreaatividademercantil.Ointernacionalprivadoministra
regrasparaasoluodosconflitosdasleisnoespao.
7.2PROBLEMASDECLASSIFICAO
Oprimeiroproblemaqueadivisododireitoempblicoeprivadosuscitao
dasuaprpriavalidade.
Uma parte da doutrina inclinase no sentido de contestla. Seu
argumentoprincipalque,apesardosvrioscritriospropostosparasustent
la, adivisoassenta,fundamentalmente, na considerao de que o indivduo,
emsociedade,assumeumduplopapel,umsersocialeumserindividual,
unidade de um todo, a sociedade, e indivduo em si mesmo, com interesses
prprios.
Ora,talfundamentoensejaa contestaodequeessas duasordenas de
interessespareceminseparveis.EntreosqueafazemestKelsen.Emrelao
aosinteresses particulares,afirma quea normajurdicaosprotege, porque os
considerasocialmentevaliosos. A normaqueobriga o devedoracumprir seu
dever para com o credor, amparando o interesse deste, no o faz por este
interesse em si, mas pela sua importncia social. Por outro lado, normas de
ntidasignificaopblica,comoasdeDireitoPenal,refletemsenaproteo
deinteressesindividuaispersonalssimos(vida,propriedade,etc.).
AessaobservaoKelsenaditaoutra,intimamenteligadasuaidiade
que o Estado a ordem jurdica personificada. Havendo identidade entre
Estado e direito, sendo ambos a mesma realidade, vista de focos distintos,
tododireitoessencialmentepblico,porquenenhumdireitosingulartirasua
validadesenodanormajurdica,eestasempreestatal.
Se se pretende, acaso, ser pblica a norma que confere a um certo
sujeitosuperioridadesobreoutro,enquantoprivadaacoordenadoradesujeitos
na mesma situao, ainda a, assegura Kelsen, examinando o fato mais de
perto, pese manifesto que se trata de simples diferena entre situaes de
fato produtoras de direito. Uma ordem administrativa, por exemplo, que
tpica relao de direitopblico, significa apenas uma produounilateralde
normas. Um negcio jurdico, tpico de direito privado, leva apenas
formulaobilateraldenormas.
Em essncia, a distino entre direito pblico e privado no pode
subsistir porque nenhuma realidade jurdica peculiar lhe corresponde. Se o
indivduo desobedece conduta devida, sujeitase sano, que, quando
imposta pela prpria pessoa supraordenada, dizse que a norma da qual
resultaodeverdedireitopblicoquandoexercidaporumaterceira,queest
emplanoacimadeduasemconflito,quededireitoprivado.
Em suma, o que chamamos direito privado mera forma jurdica
especial de realizao do direito, ligada a uma certa estrutura da produo
econmica e da distribuio dos produtos, correspondentes ordem
capitalista,perfeitamenteprescindvelemumaordemeconmicasocialista.
G. P. Chirone, Luigi Abello, Paul Roubier (18861964) e outros
admitem a diviso do direito positivo mediante o critrio do interesse
predominante,nopormbipartida,quereputaminsuficiente.
Em relao a alguns preceitos jurdicos, clara a preponderncia do
interessesocialsobreoindividual,assimcomo,emrelaoaoutros,claraa
preponderncia inversa. A norma que divide o poder poltico (legislativo,
judicirio e executivo) atende ostensivamente a um interesse social. A que
faculta ao proprietrio a cobrana de aluguis resguarda interesse particular,
tantoassimqueacobranasimplesfaculdadelegal.
Mas existem normas cuja natureza no se pode determinar com rigor,
porque combinados nelas, na mesma proporo, esto ambos os interesses.
Impossvellocalizlascompropriedadenodireitopblicoouprivado.
Por isso, seria necessria uma terceira categoria que as abrangesse,
substituindoaclssicadivisobipartidaporumatripartida:direitopblico,de
ordempblica(direitomisto)eprivado.
As normasdeordem pblica protegem interesses particulares, mas no
os atendem por eles mesmos, sim pela necessidade social de sua proteo.
Assim, as de Direito do Trabalho, que visam proteo do trabalhador,
assegurandolhe, como indivduo, uma tarefa mxima de trabalho, uma
remuneraomnima,avantagemdefriasperidicas,etc.,mas,aoconceder
lhe esses proveitos, so motivadas pelo imperativo social de limitar a
competio entre o trabalho e o capital. Tais normas, alm disso, o que
caracterizaria a sua face pblica, impemse autoritariamente s pessoas s
quais se destinam, cujas relaes, portanto, passam de um plano de
coordenaoparaumdesubordinao.
Luis N. Valiente Noailles ensina que, nesse campo intermedirio da
ordem pblica, como acontece s guas das mars, os direitos subjetivos
avanameretrocedem,sintonizandocomasidiossincrasiasdospovos,tempos
ecircunstnciasdelugar.
Parecenos que o nico e legtimo fundamento da diviso das normas
jurdicas em pblicas e privadas resulta do fato de serem elas, sob seu mais
importante aspecto, normas que presidem gesto de interesses humanos.
Essa gesto ora reclama cogesto, na medida em que os interesses geridos
no podem slo ao saber de motivaes meramente individuais, ora se
realiza,satisfatoriamenteenamedidaemquetalfatoafinacomasestruturas
sociais,comasimplesgestoindividual.Poroutraspalavras,hinteressesque
reclamam cogesto e outros que podem ser geridos pelo indivduo
diretamente empenhado na sua realizao, sem repercusso social nociva.
Quando a norma pe um interesse humano em regime de cogesto, ela
privada. Como se v, tratase de uma afirmativa que, a ser verdadeira,
traduziria uma verdade emprica, cujo fundamento estaria no fato de ser
observadaaolongodetodaahistriadahumanidade.Eexatamenteporno
setratardeumaverdadelgica,masdeumaconstataohistricaque,embora
adivisoemsi mesma tenha esse irrecusvelfundamento, a despeitodissoo
contedo do direito pblico e o do direito privado variam no tempo, mas
jamaisserpossveladmitiracogestodetodososinteresses humanos, oua
gesto de todos pelo simples arbtrio individual. Da resulta que, vlida a
divisopelaimpossibilidadedeseadmitirteseopostaaoseufundamento,essa
validade no seria desmentida pelo fato de se deslocar a linha que separa o
direito pblico do privado, porque essa linha, tal como a prpria diviso,
repousanumfatocultural,quevariasegundodeterminanteshistricas.
Passemos,agora,aproblemasparticularesdaclassificao.
Alguns sero citados para mera informao doutrinria, pois j sem
significao.
7.2.1Direitopenal
oqueocorre,porexemplo,comaposiodoDireitoPenal.
Pelo esquema dado, um ramo do direito pblico, e acreditamos
nenhuma classificao atual nele no o inclua. Outrora, sua posio foi
polmica. Autores o inseriam no direito privado, por guardar interesses
particulares.
Evidentemente essa maneira de entender errnea. H crimes que
atentamcontraacomunidadeesuasinstituies.Poroutrolado,amanuteno
da ordem uma funo eminentemente pblica, e o Direito Penal um dos
seusfundamentos.
Outros opinavam que o Direito Penal no deveria ser situado, nem no
direito pblico nem no privado. Seria paralelo a todos os demais ramos do
Direito. Haveria um DireitoPenalconstitucional, para as infraes do direito
constitucional, um Direito Penal administrativo, para as infraes do Direito
Administrativo, um Direito Penal Processual, para as infraes do Direito
Processualetc.Essateseacentanaindistinoentresanoepena.Assanes
constitucionais,administrativas,processuais,etc.nosopenas.
7.2.2Direitoprocessual
EmrelaoaoDireitoProcessual,houve,igualmente,quemocolocasse
no direito privado e quem pretendesse ser um ramo do Direito paralelo aos
restantes.
Os que o incluam no direito privado viam no processo regras
formuladasparaoexerccio,peloindivduo,dadefesadosseusdireitos.Sendo
a ao uma faculdade do indivduo e o processo a maneira de exercla, seu
papel seria o de conceder eficcia aos direitos subjetivos privados. Logo, a
normaprocessualseriadedireitoprivado.Hojeanoodeprocessodiversa.
Entendemos que suas regras disciplinam uma funo estatal, so pblicas,
jamaisprivadas.
Considerado o Direito Processual um ramo paralelo a todos os demais
ramos do direito, haveria um processo constitucional, um penal, um
administrativo, um civil e comercial, etc. Esse entendimento desatualizado,
porque importa confuso entre processo em sentido amplo e processo em
sentidorestrito.O DireitoProcessual,comoramododireitopblico,regulao
processo no seu sentido restrito, aquele que tutela o exerccio da atividade
jurisdicionaldoEstado.
7.2.3Direitodotrabalho
Problemasmaissrios,aindahojequestionveis,soreferidosaseguir.
Assim o da posio do Direito do Trabalho. A propsito, h trs
posies distintas: alguns o colocam no direito privado, alguns no direito
pblicoeoutrosnumaterceiracategoria,adasregrasdeordempblica.
Os que o situam no direito privado so hoje minoria. Apegamse
considerao de que o direito do trabalho protecionista de interesses do
empregado.Atmesmoarelaoentreempregadoeempregadorcontratual,
eoscontratossomatriadedireitoprivado.
A par disso invocam razo de ordem histrica. Outrora, as relaes
entreempregadoeempregadoreramregidaspeloCdigoCivilepeloCdigo
Comercial, nos captulos referentes locao de servios. Tais captulos
teriamevoludo, a ponto de criaruma legislaoautnoma,dotrabalho. Ora,
sealegislaodotrabalhoevoluiudessescamposdodireitoprivado,eladeve
fidelidadessuasorigens,continuandoumadisciplinaprivada.
A verdade histrica, porm, outra. No houve esta suposta evoluo,
mas o arrendamento das regras de Direito Civil e do comercial da rea das
relaes entre empregado e empregador. Foram substitudas por outras,
imperativas e motivadas porumarazopolticaveemente,pblicas, portanto.
Como diz Ripert, o direito social criouse de um s golpe pelo poder da
autoridadepblica.
A outros parece que a legislao do trabalho no pode ser includa, a
rigor,nemnodireitopbliconem noprivado,porquesuasnormascustodiam
interessesindividuais,porummotivosocial.Seriam,assim,deordempblica.
7.2.4Direitointernacionalprivado
Quanto posio do direito internacional privado, identificamos trs
orientaes diferentes. Autores h que dividem o Direito em internacional e
nacional, o nacional em pblico e privado, e o internacional tambm, em
pblicoeprivado.
OutrosdividemoDireitoempblicoeprivado,colocamointernacional
pblico no direito pblico externo, e o internacional privado no pblico
interno.
Osqueassimfazemponderamque,seumEstadoadmiteaaplicaode
leiestrangeiraemseuterritrio,estrestringindoaprpriasoberania,oques
poderesultardeumaregradeDireitoPblico.Consideram,tambm,queuma
das fontes mais importantes do direito internacional privado so as
convenes internacionais. Tal fato justificaria a sua incluso no Direito
pblico,umavezquenenhumaatividadepodesermaispblicadoqueaqueo
Estadodesenvolvequandoassumecompromissosnoplanointernacional.
Inserimoso DireitoInternacionalPrivado noDireitoPrivado,tendoem
contacertascircunstncias.
A mais relevante que os conflitos dirimidos pelas suas regras so
sempreconflitosdenormasdeDireitoPrivado,tantoquecertosautoresnoo
denominam direito internacional privado, o que d nfase ao vocbulo
internacional, mas Direito Privado Internacional, o que d nfase sua
naturezaprivada.IssonosparecebastanteparalocalizlonoDireitoPrivado.
Alm disso, sempre maior o nmero de estados que incluem no seu
Direito Positivo regras para a soluo dos conflitos das leis no espao. E as
inserememcdigosdedireitoprivado,comoBrasilePortugal,cujalegislao
muitorecente.
7.2.5Unificaododireitoprivado
H, finalmente, um problema, pertinente apenas ao Direito Privado.
Dividimolo em trs ramos: civil, comercial e internacional privado. Como
prevalece na doutrina a localizao do ltimo no Direito Internacional em
geral ou no Direito pblico externo, a diviso habitual do Direito Privado
dicotmica:civilecomercial.Ehjuristasquepatrocinamasuaunificao.
A razo a que se atm, principalmente, a de que h vrios setores
comunsaoDireitoCivileaoComercial,situaesregidastantoporumcomo
poroutro.Alis,ondefoivitoriosaatendncia,aunificaoocorreunocampo
do Direito obrigacional, como na Sua, que possui um Cdigo Federal de
Obrigaes.
O movimentoprunificao tomounovo impulsoem conseqnciada
comercializao da vida. Cada vez mais o Direito Comercial deixa de ser
meroestatutodeclasse.Quasetodosestamosemcontatocomele.mercantil
a legislao sobre cheques, operaes bancrias, duplicatas, descontos,
promissrias,etc.
De mais a mais, essa universalizao est se acentuando no sentido de
encampar as antigas atividades liberais. Progressivamente as profisses se
despemdoseucunholiberalesecomercializam.oquevemos,porexemplo,
comamedicina:os mdicosagrupamse,fundamestabelecimentos,operando
em regime de empresa. O mesmo na engenharia: empresas construtoras,
incorporadoras,etc.
Numerosos juristas, porm, impugnam a tese, considerando,
especialmente,aestabilidadedosinteressesprotegidospeloDireitoCivil.Da
a evoluo muito paulatina das instituies civis, em contraste com a
instabilidade dos interesses ligados ao comrcio,da qualdecorre a evoluo
altamenteaceleradadalegislaomercantil.
Caio Mrio da Silva Pereira situa o problema com extrema clareza e
critrio, quando observa que a questo deve ser posta em termos de maior
preciso tcnica, da qual resulta o reconhecimento da necessidade de
unificaodosprincpiosgeraisdetodoodireitoprivado.Mas,alcanadaessa
unidade, o direito comercial dever manter a sua autonomia, na matria que
lhepeculiar.
7.3CRITRIOSDECLASSIFICAO
Suposta ldima a diviso das normas jurdicas em pblicas e privadas,
nopodemos aplicla pelasimples considerao damatriaaquepertencem
noquadrodoDireitoPositivo.
No esquema proposto, incluemse no direito pblico interno: o
constitucional, o penal, o administrativo, o processual e o trabalhista, e no
Direito privado: o civil, o comercial e o internacional privado. No Direito
Positivo,porm,umaregracontidanaConstituiopodeserconcernenteaum
interesse individual e,portanto,deDireito Privado. Outra,contidano Cdigo
Civil, pode pretender, direta e imediatamente, o interesse social e ser, por
conseguinte, de Direito Pblico. A posio da norma no texto de Direito
Positivonosuficienteparalhecaracterizaranatureza.
Por isso, ao examinarmos uma norma, temos que considerla em si
mesma,paraverificarsedeDireitoPblicoouprivado,dondesernecessrio
fixarcritrioquepermitacoloclanumounoutro.
7.3.1Direitoromano
Citaremososcritriosmaisconhecidos.
NapalavradeUlpiano,asnormasrelativasaointeresseeutilidadedo
EstadoeramdeDireitoPblico,easrelativasaointeresseprivadoousingular,
de Direito Privado. Formulavase, assim, o critrio do interesse,que,embora
commatizesdiferentes,aindasobrevive.
Podeselheopor,comojnotamos,que,paraoDireito,nohinteresse
individualsemumafacesocial,nemsocialsemreflexoindividual.
7.3.2Savigny
EmsubstituioaocritriotradicionaldoDireitoromano,outrosforam
propostos, devendo ser logo mencionado o de Savigny, alis umdos maiores
romanistasdetodosostempos.
Escrevia Savigny que, a totalidade do Direito pode ser partilhada em
duas esferas: direito do Estado e direito privado. O primeiro ocupase do
Estado, ou seja, da apario orgnica do povo o segundo dedicase
totalidade das relaes jurdicas que rodeiam o homem individual, para que,
dentrodelas,realizeasuavidainterioreassumafiguradeterminada.
No Direito pblico aparece a totalidade como fim e o indivduo como
subordinado, enquanto que no Direito privado cada homem individual fim
emsiearelaojurdicasimplesmeioparaasuaexistncia.
Freqentes que so trnsitos e parentescos entre aqueles campos do
Direito, mister se faria, s vezes, ponderar a finalidade da norma segundo o
seusentidoprevalecendo,demodoacaracterizlacompreciso.
7.3.3Thn
August Thn 18391912) fundamenta a diviso referindo as normas s
aes que lhes correspondem. Se protegidas por aes pblicas a infrao
reparadaporiniciativadoEstadoeanormapblica.Seporaesprivadas,a
iniciativacabeaotitulardodireito,eanormaprivada.
A posio de Thn, alm de no abranger a totalidade dos direitos,
parece inverter a ordem de considerao da matria. inadequado dizer que
uma norma seja pblica porque amparada por ao pblica. Correto dizer
que amparada por ao pblica por ser de Direito pblico. , por igual,
incorreto dizer que uma norma seja privada porque a ao que a resguarda
privada.Ocorretodizerqueresguardada porumaao privadaporserde
Direitoprivado.
7.3.4Jellinek
AteoriadeJellinekbaseiasenoexamedarelaojurdica.
AspessoasintegradasnumarelaodeDireitopodemestaremposio
de coordenao ou de subordinao. Na de coordenao, a norma limitase a
compor seus interesses, a acomodlas, sem conferir a qualquer delas
supremacia sobre a outra. o caso dos contratos. A posio recproca das
partes contratantes igual, esto no mesmo plano, ambos coordenam seus
interessespelasregrasdeDireitoaplicveis. Essa situaoexiste mesmoseo
contrato firmado entre uma pessoa de Direito privado e outra de Direito
pblico. Se um particular aluga um imvel ao Estado a pessoa de Direito
pblicocontratanteestnomesmonveldele.Asrelaesqueseestabelecem
tm carter coordenador, as partes ajustam seus interesses num plano de
inteiraautonomia.
Em certas relaes jurdicas, o Estado tem condies que se
estabelecem tm carter coordenador, as relaes do Estado com os seus
funcionrios,quesodenaturezaestatutria.OEstadodita,unilateralmente,o
estatutodasuasituao,desempenhandopapelsubordinador.
As relaes em que existe a subordinao do indivduo ao Estado so
fundadas emnormasdeDireitopblicoe emque as partes esto em situao
decoordenaorecprocasodeDireitoprivado.
7.3.5Korkounov
Korkounov ensinava que, em regra, a norma de Direito dispe sobre a
maneira de utilizao das coisas, empregada esta palavra em sentido amplo.
Estas podem ser frudas de duas maneiras. Alguns se prestam a cmoda
diviso,podemosrepartilosdando a cadaindivduo umquinho. Outros tm
de ser desfrutados em conjunto. As normas jurdicas assumem, em relao
maneira de as pessoas se servirem de bens, dupla posio. Algumas os
divideme distribuem.Essasso distributivas. Quantoa outras, acomodam os
indivduos, para que possam frulos em conjunto: so adaptativas. As
primeirassopertinentesaoDireitoprivado,assegundasaoDireitopblico.
7.3.6Cogliolo
Tevelargaaceitao,durantealgumtempo,ateoriadePietroCogliolo,
que revigorou com muita nfase o prestgio da mens legis, inteno da lei.
Doutrinavaqueaclassificao dasnormasjurdicasdeveriaserfeitasegundo
o exame de cada norma em si, na sua tipicidade, a fim de ser obtido o seu
sentido singular. A mens legis nos revelaria, em cada caso, a utilidade direta
dopreceito.Fosseestadendolesocial,anormaseriadeDireitoPblicosea
sua utilidade direta fosse de sentido individual, seria a norma de Direito
Privado.Estecritriopareceapenasnuanadeoutromais geral,notriaque
sua afinidade com o de Savigny e o do Direito romano, com a s ressalva,
bastanteexpressiva,dequeanaturezapblicaouprivadadaregranoemerge
dosistemaparcialdodireitoqueintegra,masdaanlisecuidadosadainteno
decadauma.
7.3.7AdolfoRav
Adolfo Rav admite que as normas jurdicas desempenham funo
organizadora e distributiva. Por um lado, o direito uma orgnica da vida
social, coordena poderes polticos, a administrao, os servios pblicos e a
vidasocial,quantosposiesqueaspessoassoobrigadasaassumir.Esta
asuafaceorganizadora.Etambmrealizaumafunodistributiva,regulando
asrelaesrecprocasdosindivduos,resultantesdesuainiciativaouposio.
As normasque exercem funoorganizadoraso de direitopblico, e as que
exercemfunodistributiva,dedireitoprivado.
7.3.8Lehmann
H. Lehmann, cuja doutrina citaremos muito abreviadamente, entende
que uma norma jurdica somente pode ser caracterizada pelo exame da
natureza do bem que protege. Os bens protegidos podem ser pessoais e
exteriores. Sobre um bem pessoal no pode haver competio. Em relao a
umbemexterior,podemsuscitarseconflitosdepretenses.Avida,ahonra,a
liberdade so bens pessoais. Sobre eles no h conflito de interesses, porque
ningum pode se julgar com direito vida, honra e liberdade de outra
pessoa.Essesbensnopodemserobjetodereivindicaescontraditrias.Ja
propriedade,umbemexterior,podeserobjetodelitgio.Porexemplo,algum
se dizer dono de um objeto e outrem reivindiclo para si. Valendose desta
distino,semdvidaoriginal, separa Lehmann odireito pblico do privado.
As normas que protegem bens pessoais pertencem quele e as que protegem
bensexteriores,aeste.
7.3.9Pacchioni
Critrioqueatcertoponto impregnaadoutrina modernasobreotema
o de Pacchioni, para quem a diviso do direito em pblico e privado deve
reportarsedistinoentrejuscogensejusdispositivum.
A regra imperativa de direito pblico e a dispositiva, de direito
privado,qualquerquesejaotextojurdicopositivoemqueestejam.
7.4DIREITOCONSTITUCIONAL
Umconceitoextremamentesucintonosddesseramododireitoapenas
oseuelementoessencial:oqueexpeaorganizaopolticadeumEstado.O
Estado povo, ocupando um territrio e organizado politicamente. O estudo
da organizao poltica o tema do Direito Constitucional. Assim Pontes de
Mirandaodefine, laconicamente,comoa partedodireitopblicoquefixaos
fundamentosestruturaisdoEstado.
Acontece,todavia,queoDireitoConstitucional,sendoDireitoPositivo,
tem sempre por objeto uma Constituio. Por isso, a sua substncia varia na
medida da extenso do texto constitucional. Da dizerse que ele pode ser
entendido em sentido restrito ou amplo. Em restrito, estuda somente a
organizao poltica de cada Estado. Como as Constituies, porm,
costumam conter assuntos outros no pertinentes quela organizao, o
Direito Constitucional, em sentido amplo, expe todas as matrias que
formamaConstituiodeumEstado.
H, portanto, matria constitucional, aquela que, por natureza jurdica,
constitucional,ematriaque,nosendoconstitucionalpornatureza,passaa
slo, desde que includa na Constituio. Exemplificando, a diviso dos
poderes matria constitucional por natureza. As disposies referentes
propriedade ou famlia so, materialmente, de Direito Civil, mas passam a
constitucionais,secompreendidasna Constituio.ComodizDjacirMenezes
(1907), alis, a extraordinria importncia social do Direito Constitucional
residenofatodepenetraremnoseudomnionormasegressasdeoutrosramos
doDireito.
de se assinalar, porm, que a prpria essncia da matria
constitucional,emsentidorestrito,pelaspresseshistricasqueinfluemsobre
sua definio, tem, atualmente, significao mais lata do que a indicada. A
partir do chamado Estado de Direito, de cujos fundamentos doutrinrios,
afirmaPintoFerreira,surgiu,naprticaenahistria,oDireitoConstitucional,
o perfil das relaes entre o Estado e seu poder, e os indivduos e suas
liberdades,tambmmatriaconstitucional.
Afirmase,emdecorrncia,quenenhumaverdadeiraConstituiopode
deixar de conter preceitos que outorguem garantias eficazes aos direitos
individuais,quedevemenumerar,contraoarbtriodoPoderPblico.Porisso
MirkineGuetzevitch(1892)dizqueoDireitoConstitucionalumatcnicada
liberdade.
Faz parte,igualmente,datradioconstitucionalistadoOcidente,desde
Montesquieu(16891755),aidiadequenohrealcontenodoarbtriose
o poder no partilhado por rgos distintos: Legislativo, Executivo e
Judicirio. Em conseqncia, a separao dos poderes polticos , tambm,
luzdesseentendimento,matriaconstitucional,atalpontoqueseasseverano
serconstitucionalizadooEstadoquenooadote.
De tudo resulta que o Direito Constitucional, em sentido restrito ou
material, ramo do Direito que preside organizao poltica dos Estados,
distingue e coordena os poderes polticos e prescreve normas sobre a
compatibilidadedopoderdoEstadocomaliberdadedosindivduos.
Ospreceitosque,nosendoconstitucionaispornatureza,incorporamse
ao texto da Constituio, compem o Direito Constitucional em sentido
formal.
De todos os ramos do Direito o constitucional o que apresenta
historicidademaisfrisante.TodaregradeDireitohistrica:varianotempoe
no espao, sujeita s transformaes sociais. No entanto, esse aspecto
histricoparecemitigadoemalgunscamposdoDireito,comoocivil,noqual
as transformaes sefazem lentamente. Sendo onossotempo essencialmente
polmico,profundaainstabilidadedoDireitoConstitucional.Bastariacitaro
exemplo brasileiro. Temos uma legislao comercial cuja parte nuclear
remonta a 1850 e um Cdigo Civil anterior a 1920. No entanto, depois da
Repblica, tivemos a Constituio de 1891, a Reforma Constitucional de
1926, a Constituio de 1934, a de 1937, a de 1946, a de 1967, a de 1969 e
agora a de 1988, j em vspera de reviso. A instabilidade do Direito
Constitucional reflexo imediato da sua estreita ligao com todos os
movimentosdahistria,edasuavulnerabilidade,maiordoqueadequalquer
outroramododireito,spressesideolgicas.
Escapam a essa instabilidade as Constituies que so amparadas, ao
mesmo tempo, pela solidez dos sistemas econmicos nacionais e pela sua
prpria flexibilidade, esta possvel mesmo no caso de Constituies escritas.
Exemplar, neste sentido, a situao dos Estados Unidos. Sob o primeiro
aspecto, a assertiva dispensa comentrio. Sob o segundo, podese afirmar,
comofazemLeonardW.LevyeJohnP.Roche,queaConstituioamericana,
pelo tom geral das suas disposies, nos seus pontos essenciais
verdadeiramente uma Constituio noescrita, o que permite a sua paulatina
alterao para adaptarse s novas conjunturas nacionais, graas,
especialmente, autoridade e ao realismo com que a interpreta a Suprema
Corte.
7.4.1Relaes
O Direito Constitucional mantm, com todos os ramos do Direito
Positivo,umarelaogenrica,queadomais paraos menosgraduados, do
envolventeparaosenvolvidos. A Constituiotraa o contorno perifricoda
ordem legal.Dentrodelecontmseos demais ramos: comercial, civil,penal,
processual,etc.Asregrasdosoutrosramos doDireitopodemdisporatonde
no altercam com a regra constitucional. Verificando o conflito, so
inaplicados,porvciodeinconstitucionalidade.
Relaesespecficasexistem,porm,quedevemserprecisadas.
7.4.1.1Direitoadministrativo
So estreitssimas, por exemplo, as relaes com o direito
administrativo, a ponto de haver problemas no em estabeleclas, mas em
distinguiroqueumeoqueoutro.H instituiesque,exercendofunes
polticas e administrativas, subordinamse s regras desses dois ramos do
direito.
7.4.1.2Direitoprocessual
ntima ligao h entre o Direito Constitucional e o processual. As
regras de processo dispem sobre o exerccio da funo jurisdicional. So
pertinentes,assim,diretamenteaumaatividadeestatal,eesta,comoqualquer
outra,temseusprincpiosfundamentaisnotextodaConstituio.
7.4.1.3Direitopenal
LigadodemaneiraparticularaoDireitoConstitucionalestopenal.Nos
pasesocidentais,aConstituioumaleidegarantiadosdireitosindividuais
contraaprepotnciaeoabuso dopoder.Ora,oDireitoPenallimitativodas
liberdades. Da o cuidado de perfeita compatibilidade entre a regra penal e a
constitucional.
7.4.1.4Direitodotrabalho
Ainda preciso observar que, atualmente, tambm o Direito do
Trabalho est estreitamente relacionado ao constitucional. A importncia
daquelefoicrescendotantoapontodesuasregrastereminvadidoocampodo
DireitoConstitucionalpositivo.
7.4.1.5Cinciasnojurdicas
O Direito Constitucional mantm, tambm, intercmbio com cincias
nojurdicas,entreasquaisaHistria,aSociologiaeaGeografia.
Cumpreindicarcomcuidadoanaturezadessasrelaes.
Uma cincia jurdica, a rigor, nunca pode ter relaes com cincias
explicativasenaturais.SeoDireitoConstitucionaltemporobjetoaexposio
sistemtica da Constituio, ele s contacta diretamente com esse objeto. No
entanto,a Constituioumaleiemqueserefletemascondiesefetivasde
um povo, e a sua excelncia se afere pela medida em que ela se adapta
realidade social. Fatores geogrficos, sociolgicos e histricos so fontes
materiais do Direito Constitucional. A interpretao construtiva de uma
Constituio s pode ser feita tendose em conta aqueles elementos reais
subjacentesaela.H Constituies lacnicas eremotas,comoaamericana,
sendo ainda hoje escasso o nmero de emendas que lhe foram incorporadas.
NolongoperododesuavidaaAmricasofreuaextraordinriatransformao
que todos presenciamos, mas sua Constituio mantevese intata, porque a
Suprema Corte a interpreta do ponto de vista poltico num interpretao
polticae,aofazlo,atmseaoselementosreaisdasociedadeamericana.Por
isso, as relaes do Direito Constitucional com as cincias no jurdicas
existem enquanto estas, dando informaes sobre os elementos infra
estruturais deordemconstitucional,autorizam interpretaointeligenteeuma
vivncia real das Constituies, que tm, antes de mais nada, destinao
histrica,servindoprecipuamentecomoroteirosparaofuturo.
7.4.2Constituio
Qualquer disciplina jurdica pode ser considerada do ponto de vista
terico e do positivo. Assim, tambm, o Direito Constitucional. A
Constituio direito constitucional positivo. Neste sentido no existe a
ConstituioexistemConstituies,abrasileira,aargentina,afrancesaexiste
DireitoConstitucionalbrasileiro,argentino,francs.
7.4.2.1Sentidosociolgicoejurdico
O vocbulo Constituio, desde memorvel preleo de Ferdinand
Lassale(18251864),podeserusadoemdois sentidos:sociolgicoejurdico.
Constituio,emsentidosociolgico,sooselementosreaisqueestruturamo
poder numa sociedade em sentido jurdico, o conjunto de normas que se
apresentam como frmula jurdica do poder. Em sentido sociolgico, amplo,
todo povo tem Constituio. Onde quer que haja uma estrutura de poder,
pouco importa qual seja, existe Constituio. Neste sentido, o vocbulo
constituiotemomesmosignificadodequandooempregamosemrelaoa
qualquer corpo. Por exemplo: um animal tem uma constituio, um mineral
tambm.
Muitas vezes a realidade uma e sua aparncia outra. A Constituio,
juridicamente falando, pode no corresponder realidade social. Pode dizer
que todo poder emana do povo, e se divide em Legislativo, Executivo e
Judicirio, e existirem poderes reais acima ou ao lado daqueles. O Estado
pode ser dominado pelas classes industriais e comerciais, por uma elite
intelectual, por uma classe sacerdotal, pelas suas foras armadas, e nenhum
desses grupos de poder estar citado na sua Constituio. Esta Constituio
em sentido jurdico, aquela, em sentido sociolgico o sistema real no qual
atuamasforasefetivasdepoderemumasociedade.
Tambm a Constituio, em sentido jurdico lato sensu, difcil
conceberseausenteemqualquergrupoorganizado,pois,comoreparaAfonso
ArinosdeMeloFranco,asociedadepolticapressupeopoder,masestesse
exerce por meio do governo, que, por sua vez, s pode existir num quadro
mnimo de generalidade de decises e de estabilidade de processos de ao,
cujanormatividadeasubstnciamesmadasConstituies.
7.4.2.2Classificao
As Constituies classificamse, quanto forma, em escritas e no
escritas.Nasescritasasnormasconstamdeumtextocomoasdequalquerlei.
As no escritas no constam de texto, embora possam inspirarse neles. So
princpioscujavitalidadeasseguradapelatradio.
A Constituio inglesa, por exemplo, no escrita, tradicional e
histrica, embora fundada em alguns textos, o mais recuado dos quais a
MagnaCarta,de1215.
Quantosuaelaborao,as Constituies so:dogmticas,histricase
outorgadas.
Dogmticasasqueseelaboramadotandoopreceitopolticodequetodo
poder emana do povo, assim, fiis ao princpio da soberania popular. S o
povosoberano,esomenteeletemumpoderdoqualnopodeserdespojado,
princpio que Sahid Maluf diz ser a prpria soberania em ao, o poder
constituinte. No podendo exerclo diretamente, o faz por intermdio de
delegados, os constituintes, que, reunidos em assemblia, elaboram a
Constituio.
As assemblias constituintes, explica Joo Barbalho (18461909), so
convocadas especial e exclusivamente para criar ou reformar a organizao
polticadanaoqueaselege,eseuspoderesconstam,emgeral,doatodesua
convocaoeinterpretamseemvistadeleedosfinsparaosquaisserenem.
Assim, seus poderes, a despeito da sua latitude, so politicamente limitados
pelosentidodasuaprpriamisso.
AsConstituieshistricastmorigememinentementepopular,maisdo
que as prprias Constituies dogmticas. No obedecem a um processo
formal,fluemdahistria,comoainglesa.
As Constituies outorgadas, que os constitucionalistas costumam
denominar de cartas constitucionais, so atos pelos quais o poder de fato,
institudoreveliadoprocessopolticojurdicovigente,seautolimita.
Ainda se dividem as Constituies em rgidas e flexveis, de acordo
comocritrioqueadotamparaasuareforma.
RgidaaConstituioquenoadmitereformapeloPoderLegislativo,
segundo o processo normal de elaborao das leis, o que, afirma Pontes de
Miranda, visaquasesempreproteger as regras que o homemconsidera como
conquistas da sua civilizao. Qualqueralterao pretendida haverdeseguir
umaprocessualsticacomplexadetramitaodificultosa.
flexvel a Constituio que aceita reforma pelo processo legislativo
ordinrio.
Algumas Constituies so, tambm, parcialmente fixas, se repelem
reforma de certas disposies por elas criadas. A Constituio brasileira, por
exemplo, fixa quanto aos dispositivos pertinentes forma federativa do
Estado,aovotodireto,secreto,universaleperidico,separaodospoderes
e aos direitos e garantias individuais, em relao aos quais no admite a
consideraodequalqueremenda.
7.4.3DefesadaConstituio
As Constituies so normas da mais alta hierarquia em qualquer
sistema de Direito Positivo. Pretendem ser, alm disso, manifestao de
vontade pblica e enunciado severo das aspiraes coletivas. Uma razo e
outra geram o problema de assegurar a sua supremacia contra qualquer
possibilidadedeinfrao,venhaestadoPoderLegislativo,doJudicirioouda
Administrao.
Este problema apresenta certa gradao conforme consideramos os
vriostiposdeConstituio.
Constituies histricas elaboramse, paulatinamente, ao fluxo das
tradiespopulares,e,assim,asuaprpriadinmicaeliminaoproblema,dado
queestoemconstanteformaoetransformao.
Constituiesoutorgadas,comoatosdeconcessodopoderaossditos,
ficam submetidas s convenincias do poder que as outorgou, o qual se
sobrepenormapodendozelarounoporela.
O problema definese, em toda a sua extenso e na complexidade das
suas implicaes, quando consideramos as Constituies dogmticas
formuladas por uma assemblia de delegados do povo, que em seu nome
exercemopoderconstituinte.PromulgadaaConstituio,opoderconstituinte
entreemrecessodeexerccio,atqueum hiatonaordempolticaprovoquea
sua convocao. Nesse perodo de recesso h que acautelar a supremacia da
regraconstitucional.
A mesma diversidade de importncia ocorre se considerarmos as
Constituies em funo do seu processo de reforma. J vimos que, desse
ngulo, (abstrao feita das Constituies fixas ou imutveis), podem ser
rgidas e flexveis. Em relao a estas menos delicado o problema de sua
defesa, confiada ao Legislativo que detm o exerccio pleno do poder
constituinte, e por isso realiza uma tarefa permanente de criao
constitucional. Assim na Inglaterra, cujo Parlamento no tem sua
competncia limitada por nenhuma norma positiva, legislando livremente
sobrequalquermatria.
QuantosConstituiesrgidas,oproblemamaiscomplexo.
De vrios expedientes valese o Direito Constitucional para garantir a
supremacia da regra constitucional. Algumas Constituies confiam ao
prprio ChefedeEstadoasua defesa,levandoemcontaqueatitularidade da
funo executiva confere a quem a detm um poder altamente responsvel.
Outras criam rgos especializados para dirimir os conflitos de
constitucionalidade. Num caso como no outro, a demanda de um protetor da
Constituio sempre indcio, assevera Carl Schmitt, de uma situao
constitucional crtica, lembrando o que ocorreu na Inglaterra morte de
Cromwell(15991658).
Generalizasehojeatese,originriadoDireitonorteamericano,deque
a defesa das Constituies deve ser atribuio do Poder Judicirio. o
chamado controle jurisdicional da constitucionalidade das leis e dos atos da
Administrao.
Osproblemasdeconstitucionalidadesojurdicos,porqueconfigurados
pelo conflito entre uma lei, uma deciso ou um ato e uma regra de Direito
Constitucional. Afloram sempre, portanto, polmica sobre a apreciao de
regras constitucionais sobre a partilha dos poderes, conforme adverte Edwin
Countryman,citadoporJooManueldeCarvalhoSantos(18951956).Ora,se
ao Judicirio cabe aplicar as normas jurdicas e dirimir os conflitos que sua
aplicao enseja, nada mais lgicos seja de sua competncia examinar as
situaes em que exista conflito entre uma norma legal ou um ato
administrativoeumaregraconstitucional.
De outros expedientes tambm se socorre o Direito para o mesmo
resultado. Alguns situamse no processo de elaborao legislativa, outros no
seutermo.
Nos rgos legislativos, os projetos de lei, antes de levados
deliberaodoplenrio,soobjetodetriagemnascomissesdejustia.Estas
opinam,emcarterprvio,sobreasuaconstitucionalidade.NoBrasil,sendoo
projeto de lei federal, a triagem se faz apenas para resguardar a sua
constitucionalidadefaceConstituiofederal.Seumprojetodeleiestadual
ou municipal, ela se faz em dois nveis, pois haver tambm que atender ao
problemadaconstitucionalidadefaceConstituioestadual.
Ao termo da elaborao das leis, o chefe do Executivo pode vetar
projeto que repute inconstitucional. uma faculdade que deve ser exercida
como obrigao. E um veto s podendo ser, via de regra, rejeitado por uma
maioria qualificada do colegiado legislativo, raramente recusado, donde a
suaassinaladaeficcia.
A prpria tramitao dos projetos de emenda constitucional
desestimulada por obstculos qualitativos e quantitativos. H limitaes
qualitativaspertinentesprpriamatriadoprojeto:emrelaoacertasregras
constitucionais, no se admitem projetos de emenda assim, no Brasil, os
tendentes a suprimir a Federao e a Repblica. Os obstculos quantitativos
esto nas exigncias de tramitao complexa e demorada e de maiorias
qualificadasparaaaprovaodasemendas.
Em nosso Pas, a declarao genrica de inconstitucionalidade das leis,
(genrica porque qualquer tribunal pode fazla, embora apenas para o caso
concreto em julgamento, podendo os juizes recusaremse a aplicar lei
inconstitucional),competeao SupremoTribunal Federal. Declaradapor elea
inconstitucionalidade, a deciso comunicada ao Senado Federal, que
suspenderavignciadalei.
7.5DIREITOADMINISTRATIVO
A formulao conceitual do Direito Administrativo um problema
rduo, at mesmo porque elstica e heterognea a idia de Administrao
Pblicaacujaatividadeseaplica.
Por isso, prefervel antecedla de uma reconstituio de como se
formou esse ramo do direito no curso da histria, seguindo a orientao de
Enrique Aftalin (1908), Fernando Garcia Olano (1910) e Jos Vilanova
(1924).
7.5.1Formaohistrica
Com a Revoluo Constitucionalista, que eclodiu nas ltimas dcadas
do sculo XVIII e repercutiu pelos sculos XIX e XX, nasceu o Estado
Constitucional, organizao poltica em que o poder do Estado restringido
porumanormaqueselhesobrepe.
NaInglaterra,remontou ao sculo XII,quando, num episdio quehoje
tem sabor quase lendrio, os bares feudais impuseram a Joo sem Terra
(11671216) a Magna Carta. A importncia maior do documento, assevera
Roscoe Pound (18701964), no estava em ter sido a primeira tentativa de
estabelecer em termos jurdicos princpios que depois se converteram em
diretrizes do governo constitucional, sim em que aqueles princpios foram
estabelecidossobaformadelimitaesaoexercciodaautoridadee,assim,se
incorporaram lei ordinria da terra, podendo ser invocados, como qualquer
outropreceitojurdico,nocursoordinriodeumlitgioregular.
Curioso notar, alis, que ali no houve propriamente uma fase de
absolutismo estatal, mas uma passagem direta, embora gradual, do regime
feudalparaoconstitucional,oquefezdaInglaterramodelodeinspiraopara
os constitucionalistas do sculo XVIII. A evoluo do regime constitucional
ingls comeou no episdio citado, prosseguiu nos sculos XVI, XVII e
XVIII, e ficou marcada pela edio de atos de transcendental importncia,
comoaCartadeDireitoseoAtodeHabeasCorpus.
Foi, porm, no sculo XIX, que explodiu realmente na Europa o
movimento constitucionalista, cuja primeira manifestao ocorrera na
Amrica,masquesefirmaracompujanaextraordinrianaFrana.
Antes da Revoluo Constitucionalista o soberano detinha o poder de
maneiratotal,oexerciaemnomeprprioeaoseucompletoarbtrio.Seacaso
pessoas e rgos desempenhavam funes legislativas, judicirias e
administrativas, no o faziam por titularidade prpria, sim como delegados e
tteresdosoberano.
ARevoluoConstitucionalistaincorporouaoseuideriooprincpioda
separao dospoderes, cujapaternidade se atribuia Montesquieu,que, tendo
viajadoInglaterra,ondeanobrezahavia retiradodoreioPoderJudicirioe
oLegislativo,conservandoaqueleapenasoExecutivo,deixouseimpressionar
pela instituio, como frmula sbia para a garantia da liberdade individual.
Acentuava Montesquieu que a autoridade absoluta tende sempre a ser
arbitrria. S h um modo de limitar o arbtrio: dividila, distribuir a
competnciaporentrergosdiversos, demaneiraqueeles,secontrolandoe
se fiscalizando uns aos outros, reduzem reciprocamente sua tendncia para o
arbtrio.
Quando foram retiradas da autoridade absoluta do monarca as funes
legislativa e judiciria, algum poder restou. Este poder residual constitui a
Administrao Pblica, contedo da funo executiva. Por isso, uma das
caractersticas da Administrao Pblica, sem prejuzo da sua estrita
legalidade, atuar com certa discricionariedade, empregada a palavra no seu
sentido jurdico. Enquanto o legislador est subordinado a um procedimento
rgidonasuatarefa,enquantoojuizprocedeobedienteadeterminadosistema
depreceitos,oadministradortemumhorizontemaisamplodeliberdade.
Administrao tudo o que, no sendo legislao nem jurisdio,
incumbe ao Poder Executivo. Mas este conceito, percebese, meramente
formal, porque redunda na concluso, pouco clara, de que o Direito
Administrativo o direito da Administrao Pblica. Necessrio
acrescentarlheaidia,quelhedarcontedo,dequeaAdministraoPblica
agestodosinteressesdoEstado.Assimcomooindivduogereosprprios
interesses,tambmoEstadoadministraosseus.Daaimportnciadoconceito
deserviopblicoemDireitoAdministrativo.
7.5.2GovernoeAdministrao
ConceituadooDireitoAdministrativocomodireitodaadministrao,e
esta conjunto de atos de gesto dos interesses do Estado, cumpre distinguir
administraodegoverno.
O poder pblico exerce uma funo poltica e outra administrativa. A
poltica tema do Direito Constitucional a administrativa, tem a do Direito
Administrativo.
7.5.2.1Esmein
A. Esmeinparte da distino entrerepresentantes da Nao, investidos
em sua autoridade por ato de soberania desta, e agentes do poder pblico.
Aqueles, por mais minuciosa que seja a regra jurdica definidora das suas
atribuies,sempreasexercem,atpelocontedomesmodelas,comumtom
pessoal, o que lhes concede relativo arbtrio. Os atos que praticam, no
desempenhodaquelasatribuies,sopolticos,comoadeclaraodeguerra.
A lei regula o ato, jamais dispe, menos ainda de maneira casustica, sobre
quandoumaguerradevaserdeclarada,ouapaznegociada.
Mas os titulares daquelas atribuies no podem prescindir de agentes
paraoseuexerccio,eestesnotmatuaoespontnea,satuamemnomeda
competncia que o governo lhes faculta, cooperando com os titulares de
atribuiesnodesempenhodeseusmisteres.
Integrantes do conjunto de rgos que chamamos Administrao,
desenvolvematividadeadministrativa:soagentesdaAdministrao.
7.5.2.2Jellinek
Jellinek caracterizou a distino entre governo e administrao
atendendoaosfinsdoEstado.
Estes fins, apesar da sua aparente diversidade, podem ser reduzidos a
trs: conservao, direito e cultura, os dois primeiros diretamente relativos
prpria essncia do Estado. Assim, conservar, ordenar e ajudar so as trs
grandes categorias a que se pode reduzir toda a vida do Estado. s duas
primeirascorrespondeapoltica,ltimaaadministrao.
Observa Jellinek que a proteo da comunidade e seus membros e,
portanto, a defesa do territrio contra qualquer ataque exterior atividade
exclusivadoEstado,masaestecabe,nomesmoplano,aprpriaconservao
eamanutenodaintegridadedoseumododeagir.Osdeverespoliciaiseos
penais no somente protegem bens individuais e sociais, como ao prprio
Estado.
Exclusivamente correspondente ao Estado tambm a formao e a
preservao da ordem jurdica. A evoluo do Estado vai sempre
acompanhadadeumprocessodeabsorodasformaesjurdicasautnomas
edeproteo,igualmentejurdica,sassociaesquelheestosubordinadas.
Somente oEstado aparececomofonte sistemticado Direitoesomente aele
competeservirsedosmeiosdecoao.
Por ltimo, fim do Estado, embora no privativamente, promover a
cultura, atividade condicionada historicamente por diversas circunstncias,
mas indissoluvelmente ligada ao sentido teleolgico da sua existncia, como
pessoa jurdica soberana que favorece os interesses solidrios individuais,
nacionaisehumanosnadireodeumaevoluoprogressivaecomum.
7.5.2.3Comentrio
Parece melhor tentar distinguir governo e administrao mediante um
esquema sem apoio na realidade, mas que permite uma compreenso lgica
simplificada.
Diramos que o Estado pode ser visto em suas funes logicamente
necessrias e, em outras, apenas teis. As logicamente necessrias, sem as
quais no se concebe a sua existncia, so as polticas, que se projetam em
duas dimenses: uma propriamente poltica e outra jurdica. Pela segunda o
Estado promulga e aplica a lei pela primeira, assegura a ordem interna e a
defesaexterna.SoessesoselementosconceituaisdaunidadedoEstado.No
podemos suprimir nenhum deles, porque disso resultaria a incapacidade de
conceblo.
Governo o Estado compreendido nessas dimenses mnimas e
essenciais:ajurdicaeapoltica.
A esses elementos logicamente necessrios outros se acrescentam,
ditados pela histria, que emprestam ao Estado os atributos de uma entidade
til, ou, como diz Fritz Fleiner, citado por Lopes da Costa, um ente que
favorece ao bem comum, criando utilidades. O Estado visto, ento, como
fator de progresso, de bemestar coletivo, de felicidade geral, como rgo
atuante em benefcio da comunidade. Esse o Estado na sua face
administrativa.Porabstrao,podemossuprimircadaumadassuasatividades
administrativassemsuprimirlheaexistncia.
Tratase, porm, de um esquema apenas lgico, porque a prpria
atividadepolticaexigeumsuporteburocrticodenaturezaadministrativa.E,
historicamente,emqualquertipodeEstado,expeJosCretellaJr.,antigoou
moderno, desptico ou liberal, as funes legislativas ou judicantes
interrompemse com freqncia, mas no se compreende a ausncia da
administrao, que ininterruptamente se exerce, j que a atividade humana
organizada,comsentidofinalstico,inseparveldosagrupamentoshumanos,
impelindoaoprogressoeimpedindoocaos.
7.5.3Serviospblicos
Presideatividadeadministrativaocritriodautilidadegeral.Porisso,
relevanteem Direito Administrativo a definiodeservios pblicos, tanto
maisimportantequantoatualatendnciademedirseporelesaextenso dos
direitosdoEstado,comoobservaReichel.
Servios pblicos so os de utilidade geral prestados pela
Administrao. O conceito formase pelo concurso desses dois elementos:
utilidade social e prestao pelo Estado. No a simples utilidade que
qualifica um servio como pblico. H servios socialmente teis prestados
por particulares: a educao, os transportes, a alimentao, as comunicaes.
A prestao pela Administrao essencial para que um servio seja
consideradopblico.
SegundoCarlosGarciaOviedo:
a) oserviopblicoumaordenaodeelementoseatividadesparafins
b) o fim a satisfao de uma necessidade coletiva, embora haja
necessidades gerais que sejam satisfeitas pelo regime de servio
privado
c) oserviopblicoimplicaaaodeumapessoapblica,aindaquenem
sempresejamaspessoasadministrativasasqueassumemessaempresa
d) aatuaodeum servio pblico se cristaliza emumasrie de relaes
jurdicasconstitutivasdeumregimejurdicoespecial,distinto,portanto,
doregimejurdicodosserviosprivados.
Emltimaanlise,sustentaAliomarBaleeiro(19051978),taisservios
tm por alvo a realizao prtica dos fins que moralizam e racionalizam o
fenmeno social do poder poltico: a defesa da nao contra agresses
externas, a ordem interna como condio de segurana e liberdade de cada
indivduo,aelevaomaterial,moraleintelectualdetodasaspessoas,obem
estar e a prosperidade gerais, a igualdade de oportunidades para todos os
componentesdogrupohumanoetc.
Os servios pblicos podem ser prestados por particulares, com a
colaboraodoEstado,epeloprprioEstadodiretaouindiretamente.
As modalidades de prestao por particulares so: a concesso, a
subvenoe,jhojeanacrnica,agarantiadejuros.
7.5.3.1Concesso
Na concesso mnima a cooperao do Estado. A Administrao,
titularnicadafaculdadedeexplorarcertoservio,concedeoaumparticular,
garantindolhe, habitualmente, e dentro de certos limites, exclusividade,
resultando,assim,seguranaderentabilidadedocapital investido,mediantea
cobrana de taxas fixadas nas respectivas tarifas. A concesso referese a
serviodaincumbnciadoEstado.Noconvindoaesteprestlo,delegaoao
particular,semcomprometerrecursosprprios.
ComolembraHansKlinghofer,aconcessonopodeabrangertodosos
servios pblicos, porque alguns deles o Estado no pode confiar a ningum
por proibio constitucional de alguns seria inadmissvel que deles o
particular pudesse tirar lucros e outros, porque o regime de prestao
colocariaemperigoacoletividade.
7.5.3.2Subveno
Na subveno h ajuda econmica do Estado. O particular presta um
servio considerado til e dele recebe uma compensao pecuniria. A
subveno formadeatraira iniciativa privada parasetores de rentabilidade
escassaouduvidosa.
A administrao remunera o particular para explorlos. Assim,
suprimidooriscodeprejuzo,equiabertaapossibilidadedelucro.
7.5.3.3Garantiadejuros
A garantia de juros, modalidade anacrnica, foi freqentemente usada no
passado. A razo que a justifica a mesma do servio subvencionado:
investimento vultoso e renda incerta. Neste caso, o Estado atrai o capital
particular,garantindolheumjurocerto.Aotermodecadaexerccio,ascontas
podemproduzirqudruploresultado:
a) prejuzo
b) nemprejuzonemlucro
c) lucro insuficiente, aqum do mnimo normalmente esperado de um
investimento
d) lucroexcessivo,almdorazovelparaocapital.
Havendo prejuzo ou nem prejuzo nem vantagem, a Administrao
pagaojuroprometido.Havendolucroinferioraoprevisto,elaocompleta.Seo
ganho excede aos juros prometidos, nada paga, e, via de regra, o excesso
partilhadoentreoempresrioeaAdministrao.
A prestao de servios pela prpria Administrao pode ser: direta e
indireta.
7.5.3.4Descentralizao
A atividade administrativa tem experimentado incremento sempre
maior. O Estado, no apogeu do liberalismo, omitiuse de intervir na vida
social. Foi simplesmente fiscal, deixando o mais iniciativa privada. Os
serviospblicoserammnimoseaatividadeadministrativa,escassa.
Atualmente, a atividade governamental intensa. O Estado moderno
intervencionistaesuaintervenoemqualquersetorsocialcorrespondeuma
estruturaadministrativa.
Quando este gigantismo alcana certas medidas, a Administrao
comeaaficaremperrada,sujeitaqueestaformalidadesquenoobrigamao
particular. A maneira de dinamizla descentralizla. Da a dupla
modalidade de prestao de servios pblicos pelo Estado: a direta e a
indireta.
7.5.3.5Prestaodireta
Direta,quandooserviorealizadoporentidadequeintegraaestrutura
da Administrao. Dizer o que estrutura da Administrao Pblica importa
levarem conta umdeterminado Estado. NoBrasil, integram a Administrao
federal a Presidncia da Repblica, os rgos que lhe so diretamente
subordinados e os Ministrios ou Secretarias de Estado. Se a entidade que
promoveoserviosituasenaestruturadaPresidncia,deseusrgos oudos
MinistriosdeEstado,aprestaodireta.
Conforme escreve Hely Lopes Meirelles, em regra o Poder Pblico
presta diretamente os servios relacionados com a proteo dos direitos e a
segurana individual (justia e polcia) ou que exigem medidas compulsrias
(higieneesadepblica).
7.5.3.6Prestaoindireta
Aprestaoindireta,hojemuitofreqente,caracterizasepelofatodeo
rgo que presta o servio no estar inserido nos quadros da Administrao
propriamentedita.
Assume quatro formas: autarquias, empresas pblicas, sociedades
annimasefundaes.
Todas tm caractersticas comuns. Uma delas serem criadas ou
institudas por fora de lei. Outra que elas tm personalidade jurdica
prpria, distinta da personalidade da pessoa de direito pblico qual esto
vinculadas. Anatureza da suapersonalidade varia. As autarquias sopessoas
de direito pblico, ao passo que as empresas pblicas, as fundaes e as
sociedades de capital misto so pessoas de direito privado, embora essa
caractersticasejasempredadaapenasporlei.
7.5.3.6.1Autarquias
Aautarquia,naliodeTitoPratesdaFonseca,umaformaespecfica
da capacidade de direito pblico: capacidade de reger por si os prprios
interesses, embora estes respeitem tambm ao Estado. Possui patrimnio e
receita prprios, e os servios que presta so tipicamente administrativos. A
palavraautarquiasignificaautosuficincia.Umrgoautrquicoquandose
bastaasimesmo.
Distinguese das demais entidades de Administrao indireta porque
no presta servio comercial, nem industrial, mas tipicamente administrativo.
Apenas o Estado ao invs de prestlo diretamente, o faz por um rgo
satlite,localizadonasuaperiferia.
semelhanadoprprioEstado,tempoderimpositivo,podecobrardo
particular,compulsoriamente,contribuiesquealeicriaemseubenefcio.E
desfrutadosprivilgiosdoEstado.
7.5.3.6.2Empresaspblicas
A empresa pblica pratica atividade empresarial, semelhana da
particular. pblica apenas porque realiza administrao indireta. A
totalidadedoseucapitalpertenceaoEstado.
7.5.3.6.3Sociedadesdeeconomiamista
Associedadesdeeconomiamistaconstituemsoluointeressanteehoje
usual de prestao indireta de servios pblicos. Themistocles Cavalcanti,
citandoReutereCheron,sustentaque,emboraindustriaisoucomerciais,asua
destinaosocial,oqueimportanelasprepondereapresenadoEstado.So
sociedades annimas criadas por lei, cuja maioria de aes, com direito de
voto, pertenceaoEstadoouaosseus rgossatlites.Asociedadeannima
deresponsabilidadelimitada,isto,opatrimniodeseusscios,denominados
acionistas,norespondesubsidiariamentepeloscompromissossociais.Assim,
quemcompraumaao,apenasexpeariscoaquantiagasta.
A sociedade annima forma hbil de prestao de servio pblico,
porque o seu capital dividido em fraes iguais, a cada uma das quais
corresponde um ttulo, chamado ao. As deliberaes do seu corpo de
acionistas so tomadas por maioria de aes. Assim, o titular de 51% das
aes, sem possuir todo o capital, tem o controle pleno da sociedade. Numa
sociedade de economia mista, o Estado detm mais da metade do capital, o
restante cabe aos particulares. O Estado, sem fazer investimento total, tem o
controledaentidadeeacolaboraodosrecursosedosinteressesparticulares.
Por outro lado, as sociedades annimas conseguem a captao da
pequena poupana.Pessoasderecursosparcos,quenopoderiam investirem
negciosprpriostmcondiesparacomprarcertonmerodeaes.
Estas sociedades, chamadas de economia mista porque o seu capital
pblicoeparticular,podemfuncionarobedientesaoutrospreceitosquenoos
ordinrios dalegislaocomercialqueregulam, genericamente,associedades
annimas.
7.5.3.6.4Fundaes
FundaopblicapatrimnioqueoEstadoconstituiaoqualconferea
condiodepessoajurdicadedireitoprivado,paraarealizaodecertofim.
7.6DIREITOPENAL
ODireitoPenalestudaosdelitoseaspenascorrespondentes.
Emtodasassociedadesdeterminadosatossoconsideradosantisociais.
Sua prtica gera reao veemente que impe ao agente uma sano aflitiva.
Essacondutaconstituiodelito.
Crime, portanto, a infrao da lei penal. Um conceitojusnaturalstico
invivel,porqueasentidadesdelituosasvariamnotempoenoespao.Oque
foicrimeontemnohoje,eoquecrimehojepodedeixardesloamanh.
Entre povos diversos, o que para um delito para outro no . No h
portanto,alternativaparaessasdefiniespreliminares.
a) direito penal a cincia jurdica particular que estuda os crimes e as
penas
b) crimeainfraodaleipenal.
7.6.1Direitopenalecriminologia
Cumpre distinguir entre Direito Penal e Criminologia, tanto mais quanto
aqueleestsaturadodainflunciadesta.
O Direito Penal considera o crime no plano normativo, como ato que
no deve ser praticado. A criminologia o considera no seu aspecto
naturalstico,comoatoquepraticado.
ODireitoPenalvnocrimeumaentidadeabstrata:condutapunidapor
lei. Mas, por trs do delito, est uma criatura real de carne e osso, o
delinqente.Essacriatura,vistanasuacondutaantisocialenosfatoresquea
determinam, estudada pela criminologia. O Direito Penal contata com o
crime,aCriminologia,comocriminoso. AoDireitoPenalinteressaaconduta
criminosa em si mesma. Criminologia essa conduta apenas interessa
enquanto sintomtica de fatores que lhe permitem conhecer o delinqente na
sua natureza e circunstncias da sua existncia. Na singular comparao de
QuintilianoSaldaa,aqueleumteatro,esta,ummuseu.
Por isso, o Direito Penal varia de povo para povo, ao passo que a
Criminologiaumas.
Podese, porm, indagar: se o delito a infrao da lei penal e se esta
varia no tempo e no espao, como possvel uma Criminologia, espcie de
cincianaturaldocrime?
A contradio apenas aparente. Embora a noo de delito seja de
Direito Positivoe, como tal,histrica, todo delito conduta antisocial, pois,
como dizexpressivamente MaxErnstMayer,amanifestaomais patenteda
oposio do indivduo sociedade o delito. Sob este aspecto, qualquer
condutacriminosapodeseridentificadacomoinadaptadaaexignciassociais
e,assim,estudadapelascinciasdescritivas.
A Criminologia tem por objeto essencial o estudo da criminalidade e
suas causas. Estas so de natureza individual (endgenas ou constitucionais)
oudemeio(exgenas).Asprimeiraspodemserbiolgicasoupsicolgicas.As
condies ambientais podem ser sociais e meteorolgicas. Da, dentro da
criminologia haverumasociologiacriminal,queanalisaos fatores sociaisda
criminalidade, e uma meteorologia criminal, que se ocupa dos fatores
meteorolgicosdacriminalidade,comoasestaes,atemperatura,etc.
7.6.2Delito
A lei penal define condutas tpicas. Se algum as pratica, expese
sanoprevista.
A conduta delituosa, conforme o ensinamento de Werner
Goldschmidt,seapresentatrsrequisitos:tpica,antijurdicaeculpvel.
uma conduta tpica, porque, a cada dispositivo da lei penal,
corresponde um tipo de conduta. Se a conduta do agente incorre no tipo
previsto,criminosa.
A conduta em si mesma, ou o seu resultado, pode ser tipificada. No
segundocasonooaconduta,quesemostrasobmuitasvariantes,masoseu
efeito,queinvarivel.Nabigamia,porexemplo,acondutatipificadaemsi
mesma, pois no h outra maneira de praticla, seno casar outra vez. Em
relaoaohomicdiodiferente.AeleoCdigoPenalserefereassim:matar.
Podemos matar usando os mais variados meios. No pode, a conduta,
portanto,sertipificada,apenasasuaconseqncia.
No basta, porm, que a conduta seja tipificada. Podemos seguir
condutatipicamentepenalenopraticarcrime.Emalgumassituaeselano
antijurdica, antes juridicamente justificada. Por exemplo, se matamos
agindo em legtima defesa no praticamos homicdio, dado que a lei permite
mataremtalcontingncia.
Aculpabilidaderesultadojulgamentodo atoemfunodos elementos
subjetivos do agente. Manifestase como dolo, dolo eventual e culpa
propriamentedita.Seoagentelograoresultadopretendido,hdolo.Senoo
desejou, mas assumiu o risco de que ocorresse, h dolo eventual. O
proprietrio de uma embarcao, que a faz naufragar para receber o seguro,
nopretendeupropriamentematarqualquerdaspessoasqueestavamabordo,
mas sabia do perigo que corria a vida delas, e assumiu esse risco. H culpa
quando a conduta descuidosa, sem as cautelas de que deve ser cercada, e
dela provm conseqncia danosa prevista na lei penal. Se o autor de ato
previstonaleipenalprocedesemculpabilidade,tambmnoexistecrime.
7.6.3Direitodepunir
Amatriadenaturezafilosficaeemergedaindagaosobreporque
e com que fundamento a sociedade, particularmente os indivduos que
exercemfunesdelegadasporela,podemimporpenasecastigos?
Doiscritriosprevalecemnadoutrina,segundoGaldinoSiqueiraePaes
Barreto:oabsolutoeorelativo.
7.6.3.1Teoriasabsolutas
Pelas teorias absolutas, dentre cujos defensores destacamos Friedrich
Julius Stahl (18021861) e Kant, h uma justia absoluta, valor e dado de
conscincia, qual o homem deve fidelidade. Se a infringe, submetese, por
ato consciente e livre, s conseqncias do seu procedimento. A pena a
retribuiomerecidaaquemviolaumpreceitotico.
7.6.3.2Teoriasrelativas
As teorias relativas descrem de qualquer critrio metafsico. No
fundamentam a pena na justia em si mesma, mas na considerao de outras
justificativas.
Estas teorias assumem duas orientaes. Uma, dentre cujos
representantes salientamos Alfred Fouille (18381912), Rousseau e Cesare
Beccaria (17381794), v no direito de punir uma decorrncia da natureza
contratual da ordemsocialepoltica. Ohomem,antes de viverem sociedade
poltica,viviaemestadodenatureza,entregueplena liberdade.Passandoao
estado social, instituiu o Poder Pblico, ao qual cabe a vigilncia da paz
coletivaeagarantiadosdireitospessoais.daessnciadessaconversoqueo
indivduorenunciesfaculdadesexecutivasdosprpriosdireitos.
OEstadotornousedepositriodestase,nessaqualidade,defineosatos
consideradosatentatriosordemsocialeaplicapenas.
Rousseauexplicaqueocriminoso,rompendoocontratosocial,deixade
sermembrodasociedade,qualdeclaraguerracomasuaofensae,portanto,
comoinimigodevesertratado.Eacrescentaqueoprocessocriminalcolheas
provasdaquelerompimento.
ThomasHobbes(15881679),tambmcontratualista,admiteque,antes
dainstituiodoEstado,cadahomemtinhaodireitoatodasascoisaseafazer
o que considerava necessrio para logrlo, subjugando, maltratando ou
matandooutrohomem.Institudaasociedadepoltica,ossditosdespojaram
sedaquelafaculdadeeassimrobusteceramadogovernanteque,remanescente
nico daquela titularidade, usa do direito prprio como lhe parece adequado
paraaconservaodetodos.
Outraorientaoreconhecenapenaumsfundamentoaprevenoda
criminalidade.Apenanocastigo,nemvingana,nemexpressodejustia
apenasproduzacontenodacriminalidade.
A preveno pode ter um sentido geral ou particular, conforme se
empreste mais nfase sua funo intimidativa ou sua funo corretiva.
Pessoasatradasparaaprtica deatos antisociaisdeixamdecometlospela
possibilidade de virem a sofrer punio. E o indivduo alcanado por uma
sanocriminalprovavelmentetemercometeroutrodelito.
7.6.4Evoluo
Antes que as normas se tivessem diferenciado em morais, polticas,
jurdicas,convencionais etc., toda a normatividade social eraconsuetudinria
e estava contida nas tradies de cada grupo. No existia propriamente a
figura tpica do delito. Qualquer infrao normatividade era uma falta da
mesmanatureza.
Tal como ocorreu relativamente proteo dos direitos subjetivos em
geral,avinganaprivadaeotalioprecederamajurisdiocriminal.
7.6.4.1Direitoromano
Em Roma,diversos perodos sesucedemnaevoluodas instituies penais.
Nostemposmaisprimitivosopaterfamiliasexercianacomunidadedomstica
umdireitoabsoluto.Erasenhoredetentordetodos ospoderes,sem qualquer
limite, sobre as pessoas que formavam a comunidade familiar. Tinha sobre
todas elas poder de vida e morte. Julgava os crimes, cominava e aplicava as
penas. No havia uma justia de grupos, menos ainda do Estado, somente a
justiadomstica.
Mais tarde, a autoridade do paterfamilias veio a sofrer limitao.
Firmouse a distino entre delitos privados e pblicos, estes submetidos ao
julgamentodaautoridadepblica.
Na era republicana, o Estado definiu as primeiras figuras penais
tentando tipificlas. Surgiu a figura dos crimina legitima, definidos por lei,
aos quais correspondiam as poena legitima, penas legais. Como eram
formuladas,especificamente,asaescorrespondentes,estadefinioadjetiva
muitoconcorriaparaemprestartipicidadesfigurasdelituosas.
Na Repblica est o embrio do que poderia ter sido o futuro Direito
Penal romano em termos de legalidade. No entanto, essa tendncia para
reduzir o arbtrio em favor da legalidade sofreu retrocesso no perodo
imperial. Ojulgamentodos delitos,aaplicaodaspenas,aconfiguraodos
crimes passaram aserdecompetncia do imperador.Instalouseuma fase de
arbitrariedade, durante a qual o imperador monopolizava toda a autoridade,
tendo competncia para castigar qualquer ato que, no seu entender, lhe fosse
atentatrio ou aos interesses sociais. E no somente competncia para
caracterizar os atos, mas tambm para lhes cominar penas consoante seu
arbtrio.Surgiramentooschamadoscriminaextraordinria,noprevistosna
legislao, que poderiamserarbitrariamenteconfigurados, ainda mesmocom
efeitoretroativo.
7.6.4.2Direitogermnico
No Direito germnico, os antecedentes so os mesmos. A justia
criminalerapraticadacomovingana. Os crimeseramvistoscomoatentados
contrainteressesestritamenteindividuaisougrupais.Umdostraostpicosdo
Direito germnico foi a converso da pena de castigo em composio
pecuniria.Avtima,seusfamiliaresouosmembrosdoseugrupoexigiamdo
ofensorumacompensaopecuniriadodano.
SegundootestemunhodeCorneliusTacitus(55120),osculpadoseram
condenados a uma multa que pagavam com certo nmero de cavalos ou
cabeasdegado mido, uma partedestinada ao rei outribo,outra vtima
ou seus prximos. E at o homicdio se podia remir por um nmero
determinadodecabeasdegado,recebendo,assim,afamliainteiradavtima
umasatisfao,comgrandevantagemparaobempblico.
7.6.4.3Direitocannico
O Direito cannico aproximou as noes de delito e pecado. Essa
aproximao entre uma noo religiosa e outra jurdica criou conseqncias
aparentemente paradoxais. Por um lado, tirou ao Direito Penal a sua fria
objetividade,nosentidodejulgardacondutadelituosaapenaspelasuaprtica,
tal como acontecia no Direito germnico. Os elementos subjetivos ou
intencionaisdacondutapassaramaserestimados,eessefatorepresentou,sem
qualquer dvida, umavanodas instituies penais. Poroutro lado,porm,a
idiadepecadofez aflorar,comocorolrio,adeexpiao. Opecadormerece
expiarsuafalta,atmesmocomocaminhoparaseredimirdela.Daporqueo
Direito cannico trouxe aplicao generalizada das penas corporais, e, sob
esseaspecto,representouumretrocessonaevoluodoDireitoPenal.
7.6.4.4IdadeMdia
Essastrscaudais,Direitoromano,cannicoegermnico,encontramse
na Idade Mdia, e vo formar o conjunto de idias e regras que viriam a
constituiraprimeiraetapadoDireitoPenalocidental.
O Direito Penal medieval marcou uma poca do mais consumado
arbtrio. Qualquer ato podia ser considerado delituoso. Smbolo do tempo
foramas torturas. Apena eraaplicada semexamedos elementos subjetivose
objetivos da conduta, mas em vista da condio social do infrator, de modo
que variava de indivduo para indivduo e at segundo a sensibilidade e o
critriopessoaldojulgador.
Foi, alis, o barbarismo da Idade Mdia que inspirou a escola cujo
aparecimento no sculo XVIII viria a ser o do prprio Direito Penal como o
compreendemos.
7.6.4.5SculoXVIII
O sculo XVIII, foi o sculo das luzes, da plena liberdade e da total
contestao. Nele o homem afirmou a supremacia da prpria razo sobre
qualquervalorimpostopelaautoridade.
Em 1764, Beccaria publicou a monografia Dos Delitos e das Penas,
ttuloquedavaidiaclaradocontedodoprprioDireitoPenal.
7.6.4.6Escolaclssica
Surgia, assim, a escola clssica, que foi, na sua origem, antes de mais
nada, um movimento humanitrio. O que sensibilizou Beccaria foi a
monstruosidadedas instituiespenais eaaviltantecondiodoru,despido
detodososdireitos,submetidoatodasasatrocidades.
Mas Beccarianoselimitouadesfraldarabandeiradohumanitarismo.
Fundouumaescola,clssicaexatamenteporqueaelacorrespondeafundao
doDireitoPenal.Alis,Beccarianofoipropriamenteoseufundador,porque
sua obra foi mais de um filsofo e um reformador social do que a de um
jurista. Coube, na verdade, a Francesco Carrara (18051888) sistematizar a
doutrinadaescola.
O princpio bsico da escola o da legalidade. Consubstanciase no
aforisma sobre o qualaindaassentao DireitoPenal moderno: Nohcrime
semleianteriorqueodefina,nempenasemleianteriorqueacomine.
Por ele, ningum pode ser castigado pela prtica de um ato, por mais
reprovvel que seja, por mais veemente e crtica que lhe possamos fazer, se
no estivertipicamenteprevisto na lei penal, poisanenhumapessoase pode
aplicarpenaquenoestejacominadaemlei.
O segundo princpio da escola clssica, que mais tarde viria a ser
vivamentecombatido,namedidaemqueevoluamascinciasantropolgicas,
o da responsabilidade moral. Segundo Adolphe Landry, a escola quer que,
nodelito,ojuizpunaafaltamoral,opecado,independentementedequalquer
considerao de utilidade social. O homem punido porque moralmente
responsvel, tem senso de justia e liberdade de proceder. Delito ao
consciente e livre. Consciente e livre, o homem moralmente responsvel
pela sua conduta, e, por isso, penalmente responsvel quando perpetra um
delito. Faltando ao agente responsabilidade moral, faltalhe tambm
responsabilidade penal,razo de o direito acolher diversas excludentesdesta.
Os alienados, por exemplo, moralmente irresponsveis, o so tambm
penalmente.
Oterceiropostuladodaescolaclssica damaisalta importncia:oda
personalidade da pena. O Direito Criminal prclssicos, em relao a certos
delitos, admitia que as penas atingissem no somente os agentes, mas ainda
seus parentes. A isso opsse a escola clssica, exigindo que a pena fosse
semprepessoal.
Pelo quarto princpio da escola a pena deve ser duplamente
proporcional: proporcional gravidade do ato delituoso, considerado em
comparao a outros, e sua peculiar gravidade, considerada em relao s
circunstncias em que o ato foi cometido. Matar delito mais grave do que
furtar. Quem subtrai com violncia pratica delito mais grave do que quem o
fazsemviolncia.Aspenasdevematenderaessarelativagravidade.
Alm disso, o mesmo delito pode ser cometido em circunstncias
diversas,quemodificamasuagravidade.Umindivduoquemataumestranho
no pode ser julgado como o que mata um filho, um pai, uma irm. Quem
mata por impulso no pode ser equiparado a quem traioeiramente prepara
ciladaparaoassassnio.Quemcometehomicdio,demaneiraqueavtimano
tenha oportunidade de se defender, no igual a quem se envolve num
conflitoemata,correndooriscoigualdesermorto.
A escola clssica entendia que as penas deveriam ser proporcionais s
circunstncias. Motivo de nos Cdigos Penais haver penas mximas e
mnimas. A pena ir de um extremo a outro, com nveis intermdios, de
acordo com as circunstncias que envolvem o delito, apuradas no exame de
cadacasosingular.
Entende Schopenhauer quearazo da justa correspondncia reclamada
porBeccariaentreapena e odelitoestavatambmnaconveninciadequea
garantiadecada bem humanofosseproporcional aovalordeste. Assim,cada
homem estaria autorizado a exigir uma vida alheia em garantia da prpria,
enquantoque,paraaseguranadasuapropriedade,bastarlheiaaprivaoda
liberdadedoofensor.
Ainda preconizou a escola o princpio da publicidade da instruo
criminal,ouseja,dafaseprobatriadoprocessopenal.
O ltimo postulado da escola clssica, aquele que lhe valeu a crtica
maisviolentadasescolassucedneas,odequeodelitodeveserconsiderado
um ente jurdico. No julgamento da conduta delituosa o juiz deve fazer
abstraodaqualidadeedacondiododelinqente.Atersesimplesmenteao
fato, avaliar a conduta atribuda ao ru, objetivamente, como infrao de um
preceitolegal.
A escola clssica teve extraordinria repercusso. O Direito Penal,
exceo feita de certos sistemas, continua, em grande parte, alicerado nos
seusprincpios.Oprincpiodaabsolutairretroatividadedaleipenal,odeque
ningumpodeserpunidoporatonoprevistonalei,odequeaningumpode
ser cominada pena que a lei no comine, so todos da escola clssica, e
continuamintegrandooDireitoPenalmoderno.
7.6.4.7Escolapositiva
O sculo XIX trouxe profunda mudana para a cincia penal. Se o
anteriorhaviasidoosculodasletras,dasartes,darazo,osculoXIXfoio
do naturalismo. No seu decorrer as cincias naturais adquiriram importncia
que antes no haviam tido, o que se refletiu no mbito da cincia penal,
lanando os fundamentos da criminologia e determinando o desprestgio dos
cnonesdaescolaclssica.
Surgiu a antropologia criminal, criada por um notvel mdico italiano,
natural de Turim, Cesare Lombroso (18361909), que publicou duas obras,
aindahojeclssicas.
Lombroso, freqentando os presdios do seu pas, adquiriu especial
interesse pelo exame dos delinqentes violentos. Foi se deixando
impressionar,paulatinamente,pelaobservaodequeaqueles,nasuamaioria,
apresentavam desvios morfolgicos. At que, quando examinou o crnio de
um dos mais famosos criminosos da poca, marcado por numerosas e
significativas alteraes morfolgicas, chegou convico de que o
delinqente um ser anormal, acudindolhe a idia de que o delito uma
enfermidade, e, assim, seu estudo menos cabia ao Direito do que a uma
cincianatural.
Fundou ele, ento, a antropologia criminal, primeira fase da escola
positiva.
Sua idia matriz era a de que o criminoso irrecupervel apresentaria
caractersticasdeconformao distintasdas dohomemnormal. Seriadeuma
espciehumanaprpria.Seexisteumacinciadohomem,aantropologia,ese
ocriminoso um homem parte,constitui,ento, uma categoria de homem,
surgindo,paralelamente,aantropologiacriminal.
Formulouseanoodocriminosonato,doindivduoquetrazdobero,
peloimperativodesuascondiessomticas,ataradacriminalidade.Chegou
omdicoitalianoaindicarossupostoscaracteresantropolgicosdocriminoso
nato violento: testa estreita e fugidia, prognatismo, mas do rosto
pronunciadamenteacentuadasetc.
No lhe bastou, porm descrever essa morfologia da criminalidade,
senotambmindagarquefatorpoderiaexplicla.
Para tal, valeuse, sucessivamente, de trs explicaes. Primeiramente
cuidou que o atavismo explicaria o homem delinqente. O atavismo
manifestao espordica de hereditariedade ancestral. O criminoso teria
heranaatvicadoselvagem.
Mais tarde, valeuse do infantilismo, especialmente para justificar as
condies psicolgicas do criminoso, que seria por natureza um ser de
ilimitado egosmo. Ora, este o primeiro estado do homem antes que a
sociedade, pela educao, o condicione. O criminoso seria um esprito
infantilmenteegostanumcorpoadulto.
Porltimo,dadaaentoatualidadedotema,voltouseLombrosoparaa
epilepsia,enfermidadequeesclareceriaadinmicadacriminalidadeinata.
A antoropologia criminal cedo sofreu combate, porque a observao a
desmentia.
A escola positiva, conservando a herana de Lombroso, ingressou na
fase sociolgica, na qual sobressai o nome de Enrico Ferri (18561929), a
quem se deve explicao mais completa da criminalidade. Lombroso havia
superestimado os fatores constitucionais, somticos, hereditrios, e
desprezados os sociais e geogrficos. Coube a Ferri enriquecer o patrimnio
doutrinrio da escola, fazendo o levantamento de todos os fatores da
criminalidade.AdoutrinadeFerriestnumaobratradicionaldecriminologia,
aSociologiaCriminal.
Aindanalinhadaescolapositiva,tivemosmais tardeRafaeleGarofalo
(18511927), inaugurador da fase jurdica. O aspecto jurdico do delito fora
abandonado por Lombroso e Ferri. Garofalo voltou a considerlo. Da sua
doutrinaumpontosedestaca,hojeindefensvel:atentativadedefinirodelito
natural.Sejaemboraumainfraodaleipenal,e,porisso,contingenteaidia
que lhecorresponde, existe umcrimenatural,crime em si mesmo, quaisquer
quesejamasvariantesdesuasmanifestaeseasmaneiraslegaisdejulglas.
O delito natural atenta contra dois sentimentos essenciais do homem:
piedadeeprobidade.
Como critrio de aplicao da pena, Garofalo defendeu o da
temibilidade. Apena nodeveserautomaticamentequantificada, masdosada
emproporotemibilidade do delinqente, porque indivduos que praticam
atosidnticospodemoferecerpericulosidadediversa.
Dos vrios postulados da escola positiva um bsico: a
responsabilidade legal. Para a escola clssica o fundamento da
responsabilidadepenaleraaresponsabilidademoral,corolriodatesedolivre
arbtrio. A escola positiva nega a liberdade moral, vendo o crime, diz J.
Grasset,semqualquerliamecoma idiadeliberdade. Se ohomem normal
sua conduta ser inatacvel. Se anormal, com tendncia irresistvel para a
criminalidade,ousepressionadopelaprpriaambincia,asuavontadeno
livre. criminoso por uma imposio da sua natureza ou do seu meio, por
conseguinte:moralmenteirresponsvel.
Sendomoralmenteirresponsvel,comopunilo?Respondeaescolaque,
antes de tudo, a pena no tem carter de punio, mas o de simples ato de
defesasocial.Asociedadenoaplicaapenaparapunirocriminoso,queemsi
mesmo irresponsvel, sendo, portanto, injusta em relao a ele, a noo de
castigo.A penamedidadedefesasocial,firmadanaresponsabilidade legal.
Todohomemqueviveemsociedadelegalmenteresponsvel,eapenasisso.
7.6.4.8Escolasociolgica
A escola sociolgica foi a ltima manifestao da escola positiva, sua
terceirafase,naqualsesalientamLacassagneeTarde.Enfatizaaimportncia
dosfatoressociais,emrelaoaosconstitucionaisemeteorolgicos.famosa
e tpica a frase de Lacassagne: a sociedade o caldo de cultura da
criminalidade.
7.6.4.9Novasescolas
Durante muito tempo as trs escolas antes expostas conflitaram e
definiramposiesortodoxas.
Ulteriormentehouveaderrocadadassuasfronteiras,tantoqueoDireito
Penal, ainda fiel aos princpios da escola clssica, assimilou influncia da
escolapositiva.
A par disso, abremse hoje perspectivas novas sobre a matria,
resultantesdoavanodascinciasdohomem.
Estas novas contribuies foram trazidas criminologia pela
psicanlise,deSigmundFreud(18561940),aendocrinologiaeagentica.
7.6.4.9.1Psicanlise
Apsicanlisefoi,nasuaorigem,umasimplestcnicadeanlisemental,
supostamente mais idnea que a hipntica. De mero captulo da psiquiatria
evoluiu de tal maneira, generalizou a sua influncia de tal modo, ocupou
tantasreasdiferentesdecultura,quesetornouumaverdadeiraconcepodo
homem.E,adespeitodetodasasreservasqueselhepossamfazer,verdade
que desfruta de prestgio no mundo contemporneo, at mesmo na
nomenclatura cotidiana, longe de ser um punhado de trivialidades e
imaginaesgrosseiras,comopretendeGuidodeRuggiero.
inteiramente invivel dar uma idia da psicanlise em exposio
sumria. S podemos tentla por esquema, imperfeito e artificial como
qualqueroutro,emboracapazdeproporcionaruma vaganoodaconcepo
psicanalticadadinmicadavidamental.
Diramosqueamentetemtrsestruturassobrepostas:oinconsciente,o
consciente e o superconsciente. Na nomenclatura pscianaltica: id
(inconsciente),ego (consciente)esuperego(superconsciente).
O id o subterrneo da mente, o campo onde esto os instintos,
polarizados em dois bsicos: a fome e o sexo. Instintiva a natureza
individual do homem. Mas ele, nascendo com esse lastro de instintos e a
necessidade de satisfazlos, como ser animal que , desde os primeiros
momentosdasuavidarecebecondicionamentosocial:istonosefaz,istono
se diz, isto no se pode, isto no se deve. A sociedade lhe impe uma
superconscincia, subordinao aos seus valores, sujeitao aos seus padres
pelaeducao.Asuamenteumaarena,naqualosinstintosconflitamcomas
exigncias da sociedade. O ego a sntese ecltica desses fatores
contraditrios.
Os instintos, domados pela conscincia social, sempre procuram
afirmarse. Tentam burlar o ego, a conscincia, que a psicanlise compara a
um guarda em permanente vigilncia. Os instintos s vezes o iludem, como
nos sonhos, sob forma simblica, e da a importncia da sua interpretao.
Tambm por outro processo o ego satisfaz os instintos do id, de uma forma
socialmente aceitvel: a sublimao. O bandoleiro fazse policial, e assim
descarrega asua agressividade,osanguinriofazse aougueiro ou cirurgio,
dandovazoainstintosdeumaformasocialmentelcita.
Oegoequilibrado lograuma composio satisfatria dos instintoseda
conscincia.Mas,quandoos instintos,emconseqncia defatos,processose
fenmenos que no vamos aqui citar, so violentamente sufocados, eles
podem surgir subitamente em erupo, como um vulco adormecido que de
repente entra em atividade. Socomo gases, tanto mais potentesquanto mais
comprimidos. O delito, em sentido lato, nesta explicao sumamente
esquemtica,umasituaocrticanesteconflito.
Exagero no ser dizer, como Genil Perrin, que, para a psicanlise,
todos nascemos criminosos e arrastamos nossa infncia conosco, como ser
invisvel a projetar sua sombra no mundo das nossas realidades, na frase de
RobertWaelder..Osresduosdasnossastendnciascriminosas,originriasde
umacertafase norelacionamento paisfilhos,sorecalcados no inconsciente,
com xito ou sem ele. Se esse recalque normal, pode transformarse, pela
sublimao,emtendnciassociais,atmesmoaltrusticasseeleinsuficiente
eanormal,determinamtendnciasegosticas,antisociais,criminosas.
Conforme o mesmo autor, a psicanlise aplicase quase que
exclusivamente criminalidade neurtica, isto , a resultante de mecanismos
mentaisinconscientes,significandooraumasatisfaoilcitadossentidos,ora
uma automutilao punitiva. O material recalcado, no caso, compese
fundamentalmente de tendncias reprimidas, vindas da infncia, e de
tendnciasagressivascontramembrosdafamlia.Acriminalidadeneurtica
apersistnciaanormaldacriminalidadeinfantilcongnitae,comotal,produto
deumaeducaodefeituosa.
7.6.4.9.2Endocrinologia
A endocrinologia remonta h sculos, desde quando se admitia a
existncia dos humores do homem. A dois nomes, porm, deve o
estabelecimento das suas bases cientficas: Claude Bernard, que precisou a
existncia das secrees internas, e Charles Edouard Brown Sequard (1817
1894), que lhe retomou os estudos em 1889, seguiramselhes DArsonval,
Sandstown,E.Gley,Bayliss,Starlingeoutros.
O indivduo possui certos rgos chamados glndulas, que excretam
seus produtos no ambiente externo ou no interno, isto , no sangue. As
glndulaslacrimais,assudorparassodesecreoexternaotimo,atireide,
etc.,desecreointerna.A endocrinologiaaplicasesltimas.
Os produtos dessas glndulas (os hormnios) exercem influncia
marcante sobre o comportamento do indivduo. A conduta, no seu sentido
amplo, noresultaapenas doscomandosnervosos, provenientes docrebroe
da medula, mas tambm dos qumicos, os hormnios lanados no sangue,
sendo mais atuantes os das glndulas tireide, suprarenais e sexuais. Da a
concluso gentica de Nicols Pende: a frmula endcrina geral governa o
determinismodapersonalidade.
O mau funcionamento endocrnico responde por profundos distrbios
de procedimento, inclusive pela inclinao criminalidade. Foi assim que
Pende, fazendo afluir para a biotipologia (cincia das constituies,
temperamentos e caracteres) os dados da endocrinologia, chegou a construir
umaclassificaodetiposcriminosos,segundooseubalanohormonal.
De certa maneira, a endocrinologia restaura o contato da criminologia
comavelhaantropologiacriminal,porquerevigoraanoodeinflunciados
fatores constitucionais na vida de relao do homem, com a ressalva,
formuladapeloprprioPende,citadoporAfrnioPeixoto(18761947),deque
as anomalias hormnicas, de per si, no devem considerarse suficientes,
necessrias, mas simples condies facultativas do crime, que se podem
substituirporoutras.
7.6.4.9.3Gentica
Muito recentemente, est despontando a possibilidade de uma nova
contribuiocriminologia,dadapelagentica,segundoaanlisedafrmula
cromossomtica.
Todos os seres vivos so formados de clulas, que so as unidades
elementares da construo orgnica. As clulas desenvolvem dois grandes
tiposdefuno: transformaes bioqumicas e reproduo,relacionadascom
as atividades do seu ncleo, o qual encerra um nmero caracterstico (fixo
para cada espcie vegetal ou animal) de estruturas fibrosas e alongadas,
chamadascromossomos. Oscromossomos representamo arquivodasplantas
mestrasdaclula. Cadaumconstadeumacadeia lineardegenes,quesoas
unidadeshereditriasfundamentais.
A reproduo celular realizase por um processo que lembra o da
reproduo fotogrfica: o cromossomo cindese em duas metades
complementares, cada uma funcionando como um modelo para a construo
daoutra,damesmaformaqueumaimagemnegativaproduzapositivaevice
versa.Quandotermina a diviso resultam clulas cujosncleos apresentamo
mesmonmerodecromossomosqueexistiamnoncleodeclulaoriginal.
Durante a diviso celular os cromossomos se acham condensados,
bastante contrados, ficando fcil de reconhecer, tanto nas clulas do homem
quanto nas da mulher, a existncia de 46 desses elementos. Dos 46
cromossomosexistentesnasclulasmasculinas,22formampareshomlogos.
Em outras palavras, 22 cromossomos possuem, cada qual, um parceiro igual
emtamanhoeforma, constituindo,portanto, 44 cromossomos.O parrestante
constitudo por dois cromossomos no homlogos: o maior determinado
cromossomo X e o menor, cromossomo Y. Nas clulas femininas todos os
cromossomos constituem pares homlogos, por que elas no possuem
cromossomosYesimdoiscromossomosX.
Diferentemente do que ocorre com as clulas de todos os tecidos do
nosso organismo, chamadas somticas, que possuem 46 cromossomos, tanto
os espermatozides quanto os vulos, isto , as clulas sexuais ou gametas,
possuem apenas a metade daquele nmero (23), alm de um cromossomo
sexual. Isto ocorre porque nas gnadas (testculos e ovrios), as clulas que
voproduzirosgametas,sofremumprocessoespecialdedivisocelularantes
de formarem as clulas sexuais. Este processo denominado meiose em
aluso ocorrncia de reduo do nmero cromossmico. Por possurem
apenas metade dos cromossomos da espcie, os gametas so ditos haplides
(hapls = simples), enquanto que as clulas somticas so denominadas
diplides(diplos=duplo).Chamandoonmerohaplideden,podesedizer,
tambm,queosgametastm neasclulassomticastem 2ncromossomos.
Tendoem vistaaconstituiocromossmica damulher,concluiseque
os vulos por ela produzidos so todos de um mesmo tipo quanto frmula
cromossmica,pois,emdecorrnciadameiose,todospossuem22autossomos
mais um cromossomo X. As mulheres constituem, portanto, o sexo
homogamtico,enquantooshomensconstituemosexoheterogamtico,jque
produzem dois tipos de espermatozides quanto aos cromossomos sexuais,
isto,22autossomosmaisXou22autossomosmaisY.
Apsafertilizaodovulopeloespermatozide(fecundao),forma
seoovoouzigoto,oqualter46cromossomos,23deorigempaternae23de
origem materna,restabelecendose,assim,onmerodiplide(2n)dasclulas
somticas. Osexo genticodoserque irsedesenvolverapartirdoovoser
masculino ou feminino, conforme o zigoto contenha 44 cromossomos
autossmicos mais XY ou 44 cromossomos autossmicos mais XX e
depender, apenas, do espermatozide, que normalmente ter, alm dos
autossomos,umcromossomoXouY.
O nmero de cromossomos, assim como o nmero e ordenao dos
genes, em cada cromossomo, geralmente constante, numa mesma espcie.
Podem, no entanto, ocorrer alteraes nessas constantes, sendo o fenmeno
conhecido como aberraes cromossmicas. A partir de 1959, quando
Lejeune e Turpin verificaram que os indivduos chamados mongolides
apresentavam 47 cromossomos, isto, apresentavam umcromossomo a mais
doqueosindivduosnormais,acumularamsenumerosasinformaessobreo
assunto. Recentemente, informa Manuel Ayres, Jacobs (1965), estudando
pacientes mentalmente retardados, com propenses perigosas, violentas ou
criminais, verificou que cerca de um tero tinha complemento sexual XYY.
Esses achadose osdeCasey (1966), numa amostrasemelhante, sugerem que
umoumais dessesatributos,numapopulaocomessascaractersticas,pode
estarassociadocomapresenadeumcromossomoYadicional.Osindivduos
XYYdistinguiamsepelasuaalturaemrelaoaoutrosmembrosdaamostra.
Aproximadamente 50% dos criminosos com 1,83m ou mais eram do tipo
XYY. Numa pesquisa semelhante Welch (1967) no encontrou, porm,
associaoevidenteentreaconstituioXYYeagressividade.
7.7DIREITOPROCESSUAL
O Direito Processual estuda o processo em sentido restrito, o processo
judicirio,atividadedergosdoEstado,noexercciodafunojurisdicional.
As idias de Direito Processual e de processo em sentido amplo,
expresso debaixo da qual situamos qualquer atividade desenvolvida pelos
rgosestataisvisandoformulaoeaplicaodenormas.
No caso da atividade judiciria, ela culmina com a elaborao de uma
normaindividual,asentena.Nodaatividadelegislativa,eladesembocanade
normasgerais,asleis.
Apreciada a sistemtica habitual do Direito Positivo, encontramos um
trplice nveldeatividadeprocessual:oconstitucional(formulao denormas
constitucionais), o legislativo (formulao de normas legais) e o judicirio
(formulaodenormasjudiciais).
Odesfechodoprocessojudicirioasentena,normaparticular,quese
dirige a pessoas determinadas e s para elas, participantes do pleito judicial,
possuieficcia.
Oprocessoemsentidorestritotemporfimaaplicaodenormasgerais
(direitosubstantivo)acasosconcretoseparticulares.Paraqueeleseinstaure
preciso,viaderegra,hajalitgiodeinteresses.
As normas do processo em sentido restrito tm dupla finalidade:
dispem sobre a estrutura dosrgos que exercem a atividade processual,ou
sobreaatividademesmadessesrgos.Asprimeirassoorgnicas,asoutras,
procedimentais.
7.7.1Dinmicaprocessual
Adinmica processual evoluiapartirdeum fato, que ainfrao real
ou aparente do Direito Positivo. Consumada a infrao, cabe a algum a
iniciativa de aplicar a sano adequada. A iniciativa se faz como apelo ao
Estado para que exeraafunojurisdicional. Podecompetira uma entidade
do prprio Estado, ou pessoa direta ou indiretamente alcanada pela
infrao.
A iniciativa de pedir do Estado a funo jurisdicional fazse pelo
exerccio do direito de ao, cujo curso obedece a normas de processo em
sentidorestrito.
Aps a iniciativa, a atividade processual atravessa trs fases:
conhecimento, julgamento e execuo. Da dizermos que existe um processo
deconhecimento,umdejulgamentoeumdeexecuo.
Na primeira fase, o juiz recebe as pretenses recprocas dos litigantes,
suasalegaescontraditriasecolheasprovasaquecadaumsearrima.
Segueseafasedejulgamento.Ofatodeveestarcomosseuscontornos
perfeitamententidos,odireitodevetersidoobjetodediscussoqueeliminou
asaparentescontradies.Clareadaamatriadefato,passaojuizaenquadr
la na norma que se lhe aplica. O enquadramento da situao concreta no
preceitoabstratododireitopositivoojulgamento.
Altimafasedoprocessoaexecuo.Asentenaconcluiporatribuir
direitosedeveres. Osdeveresimpostossoexigveis.Seapessoaobrigada
sua execuo no o faz espontaneamente, o rgo jurisdicional a compele a
fazer,usando,paraisso,derecursosdeconstrangimento.
7.7.2Princpiosdoprocesso
Oprocessoorganizaseedesenvolvesemedianteprincpiosquevariam
de acordo com a concepo que se faz da sua natureza e funo. As
concepes podem se reduzir basicamente a duas: uma privatista outra
publicista.
Para a primeira, a atividade processual consagrada proteo dos
interesses individuais. O processo, no seu conjunto, so regras de uma
competiodepretenses.Aposiodojuizpassiva,cabendolhedeixarque
oprocessoseimpulsioneedesenvolvapelaatuaodaspartes.
A concepo publicista v no processo uma atividade social, ligada a
uma funo estatal, a qual deve ser organizada, coordenada e impulsionada
paraadistribuiodajustia,sendoaposiodojuizessencialmenteativa.
Ambos os entendimentos sugerem diferentes princpios do processo: o
dispositivo e o inquisitivo, havendo, assim, processos dispositivos e
inquisitivos.
7.7.2.1Princpiodispositivo
Pelo princpio dispositivo, a iniciativa processual pertence ao paciente
dainfraodanorma,aprovaproduzidaexclusivamentepeloslitiganteseas
alegaesdedireitoaseremestimadas nasentena soapenasasqueaqueles
tiverem produzido. Este princpio refletese num postulado que foi quase
dogma do Direito Processual: o juizjulga segundo o alegadoe o provado. O
juiz como que rbitro de um duelo, assiste impassivelmente atuao dos
litigantes. Coordenaos consoante as disposies legais, porm, no tem
nenhuma interferncia, nem mesmo para o impulso processual, isto , para a
promoo de atos tendentes adesenvolveroprocessonosentidoconvergente
dasentena.
7.7.2.2Princpioinquisitivo
Oprincpio inquisitivo daojuizampla liberdade,apontodepermitir
lhe a prpria iniciativa processual. Conferelhe autoridade para determinar a
produo de provas, quando as partes tiverem sido negligentes e no
houverem produzido suficientes para gerar o seu convencimento, e liberdade
de pronunciarse segundo a verdade jurdica, arredando as alegaes dos
interessados, ultrapassandoas, completandoas, substituindoas, para decidir,
afinal,deacordocomaregradedireitoe,assim,distribuirjustiasemateno
ao que os demandantes hajam alegado. concepo inquisitiva do processo
corresponde um aforisma de Direito Processual moderno: o juiz julga de
acordocomoseulivreconvencimento.
Ambos esses princpios, no seu tom ortodoxo, parecem impraticveis.
No podemos aceitar um processo totalmente inquisitivo, porque o interesse
das partes sempre respeitvel. Nem podemos admitir um processo
exclusivamente dispositivo, que sacrifica os interesses superiores da justia.
Por isso, um processo dispositivo, quando nele prepondera o princpio
dispositivosobreoinquisitivo,einquisitivoquandoaconteceinversamente.
7.7.2.3Oralidade
Outro princpio do processo moderno o da oralidade, que se
contraporia,acaso apalavraexistisseemvernculo,aodaescrituralidade.No
processo escritotodososatosso reduzidosa peasescritas:depoimento das
testemunhas, laudos dos peritos, razes dos pleiteantes e sentena. A tantos
atos processuais acompanharo outros tantos documentos escritos em cujo
conjuntosecorporificaoprocesso.
Aesseprincpiocontrapese,pelainflunciadeumoutromais amplo,
odaceleridade,oprincpiodaoralidade,quepreconiza oabandonodaforma
escrita pela oral, na qual se ouvem as partes, inquiremse as testemunhas,
sopesamse as provas e prolatase a sentena, tudo num ato apenas oral,
restando, quando muito, para efeito de prova e execuo, simples notcia
lacnicadasocorrncias.
Aoralidadedeimplantaodifcil,atmesmoporquefaltaaosrgos
jurisdicionais uma infraestrutura de equipamentos permitindo a sua adoo.
Por outro lado, a oralidade enfrenta grave obstculo: a existncia de dupla
instncia processual. Em princpio, as decises dos rgos jurisdicionais
podem ser revistas, pelo menos uma vez, por instncia superior. A maneira
pelaqualsesubmeteadecisodeumrgojudicirioaoutroorecurso.Ora,
seoprocessoforexclusivamenteoral,ainstnciaadquem,isto,aquelapara
a qual se recorre, ter dificuldade de julgamento, dada a ausncia de seus
titularesaosatosdoprocesso.
Doprincpiodaoralidade decorremoutrosdois: odaconcentraoeo
daidentidadefsicadojuiz.
7.7.2.4Concentrao
O princpio da concentrao postula que todos os atos do processo
sejamrealizados comomenorintervalodetempopossvel.Idealseriaqueos
interessadoscomparecessemperanteojuiz,expusessemosfatoseasrazesa
queseapegam,produzissemassuasrespectivasprovas,eojuiz,julgadofatos,
alegaeseprovas,deprontodecidisse,porqueevidentequeasuamemria
slhepermitiriajulgarumfeitoprocessadooralmente,setodososatosfossem
recentesemrelaodatadasentena.
7.7.2.5Identidadedojuiz
Aoralidadetambmimpeaidentidadefsica dojuiz. Ojuizperanteo
qualasprovasforamproduzidasdeveseromesmoqueprolataasentena.Se
os atos judiciais no so convertidos em documentos escritos, o juiz, para
sentenciar,deveterpresenciadoasuaprtica.Seoprocessoseiniciacomum
juiz,deveprosseguircomeleatsersentenciado.Ojuizdainstruodeveser
o mesmo do julgamento, o que no muito comum, porque, dado o grande
volumedeserviodosrgosjudicirios,freqentehaverjuizesdeinstruo
que ouvem os litigantes e colhem as provas, e juizes do julgamento que
prolatamassentenas.
Essa duplicidade defendida por alguns processualistas, convictos de
que, sendo assim organizado o processo, o ato de julgamento mais
sobranceiro e tem garantia de mais tranqilidade e iseno do que teria se
coubesse ao prprio juiz de instruo, sensibilizado por elementos
extraprocessuaisdolitgio.
7.7.3Requisitosdoprocesso
O processo perfeito deve obedecer a quatro requisitos: o lgico, o
jurdico, o poltico e o econmico, formulados por Manfredini e, entre ns,
citadosporJooMonteiro(18051904)eAurelianodeGusmo.
7.7.3.1Lgico
A primeira qualidade do processo ser lgico, desenvolverse
semelhana de umraciocnio,cujodesfechodeve seraverdade.No processo
h sempre duas partes em litgio. A diz que B lhe deve certa importncia. B
retrucaquenodeve.Oprocessoseiniciaporumaperplexidade.Comparase
aoestadoem queestamos quando,entreduasdecisespossveis,ficamosem
dvidaeindagamosansmesmosoqueseriamaisacertadofazer,motivados,
simultaneamente, pelas nossas razes em conflito, at que uma domina a
outra, eento nos definimos. Igualmenteacontececom o juiz diante de fatos
conflitantes e razes contraditrias. O processo no pode se exaurir nessa
perplexidade,temqueatingirasentenaqueverdadelegal.
O requisito lgico impe seja a sentena tambm uma verdade lgica.
Para isso, necessrio esteja o juiz, ao termo da causa, em condies de
proferir uma sentena justa, o que conseguir se os atos processuais forem
habilmenteconcatenados.
7.7.3.2Jurdico
Orequisitojurdicoexigequeosatosprocessuaissejamcoordenadosde
modo que as partes tenham as mesmas oportunidades. Um processo mal
articulado pode criar circunstncia em que um dos demandantes leve
vantagem.
7.7.3.3Poltico
Oterceiroprincpiodoprocessoopoltico.
Aaoculminanasentena.Prolatada,abstraofeitadosrecursosque
sepossaminterpordela,inauguraseafasedeexecuo.Ojuizmandacitara
partevencidaparacumprirasentena.Nosendocumprida,recorrecoao.
Enquanto no h sentena, no existe direito lquido. Portanto, seria
injusto sujeitar qualquer das partes a constrangimento, antes de vencida no
pleito.
Aomesmotempo,cumpreevitaroprocessoincuo,ouseja,aqueleque,
por falta de constrangimento prvio, a futura sentena se torne ineficaz.
Devemserautorizadas,paraisso,medidasanteriores,quejimportemcoao.
Porexemplo,aprisopreventivaumacoeroantesdojulgamento.Aindase
ignora se o acusado ou no um delinqente, e, no entanto, j se manda
recolhloaopresdio.Masdenadavaleriaumprocessocriminalquedesseao
acusadochancedeevaso.O mesmoacontece noprocesso civil.Assim,duas
pessoaslitigamsobreumobjetodoqualambassedizemproprietrias,embora
umadelasotenhaemseupoder.Acautelandoapossibilidadedeaoutrasera
verdadeira proprietria, o juiz determina o sequestro, mandando depositlo
paragarantiraeficciadojulgado.
A eficcia do processo s vezes conflita, como se v, com a regra de
liberdade, pela qual ningum pode sofrer constrangimento judicial antes da
sentena.Oprincpiopolticopreconizaqueasmedidasdeexceo,anteriores
sentena, sejam mnimas, e adotadas em circunstncias excepcionalmente
justificadas.
7.7.3.4Econmico
Oprincpioeconmicodefendeagratuidadeou,pelomenos,areduo
docustodoprocesso.
Com efeito, estranho que o Estado, tendo o monoplio da coao e
negando ao indivduo a defesa de seus direitos, destes exija que o apelo
justiasejaretribudo.Talimposiofazqueoprocessosejaacessvelapenas
spessoasmelhoraquinhoadas.
O princpio econmico, embora no podendo ser adotado como
significativo de total gratuidade, porque envolve o risco da iniciativa
processual temerria ou caprichosa, justifica medidas que corrijam o carter
oneroso do processo. Tais so a iseno de despesas e patrocnio judicirio
grtisparaaspessoasreconhecidamenteprivadasderecursoseconmicos.
7.7.4Organizaojudiciria
Afunojurisdicional,comoqualqueroutra,nopodeserexercidasem
rgos. Os rgos jurisdicionais obedecem a certas normas de organizao e
funcionamento,asnormasorgnicasdoDireitoProcessual.
Examinaremos, apenas, os problemas pessoais ligados ao exerccio da
atividade jurisdicional: investidura nos cargos iniciais da magistratura,
promooeacessodejuizeseosrequisitosdacapacidadeeindependnciados
magistrados.
7.7.4.1Investidura
carreirada magistratura,comos outras,o ingresso dadomediante
umainvestidurainicial.
Comoamagistraturaumacorporaodeelite,surgem,emrelao ao
provimento dos seus cargos iniciais, problemas que no se suscitam em
relaoaosdemaisserviospblicos.
Cinco sistemas disputam a preferncia: o da eleio, o da livre
nomeao,odanomeaoporproposta,odanomeaoadreferendumeoda
nomeaoporconcurso.
7.7.4.1.1Eleio
Osistemadaeleioinvocasuaqualidadeexcelentementedemocrtica.
Se os poderes so trs, Executivo, Legislativo e Judicirio, e regra da
democraciaqueostitularesdopodersejaminvestidosporeleio,nohaver
razo para que assim no sejam escolhidos os do Judicirio. A eleio dos
magistradosexisteemalgunspases,tambmemcertosEstadosdaFederao
norteamericana. Nesse sistema criticase a sua extrema instabilidade e o
sacrifcio da independncia do magistrado, porque a transitoriedade da
essnciadoscargoseletivos.Omagistradoeleito,parapermaneceremfuno,
deve ser reeleito, o que importa exigirse dele a prestao peridica de um
tributosimposiesdenaturezapolticopartidria.
7.7.4.1.2Nomeao
No extremo oposto, temos o sistema da livre nomeao, pelo qual os
magistrados ingressam na carreira por nomeao do Poder Executivo. O
critriofirmasenopostuladodequeoatodenomeaoadministrativo,eo
Executivo o titular de todas as funes administrativas. A essa razo de
ordem terica, ela mesma suscetvel de objeo, contrapese ser a
magistratura titular de um poder, o Judicirio, e os poderes deverem ser
autnomos entre si. Tal regra de autonomia seria quebrada se o Executivo
tivessecompleta liberdadedenomeaodosmagistrados.Ecertoqueno
maissalutarpararecrutamentodejuizesidneos.
Hfrmulaseclticas:adenomeaoporpropostaeadenomeaoad
referendum.
7.7.4.1.3Nomeaoporproposta
Pelo primeiro sistema, compete ao Executivo nomear os magistrados
porpropostadosprprioscolegiadossuperioresdamagistratura.Aeleseope
ocomentriodequecriariaumaespciedemagistraturaemcastafechada.
7.7.4.1.4Nomeaoadreferendum
AosistemadenomeaopeloExecutivoadreferendumdoLegislativo,
criticasequesubordinaojuizaconvenincias polticasemdoisnveis:odas
conveninciasdoExecutivoedoLegislativo.
7.7.4.1.5Concurso
O critrio que parece alvo da preferncia geral, considerado
tecnicamente timo e democraticamente salutar, o da nomeao por
concurso,provapblicaqualtemacessotodosquantosnoestejamprivados
de idoneidademoral. Noconcurso,oscandidatos provam oseutirocniopela
exibiodettulos,easuahabilitao,pelaprestaodeprovasintelectuais.
7.7.4.2Promoo
Paraapromoodosjuizeshdoiscritrios:merecimentoeantigidade.
Aspromoespormerecimento,semdvidavlidas,comoemqualquer
outra carreira, e at mesmo em qualquer situao da vida, pretendem ser
prmio ao mrito pessoal. Alm disso, se as promoes se fazem
exclusivamente pelo mrito, isso estimula o magistrado a preservar sua
integridade moral e aperfeioar sua cultura, sem o que ficar estagnado nos
quadrosinferioresdacarreira.
Avaliado teoricamente o critrio, impossvel se lhe objetar qualquer
restrio. A prtica, porm, desmente a sua pretendida excelncia, pela
inexistnciadepadresobjetivosdeapreciaodomrito.
Ao critrio do mrito contrapese o da antigidade. H judiciaristas
queentendemdevamosmagistradosserpromovidosdecargosinferiorespara
superiores, at os culminantes da carreira, exclusivamente por antigidade, o
que lhes daria a certeza de, a seu tempo, serem promovidos, tornando
desnecessriaqualquersubalternidadeparaascensomaisrpida.
No Brasil, as leis adotam ambos os critrios, alternadamente. As
promoessefazem,umapormerecimento,outraporantigidade.
7.7.4.3 Garantias
Os magistrados exercem uma funo excelsa e so, mais do que
quaisqueroutrosservidorespblicos,pressionadosporumasriedecondies
adversasaoexerccioimpecveldoseumister.Porisso,asleisdeorganizao
judiciria, no sentido de preservar a sua independncia, atribuemlhes
garantias extraordinrias: a vitaliciedade, a inamovibilidade e a suficincia e
irredutibilidadedosvencimentos.
7.7.4.3.1Vitaliciedade
Pelavitaliciedade,omagistradorecebesuanomeaoparatodaa vida,
naturalmente dentro do limite que condiciona o exerccio ativo de qualquer
funo pblica a um mximode idade. Nopode serdemitidosenopor um
processo judicirio, no qual lhe assegurada ampla defesa. Nisso a
vitaliciedadedistinguesedaefetividade,poisoservidorefetivoestsujeitoa
demissopormeroprocessoadministrativo.
7.7.4.3.2Inamovibilidade
Desfrutamtambmosmagistradosdeinamovibilidade.Ojuiznomeado
para uma determinada circunscrio judiciria no ser removido para outra,
sem sua aquiescncia. Cabelhe at recusar promoo, que poderia ser forma
indiretaderetirarlheagarantia.
7.7.4.3.3Remunerao
Ambas essas garantias jurdicas seriam precrias, se no se lhes
acrescentasse outra, de natureza econmica: remunerao suficiente e
irredutvel.
A magistratura tem que ser suficientemente paga para lograr
independnciaeconmica, semaqualqualqueroutrafictcia. O magistrado
deve ganhar a quantia necessria para se manter e sua famlia, adquirir os
elementos do seu preparo intelectual e assegurar representao compatvel
comocargo.Eosseusvencimentosdevemserirredutveis,afimdequeasua
independncianofiquemercdospoderesLegislativoeExecutivo.
7.8DIREITODOTRABALHO
O Direito Privado ocidental disciplina as relaes contratuais sob a
gide do princpio da autonomia da vontade. As pessoastm,em princpio,a
liberdadedecontratarentresiquantolhesconvier.
Esse princpio mostrouse inadequado para reger relaes provenientes
do desenvolvimento de algumas atividades econmicas, que foram
progressivamente adquirindo seu prprio estatuto. Ao conjunto dessas regras
que se aplicam a certos tipos de relaes humanas polarizadas ao redor de
atividadeseconmicaschamamos,emsentidoamplo,DireitoSocial.
claroqueessadenominaopodeserobjetodereparo,porquenoh
direitoquenosejasocial.Noentanto,ausual,apesardasuaimpropriedade.
No deixa, porm, de ter clareza, porque os estatutos que formam o direito
social decorreram da necessidade de apaziguamento dos conflitos de classes,
sentidapeloEstadoliberal,simbolizadanalutaentreocapitaleotrabalho.A
questo social foi o fator determinante do advento do Direito Social. Da a
adjetivaocomumaambos.
ODireitoSocialtendeaseespecializar.Nomomento,compreendepelo
menosquatro ramos: o Direito do Trabalho,o previdencirio, o de minas eo
rural ou agrrio, reduzidos por alguns autores a trs, fundindo os dois
primeirosnums.
ODireitodoTrabalhotutelaasrelaesentreempregadoeempregador,
caracterizadas pela sua natureza hierrquica e permanente. O Empregador
exerce sobre o empregado uma supremacia porque tem o comando da
empresa. Por outro lado, as relaes entre ambos so permanentes, no se
confundem, por exemplo, com as que existem entre um cliente e um
profissionalliberal.
OobjetodoDireitodoTrabalhooregimedotrabalhoassalariado.
Ao Direito do Trabalho somase o da previdncia, que dispe sobre a
seguridade social. O previdencirio mira, principalmente, proteger o
empregadocontraosriscosdofuturo,atravsdemedidasligadasaocorrncia
fortuitas: a idade, que traz a incapacidade para o trabalho e lhe faculta a
aposentadoria a doena, que lhe gera a mesma incapacidade, provisria ou
definitiva, e faculta um auxlio provisrio ou a aposentadoria definitiva a
penso s pessoas que dependem economicamente do empregado o seguro
contraacidentes, etc. Integra tambmaprevidncia social,especialmente nos
pases em que o poder aquisitivo do trabalhador nfimo, a assistncia
sade.
O Direito de Minas o estatuto dos mineiros. A explorao de minas,
atividadequeserealizaporumatcnicasuigeneris.Poroutrolado,aprpria
natureza do trabalho realizado para alcanar tal resultado gerou, tambm, a
autonomia desseramodo DireitoSocial,cujos princpios, deummodogeral,
seaplicamadministraodosrecursosdeproduomineraledistribuio,
ao comrcio e ao consumo dos produtos minerais. Distinguida a propriedade
do solo da do subsolo, a explorao das riquezas deste fugiu ao mbito do
Direito Civil para situarse nesse novo ramo, que regula os direitos sobre as
massas individualizadas de substncias minerais ou fsseis, encontradas na
superfcie ou no interior da terra, o regime do seu aproveitamento e a
fiscalizao governamental da pesquisa, da lavra e de outros aspectos da
indstriamineral.Apesquisaconsistenaexecuodostrabalhosconsiderados
necessrios definio da jazida, sua avaliao e determinao da
exeqibilidade do seu aproveitamento econmico, compreendendo trabalhos
de campo (exemplo: levantamentos geolgicos) e de laboratrio (exemplo:
anlise de amostras). A lavra o conjunto de operaes executadas para o
aproveitamentoindustrialdajazida,desdeaextraodassubstnciasminerais
at o seu beneficiamento. Jazida toda massa individualizada de substncia
mineraloufssil,aflorando superfcie ou existente no interiorda terra, que
tenhavaloreconmico.Minaajazidaemlavra.
Submetemsesnormasdodireitodeminasagarimpagem,afaiscao
e a cata. Garimpagem o trabalho individual de quem utiliza instrumentos
rudimentares,aparelhosmanuaisoumquinassimpleseportteis,naextrao
de pedras preciosas, semipreciosas e minerais metlicos ou nometlicos,
valiosos, em depsitos de eluvio, nos lveos dos cursos de gua ou nas
margens reservadas, bem como nos depsitos secundrios ou chapadas,
vertentes e altos morros. Faiscao o trabalho individual de quem utiliza
instrumentos rudimentares, aparelhos manuais ou mquinas simples e
portteis na extrao de metais nobres nativos em depsitos de eluvio ou
aluvio, fluviais ou marinhos. Cata o trabalho individual de quem faz, por
processos equiparveis aos da garimpagem e faiscao, na parte decomposta
dosafloramentosdosfileseveeiros,aextraodesubstnciasmineraisteis,
semoempregodeexplosivoseasapuraporprocessosrudimentares.
A classe rural, na sua quase totalidade, mora no prprio local de
trabalho. Ocorre com o trabalhador rural algo diferente do que sucede ao da
indstria urbana, que reside, freqentemente, muito distante das suas
atividades. No ambiente rural, trabalho e vida se entrosam numa unidade
existencial, que, por esta condio peculiar, reclama um estatuto jurdico
independente, dispondo sobre o trabalhador do campo, protegendo seus
interessesetutelandoasuaatividade.Aoconjuntodesuasdisposiesdsea
denominaodeDireitoAgrrio.
Camilo Nogueirada Gamadcomoseu objetoasatividades agrcolas,
sob os mltiplos aspectos em que elas se desdobram, num conjunto de atos,
fatos e relaes em que aparecem a terra, o homem, o trabalho e o capital.
Referese, ainda, s definies de Giovanni Carrara, Raul Mugaburu,
Garbarini Islas e Eurico Bassannelli. Para o primeiro constituem o Direito
Agrrio normas que regulam a atividade agrcola em suas pessoas, nos bens
que a ela se destinam e nas relaes jurdicas constitudas para exerclas.
Para Mugaburu, ele o conjunto de preceitos jurdicos que recaem sobre as
relaes emergentes de toda a explorao agropecuria, estabelecidos com o
fim principal de garantir os interesses dos indivduos ou da coletividade,
derivados daquela explorao. Segundo Islas, o Direito Agrrio o conjunto
denormasjurdicasaplicadasespecialmentespessoaseaosbensdocampoe
s obrigaes que tenham por sujeito aquelas ou por objeto a estes.
Finalmente, para Bassannelli, ele o complexo e normas jurdicas que
regulamasrelaesatinentesagricultura.
Ainda na lio de Camilo Nogueira da Gama, tem o Direito Agrrio
marcantecarterpoltico,dadoqueaagriculturaexigeacontnuainterveno
doEstadoemsuasmltiplasatividades,paraevitarqueestas,deixadasaoseu
livre curso, ocasionem a confuso, o desajuste, a injustia, o desperdcio de
energias, a explorao capitalista, a runa das classes menos favorecidas, o
pauperismo e outros males. Suas preocupaes principais so: propriedade
territorial ou fundiria, arrendamentos, regime de explorao em parceria,
meao,cercas,tapumes,servides,caa,pesca,marcasesinais,padronizao
e classificao de produtos agropecurios, arbitragem, avaliaes, controle
leiteiro,registrogenealgicoesistemaflorestal.
Quando,emseguimento,nosreferimosaoDireitodoTrabalho,neleno
estaremosincluindooprevidencirio,odeminas,nemorural.
7.8.1Evoluo
Na orientao de Aftalin, Olano e Vilanova, a boa compreenso do
Direito do Trabalho depende do retrospecto da sua formao histrica. A
condio jurdica, econmica e social do trabalho, no curso dos sculos, nos
fazcompreenderasmotivaesdesteramonovodoDireito.
7.8.1.1Antigidade
O trabalho era, na Antigidade, escravo. O escravo equiparavase s
coisas,noerapessoa,simobjetodedireito.Essasituaopareceutonormal
nomundoantigo,quefoireconhecidaatporhomensquetiveramamaisalta
eminncianopensamentodotempo.
Aescravidoumestadoaviltantee,demodogeral,banidodomundo.
Mas, se compararmos a condio do escravo do trabalhador industrial do
sculo XIX, talvez que, do foco exclusivamente biolgico, a daquele fosse
melhor. O donodo escravo zelavapor ele, quepossua um valor econmico,
comoohomemruralzelapelosseusanimaisepelosseusinstrumentos.
7.8.1.2IdadeMdia
DuranteaIdadeMdia,sendoavidaeconmicafundadanapropriedade
dosolo,aorganizaosocialeranitidamentehierrquica,estandonasuabase
oservo,que,comoacessriodaterra,pertenciaglebaondehavianascido.
H,tambm,carteraviltantenacondiodoservo,emboraasrelaes
humanas da poca fosse dispostas segundo a idia de vassalagem, e o servo,
salienta Jnatas Serrano, fosse j uma pessoa, no coisa. A vassalagem
importava uma relao de reciprocidade. O vassalo prestava servios ao
senhor, mas deste recebia proteo. Havia uma estrutura mais moralizada
nessasituaodoquenadosculoXIX,quandootrabalhadortinhacondio
jurdicalivre.
Ao fim da Idade Mdia surgiram as primeiras cidades e s no clima
urbano h ambiente para transformaes sociais dinmicas. Aparecem as
indstrias, na sua forma embrionria, o artesanato. O arteso, sendo ele
mesmo artfice, fornecedor da matriaprima e proprietrio do equipamento
necessrio produo, era um homem economicamente completo, ao
contrriodotrabalhadormoderno,quesdispedeumelementoprodutivo:a
suaforamuscular.DizAmorosoLimaqueneleaindanosetinhamseparado
ocapital do trabalho. E Rousseau afirmava que de todasascondies a mais
independenteadoarteso,tolivrequantoescravoolavrador.
Organizaramse,comgrandeprestgio,ascorporaesdearteseofcios,
que visavam da por que foram vivamente combatidas pelo liberalismo a
proteger os artesos, impedindo a concorrncia, e zelar pela qualidade do
artigo produzido, para garantir a sua receptividade nos mercados. Eram
entidadesfechadas,cujosmembros sedispunhamnumahierarquiaqueiados
aprendizes, pelos companheiros, aos mestres. Aprendiz era quem se iniciava
como artfice, companheiro, o arteso mais qualificado e, no topo da
corporao,dirigindoa,estavamosmestres,artesesaltamentequalificados.
7.8.1.3IdadeModerna
O trnsito da Idade Mdia para a Moderna traz o desmantelamento
dessa estrutura do trabalho urbano. A Revoluo Francesa, motivada por
fatores de ordem econmica, ligados descoberta de novos continentes e s
grandes invenes que abriram horizontes amplos de riqueza desfraldou a
bandeira da total liberdade. Essaliberdadeiria, levada ao paroxismo,criar os
maisgravesproblemassociais.
As corporaes de h muito eram acusadas de violar o princpio da
liberdadedetrabalho.
Por isso, em Frana, sofreram violento combate, desde antes da
Revoluo Francesa, oposio que se iniciou em 1776, com a lei de Anne
Robert Jacques Turgot (17211781), e que se encerrou em 1791, quando
foramcompletamenteextintas,pelaleiLeChapelier.
Oaparecimentodamquinaeo seuaproveitamentonaproduo, alm
dehaverdestrudotodaumaestruturaseculardavidahumana,segundoafirma
NicolaiBerdiaev(18741948),transformouradicalmenteaeconomia.
A mquina funcionou como sucednea da fora muscular. O seu
emprego desencadeou a Revoluo Industrial, prematura na Inglaterra, no
sculoXVIII,maistardianaEuropacontinentalena AmricadoNorte,onde
ocorreunosculoXIX.
7.8.1.4RevoluoIndustrial
ConformeinformaodePhillysDeane,ArnoldJosephToynbee(1889
1975) apontou como seu marco inicial o ano de 1760. J. U. Nef foi buscar
suas origens na passagem do sculo XVI para o XVII. W. Hoffman entende
que a data significativa foi o ano de 1780, quando houve um acentuado
incremento na taxa percentual do crescimento industrial, at ento estagnada
pormaisdeumsculo.OprprioDeaneesclarecequeaconvenocorrente
datla de a partir da dcada de 1780, quando as estatsticas do comrcio
exterior britnico assinalam uma tendncia ascendente expressiva. E
acrescenta que, segundo essa conveno, W. W. Rostow sugeriu um limite
histrico ainda mais preciso e desenvolveu a teoria de que o perodo
compreendido entre 1783 e 1802 se constituiu na grande linha divisria de
guasnavidadasociedademoderna.
Como quer que seja, a Revoluo Industrial produziu total reforma na
estrutura do trabalho. A mais sensvel delas foi o trabalho ficar desintegrado
da figura do trabalhador, sendo pela primeira vez na histria, equiparado s
mercadorias. A conscincia desse estado influiu incisivamente, acentua
Ferdinand Tonnies (18551936), no ulterior aparecimento das organizaes
sindicais.
A incorporao da mquina produo apressou o aparecimento de
uma sociedade urbana, desencadeou o xodo rural, criou grandes parques
fabris, grandes bairros e at grandes cidades operrias. A oferta de trabalho
passou a sersuperior demanda. Subordinado o trabalho leidaofertaeda
procura,nummercadodeofertaexcessivaedemandaescassa,oseupreofoi
se aviltando, at que mal satisfazia s necessidades rudimentares do
trabalhador.
Nisso consistiu a proletarizao do trabalhador. A expresso tem
conexo com a decantada lei de bronze do salrio, a coisa mais tpica da
economia clssica e liberal. O salrio, como mercadoria, est sujeito lei da
oferta e da procura. Ora, o preo de qualquer mercadoria, lanada num
mercadocompetitivo,tendeaaproximarsedoseucustodeproduo.Ocusto
de produo do trabalhador, sendo o suficiente para que ele se mantenha e
prolifere,seriaeste:salrioquelhedalimentaoparasobrevivereprocriar.
Ascondiesdotrabalhadorforamdegradadascomoemnenhumaoutra
poca, sem que a sociedade burguesa, afirmam K. T. Heigel e Fritz Endres,
tivesse olhospara contemplaressadegradao.Na Inglaterra,a lei estipulava
o horrio mximo de trabalho de menores em 12 horas. Exploravase o
trabalho do homem, da mulher e da criana. Na frase de Max Stirner (1806
1856), citado por Mariano Antnio Barrenechea, o trabalho era a presa de
guerra dos ricos. A classe trabalhadora enfrentava o problema, no da
melhoriadecondies,masdasobrevivncia.
Acontece, porm, quando interesses humanos so violentamente
comprometidos,sobrevemreao. Nabasedestareaoforamconstrudosos
antecedentesdoDireitodoTrabalhoatual.
Nasceudomovimentosindicalistainternacional.
A fragilidade do trabalhador decorria de ele ser um homem isolado, e
como tal nada podia contra uma estrutura. A partir de quando se formou a
conscincia de que, pela associao, poderia competir, poderia lutar pela
reivindicao de vantagens, definiuse um momento novo na histria do
trabalho. Alvoreceu o sindicalismo, movimento obreiro internacional. Os
sindicatos, nos quais se pretendeu ver a ressurreio das corporaes, foram
no comeo energicamente combatidos, mais tarde tolerados, e finalmente
aceitos,comoentidadesrepresentativasdeclasses.
Formados os sindicatos, desencadeouse a luta entre o capital e o
trabalho.Ostrabalhadores,fortalecidosnassuasassociaes,dispondo,nasua
unidade, de umelementopoderoso de combate, entraram emconflitocom os
empregadores. No cabe recordar a histria desse conflito, as suas fases
agudas,osseusdramas.Aelenosreferimoscomoquestosocial,guerraentre
ocapitaleotrabalho.
Essa luta abalou os fundamentos do Estado liberal, Estado gendarme,
nointervencionista.Chegouaumpontoemque,seoEstadoperseverassena
suaindiferena,deixandoquepatreseempregadossedigladiassemnaarena
social,ruiriamsuasprpriasestruturas.Sentiueleanecessidadedeintervir,de
abandonarpartedoseuliberalismo,deditarnormasprotecionistasaotrabalho,
limitandoaexploraoempresarial.
ODireitodoTrabalhoprodutodessaintervenodoEstadonadisputa
de classes,quandoelachegou exacerbao ese transformou em verdadeira
guerracivil.
7.8.2Caracteres
Emdecorrnciamesmodascircunstnciashistricasquecercaramasua
formao, o Direito do Trabalho apresenta traos caractersticos, cuja
identificaoimprescindvelparaoseuentendimento.
Dentreessestraosdevemserdestacados:
a) protegeosinteressesdaclassetrabalhadora
b) entendeotrabalhocomoumvalor,recusandoseaconsiderlosimples
mercadoria
c) padroniza o contrato de trabalho, de modo que suas clusulas sejam
legais, e, em conseqncia, inoperantes os ajustes que se desviem do
modelolegal.
7.8.3Valores
Emconsonnciacomtaisprincpios,MascaroNascimentocitaoelenco
dosvalorestrabalhistas:
a) liberdade de trabalho, sobrepujando instituies e tradies contrrias:
escravido,colonato,servido,corporao,etc.
b) valorizao do trabalho que, de aviltante e indigno, passou a motor da
vida social e cultural, a vrtice da economia moderna, nas palavras de
MiguelReale
c) deverdetrabalhar,nusdetodoindivduoparaacomunidade
d) direitoaotrabalho
e) garantiastrabalhistas:sindicalizao,escolhadeprofisso,greves,etc.
f) igualdadenotrabalhoindistinodesexo,nacionalidade,cor,etc.
g) justiasalarial
h) segurana no trabalho, pela proteo inatividade, integridadefsica,
sade,higiene,etc.
7.8.4Instituies
As principais instituies do Direito do Trabalho, em parte segundo a
legislaobrasileira,soindicadasaseguir.
7.8.4.1Duraodotrabalho
Alegislaotrabalhistaprevadurao normaldajornada detrabalho,
a qual somente pode ser acrescida de horas suplementares, dentro de certos
limites,oupelaocorrnciadenecessidadeimperiosa.
Essa jornada ordinria reduzida para certas categorias profissionais,
como, por exemplo: ascensoristas, bancrios, empregados em servios de
telefonia, telegrafia submarina e subfluvial, radiotelegrafia e radiotelefonia,
operadores cinematogrficos, empregados em cmaras frigorficas,
empregadosemminasnosubsolo,jornalistasprofissionais, etc.
7.8.4.3Salriomnimo
Aos empregados assegurada, qualquer que seja a modalidade de
prestao do trabalho, uma remunerao nunca inferior mnima fixada em
lei, por dia normal de servio, capaz de lhes satisfazer as necessidades de
alimentao,habitao,vesturio,higieneetransporte.
7.8.4.3Frias
Aotermodecadaperodoanualdeatividade,temoempregadodireitoa
repouso, mais ou menos longo, sem prejuzo da respectiva remunerao.
Tratase de medida higinica, que visa a restaurlo da estafa resultante do
prprio trabalho. Desse perodo no se descontam as faltas ao servio, e o
pagamento da remunerao que lhe corresponde deve ser feito at a vspera
doseuincio.
7.8.4.4Indenizao
Se o empregado dispensado sem justa causa (improbidade, m
conduta, condenao criminal, desdia, embriagues, indisciplina, etc.), cabe
lhe receber do empregador uma importncia em dinheiro, como indenizao
dadispensainjusta,proporcionalaoseutempodeservio.
7.8.4.5Avisoprvio
Pode o empregador, a seu arbtrio, dispensar o empregado, mas seu
deverdaraesteprvioavisodasuadeliberao.Senoofaz,sujeitasealhe
pagar remunerao que corresponde quela que o empregado receberia
duranteoprazodeduraodoavisoprvio.Acomunicaotambmdevida
peloempregadoaoempregador.
7.8.4.6Estabilidade
Algumas legislaestrabalhistas do ao empregado estabilidade depois
de umperodo relativamente longo (no Brasil, 10 anos) de servio efetivona
empresa. Adquirida a estabilidade, ele s ser dispensado se cometer falta
grave reiterada ou que constitua sria violao das suas obrigaes. Ainda
nesta hiptese, pode o empregador apenas suspendlo enquanto promove a
instauraodocompetenteinquritojudicirio,aotermodoqual,comprovada
afalta,consumaseadispensa.
No Brasil, a partir de 1966, cabe ao empregado optar entre a
estabilidadeeasuaparticipaono FundodeGarantiadeTempo de Servio.
Paraaconstituiodeste,asempresassoobrigadasadepositar,mensalmente,
em conta bancria vinculada, importncia correspondente a 8% da
remunerao paga a cada empregado. A conta bancria beneficiada pela
correomonetriaecapitalizaodejuros. Asuautilizaopeloempregado
podeserfeitaaofinaldocontratodetrabalho,segundocritriosdiversos,sea
dispensa resulta de causa justa, de ato unilateral da empresa ou de cessao
dasatividadesdesta,ouainda,duranteavignciadocontratodetrabalho,aps
certotempodeservio,paraaaquisiodemoradia. Emcaso defalecimento
do empregado, a sua conta transferese aos seus dependentes, assim
habilitados perante a Previdncia Social, e entre eles rateada, segundo o
critrioadotadoparaconcessodepenses.
7.8.4.7Convenescoletivas
Asconvenescoletivasdetrabalhoconstituem,foradedvida,ofator
mais importante na dinmica atual do Direito trabalhista. Por um lado,
assegurandoigualdadedecompetioaos interessesdepatreseassalariados,
permitemqueestesobtenhamdaquelescondiesdetrabalhomaisfavorveis
doqueasestritamenteestipuladasemlei.Poroutro,permitemtambmqueas
condies sejam, pela sua flexibilidade e casustica, mais especificamente
adequadasacertasmodalidadesdetrabalho.
As convenes coletivas so acordos de carter normativo, celebrados
entre sindicatos de categorias econmicas (empregadores e profissionais
(empregados), dispondo sobre condies de trabalho aplicveis apenas no
mbitodasrespectivasrepresentaes.
7.8.5Justiadotrabalho
A legislao do trabalho tem ntido sentido protecionista. Assegurando
ao trabalhador determinadas vantagens legais, ela almeja, com isso,
compensarlhe as deficincias econmicas. Alm do mais, os dissdios entre
empregadores e empregados reclamam soluo rpida, j porque no tm
situao financeira compatvel com a longa expectativa de um processo
moroso,jporque,svezes,asuarepercussosocialimpeprontodesfecho.
No podiam, assim, as normas de Direito do Trabalho ter a sua
aplicaoentreguejustiacomum,queseexercesubordinadaaoprincpiode
igualdade dos litigantes e se desenvolve dentro de um formalismo lento e
complexo. Em conseqncia, em quase todos os pases, existe uma justia
especialpara conhecer e julgaros dissdios trabalhistas, sejam individuaisou
coletivos.
NoBrasil,oDireitodoTrabalhopraticamentepassouaexistirdepoisde
1930,datadomovimentorevolucionrioquepsfimchamadaIRepblica.
7.9DIREITOINTERNACIONALPBLICO
Tradicionalmente, definese o Direito Internacional Pblico como o
ramodo Direitoquetemporobjetoadisciplinajurdicadasrelaesentreos
Estados. Os Estados, como sabemos, tm dupla face, uma interna, outra
externa.Noplanoexternoconvivementresi.AoDireitoInternacionalPblico
pertenceoregimejurdicodessaconvivncia.
De certo tempo a esta parte, porm, aquela clssica definio, como
pondera Hildebrando Accioly (1888), tornouse obsoleta, em vista de as
relaes internacionais no serem entretidas apenas pelos Estados. Outras
entidades tambm dispem de personalidade internacional, o que basta para
plassobatuteladodireitointernacionalpblico.
Poroutrolado,comacrescentedignificaodo indivduo, ganhoueste
representao internacional, tendo merecido a condio de destinatrio de
direito outorgados por atos internacionais, dentre os quais merece referncia,
paraexemplo,aDeclaraodosDireitosdoHomem.Aindaqueaexecuodo
que nela se preceitua tenha ficado a depender dos prprios Estados que
formam a comunidade internacional, indiscutvel uma acentuada tendncia
para buscar proteo internacional aos direitos outorgados. Neste sentido se
pronunciaramasnaesamericanasnaConfernciaInteramericanade1945.
Tambm a proteo que a comunidade internacional procura dispensar
s chamadas minorias nacionais objetiva, basicamente, os direitos dos
indivduos que as compem. Matria tratada, pela primeira vez, na
Conferncia de Paz que debatia o pacto da Sociedade das Naes, aps a I
Guerra Mundial, frutificou uma srie de tratados versando a situao de
minorias existentes na Europa, em relao a certos Estados do continente,
ganhando,deentoemdiante,progressivaimportnciaesentidouniversalista.
Contemporaneamente, j no pode haver dvida quanto a ser o
indivduo sujeito de direitos internacionais. Basta lembrar a existncia da
Conveno para a Proteo dos Direitos Humanos e as Liberdades
Fundamentais,firmadaemRoma,em1950,por15 membrosdoConselhoda
Europa. Este Conselho, na acertada observao de Gerson de Brito Mello
Boson, oferece omelhorexemplo atual, ainda quenum quadro relativamente
restrito,emmatriadeproteoaosdireitosindividuaisdohomem.
Noseuart.25.1legitimouqualquerpessoa,grupoouorganizao,como
partespararepresentarem,pedindoacessoCorte,emcasodeofensaadireito
fundamentalporEstadosignatrio.
DoiscasosaCorteaprecioucomrepercusso.Oprimeiro,analisadopor
juristas em monografias, foi o da queixa contra a Irlanda, oferecida
Comisso por G. R. Lawless, cidado que se dizia arbitrariamente preso por
incurso em lei de segurana do Estado, e que pedida indenizao. Aps o
termo conciliatrio entre as partes, a Corte passou a decidir, julgando as
questes preliminares de competncia e, no mrito, resolveu absolver a
Repblica da Irlanda, ante a prova do estado de comoo intestina, que
autorizaolevantamentoporprazoconhecidodecertosdireitos,talcomoprev
a prpria Conveno sobre Direitos Humanos e a generalidade das
Constituies,nadefesadaordemedasinstituies.
OjulgamentodocasoLawless,pelaprimeiraveznahistria,convocou
um Estado soberano perante instituio jurisdicional livremente
convencionada, para submetlo deciso judicial reclamada por pessoa
privada,investidadepersonalidadededireitointernacional.
Tais circunstncias mostram ser insatisfatria a clssica definio de
DireitoInternacionalPblicoaquede incioaludimos. Naverdade,eletutela
as relaes dos sujeitos de direitos subjetivos internacionais. Ora, se tais
sujeitos so, alm dos Estados, outras entidades e os prprios indivduos,
ento ser certo conceitulo como o ramo do Direito que dispe sobre as
relaesdetodosessesentes,noplanointernacional.
7.9.1 Diviso
O Direito Internacional Pblico, como qualquer disciplina jurdica
particular, dividese em dois ramos: um terico, outro prtico. O primeiro
formulaodoutrinria,obrados juristas,dospolticos,dosfilsofos.oque
se entende deva ser o Direito Internacional Pblico na sua normatividade
ideal. O segundo o que resulta dos acordos existentes entre os Estados ou
conjunto de princpios que, embora no elaborados em texto, so aceitos por
eles,principalmentepelaforadastradiesedosprecedentes.
O Direito Internacional Pblico prtico ou positivo subdividese em
convencional ou escrito e consuetudinrio ou no escrito. O convencional
integra o texto de tratados ou convenes firmados pelos Estados, a cuja
obedinciaestesseobrigam.Oconsuetudinrio,comoseutimoodiz,deriva
dosusosecostumesinternacionaisqueaprticaconsagraaocorrerdotempo.
7.9.2Fontes
AsfontesdoDireitoInternacionalPblicosoconvencionaisecostumeiras,o
que corresponde, em escrito paralelismo, sua diviso em escrito
(convencional)enoescrito(consuetudinrio).
Asfontesconvencionais soostratados econvenesinternacionais, e,
tambm, como elementos formadores de ambos, as conferncias
internacionais.Tratadoseconvenesversamexpressamentesobreasrelaes
entreEstados.Asconferncias,conquantonemsempreconsagremdisposies
conclusivas, representam elemento germinador do Direito Internacional
Pblico positivo. Elimina, progressivamente, as arestas e as contradies
existentes entre os Estados, o que representa marcha significativa no sentido
deplosacordesemrelaoacertosprincpios.
OcostumefontedeDireitoInternacionalcomoodedireitointerno.
7.9.3Fundamento
O Direito Internacional Pblico, em funo de suas peculiaridades,
justifica a indagao filosfica sobre o seu fundamento. Quanto aos diversos
ramosdodireitopblicointerno,seriaociosoformularproblemassemelhante.
So autnticos direitos, porque constitudos por um conjunto de regras que
emanam de autoridade competente e, aplicadas por um rgo tambm
competente, tm a garantia da sano jurdica na sua feio tpica de sano
coercitiva.
AssimnoocorrecomoDireitoInternacionalPblico.Indagarseiaem
vo sobre qual o seu legislador, sobre quais os tribunais e que autoridades
aplicamassuassanes.Realmente,osEstadosnosesubordinamaqualquer
legislador internacional, seno e quase sempre apenas na medida das suas
convenincias, pelos tratados que aceitam ou impem no exerccio da sua
ilimitadasoberania.Seinfringemumaregra,anenhumtribunalsochamados.
Acaso julgados por um tribunal, nenhuma entidade lhes impe as sanes
cominadas.
Ora, Direito sem legislador, sem tribunais, sem autoridades
sancionadoras, ser direito? exatamente esta pergunta que origina o
problemasobreofundamentodoDireitoInternacionalPblico.
evidentequehquemnegueasuaexistnciacomodireito.Arespeito
significativaafrasenonossopreclaro TobiasBarreto (18391889),a quem
Guilherme Francovich qualifica de orgulhoso e agressivo, num episdio
relatadoporOmerMontAlegre,segundootestemunhodeGumersindoBessa,
afirmando,certavez,queodireitointernacionalnadamaiseradoqueaboca
dos canhes. H, mesmo, quem chegue a considerlo prejudicial ao bom
encaminhamento das relaes internacionais, como sugerem, na Amrica do
Norte, as posies de George Kennan e Hans Morgenthau. Mas outros
entendemqueaquelaspeculiaridadesnegativasantesapontadasnoinvalidam
a sua ndole cientfica, cujas caractersticas, pelo plano prprio em que
incidem as suas normas, no podem ser as mesmas das demais disciplinas
jurdicas,atuantesnocontextointernodosEstados.
7.9.3.1Grcio
Citaremos, em resumo, as teorias mais conhecidas, a comear pela de
Hugo Grcio (15831645), seu verdadeiro fundador, com a publicao do
livrointitulado DoDireitodaGuerraedaPaz,em1613,comoquallanou,
tambm,asbasesdadoutrinadoDireitoNatural.
Segundo Grcio, haveria um direito em si, fruto da prpria
sociabilidadedohomem,cujaexistncianopoderiaserconcebidaemfuno
de nenhuma vontade: nem a divina, nem a humana. Este seria o chamado
Direito Natural. Haveria, paralelamente, um direito voluntrio, divino ou
humano,conformeadviessedavontadedeDeusoudavontadedoshomens.O
voluntriohumanodividirseiaemDireitoCivil:menosextensoqueocivile
mais extenso que o civil. Ao direito voluntrio humano mais extenso que o
civil corresponderia o Direito Internacional Pblico, por ele chamado direito
dasgentes,cujaexistnciarepousarianoconsentimentoexpressooutcitodos
povos.
Seus princpios e suas convenes teriam por fundamento a prpria
sociabilidade.Daainviolabilidadenaturaldospactosinternacionais.
7.9.3.2Pufendorf
AorientaodeSamuelvonPufendorf(16321694)situasenalinhade
Grcio, num sentido mais radical e numa concepo mais autenticamente
filosfica. Para ele, a base nica do Direito Internacional Pblico o Direito
Natural. Estados so como pessoas, e se h uma lei natural que se aplica
conduta destas, haver tambm uma lei natural que disciplina a convivncia
daqueles. Esta lei natural de convivncia dos Estados o prprio cerne do
DireitoInternacionalPblico,quenelaseexaure,porserimpossvelconceber
se umdireito internacionalpositivo,uma vezque,soberanos, os Estados no
podemaceitarautoridadesuperiorsua.
7.9.3.3Escolapositiva
DepoisdePufendorf,eadotandoposiofrontalmentecontrriadele,
apareceu a escola positiva, na qual se destacaram Cornelius Bynkershoek
(16731742), George von Martens (17561821) e Justus Mser (17201794).
Estaescolareagiu contraa jusnaturalsticaanterior,sustentando que somente
seriam objeto de estudo do Direito Internacional Pblico as regras positivas
vigentes na comunidade das naes. Estas, a seu turno, formarseiam
empiricamente,ao sabor dasexperincias da vida internacional. Sua validade
e seu prestgio deveriam ser estimados pela medida dos precedentes
acumulados.
7.9.3.4Bentham
JeremyBentham(17481832),omaisrenomadotericodoutilitarismo,
conduziusuatesefilosficaaoexamedasrelaesinternacionais.Paraele,a
simples convenincia recproca ou comum dos Estados que responde pela
formao do Direito Internacional Pblico. Convm aos Estados que as suas
relaesobedeamaumacertanormatividade.Eaosinternacionalistascabe,a
servio epelapressodessaconvenincia,pesquisar asregras que atendam
utilidadegeraldacomunidadeinternacional.
Asescolasataquicitadaspodemsertodasreferidascomoantigas. As
novas possuem uma estrutura doutrinria mais perfeita e firmamse em
fundamentos tericos mais vlidos. So elas a de Jellinek e Ptter
(autolimitao),deWenzeleErichKaufmann(primadododireitonacional)e
deKelsen(normativa).
7.9.3.5Autolimitao
Jellinek observa que a dificuldade essencial de uma concepo
cientficadoDireitoInternacionalPblicoestemqueesbarranoprincpioda
soberania dos Estados. Sendo as regras do Direito Internacional Pblico,
exatamente, limitativas da soberania dos Estados no sentido absoluto, como
conciliarostermosdestacontradio?
Asoluoestariaemaceitarumalimitaoespontneadosestadossua
prpria soberania. Se os Estados retraem a rea da sua autoridade, cabe ao
DireitoInternacionalPblicocobrirovcuodaquelaretrao.
Emconseqncia,osdeveresinternacionaisdosEstadossoverdadeiras
autoobrigaes.
evidente a vulnerabilidade dessa teoria. As relaes jurdicas,
qualquerquesejaonvelemqueseestabeleam,acarretamsempredireitose
deveres correlatos. Isso da sua essncia. Um direito a que corresponda um
dever autnomo, e por isso fundado num assentimento espontneo, no pode
serconsideradocomodireito.
7.9.3.6Primadododireitointerno
A teoria do primado do direito interno pareceu resolver, de maneira
bastante hbil, o problema da contradio entre a idia de soberania e a
existnciadoDireitoInternacionalPblico.
Como sabido, os tratados internacionais, ainda que negociados em
nvel diplomtico, s obrigam os Estados participantes, depois de aprovados
(ratificados)pelorgodeseuPoderLegislativo.Passam,ento,afazerparte
do direito interno, e deste modo a funo daquele poder precisamente
formularessedireito.
Convm ressaltar que essa teoria, alm de outros reparos que se lhe
podem fazer, inteiramente insatisfatria para explicar a validade das regras
doDireitoInternacionalPblicoconsuetudinrio.
7.9.3.7Kelsen
A teoria de Kelsen, chamada normativa, pela qual se ajustam Alfred
VerdrosseDionsioAnzilotti,parteintegrantedasuaprprialgicajurdica.
No se pode, assim, explicla, sem invocar os fundamentos desta. Para ele,
tendo a ordem jurdica estrutura sistemtica e unitria, sob um critrio
dinmico de produo escalonada e hierarquizada das normas (desde a
Constituio, seguindo pelas leis eregulamentos, at os preceitos concretose
individualizadosdoscontratos,dasresoluesadministrativasedassentenas
judiciais),nopossveladmitirseconjuntamenteumaordemjurdicaestatal
de um lado e, separada e parte desta, outra internacional, porque a
construo jurdica deve, logicamente, ter unidade. Esta unidade pode
alcanarsededuasmaneiras:oubemsobreahiptesedaprimaziadodireito
estatal, ou bem sobre a da primazia do direito internacional, caso em que a
ordemjurdicaestatalhaverdesertidacomodemarcaodelegadadaquela.
O fundamento de uma norma s podendo ser outra, como j antes
explicamos em relao ao autora, uma regra de direito internacional jamais
poder estar fundada na vontade singular ou coletiva dos Estados, mas
tambm numa norma, encontrada no imemorial preceito que os latinos
formulavam nestes termos: pacta sunt servanda. Em vernculo, os contratos
devem ser observados. A fora obrigatria do Direito Internacional Pblico
nasce dessa regra vlida em si mesma (recordese que Kelsen distingue
claramenteavalidadedaeficcia).
OmritodateoriadeKelsentemsidotambmdiscutidocomrelao
suacapacidadedeexplicaravignciadodireitointernacionalconsuetudinrio.
Mas ele mesmo se refere ao direito internacional, caracterizado pela auto
ajuda (justia pelas prprias mos), como susceptvel de ser interpretado da
mesmamaneiraqueumaordemjurdicaprimitiva,caracterizadapelavingana
privada, embora isso apenas referindose s suas qualidades tcnicas, no
quantosuaexistnciaesuavalidadeintrnseca.
7.10DIREITOCIVIL
A noo de Direito Civil deve ser formulada conforme a oportunidade
histrica emque a matriaconsiderada. No se podealcanlasemprvio
retrospecto do sentido que a expresso vem tendo, no curso da histria, nas
fasesprincipaisdasuatransformao.
No Direito romano, o sentido mais importante em que se empregava a
expresso jus civile era para indicar o direito prprio dos cidados romanos,
por oposio expresso direito das gentes, jus gentium, que era o direito
comumatodosospovosouatodososhomens,semdistinoentrenacionais
e estrangeiros. Era, ento, o Direito Civil, um conjunto de regras cuja
aplicaoestavacondicionadaqualificaodecidadaniadosindivduos.
Durante a Idade Mdia, at pela influncia que o Direito romano
continuou a exercer, mesmo depois das invases brbaras, usavase da
denominao Direito Civil para designar o prprio Direito romano, tal como
contido nas compilaes de Justiniano. O Direito Civil compreendia, ao
tempo,todooDireito,salvoocannico,prpriodaIgreja.
Ainda na Idade Mdia, mais tarde, com a gradual emancipao do
Direito Pblico,o civil passou a abranger somente o Direito Privado, masna
suatotalidade.
Atualmente,jnomaisoDireitoCivilcompreensivodatotalidadedo
DireitoPrivado.apenasumdosseusramos.
ConceituloemoscomoramodoDireitoPrivado.
As definies de Direito Civil so to numerosas quanto os autores.
Sem embargo dessa multiplicidade, quase todas o identificam pela indicao
dasrelaesjurdicasdeinteresseindividualaqueassuasregrasseaplicam.
Na doutrina nacional assim ocorre. Almquio Diniz (18801936), por
exemplo,dizqueo DireitoCivilaplicaserelaoentreoindivduoeasua
pessoa,osseusbenseassuasobrigaes.
Serpa Lopes afirma que ele se destina a regulamentar as relaes de
famlia e as patrimoniais, formadas entre os indivduos encarados como
membrosdacidade.
Eduardo Espnola e Espnola Filho atribuem ao Direito Civilaplicao
s relaes entre os indivduos, s relaes entre estes e as associaes
particulares, s destas entre si e s relaes entre indivduos e associaes
particulares e pblicas, quando estas tanto quanto o indivduo podem atuar
comosujeitodedireitoseobrigaes.
Definies desse tipo so meramente enumerativas, nada esclarecendo
sobreamatriadesseramodoDireito.Noesforodereferirtodasasrelaes
privadas a que se consagra o Direito Civil, algumas dessas definies so
exaustivas. o que sucede, por exemplo, com a do civilista argentino
Raymundo Salvat. Diz eleque o Direito Civil estabeleceasregras gerais que
regem as relaes jurdicas dos particulares, sejam entre eles, sejam com o
Estado, enquantoessas relaes tenham porobjeto satisfazer necessidades de
carter humano e, ainda, regulamenta a famlia, as obrigaes e contratos, a
propriedadeeoutrosdireitoseassucesses.
Taisdefinies,citandoasrelaesaqueasnormaspresidem,fazemno
emfunodaspessoasquedaquelasparticipam,semprecisarasuaessncia..
A noo de Direito Civil obtm nitidez, quando a entendemos
acolhendo a antiga idia de ser ele o direito privado comum. Com efeito, os
indivduos parecem ocupar em sociedade, mesmo enquanto considerados em
relao aos seus interesses estritamente particulares, uma posio genrica e
vrias possveis posies especiais. Da porque podemos aludir a um direito
privado comum para todos, e a vrios ramos do mesmo direito privado que
somente a alguns se aplicam. Por exemplo: h indiferentes profisses.
Segundo a natureza especial da sua atividade, sujeitamse a um regime legal
peculiar,queselhesaplicaemfunodeumacertamodalidadeespecficados
seus interesses. No entanto comerciantes, agricultores, operrios, industriais,
funcionrios, mdicos, advogados, magistrados, antes e acima de tudo, so
homens essencialmente iguais uns aos outros. H uma srie de interesses
comuns a todos, e fatos que se sucedem a todos igualmente, com a mesma
importnciaesignificao:onascimento,ocasamento,amorte,etc.Nocurso
da vidatodaas pessoasestabelecemcompromissos entresi,possuemalgode
sua exclusividade que por morte passam a outras. Exatamente a essas
situaes, na sua essncia idnticas para todos, e s relaes que delas
emergemquese destinamas regrasdeDireitoCivil. por issoque Clvis
Bevilqua, referindose ao Direito Civil, no seu sentido objetivo, defineo
comoocomplexodenormasrelativasspessoas,nasuaconstituiogerale
comum.
7.10.1Diviso
Logicamente,oDireitoCivildivideseemtrspartes:
a) direitodefamlia
b) direitodascoisas
c) direitodasobrigaes.
Cada uma dessas partes corresponde a uma instituio autnoma:
famlia,propriedadeeobrigaes.
No entanto, no Direito Positivo, quelas partes acrescentase o direito
dassucesses,dispondosobreatransfernciadopatrimniodas pessoasaps
asuamorte.
Seanalisarmos aestruturadodireitosucessrio, veremos queafuso
de elementos retirados do direito de famlia, do da propriedade e do das
obrigaes. que o vnculo entre o sucedido e o sucessor tem natureza
pessoal patrimonial, idntico ao obrigacional, e a sucesso um meio pelo
qual a propriedade de algum se transfere a outrem, segundo, e princpio, a
relaodefamliaentreambas.
7.10.1.1Seriaosistemtica
AceitaadivisodoDireitoCivilemquatropartes(famlia,propriedade,
obrigaesesucesses), polmicaa maneira pela qualdevem elas compor
se sistematicamente, em especial quando se cuida do ramo inaugural, aquele
quedeveiniciarasistematizao.
Osclassificadoresdividemseemtrsgrupos:
a) os que, como Roth, Giuseppe Daguanno (18621908) e Bevilqua,
comeampelodireitodefamlia
b) osquepartemdodireitodepropriedade,comoGierke,PietroGogliolo,
SavignyeCarlosdeCarvalho
c) os que entendem devase principiar do direito das obrigaes, entre os
quais esto F. Endemann, Heinrich Dernburg (18291907) e Coelho
Rodrigues(18461919).
Os que iniciam a exposio sistemtica pelo direito de famlia
consideram que a este corresponde uma instituio primordial na prpria
histria da vida humana. Para os que iniciam pelo direito das obrigaes,
consideradorelevanteoconhecimentodesteporqueasuanoofundamental,a
de relao jurdica, significativa para todos os ramos do Direito. E os que
principiampelodireitodascoisas(propriedades)sosensveisaofatodeserele
omaisfcildosramosdoDireitoCivil.
O Cdigo Civil Brasileiro, que resultou de anteprojeto elaborado por
Clovis Bevilqua, comeapelodireito de famlia e segue,em ordem, pelo das
coisas,odasobrigaeseodassucesses.Noentanto,noensinojurdico,nem
sempre esse o critrio de sistematizao adotado, preferindose partir do
direitodasobrigaes.
7.10.2Contedo
TomandopararefernciaoCdigo Civil Brasileiro,edestedestacando
a chamada Lei de Introduo (que encerra preceitos aplicveis a todos os
ramos do direito civil), o Direito Civil dividese em duas partes: uma geral,
outraespecial.
Napartegeraldispe:
a) sobreaspessoas,suadivisoemnaturaisejurdicaseseudomiclio
b) sobreosbensesuaclassificao
c) sobreosfatosjurdicoseaaquisiodedireitoseseuperecimento.
A parte especial dividese nas quatro j citadas: famlia, coisas,
obrigaesesucesses.
Napartededireitodefamlia,cuidadocasamento,seusefeitosjurdicos
eregimesdebens,dadissoluodasociedadeconjugal,daproteopessoa
dosfilhos,dasrelaesdeparentesco,datutela,dacuratelaedaausncia.
Nadedireitodascoisas,refereseposse,propriedade,aos modosde
aquisioeperdadesta,aosdireitosreaissobrecoisasalheias,etc.
A parte relativa ao direito obrigacional estuda as obrigaes em geral,
suadiviso,efeitos,etc.,easobrigaesemespcie.
Na ltima parte, o Cdigo dispe sobre a sucesso legtima e a
testamentria,oinventrioeapartilha.
7.10.3Modificaesatuais
Passa o Direito Civil, de algum tempo a esta data, por acentuadas
modificaes,queassumemtalporteapontodealgunsautoressereferirema
uma verdadeira crise do Direito Civil. Outros preferem aludir publicizao
do Direito Civil. Eterceiros, sua socializao ou proletarizao.Para Hely
Lopes Meirelles, passamos de um liberalismo extremado que privatizou o
direitopblicoparaumsocialismoatenuado,que vempublicizandoo Direito
Privado.
Para que possamos compreender esse processo, fazse mister remontar
s influncias histricas que plasmaram o moderno Direito Civil. Uma delas
foioCristianismo,portersidooprimeiroareconheceraliberdadehumanaea
desvincularacriaturaquerdapropriedadedoseudono,querdopoderdopaie
do marido. A outra adveiodaconcepodeliberdade trazidapela Revoluo
FrancesaeconsagradapeloCdigodeNapoleo,queconsideravaaliberdade
como franquia total da propriedade e como consagrao da mais ampla
autonomiacontratualecomonormasegundoaqualtodasascoisasdevemser
julgadasdedireito(JorgeA.Frias).
De tudo isto resultou que o Direito moderno apresentou durante muito
tempo, como a mais caracterstica de suas facetas, o individualismo, que o
faziainsensvelaqualquertipodeexignciasocial.
Aafirmao,emtomquasedogmtico,dapropriedadecomoumdireito
absoluto e ilimitado, e do princpio pelo qual os indivduos podiam contratar
livremente entre si, estabeleceu situaes que, embora legais, foram se
tornandoprogressivamenteintolerveispelasuainjustia.
ProcessavaseachamadaRevoluoIndustrial,acujasconseqnciasj
nos referimos. O Direito Civil comeou a mostrar sintomas de inadaptao
exatamenteparaomundoqueemergiudaqueleacontecimento.Oseuestatuto
dasrelaes humanas atal ponto pareceu odiosoquecerto autorchegoua se
referiraelecomoodireitodomarido,doproprietrioedopatro.
AsmodificaesoperaramsenoDireitoCivilemdoissentidos:
a) certas relaes e regime de certos bens foram subtrados a este,
passandoatemasdeestatutosautnomos
b) outras situaes passaram a obedecer a regras de inspirao menos
privatsticas, conforme a preocupao social de proteo s pessoas
maisfracas.
Comoexemplos doprimeiroitemfiguramasubtraodoscontratos de
trabalho ao Direito Civil e a criao de estatutos especiais sobre o
aproveitamento da energia hidrulica, das riquezas do subsolo, da caa, da
pesca,etc.
ConsiderandoasinstituiesquecontinuaramcontidasnoDireitoCivil,
apenas alteradas pelo que se chamou de sua socializao, as transformaes
ocorridasdevemsermencionadasemrelaoacadaumdosseusramos.
7.10.3.1Famlia
Nesteramoapontamseacrescenteproteojurdicaaosfilhosnaturais,
emtudojquaseequiparadosaoslegtimos,eproteoconcubina,tambm
para muitos efeitos patrimoniais e assistenciais equiparada esposa, para a
qualAdahylLourenoDiaspatrocinaaincorporaodepreceitosexpressos
lei civil, a exemplo do que se observa no direito trabalhista e de previdncia
social, evitandose a controvrsia jurisprudencial que a sua situao tem
ensejado. Citese, tambm a radical transformao do conceito do ptrio
poder,quepassoudeumasomadedireitosparaumadedeveres,demodoque
a autoridade conferida aos pais tem mera natureza instrumental, isto , a de
meio para o cumprimento daqueles deveres. A esposa foi promovida
juridicamente ao mesmo nvel do marido. Devese aludir, ainda, profunda
transformao verificada no instituto da adoo, outrora um expediente
jurdico que atribua prole a quem naturalmente no pudesse tla, hoje
modalidadeporexcelnciadeassistnciascrianasdesamparadas.
7.10.3.2Propriedade
Talvez esta tenha sido a parte do Direito Civil que sofreu maior
modificao. A propriedade deixou de ser instituio fundamentalmente
destinada a servir aos interesses individuais. Passou a ter legitimao e
extenso julgadas na medida da sua funo social. Da certa limitao dos
bens suscetveis de apropriao particular, como, a caa, a pesca, as minas,
etc., eofatodea apropriao mesmados bensnoestimados como riquezas
pblicas ter o seu exerccio condicionado e confinado pelo interesse social,
alm dos encargos atribudos ao proprietrio, que Hermes Lima 19021978)
considera a face mais significativa das restries atuais ao direito de
propriedade. Ampliouse o horizonte das desapropriaes por ato do poder
pblico, antes somente feitas em rgidos e poucos casos de necessidade ou
utilidadepblica.Osconceitosdeutilidadeenecessidadedilataramse,como
que sedefiniram novashiptesesquejustificam adesapropriao. Consoante
resume Sabino lvarezGendim,acausaeficientedasdesapropriaes tomou
formas desconhecidas, muito menos rgidas, severas ou individualistas, que,
impondoseemcertasesferaseparacertosfinsdeconveninciasocial,jamais
poderiamserformuladassegundoaconcepoconservadoradoEstadoliberal.
Finalmente, adveio um novo caso de desapropriao, tpico da crescente
preponderncia do interesse social no julgamento da legitimidade da
propriedade:adesapropriaoporinteressesocial,dosbensimprodutivospela
ociosidadedosseusproprietrios.
7.10.3.3Obrigaes
Neste campo do Direito Civil as alteraes efetuadas traduzem
restries ao princpio da liberdade contratual. Como j foi antes notado, a
plena liberdadedecontratao podeserincuaseaspartes contratantes esto
em condio de desigualdade econmica. Nesta hiptese, a parte mais forte
impe ao contrato as clusulas de sua exclusiva convenincia, de modo que
somente para ela tem sentido a liberdade de contratar, enquanto que para a
outra,naverdadeestaliberdadenoexiste.
Estas consideraes levaram ao que se convenciona chamar de
dirigismo contratual, ou seja, certos contratos so tutelados pelo Estado, no
sendo,portanto,emrelaoaesses,exclusivaetotalaeficciadavontadedos
interessados.
Mencionaremos, em seguida, as manifestaes mais expressivas e
geraisdessatendncia.
Uma dessas manifestaes a fixao de um teto limite de juros no
contratodemtuo.
Outra a imposio, por fora de lei, de clusulas obrigatrias em
algunscontratos, como node locao(limitaoecongelamentodealuguis,
proibio de certas exigncias aos inquilinos, etc.), no de transporte, no de
arrendamentorural,nodeparceriaagrcola,etc.
H contratos em que mais acentuado o dirigismo contratual. Por
exemplo, nas locaes de prdios destinados a comrcio, o contrato pode ser
renovado compulsoriamente, cabendo autoridade judicial fixar o valor do
respectivoaluguel.
Encontramos uma das mais importantes manifestaes do dirigismo
contratual na atualizada aplicao da clusula rebus sic stantibus, a qual,
segundoArnoldoMedeirosdaFonseca,foielaboradapelosjuristasdoDireito
cannico e aplicada, principalmente, aos contratos de prestaes continuadas
outratosucessivo.Porela,dizseque,emcertoscontratos, ovnculosedeve
considerarsubordinadopermannciadoestadodefatoexistenteaotempode
suaformao,demodoque,seestemodificadopormotivos supervenientes
eimprevisveis,aforaobrigatriadocontratocessa,incumbindoautoridade
judicial revlo ou rescindilo. Como se v, admitese, na hiptese,
modalidade inslita de pronunciamento judicial sobre contratos, j no mais
para assegurarlhes a eficcia e sim para revlos ou extinguilos, contra a
vontade de uma das partes. Resta, porm, em relao matria, o problema
que se encontra suscitado por Karl Larenz, quanto convenincia de ser o
emprego do julgamento fundado nessa clusula generalizado ao exame de
todos os contratos, sem nenhuma limitao a pressupostos de fato
determinados por circunstncias temporrias. O prprio Larenz opina
negativamente, entendendoque, como instituio permanente, viriaaquebrar
todoosistemadodireitoobrigacional,porcontrairosprincpiosfundamentais
em que o mesmo se baseia. Entre ns, Paulo Carneiro Maia, invocando Jos
A. Prado de Fraga, Eduardo Espnola e Francisco Campos, defende a sua
incluso no Direito Positivo (dado que ainda hoje matria de criao
jurisprudencial), exigindo, porm, de igual modo, que para caracterizar sua
aplicaosejanecessriaaexistnciadeumacontecimentoextraordinrio.
7.10.3.4Sucesso
No direito sucessrio, as manifestaes mais evidentes da tendncia
socializaopodemserassimalinhadas:
a) proibiodasucessodebensdeproduo,admitida,apenas,adebens
de uso e consumo, situao que apenas prevalece nos pases
radicalmentesocialistas
b) limitaodavocaohereditriaadescendentes,ascendenteseirmos
c) pesadaeprogressivataxaofiscal.
7.11DIREITOCOMERCIAL
Direitocomercialoramododireitoprivadoqueobjetivaaexposioe
aplicaodasnormasrelativasatividademercantil.
Destinamse, portanto tais normas a uma atividade econmica, mas
ressalvesedesdelogoqueoconceitojurdicodecomrciomaisextensodo
queoseucorrespondenteeconmico.
Comrcio,emsentidorestrito,noelencodasatividadeseconmicas,a
atividadequeseintercalaentreaproduoeoconsumodasriquezas.Quema
pratica exerce mediao diretamente ligada circulao das mercadorias.
Comerciante quem adquire mercadorias para revendlas. Flo na
expectativadeumavantagem(olucro)queesperaconseguirpelaobtenode
um preo de venda superior soma do preo de compra, das despesas de
transporte e dos encargos fiscais. Como esse resultado satisfatrio incerto,
porque o preo das mercadorias, no momento de serem entregues ao
consumidor, afetado por inmeras circunstncias, nem todas facilmente
previsveis, a vantagem esperada aleatria: poder ou no ser obtida. Por
isso,ocomrcioatividadeespeculativa.
O comrcio, durante muito tempo, foi concebido como simples
iniciativa intercalar entre a produo e o consumo. No entanto, com a
transformao pela qual passou a sociedade aps a Revoluo Industrial e o
incremento da economia capitalista em larga escala, tudo aliado
extraordinriamultiplicaoerapidezdosmeiosdetransporteecomunicao,
est ultrapassando este conceito limitado. Donde um sem nmero de
atividades outras, sem aquela caracterstica originria, que so tambm
consideradas comerciais, e, consequentemente, subordinadas ao direito
comercial. Assim, por exemplo, bancos, seguros, bolsas de valores, leiles,
etc.
7.11.1Comrcio
Waldemar Martins Ferreira confere noo de comrcio o carter de
sntesedequatroelementos:troca,moeda,transporteecrdito.
Troca o fato social embrionrio e condicionante da existncia do
comrcio. Decorre de uma condio inerente ao prprio homem, que est na
basedeum processo sem o qual seria impossvel qualquer evoluo social:a
diferenciaodasatividadesindividuais.
Peladiversidadedasuaconstituioedassuashabilitaes,nopodem
os homensentregarse, comos mesmos resultados,atodas as atividades. Por
isso, ultrapassadobem cedoorecuadssimo momento em que cadaum podia
satisfazer todas as suas necessidades, logo passaram a dedicarse a uma
atividade exclusiva. claro que algum, dedicandose a um s trabalho,
produz muito mais do que reclamam as suas necessidades. Da a iniciativa
intuitiva de permutar o excedente da produo individual de um com o
excedente da produo de outro. Dse a troca direta de mercadorias. Quem
somente pesca, por exemplo, troca o produto de seu labor por cereais com
quemsomenteplanta.
deverainsuficinciadessesistemaparaasatisfaodasheterogneas
necessidades humanas, tanto mais agravada quanto mais se intensificava a
especializaodotrabalho.
Sobreveio, assim, o imperativo de se encontrar artigo que, pela sua
utilidade universal, pudesse operar como denominador comum de todas as
riquezas. Se tal houvesse, j ento no estaria o homem sujeito ao azar de
ocorrer ou no a coincidncia necessria para a permutao direta das
utilidades. Trocarseia, ento, qualquer mercadoria por essa de utilidade
universal,eestaporqualqueroutramercadoria,quandoeondefosseoportuno.
Amoedaveioexatamenteatenderaessanecessidade,comomercadoria
capaz de ser permutada por qualquer outra, funcionando como denominador
comum das riquezas. Nem foi ela, na sua origem, in natura, seno mesmo
mercadorianosentidousualdapalavra.Comefeito,ogadofoi,durantemuito
tempo e para muitos povos, moeda, o que est explcito na significao
etimolgicadapalavralatinapecunia.Maistarde,passoutambmaser,como
ensinaLouisBaudin,medidaereservadevalorouinstrumentodepoupana.
Quando apareceu a moeda a permuta se transformou em compra e
venda, operao na qual bens heterogneos so balanceados em referncia a
umterceirovalor(preo),peloqualsoestimados.
O transporte veio depois integrar essencialmente a noo de comrcio.
A partir dele a atividade mercantil passou a exercer a sua funo econmica
caractersticadepromoveracirculaodasriquezas.
Dinamizadaavidacomercial,sobrevieramoutros problemas,entreeles
o de que a compra e venda de mercadorias nem sempre podia ficar
condicionada disponibilidade imediata da moeda. Veio, ento, o crdito
originariamente facultado s transaes entre produtores e comerciantes, ou
destes entre si, e tambm aos negcios entre comerciantes e consumidores.
Mais tarde, o crdito passou a desempenhar talvez a sua misso econmica
mais relevante, como processo de circulao incorprea da moeda. Alm
disso, outros efeitos teis, todos com incidncia direta sobre a atividade
mercantil, podemlhe ser atribudos, no ensinamento de E. Laveleye (1822
1892), citado por Carlos Porto Carreiro: a) proporciona ao trabalho o capital
de que carece para produzir b) d emprego a economias, impedindo a
ociosidade do capital c) faz passar o capital para as mos daqueles que
melhorpodemutilizlod)permiteaexecuoimediatadegrandestrabalhos,
obraseempreendimentos.
7.11.2Divisodocomrcio
Ocomrciodividesesegundotrscritrios:quantoaoespao,aotempo
eaomodo.
Quantoaoespao,podeser:terrestre,nutico,areo,internoeexterno.
O terrestre o sedentrio ou o que utiliza transportes terrestres:
caravanas,ferrovias, rodovias.
Onutico,aquelenoqualotransportedasmercadoriassefazporgua.
Subdividese em martimo, fluvial e lacustre, conforme as guas sejam de
mareseoceanos,rioselagos.
O martimo, a seu turno, pode ser de grande e pequena cabotagem.
Pequena cabotagem a da navegao costeira. Na grande cabotagem as
embarcaescruzammareseoceanos.
Qualquer que seja o meio de transporte utilizado, o comrcio, ainda
quanto ao espao, pode ser: interno e externo. Interno o que se realiza no
interior das fronteiras de um Estado, e, externo, entre lugares de Estados
diferentes.
O comrcio externo pode ser de importao, de exportao, de
reexportaoedetrnsito.
Emrelaospraassquaisasmercadoriassedestinam,ocomrcio
de importao. O mesmo fato, visto das praas das quais as mercadorias
provm,constituicomrciodeexportao.
svezesumacertamercadoriaimportadapara,depoisdebeneficiada,
ser exportada. Essa operao freqente nos pases parcos de recursos
naturais mas ricos de industrializao e tecnologia, como o Japo. Esse
comrciochamadodereexportao.
Comrcio de trnsito ocorre quando as mercadorias, saindo de uma
praa localizada no territrio de um Estado para Estado diverso, tm de
atravessar um terceiro que entre eles se intercala. Em relao ao Estado
intercalar essa modalidade chamada comrcio de trnsito, podendo
representarresultadoseconmicosqueconsistemnasvantagensauferidascom
acobranadefretes,estivas,capatazias,armazenagens,taxasdiversas,etc.
Quantoaotempo, hcomrcioemtempo depazecomrcioemtempo
deguerra,sendoclaroqueestadivisoapenasseaplicaaocomrcioexterno.
Ocomrcioemtempodeguerrasofredeterminadasrestries.Podeser
direto e indireto. Direto se as mercadorias navegam em embarcaes de
bandeiradosbeligerantes,indiretoseemembarcaesdepasesneutros.
Quanto ao modo, o comrcio se efetiva por atacado e a varejo. No
comrcioporatacado,ovendedornocontatacomoconsumidor.realizado
em grande escala e diretamente do produtor ao comerciante ou aos seus
distribuidores e revendedores. Quase sempre especializado, girando com
mercadorias da mesma natureza: gneros alimentcios, tecidos, produtos
farmacuticos,veculosautomotores,etc.
O comrcio a varejo, tambm chamado retalhista, fazse entre o
comercianteeoconsumidor,segundoasnecessidadesquantitativasdeste.Tira
asuadenominaodeumaantigamedidadeextenso,avara.Aocontrriodo
comrcio por atacado, quase sempre heterogneo, o que atinge o mximo
nosatuaismagazines,drugstoresesupermercados.
Devemaindaserreferidasduassubdivisesdocomrcio:
a) pblicoeprivado
b) sedentrioeambulante.
Oprivadoopromovidopela iniciativa individual. Opblicotemesta
qualificaoquandopostosobtuteladoEstadoequandomonopliodeste.
Osedentriorealizasesemprenomesmolocal.ochamadocomrcio
estabelecido.Oambulantedeslocasedeumlugarparaoutro.Ocomrciodas
caravanas, na Antigidade,porexemplo,era ambulante. Nos centros urbanos
existeintensocomrcioambulantedeartigosdepequenoporteebaixopreo.
NochamadociclodaborrachahavianaAmazniaativaericamodalidadede
comrcio ambulante, o regato. Embarcaes abundantemente supridas de
mercadorias diversas iamdeum ponto ao outro da extensa redehidrogrfica,
nos quais vendiamas suasmercadoriasouaspermutavampor borracha,para
vendlanoslocaisdeexportao.
7.11.3Atodecomrcio
Tpico crucial do Direito Comercial a idia de ato de comrcio.
Podemos dizer que ela est para o Direito Comercial assim como a de ato
administrativoparaoDireitoAdministrativoeadecrimeparaoDireitoPenal.
Enquanto o comrcio foi apenas atividade profissional nenhuma
dificuldade existia, pois o ato mercantil era exatamente aquele praticado por
quemaexercesse.Dealgunsanosparac,todavia,avidacomercialsetornou
extremamentecomplexa,ocorrendo oquasesechama de comercializao da
vida, o que levou certas atividades, em si mesmas no comerciais, a ficarem
sujeitasaoDireitoComercial,seexercidasemregimeempresarial.
Para definir o que seja ato de comrcio nos valemos de elementos
subjetivoseobjetivos.
O ato mercantil pode ser caracterizado subjetivamente, isto , em
funodapessoaqueopratica(ocomerciante).Este,nalinguagemdonosso
Cdigo Comercial, quem faz da mercncia profisso habitual. Ato de
comrcio aquele para o qual concorrem trs elementos: ser intermedirio,
possuirfimlucrativoeseraprofissohabitualdoagente.
Mas atos de comrcio h sem aquelas caractersticas. No entanto, no
deixam de slo, desde que assim determina a lei comercial. Por outras
palavras, se um ato est sujeito legislao mercantil, ato de comrcio,
qualquerquesejaasuaintrnsecanatureza.Nestecaso,oatoconsideradode
comrcio na sua prpria objetividade, independentemente da sua funo
econmicaedofimdaprofissodequemopratica.
7.11.3.1Classificao
tradicional, no Brasil, a classificao de Jos Xavier Carvalho de
Mendona(18611930):
a) atosdecomrciopornatureza
b) atosdecomrciopordependnciaouconexo
c) atosdecomrcioporforadelei.
Atosdecomrciopornaturezasoemregraaquelescaracterizadospelo
elemento subjetivo. Sendo o ato de comrcio ntegro (no pode ser mercantil
paraumadaspartesenoparaoutra),soatosdecomrciopornaturezatodos
aquelespraticadosporcomerciantesnoexercciodasuaprofisso.
Exemplos:
a) compraoutrocadecoisasmveispararevenda
b) compradegnerosdeumcomercianteaoutro
c) compradegnerosporpessoanocomercianteacomerciante
d) comprademadeiraspararevendlasdepoisdemanufaturadas,etc.
So atos de comrcio por dependncia ou conexo os que, no sendo
mercantisporsimesmos,soassimtidosporquepraticadosemvirtudeounum
interessedocomrcio.
Exemplos:
a) compradequalquerobjetofeitaporcomercianteparaoexercciodeseu
comrcio
b) aquisiodemquinasparaodesempenhodaprofissocomercial
c) mandatoparaagestodenegciosmercantis
d) gestodenegciosmercantis,etc.
Finalmente, so atos de comrcio por fora de lei aqueles em relao
aosquaisindiferentesejampraticadosporcomercianteouno,umasvezou
reiteradamente.Soatoscujacomercialidadesearrimanumadeclaraolegal.
Exemplos:
a) operaesrelativasaletrasdecmbioenotaspromissrias
b) operaesrelativasasegurosmartimos,riscosefretamentos
c) cheques,etc.
J. M. de Carvalho Santos patrocina uma classificao mais simples,
dividindoosatosdecomrcioapenasemduascategorias:
a) osquetiramoseucarterdelei
b) aqueles cuja comercialidade depende da qualidade comercial de quem
ospratica.
7.11.4Tendnciasatuais
ampliaodaatividade comercialcorrespondeuparalelaextensodo
Direito Comercial. Alm dos seus ramos tradicionais (direito comercial
terrestre e martimo), surgiram verdadeiras novas disciplinas jurdicas
mercantis,paraasquaisalgunsdoutrinadorestmpleiteadoautonomia.
So elas: o Direito Industrial, que protege a propriedade industrial
(patentes de inveno, insgnias, marcas de fbricas, etc.), o Direito Cambial
(ttulos cambiais), o Direito Falimentar (que dispe sobre como se resolve a
insolvncia do devedor comerciante), o Direito Securitrio (operaes de
seguro) e o Direito Aeronutico, cuja autonomia, na opinio de Otto Riese e
JeanT.Lancour,sejustificaporanalogiadoDireitoMartimo.
7.12DIREITOINTERNACIONALPRIVADO
A existncia do Direito Internacional Privado est subordinada a duas
circunstncias, que se podem eliminar por abstrao, jamais realmente: a
diversidade do Direito Privado de cada Estado, o que, assinala o clssico
Pasquale Fiore(18371914),umfatonatural,eamobilidadedosindivduos
acrescida do fato de as suas relaes jurdicas nem sempre se projetarem
apenasnolimiteespacialdeumordenamentojurdico.
Com efeito, sendo o Direito Internacional Privado a disciplina que
ministrasoluesparaosconflitosdasleisnoespaoeexistindoestesapenas
quando,numasituaojurdica, humelementoestrangeiro,fcilconstatar
quesemaquelespressupostoselenoexistiria.
SeoDireitoPrivadodos povosnovariasse,nohaveriaconflitospela
uniformidade da legislao. E se as relaes jurdicas estivessem confinadas
ao territrio de cada Estado, igualmente no haveria, por impossvel, neste
caso,comoinvocarsenormaestrangeira.
Mas a realidade bem diversa. Ao contrrio, aumenta sempre a
mobilidade dos indivduos e internacionalizamse progressivamente as
relaes jurdicas. Observa Haroldo Valado que, com a extraordinria
intensificao dos meios de comunicao, tornando vizinhos os pontos mais
distantes do globo, quebrando desconfianas e preconceitos, as relaes
humanaspessoaisoupormensagens,familiareseeconmicas,multiplicamse
acadamomento entrepessoas de origens diversas, de naes, de Estados, de
provncias,dereligies,deraas,decostumesdiferentes.Comoresultado,so
cadavez maisfreqentessituaesjurdicasnas quaisentramemchoque leis
autnomas,cadaqualcomasuarbita,semdependnciahierrquicadeumas
aoutras.
O Direito Internacional Privado apresenta uma caracterstica que o
distinguedosdemais.Enquantoestesprevemfatoseindicamconseqncias,
ele prev conflitos de preceitos e dispe sobre como resolvlos. As suas
normas no so sobre fatos, mas sobre normas. Da ser considerado, com
inteirapropriedade,umsuperdireito.
Em relao evoluo histricodoutrinria da matria e aos sistemas
de soluo dos conflitos das leis no espao, remetemos o leitor ao que ser
expostonocaptulo8.5.
8TcnicaJurdica
8.1TCNICAJURDICA
Atcnicajurdica umdepartamentodacinciadoDireito,aoladoda
sistemtica jurdica. O seu objeto, como j antecipamos, o estudo dos
problemas relacionados com a aplicao do Direito Positivo aos casos
concretos.Referimonosapenastcnicadeaplicao,quecabeemprincpio
ao Poder Judicirio e que se realiza visando a fins singulares, no de
formulao,queinteressaaoLegislativoebuscafinsgerais.
Aaplicaodanormaaocasoestcondicionadapelaestruturadaquela,
naqualseconjugamdoiselementos:pressupostoedisposio.Opressuposto
prev, genericamente, uma hiptese possvel a disposio indica a
conseqncia que, numa situao especfica, alcanar a pessoa que naquela
hiptese se encontrar. Aplicar o Direito consiste sempre em caracterizar um
fato e enquadrlo numa hiptese, para aplicar pessoa ligada quele a
conseqnciaprevistanadisposio.
Por isso que se diz que a tcnica de aplicao opera consoante uma
frmulasilogstica,naqualapremissamaioranorma,amenorofato,ea
concluso a imputao da conseqncia normativa a algum.
Exemplificando: dado que o locatrio deve pagar o aluguel ao senhorio
(premissa maior),e sendo fulanolocatriodesicrano(premissa menor),deve
serquefulanodevapagaroaluguelasicrano(conclusoimputativa).
Esse esquema simplista no resolve todas as dificuldades que a
aplicaodanorma enfrenta. Nemo nico quenos permitecompreendla,
masestadotadoaquipelasuaclareza.
Aconclusoimputativahdeserfeitasempreaalgum.Essaoperao
podesersimplesoucomplexa.
Assim, se duas pessoas contratam entre si, evidente que a imputao
spodealcanarumadelasouambas.
Se a imputao decorre apenas de um ato hipoteticamente previsto na
norma,domesmomodoevidentequesefaraoseuagente.
Algumas vezes no bastao simples liame entre a pessoae o fato. Sea
normaatribuiaresponsabilidadedeindenizaraoproprietriodoveculoouda
empresa, nesse caso a atribuio da conseqncia depende de uma
qualificaodosujeito.Nobastarsejaidentificadooagentediretododano.
Sernecessrioreconhecerlheumaqualificao(serproprietrio),semaqual
aconseqncianooatingir,simaoutrapessoa,queativer.
A afirmativa de que a aplicao do Direito se faz por um raciocnio
silogstico tem sido objeto, da parte de numerosos e renomados autores, de
crtica severa. Destacamse, entre eles, Jhering, Oliver Wendell Holmes
(18411935), Karl N. Llewellyn(n. 1893),Joachim Hruschka, CarlosCossio,
Kantorowicz, Jerome Hall e Recasns Siches, este ltimo autor de extenso
trabalhoemquearrolaeexplica,almdasua,asdoutrinasquesecontrapem
queleentendimento.
GarciaMynezobserva,porm,comaparenteprocedncia,queacrtica
provm de autores que passaram por alto uma distino fundamental, aquela
que existe entre a forma ou estrutura dos raciocnios que possibilitam a
aplicao de normas abstratas a casos concretos da experincia jurdica e os
procedimentos que conduzem formulao das premissas desses mesmos
raciocnios.OequvocoevidenciaseatmesmonumaexpressodeRecasns
Siches,quandoenfatizaqueoverdadeiromiolodafunojudicialconsistena
eleiodepremissasporpartedojuiz.Eaduz:umavezeleitasaspremissas,a
mecnicasilogsticafuncionarcomtodaafacilidade.
Quandoseasseveraqueaaplicaododireitoabstratoaocasoconcreto
fazse por lgica silogstica, no se pretende simplificar a complexidade da
tarefa, nem afirmar que o aplicador parte da norma para, atravs do fato,
chegar concluso. At mesmo porque o primeiro passo da aplicao o
conhecimento do fato (premissa menor). O que se pretende, diversamente,
revelarqueaaplicaoculmina,sempre,numaestruturasilogstica,quaisquer
que tenham sido os processos e as atividades desenvolvidas para a
determinaodasrespectivaspremissas.Eissorequisitodesualegitimidade,
pois,conformeobservaKarlEngisch,qualquerquesejaafuno quepossam
desempenhar as fontes irracionais de descoberta do juzo ou da sentena
judicial, o juiz, perante o seu cargo (funo) e sua conscincia, s poder
sentirse justificado quando sua deciso tambm possa ser fundada na lei, o
quesignificaserdeladeduzida.
8.1.1Problemas
Atcnicajurdicaabordacincoproblemas:
a) determinaodavigncia
b) interpretao
c) integrao
d) eficciadaleinoespao
e) eficciadaleinotempo.
8.2VIGNCIADALEI
A primeira questo que se nos apresenta quando cuidamos de aplicar
uma norma legal, verificar se ela est em vigor, o que se resolve em trs
perguntas:
a) jestemvigor?
b) Aindaestemvigor?
c) Estandoemvigor,temaplicaoaocaso?
Regrageral,aleientraemvigorapartirdodiadesuapublicao.
H casos, porm, em que, estando j publicada, a sua vigncia no
imediata: quando ela prpria dispe sobre sua vigncia em data ulterior ou
quando, sem qualquer dispositivo a respeito, fica subordinada a uma regra
legislativa geral, que indica o intervalo que deve fluir entre a publicao e o
comeodevignciadasleis.
NoBrasil,htalpreceitonaLeideIntroduoaoCdigoCivil.
Nessas hipteses, notempo que vai da publicao vigncia, continua
vigorando a lei anterior. A esse perodo denominase vocatio legis, vacncia
dalei,emvernculo.
8.2.1Vocatiolegis
A vocatio legis encerrase de duas maneiras, s quais correspondem
doissistemas:osistemainstantneoeosucessivo.
O sistema instantneo ou imediato quando o prazo se extingue ao
mesmo tempo em todo territrio nacional, como acontece atualmente no
Brasil:45dias.
Outrora, adotvamos o sistema sucessivo. A lei ia entrando em vigor,
paulatinamente, em zonas do territrio nacional, cuja distncia era
progressivamentemaior,apartirdacapitaldaRepblica:primeironoDistrito
Federal, a seguir no Estado do Rio, depois em Minas Gerais e nos estados
martimos,finalmentenosdemaisestados.
Na poca isso se justificava pela dificuldade de comunicao, embora
fosseestranhoqueumaleiestivesseemvigornoRiodeJaneiro,porexemplo,
e ainda no em Pernambuco. Hoje a situao diversa. Uma lei ainda em
discusso j conhecida de todos, graas imprensa, televiso e ao rdio.
Porisso,quasetodastmvignciaimediata.
8.2.2Leigeraleespecial
Pode,tambm,umanormaestarvigendo,dizerrespeitoacertamatria,
mas no lhe ser aplicvel. Tal ocorre quando o mesmo fato objeto de uma
disposio geraledeoutraespecial.Hnormaqueregulaasituaodetodos
osestrangeirosnoBrasil,porexemplo.Houtraespecialparaosportugueses.
Omesmofato,asituao deestrangeironoBrasil,regidoporuma lei geral
(todososestrangeiros)eporumaleiespecial(osportugueses).Seumcidado
portugus indagasobrecertafaculdade,e alei geralrespondenegativamente,
poderacontecerqueaespecialrespondaafirmativamente.Ageralnorevoga
aespecial,eviceversa.Estaaplicasecircunstnciaespecfica,semafetara
outra,queprevaleceparaosdemaiscasos.
8.2.3Revogao
Finalmente, a normapode estarrevogada. A revogao, na maior parte
das vezes, no expressa, mas tcita, os dispositivos das ulteriores,
cancelandoosdasanteriores,quandocomestessoincompatveis.
Expressaoutcita,arevogaopodeserdetodaalei(total)ouapenas
dealgumoudealgunsdosseusdispositivos(parcial).primeiradenominase
abrogaoesegunda,derrogao.
8.3INTERPRETAO
Oproblemadainterpretaodificilmentepodeserapresentadodemodo
apenasdidtico. Emrelaoaeletudocontroverso.Oseucarterpolmico
bem pode ser avaliado, se atendermos extensa gama de problemas que lhe
socorrelatos,desdeasabstratasconsideraessobreanatureza,aorigemea
funodanormajurdica,atasdificuldadesevidentesdeaplicaocotidiana
daregraaoscasoscorrentes.
imprescindvelaoconhecimentodaessnciadotemaoexamededuas
maneiras bsicas de compreender a interpretao, bem caracterizadas na
classificaoquefazCarlosCossiodosmtodosinterpretativos:intelectualista
evoluntaristas.
Os intelectualistasentendemainterpretaocomoatividadeintelectual,
pela qual se alcana a significao mais profunda do sentido da lei. Pouco
importa o meio pelo qual esse resultado atingido: o exame gramatical da
regra, a indagao da vontade do legislador, a reconstituio das
circunstncias histricas em que a lei foi elaborada, etc. Em qualquer
circunstncia, o aplicador ter de exercer apenas um trabalho intelectual. A
sua meta ser descobrir o que a lei diz ou quer dizer, penetrarlhe na sua
significao mais ntima, revelar as suas motivaes mais autnticas, numa
palavra,encontraraverdadelegal.
Os mtodos voluntaristas entendem que a funo do intrprete no se
esgotanameradescobertadanormatividadetotaldalei,nemdeveele,quando
ao contedo desta procurar conhecer, levar seu raciocnio a esforo lgico
extremo. A lei simples norma geral que delimita um horizonte mais ou
menosamplodedeciso.Ointrpreteconhecealeiparatraararbitadasua
liberdade de decidir. Mas, ao decidir, o seu ato to criador quanto o do
legislador.Assim,ojuiztambmcriaodireito,comorgodoEstado.Entrea
sua funo e a do legislador h uma s diferena: ele cria normas
individualizadas para casos especficos, enquanto aquele cria normas gerais
para situaes genricas. Se o ato de criar sempre um ato de vontade, a
interpretaoumaatividadevolitiva.
Nonosparecequequalquerdessesmodosdeentendercontenhatodaa
verdade. Eles atentam mesmo contra a prpria realidade estrutural da mente
humana. Nesta no se podem separar inteligncia e vontade, como entidades
psquicas distintas ou rtulos abrangentes de atividades autnomas. A
qualquer ato de vontade precede uma deciso sempre fruto de uma reflexo
(atividade intelectual). E a reflexo sobre o que fazer culmina numa deciso
(atividadevolitiva).
altamente valioso para compreender o tema lembrar que Geny
recomendava ao intrprete que visse na lei uma expresso da vontade
inteligente do legislador. Com issoatribua atividadedo legislador,que por
umatodevontadeeditaalei,umsuporteintelectual. Damesmanatureza nos
pareceaatividadedojuiz,ointrpreteporexcelnciadalei.Semdvidaque,
aoprolatarasentena,criandoanormaindividualizada,elepratica umatode
vontade, no sentido jurdico da palavra. Mas, como a do legislador, a sua
vontade inteligente, prorientada por um trabalho intelectual, que, durante
muitotempo,foiconsideradotodaainterpretao:conheceresgotadoramente
alei,atretirardelaasuatotalpossibilidadedeaplicao.
Diramos, em concluso, que a interpretao tarefa pela qual se
procura, em primeiro lugar, conhecer a lei na sua mais extensa e recndita
significao, de modo a extrair dela a sua capacidade normativa explcita e
implcita, e, em segundo lugar, traar o campo da liberdade de deciso de
quemaaplica.
O entendimento meramente intelectualista da interpretao prevaleceu
durante muito tempo. Levou a resultados estreis e gerou a consagrao de
frmulas vazias de importncia, entre as quais a idia de que a atividade
interpretativa seriaeventual,justificadaapenas nahiptese de noser claraa
lei.Foimultissecularoprestgiodeumbrocardolatino:interpretatiocessatin
claris,oqual,porm,adverteAlpiodaSilveira,colidecomaprprianatureza
da interpretao, s se compreendendo como fruto de uma obsesso de
supremaciadaleiinspiradapelaortodoxiadoliberalismo.
Na Argentina, Salvat, embora observando que a aplicao e a
interpretaodaleiestointimamenterelacionadas,pornoserpossvelfazer
aplicaocorretadaleisemtambminterpretlacorretamente,resvalaparaa
errnea noo tradicional, quando diz que o juiz recorre interpretao para
suprirosilncioouaobscuridadedalei.
M. A. Coelho da Rocha (17931850), em Portugal, enuncia conceito
tpico desse entendimento,conferindo interpretaoafinalidadedeexporo
verdadeirosentidodeumaleiquesejaobscuraouambgua.
Entrens,osclssicostrabalhosdeCarlosMaximilianoePaulaBatista
(18111881), consagram a mesma noo. O primeiro, apesar de ressaltar a
finalidade histricadoprocesso,acabadandolhecomofundamentoofatode
sertodaleiobrahumana,aplicadaporhomens,logoimperfeitanaformaeno
fundo e de resultados duvidosos, desde que no se lhe atente para o sentido.
Paula Batista afirma categoricamente que a interpretao a exposio do
verdadeiro sentido de uma lei obscura, por defeito de redao, ou duvidosa
comrelaoaosfatosocorrentes.
ClvisBevilqua,cujaorientao visivelmentesuperior,aindainsiste
emcondicionaraatividadeinterpretativasinsuficinciasdalei.
A interpretao, como processo intelectual de explicao, tambm
assim compreendida por Eduardo Espnola e Eduardo Espnola Filho.
Carvalho Santos assevera quealei imperfeita, reclamando interpretao, se
noclaramenteformuladaounorevesteaprecisonecessria.
Estaorientaonosfoilegadapeladoutrinadoscivilistasfrancesesque
tanta influncia exerceram sobre a nossa, talvez por ter sido na Frana que,
peloprestgiodoracionalismo,surgiuomovimentocodificador.
Assim, Planiol diz que da interpretao valemse juizes e tribunais,
quando aplicam lei cujo sentido discutido. E Henri Capitant (18651937)
entende ser a interpretao mister essencialmente intelectual, quando,
observando que a lei obra consciente e refletida de homens, conclui que
interpretla precisar a manifestao de vontade que lhe deu nascimento, o
pensamentodeseusautores.
Rafael Saudo, fiel quela influncia, chega a ponto de afirmar que o
juiz somente deve interpretar as leis obscuras, porque no possvel ao
legisladorprevertodososcasosforenses.
Entendida,assim,ainterpretaoseapresenta,emsuanaturezamesma,
como atividade subalterna, vlida numa eventualidade e fruto de uma
contingncia que ser, acaso, inevitvel, mas que se pode logicamente
eliminar.
Curiosoconstatarqueessanoodetalmaneiraseradicounadoutrina
que inclusive a ela no escaparam escolas mais avanadas, que investiram
contra a mera supletividade da funo judicial, que admitiram julgamento
contraleie propugnarampela liberdade de convencimento e decisodo juiz,
tanto que a este outorgam poderes em termos de substituio do legislador.
Issosevnoprpriofamosoartigo1doCdigoCivilSuoeatnamodesta
disposio do artigo 114 do nosso Cdigo de Processo Civil de 1939
(suprimida no novo Cdigo). Tanto num como noutro, a faculdade que se
concede ao juiz de elaborar a norma, longe de admitida como inerente sua
funo, dada pela simples outorga a ele de competncia que incumbe ao
legislador.
Mas verdade que a interpretao uma atividade permanente de
qualquer procedimento aplicativo da norma. No lateral regra, sim
condio da sua capacidade de atuar, dado que a do preceito meramente
virtual. Interpretao e legislao, diz sabiamente Max Ascoli, so dois
temposessenciaisdeumritmocclico:elevaodarealidadenorma,retorno
danormasobrearealidade.
A norma jurdica, reportandose a um valor, genericamente, abrange
uma universalidade de situaes com o que levada, inevitavelmente,
conformeasseveraDjacirMenezes,aesquematizarfortementearealidade.Por
isso, no opera por si, mas reclama ajustamento a cada caso particular. Esse
ajustamento convertea de abstrata em concreta, de genrica em especial, de
potencialematuante.Nesseprocessodeconversocomeaainterpretao,que
vai at problemas mais complexos, quando a norma individualizada no pode
serobtidapelosimplesenquadramentodofatonopreceito.
Kelsen reformou profundamente a doutrina. Para ele, a interpretao
noprocessointelectualquepretendaasimplescompreensodanorma.
Opondose ao tradicional binmio criaoaplicao, reconheceu que a
interpretao integra a prpria dinmica da vida jurdica, uma atividade
tambm criadora de normas, exercida no limite de outras mais graduadas. A
sentena judicial concreo da norma jurdica legal e abstrata, continuao
doprocessodeproduojurdicadogeralparaoparticular.Esseprocessono
simplesajustamentodaleiaofato,nem criaolivre,porquelimitadopelos
horizontesdepermissividadeemqueseexerce.
Quando o jurista interpreta uma norma o faz nos limites de outra
superior. Por exemplo, a de um regulamento no limite da lei. Se o juiz, ao
prolatar sentena, est criando uma norma individualizada, no pode fazlo
seno interpretando norma superior, a lei. A sua sentena, por sua vez, ser
interpretada por outras normas que sero criadas, como os despachos que
vieremaserproferidosnaexecuodojulgado.
A interpretao no se restringe a apreender o contedo da norma. Ela
existe porque prprio do dispositivo legal apenas delimitar um recinto de
possibilidade, dentro do qual o juiz (livre naquele limite) profere a sentena,
que pode ser to entendida como um ato de vontade jurdica quanto o a
prprialei.
Se por interpretao entendssemos a mera verificao do sentido da
norma, terseia que chegar concluso de que, em caso de variedade de
entendimento,somenteumainterpretaoseriaverdadeira,doqueresultariaa
mais indesejvel rigidez da jurisprudncia. Mas observa, Kelsen, a
interpretao de uma lei no tem que conduzir necessariamente a uma s
deciso, sim possivelmente a vrias, todas do mesmo valor, embora uma s
delaschegueaserdireitopositivonoatodasentenajudicial.
Este conceito novo de interpretao como vontade, sem prejuzo do
elemento intelectual que a informa, , para Kelsen, imanente ao prprio
direito, cujo ordenamento atua de crculos maiores para menores, uns na
dependnciarelativadosoutros.
ConformeexplicaLacambra,prpriododireitoregularelemesmosua
criao,detalmaneiraqueaproduo de umanormaestreguladaporoutra
superior, e, a seu turno, determina o modo de produo de outra inferior. A
produo de qualquer norma representa, alm disso, relativamente superior
quearegula,umatodeexecuo.Anormacriadanesteatoserexecutadade
novo,medianteoutrofatocriadordeumanormainferior.
Nas expresses do prprio Kelsen, a tarefa de extrair da lei a sentena
justaouo atoadministrativo justoessencialmentea mesmadecriar, dentro
dos limitesdaConstituio,as leisjustas.Adiferena apenasquantitativae
no qualitativa, visto que a sujeio do legislador, no aspecto material,
menorqueadojuiz.
Como se v, a atividade do intrprete no se arrima numa simples
contingncia, acaso consistente na impossibilidade de prever o legislador
todasashiptesesocorrentes.
Ensina Cossioquenenhuma leipode eliminar a mobilidadedequema
aplica, porque este ter sempre de chegar a uma norma individualizada, por
maiselementarquesejaorespectivoprocesso.
Carnelutti, evidenciando a esterilidade da idia intelectualista da
interpretao, reparaqueelaconduzacompletocontrasenso.Ouservecomo
declaraooqueodeclarantepensou,semterseemcontaoqueodestinatrio
compreendeu,oubemoqueestetenhacompreendido, independentementedo
queooutrohajapensado.Emqualquerdessashipteses,adeclaraofracassa
na sua finalidade, que a de transmisso do pensamento. No primeiro caso,
considerase como pensado algo que no se tenha compreendido e, no
segundo,comocompreendido,algoquenosetenhapensado.
Tais idias no desnaturam a noo de que o intrprete deve esgotar a
capacidadenormativadopreceito.Tratasemenosdereveroquetemsidoe
historicamente a interpretao do que de penetrar no seu inteiro sentido e,
logicamente,compreendla.
Comefeito,exauriraspossibilidadesnormativasdeumaregranoleva
somente a entendla cabalmente, mas resulta tambm numa conscincia de
liberdademaioroumenorparaoseuaplicador.Oprocessodecompreenso
meio para um fim. Revela o contorno da regra a aplicar e culmina no ato da
suaaplicao.
8.3.1Elementos
Paraoperfeitoentendimentodanormatividadedopreceitolegaleexata
delimitao do seu horizonte de liberdade, valeseo intrpretededuassries
de elementos: os gramaticais e os lgicos. Da dizerse que h interpretao
gramaticalelgica,conformeanaturezadoelementoutilizado.
Se o sentido da norma explicitado pela anlise da sua frmula
gramatical, fazse interpretao gramatical. Se pela determinao de outros
elementos,nopertencentesaotexto,fazseinterpretaolgica.
conveniente ressaltar que a essas duas modalidades de proceder no
podemos nos referir como se fossem autnomas. Assim, as expresses
interpretao gramatical e interpretao lgica so imprprias, se delas nos
servimos para significar atividades independentes uma da outra. Toda
interpretao,aomesmotempo,gramaticalelgica.Oatodeentenderoque
estescritonaleijlgico,poisaspalavrasdesta,comotodasasoutras,tm
apenas valor indicirio, conforme doutrina Philipp Heck (18581943). E, se
nos distanciamos do texto para nos servir de outros elementos, no podemos
nosdesembaraardetododele.
Apenas, em certo caso, o elemento lgico o preponderante da
interpretaoe,emoutro,preponderanteogramatical.
8.3.1.1Interpretaogramatical
A interpretao gramatical socorrese, como bvio, dos chamados
elementos intrnsecosdanorma,isto,assuasprpriaspalavrasque,nafrase
do juiz JamesE. Clayton, soo meio mais certopara a m interpretao. Os
vocbulos so significaes, e como tal devem ser entendidos. Procura o
intrprete no texto escrito o que ele essencialmente exprime. Essa pesquisa
poder ser maisou menos fcil, segundoa propriedadeou impropriedadeea
univocidadeouamultivocidadedosvocbulos.
Na interpretao gramatical socomuns os problemas que indicaremos
aseguir.
As palavras podem ter significao vulgar e tcnica. A interpretao
concluirporumaououtra,conformeaorientaogeraldotexto.
A rubrica de um texto quase sempre delimita o seu alcance, ainda que
ela mesma no constitua lei. Numa lei sobre propriedade, por exemplo, as
palavrasdosseusdiversosdispositivosdevemserentendidascomopertinentes
apenasaessainstituio.
As palavras podem ter um sentido estritamente gramatical e serem
usadas com mais lata pretenso. Neste caso, a inteno com que foram
empregadasprevalecesobreoseureduzidocontedogramatical.
A mesma palavra pode apresentar grande diversidade de sentidos.
Caberaointrpreteprecisarosentidonicoouossentidosmltiplosemque
estutilizada.
8.3.1.2Interpretaolgica
Para se clarear de maneira cabal o sentido de uma norma so quase
sempre insatisfatriosos seuselementos gramaticais.Quandoassimocorre,a
interpretao emancipase do texto e procura nos seus elementos extrnsecos
os subsdios necessrios para a sua total compreenso. Ao conjunto daqueles
chamamos elementos lgicos da interpretao. So eles: a ratio legis, a
intentiolegis,aoccasiolegiseoconfrontedenormas.
Valemonos da ratio legis (razo da lei), quando indagamos dos
motivosquedeterminaramapromulgao deuma lei. Sabendosequeas leis
so elaboradas pela presso de elementos histricos circunstanciais, se
estabelecemosdemaneirantidaarelaoexistenteentreelaseanecessidade
social que a ditou, teremos valiosa contribuio para compreendlas com
clarezaeamplitude.
Pelaintentiolegis(intenodalei),procuramosdeterminarafinalidade
dalei.Nobastaconheceraquenecessidadeumaleiprocurouatender,seno
que tambm indispensvel precisar de que maneira quis fazlo. Para
identificla particularmente importante a reconstituio dos trabalhos de
elaboraodalei.
Aoccasiolegis(ocasiodalei)resultacaracterizadapelo levantamento
doselementoshistricosconcomitantesaomomentodecriaodalei.Oclima
que cercaaformaode qualquer lei nelainfluencia decisivamente, quer nos
seuselementosexplcitos,quernossubjacentesaoseutexto.
Omais importanteprocedimentodainterpretao lgica,semdvida,
o confronto das regras, que nos permite uma viso global da lei, o seu pleno
entendimento e a determinao do que h de sistemtico nela. Disso advm
uma compreenso da lei que dilata o horizonte do intrprete e o ensejo de
apliclamaislucidamente.
Na interpretao lgica, encontramos ainda os chamados argumentos,
cujovalordesdehbastantetempoconsideradosecundrio.
Citaremososmaisconhecidos:
a) Argumento a pari (por analogia). Serve de fundamento ao raciocnio
ampliativo, ou interpretao extensiva. Pela analogia aplicase uma
norma conhecida a casos no previstos, desde que em relao a estes
haja identidade das razes ou das finalidades que inspiraram a norma
paraocasoprevisto.
b) Argumento a contrario (ao contrrio). Se, ocorrendo duas hipteses
radicalmente inversas, a lei s previu uma, regulandoa de uma certa
maneira,concluisequequisdispordemaneiradiferenteparaaoutra.
c) Argumento a majoriad minus (da maiorpara a menor). Sea lei prev
uma hiptese atendendo determinado motivo em que prevalea uma
hiptesenoprevista,aestatambmaplicvelasuadisposio.
d) Argumentoexabsurdo(partindodoabsurdo).Seumanormalegalpode
ser entendida de duas maneiras contraditrias e uma delas conduz a
absurdo,dirsequeaoutratraduzainterpretaoadequada.
8.3.2Mtodos
So trs os mtodos interpretativos mais conhecidos: o jurdico
tradicional, o histricoevolutivo e o da livre investigao cientfica. A eles
podemosaditarodachamadaescoladodireitolivre,cujamaneiradeentender
ainterpretaosedesviamuitodosentidodesta.
8.3.2.1Mtodojurdicotradicional
O mtodo jurdicotradicional est ligado ao apogeu do racionalismo
jurdico e chamada Era das Codificaes, iniciada com o Cdigo Civil
Francs,em1804.
Ele parte do pressuposto de ser a lei uma obra completa, contendo, de
maneira ostensiva ou latente, todas as solues jurdicas. O Cdigo Civil
Francsquando divulgado,afigurouseobratotal e definitiva. Ao magistrado
assistia interpretlo e seguir com a mais rgida fidelidade o que o seu texto
diziaouqueriadizer.
Incumbiriaaointrprete,quandonoencontrasseasoluonalimpidez
das palavras da lei, atravs de um processo que Antnio Ramos Carvalho de
Brito denomina inferncia jurdica, restaurar o pensamento do legislador,
procurando sua inteno ou finalidades, principalmente nos trabalhos
preparatriosdalei.
Correspondeueste mtodoaum momentoemque, maisprestigiadodo
quenuncaoprincpiodaseparaodospoderes,nocabiaaojuizsenodizer
estritamente aquilo que a lei manifestava ou o que o legislador havia
pretendido.
Dasnumerosasobjeesquesefazemaomtodoexegticodestacasea
dequeeleconduzamodelosartificiaisdeinterpretao.Almdisso,supondo
umliamepermanenteentrealeieolegislador,desprezaelementos preciosos,
notadamente os de natureza histrica e social para a exata compreenso
daquela. Doutrinariamente,reparaHenri LvyUllmann,fazendodadefinio
doDireitocorolriodadelei,eliminavaapossibilidadedaprimeira.
Entre os seus defensores sobressaramse Demante, Laurent e Jean C.
FlorentDmolombe(18041887).
8.3.2.2Mtodohistricoevolutivo
O mtodo histricoevolutivo, do qual foram patronos Savigny e
RaymondSaleilles(18551919),situaseemposiodoutrinriaoposta,ainda
quemantenhaoprincpiodefidelidadeaotextodalei.
Influenciados pelo historicismojurdico, os seus patronos no vem na
lei apenas obra e fruto da atividade do legislador, mas a resultante de
imposies da conscincia social. Assim, a lei deve ser olhada como um
preceitoobjetivamenteautnomo,tendoseemcontamaissuasligaescoma
ambincia social do que seus vnculos com a vontade ou intenodequema
formulou.
Apardisso,nenhumaleitemsentidosenoaplicadadeacordocoma
necessidade social a que pretende atender. Se esta varia, cabe ao intrprete
entendla de maneira a lhe corresponder. Como explica Mrio Frazen de
Lima, quando o pensamento da lei se manifesta em contraste com o que o
intrprete considera expresso da conscincia coletiva do povo, deve este
preferirarevelaodiretadessafontecomumemaisprofunda.
Assim,aprpriainterpretaoseriaevolutiva,variarianotempo,deum
resultado a outro, conforme este correspondesse s convenincias de sua
aplicao.
interpretaocumpririapromoverumapermanenteatualizaodalei.
8.3.2.3Livreinvestigaocientfica
Foi seu fundador Franois Geny, autor de trabalho que se tornou
clssico na matria: Mtodos de interpretao e fontes em direito privado
positivo.
Fiel orientao do mtodo exegtico, enquanto este afirma que a
interpretao deve terpor escopo arevelaodavontade do legislador, Geny
parte da noo de integral respeito lei como a primeira e mais importante
fonte formal de direito. A lei a vontade de um rgo social, que lhe fixa o
contornoedefineseucontedo.
Genycingiuse,escrupulosamente,opiniodequealeimanifestauma
inteno do legislador, qual o intrprete deve fidelidade tal como no
momento de sua formao, no no da sua aplicao. Com isso, contestava
radicalmenteasteoriasqueinspiraramomtodohistricoevolutivo.
Seriadesnaturaraleiencarlacomoprodutoimediatoediretodomeio
social,o queimportariaconfundilacomocostume.Econclua queo jurista,
enquantopermanecenaesferadainterpretaopropriamentedita,s podeter
por objetivo encontrar na lei aquilo que da sua essncia: expresso de uma
vontadeinteligente.
O que, todavia, singularizou a posio doutrinria de Geny foi sua
oposio a todo jogo de raciocnio mais ou menos artificial pelo qual os
mtodos precedentes, notadamente o exegtico, pretendiam extrair da norma
legalsoluesquenelaevidentementenoseencontravam.Nasuamaneirade
entender,deverseiaaplicaralei,comautenticidade,nojustosentidoquelhe
emprestou quem a formulou, mas apenas nele, sem nada lhe aditar por
presunes ou construes lgicas. Assim, desde que a lei no fornecesse
soluo direta, cessava a interpretao, e o jurista iria buscar a norma em
outroselementos.
Oprimeirodeles estarianaanalogia,aqual noseriamais do queuma
exignciadaigualdadejurdica,quereclamaseapliquemasituaesidnticas
sanesiguais. Sendoapenas umprocessolgico,nempor isso podeser tida
como interpretao propriamente dita, porque se arrima na inexistncia de
normalegalparaumasituaoconcreta.
NosistemadeGeny,averiguaseavontadedolegisladorporelementos
internos e externos. Entre os primeiros esto a expresso literal do preceito
(interpretaogramatical)eoconhecimentodasuamaisprofundasignificao
(interpretao lgica restrita). Entre os segundos esto o fim pretendido pelo
legislador (ratio legis) e o meio social em que a lei surgiu com as
circunstnciashistricas(occasiolegis).
Se no h lei escrita nem soluo analgica para o problema, deve o
intrprete valerse do costume, que se caracteriza pelo seu uso persistente
aliadoconvicodequeestamparadoporumasanodeDireito.
Quando a lei, analogia e costume no ministram soluo, no h que
insistir em quaisquer procedimentos supostamente lgicos. ento que a
teoria de Geny mostraa suaoriginalidade,aoreclamaranecessidadedeuma
criao cientfica livre para suprir as lacunas da ordem jurdica. Esta
investigao deve realizarse com inteira autonomia face s fontes formais,
porque a sua oportunidadesomente se configuradiantedeum casoconcreto.
De certo modo, assemelhase que faz o prprio legislador, porque ela
tambm procura a justia e a utilidade social. Geny a caracterizou com
preciso:livreinvestigaocientfica.Livre,porquerealizadaforadaaode
uma autoridade positiva cientfica, porque apoiada em elementos objetivos
revelados cientificamente. A livre investigao cientfica firmase em dois
elementos:os da prpria civilizaocontempornea, enquanto reveladores de
um estado de equilbrio, e as tendncias de uma poca, seus precedentes
histricos, suaorganizaoeconmica e seus aspectos marcantes patenteados
pelaanlisesociolgica.
A investigao cientfica do direito exige extensa pesquisa cientfica,
porque o seu propsito evidenciar o que Geny chamava a natureza das
coisas. precisamente essa natureza das coisas que informa ao intrprete
quando lhefalecem as fontes formais, residindo essa natureza principalmente
no fato de que as relaes da vida social acomodamse de acordo com um
processoespontneodeequilbrio,aoqualojuristadevesersensvel.
pela aplicao adequada dos juzos formados segundo sua prpria
razoeexperinciaqueointrpreteserveutilidadegeral.
AmaneiradeconceituarainterpretaopreconizadaporGenyimpeao
jurista a disponibilidade de um complexo arsenal de conhecimentos:
sociolgicos,histricos,psicolgicos,filosficos,etc.
8.3.2.4Escoladodireitolivre
Aescolade Franois Geny(18611959)consagroua idiadaliberdade
dojuizaoformularanormadecisriaparaumasituaoconcreta.Aescolado
Direitolivreexacerbouessaposio.ForamseusprecursoresKirchmann,que
assinalouocontraste entreos esforos vosdadoutrina e da jurisprudnciae
as sempre novas exigncias da lei Siegmund Schlossmann, que previu a
existnciadeumdireitocriadosobinspiraocientficaEugenEhrlich(1862
1922)que,ampliandooconceitodelacuna,reivindicouparaojuizaliberdade
de criar uma regra especfica, desde que as fontes formais no indicassem
soluodiretaparaumahiptese:ErnestZitelmannque,inspiradoemJellinek,
opscontraditafrontalconcepodaplenitudelgicadoDireito.Oseumais
ldimo representante, porm, foi Kantorowicz, que publicou, em 1908, sob o
pseudnimo Gnaeus Flavius, monografia intitulada A luta pela cincia do
direito.Aeleseguiramse:Gmelin,Soml,Spiegeleoutros.
Kantorowicz, observando o quanto fora deturpado no continente
europeu o princpio da separao dos poderes, promoveu verdadeira
ressurreio da teoria do direito natural. Admitiu, assim, a existncia de um
direitolivre,paraleloaoestatal,equeconsistianasuaverdadeirafonte.
Acinciado Direitodeve desenvolverse inteiramente autnomada lei
com liberdade, criando as suas prprias definies e atuando por um
procedimento integralmente livre. Por isso, tem de ser antiracionalista e
antidogmtica, rejeitando os mtodos tradicionais de interpretao. Nunca
deve valerse da analogia e, coerentemente, de qualquer processo de
interpretao extensiva, tendo por obrigao sempre rejeitar as fices e a
indagaodaratiolegis.
Parasubstituiraantigadogmtica,Kantorowiczrecomendaumacriao
radicalmente livre do direito, cuja autenticidade seria assegurada pela sua
popularidade, pela sua independncia, pelo seu ideal de justia e pela sua
prticaporjuizesafeitosaosfatosdavida.
O dever do juiz seria aplicar a lei enquanto essa contivesse soluo
clara. Caso contrrio, no lhe competiria indagar da vontade do legislador,
mas decidir consoante regra fundada na convico de que ela teria sido a
escolhidapelo legislador,napoca do julgamento. Se, contudo, no chegara
qualquer convico, deve socorrerse do costume e, enfim, criar com toda
liberdadeetotalimparcialidadeasuaprpriaregrapessoal.
AliberdadequeaescoladeGenyeadeKantorowiczatribuemaojuiz,
sem embargo de poder ser julgado em si mesma, em termos exclusivamente
tericos, mais ou menos compatvel com o direito legislado segundo a
natureza deste. Com efeito, enquanto em certos pases as leis procuraram ser
casusticas e minuciosas em suas previses hipotticas, em outros so
concebidas em termos mais genricos e imprecisos, que deixam ao aplicador
larga margem dedecisopessoal. Assimacontece, porexemplo,nos Estados
Unidos.AlexanderH.Pekelisdeclarasemhesitaoqueaquelepasnotema
rigor uma Constituio escrita. E acrescenta: as grandes clusulas da
Constituio,assimcomoasdisposiesmaisimportantesdasleisamericanas
fundamentais no contm seno um apelo honestidade e prudncia
daqueles sobre quem pesa a responsabilidade de sua aplicao. Dizer que a
compensaodeveserjusta,aproteodasleisigualparatodos,queaspenas
nodevemsercruisneminusitadas,queascauesoumultasnodevemser
excessivas, nem os seqestros imotivados, nem ser o cidado privado de sua
vida, de sua liberdade ou de sua propriedade sem o procedimento jurdico
devido, no outra coisa que darse base atividades dos juizes para criar o
Direito, mais ainda, aprpriaConstituio, jquese lhes deixa em liberdade
paradefiniroquecruel,razovel,excessivo,devidoou igual,emcadacaso
sobsuaapreciao.
8.3.3Origem
Quanto sua origem, a interpretao pode ser autntica, judicial e
doutrinria.
Ainterpretaoautnticacompeteaolegislador,queporleinova,torna
mais clara uma anterior. A lei interpretativa , em princpio, retroativa, a
menos quando esbarra em situaes que no possam ser revistas, como, por
exemplo,acoisajulgada.
Ainterpretaojudicialfeitapelosjuizesetribunais.
Adoutrinriaobradosjuristassuaimportnciamaisseafirmaquando
incorporadajurisprudncia.
8.4INTEGRAO
Diantedeumasituaolevadaaseuconhecimento,cabeaojuizdecidi
laconformealei.
Emnohavendoleiqueencerredisposioparaacontrovrsia,nempor
isso pode eximirse de proferir sentena. Dirse que h uma lacuna na lei.
Aoprocessodesuprilasechamadeintegrao.Pararealizlo,recorreojuiz:
a) criaodenormasanlogasaoutrasjexistentes
b) pesquisa de normas nas fontes supletivas: costume, jurisprudncia e
princpiosgeraisdedireito(doutrina).
8.4.1Lacunas
Aslacunasapresentamse:
a) quando a lei d ao juiz apenas uma orientao geral, cabendolhe
estimarcadacasoconcreto
b) quando o prprio critrio estimativo legal s pode ser fixado em cada
casoconcreto(boaf,abusodedireito,etc.)
c) quandoaleicompletamenteomissaparaumaquesto
d) quando existe contradio frontal entre dispositivos legais a ponto de
todoselessetornaremineficazes.
8.4.2Analogia
Pela analogia o juiz procede de um caso previsto para outro no
previsto, desde que ambospossamser compreendidos numa norma geral que
osdomine.
ParaSavignyaanalogiacabeemduashipteses:
a) quando aparece uma relao jurdica nova para a qual no existe
instituiojurdicacomomodelonoDireitoPositivoatual
b) quando, dentro de uma instituio jurdica j conhecida, surge novo
problemajurdicoparticular.
Naanalogiahumaespciedeinduoincompletaou,comodizCarlos
Maximiliano,umainduoimperfeita,pelaqualsevaidopreceitoexistenteat
umaregramaisgeralemaisaltaqueabranjadoiscasossemelhantes,chegando
sedepoisnormaespecialdequesenecessitapararesolverumdeles.
Analogia autntico procedimento de integrao, no de
interpretao,porqueserveparasuprirlacunaslegais.
Emdoutrina,distinguemseduasmodalidadesdeanalogia:alegal
eajurdica. Cumpre, porm, notarqueoprocessoanalgico ,em si, ums.
Adualidaderesultadonvelemqueoraciocnioserealiza.
8.4.2.1Analogialegal
Na analogia legal, existe norma adequada para regular certa matria e
no outra que, se prevista, deveria ter sido regulada da mesma maneira. H,
portanto, uma disposio expressa cuja normatividade se amplia na medida
mesmaemqueamplaarazoqueasugeriu.
8.4.2.2Analogiajurdica
Quando falta preceito aplicvel, ainda que de forma indireta, h
necessidade de ponderar um complexo de normas que regem certo campo
jurdico e, por analogia de matrias e motivos, apliclas a outro. A este
procedimentochamaseanalogiajurdica.
sempre preciso que o caso no previsto seja semelhante ao previsto,
tenha com este alguns elementos comuns e, principalmente, que a razo
motivadora da disposio existente prevalea com relao situao no
prevista.
NaliodeFerrara,todofatojurdicocontmelementosessenciaisque
caracterizam e formam a ratio juris da norma, e elementos acidentais e
contingentesqueoacompanham.Noconfrontarofatojregulamentadocom
ofatoaregular, devemos isolar o primeiro dosoutros, colhendolhe somente
os traos juridicamente relevantes, as notas decisivas apenas assim
estabelecerse,ouno,umarelaodesemelhana.Podeacontecerquedois
fatos, na aparncia disformes, porque diferenciados por caracteres
particulares, sejam semelhantes na sua essncia, e, por isso, capazes de ser
submetidos,poranalogia,aomesmotratamento,e, viceversa,quedois fatos,
mostrandose extremamente semelhantes, sejam intimamente diversos.
preciso determinar a semelhana jurdica dos dados e a coincidncia dos
elementosjuridicamenteprincipaisqueinformamadisposio.
SobreaanalogiaKarlEngischexplicaque,quandonosvoltamosparao
seu fundamento axiolgico, podemos afirmar que, para que exista uma
concluso de analogia juridicamente admissvel, requerse a prova de que o
caso particular, em relao ao qual a regulamentao omissa, tenha de
comum com o particular, para o qual existe regulamentao, os elementos
sobre os quais a regulamentao jurdica se apoia. vista disso, pondera, o
argumentojurdicodaanalogianosenutreapenas dasuaseguranalgicae
da sua aplicao jurdicoprtica, baseada na semelhana jurdica, mas
mergulha as suas razes ainda mais profundamente no cho do Direito, ao
pressupor que, para a aplicao deste, os preceitos legais e consuetudinrios
podem e devem ser frutuosos no s direta como tambm indiretamente. E
assim porque os juzos de valor gerais da lei e do Direito consuetudinrio
devemprevalecernosemrelaoaoscasos aquedizemrespeitodemodo
imediato, mas tambm em relao queles que apresentem configurao
semelhante.
Com igual clareza e debaixo da mesma tica, Georges Malinowski
escreve que os fatos que tm, do ponto de vista jurdico, o mesmo valor
implicam as mesmas conseqncias jurdicas. Por isso, quando se alude ao
fundamento do raciocnio analgico, em Direito, tal raciocnio tem
configurao diversa da que apresenta em relao ao mundo dos objetos
naturais. Fundlo na mera suposio de que, tendo o legislador disposto de
certomodoparaumcaso,provavelmentedisporiadomesmomodoparaoutro
assemelhado,logicamentecorreto,masjuridicamenteinsatisfatrio.queo
juristanosaberia,defato,oquefazercomessaproposiodeprobabilidade,
ainda que o seu grau estivesse determinado com a maior preciso possvel,
dadoquetemnecessidadedesabercomcertezaqualaregraqueseaplicaao
casono previsto, e no qualquer outra. queonervodoraciocniojurdico
por analogia encontrase no juzo de valor acerca da igualdade do valor dos
fatoscomparados.
Aanalogiatpicamanifestaodacoernciaticadequalquerordem
jurdica, no mera tentativa por probabilidade, como pretende Joo Mendes
Neto. Por isso, no processo de integrao, o seu emprego, ainda que mais
freqente em relao lei e ao costume, no est confinado a uma posio
rgida,pois perfeitamenteadmissvelqueporanalogiatambmseestenda
aplicaodeumaregrajurisprudencialoudoutrinria.
8.4.3Consultasfontesmediatas
Sendointiloraciocnioanalgicoemrelaolei,passaoaplicadora
integrar pela consulta s fontes mediatas: costume, jurisprudncia, princpios
geraisdedireito(doutrina),matriaquejfoiobjetodeexposionocaptulo
15destetrabalho,aoqualoautorsereporta.
8.4.4Concluso
Aaplicao do Direito obedece a uma sistemtica, que indica as solues
jurdicasemnveissucessivos.Assim,cabeaoaplicador:
a) aplicaralei
b) servirsedaanalogialegaloujurdica
c) aplicarocostume
d) servirsedaanalogiaconsuetudinria
e) aplicarajurisprudncia
f) invocarosprincpiosgerais:doDireitoNacionaledoDireitoUniversal.
necessrio anotar que, embora sendo essa a ordem sistemtica de
consultasfontes,nolhecorrespondeodesenvolvimentodestasnocursoda
histria. Assim, quanto sua precedncia cronolgica, a ordem justamente
oposta:primeirosurgiramos costumes,depois ajurisprudnciae,porltimo,
a lei. E h tambm quem sustente, como Leopoldo Alas, lembrando as mais
antigas tradies gregas, que antes do prprio costume teria surgido a
jurisprudncia.
Almdisso,nenhumarazodeordemestritamentedoutrinriapodeser
invocada para justificar o primado da lei sobre o costume ou o deste sobre
aquela.Aprefernciaresultanteapenasdecircunstnciashistricas.
Assim, em relao matria, dois tipos de ordenamentos jurdicos
podemseridentificados:
a) odatradioromanista(naeslatinasegermnicas)caracterizadopela
supremacia do preceito legal, em detrimento do Direito
consuetudinrio
b) o da tradio anglosaxnica, no qual o direito se revela pelos usos e
costumesepelajurisprudncia,construdasobreeles,mais doquepelo
trabalhodergoslegislativos.
Segundo o comentrio de Miguel Reale, o confronto entre um e outro
sistema tem sido muito fecundo, inclusive porque demonstra que, nesse
terreno,oqueprevalece, paraexplicaroprimadodestaoudaquelafonte,no
sorazesabstratasdeordemlgica,masapenasmotivosdenaturezasociale
histrica.
8.5EFICCIADALEINOESPAO
A lei tem uma validade espacial limitada porque integra um
ordenamento jurdico, implantado num territrio, o do Estado que a
promulgou. Os limites do territrio do Estado so tambm os da eficcia
espacialdesualegislao.
Numa relao jurdica, porm, podem ocorrer elementos estranhos ao
ordenamentojurdicoaoqualestsubordinadoojuizquedelaconhece.
Assim, por exemplo, o fato de um cidado argentino que, no Brasil,
promovesse a execuo de um contrato celebrado no Chile, tendo por objeto
umimvelnaVenezuela.Esteumexemplosimples,noqualestopresentes
elementos de mltiplas legislaes. No Brasil levantase a controvrsia, a
nacionalidadedo indivduo de outroEstado, o atojurdico foi praticadoem
outroe,finalmente,numquartoestobemnegociado.
Emtalhiptese,ojuiz,aojulgaroproblema,hdefazerprviaescolha
daleiaplicvel.
Para dirimir o conflito h dois princpios: o da personalidade e o da
territorialidade da lei.Peloprimeiro,dizsequealeipessoal.Pelosegundo,
queterritorial. Deacordocomoprimeiro,ointeressadotemafaculdade de
invocar a sua prpria lei onde quer que esteja, portanto, mesmo quando
submetido jurisdio de um Estado que no aquele do qual sdito. Pelo
segundo,aleiterritorialaplicase,de modototal,atodasassituaeslevadas
ao conhecimento dos juizes nacionais, quaisquer que sejam os elementos
estrangeirosnelasexistentes.
Osegundodeordemgeral,oprimeirodeaplicaoexcepcional.
8.5.1 Territrio
SendoosEstadossoberanos,cadaumpodeasseguraraeficciaplenada
sualeinoseuterritrio,negandoaplicaoaqualquerleiestrangeira.
Nobasta,porm,dizerqueolimitedaeficciaespacialdaleicoincide
com o limite do territrio nacional, porque esta noo tem um sentido
geogrficoeumpolticojurdico.
No sentido geogrfico, territrio nacional o solo no qual o Estado
exerceo seuimprio.Nojurdicopoltico,a expressotemsignificaomais
alta,abrangendooutrasparcelas.
8.5.1.1Solo
Aprimeiraparceladoterritrionacionalasuperfcieterrestre,osolo,
emsentidogeogrfico.
Podesercontnuaoudescontnua,isto,unaoufragmentada.Quandoa
superfcie se estende sem soluo de continuidade at a fronteira, temos
territrio contnuo. Do foco do poder poltico irradiase o ordenamento
jurdicodentrodeumcontornonico.
Entretanto, tendo o Estado a sua sede de poder implantada numa rea,
s vezes tambm o exerce sobre outras, das quais est separado. o caso de
superfciedescontnua.
A descontinuidade pode ser geogrfica e poltica. Dse a primeira
quando a soluo de continuidade resulta da existncia, entre a superfcie
contnua e a descontnua, de um acidente geogrfico, um lago, um mar, um
oceano. Por exemplo, Trindade uma ilha ocenica, integra o territrio
brasileiro, mas entre o territrio continental do Brasil e a ilha est o Oceano
Atlntico,sobreoqualoBrasilnoexercesoberania.
s vezes, a superfcie terrestre, em si mesma, contnua, mas duas
reas do territrio do Estado esto separadas porque entre elas h uma faixa
territorial sob a soberania de uma nao estrangeira. O exemplo sempre
citado,porquecaracterizatipicamenteasituao,odaAlemanhadepoisdaI
eantesdaIIGuerraMundial.A Alemanhatinhaasede doseupoderpoltico
numarea,masasuasoberaniatambmseestendiaPrssiaOriental,regio
daqualestavaseparadaporumcorredor,quedavaPolniaacessoaDantzig.
8.5.1.2guasterritoriais
O segundo elemento do territrio nacional so as guas territoriais,
sobreasquaisoEstadotambmexercedomnio.
Asguasterritoriaisso:martimas,fluviaiselacustres.
Os Estados martimos exercem soberania sobre uma faixa das guas
martimas ou ocenicas que os banham, em traado paralelo sua costa, at
umdeterminadolimite,estepolmico.
A primeira tentativa de tralo (primeira porque naes houve, como
Inglaterra, Portugal e Espanha que, em certo tempo, pretenderam soberania
sobre mares e oceanos) baseouse na tese de que ele deveria ir at onde
alcanasseumtirodecanhopostadonacosta,segundoaidiadequeopoder
polticovaiatondeopoderdasarmasalcana.
Maistarde,o limite geralmenteaceitopassouaserdetrsa12milhas.
Ulteriormente, outras situaes mostraram a escassez desse limite, ligadas
necessidade de segurana e de proteo a interesses econmicos. Ento, os
Estados dilataram os limites das suas guas martimas. As brasileiras, foram
fixadas em 200 milhas, limite j antes adotado pelo Chile, pelo Peru e pelo
Equador,oquetemensejadodificuldadesinternacionais,porqueoutrospases
recusamse a aceitar essa extenso desmedida da soberania de um Estado
sobreasguasocenicas.
Em funo dessas dificuldades, foi patrocinada, no assunto, uma
soluo original, capaz de resguardar, sem maiores repercusses polticas
internacionais, os interesses econmicos dos pases que ampliaram seu mar
territorialpara200milhas.
Farseia adistinoentre mar territorialoujurisdicional, sobre o qual,
como parcela do seu territrio, o Estado exerceria soberania plena, e mar
patrimonial ou econmico, sobre cujas guas e respectivo leito o Estado
exerceria apenas direitos ligados sua explorao econmica. Assim, por
exemplo, no limite de 200 milhas, o mar jurisdicional poderia conservar a
medida habitual de 12 milhas, e as restantes 188 constituiriam mar
patrimonial,nestefranqueadanavegao,semqualquercontrole.
Cumpre observar, por ltimo, que, atualmente, os Estados que mais se
opuseram ampliao do mar territorial para 200 milhas vm adotando essa
mesma deliberao, bastando citar os exemplos dos pasesmembros do
MercadoComumEuropeuedosEstadosUnidosdaAmrica.
Quanto s guas territoriais fluviais,hque distinguirosriosinteriores
dos fronteirios. Seoriointerior,ambasas suasmargens estonoterritrio
deumEstado,saestepertencemassuasguas.Seoriofronteirio,umade
suas margens pertencendo a um Estado e outra, a diferente, as guas so
divididas, cabendo uma parte a cada. Serve como linha divisria o talvegue,
canaldorio,asualinhademaiorprofundidade.
Os lagos, se interiores, pertencem exclusivamente ao Estado em cuja
superfcie esto contidos. Se fronteirios, as suas guas so divididas,
tomandose como referncia os pontos de encontro das fronteiras terrestres
dosrespectivosterritrios.
8.5.1.3Plataformasubmarina
Tambmintegraoterritrionacionalaplataformasubmarina.
Esta expresso foi usada pela primeira vez em documento pblico
oficialemduasproclamaesassinadaspeloPresidenteHarryTruman(1884),
quedatamde1945.
NaAntigidade,emesmonaIdadeMdia,aquestonofoifocalizada.
SomenteValin,aopublicar,em1681,suaobradenominadaNovocomentrio
sobreaordenanadaMarinha,propsfosseomarterritoriallevadoatonde
umasondanopudessetocarofundo.
A plataforma submarina pode ser definida em termos cientficos e
jurdicos.
As definies cientficas variam porque se baseiam em critrios
diferentes,taiscomo:
a) critriobatimtrico(profundidade)
b) critriomorfolgico(queconsideraascaractersticasmorfolgicas)
c) critriogeolgico
d) critriobiolgico
e) critriodaprimeiraruptura.
As definies jurdicas so mais assemelhadas. Podese citar como
padro a de Marcel Sibert: a plataforma o prolongamento do territrio
levemente inclinado, para alm do mar territorial, at a ruptura das grandes
profundidades.
Os continentes, em muitas regies, parecem assentar sobre uma
espciedebaseouplataformasubmersa,quesealongaemdeclivesuave,at
chegar a uma profundidade de cerca de 200 metros, da caindo para as
profundidadesabissais.
No Brasil, a plataforma foi integrada ao territrio nacional pelo
Decreton28.840,de08denovembrode1950.
A grande definio no campo jurdico internacional dada pela
ConvenodeGenebrade1888,cujoartigo1diz:
Aexpressoplataformacontinentaldesigna:
a) oleitodomareosubsolodasregiessubmarinasadjacentess costas,
mas situadas fora do mar territorial, at uma profundidade de 200
metros, ou, alm deste limite, at o ponto em que a profundidade das
guassobrejacentespermitaoaproveitamentodosrecursosnaturaisdas
referidasregies
b) o leito do mar e o subsolo das regies submarinas anlogas adjacentes
scostasdasilhas.
Na verdade, no existe um critrio uniforme para a delimitao da
plataforma. Pela geologia sabese que a plataforma a mesma terrestre que
constitui o continente, formada de uma parte emersa e de outra submersa. A
submersavemaseraplataformapropriamentedita.Asguasqueacobremtm
profundidaderelativamentepequena(emmdiaatolimitede200metros)em
comparaocomasprofundidadessubmarinasemaltomar.
A plataforma submarina suscita grande interesse, quer pela proteo e
exploraodasespciesanimais,querdasriquezasmineraisdofundodomar,
tais comoocarvo,oferro,e,sobretudo,opetrleo.Incorporada aoterritrio
nacionalem1950,noBrasil,ganhouopasmaisde800.000km.
8.5.1.4Espaoareo
Oquartoelementodoterritrionacionaloespaoareo,colunadear
que se levanta acima da superfcie terrestre, contnua ou descontnua, das
guasterritoriaismartimas,fluviaiselacustres.
Durante algum tempo, a ilimitao ou a limitao do espao areo foi
tema de controvrsia. Doutrinadores sustentavam que a soberania nacional
sobreeleerailimitada,prolongavaseatoinfinitoemsentidovertical.Desde
que foram lanados satlites artificiais, os fatos sobrepujaram o debate, tanto
quenenhumEstadoreclamahojecontrasatlitessobrevoaremoseuterritrio.
8.5.1.5Navioseaeronaves
Navios e aeronaves de guerra so, tambm, territrio nacional, onde
quer que estejam. Um navio de guerra brasileiro, singrando guas territoriais
brasileiras, mar alto, guas territoriais estrangeiras e mesmo ancorado em
porto estrangeiro, territrio brasileiro. Reciprocamente, um navio
estrangeiro, mesmo em guas territoriais brasileiras, ou ancorado num porto
brasileiro,territrioestrangeiro.Tudooqueneleaconteceestsujeitoleie
jurisdiodesuabandeira.
Emrelaoaosnavios eaeronavesmercantes,asituaodiversa:so
ounoterritrionacional,deacordocomasuaposio.Umnaviomercante
territrionacionalenquantoestancoradoemportonacional,singrandoguas
territoriais nacionais e em alto mar. A partir do momento em que passa a
singrar guas territoriais estrangeiras ou em que fica ancorado em porto
estrangeiro, passa a ficar subordinado legislao e jurisdio de outro
Estado.
8.5.1.6Legaesdiplomticas
O ltimo elemento integrante do territrio nacional a sede das
legaesdiplomticas.
O prdio da embaixada brasileira em Frana territrio brasileiro, e
viceversa.
em funo da extraterritorialidade de que desfrutam as sedes de
legaeseembaixadasquesedeveodireitodeasilodiplomtico.Oindivduo
sobajurisdiodeumEstado,queserefugianasededeumalegao,passaa
estar em territrio estrangeiro, onde no pode mais ser alcanado pela
autoridadedoEstadonoqualestsediadaalegao.
8.5.2Conflitodeleis
Como j vimos, no incio deste captulo, sem uma situao jurdica
parece exposta incidncia de leis de Estados diferentes, definese um
conflito de leis no espao. Para dirimilo aplicase o princpio da
territorialidade, cujo amplo sentido resulta claro da extenso jurdica do
conceito de territrio. Por exceo, admitem os Estados a aplicao da lei
estrangeira a situaes e feitos pendentes de sua jurisdio. Mister se faz,
portanto, definir os termos em que se realiza essa convivncia fora da regra
gerale,portanto,excepcional,oquefaremosaseguir.
8.5.3Evoluodadoutrina
Ao expor, em traos gerais, a evoluo da doutrina sobre o assunto,
iremosconstataraeventualpreponderncia,oradoprincpiodapersonalidade,
ora do princpio da territorialidade, conquanto atualmente no se excluam,
antessecompletem.
8.5.3.1Invasesbrbaras
O princpio da personalidade da lei, embora vigente nos primeiros
tempos do direito romano, segundo observa Ebert Chamoun, predominou na
Idade Mdia, no perodosubsequentes invases brbaras. Astribos traziam
os seus costumes,e os mantinhamnos territriosqueocupavam,respeitando,
ao mesmo tempo, os costumes, as tradies e as leis dos povos vencidos.
Habitando a mesma rea, vencedores e vencidos regiamse pelas suas
respectivaslegislaes.
SegundoMontesquieu,ocarterdistintivomesmodasleisdosbrbaros
consistiuemquesuaaplicaonoeraterritorial.
Oprincpiodapersonalidade da leifoi,porlargotempo,condiopara
garantiadaidentidadedosgrupossociais.
8.5.3.2Feudalismo
No feudalismo, o princpio da personalidade da lei foi substitudo pelo
da territorialidade, levado mais extrema ortodoxia. Aquele s pde
prevalecer enquanto os grupos humanos se conservaram isolados, embora
habitando a mesma regio. Na medida em que passaram a manter interesses
comuns,tornouseinevitvel anecessidadedeumaleicomum.
Ao tempo, o direito de propriedade e o poder poltico se enlaavam.
Essa circunstncia haveria necessariamente de conduzir ao princpio da
territorialidade.
A Europa estava fragmentada em pequenas parcelas territoriais
chamadas feudos, cada uma com o seu prprio senhor, exercendo o poder
absoluto e dispondo de direito prprio. O indivduo que se deslocava de um
deles para outro ficava completamente submetido lei deste. Isso importava
numa situao de intranqilidade e, no raro, a indefinio da prpria
condiojurdicadapessoa.
Ainseguranajurdica resultantedaaplicaoortodoxadoprincpioda
territorialidade patenteouse de maneira crtica na Itlia., retalhada em
inmerasunidadesterritoriais.Porisso,alidespontouatendnciaderevlo.
8.5.3.3Escolaestatutria
Assim nasceu a escola estatutria no sculo XIII, primeira tentativa de
soluocientficadosproblemasligadoseficciaespacialdalei.
Surgiudeum comentriodo glosadorFrancescoAccursio(11821260)
a certo texto do Direito romano. Sua interpretao teve influncia na poca,
porque, na Europa, o Direito romano era o direito comum, e os seus textos
consolidados constituam Direito Positivo. O comentarista, por um hbil
raciocnio, afirmou que se podia aplicar a um indivduo, em determinada
circunstncia, a lei de sua Nao e no a do territrio em cuja jurisdio
estava. Se sua concluso provinha, no de uma criao doutrinria, mas de
umainterpretaodoDireitoPositivo,oprecedentetornoupossveladmitirse
aaplicaoextraterritorialdalei.
Seguindo Accursio, dois grandes juristas italianos, Bartolo de
Saxoferrato (13131357) e Pietro Baldo (13191400), lanaram os
fundamentosdoutrinriosdanovaescola.
Bartolo e Baldo fizeram a distino entre estatuto pessoal e estatuto
real.
Diziam eles haver dois gneros de relaes jurdicas: umas de pessoa
parapessoaoupertinentessuaprpriacondio(famlia,estado,capacidade,
tudooquedissesserespeitopessoaemsimesma),submetidasaumestatuto
pessoal, outras com as coisas (propriedade, direitos reais e obrigacionais),
submetidas a um estatuto real. As do segundo estariam submetidas
legislao do lugar da coisa s do primeiro, lei da pessoa, que a
acompanhariaaondequerqueestivesse.Assim,ocidadodeumpasteria,em
territrioestrangeiro,afaculdadedeinvocarasualeideorigem,eajurisdio
deste a obrigao de aplicla, sempre que estivesse em jogo um direito de
naturezapessoal.
A escola estatutria, do sculo XIII ao XVII, obteve imenso prestgio
em toda a Europa. A integridade do sistema veio a ficar comprometida pela
impossibilidade de, em certas situaes, determinarse a sua caracterstica
pessoal ou real. Se h situaes marcadamente pessoais, como o direito
emancipao conseqente da idade, e outras, assinaladamente reais, como a
extenso dos direitos concedidos ao proprietrio, existem terceiras em que o
aspectopessoaleorealmostramsemesclados. Assim,nodireitohereditrio,
ovnculojurdicotemnaturezapessoal,masincidesobrecoisas,e,portanto,o
direito que dele emerge real. Para enfrentar a dificuldade, a escola admitiu
um estatuto misto, compatvel com essas situaes eclticas. No obstante,
esseestatutomistoabalavaabasedoutrinriadadicotomia,porqueinvalidava
oseuprpriofundamento.
8.5.3.4Escolaflamenga
No sculo XVII, a escola estatutria continuo prestigiosa, porm a
doutrina sofreu transformao, sob a influncia da escola holandesa ou
flamenga,naqualsedestacamos nomesdeUlrichHuber(16361694)ePaul
Voet(16471714).Aalteraonoinvestiu,propriamente,contraasfrmulas
que aquela havia oferecido, sim contra o fundamento das suas solues.
Propsse novo fundamento, despido de mrito cientfico, o que representou
umretrocessonadoutrina.
Para a nova escola, que refletia uma poca de intenso nacionalismo na
Holanda, os Estados deveriam aplicar sua lei soberanamente em todo o seu
territrio, a nacionais e a estrangeiros, assim como a quaisquer relaes,
pessoasebens sujeitos suajurisdio. Noentanto,podem,porumaquesto
de gentileza internacional, comitas gentium, aceitar a lei estrangeira, no por
uma imposio doutrinria, mas sim meramente por um ato de gentileza
poltica,o que redundaria no princpio da reciprocidade. O Estado tolerariaa
lei estrangeira no seu territrio, quando ela fosse a de um Estado que, a seu
turno,aceitasseadele.
8.5.3.5Savigny
FoijnosculoXIXquesedeurealmenteumgrandepassonamatria.
Devemolo a Savigny, que lanou as bases do Direito Internacional Privado
Moderno.
Savigny afirmava que, na medida em que o mundo evolui, em que os
povos se aproximam, em que as relaes jurdicas se internacionalizam,
passando a se estabelecer entre indivduos sujeitos jurisdio de vrios
Estados, ultrapassando fronteiras territoriais, o princpio da territorialidade
dasleistornaseanacrnico,devendosersubstitudospelodacomunidade de
direito. Todos os indivduos teriam de ser reconhecidos na sua condio
humanamesma,tendoosEstadosaobrigaodeaceitarumarealcomunidade
dedireitoexistenteentreospovos.
Quando o jurista examinasse uma situao em que a presena de um
elemento estrangeiro originasse conflito de leis, no deveria atender
distino entre nacionais e estrangeiros, mas analisar a natureza mesma da
relaojurdica.Aleiaplicvelnodeveriatersenoessefundamento.
Tendoqualquerrelaojurdicaumasede,aleiquesedeveaplicar,de
acordocomasuapeculiarnatureza,adestasede.
Asleisdeaplicaopossvelseriam:adodomiclio,adolugardacoisa,
adolugardoatoeadolugardoforo,aplicadas,respectivamente,aoestadoe
ao matrimnio, aos direitos reais, s obrigaes (lugar de execuo) e ao
direitosucessrio.
8.5.3.6Mancini
Veioa doutrinade Savigny asofrercontestao,ainda nosculo XIX,
do internacionalista italiano Pascoale Estanislao Mancini (18171888), que
lanouateoriadanacionalidade.
Dizia Mancini que o Estado, ao julgar da aplicao da sua prpria lei,
tem de constatar que h matrias em que prevalecem interesses de ordem
pblica,emrelaosquaisaaplicaodeveserterritorial.
Nas situaes em que existe apenas o interesse individual, os prprios
indivduos podem escolher a lei que entenderem. Mas h relaes jurdicas
que,nosendodeordempblica,so,todavia,incompatveiscomessaplena
franquia.Porexemplo,aleiqueregeoestadocivil,acapacidade,odireitode
famlia, mais de interesse individual do que social entretanto, no se pode
admitir que algum seja casadonum pas e solteironoutro, aqui maior, acol
menor, aqui capaz, alm incapaz. Semelhantes situaes devem ter regime
legalestvel.Paraessaterceiraclassedesituaesaleideveserpessoalpara
Savigny,odomiclioerapessoal,enquantoparaMancinieranacional.
J agora se v que o princpio da personalidade s tem de invarivel a
afirmativadequea leipessoalregecertosinteressesdoindivduo. Mas saber
qualdevaserensejaasubdiviso:leidomiciliar,leinacional.
preponderante hoje o entendimento de que a lei pessoal deva ser a
domiciliar, porque o domiclio liame mais constante, de mais fcil
determinaoe maissignificativoparaapessoadoqueanacionalidade. Esta,
s vezes, de determinao difcil, havendo pessoas que tm mais de uma e
outrassemnenhuma.
Alm disso, o vnculo domiciliar mais significativo. No Brasil, h
estrangeiros domiciliados h dezenas de anos. Seria absurdo que esses, cuja
vida transcorreu quase toda no Brasil, pudessem, aps tantos anos, invocar a
sualegislaonacional.
8.5.3.7Pillet
AntoinePilletpropeumateoriaoriginal. Reputaaaplicaoterritorial
da lei decorrncia necessria do respeitosoberania dosEstados, que devem
aplicaraomximoasualegislaointernaereduziraomnimoasexceesa
estaregra.
Para esse mximo de aplicao mister se faz sejam alcanadas
generalidade e permanncia. A generalidade obtmse pela aplicao do
direito interno a todas as pessoas em territrio nacional. A permanncia,
aplicandooaosjurisdicionadosemqualquercircunstnciaoulugar.
No entanto, essas pretenses (generalidade e permanncia) so
conflitantes. O mximo da generalidade gera o mnimo de permanncia e o
mximo de permanncia, o mnimo de generalidade. A soluo est em
conciliarosdoisobjetivos.Imperaumaleiinterna,demaneirageral,quandoa
importncia da generalidade domina a da permanncia. E impera o direito
interno de modo permanente, quandoa importncia depermanncia superaa
dageneralidade.
Dois exemplos nos habilitaro a compreender em que consistem essas
convenincias. Tomemos as normas relativas situao dos menores.
evidente que falhariam sua finalidade se no se lhes aplicassem
permanentemente.OEstado,paraasseguraraconstnciadasualeiemrelao
aos seus cidados, admite a aplicao da lei estrangeira aos nacionais de
outrosEstados. Em outras situaes, a convenincia oposta. Ento,convm
ao Estado aplica a sua legislao a nacionais e estrangeiros, indistintamente
(generalidade),aindaqueosseuscidados,emterritriodeoutropas,fiquem
privadosdeinvocarasuaprprialei.
A importncia maior da generalidade ou da permanncia verificase
pelaanlisedoobjetosocialdalei.
8.6EFICCIADALEINOTEMPO
As leisatendemanecessidadessociais cambiantes.Consequentemente,
tmcomeoefim.
Avignciadeumaperduraatqueoutravenhaarevogla.
8.6.1Conflitodeleis
A aplicao das leis no tempo enseja conflitos quando uma relao
jurdica se constitui, ou um direito se adquire no regime de uma lei, e mais
tardevmaserobjetodeoutra.
Perguntase:continuaodireitoaseregularpelaleidotempoemquefoi
adquirido, e a relao produzir efeitos, tal como previsto na lei anterior? Ou
atingealeinovatodasasrelaesesituaessobreasquaisdispe?
A propsito, defrontamse os princpios da irretroatividade e da
retroatividade,constitudosemregraeexceo.
8.6.1.1 Princpios
Em apoio ao princpio da irretroatividade, invocase a necessidade de
segurana das relaes jurdicas. O indivduo que pratica um ato de acordo
comofigurinolegaldeveficartranqiloquantosuaeficcia.
O princpio da irretroatividade, porm, no radical e em nossos dias
sofregrandesrestries,porqueoseufundamentofilosficoindividualista,o
quetemalgodedecadente.Na medidaemqueseacentuaessedeclnio, vaia
irretroatividadeganhandomaisflexibilidadeeseesvaziandodarigidezinicial.
Consoante o princpio oposto, o da retroatividade, as leis devem
acompanhar as transformaes sociais. Se toda lei aceitasse o quanto se fez
sob a anterior, respeitando cegamente as situaes constitudas, as alteraes
sociais seriamprofundamenteprejudicadas, porque a eficciaefetivada nova
leis poderseiaafirmaraprazomuitolongo. Apardisso, presumesequeo
legislador,estatuindoleinova,atendamelhoraoimperativodomomento.
Nemsedeveadmitir,acentuaMeltadesTheodosiads,citadoporBento
de Faria (18751959), que a orientao do sistema de uma poca constitua
paradigmaparalimitaropensamentoeaculturadasgeraesporvindouras.
8.6.2Conceitojurdicodairretroatividade
O princpio da irretroatividade pode ter apenas feio lgica. Se
dizemos que uma lei s se aplica depois de entrar em vigor, no estamos
expressandoqualquerprincpiojurdico,maslgico.
A irretroatividade, na sua formulao jurdica clssica, no se traduzia
neste enunciado exigia que a situao jurdica constituda ao tempo de uma
leicontinuasseaseregerporela,aindaquejrevogada.
Suponhamos que em trs anos consecutivos tivssemos tido trs leis,
uma em cada ano, sobre locao de prdios urbanos. De acordo com o
dogmtico princpio da irretroatividade, no ltimo dos trs anos, quando j
revogadas as leis dos dois anteriores, o juiz aplicaria essas leis revogadas s
locaes que ao seu tempo se tivessem constitudo. Assim, a lei anterior
invadiriaotempodaposterior.
Atualmente, a irretroatividade tem frmula menos rigorosa, ligada
anlise mais justa da matria e imposta pelas necessidades da poca, que
reclamamrapidezdemudana.
8.6.2.1Naturezapositiva
Airretroatividadepodeserumprincpioconstitucional,deleiordinria,
ou simplesmente doutrinrio. Na mesma ordem, ser mais ou menos rgida a
suaaplicao.
Se constitucional, no ser somente o juiz a ficar proibido de aplicar
as leis retroativamente tambm o legislador no poder promulgar leis que
tenhamefeitoretroativo.
Se de lei ordinria, obriga ao juiz, que est sujeito norma legal ao
legislador, no. Sendo a lei irretroativa, o juiz no pode aplicla
retroativamente,porquehnormageralqueoprescrevemasseretroativa,ele
assim a aplica porque, sendo lei ordinria, do mesmo nvel hierrquico da
outra.
Se apenas doutrinrio, os juizes aplicam a lei de acordo com a
interpretao que lhes parece mais idnea, retroativa ou irretroativamente,
considerando a sua finalidade e a convenincia de seu emprego mais ou
menosinflexvel.
8.6.3Doutrina
Oprincpio da irretroatividade no absoluto. Se o fosse,contradiriaa
imperiosidade de reforma legislativa. A doutrina procura determinar o seu
limite, indicandoos casos emquea leideve ter eficciatotal, ainda que esta
representeexceoirretroatividade.
Quatro teorias parecem mais importantes: a de Savigny, a dos direitos
adquiridos,adeJulienBonnecasse(18781950)eadePaulRoubier.
8.6.3.1Savigny
Para Savigny, as leis devem ser irretroativas quando dispem sobre a
aquisio de direitos, a maneira de adquirilos se sobre a prpria existncia
dos direitos,devemter vignciatotal,imediata,ealcanartodasas situaes,
aindaqueselhespreciseatribuir,paraisso,eficciaretroativa.
Figuremos uma lei que regule sobre como adquirir a propriedade do
solo. Se lei nova vem modificar as condiesanteriormente exigidasparatal
fim,elarespeitarodireitodosadquirentessoboregimedaantecedente.
Mas se declarasse extinta a propriedade privada da terra, sua eficcia
seria total. Ningum poderia alegar, contra ela, que havia adquirido terra
precedentemente sua vigncia. No Brasil, a lei que aboliu a escravaturafoi
dessa natureza. Os escravos haviam sido negociados em forma legal. No
entanto, no momento em que a escravido foi suprimida, ningum podia
invocar,aseufavor,parasemantercomosenhordeescravos,ofatodeosTer
compradoanteriormenteleinova.
8.6.3.2Direitosadquiridos
Ateoriadosdireitosadquiridosdesfrutoudeextraordinrianotoriedade,
incorporandose legislao de muitos pases, inclusive nossa. adotada
porum nmeroapreciveldeautores, embora algunsdestesa formulemcom
caractersticas prprias. No seu patrocnio destacamse Lassale, Carlo
Francesco Gabba e, principalmente, seu mais autntico representante, G.
MariePierreGabrielBaudryLacantinerie(18371913).
A teoria encerra, na sua essncia, uma afirmativa no sentido
profundamente impreciso: o princpio da irretroatividade resolvese no
respeito aos direitos adquiridos. Lei nova, versando sobre situao jurdica
objeto de lei anterior, aplicase at onde no importe ofensa ao direito
adquirido.Somenteseapessoaestemmeraexpectativadedireitoqueaela
seaplica,semquenadalhecaibaargir.
SegundoBaudryLacantinerie,oconceitodedireitoadquirido,quefoie
continua sendo muito discutido, eqivale ao da faculdade exercida. A ordem
jurdicaconcedenosfaculdade de agir. Dependedanossa vontade exerclas
ou no. Se, assegurada uma faculdade, algum a exerce, e surge lei
suprimindoa ou alterandoa, esta no atingir o direito que pelo exerccio
daquelatenhasidoadquirido.
A teoria incorporouse ao nosso Cdigo Civil, para o qual o direito
adquirido aquele que o seu titular pode exercer, ou cujo exerccio depende
decondiooutermoinalterveisaarbtriodeterceiro.
A teoria dos direitos adquiridos, dentro da doutrina geral da
irretroatividade,umadasfrmulasmaisradicaisdoindividualismojurdico.
Faltalhe,tambm,basedoutrinria,porque,arigor,aexpressodireito
adquirido ilgica. Ou o indivduo adquiriu o direito e o tem, ou no o
adquiriuenootem.
Alm disso, as restries ao princpio da irretroatividade alcanam
exatamente os direitos adquiridos, porque em situaes em que no os haja
no existem dificuldades. Se h simples expectativas, a lei ao se aplicar de
maneiraplena,noatritacomoprincpiodairretroatividade.
8.6.3.3Bonnecasse
Bonnecasse, para distinguir os casos em que a lei deve ter aplicao
irretroativa daqueles em que pode ser aplicada sem restries, discriminou
entresituaesjurdicasabstratasesituaesjurdicasconcretas.
Uma situao jurdica abstrata puramente terica e eventual. Numa
situaojurdicaconcretah,aocontrrio,algoderealizadoeatual.ODireito
prev situaes que no seconstituem porsi mesmas, mas que dependemde
um fato ou da iniciativa do indivduo. S se formam por uma espcie de
resultado fecundador da vontade individual e dos fatos. Enquanto a vontade
noseenunciaouofatonoserealiza,asituaoabstrata,potencial,terica,
poder ou no vir a se configurar. A partir do momentoem queocorre oato
ou o fato que a norma prev como capaz de desencadear os seus efeitos,
aquela situao terica e potencial transformase noutra efetiva, real e
concreta.
Se a lei nova dispe sobre uma situao jurdica, h que distinguir as
pessoasparaasquaiselaerasimplesmenteabstratadaquelasparaasquaisera
concreta.Norespeitasituaesjurdicasabstratas,sasconcretas.
Um exemplo torna clara a distino. Entre pessoas vivas, a situao
hereditria, decorrente do parentesco, uma situao jurdica abstrata, uma
vez que ainda no ocorreu o fato que a transformaria em jurdica concreta, a
mortedeumadelas.
Se uma lei suprimisse os colaterais de entre os herdeiros, irmos que
estivessemvivosnopoderiamalegar,pelamorteulteriordeumdeles,que,ao
tempo em que viviam, a lei reconhecia entre eles a sucesso hereditria,
porque todos estavam numa situao abstrata. Mas se a lei encontrasse j se
processando a transmisso hereditria de um irmo a outro, ela no a
prejudicaria, porque a morte havia transformado a situao abstrata noutra
concreta.
8.6.3.4PaulRoubier
Atualmente, a doutrina da irretroatividade vem sendo gradualmente
contida em limites bastantesrestritos. Um dos autores que mais contriburam
para dar ao princpio uma dimenso compatvel com as necessidades de
transformao legislativa, expurgandoo do gigantismo que havia assumido
empocasdeprofundoindividualismo,foiPaulRoubier.
Diz Roubier que quanto uma lei entra em vigor atinge os efeitos de
todososatosesituaesqueencontre,semterporissoalcanceretroativo,to
somente imediato. Para ter eficcia retroativa necessrio ir de encontro ao
passado, sacrificando efeitos consumados. A lei, defrontandose com uma
situaojurdicaconstitudaeatingindoapenasosseusefeitosfuturos,mesmo
modificandoos,noserretroativa.
Sotrsosefeitosdalei:retroativo,imediatoediferido.
retroativo, quando se estende a efeitos de situaes criadas
anteriormente.Essaaplicaodesaconselhada,porqueinfringeumaregrade
seguranajurdica.
imediato, quando a lei nova alcana os efeitos futuros dos atos
jurdicos,mesmoconstitudossobleianterior,sendoissonormal.
Porexceo,umaleipodeterosseusefeitos diferidos paraotempode
outra ulterior, se esta aceita que uma situao jurdica constituda ao tempo
daquelacontinueaproduzirefeitossoboregimedela.Esteoefeitodiferido:
leijrevogadaaindaaplicada,notempodevignciadeleinova,justamenteo
queoutroraseentendiaporirretroatividade.
Bibliogr afia Consultada
ACCIOLY, Hildebrando. Tratado de Direito Internacional Pblico. Rio de
Janeiro:Imp.Nacional,1933.
ADLER,Alfred.ACinciadaNaturezaHumana.Trad.GodofredoRangel&
AnsioTeixeira.SoPaulo:Nacional,1939.
AFTALIN, Enrique, OLANO, Garca, & Vilanova, Jos. Introduccin al
Derecho.B.Aires,Lib.ElAteneo,1956.
AHRENS, Heinrich.HistoriadelDerecho.Trad.Francisco Giner& Augusto
G.deLinares.B.Aires,Impulso,1945.
ALAS,Leopoldo.PrefcioaALutapeloDireito,deR.vonJhering.
ALEXANDER, Franz & Staub, Hugo. O Criminoso e Seus Juizes. Trad.
LeondioRibeiro.RiodeJaneiro:Guanabara,1934.
ALMEIDA, Lacerda de. Das Pessoas Jurdicas. Rio de Janeiro: Ver. Dos
Tribunais,1905
_______DireitodasCoisas.RiodeJaneiro:J.R.dosSantos,1908
_______Sucesses.RiodeJaneiro:Ver.DosTribunais,1915
ALVAREZ, Angel Gonzlez. Manual de Historia de la Filosofa. Madrid,
Gredos,1964.
ALVESdaSilva. IntroduoCinciadoDireito.SoPaulo,1953.
ALVIM, Agostinho. Da Inexecuo das Obrigaes e suas Conseqncias.
SoPaulo:Saraiva,1955
ARISTTELES. Politique. Trad. J. B. Saint Hilaire. Paris, Lib. Ph. De
Ladrange,1874.
_______. A tica de Nicmaco. Trad. Cssio M. da Fonseca, So Paulo:
Athena,1940.
_______ Metafsica.Trad.PatrciodeAzcrate.Buenos Aires:EspasaCalpe,
1944
_______ARepblicaAteniense.Trad.A.S.Costa.RiodeJaneiro:Mandarim,
s.d.
ASCOLI,Max.LaInterpretacindelasLeyes.Trad.RicardoSmith.B.Aires,
Losada,1947.
_______. La Concepcin del Derecho. Trad. Marcelo Finzi. B. Aires,
Depalma,1947.
ASTRADA,Carlos.Temporalidad.BuenosAires:CulturaViva,1943
AYALA,Francisco.El ProblemadelLiberalismo.Mxico:FondodeCultura
Econmica,1941
AZEVEDO, Fernando de. Princpios de Sociologia. So Paulo: Nacional,
1944
AZEVEDO, Juan Llambias de. Eidtica y Aportica del Derecho. B. Aires,
EspasaCalpe,1940.
AZEVEDO MARQUES, J. M. de. A Ao Possessria no Cdigo Civil
Brasileiro.SoPaulo:1923
BACON, Francis. Novum Organum. Trad. D. Francisco Gallach Pals.
Madrid,EspasaCalpe,1933.
BALEEIRO, Aliomar. Uma Introduo Cincia das Finanas. Rio de
Janeiro:Forense,1958
BARBALHO,Joo.ConstituioFederalBrasileira.RiodeJaneiro:Briguiet,
1924
BARBI, Celso Agrcola. A Ao Declaratria no Processo Civil Brasileiro.
BeloHorizonte:1962
BARBOSA,Rui.PossedeDireitosPessoais.RiodeJaneiro:Simes,1950
BARRENECHEA, Mariano Antonio. El Escepticismo Contemporneo.
BuenosAires:S.A.Argentina,1922
BARRETO,Tobias.FilosofiaeCrtica.Ed.Est.DeSergipe.1926.
_______.EstudosdeDireito.Ed.Est.deSergipe,1926.
BARTHLEMY, Henri. Trait lmentaire de Droit Administratif. Paris:
Rousseau&Fils,1920
BARTHLEMY,Joseph,PrcisdeDroitConstitutionnel.Paris,Daloz,1938.
BATALHA, Wilson de Sousa Campos. Introduo ao Direito. S. Paulo, Ed.
Ver.DosTribunais,1967.
_______.LeideIntroduoaoCdigoCivil.SoPaulo,MaxLimonad,1957.
BATISTA,Paula.CompndiodeTeoriaePrtica.SoPaulo:Saraiva,1935
_______. Compndio de hermenutica jurdica. In : Compndio de Teoria e
Prtica.SoPaulo:Saraiva,1935
BAUDIN, Louis. A Moeda. Trad. Abelardo V. Csar. So Paulo: Martins,
1940
BAUDRYLACANTINERIE & HOUCQUESFourcade. Trait Thorique et
PratiquedeDroitCivil.Paris:Sirey,1900
BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Trad. Paulo M. Oliveira. S.
Paulo,Atena,1959.
BEC, Ricardo & MOUCHET, Carlos. Introduccin al Derecho. B. Aires,
Depalma,1953.
BERDIAEV,Nicolai.UmaNovaIdadeMdia.Trad.TassodaSilveira.Riode
Janeiro:J.Olmpio,1936
BERGSON,Henri.LvolutionCratrice.Paris:FlixAlcan,1934
_______,LnergieSpirituelle.Paris,PressesUniversitaires,1940
BERNARD, Claude. La Science Exprimentale. Paris, Lib. J. B. Baillire &
Fils,1918.
BEVILQUA, Clovis. Teoria Geral do Direito Civil. Rio, Liv. Francisco
Alves,1929.
_______. Cdigo Civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro:
FranciscoAlves,1931
_______. DireitodeFamlia.RiodeJaneiro:FranciscoAlves,1933.
_______.DireitodasObrigaes.RiodeJaneiro:FreitasBastos,1931.
_______.DireitodasSucesses.RiodeJaneiro:FreitasBastos,1932.
_______.LegislaoComparada.Bahia,J.L.daFonsecaMagalhes,1897.
_______JuristasFilsofos.Bahia:J.L.daFonsecaMagalhes,1897
_______.EstudosJurdicos,RiodeJaneiro:FranciscoAlves,1916.
_______. Direito Pblico Internacional. Rio de Janeiro: Francisco Alves,
1910.
BLANCO, Pablo Lopez. La Ontologa Jurdica de Miguel Reale. So Paulo,
Saraiva,1975
BLAU,Joseph. Homens e Movimentos na Filosofia Americana. Trad. E. C.
Caldas.RiodeJaneiro:Ver.Branca,s.d.
BODENHEIMER, Edgar. Cincia do Direito. Trad. Ens Marzano. Rio,
Forense,1966.
BOINET,E.LesDoctrinesMdicalesetLeurvolution.Paris,Flammarion,s.
d.
BOIRAC,E.LeonsdeMorale.Paris,FlixAlcan,1911.
BOISTEL, Alphonse. Cours de Philosophie du Droit. Paris, A. Fontemoing,
1899.
BOLLNOW, Otto Friedrich. Filosofia Existencial.Trad.Cabral de Moncada.
SoPaulo:Saraiva,1946
BONNECASSE,Julien.PrcisdeDroitCivil. Paris,Rousseau%Cia.,1938.
BORGA,ErnestoEduardo.CienciaJurdicaoJurisprudenciaTcnica.Bueno
Aires:Soc.Bib.Argentina,1943
BOSON, Gerson de Brito Melo. Internacionalizao dos Direitos Humanos.
SoPaulo:Sug.Literrias,1943
BOURDEAU, Louis. Thorie des Sciences. Paris, Lib. J. B. Baillire & Fils,
1882.
BOUTROUX, mile. William Janes y su Filosofa. Trad. Marco Falco
Espalter.Montevideo:Garcia&Cia.,1943
BOVIO,Giovanni.FilosofadelDiritto.Roma,L.Roux,1892.
BRHIER,mile.HistoiredelaPhilosophie.Paris,FlixAlcan,s.d.
BRENTANO, Franz. El Origen del Conocimiento Moral. Trad. Manuel G.
Morente.Rev.DeOccidente,Madrid,1941.
_______.Psicologia.Trad.JosGaos.B.Aires,Schapire,s.d.
BRITO, Farias. A Verdade como Regra das Aes. Belm, Tavares Cardoso,
1905
_______OMundoInterior.RiodeJaneiro:Ver.DosTribunais,1914
BRUERA,JosJuan.ElConceptoFilosficoJurdicodeCausalidad.Buenos
Aires:Depalma,1944
BORDEAU, Georges. Droit Constitutionell et Institutions Politiques. Paris:
Lib.Gn.DeD.etJur.,1974
CAIRNS,Huntington.LaFilosofiaDesdelaTeoraGeneraldelDerecho.In:
Cairns & outros. El Actual Pensamiento Jurdico Norteamericano.
BuenosAires:Losada,1951
CMARALeal,Antnioda.DaPrescrioedaDecadncia.RiodeJaneiro:
Forense,1959
CAMPOS, Francisco. Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Freitas Bastos,
1950
CAPDEVILA,Arturo.ElOrienteJurdico.BuenosAires:A.Lopes,1942
CAPITANT, Henri. Introduction a Ltude du Droit Civil. Paris, Pedona,
1921.
_______.DelaCausadelasObligaciones.Trad.Eug.TarragatoYContreras.
Madrid,Gongora,1927.
CARBONNE,M.FilosofadelDerecho.B.Aires,Sann,1943.
CARDOSO DE GUSMO, Sady. Negcio jurdico. In: Repertrio
EnciclopdicodoDireitoBrasileiro,RiodeJaneiro:Borsoi,v.34,s.d.
CARNELUTTI, Francesco. Teora General del Derecho. Trad. Carlos G.
Posada.Ver.DeD.Privado,Madrid,1941.
_______.InstitucionesdelNuevoProcessoCivilItaliano.Trad.JaimeGuasp.
Barcelona,Bosch,1942.
CARREIRO, Carlos Porto. Lies de Economia Poltica e Noes de
Finanas.RiodeJaneiro:Briguiet,1931
CARREIRO, C. H. Porto. Notas sobre Filosofia do Direito. Rio de Janeiro:
Alba,s.d.
CARVALHO DE BRITO, Antonio Ramos. Sistema de Hermenutica
Jurdica.RiodeJaneiro:FranciscoAlves,1927
CARVALHO DE MENDONA, J. X. Tratado de Direito Comercial. Rio,
FreitasBastos,1933.
CARVALHODEMENDONA,M.I.DoUsufruto,do Uso edaHabitao.
RiodeJaneiro:A.CoelhoBranco,s.d.
_______AVontadeUnilateraldosDireitodeCrdito.RiodeJaneiro:Freitas
Bastos,1940
CARVALHO SANTOS, J. M. de. Cdigo Civil Brasileiro Interpretado. Rio
deJaneiro:FreitasBastos,1928
CASAS,ManuelGonzalo.IntroduccinalaFilosofa.Madrid:Gredos,1963
CASO,Antonio.Positivismo,NeopositivismoyFenomenologa.Mxico:Cia.
Gen.S.A.,1941
CASTRO,Torquato.AoDeclaratria.SoPaulo:Saraiva,1942
CATHREIN, Viktor. Filosofa del Derecho. Trad. Alberto Sardon & Cesar
Barja.Madrid,Reus,1941.
CAVALCANTI, Amaro. Responsabilidade Civil do Estado. Rio de Janeiro:
Borsoi,1957
CAVALCANTI, Themstocles Brando. Tratado de Direito Administrativo.
Rio,FreitasBastos,1948.
_______.QuatroEstudos.Rio,FundaoGetlioVargas,1954.
_______.PrincpiosGeraisdoDireitoPblico.Rio,Borsoi,1966.
_______. Sociedade de Economia Mista, sua Natureza. Revista de Direito
Administrativo,v.103.
CELMS,Theodor.ElIdealismoFenomenolgicodeHusserl.Trad.JosGaos.
Madrid:Ver.DeOccidente,1931
CHAMOUN,Ebert.InstituiesdeDireitoRomano.Rio,Forense,1951.
CHEVALIER,Jacques.Lhabitude. Paris,Boivin&Cia.,1929.
CHIOVENDA, Giuseppe. Instituies de Direito Processual Civil. Trad. J.
GuimaresMenegale.S.Paulo,Saraiva,1942.
CLAYTON, James E. O Direito em Ao. Trad. Min M. L. Irlandini. Rio,
Forense,1966.
COELHO Da Rocha. Instituies de Direito Civil Portugus. Rio, Garnier,
1907.
COGLIOLO, Pietro. Filosofia do Direito Privado. Trad. Henrique de
Carvalho.Lisboa,Liv.Clssica,1915.
COMTE, Auguste. Cours de Philosophie Positive.Paris: Lib. Ch. Delagrave,
s.d.
CONSENTINI,Francesco.FilosofadelDiritto.Torino,Ditta&Comp.,1914.
COPELLO, Mario Alberto. La Sanciny el Premioenel Derecho. B. Aires,
Losada,1945.
COSSIO,Carlos.LaPlenituddelOrdenJurdico.B.Aires,1939.
_______.TeoradelaVerdadJurdica.B.Aires,Losada,1954.
_______. El Substrato Filosfico de los Mtodos Interpretativos. Santa F,
1940.
_______ Hans Kelsen. In: Anales de la Facultad de Ciencias Jurdicas Y
SocialesdelaUniversidaddelaPlata.LaPlata,1941.
COSTFLORET, Alfred. Les Problmes Fundamentaux du Droit. Paris,
Dalloz,1946
COWAN, Thomas A. Ms All del Pragmatismo Jurdico. Trad. Roberto J.
Vernengo.In:Cairns&outros.
_______ El Actual Pensamiento Jurdico Norteamericano. Buenos Aires:
Losada,1951
CRESSON, Andr.Situao Atual dos Problemas Filosficos.Trad. Roberto
J.CruzCosta.SoPaulo:Melhoramentos,s.d.
CRETELLJR.,Jos.CursodeFilosofiadoDireito.SoPaulo:J.Buschatsky,
1967
_______ Direito Administrativo do Brasil. So Paulo: Ver. Dos Tribunais,
1961
_______TratadodeDireitoAdministrativo.RiodeJaneiro:Forense,1966
CROCE, Benedetto. Filosofia Prtica. Trad. Edmundo Gonzlez Blanco.
Madrid:FranciscoBeltrn,1927
CRUET,Jean.AVidadoDireitoeaInutilidadedasLeis.Lisboa:J.Bastos&
Cia.,1908
CRUZCOSTA.AFilosofianoBrasil.PortoAlegre:Globo,1945
CUNHA GONALVES, Lus da. Tratado de Direito Civil. Rio, Max
Limonad,1956.
CUVILLIER, Armand. Abc da Psicologia. Trad. J. B. Damaso Pena. So
Paulo:Nacional,1934
DABIN,Jean.LeDroitSubjectif.Paris,Dalloz,1952.
DANZ, Erich. A interpretao dos Negcios Jurdicos. Trad. Fernando de
Miranda.S.Paulo,Saraiva,1941.
DARWIN, Charles. Essai Sur Lorigine des Espces. Trad. Aug. Lameere.
Paris:LaRenaissanceduLivre,s.d.
_______ A Descendncia do Homem e a Seleo Sexual. Rio de Janeiro:
Marisa,s.d.
DEANE,Phillys.ARevoluoIndustrial.Trad.MetonPortoGadelha.Riode
Janeiro:Zahar,1969
DEBRUN,Michel.OFatoPoltico.Rio,FundaoGetulioVargas,1962.
DELICATO, Fioravante. Introduo Cincia do Direito. So Paulo: J.
Buschatsky,1971
DELLEPIANE,Antonio.Estudos de FilosofaJurdicaySocial.B.Aires, V.
Abeledo,1907.
DEL VECCHIO, Giorgio. Derecho y Vida. Trad. E. Galan y Gutierrrez.
Barcelona,Bosch,1924.
_______.SobreosPrincpiosGeraisdeDireito.Trad.ClovisBevilqua.Ver.
DeCrticaJudiciria,Rio,1937.
_______. Verdad y Engao en la Moral y en el Derecho. Trad. E. Galan.
Madrid,Reus,1943.
_______. El Concepto del Derecho. Trad. Mariano Castao. Madrid, Reus,
1914.
_______.Filosofiadel Derecho.Trad. L. Recasns Siches. Mxico,Uteha, s.
d.
DESCARTES, Ren. Discurso del Mtodo. Trad. R. Frondizi. Madrid, Ed.
Ver.DeOccidente,1954.
DEWEY,John.LiberdadeeCultura.Trad.EustquioDuarte.RiodeJaneiro:
Ver.Branca,1953
DIAS,AdahylLoureno.AConcubinaeoDireitoBrasileiro.RiodeJaneiro:
F.Bastos,1961
DILTHEY, Wilhelm. Hombre y Mundo en los Siglos XVI y XVII. Trad.
EugenioImaz.Mxico,FondodeCulturaEconmica,1944.
DINIZ,Almquio.IntroduoeParteGeral.Rio,Liv.FranciscoAlves,1921.
_______TratadodeTeoriaePraxedoDivrcioBrasileiro.RiodeJaneiro:J.
R.dosSantos,1916
DORADO, Pedro. Valor Social de Leyes y Autoridades. Barcelona: Calpe,
1928
DURKHEIM, mile. La Sociologa y las Reglas del Mtodo Sociolgico.
Trad.JulioMeza.SantiagodeChile,Cultura,1937.
ENGELS, Friedrich. A Origem da Famlia, da Propriedade Privada e do
Estado.RiodeJaneiro:Alba,s.d.
ENGISEH, Karl. Introduo ao Pensamento Jurdico. Trad. J. Baptista
Machado.Lisboa,Fund.Gulbekian,s.d.
ESMEIN, A. Cours lmentaire Dhistoire du Droit Franais. Paris, Sirey,
1925.
_______. lments du Droit Constitutionnel Franais et Compar. Paris,
Sirey,1914.
ESPNOLA,Eduardo.SistemadeDireitoCivilBrasileiro.Rio,Liv.Francisco
Alves,1912.
ESPNOLA, Eduardo & Espnola Filho, Eduardo. A lei de Introduo ao
CdigoCivilBrasileiro.Rio,FreitasBastos1943.
_______.TratadodeDireitoCivilBrasileiro.Rio,FreitasBastos,1939.
ESPNOLA FILHO, Eduardo. Repertrio Enciclopdico do Direito
Brasileiro.V.25.25.Integraodeordemjurdica.
_______. Direito subjetivo. In : Repertrio Enciclopdico do Direito
Brasileiro.Rio,Borsoi,s.d.v.17.
ESTVE,Jacques.LaChoseJuridique.Paris,Sirey,1936.
FACIO, Jorge Peirano. Responsabilidad Extracontratual. Montevideo, B. y
Ramos,1954.
FARIA,Bentode.AplicaoeRetroatividadedaLei.Rio.A.CoelhoBranco,
1934.
FERNANDES, Adauto. Introduo Cincia do Direito. Rio de Janeiro: A.
CoelhoBranco,1937
FERNANDO COELHO, Luiz. Teoria da Cincia do Direito. So Paulo:
Saraiva,1974
FERRARA, Francesco.Teora de las PersonasJurdicas.Trad. E. Ovejeroy
Maury.Madrid,Reus,1929.
_______. Interpretaao das Leis. Trad. Manuel Andrade S. Paulo, Saraiva,
1940.
_______ A Simulao dos Negcios Jurdicos. Trad. A. Bossa. So Paulo:
Saraiva,1939
FERREIRA, Pinto. Curso de Direito Constitucional. Rio, Freitas Bastos,
1964.
FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Mercantil Brasileiro. S. Paulo,
Ed.S.Paulo,1934.
_______. InstituiesdeDireitoComercial.Rio,FreitasBastos,1947.
FERRI, Enrico. La Sociologie Criminelle. Trad. Len Terrier. Paris, Flix
Alcan,1905.
_______. Princpios de Direito Criminal. Trad. Luz dOliveira. S. Paulo,
Saraiva,1931.
FICHTE, J. G. Primera y Segunda Introduccin a la Teora de la Ciencia.
Trad.JosGaos.Madrid:Ver.DeOccidente,1934
FIORE,Pasquale.Le DroitInternationalPriv.Trad.Charles Antoine.Paris,
A.Pedone,1907.
FISCHER, Hans Albrecht. A Reparao dos Danos no Direito Civil. Trad.
AntniodeArrudaFerrer.SoPaulo:Saraiva,1938
FONSECA,ArnoldoMedeirosda.CasoFortuitoeTeoriadaImpreviso.Rio,
ImprensaNacional,1943.
FONSECA, Roberto Piragibe da. Introduo ao Estudo do Direito. Rio,
FreitasBastos,1964.
FONSECA, Tito Prates da. Autarquias Administrativas. So Paulo: Saraiva,
1935
FRAGA,Afonso.DireitosReaisdeGarantia.SoPaulo:Saraiva,1933
FRANA,Limongi.APossenoCdigoCivil.S.Paulo,J.Bushatsky,1964.
_______. Do Nome Civil das Pessoas Naturais. S. Paulo, Ed. Ver. Dos
Tribunais,s.d.
_______ Formas e Aplicao do Direito Positivo. So Paulo: Ver. Dos
Tribunais,1969
_______PrincpiosGeraisdeDireito.SoPaulo:Ver.DosTribunais,1971
FRANCO Montoro, Andr. Introduo Cincia do Direito. So Paulo:
Martins,1973
FRANCOVICH, Guilhermo. Filsofos Brasileos. Buenos Aires: Losada,
1943
FREUD, Sigmund. Introduo Psicanlise. Trad. E. Davidovich. Rio,
Guanabara,s.d.
FRIAS, Jorge A. Lo Permanente y lo Mutable en el Derecho. B. Aires,
Adsum,1941
FRIEDRICH, Carl. J. Perspectiva Histrica da Filosofia do Direito. Trad.
lvaroCabral.Rio,Zahar,1965.
GAMA,AfonsoDionsioda.DosAtosJurdicos.S.Paulo,Saraiva,1922.
GARCIA, Basileu. Instituio de Direito Penal. So Paulo: Max Limonad,
1945
GAROFALO,Rafaele.LaCriminologie.Paris,FlixAlcan,1892.
GENDIM,Sabinolvarez.ExpropriacinForzosa.Madrid:Reus,1928
GENTILE,Giovanni.Los FundamentosdelaFilosofadelDerecho.Trad.E.
Campolongo.B.Aires,Losada,1944.
GENY,Franois. MthodeDinterpretationetSourcesenDroitPrivPositif.
Paris,Lib.Gen.D.et.Jur.,1932.
_______. ScienceetTechniqueenDroitPrivPositif.Paris,Sirey,1927.
GILSON,Etienne.LaPhilosophieauMoyenge.Paris,Payot,1925.
_______. SaintThomasdAquin.Paris,J.Gabalda,1925.
GLASSON, Ernest. Le Mariage Civil et le Divorce. Paris, A. D. et Pedone
Lauriel,1880.
GOLDSCHMIDT,James.Derecho Procesal Civil.Trad.LeonardoP. Castro.
Barcelona,Labor,1935.
_______.ProblemasGeneralesdelDerecho.B.Aires,Depalma,1944.
_______. Teora General del Processo. Trad. Leonardo P. Castro, Bacelona,
Labor,1936.
GOLDSCHMIDT,Werner. IntroduccinalDerecho.B.Aires,Aguilar,1960.
GOMES,Orlando.Contratos.Rio,Forense,1959.
_______.ACrisedoDireito.S.Paulo,MaxLimonard,1955.
_______. IntroduoaoDireitoCivil.Rio,Forense,1957.
_______Sucesses.RiodeJaneiro:Forense,1970
GONDIM,Regina.ContratoPreliminar.RiodeJaneiro:Conquista,1955
GONTIJO, Naylor Sales. Introduo Cincia do Direito. Rio de Janeiro:
Forense,1969
GONZLEZ, Julio Ayasta. Fuentes del Derecho Pblico y Privado. In:
AnalesdelaFacultaddeCienciasJuridicasySocialesdelaUniversidad
deLaPlata.LaPlata,1941.
GOROVTSEFF, Alexandre. tudes de Principiologie du Droit. Paris, Sirey,
1928.
GOUIRAN, mile. Prelegmenos a una Filosofa de la Existencia. Buenos
Aires:Sur,1937
GRASSET,J.LaResponsabilitCriminelle.Paris,B.Grasset,1908.
GRAU,JosCorts.FilosofadelDerecho.Madrid,Escorial,1941.
GRINBERG, Leon. Razn e Historia en la Idea de la Justicia. Revista de
Derecho yCiencias Sociales. Chile:UniversidaddeConcepcin,n128,
1964
GROPALLI, Alessandro. Doutrina do Estado. Trad. Paulo E. S. Queiroz. S.
Paulo,Saraiva,1962.
GUETZVITCH, Mirkine. As Novas Tendncias do Direito Constitucional.
Trad.CndidoMotaFilho.S.Paulo,Nacional,1933.
GUIZOT,M.EssaisSurLhistoiredeFrance. Paris,E.Perrin,1884.
GUMPLOWICZ,Ludwig.LaLuchadeRazas.B.Aires,Faz,1944.
GURVITCH, Georges. Sociologia Jurdica. Trad. Djacir Menezes, Rio,
Kosmos,1946.
GUSMO, Aureliano de. Processo Civil e Comercial. S. Paulo, Saraiva,
1934.
GUSMO,PauloDouradode.IntroduoCinciadoDireito.Rio,Forense,
1960.
_______. IntroduoTeoriadoDireito.Rio,FreitasBastos,1962.
_______.FilosofiadoDireito.Rio,FreitasBastos,1966.
_______.OPensamentoJurdicoContemporneo.S.Paulo,Saraiva,1955.
HAECKER, Theodor. El Espritu del Hombre y la Verdad. Trad. Juan R.
Sepich.BuenosAires:CEPA,1941
HALL,Jerome.TeoraJurdicaIntegralista.Trad.EduardoPonssa.In:Cairns
&outros.ElAtualPensamientoJurdicoNorteamericano.BuenosAires:
Losada,1951
_______ Democracia e Direito. Trad. Arnoldo Wald & Carly Silva. Rio de
Janeiro:Zahar,s.d.
HATZFELD,Jean.HistoiredelaGrceancienne.Paris,Payot,1926.
HAURIOU, Maurice Eugne. Prcis lmentaire de droit constitutionnel.
Paris,Sirey,1933.
HECK, Philipp. Interpretao da Lei e Jurisprudncia dos Interesses. Trad.
JosOsrio.S.Paulo,Saraiva,1948.
HEGEL, GeorgWilhelmFriedrich.FilosofadelDerecho.Trad.AnglicaM.
Montero.B.Aires,Claridad,1944.
_______. Filosofa del Espritu. Trad. E. Barriobero y Herrn. B. Aires,
Anaconda,1942.
HEIDEGGER, Martin. Que s Metafsica. Trad. X. Zubir. Mxico, Sneca,
1941.
_______. Introduo Metafsica. Trad. Emanuel C. Leo. Rio, Tempo
Brasileiro,1966.
HEIGEL,K.T.& Endress, F.Tendncias PolticasenEuropa.Trad.Manuel
S.Sarto.Barcelona,labor,1930.
HOBBES,Thomas.Leviatn.Trad.ManuelSnchezSarto.Mxico:Fondode
CulturaEconmica,1940
HUME,David.TratadodelaNaturalezaHumana.In:Bruhl,Levy.Seleode
Textos.Trad.LeonDujvone.BuenosAires:Sudamericana,1939
IRIBARREN, Juan Antonio. Historia General del Derecho, Santiago de
Chile.Ed.Nascimiento,1938.
JACQUES, Paulino. Curso de Introduo Cincia do Direito. Rio de
Janeiro:Forense,1971
JAEGER, Werner. Paideia. Trad. Joaquim Xirau. Mxico, Fondo de Cultura
Econmica,1942.
JAMES,William.PhilosophiedelaExprience.Trad.E.LeBrun&M.Paris.
Paris:Flammarion,1938
_______ Compendio de Psicologa. Trad. Santos Rubiano. Madrid: Daniel
Jorro,1930
_______Pragmatismo.Trad.SantosRubiano,Madrid:DanielJorro,1923
_______ La VoluntaddeCreer.Trad.SantosRubiano.Madrid: DanielJorro,
1922
JASPERS, Karl. El Ambiente Espiritual de NuestroTiempo.Trad.Ramnde
laSerna.Barcelona:Labor,1933
JELLINEK, Georg. Teora General del Estado. Trad. Fernando Urruti. B.
Aires,Albatros,1943.
_______. Ltat Moderne et Son Droit. Trad. G. Gardis. Paris, Giard et
Brire,1913.
JENKS,Edward.ElDerechoIngls.Trad.JosPaniagua.Madrid:Reus,1930
JHERING, Rudolf von. A Evoluo do Direito. Trad. Abel dAzevedo.
Lisboa,J.Bastos.S.d.
_______. O Fundamento dos Interditos Possessrios. Trad. Aderbal de
Carvalho.Rio,Liv.FranciscoAlves,1908.
_______. Lesprit du Droit Romain. Trad. O. DE Meulenaere. Paris, Lib. M.
Ains,1886.
JOHNSON, Harry M.IntroduoSistemticaaoEstudodaSociologia.Trad.
EdmondJorge.Rio,Lidador,1967.
JOSSERAND, Louis. De la Responsabilit du Fait des Choses Inanimes.
Paris,Rousseau,1896.
_______volutionetActualits.Paris:Sirey,1936
JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antonio. Negcio Jurdico. S.Paulo: Saraiva,
1974
KALINOWSKI, Georges. Introduccin a la Lgica Jurdica. Trad. Juan A.
Casaubon.B.Aires:Eudeba,1973
KANT,Emmanuel.lementsMtaphysiquesdelaDoctrinedelaVertu.Trad.
JulesBarny.Paris,A.Durand,1855.
_______. lments de la Douctrine du Droit. Trad. Jules Barni. Paris, A.
Durand,1853.
_______ Critique de la Raison Pure. Trad. A. Tremesaygues & B. Pacaud.
Paris:FlixAlcan,1927
KANTOROWICZ, Hermann. Le Definicin del Derecho. Trad. J. L. de la
Vega.Ed.Ver.DeOccidente,Madrid,1964.
_______. La Lucha por la Ciencia del Derecho. Trad. W. Goldschmidt. B.
Aires,Losada,1949.
KELSEN, Hans. La Teora Pura del Derecho. Trad. Jorge G. Terezina. B.
Aires,Losada,1941.
_______.La Teora General delEstado. Trad.Lus L. Lacambra. Barcelona,
Labor,1934.
_______. Derecho y Paz en las Relaciones Internacionales. Trad. Florencio
Acosta.Mxico,FondodeCulturaEconmica,1943.
_______. Essencia y valor de la democraca. Trad. Luengo Tapia & Lus L.
Lacambra.Barcelona,Labor,1934.
_______LasMetamorfosisdelaIdeadeJusticia.Trad.RobertoJ.Vernengo.
In: Cairns & outros. El Actual Pensamiento Jurdico Norteamericano.
BuenosAires:Losada,1941
_______Laideadelderechonaturalyoutrosensayos.In:MachadoNeto,A.
L. & Machado Neto, Zahid. O Direito e a Vida Social. So Paulo:
Nacional,1966
KIRCHMANN, J. German von. El carter Acientfico de la Llhamada
Ciencia del Derecho. Trad. Werner Goldschmidt. B. Aires, Losada,
1949.
KLINGHOFER, Hans. A Teoria Geral do Direito Administrativo de Adolf
Merkel. In: Samuel, H. Direito Administrativo (trechos selecionados).
RiodeJaneiro:FundaoGetlioVargas,1962
KOHLER,MaxFriescheisen.Descartes.In:LosGrandesPensadores.Buenos
Aires:EspasaCalpe,1940
KORKOUNOV, N. M. Cours de Thorie Gnrale du Droit. Trad. M. J.
Tchernoff.Paris,GiardetBrire,1903.
LABVRIOLA,Teresa.Ragione,funzioneesvilppodellafilosofadeldiritto.
Roma,Loescher,1906.
LACAMBRA,LusLegaz.Kelsen.Barcelona,Bosch,1933.
_______.HorizontesdelPensamientoJurdico.Barcelona,Bosch,1947.
_______. IntroduccinalaCienciadelDerecho.Barcelona,Bosch,1943.
LACOUR,JeanT.&Riese,Otto.PrcisdeDroitArien.Paris,Lib.Gen.De
DroiteJurisprudence,1951.
LAFER, Horcio. Tendncias Filosficas Contemporneas. So Paulo: Ver.
DosTribunais,1929
LALOU, Henri. Trait Pratique de la Responsabilit Civil. Paris, Dalloz,
1949.
LANA, Joo Bosco Cavalcanti. Introduo ao Estudo do Direito. Rio de
Janeiro:Ed.Rio,1971
LANDRY,Adolphe.LaResponsabilitPnale.Paris,FlixAlcan,1902.
LARENZ,Karl.BasedelNegocioJurdicoyCumplimientodelosContractos.
Trad.CarlosFernandezRodrigues.Madrid:Ver.DeD.Privado,1956
LASSALE,Ferdinand.ThorieSistematiquedesDroitsAcquis.Trad.Bernard
Molitor,Mouillet&Weill.Paris,V.Giard&Prire,1904.
LEAL, Antnio da Cmara. Da Prescrio e da Decadncia. Rio, Forense,
1959.
LEBON,Gustave.LesOpinionsetlesCroyances.Paris,Flammarion,1928.
_______PsychologiedesFoules.Paris:FlixAlcan,1931
LECLERCQ, Jacques. Do Direito Natural Sociologia. Trad. Alpio M.
Castro.S.Paulo,Liv.DuasCidades,s.d.
LEHMANN, Rudolf. Introcuccin a la Filosofa. Trad. Julin Marias. B.
Aires,Losada,1941.
LEIBNIZ,G.H.LaMonadologie.Paris:Hatier,s.d.
_______NouveauxEssaissurLentendementHumain.Paris:Flammarion,s.d.
LEITE, Yra Muller. Das Sociedades Civis. Rio de Janeiro: Freitas Bastos,
1968
LEROY,Edouard.Bergson.Trad.CarlosRahola.Barcelona:Labor,1932
LESSA, Pedro. Estudos de Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Francisco
Alves,1916
LEVI, Alessandro. Per un Programma di Filosofa del Diritto. Torino, F.
Broca,1905.
LVIULMANN, Henri. lments Dintroduction Gnrale Ltude des
SciencesJuridiques.Paris,Sirey,1917.
LEVY, Leonard W. & Roche, John P.OProcesso Poltico Americano. Trad.
ManoelInocncioL.Santos.RiodeJaneiro:Record,1966
LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficcia e Autoridade da Sentena. Trad. Alfredo
Buzaid&BenvindoAires.RiodeJaneiro:Forense,1945
LIMA, Alceu Amoroso. Introduo ao Direito Moderno. Rio de Janeiro:
CentroD.Vital,1933
_______ Meditao sobre o Mundo Moderno. Rio de Janeiro: J. Olmpio,
1942
_______EuropaeAmricaDuasCulturas.RiodeJaneiro:Agir,1962
_______IntroduoEconomiaModerna.RiodeJaneiro:Civilizao,1933
LIMA,Alvino.CulpaeRisco.S.Paulo,Ed.Ver.DosTribunais,1960.
_______.TeoriadoEstado.Rio,FreitasBastos,1936.
LIMA,Hermes.IntroduoCinciadoDireito.Rio,FreitasBastos,1958.
LIMA,MrioFranzende.DaInterpretaoJurdica.Rio,Forense,1955.
LIMA, Paulo Jorge de. Dicionrio de Filosofia Jurdica. So Paulo: Sug.
Literrias,1968
LOPES da Costa. A Administrao e a Ordem Jurdica Privada. Belo
Horizonte:A.lvaresS.A.,1961
MACHADONETO,A.L.TeoriaGeraldoDireito.TempoBrasileiro,1966.
_______. IntroduoCinciadoDireito.SoPaulo,Saraiva,1960.
_______.OproblemadaCinciadoDireito.Bahia,Progresso,1958.
_______. IntroduoSociologiaTerica.Salvador:Progresso,1959
_______. SociologiaJurdica.SoPaulo,Saraiva,1973
MAIA, Paulo Carneiro. Da clusula Rebus sic Stantibus. So Paulo:
Saraiva,1959
MALEBRANCHE, Nicolas. Converesaciones sobre la Metafsica y la
Religin.Trad.JulianaIzquierdoyMoya.Madrid:Reus,1921
MALUF,Sahid.DireitoConstitucional.S.Paulo,Sug.Ligerrias,1968.
_______.TeoriaGeraldoEstado.Bauru,S.Paulo,Tilibras,1966.
MALVER, Alberto M. Accin de Jactancia y Accin Declarativa. Buenos
Aires:Depalma,1944
MARITAIN,Jacques.OsDireitosdoHomem.Trad.AfrnioCoutinho.Riode
Janeiro:J.Olmpio,s.d.
_______. HumanismoIntegral.Trad. Afrnio Coutinho. So Paulo: Nacional
1941
MARQUES, Jos Frederico. Instituies de Direito Processual Civil. Rio de
Janeiro:Forense,1958
MARQUES, J. M. de Azevedo. A Ao Possessria no Cdigo Civil
Brasileiro.SoPaulo:1923
MARTINS, Oliveira.OHelenismoeaCivilizaoCrist.Lisboa:Guimares
&Cia.,1951
MARTINSJR.,J.I.HistriadoDireito.Recife:CulturaIntelectual,1941
MARTINS,PedroBatista.OAbusodeDireitoeoAtoIlcito.RiodeJaneiro:
FreitasBastos,1941
_______. Comentrioao Cdigode Processo Civil. RiodeJaneiro: Forense,
1960
MAXIMILIANO, Carlos. Direito Intertemporal ou Teoria da Retroatividade
dasleis.Rio,FreitasBastos,1946.
_______.HermenuticaeAplicaodoDireito.Rio,FreitasBastos,1942.
_______.DireitodasSucesses.RiodeJaneiro:FreitasBastos,1942
MAY.Gaston.IntroductionalaScienceduDroit. Paris,Giard,1932.
MAYER, Max Ernest. Filosofa del Derecho. Trad. Lus Legaz y Lacambra.
Barcelona:Labor,1937
MYNEZ, Eduardo Garca. Introduccin al Estudo del Derecho. Mxico,
Porrua,1949.
_______FilosofiadelDerecho.Mxico:Porra,1949
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. So Paulo: Ver. Dos
Tribunais,1961
_______DireitoMunicipalBrasileiro.SoPaulo:Ver.DosTribunais,1964
MELO FRANCO, Afonso Arinos de. Estudos de Direito Constitucional. Rio
deJaneiro:Forense,1957
_______Constituio:MitoeRealidade.RevistaBrasileiradeCultura,n9
MENDES NETO, Joo. Rui Barbosa e a Lgica Jurdica. S. Paulo, Saraiva,
1949.
MENEZES, Djacir. Introduo Cincia do Direito. Porto Alegre: Globo,
1934
_______ A Teoria Cientfica do Direito de Pontes de Miranda. Fortaleza:
1934
MERCADER, Amilcar A. La Accin Su Naturaleza dentro del Orden
Jurdico.BuenosAires:Depalma,1944
MERKEL, Adolf. Enciclopdia Jurdica. Trad. W. Roces. Madrid, Reus,
1924.
MESQUITA, Luiz Jos de. Nulidades de Direito Matrimonial. So Paulo:
Saraiva,1961
MESSER, August. La Filosofa Actual. Trad. Joaqun Xirau. Buenos Aires:
EspasaCalpe,1941
MEYERSON, mile. Identidad y Realidad. Trad. Joaquin Xirau Palau.
Madrid,Reus,1929.
MICELI,Riccardo.LaFilosofaItalianaActual.Trad.A.Tri. BuenosAires:
Losada,1940
MONDOLFO, Rodolfo. Rousseau y la Consciencia Moderna. Buenos Aires:
Imn,1943
MONTALEGRE,Omer.TobiasBarreto.RiodeJaneiro:Vecchi,1956
MONTEIRO,Joo.TeoriadoProcessoCivil.Rio,Borsoi,1956.
MOTESQUIEU, Louis de.El Espritude las Leyes.Trad.NicolsEstvanez.
B.Aires,Libertad,1944.
_______ Grandeza e Decadncia dos Romanos. Trad. Manoel Carlos. So
Paulo:CulturaModerna,s.d.
MORAES FILHO, Evaristo de. Sucesso nas Obrigaes e a Teoria da
Empresa.RiodeJaneiro:Forense,1960
MORENO,MartinT.Ruiz.FilosofadelDerecho.BuenosAires:Kraft,1944
MORENTE,ManoelG.G.W.Leibniz.Madrid:EspasaCalpe,1919
MULLER, Aloys. Introduccin a la Filosofa. Trad. Jos Gaos. B. Aires,
EspasaCalpe,1940.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Fundamentos do Direito do Trabalho. S.
Paulo,LTR.Ed.,1970.
NATORP,Paul.Plato.In:Los GrandesPensadores.Buenos Aires:Espasa
Calpe,1940
NIETZSCHE, Friedrich. Humain, Trop Humain. Trad. A. M. Desrousseaux.
Paris:MercuredeFrance,1930
_______AGenealogiadaMora.SoPaulo:Publs.Brasil,s.d.
NOAILLES, Lus M. Valiente. Derechos Reales y Privilegios. B. Aires,
Depalma,1955.
NBREGA, J. Flscolo da. Introduo ao Direito. Rio de Janeiro: J.
Konfino,1954
NBREGA, Vandick L. da. Compndio de Direito Romano. Rio, Freitas
Bastos,1970.
NOGUEIRA,Ataliba.MedidasdeSegurana.SoPaulo:Saraiva,1937
NONATO, Orosimbo. Da Coao como Defeito do Ato Jurdico. Rio,
Forense,1957.
_______EstudossobreSucessoHereditria.RiodeJaneiro:Forense:1937
NOVICOW,J.LaCritiqueduDarwinismeSocial.Paris,FlixAlcan,1910.
OLIVEIRA ANDRADE,DarcyBessonede.AspectosdaEvoluodaTeoria
dosContratos.SoPaulo:Saraiva,1949
OLIVEIRA,Antniode.APrescrio.Lisboa,Liv.Clssica,1914.
OLIVEIRA,CndidoLusMariade.CursodeLegislaoComparada.Riode
Janeiro:JacintoSantos,1903
OLIVEIRAECRUZ,JooClaudinode.DosRecursosnoCdigodeProcesso
Civil.RiodeJaneiro:Forense,1959
OLIVEIRA E SILVA. Das Indenizaes por Acidentes. So Paulo: Saraiva,
1940
OLIVEIRA FILHO, Benjamin de. Introduo Cincia do Direito. Rio,
Haddad,1957.
_______.FilosofiaSocialdeAugustoComte.Rio,Haddad,s.d.
OLIVEIRA VIANNA. Problemas de Poltica Objetiva. So Paulo: Nacional,
1930
OPITZ,Oswaldo.MoranoNegcioJurdico.Rio,Borsoi,1966.
ORTEGA Y GASSET. Obras Completas. Madrid, Ed. Ver. De Occidente,
1946.
ORTIZ,JosLopes.DerechoMusulmn.Barcelona:Labor,1932
OVIEDO,CarlosGarcia.LaTeoradelServicioPblico.Madrid:Reus,1923
PAESBarreto.Ocrime,oCriminosoeaPena.Rio,A.CoelhoBranco,1934.
PASCAL,Blaise.Penses.Paris:FirminDifot,s.d.
PASQUIER, Claude du. Introduction la Thorie Gnrale et la
PhilosophieduDroit.Neuchatel:DelachauxetNiestl,1967
PAUPRIO, Machado. Teoria Geral do Estado. Rio de Janeiro: Forense,
1946
_______IntroduoCinciadoDireito.RiodeJaneiro:Forense,1946
_______ Presidencialismo, Parlamentarismo e Governo Colegiado. Rio de
Janeiro:Forense,1956
PEIXOTO.Afrnio.Criminologia.Rio,Guanabara,1933.
PEKELIS, Alexander. La tecla para una ciencia jurdica estimativa. Trad.
Rodolfo Sandoval. In: Cairns & outros. El Actual Pensamiento Jurdico
Norteamericano.BuenosAires:Losada,1951
PEREIRA, Lafayette Rodrigues. Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos,1943
PERRIN, Genil. Psicanlise e Criminologia. Trad. Leondio Ribeiro. Rio,
Guanabara,1936.
PICARD,Edmond.LeDroitPur. Paris,Flammarion,1908.
PILLET, Antoine. Principes de Droit International Priv. Paris, Pedone,
1903.
PINHEIRO, Hlio Fernandes. Tcnica Legislativa. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos,1962
PINTO,Bilac&Bittencourt,C.A.Lcio.RecursodeRevista.RiodeJaneiro:
Forense,s.d.
PLANIOL,Marcel.TraitlmentairedeDroitCivil.Paris,Lib.Gen.DeDr.
EtJur.,1900.
PLANIOL, Marcel & Ripert, Georges. Tratado Practico de Derecho Civil
Frances.Trad.MarioDiasCruz.Havana,Cultural,1927.
PLATO.ARepblica.Trad.AlbertinoPinheiro.S.Paulo,Atena,s.d.
_______.DilogoSobreaJustia.Trad.LoboVilela.Lisbo.Inqurito,s.d.
PINCAR,Henri.Scienceetmthode.Paris,Flammarion,1908.
_______.DerniresPenses.Paris,Flammarion,1926.
PONTESDEMIRANDA,Francisco.SistemadeCincia PositivadoDireito.
Rio,J.R.Santos,1922.
_______.TratadodeDireitoPrivado.Rio,Borsoi,1954.
PORTOCARREIRO,C.H.NotassobreFilosofiadoDireito.Rio,Alba,s.d.
PROAL,Louis.LeCrimeetlaPeine. Paris,FlixAlcan,1899.
QUEIROZ, Joo Jos de. Repertrio Enciclopdido do Direito Brasileiro.
Rio,Borsoi,s.d.v.21:Estado.
RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito.Trad.De Cabral deMoncada. S.
Paulo,Saraiva,1934.
_______. Introduccin a la Ciencia del Derecho. Trad. Recasns Siches.
Madrid,Ed.Ver.DeDir.Privado,1930.
RO,Vicente.AtoJurdico.S.Paulo,MaxLimmonard,1961.
RAV,Adolfo.LezionidiFilosofiadelDiritto.Pdova,Cedam,1935.
REALE,Miguel.FilosofiadoDireito.S.Paulo,Saraiva,1957.
_______.FundamentosdoDireito.S.Paulo,Ed.Ver.DosTribunais,1940.
_______.TeoriadoDireitoedoEstado.S.Paulo,Martins,1959.
REICHEL, Hans. La Ley y la Sentencia. Trad. Emilio Miana Villagrasa.
Madrid,Reus,1921.
REINACH, Adolf. Los Fundamentos Apriorsticos del Derecho Civil. Trad.
JosLusAlvarez.Barcelona,Bosch,1934.
RICKERT, Heinrich. Ciencia Cultural y Ciencia Natural. B. Aires, Espassa
Calpe,1945.
ROGUIN, Ernest. La Science Juridicque Pure. Paris, Lib. Gn. De Droit et
Jurisprudence,1923.
ROLLAND,Romain.PensamentoVivodeRousseau.Trad.J.CruzCosta.So
Paulo:Martins,1940
ROMANES, G. J. Lvolution Mentale chez Lhomme. Trad. Henry de
Varigny.Paris:FlixAlcan,1891
ROMERO, Slvio. O Evolucionismoe o Positivismo no Brasil. Rio, Alves &
Cia.1895.
_______.EnsaiosdeFilosofiadoDireito.Rio,Cunha& Irmo,1895.
ROUBIER,Paul.LesConflitsdesLoisDansleTemps. Paris,Sirey,1933.
_______ThorieGnraleduDroit.Paris:Sirey,1946
ROUSSEAU, JeanJacques. Du Contrat Social. Paris: La Renaissance du
Livre,s.d.
RUGGIERO, Guido de. Filosofas del Siglo XX. Trad. Adriana T. Bo. B.
Aires,abril,1947.
RUGGIERO, Roberto de. Institucionies de Derecho Civil. Trad. Ramn
SerranoSuer&JosSantaCruzTeijeiro.Madrid,Reus,s.d.
RUSSELL, Bertrand. O Poder. Trad. Rubens Gomes de Souza, S. Paulo,
Martins,1941.
_______ Los Problemas de la Filosofa. Trad. Joaquin Xirau. Barcelona:
Labor,1928
_______EnsaiosCticos.Trad.WilsonVeloso.SoPaulo:Nacional,1955
SALDAA, Quintiliano. Nova Criminologia. Trad. Alfredo Ulson &
AlcntaraCarreiro.S.Paulo,Libertad,s.d.
SALDANHA, Nelson Nogueira. Velha e Nova Cincia do Direito. Recife:
Univ.Fed.Pernambuco,1974
SALES Y FERR, Manuel. Estudios de Sociologa. Madrid: Lib. Surez,
1889
SALVAT, Raymundo M. Tratado de Derecho Civil Argentino. B. Aires, J.
Menezes,1928.
SAMPAIOEMELO.Famliaedivrcio.Lisboa,Liv.Clssica,1906.
SANTAYANA,George. El Egotismoenla FilosofaAlemana.Trad.Vicente
P.Quintero.BuenosAires:Imn,1942
_______AlternativasparaoLiberalismoeoutrosEnsaios.Trad.JorgeEnas
Fortes.RiodeJaneiro:Zahar,1970
SANTOROPASSARELLI,F.TeoriaGeraldoDireitoCivil.Trad.Manuelde
Alarco.Coimbra:Atlntida,1967
SAUDO, Jos Rafael. Filosofia del Derecho. Pasto, Imp. Departamental,
1928.
SAUER, Willhelm. Filosofa Jurdica y Social. Trad. Lus Lacambra.
Barcelona,Labor,1933.
SAUER, Wilhelm. Filosofa Jurdica y Social. Trad. Lus L. Lacambra.
Barcelona:Labor,1933
SAVIGNY, F. Karl von. Sobre el Fin de la Revista de la Escuela Histrica.
In:LaEscuelaHistricadelDerecho.Trad.R.Atard.Madrid,Lib.Gen.
DeV.Surez,1908.
_______. Los Fundamentos de la Ciencia del Derecho. Trad. W.
Goldschmidt.B.Aires,Losada,1946.
SCHAPP, Wilhelm. La Nueva Ciencia del Derecho. Trad. J. Prez Bances.
Madrid,Ed.Ver.DeOccidente,1931.
SCHELER, Max. El Resentimiento en la Moral. Trad. Jos Gaos. Buenos
Aires:EspasaCalpe,1944
_______ El Saber y la Cultura. Trad. J. Gomez de la Serna y Fare. Buenos
Aires:EspasaCalpe,1944
_______ElPuestodelHombreenelCosmos.Trad.JosGaos.BuenosAires:
Losada,1943
SCHMITT, Carl. La Defensa de la Constitucin. Trad. M. Snchez Sarto.
Barcelona,labor,1931.
SCHOPENHAUER,Arthur.LeFondementdelaMorale.Trad. A. Bourdeau.
Paris,FlixAlcan,1907.
_______ Le Monde Comme Volont et comme Reprsentation. Trad. A.
Bourdeau.Paris:FlixAlcan,s.d.
SCHREIRER, Fritz. Concepto y Formas Fundamentales del Derecho. Trad.
EduardoGarcaMaynez.B.Aires,Losada,1942.
SCIACCA,M.Frederico.HistriadaFilosofia.Trad.Lus W.Vita.S.Paulo,
MestreJou,1962.
SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso de Direito Civil. Rio de Janeiro:
FreitasBastos,1957
_______ExceesSubstanciais.RiodeJaneiro:FreitasBastos,1959
_______TratadodosRegistrosPblicos.RiodeJaneiro:ANoite,s.d.
SERRANO,Jnatas.FilosofiadoDireito.Rio,F.Griguiet&Cia.,1942.
_______FariasBrito.SoPaulo:Nacional,1939
SICHES,LusRecasns.EstudosdeFilosofadelDerecho.Barcelona,Bosch,
1936.
_______.LosTemasdelaFilosofadelDerecho.Barcelona.Bosch,1934.
_______. Panorama del Pensamiento Jurdico en el Siglo XX. Mxico,
Porrua,1952.
_______.DireccionesContemporaneasdel PensamientoJurdico.Barcelona,
Labor,1936.
_______ Nueva Filosofa de la Interpretacin del Derecho. Mxico: Porra,
1973
SILVA, Carlos Martinez. Tratado de Pruebas Judiciales. Buenos Aires:
Atalaya,1947
SILVA, Wilson Melo da. Responsabilidade sem Culpa e Socializao do
Risco.B.Horizonte,B.lvares,1962.
SILVA PEREIRA, Caio Mrio da. Instituies do Direito Civil. Rio de
Janeiro:Forense,1961
SILVEIRA, Alpio da. Conceito e Funes da Equidade em Face do Direito
Positivo.1943.
_______. Hermenutica no Direito Brasileiro. S. Paulo, Ed. Ver. Dos
Tribunais,1968.
SIMMEL,Georg.Sociologia.B.Aires,EspasaCalpe,1939.
SIQUEIRA,Galdino.DireitoPenalBrasileiro.Rio,Jacinto,1932.
SOROKIN, Pitirim A. Rssia e Estados Unidos. Trad. Romano Barreto. So
Paulo:Univeresitria,s.d.
SPENCER, Herbert. Les Premiers Principes. Trad. M. Guymiot. Paris:
Schleicher.Fr.,1902.
_______AJustia.Trad.AugustoGil.Lisboa,A.Bertrand,s.d.
_______ PrincipesdePsychologie.Trad.Th.RiboteA.Espinas.Paris: Flix
Alcan,1905
SPENGLER, Oswald. La Decadncia de Occidente. Trad. M. G. Morente.
Madrid,EspasaCalpe,1934.
_______ O Homem e a Tcnica. Trad. rico Verssimo. Porto Alegre:
Meridiano,1941
_______AnosdeDeciso.Trad.HerbertCaro.PortoAlegre:Meridiano,1941
STAMMLER, Rudolf. Economa y Derecho. Trad. W. Roces. Madrid, Reus,
1929.
_______. Tratado de Filosofa del Derecho. Trad. W. Roces Madrid, Reus,
1930.
STERN, Alfred. La Filosofa de los Valores. Trad. H. Piera Llera. Mxico,
Minerva,1944.
STERNBERG,Theodor.IntroduccinalaCienciadelDerecho.Trad.JosR.
Ermengal.Barcelona,Labor,1930.
TACITUS, Cornelius. A Germnia. Trad. Adolfo Casais Monteiro. Lisboa:
Inqurito,1941
TARDE,Gabriel.LaCriminalitCompare.Paris,FlixAlcan,1910.
_______.LesTransformationsduDroit.Paris,FlixAlcan,1906.
_______.LesLorsDimitation.Paris,FlixAlcan,1895.
THOMSON, J. Arthur. Introduccin a la Ciencia. Trad. Julio C. Alfaro.
Barcelona,Labor,1934.
TIMACHEFF, Nicolas, Le Droit, Lthique, le Pouvoir. In : Archives de
PhilosophieduDroitetdeSociologieJuridique.Paris,Sirey,n.,1936.
_______ Teoria Sociolgica. Trad. Antnio Bulhosa. Rio de Janeiro: Zahar,
1971
TOCQUEVILE,Alexisde.LaDmocratieenAmrique,Paris:Hatier,s.d.
TONNIES, Ferdinand. Desarrollo de la Cuestin Social. Trad. Manoel
Revents.Barcelona,Labor,1933.
TORANZO, Miguel Velloro. Introduccin al Estudio del Derecho. Mxico:
Porra,1966
TORR,Abelardo.IntroduccinalDerecho.BuenosAires:Perrot,1972
VALADO, Haroldo. Direito Internacional Privado. Rio, Freitas Bastos,
1970.
_______.Definio,ObjetoeDenominaodoDireitoInternacionalPrivado.
S.Paulo.RevistadosTribunais,1962.
_______.EstudosdeDireitoInternacionalPrivado.Rio,J.Olmpio,1947.
VANNI, Icilio. Lies de Filosofia do Direito. Trad. Otvio Paranagu. S.
Paulo,P.Weiss,1916.
VASCONCELOS, Acioni de. Evoluo Histrica e Perspectivas atuais do
Estado.RevistadeInformaoLegislativa,nVII/25
VERNENGO, Roberto Jos. Curso de Teora General del Derecho. Buenos
Aires:Coop.DeDer.YC.Sociales,1972
VIALATOUX, Joseph. Lintention Philosophique. Paris: Presses
Universitaires,1954
VICO, Giambattista. Ciencia Nueva. Trad. Jos Carner. Mxico, Fondo de
CulturaEconmica,1941.
VIVEIROSDECASTRO,AugustoOlmpio.EstudosdeDireitoPblico.Rio
deJaneiro:J.R.dosSantos,1914
WAELDER, Robert. El Pensamiento vivo de Freud. Trad. Felipe Jimnez
Asa.BuenosAires:Losada,s.d.
WEBER, Alfred. Historia de la Cultura. Trad. Recasns Siches. Mxico,
FondodeCulturaEconmica,1943.
WEBER,Max.EnsaiosdeSociologia.Trad.FernandoHenriqueCardoso.Rio
deJaneiro:Zahar,1971
WENZL, Aloys. El Pensamiento Alemn Contemporneo. Trad. Enrique
Klinkert.BuenosAires:EspasaCalpe,1952
WIESE, Leopold von. Sociologa. Trad. Rafael Luengo. Barcelona: Labor,
1932
WINDELBAND, Wilhelm. Preludios Filosficos. Trad. W. Roces. B. Aires,
S.Rueda,1949
XIRAU, Joaqun. Lo Fugaz y lo Eterno. Mxico, Centro de Estudios
FilosficosdelaFacultaddeFilosofayLetras,1942.
ZITELMANN, Ernst. Las Lagunas del Derecho. Trad. Carlos G. Posada. B.
Aires,Losada,1949.
Você também pode gostar
- Resumo - LIÇÕES PRELIMINARES DE DIREITODocumento17 páginasResumo - LIÇÕES PRELIMINARES DE DIREITOhenrialtieri88% (8)
- Filosofia Do Direito - ApontamentosDocumento30 páginasFilosofia Do Direito - ApontamentosMaria Luísa Lobo100% (5)
- Introdução Ao DireitoDocumento3 páginasIntrodução Ao DireitoGabriel ValadaresAinda não há avaliações
- Armas de Fogo - Elas Não São As CulpadasDocumento3 páginasArmas de Fogo - Elas Não São As CulpadasRaphAinda não há avaliações
- Resumo: Introdução Ao Estudo Do Direito (Ied)Documento69 páginasResumo: Introdução Ao Estudo Do Direito (Ied)matheusphilipe.555Ainda não há avaliações
- Liã Ã Es de Introduã Ã o Prof. Sab Sab.2Documento90 páginasLiã Ã Es de Introduã Ã o Prof. Sab Sab.2Rui AlvesAinda não há avaliações
- Sistema de Idéias Gerais Do Direito PDFDocumento5 páginasSistema de Idéias Gerais Do Direito PDFeduardoleasiAinda não há avaliações
- A590e445af6cba71 FilosofiaCinciaeDireitoDocumento9 páginasA590e445af6cba71 FilosofiaCinciaeDireitoBernardo “Busz Busz” G.MAinda não há avaliações
- Introdução Ao DireitoDocumento27 páginasIntrodução Ao Direitojosiranlopes50Ainda não há avaliações
- 8 Escolas de Hermenêutica IDocumento9 páginas8 Escolas de Hermenêutica IMaycon F.Ainda não há avaliações
- Introdução Ao Estudo de DireitoDocumento6 páginasIntrodução Ao Estudo de Direitomarcos viniciusAinda não há avaliações
- Aula 2 - O Direito e As Ciências AfinsDocumento2 páginasAula 2 - O Direito e As Ciências AfinsDebora VilelaAinda não há avaliações
- Miguel RealeDocumento5 páginasMiguel RealeHenrik FeraAinda não há avaliações
- IED Gabriel Nascimento REALE Cap.1-3Documento8 páginasIED Gabriel Nascimento REALE Cap.1-3GABRIEL MOURAAinda não há avaliações
- Introdução À Filosofia Do Direito (Guardado Automaticamente)Documento294 páginasIntrodução À Filosofia Do Direito (Guardado Automaticamente)Jose VarelaAinda não há avaliações
- Guadalupe FonsecaDocumento11 páginasGuadalupe FonsecaMRCALAinda não há avaliações
- Manual de Filosofia Do DireitoDocumento71 páginasManual de Filosofia Do Direitoedivaldofaro100% (2)
- Filo. Jurídica - 2Documento26 páginasFilo. Jurídica - 2Aluzie BarbosaAinda não há avaliações
- Aula #2. IntroduçãoDocumento8 páginasAula #2. IntroduçãoarilsonkellyAinda não há avaliações
- Fundamentos Do DireitoDocumento51 páginasFundamentos Do DireitoMillena CarvalhoAinda não há avaliações
- Objeto e Finalidade IEDDocumento2 páginasObjeto e Finalidade IEDDebora VilelaAinda não há avaliações
- Aula 2 - O Direito e As Ciencias AfinsDocumento3 páginasAula 2 - O Direito e As Ciencias AfinsDebora Vilela100% (1)
- Paulo NaderDocumento4 páginasPaulo Naderpaulo renato do prado pereiraAinda não há avaliações
- O Problema de Uma Definição Substantiva e Transcultural Do DireitoDocumento9 páginasO Problema de Uma Definição Substantiva e Transcultural Do DireitotchutchutchuAinda não há avaliações
- AULA 01 - SOCIOLOGIA - Direito Como Fato SocialDocumento6 páginasAULA 01 - SOCIOLOGIA - Direito Como Fato SocialVinicius LeiteAinda não há avaliações
- Aula #2 - IntroduçãoDocumento7 páginasAula #2 - IntroduçãoJúlia GouveiaAinda não há avaliações
- 2011 - A Introdução Ao Direito Nos Cursos JurídicosDocumento50 páginas2011 - A Introdução Ao Direito Nos Cursos JurídicoscadorimAinda não há avaliações
- HermeuneticaDocumento15 páginasHermeuneticaWillian SilvaAinda não há avaliações
- Introdução Ao Estudo Do DIREITO - DOC1Documento263 páginasIntrodução Ao Estudo Do DIREITO - DOC1Ana LetíciaAinda não há avaliações
- APS Filosofia Do Direito 2023.02Documento4 páginasAPS Filosofia Do Direito 2023.02Arthur Siciliano CrossettiAinda não há avaliações
- Texto PDF para Os Estudantes Filosofia Do DireitoDocumento36 páginasTexto PDF para Os Estudantes Filosofia Do DireitorichardAinda não há avaliações
- Questões Filosofia KLSDocumento4 páginasQuestões Filosofia KLSLucas MelaoAinda não há avaliações
- Filosofia Do Direito - Sumários - Parte IDocumento36 páginasFilosofia Do Direito - Sumários - Parte IEdulcária cláudia MatsinheAinda não há avaliações
- Filosofia Do DireitoDocumento12 páginasFilosofia Do DireitomariopamanuelAinda não há avaliações
- Resenha para Gostar Do DireitoDocumento4 páginasResenha para Gostar Do DireitoRepública FavelaAinda não há avaliações
- Apostila - Filosofia Do DireitoDocumento112 páginasApostila - Filosofia Do DireitoDantasrds100% (3)
- Perspectiva Sociologica e Pluralismo Juridico - Elizabete David NovaesDocumento10 páginasPerspectiva Sociologica e Pluralismo Juridico - Elizabete David Novaeskatherinerayane87Ainda não há avaliações
- Filosofia Do Direito e Metodologia JurídicaDocumento10 páginasFilosofia Do Direito e Metodologia JurídicaStiven JoseAinda não há avaliações
- Filosofia Do Direito - ApontamentosDocumento15 páginasFilosofia Do Direito - ApontamentosBruno Lacerda100% (1)
- COSTA, Alexandre Bernardino. Por Uma Teoria Prática - O Direito Achado Na Rua.Documento5 páginasCOSTA, Alexandre Bernardino. Por Uma Teoria Prática - O Direito Achado Na Rua.Rinaldinho AndradeAinda não há avaliações
- Projeto de Pesquisa Direito e Liberdade Me HegelDocumento7 páginasProjeto de Pesquisa Direito e Liberdade Me HegelPedro FernandesAinda não há avaliações
- Resumo - A Origem Do Direito de SOlidariedadeDocumento2 páginasResumo - A Origem Do Direito de SOlidariedadeMarcelle RosaAinda não há avaliações
- Introdução À Filosofia Do DireitoDocumento10 páginasIntrodução À Filosofia Do DireitoJosue Souza DA SilvaAinda não há avaliações
- Breve Resumo de Filosofia Geral e Conceitos de Filosofia Do DireitoDocumento15 páginasBreve Resumo de Filosofia Geral e Conceitos de Filosofia Do DireitoJader AraujoAinda não há avaliações
- Aula 1 - Objeto e Finalidade Da Introdução Ao Estudo Do DireitoDocumento3 páginasAula 1 - Objeto e Finalidade Da Introdução Ao Estudo Do DireitoDebora VilelaAinda não há avaliações
- 01 - Introdução Ao Direito Origens, Conceitos e Perspectivas MetodológicasDocumento7 páginas01 - Introdução Ao Direito Origens, Conceitos e Perspectivas MetodológicasPedro Luiz Dias da RosaAinda não há avaliações
- Exercício de Revisão para 1 Av RespondidoDocumento10 páginasExercício de Revisão para 1 Av RespondidoJoão Victor FernandesAinda não há avaliações
- A teoria compreensiva de Robert Alexy: a Proposta do TrialismoNo EverandA teoria compreensiva de Robert Alexy: a Proposta do TrialismoAinda não há avaliações
- Revisão - Filosofia JurídicaDocumento5 páginasRevisão - Filosofia JurídicaRubia Naate100% (1)
- Filosofia de DireitoDocumento15 páginasFilosofia de Direitokiko100% (1)
- 215-Texto Do Artigo-856-2-10-20130827Documento24 páginas215-Texto Do Artigo-856-2-10-20130827demétriusAinda não há avaliações
- Fundamentos Antropológicos e Sociológicos - Suplemento - Direito PDFDocumento22 páginasFundamentos Antropológicos e Sociológicos - Suplemento - Direito PDFDanillo VianaAinda não há avaliações
- Sociologia JuridicaDocumento43 páginasSociologia JuridicaLuciana BatistaAinda não há avaliações
- Fundamentos Historicos Do Direito Unidade 01Documento10 páginasFundamentos Historicos Do Direito Unidade 01João Lucas CostaAinda não há avaliações
- Dos Delitos e Das Penas - BeccariaDocumento45 páginasDos Delitos e Das Penas - BeccariajuliaAinda não há avaliações
- GENERALIDADES (A Filosofia Como Problema)Documento4 páginasGENERALIDADES (A Filosofia Como Problema)Sofia BaptistaAinda não há avaliações
- Filosofia JuridicaDocumento23 páginasFilosofia JuridicaLucas MendesAinda não há avaliações
- Economia e DireitoDocumento13 páginasEconomia e DireitoBeatrizAinda não há avaliações
- Ed Fisica 2Documento3 páginasEd Fisica 2Daniele XavierAinda não há avaliações
- A EVOLUÇÃO DA CADEIA de Suprimentos No BrasilDocumento71 páginasA EVOLUÇÃO DA CADEIA de Suprimentos No BrasilErickAinda não há avaliações
- I SIEAR - Resumos Expandidos Vol 1 - N 1 - Eixos CompletosDocumento396 páginasI SIEAR - Resumos Expandidos Vol 1 - N 1 - Eixos CompletosIslaynne MonteiroAinda não há avaliações
- Palestra Trabalho InfantilDocumento10 páginasPalestra Trabalho InfantilPatricia Coutinho da CunhaAinda não há avaliações
- Curso Básico - Comandos Quânticos AscensionadosDocumento26 páginasCurso Básico - Comandos Quânticos AscensionadosPablo Miqueias100% (1)
- Atividades Complementares - Semana 3 (Matheus)Documento22 páginasAtividades Complementares - Semana 3 (Matheus)VANIA ROCHA MOREIRAAinda não há avaliações
- Pa - Senten1Documento6 páginasPa - Senten1EduardoAinda não há avaliações
- Congresso de Psicopedagogia UFUDocumento2 páginasCongresso de Psicopedagogia UFUTiago Caetano MartinsAinda não há avaliações
- Resumo HGP Turma E 6º Ano Teste de MaioDocumento4 páginasResumo HGP Turma E 6º Ano Teste de MaioNoélia Paiva MorgadoAinda não há avaliações
- Exercícios - Bloco VI - Ciclo de Politicas PúblicasDocumento26 páginasExercícios - Bloco VI - Ciclo de Politicas PúblicasGiovanna HelenaAinda não há avaliações
- FACULDADE Final2Documento25 páginasFACULDADE Final2Alan AraujoAinda não há avaliações
- Introducao Pesquisa CientificaDocumento3 páginasIntroducao Pesquisa CientificaGilliannoAlmeida100% (1)
- RESOLUÇÃO NORMATIVA #36 de 1974Documento2 páginasRESOLUÇÃO NORMATIVA #36 de 1974renatodruAinda não há avaliações
- SANTILLANA MAT 12 - Caderno Preparacao Exame (2017) PDFDocumento48 páginasSANTILLANA MAT 12 - Caderno Preparacao Exame (2017) PDFAna Alexandre100% (1)
- Plano de Ensino - Semiótica - Maio - 2011Documento2 páginasPlano de Ensino - Semiótica - Maio - 2011Wellington Furtado RamosAinda não há avaliações
- Origem Da Pedagogia Social III (Lidia)Documento7 páginasOrigem Da Pedagogia Social III (Lidia)celeste vania cumbaneAinda não há avaliações
- Suellem Starleth Leite Nogueira Braga: ObjetivoDocumento2 páginasSuellem Starleth Leite Nogueira Braga: ObjetivoSuellem BragaAinda não há avaliações
- Análise Da Proposta Da BNCC para o Ensino Médio - Área de Linguagens e Suas TecnologiasDocumento25 páginasAnálise Da Proposta Da BNCC para o Ensino Médio - Área de Linguagens e Suas Tecnologiasanderson luisAinda não há avaliações
- Trabalho Sobre o Fracasso EscolarDocumento17 páginasTrabalho Sobre o Fracasso EscolarFernanda LessaAinda não há avaliações
- Alfabetização e LetramentoDocumento5 páginasAlfabetização e LetramentoThaís CastroAinda não há avaliações
- Edital ProMAI 2023.2Documento11 páginasEdital ProMAI 2023.2Luiza MendesAinda não há avaliações
- Prova Dissertativa Parte PedagógicaDocumento8 páginasProva Dissertativa Parte PedagógicaDouglas SantosAinda não há avaliações
- Apostila Fundamentos Da Educação Inclusiva 1Documento28 páginasApostila Fundamentos Da Educação Inclusiva 1Jamile OlimpioAinda não há avaliações
- Regulamento UnimontesDocumento2 páginasRegulamento UnimontesDaniela SoaresAinda não há avaliações
- Histórico - Lukas Oliveira Do NascimentoDocumento1 páginaHistórico - Lukas Oliveira Do NascimentoLukas OliveiraAinda não há avaliações
- Empreendedorismo PDFDocumento70 páginasEmpreendedorismo PDFhnfdshsdAinda não há avaliações
- Relatorio Do Epeb 2019Documento52 páginasRelatorio Do Epeb 2019Henriques LucasAinda não há avaliações
- EMENTA EDUCACAO FISICA 6o Ano EFDocumento3 páginasEMENTA EDUCACAO FISICA 6o Ano EFMARIA JANAINE CORREIA DA SILVAAinda não há avaliações
- AULA 01 - ESTUDO DE LIBRAS (Modo de Compatibilidade)Documento34 páginasAULA 01 - ESTUDO DE LIBRAS (Modo de Compatibilidade)Jonathas Assunção SantosAinda não há avaliações
- 7452 22421 1 PBDocumento24 páginas7452 22421 1 PBSimone Gomes de FariaAinda não há avaliações