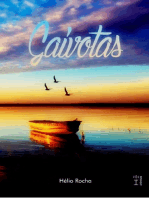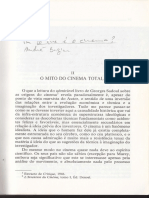Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Millor Fernandes Comentou Certa Vez Sobre Os Acidentes Luminosos Na História Do Homem Citando o Instante em Que Os Senhores Rolls
Enviado por
Naiade BianchiTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Millor Fernandes Comentou Certa Vez Sobre Os Acidentes Luminosos Na História Do Homem Citando o Instante em Que Os Senhores Rolls
Enviado por
Naiade BianchiDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
DEMAIS
Um é pouco, dois é bom, três é
Millor Fernandes expôs os acidentes luminosos na história do homem exaltando o
instante em que os senhores Rolls & Royce toparam. Minha geração fixaria o encontro dos
senhores Lennon & McCartney. Momentos tais são cometas no céu do hemisfério sul.
Privilégio tê-los, dádiva vivê-los da primeira fila, ao alcance da mão. E é disto que se trata
aqui: entra oficialmente em fruição pública o trabalho-livro Paisagem Submersa. De
imagens fotográficas, comungado por João Castilho, Pedro David e Pedro Motta, indagado
da experiência desumana imposta a sete municípios naufragados pela Hidroelétrica de
Irapé.
Anunciações anteriores – entre outras, o festival de Noorderlicht (Holanda, 2005),
premiação no 5º Prêmio Porto Seguro Brasil de Fotografia (2005), 5ª Bienal de Fotografia e
Artes Visuais de Liége (Bélgica, 2006), lançamento de site na Galeria Pace (2006),
exposição no Palácio das Artes (2006) – nos prepararam, sabemos agora, apenas
timidamente para o resplendor da coisa finda. Impecável em sua singeleza, modesto mas
próprio em sua presença física, cuidadosamente curado do começo ao fim pelos autores,
endereça produtivamente vários aspectos da produção cultural, em particular a fotográfica.
O livro está (é) correto em seu “trabalho avaliador”: o que se perdeu, para além de
gestos compensatórios, foram coisas cuja magia as fastidiosas palavras nomeiam ...
quintais, o rio, ente vivo, indígena, os lugares favoritos onde Julietas e Romeus
construíram, suspiro a suspiro, o amoroso, os locais onde xibius foram arrancados ao ventre
do cascalho e consumidos, uma mangueira, um balanço, o chão sagrado onde pecados
foram arrependidos e medos endereçados pela Palavra do Senhor, tudo significando vida,
afinal igual a toda outra, vida besta. Na fazenda do São Domingos, do primo Tunico, a água
(não o pó) levou o frutuoso pé de limão galego, as mexeriqueiras ‘enredeiras’, o solitário
marmeleiro reservado às sobremesas que a traquinagem assaltava, o curral onde me deitei
olhando as estrelas de junho, e a dimensão do universo, afinal justa, me recebia em silêncio
impassível. O que perdi quando o progresso inundou parte de Cascalho Rico, e o que se
perdeu em Irapé, são as mesmas coisas: que uma palavra mais indômita denota por
ontologia - aquilo que diferente de nós nos reafirma e realoca no centro. Tudo o que aquela
paisagem endereçava: uma faina quase sempre escaldante e mal paga, cânticos de banzo e
liberdade, primevos bichos, paus e frutos silvestres, um lar, o meu centro do mundo. Tenho
dificuldades, as palavras exatas pelo vernáculo são frágeis substitutos ... O camarada John
Berger aduz:
Originalmente lar significou o centro do mundo – não em um sentido
geográfico, mas ontológico. Mircea Eliade demonstrou como o lar era o lugar do
qual o mundo podia ser fundado. Um lar era estabelecido, como dizia, “no coração
do real.” Nas sociedades tradicionais, tudo que fazia o mundo ter sentido era real;
o caos circundante existia e era ameaçador, mas era ameaçador porque ele era
irreal. Sem um lar no centro do real, não se estava apenas sem teto, mas também
perdido na não existência, na ‘irrealidade’. Sem um lar tudo era fragmentação.
2
Lar era o centro do mundo porque era o lugar onde uma linha vertical
cruzava uma horizontal. A linha vertical era um caminho levando acima para o céu
e abaixo para o submundo. A linha horizontal representava o tráfego do mundo,
todas as possíveis estradas levando ao longo da terra até outros lugares. Assim, no
lar, estava-se mais próximo dos deuses no céu e dos mortos no submundo. Essa
proximidade prometia acesso a ambos. E ao mesmo tempo, estava-se no ponto de
partida e, esperançosamente, de retorno de todas as jornadas terrestres.
(John Berger, And our faces, my heart, brief as
photos)
Incompreensíveis para algumas tribos urbanas, jogando os jogos do/no irreal. É por
isso que, talvez em suspeita ou intuição do lúgubre e do medonho, as estatísticas foram
barradas, as palavras próprias dos eventos funestos, preferidas e proferidas para
comparações entre coisas tangíveis, o jargão dos sempre, sempre, sempre equivocados
jornalistas aqueles “aflitos e aborrecidos profissionais, em vigília, calculando ...”. E a eles
juntados os urubus do direito, a oratória dos políticos - todos surdos e incapacitados para a
desordem dos sentimentos. Para a consonância sonoramente selvagem da bandinha ...
transformada, irremediavelmente - outrificada ...
Se o mau amador vive roído de dúvidas, o que dizer do calejado profissional
treinado, documentarista, fotojornalista, repórter fotográfico? Ora, ele desempenha para
balcões e numeradas – não o podem acometer dúvidas; ele espetaculariza – imagens sem
mercê; ele mostra avaliadoramente as lacerações – mas significar não promove a
experiência do conotado; ele soberbamente produz – ao preço de anular nosso julgamento:
“a legibilidade perfeita da cena, sua formulação, nos dispensa da recepção da imagem em
todo o seu escândalo” (Roland Barthes, Mythologies). Os grandes fotojornalistas não nos
têm deixado lacunas, incompletudes. Nenhuma fissura, fenda, brecha, nenhuma penetração,
danado gozo gabiru. É claro, a um custo alto, inafiançável:
Me parece curioso, para não dizer obsceno e totalmente aterrorizador, que
possa ocorrer a uma associação de seres humanos reunidos em uma companhia,
por necessidade e sorte, e por lucro, um órgão de jornalismo, espiar intimamente as
vidas de um grupo de seres humanos indefesos e consternadoramente injuriados,
uma família rural ignorante e indefesa, para o propósito de exibir a nudez,
desvantagem e humilhação dessas vidas diante de outro grupo de seres humanos
em nome da ciência do ‘jornalismo honesto’ (o que quer que seja que esse
paradoxo signifique), da humanidade, de bravura social, por dinheiro e por uma
reputação de fazer uma cruzada e por falta de preconceito que, quando bem
competentemente qualificado, é cambiável em qualquer banco por dinheiro ... e que
essas pessoas possam ser capazes de meditar esse prospecto sem a menor dúvida
sobre suas qualificações para produzir uma peça de trabalho ‘honesta’, e com uma
consciência melhor do que clara, e na certeza virtual de aprovação pública quase
unânime.
(James Agee, Let Us Now Praise Famous Men,
1939)
3
Tratam, eles, de escancarar o privado ao público, da promiscuidade amuletada em imagens,
da remoção, cirúrgica mas bárbara, de um evento de seu contexto histórico. Erradicado,
dessignificado, descontextualizado, despido, desassombrado, estetizado, politicamente
emasculado, eles nos brindam estórias sem estrondos, história muda, silente, história
esteticamente memorizada. Não importam as dúvidas óbvias do preço dos sucessos destes
homens nobres. Importa é que sua persistência histórica foi algo reconhecida e em seu todo
recusada. A recusa deve ter indicado direções que levaram à rica história-estória
representando um algo submerso. Parece que, costas dadas à cooptação mais pura e simples
do establishment, colocou em movimento esta recusa gerando tentativas, erros, tentativas,
erros, e encontros com algumas fotografias novas, frescas, sem culpa, demarcando um
futuro, ou apenas uma saída lateral, para um espaço arejado, bafejado pelo ideal construtivo
dos jovens.
Em trocados, somos apresentados a um esboço de uma versão não instrumental, não
funcional da prática do registro e do documento. A nenhum fato, nenhum fatídico. Entre
nós isto é notável. Em Minas, e talvez nas Gerais, a utopia gastou-se prematuramente por
ouro e nos danou, nos pariu pedras e consciências ocas ... Como o foi três jovens dedicarem
seis anos a um despropositado propósito! Daí minha suspeita de que o andamento escapou
do contemporâneo olhar vertiginoso visto do automóvel, ditado pelo computador, imposto
pela economia que teima em nos transformar em gigolôs americanos. O andamento em
Paisagem Submersa parece pastoral, silvestre, noturno, crepitante, um rock rural - como se
consome um pito, como se enrola um pito, como se contempla a espiralada azul esvaindo
em azul.
Blue Remembered Hills!
O que nunca se acomoda em nós é uma certa presença da parteira da morte. A
fotografia a tudo naturaliza, eterniza, conserva e embalsama, memoriza em um arquivo
morto a que se chama acervo. A máquina mais mortífera, mais mortal, gestos em sua
maioria investidos a fundo perdido, em tecidos desidratados, superfícies calcinadas. ‘Com
que fim perturbam elas’ o trigoso da luz da manhã, o azul dos dias e o rubro do ocaso?
Recusado o espetáculo e a geléia geral, o fim é o homem e suas coisas. Da criança
ao escafandrista, na água andando. As observações feitas pelos três jovens reclamam o
homem e suas coisas. Cartier-Bresson entendia a fotografia com uma verdade furtada, à
espreita, o indesculpável flagrante. Aqui uma outra verdade, forjada com a vontade, a
ciência e a anuência dos observados. Isto significa fotografias domésticas – poderia o livro-
trabalho ser apropriado por seus sujeitos como um álbum coletivo?
As coisas dos homens estão diferentes aqui. Somos educados pela pedra, pelo
frêmito esvoaçar de libélulas, pela sonata do rio azul, cipós tecelões, trilhas, vestígios.
Somos educados por uma narrativa inconsútil, circular, sem ponto de entrada, nenhum
seqüente lógico. E um deus estranho que desgeometriza... Somos educados por prendas
insuspeitas, pela roupa de ritual, e cores pré-anteriores ao pantone, azuis e rosas humildes
como tudo visto e revisto. Aprendemos o ponderado reciclar, o útil, e que as palavras,
lembretes devolvidos à terra, são meras tentativas de serventia frágil.
Indícios certos da loucura da visão, do barroco, palimpsestos imperceptíveis,
invisíveis erguendo ou tecendo o sublime que aqui submerge o belo. Compelidoras
descrições de superfícies que recusam a congelar o chamado real, propõem o toque e o tátil
como uma segunda visão, de um mundo e coisas opacas, de espaços incertos e/ou
ambíguos. Este mundo não é belo, é sublime. Teriam os autores re-encarnado o olho
4
cartesiano, reincorporado o prazer à visão às expensas do pecado carnal, caducando a
analítica?
E, afinal, redimiria a alvenaria estranha, a cor industrial, o poste de cimento ou tudo
isto, a que chamamos progresso, resume-se a apenas conforto para a fadiga física? Um sino
por um alto-falante? Um jegue por uma motocicleta? Uma estrada por uma trilha? O caos
pelo eucaliptal? Sasazakis pelas madeiras açoitadas pelo vento e aliviadas em azul? Espera-
se que no fim, neste fim está o princípio...
Em outras palavras, o trabalho-livro balsama algum peso da história da fotografia,
suas dores. Redime o retratar dos feitos do Crystal Palace, da Opera de Paris, do teste de
carga da ponte metálica - o preço e afetação que estas empresas cobraram, cobram,
cobrarão. O instrumento de perscrutar para conquistar o tridimensional foi ociosamente
aproveitado em outras dimensões. Evadiu da memória e do acervo e foi morar entre
avatares sem rosto, indômitos. A duvidosa questão do autor vividamente, pois fora do
acadêmico e do espetáculo, transmutada em indagação coletiva. Não se trata de um pé-de-
página para as teorias pósmodernistas que infestaram o ar, empestaram o desejo de produzir
apodrecendo-o em citações dos palavreadores, revelando segredos apenas mortos. Aqui
posso, à maneira de Barthes, somar ao que já está ali, somar-me ao que já está ali...
Vai disse o pássaro, porque as folhas estão cheias de crianças,
Maliciosamente escondidas, a reprimir o riso.
Vai, vai, vai, disse o pássaro: o gênero humano
Não pode suportar tanta realidade...
(T. S. Elliot, Burnt Norton, em Quatro Quartetos)
Rui Cezar dos Santos
Bhte 09/04/2008
Você também pode gostar
- Análise da Carta de Pero Vaz de CaminhaDocumento5 páginasAnálise da Carta de Pero Vaz de CaminhaAna AmorimAinda não há avaliações
- Alvaro Lapa Raso Como o ChaoDocumento113 páginasAlvaro Lapa Raso Como o ChaoMarco MoreiraAinda não há avaliações
- Na mais mentirosa das mentiras e outras crônicasNo EverandNa mais mentirosa das mentiras e outras crônicasAinda não há avaliações
- Pré-Modernismo: contexto, características e autoresDocumento21 páginasPré-Modernismo: contexto, características e autoresLivia TeixeiraAinda não há avaliações
- Particulas Elementares - Michel HouellebecqDocumento245 páginasParticulas Elementares - Michel HouellebecqDANILO NOBERTO DE OLIVEIRA SILVA100% (1)
- TZARA, T. 1918 Manifesto Dadaista - PTDocumento6 páginasTZARA, T. 1918 Manifesto Dadaista - PTLuisa FrazãoAinda não há avaliações
- Como num jazzDocumento8 páginasComo num jazzFabiana SeveriAinda não há avaliações
- Marília de Dirceu: A musa, a Inconfidência e a vida privada em Ouro Preto no século XVIIINo EverandMarília de Dirceu: A musa, a Inconfidência e a vida privada em Ouro Preto no século XVIIIAinda não há avaliações
- A PALANCA DE CHIFRE DOURADODocumento41 páginasA PALANCA DE CHIFRE DOURADOHelder AndreAinda não há avaliações
- Edith Wharton - Os OlhosDocumento18 páginasEdith Wharton - Os OlhosAdilson Dos SantosAinda não há avaliações
- Horto Magoas PDFDocumento160 páginasHorto Magoas PDFJulia CunhaAinda não há avaliações
- A traição da vida e o sentido do absurdoDocumento4 páginasA traição da vida e o sentido do absurdoFlávia AningerAinda não há avaliações
- Quando Voltar A Primavera - Divaldo Pereira FrancoDocumento167 páginasQuando Voltar A Primavera - Divaldo Pereira FrancoAdriano Ferreira SilverioAinda não há avaliações
- LORIGA, Ssbina. O Pequeno XDocumento117 páginasLORIGA, Ssbina. O Pequeno XEloisa RosalenAinda não há avaliações
- 5o Simulado ESA - Prova com Português, Matemática, História, Geografia, Inglês e RedaçãoDocumento18 páginas5o Simulado ESA - Prova com Português, Matemática, História, Geografia, Inglês e RedaçãoLipy MilitãoAinda não há avaliações
- ApostilaDocumento6 páginasApostilagilliteratoAinda não há avaliações
- Gondim - A Invenção Da Amazônia - Cap.1Documento37 páginasGondim - A Invenção Da Amazônia - Cap.1marcely.silvaAinda não há avaliações
- A vida, a morte e os mistérios dos TempláriosDocumento80 páginasA vida, a morte e os mistérios dos TempláriosrusybergAinda não há avaliações
- Pré ModernismoDocumento23 páginasPré ModernismovidaloucapedrolAinda não há avaliações
- (Jararaca) Edição Agosto 2020Documento29 páginas(Jararaca) Edição Agosto 2020Giordanna BelottiAinda não há avaliações
- BARBA, Eugênio - A Canoa de Papel PDFDocumento127 páginasBARBA, Eugênio - A Canoa de Papel PDFMônicaLeite100% (1)
- Índice episódico de leituraDocumento35 páginasÍndice episódico de leituraSkátos DietmannAinda não há avaliações
- SahlinsDocumento61 páginasSahlinsramon diego100% (2)
- Oficina Sertoeshomem1 Program1Documento35 páginasOficina Sertoeshomem1 Program1Cláudio Alberto dos SantosAinda não há avaliações
- O gênio de Ubaldi e a evolução da humanidadeDocumento512 páginasO gênio de Ubaldi e a evolução da humanidadeMarcelo BarrosAinda não há avaliações
- A crítica à hipocrisia religiosa em A RelíquiaDocumento20 páginasA crítica à hipocrisia religiosa em A Relíquiaana luizaAinda não há avaliações
- Amélia Rodrigues-Quando Voltar A PrimaveraDocumento180 páginasAmélia Rodrigues-Quando Voltar A PrimaveraLuka Carvalho Gusmão100% (2)
- Os Luminares - Eleanor CattonDocumento723 páginasOs Luminares - Eleanor CattonDanilo Guedes SdbAinda não há avaliações
- Ensaios e EstudosDocumento371 páginasEnsaios e EstudosclibilaAinda não há avaliações
- A nova pobreza de experiência e a ascensão da barbárieDocumento6 páginasA nova pobreza de experiência e a ascensão da barbáriecalvinsussieAinda não há avaliações
- Mbembe - Crítica Da Razão NegraDocumento17 páginasMbembe - Crítica Da Razão NegramarcolaxxAinda não há avaliações
- Carlos Drummond de AndradeDocumento6 páginasCarlos Drummond de AndradeEduAinda não há avaliações
- Natália Correia 10 anos depoisDocumento78 páginasNatália Correia 10 anos depoisBruno KutelakAinda não há avaliações
- Revisão Mega Simuladao 2023 LiteraturaDocumento25 páginasRevisão Mega Simuladao 2023 LiteraturaEmanuel CésarAinda não há avaliações
- A invenção de Morel e suas reflexões sobre realidade e simulacrosDocumento11 páginasA invenção de Morel e suas reflexões sobre realidade e simulacrosMarco MachadoAinda não há avaliações
- Xenofonte - A Retirada Dos Dez Mil (Trad. de Aquilino Ribeiro, Ed. Bertrand, Portugal)Documento248 páginasXenofonte - A Retirada Dos Dez Mil (Trad. de Aquilino Ribeiro, Ed. Bertrand, Portugal)Ronaldo Bertoni80% (5)
- Pré-Modernismo: textos importantesDocumento5 páginasPré-Modernismo: textos importantesJuliana FerreiraAinda não há avaliações
- Morro Do Bumba, Etnografando A Tranformação de Uma Paisagem Sob Múltiplos Olhares: Da Invisibilidade À Tragédia, Uma Página Que Não Deve Ser ViradaDocumento177 páginasMorro Do Bumba, Etnografando A Tranformação de Uma Paisagem Sob Múltiplos Olhares: Da Invisibilidade À Tragédia, Uma Página Que Não Deve Ser ViradaJoão Francisco Canto LoguercioAinda não há avaliações
- Francisco Cândido Xavier e a mediunidade poéticaDocumento212 páginasFrancisco Cândido Xavier e a mediunidade poéticalirynndoAinda não há avaliações
- Rondônia Roquette PintoDocumento466 páginasRondônia Roquette PintoEdimarlon Oliver100% (1)
- HISTÓRIAS IRREAIS DO RIO GRANDE - PDF Versão 1Documento54 páginasHISTÓRIAS IRREAIS DO RIO GRANDE - PDF Versão 1Milton PucineliAinda não há avaliações
- O Pré ModernismoDocumento18 páginasO Pré Modernismodhq28mm4xgAinda não há avaliações
- Elefante No CaosDocumento95 páginasElefante No CaosAdriano CostaAinda não há avaliações
- O Dicionário do Diabo de Ambrose BierceDocumento300 páginasO Dicionário do Diabo de Ambrose BierceErick SilvaAinda não há avaliações
- O espetáculo da morte na arenaDocumento168 páginasO espetáculo da morte na arenaMara Sousa100% (1)
- Caio Fernando Abreu e Luiz Arthur Nunes - A Maldição Do Vale Negro (PDF) (Rev)Documento82 páginasCaio Fernando Abreu e Luiz Arthur Nunes - A Maldição Do Vale Negro (PDF) (Rev)DaviSallesAinda não há avaliações
- Notas Do Exilio, Por Sampaio BrunoDocumento363 páginasNotas Do Exilio, Por Sampaio BrunoMaria do Rosário Monteiro100% (1)
- Jean Starobinski - Jean-Jacques Rousseau Transparencia e ObstaculoDocumento12 páginasJean Starobinski - Jean-Jacques Rousseau Transparencia e Obstaculorenato100% (1)
- Análise Diários de MotocicletaDocumento18 páginasAnálise Diários de MotocicletaSamyCastro87Ainda não há avaliações
- Bioy & Borges - Obra Completa em ColaboraçãoDocumento679 páginasBioy & Borges - Obra Completa em ColaboraçãoGuilherme. Mr100% (1)
- D. Vital - Jorge de Lima - 1945Documento51 páginasD. Vital - Jorge de Lima - 1945darthvaderfilho99Ainda não há avaliações
- Manifesto Dadaísta, Tristan TzaraDocumento13 páginasManifesto Dadaísta, Tristan TzaraGiulio Cesare Del CarrettoAinda não há avaliações
- Desafio Weekend Lista 3 Aula 3 GBE Romance e Artigo Opinião Língua Portuguesa PDFDocumento7 páginasDesafio Weekend Lista 3 Aula 3 GBE Romance e Artigo Opinião Língua Portuguesa PDFIranilda MarquesAinda não há avaliações
- Reviver histórias do passadoDocumento106 páginasReviver histórias do passadoDaniel Reis NandovaAinda não há avaliações
- Beck & Guizzo Estudos Culturais e Estudos de Genero ProposicoesDocumento11 páginasBeck & Guizzo Estudos Culturais e Estudos de Genero ProposicoesAleques EitererAinda não há avaliações
- Projeto EspecializaçãoDocumento14 páginasProjeto EspecializaçãoNaiade BianchiAinda não há avaliações
- ARQUIVO artigofazendogeneroArianaMaradaSilvaDocumento12 páginasARQUIVO artigofazendogeneroArianaMaradaSilvaNaiade BianchiAinda não há avaliações
- Por Um Pensamento Lésbico DecolonialDocumento1 páginaPor Um Pensamento Lésbico DecolonialNaiade BianchiAinda não há avaliações
- Naiade - Apresentação EspecializaçãoDocumento9 páginasNaiade - Apresentação EspecializaçãoNaiade BianchiAinda não há avaliações
- Verdade e PaisagemDocumento3 páginasVerdade e PaisagemNaiade BianchiAinda não há avaliações
- Calendário Dos Seminários e Oficinas de Pesquisa Reformulado Curso de Fundamentos 3 EdiçãoDocumento2 páginasCalendário Dos Seminários e Oficinas de Pesquisa Reformulado Curso de Fundamentos 3 EdiçãoNaiade BianchiAinda não há avaliações
- Naiade - Apresentação EspecializaçãoDocumento9 páginasNaiade - Apresentação EspecializaçãoNaiade BianchiAinda não há avaliações
- Edgardo Lander (Org.) A Colonialidade Do SaberDocumento130 páginasEdgardo Lander (Org.) A Colonialidade Do SaberMarina Mesquita100% (1)
- Marketing Verde na Era da SustentabilidadeDocumento84 páginasMarketing Verde na Era da SustentabilidadeNaiade BianchiAinda não há avaliações
- Paisagem Como SímboloDocumento8 páginasPaisagem Como SímboloNaiade BianchiAinda não há avaliações
- A Fotografia e o Século XIXDocumento6 páginasA Fotografia e o Século XIXNaiade BianchiAinda não há avaliações
- EASTLAKEDocumento16 páginasEASTLAKENaiade BianchiAinda não há avaliações
- ARAGODocumento6 páginasARAGONaiade BianchiAinda não há avaliações
- DEZAYASDocumento4 páginasDEZAYASNaiade BianchiAinda não há avaliações
- BAUDELAIREDocumento4 páginasBAUDELAIRENaiade BianchiAinda não há avaliações
- Cristiane Thiel - A Psicologia Das Cores No Marketing. Entenda O Impacto Das Cores em Nossas Emoções E Saiba Como Aplicar Esses Conhecimentos Aos Negócios PDFDocumento105 páginasCristiane Thiel - A Psicologia Das Cores No Marketing. Entenda O Impacto Das Cores em Nossas Emoções E Saiba Como Aplicar Esses Conhecimentos Aos Negócios PDFPaulus Martinus100% (3)
- Estado e Cinema P 53Documento2 páginasEstado e Cinema P 53Naiade BianchiAinda não há avaliações
- Marketing Social nas ONGsDocumento79 páginasMarketing Social nas ONGsNaiade BianchiAinda não há avaliações
- A Ideologia e A Teoria Da ComunicaçãoDocumento14 páginasA Ideologia e A Teoria Da ComunicaçãoMarcioAinda não há avaliações
- Filosofia Da Caixa Preta Ensaios para Uma Futura Filosofia Da FotografiaDocumento67 páginasFilosofia Da Caixa Preta Ensaios para Uma Futura Filosofia Da FotografiaNaiade BianchiAinda não há avaliações
- Dic Ingles Port Collins 6 Ed 2006Documento1.295 páginasDic Ingles Port Collins 6 Ed 2006Adriano Fernandes100% (1)
- Estado e Cinema No Brasil Isabella VidalDocumento27 páginasEstado e Cinema No Brasil Isabella VidalNaiade BianchiAinda não há avaliações
- Corpos - Generos - Sexualidades - 2o EdicaoDocumento71 páginasCorpos - Generos - Sexualidades - 2o EdicaoNaiade BianchiAinda não há avaliações
- Vista Do Projetando Um Brasil Moderno. Cultura e Cinema Na Década de 1930Documento16 páginasVista Do Projetando Um Brasil Moderno. Cultura e Cinema Na Década de 1930Naiade BianchiAinda não há avaliações
- Caderno - Cinema para ProfessoresDocumento51 páginasCaderno - Cinema para ProfessoresLídia Mello100% (1)
- Cinema Novo e chanchadasDocumento26 páginasCinema Novo e chanchadasNaiade BianchiAinda não há avaliações
- A Representação Da Mulher No CinemaDocumento13 páginasA Representação Da Mulher No CinemaCláudio ZarcoAinda não há avaliações
- A contribuição de Moacyr Fenelon para o cinema brasileiroDocumento12 páginasA contribuição de Moacyr Fenelon para o cinema brasileiroThiago FelícioAinda não há avaliações
- A Emergência Dos Gêneros No Cinema Brasileiro - Do Primeiro Cinema Às Chanchadas e PornochancadasDocumento19 páginasA Emergência Dos Gêneros No Cinema Brasileiro - Do Primeiro Cinema Às Chanchadas e PornochancadasMarcioMarkendorfAinda não há avaliações
- Ficha 4 DR2 Leguminosas STC6Documento3 páginasFicha 4 DR2 Leguminosas STC6Isabel HenriquesAinda não há avaliações
- PPC Engenharia de Producao Atualizado e Completo 2017-1Documento304 páginasPPC Engenharia de Producao Atualizado e Completo 2017-1luizmenezes2010Ainda não há avaliações
- A Evolução Do Sistema de Segurança Social em AngolaDocumento26 páginasA Evolução Do Sistema de Segurança Social em AngolaKitoMesquita100% (1)
- TA2 - Foundation FieldbusDocumento20 páginasTA2 - Foundation FieldbusMarcus Winicius de OliveiraAinda não há avaliações
- Direito Penal III Aulas Práticas Sónia Fidalgo PDFDocumento73 páginasDireito Penal III Aulas Práticas Sónia Fidalgo PDFSamanta PereiraAinda não há avaliações
- TCC - Desenvolvimento Aplicativo para o ROS (Robotic Operating System)Documento101 páginasTCC - Desenvolvimento Aplicativo para o ROS (Robotic Operating System)Caio TeixeiraAinda não há avaliações
- Modelagem Avançadas de Peças - Solidworks 2015 Training PDFDocumento457 páginasModelagem Avançadas de Peças - Solidworks 2015 Training PDFrogerio fiorentiniAinda não há avaliações
- Como a contabilidade evoluiu com as novas tecnologiasDocumento94 páginasComo a contabilidade evoluiu com as novas tecnologiasAngela Maria Coelho86% (36)
- Semiologia Do Locomotor EquinoDocumento6 páginasSemiologia Do Locomotor EquinoLyah LamarckAinda não há avaliações
- Proposta de Implantação de Projeto Piloto de Bicicletas CompartilhadasDocumento8 páginasProposta de Implantação de Projeto Piloto de Bicicletas CompartilhadasMarcos Vinicius Silva MarquesAinda não há avaliações
- A D P A D E Apae de Santa Cecília: Verificar SeDocumento3 páginasA D P A D E Apae de Santa Cecília: Verificar SeAlex RAinda não há avaliações
- Curso Jesuíta ConimbricenseDocumento292 páginasCurso Jesuíta ConimbricenseHelena Pinela100% (1)
- Parque multiuso de Paraí: revitalização e novos usosDocumento103 páginasParque multiuso de Paraí: revitalização e novos usosRUDIANE ZACARIAAinda não há avaliações
- Apostila Estatística Mat Vol 2 2008Documento23 páginasApostila Estatística Mat Vol 2 2008anon-92473100% (2)
- 3 - (Consumo de Chocolate) - Ensino MédioDocumento3 páginas3 - (Consumo de Chocolate) - Ensino MédioFrank InácioAinda não há avaliações
- Mandala astrologica e suas 12 CasasDocumento4 páginasMandala astrologica e suas 12 CasasMeu Redondinho DonutsAinda não há avaliações
- Capítulo 1001Documento70 páginasCapítulo 1001Mércia SilveiraAinda não há avaliações
- Apostila SEED HistóriaDocumento400 páginasApostila SEED HistóriaCadernos EJA100% (9)
- Bazin Mito Cinema TotalDocumento4 páginasBazin Mito Cinema TotalAmaterasuAinda não há avaliações
- Nossos Desafios de EvoluçãoDocumento16 páginasNossos Desafios de EvoluçãoJuliana da SilvaAinda não há avaliações
- Cantares Da Educação Do Campo PDFDocumento17 páginasCantares Da Educação Do Campo PDFPaulo Davi Johann50% (2)
- Organograma InssDocumento6 páginasOrganograma InssDelmondesAinda não há avaliações
- Dez Mandamentos para Escrita AcadêmicaDocumento4 páginasDez Mandamentos para Escrita AcadêmicaAlipe CássioAinda não há avaliações
- 02.111 EDAT 16b PDFDocumento38 páginas02.111 EDAT 16b PDFdemem09Ainda não há avaliações
- Principais tipos de aparelhos de mediçãoDocumento4 páginasPrincipais tipos de aparelhos de mediçãoElsa SilvaAinda não há avaliações
- Diario Oficial RR 22.06.2023Documento114 páginasDiario Oficial RR 22.06.2023Rodrigo KanazawarkpbscribdAinda não há avaliações
- Orientação de carreiraDocumento9 páginasOrientação de carreiraAline RodriguesAinda não há avaliações
- Cap 12 - Análise de Dados CategorizadosDocumento16 páginasCap 12 - Análise de Dados CategorizadosHenrique Junio FelipeAinda não há avaliações
- Gree (Manual Técnico 2002) BaseDocumento64 páginasGree (Manual Técnico 2002) Basebkpreplaytryd0% (1)
- Técnico em EnfermagemDocumento3 páginasTécnico em EnfermagemHellohayne CostaAinda não há avaliações