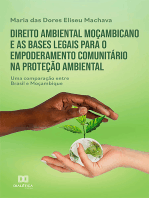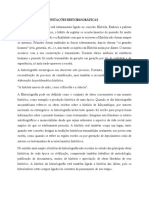Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Trabalho Final de Antropologia
Trabalho Final de Antropologia
Enviado por
Anonymous zeZgrkDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Trabalho Final de Antropologia
Trabalho Final de Antropologia
Enviado por
Anonymous zeZgrkDireitos autorais:
Formatos disponíveis
0
ndice
Pag
1.0.INTRODUO.................................................................................................................1
1.1.OBJECTIVOS....................................................................................................................3
1.1.1.Geral................................................................................................................................3
1.1.2.Especificos......................................................................................................................3
1.2. Problema............................................................................................................................3
1.3. Hipteses...........................................................................................................................4
1.4.Justificativa.........................................................................................................................4
2.0.METODOLOGIA..............................................................................................................4
2.1.Quanto a origem e fins.......................................................................................................5
3.0.REFERENCIAL TERICO...............................................................................................5
3.1.Origem e evoluo histrica do conceito de famlia..........................................................5
3.2.A Evoluo histrica do conceito de famlia......................................................................7
3.2.1.Conceito da famlia........................................................................................................11
3.3.Famlia como fenmeno natural ou cultural.....................................................................11
3.4.Novas abordagens tericas e metodologias no estudo da famlia....................................12
3.5.Estudo de caso (famlias em contexto de mudana em Moambique).............................13
4.0.CONCLUSES................................................................................................................16
5.0.REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS.............................................................................17
1.0.INTRODUO
O presente estudo tem como a principal abordagem a famlia desde origem e evoluo histrica
do conceito de famlia, famlia como fenmeno cultural, novas abordagens tericas e
metodolgicas no estudo da famlia e estudo de caso tocante a famlia em contexto de mudana
em Moambique. Desta feita, importa referenciar que esta premissa bsica, ao passo que
tambm incontroversa que, o ser humano, ao receber o dom da vida, est ligado de alguma
maneira ao seio familiar, considerado como estrutura bsica social.
O grande vnculo natural que une o homem famlia faz tornar verdadeira a mxima de que no
existe qualquer outra instituio que seja to intimamente ligada a ele. Simples ou complexa,
assente do modo mais imediato em instintos primordiais, a famlia nasce espontaneamente pelo
simples desenvolvimento da vida humana.
Seja pelo instinto de perpetuao da espcie ou pelo repdio solido, o facto que a dimenso
que a abarca as estruturas familiares , sem dvidas, muito ampla, haja vista que o seu conceito
tem acompanhado as constantes transformaes que permeiam a sociedade, sendo necessrios
princpios constitucionais que iro reg-las, em suas variedades, no mbito jurdico.
Destarte, faz-se necessrio a aplicao de variados ramos do conhecimento, inclusive e
principalmente a cincia jurdica, para que se compreenda as diferentes e mltiplas
peculiaridades de cada agrupamento familiar, que se analisados sob uma ptica singular,
desvirtuam de sua real aparncia.
Na comunidade jurdica, constitucionalizou o Direito de Famlias, acarretando modificaes que
incidiram sobre os paradigmas que regulamentam a famlia como base da sociedade, no tendo
mais por propsito o patrimnio e sim o seu sujeito, uma vez que os valores jurdicos atriburam
maior valor s pessoas; a ilegitimidade da descendncia, a indissolubilidade do casamento, a
inferioridade feminina bem como as supersties que circundavam as variedades familiares
foram desviadas, preponderando a afectividade.
Nesses parmetros, sem intuito exaustivo, este trabalho abordar de modo sistemtico e
objectivo as transformaes relativas famlia, tanto na sociedade quanto no mbito jurdico,
buscando, primordialmente, no ncleo constitucional a favor s novas entidades familiares que
se desencadearam ao longo dos tempos.
Outrossim, tratar dos princpios norteadores que traaram directrizes ao Direito de Famlias,
reflectindo sobre a funo social familiar bem como a nova concepo a ela atribuda.
Para a realizao do presente instrumento, prope-se a seguinte estrutura:
Primeiro:
apresentar-se-
metodologia
de
trabalho
proposta
para
estudo,
nomeadamente: os tipos e tcnicas de investigao.
Segundo: Far-se- referencial terico que integra aspectos importantes sobre a famlia.
Terceiro: Apresentar se o concluses do presente trabalho; e
Quarto: Apresentar se suporte bibliogrfico do estudo.
1.1.OBJECTIVOS
1.1.1.Geral
Analisar o principal papel da famlia em contexto de mudanas em Moambique.
1.1.2.Especificos
o Descrever a origem e evoluo histrica do conceito de famlia;
o Analisar famlia como fenmeno cultural;
o Descrever as novas abordagens tericas e metodologias no estudo da famlia; e
o Apresentar um estudo de caso da famlia no contexto de mudanas em Moambique.
1.2. Problema
Um dos grandes impulsionadores da famlia em contexto de mudanas em Moambique o
privilgio e considerao da origem e evoluo histrica da famlia no mbito cultural ou natural
de um determinado Estado nascem mediante um sistema de examinar a evoluo do conceito de
famlia. A famlia, sem sombra de dvida, foi um instituto que sofreu, ao longo do tempo,
profundas adaptaes e modificaes. Outrora vista sob a ptica inteiramente patrimonial,
econmica e com fins de reproduo, passou a ser analisada a partir do vnculo afectivo que a
acarinhava. De facto, a ideia centralizada de que o ncleo familiar seria somente aquele
constitudo por meio do matrimnio foi sendo afastado medida que novos agrupamentos foram
se originando e conquistando espao em meio sociedade, o que, todavia, no poderia ser
ignorado pelo legislador, fazendo-se necessrio reconhec-las e garantir sua proteco. A
dignidade da pessoa humana, abriu um espao para uma ampliao do conceito de famlia, antes
restrito quele ncleo originado do casamento. Os princpios constitucionais, principalmente
criaram uma nova directriz para o direito de famlia, sendo impossvel restringir seu surgimento
apenas como decorrncia matrimnio. Assim, ser analisado o deslocamento do eixo que regia a
famlia, antes fixado sobre o casamento e agora fixado na afectividade. As consequncias de tal
facto so notrias, em especial, com o surgimento de diversos tipos de famlias, todos dignos de
proteco do Estado. Portanto, a presente pesquisa demonstrar que a famlia no mais se baseia
em uma viso patrimonialista, com fins econmicos e de reproduo, mas sim, como meio de ser
atingida a dignidade humana.
Portanto com este posicionamento pretende se saber:
At que ponto a famlia em contexto de mudana em Moambique pode contribuir no
desenvolvimento local?
1.3. Hipteses
1. H1) A famlia em contexto de mudana em Moambique quando melhor privilegiado o
seu seio social e de actuao pode garantir o desenvolvimento local desejado.
2. H0) Provavelmente a famlia em contexto de mudanas em Moambique enquanto no
integrar as novas abordagens tericas e metodolgicas pode regredir o desenvolvimento
local.
1.4.Justificativa
Tendo em conta a famlia em contexto de mudana em Moambique, est num nvel baixo
relativamente aos outros pases, dai que deve se fazer uma anlise em novas abordagens tericas
e metodolgicas no estudo da famlia por parte dos Governantes com vista a implementar uma
poltica de criao de uma Governao capaz de impulsionar a famlia a perceber o seu papel no
desenvolvimento scio - econmico no Pas.
O tema de maior relevncia na medida em que interessa bastante as famlias e a sociedade de
Moambique em geral, tambm, de interesse nacional visto que todos os cidados tm de
apostar em novas abordagens tericas e metodolgicas no estudo da famlia que possam
responder positivamente os problemas da famlia e apresentar um programa clere a altura do
seu pas e que desenvolve economicamente.
A pesquisa poder contribuir no s para aprofundar os conhecimentos que os leitores tm sobre
a famlia em contexto de mudanas em Moambique, mas tambm para deixar claro a sociedade,
fazendo com que eles percebam a importncia da existncia de uma famlia nuclear ou mesmo
alargada para o desenvolvimento scio-econmico local.
2.0.METODOLOGIA
Pesquisa o processo formal e sistemtico de desenvolvimento do mtodo cientfico que tem
como objectivo fundamental descobrir respostas para problemas mediante o emprego e
procedimentos cientficos (GIL, 2006:42).
Tendo em conta os objectivos definidos para a realizao do trabalho propem-se a seguinte
metodologia:
2.1.Quanto a origem e fins
A pesquisa bibliogrfica - porque desenvolvida a partir de material j publicado, constitudo
principalmente de livros e artigos cientficos. (GIL, 2006:65).
A pesquisa ser desenvolvida mediante o uso de material j publicado, tais como livros que
abordam esta matria e a artigos escritos sobre a matria em sites na Internet.
E ser usado para identificar o suporte terico sobre as matrias ligadas a famlia em contexto de
mudanas em Moambique.
3.0.REFERENCIAL TERICO
3.1.Origem e evoluo histrica do conceito de famlia
De acordo com WALDO (2004), relata que a origem da famlia est directamente ligada
histria da civilizao, uma vez que surgiu como um fenmeno natural, fruto da necessidade do
ser humano em estabelecer relaes afectivas de forma estvel.
Ainda o WALDO (2004), clarifica que deixando de lado a famlia da antiguidade, em sua forma
primitiva, possvel afirmar que a famlia tem como base a sistematizao formulada pelo
direito romano e pelo direito cannico.
A famlia romana era formada por um conjunto de pessoas e coisas que estavam submetidas a
um chefe: o pater famlias. Esta sociedade primitiva era conhecida como a famlia patriarcal que
reunia todos os seus membros em funo do culto religioso, para fins polticos e econmicos,
(LEITE, 1991).
Ainda na concepo do LEITE (1991), explica que o direito romano teve o mrito de estruturar,
por meio de princpios normativos, a famlia. Isto porque at ento a famlia era formada por
meio dos costumes, sem regramentos jurdicos. Assim, a base da famlia passou a ser o
casamento, uma vez que somente haveria famlia caso houvesse casamento.
Com a ascenso do Cristianismo, a Igreja Catlica assumiu a funo de estabelecer a disciplina
do casamento, considerando-o um sacramento. Assim, passou a ser incumbncia do Direito
Cannico regrar o casamento, fonte nica do surgimento da famlia, (LEITE, 1991).
Na ptica do CHIAVENATO (1999), exibe que no tempo do Imprio somente o casamento
catlico (in facie Ecclesiae) era conhecido, pois era essa a religio oficial do pas. Assim, apenas
poderiam casar-se as pessoas que professassem a religio catlica.
O que se pode detectar, portanto, que tanto o Direito Cannico, por meio de suas normas de
cunho moral, idealizadas e impostas pela Igreja Catlica, quanto outras regras estipuladas e
moldadas pelos portugueses, mantinham todas as famlias sob intensa fiscalizao e vigilncia,
fossem formadas por brancos, negros, ndios ou advindas da fuso destes, (CHIAVENATO,
1999).
Desta forma, a famlia se desenvolveu, fruto de uma mistura de raas e culturas, sob a tentativa
de um controlo intenso e repressor realizado a pela igreja catlica. Tal constatao mostra-se de
suma importncia para a compreenso da evoluo da famlia, tpico no qual dedicar-se-
ateno especfica nas linhas seguintes, (CHIAVENATO, 1999).
3.2.A Evoluo histrica do conceito de famlia
No pensamento do PEREIRA (1997), explica a evoluo da famlia fazendo meno a trs fases
histricas, sendo elas: o estado selvagem, barbrie e civilizao.
No estado selvagem, os homens apropriam-se dos produtos da natureza prontos para serem
utilizados. Aparece o arco e a flecha e, consequentemente, a caa. a que a linguagem comea a
ser articulada. Na barbrie, introduz-se a cermica, a domesticao de animais, agricultura e
aprende-se a incrementar a produo da natureza por meio do trabalho humano; na civilizao o
homem continua aprendendo a elaborar os produtos da natureza: o perodo da indstria e da
arte.
Para o ENGELS (1998), analisa as fases pr-histricas at a civilizao, descrevendo
primeiramente o estado selvagem, dividindo-o em trs fases. Na fase inferior, o homem vivia em
rvores e lutava pela sobrevivncia em meio a feras selvagens. Sua alimentao era base de
razes e frutos. Na fase mdia, o homem comeou a agregar sua alimentao frutos do mar, e
caracterizou-se pelo surgimento do fogo, a maior descoberta da humanidade. Em virtude de tal
descoberta, o homem buscou aprimorar sua alimentao com tubrculos, caa e farinceos
cozidos com cinzas quentes. Por fim, o autor destaca a fase selvagem superior, a qual ocorreu
quando o homem despertou para as invenes de armas usadas na caa de animais. As
residncias fixavam-se em aldeias e os homens passavam a desenvolver actividades como
construo de utenslios feitos de madeira e tecidos confeccionados a mo.
Quanto fase da barbrie, ENGELS (1998), divide seu estudo tambm em trs fases idnticas s
acima mencionadas. Primeiramente a fase inferior, quando da descoberta da argila e da utilizao
da mesma para revestir cestos e vasos para torn-los refractrios. Outra caracterstica importante
dessa fase foi que o homem passou a produzir o seu prprio sustento, atravs do cultivo
domstico de plantas e da criao de animais. O mesmo autor descreve algumas caractersticas
importantes desse perodo:
Viviam em casas de tijolos secados ao sol ou pedra, casas em forma de fortalezas, cultivavam
em terrenos irrigados artificialmente o milho e outras plantas comestveis, diferentes de acordo
com o lugar e clima e que eram sua principal fonte de alimentao. Haviam chegado at a
domesticar alguns animais: os mexicanos, o peru e outras aves; e os peruanos. Alm disso,
sabiam trabalhar os metais, excepto o ferro, razo pela qual no conseguiam ainda prescindir das
armas e instrumentos de pedra.
Percebe-se que nesse momento histrico o homem despertou para o cultivo de produtos agrcolas
e para a domesticao de animais, passou a viver em casas e a conviver em grupos, nas
chamadas aldeias. E, na fase superior da barbrie, o homem inventou a escrita e despertou para a
fundio do minrio de ferro.
No que diz respeito especialmente evoluo da famlia, No de Medeiros elenca algumas
teorias:
Basicamente a famlia segundo HOMERO (1998), firmou sua organizao no patriarcado,
originado no sistema de mulheres, filhos e servos sujeitos ao poder limitador do pai. Aps surgiu
a teoria de que os primeiros homens teriam vivido em hordas promscuas, unindo-se ao outro
sexo sem vnculo civis ou sociais. Posteriormente, organizou-se a sociedade em tribos,
evidenciando a base da famlia em torno da mulher, dando origem ao matriarcado. O pai poderia
at ser desconhecido. Os filhos e parentes tomavam as normas e nome da me.
Desse modo, conforme o autor, a famlia inicialmente foi chefiada pela mulher, mas por um
perodo muito curto, pois, em seguida o homem assumiu a direco da famlia e dos bens. Neste
diapaso, ENGELS (1998), ao estudar a famlia, divide sua evoluo em quatro etapas: famlia
consangunea, famlia punaluana, famlia pr-monogmica e a famlia monogmica.
A famlia consangunea foi a primeira etapa da famlia. Nela, os grupos conjugais se separam
por geraes. Todos os avs e avs, dentro dos limites da famlia, so em seu conjunto, marido e
mulher entre si.
Nessa espcie de famlia, seus membros se relacionavam sexualmente, entre si: irmos com
irms, marido e mulher. Esse modelo de famlia, no entanto, acabou desaparecendo, dando lugar
ao modelo de famlia punaluana, excluindo a prtica da relao sexual entre os membros da
prpria famlia, sendo que em seu auge, foi determinada a proibio do casamento entre primos
de segundo e terceiro graus.
ENGELS (1998), enfatiza como era a relao materno-filial, nas famlias formadas por grupos:
Em todas as formas de famlias por grupos, no se pode saber com certeza quem o pai de uma
criana, mas sabe-se quem a me. Muito embora ela chame seus filhos a todos da famlia
comum e tenha para com eles deveres maternais, a verdade que sabe distinguir seus prprios
filhos dos demais. claro, portanto, que, em toda a parte onde subsiste o casamento por grupos,
a descendncia s pode ser estabelecida do lado materno e, portanto, reconhece-se apenas a
linhagem feminina. De fato isso que ocorre com todos os povos que se encontram no estado
selvagem e no estado inferior da barbrie.
Pelo fato das famlias viverem em grandes grupos, era normal que as mulheres se relacionassem
com diversos homens, dificultando a identificao do pai, porm a me estava sempre certa, vez
que estava vinculada gestao. A partir da proibio do casamento entre seus membros, a
famlia foi se fortalecendo enquanto instituio social e religiosa.
Na famlia pr-monogmica, a mulher deixa de relacionar-se com vrios homens para ser de
propriedade de um s, enquanto ao homem era permitido a prtica da poligamia. Se fosse
constatado o adultrio, por parte da mulher, ela era castigada de forma cruel.
Nas formas anteriores de famlia, o homem nunca sentira dificuldade em encontrar mulheres,
podiam optar por uma ou mais, porm na famlia pr-monogmica esses hbitos tornaram-se
raros, sendo necessrio procur-las. ENGELS (1998) afirma: por isso comeam com o
casamento pr-monogmico, o rapto e a compra de mulheres, sintomas bastante difundidos, mas
nada mais que sintomas de uma transformao muito mais profunda que se havia efectuado.
O casamento passou a ser uma forma de manter para si uma esposa, j que eram raras, dando
origem famlia monogmica, caracterizada pelo casamento e pela procriao.
Conforme o mesmo autor, somente ao homem era concedido o direito de romper o casamento ou
ento repudiar sua mulher, em caso de traio ou esterilidade. A lei da poca, o Cdigo de
Napoleo, permitia que o homem fosse infiel desde que no levasse a sua concubina para o lar
conjugal.
10
Por questes histricas j mencionadas, tornou-se invivel estabelecer um modelo familiar
uniforme, havendo a necessidade de traduzi-la em conformidade com as transformaes sociais
no decorrer do tempo, como cita (FARIAS E REOSENVALD, 2011).
Ainda os autores FARIAS & REOSENVALD (2011), elucidam que a expresso famlia,
etimologicamente, deriva do latim famlia, designando o conjunto de escravos e servidores que
viviam sob a jurisdio do pater famlias. Com sua ampliao, tornou-se sinnimo de Gens que
seria o conjunto de agnados (os submetidos ao poder em decorrncia do casamento) e os
cognados (parentes pelo lado materno).
No entanto, o Estado ainda sofria forte influncia da igreja catlica, sendo tal viso traduzida em
regras que geravam preconceito em relao s unies que no decorriam do casamento catlico.
No entanto, aos poucos o Estado comeou a se afastar das interferncias da igreja e passou a
disciplinar a famlia sob o enfoque social; a instituio familiar deslocou-se do posto de mero
agente integralizador do Estado, para pea fundamental da sociedade. Nesse compasso, inicia-se
a mudana do ideal patrimonialstico, com indcios ligados ao modelo familiar estatal, alm do
carcter produtivo e econmico, abrindo espao para a estrutura afectiva embalada pela
solidariedade (www.infopedia.com/gentios.Acesso em 13/08/2014).
At a promulgao da Carta Magna de 1988, o rol era totalmente taxativo e limitado, vez que
apenas aos grupos gerados por meio do casamento era conferida o 'status familiar', preconizado
pelo Cdigo Civil de 1916 que, sob forte influncia francesa, traava parmetros
matrimonializados. Sob este mesmo prisma, destaca-se a Lei do Divrcio, que atribua parte
culpada pela separao, vrios tipos de sanes, aludindo que a qualquer preo o lao familiar
formado pelo matrimnio deveria ser mantido. Era, basicamente, o sacrifcio da felicidade
pessoal dos membros da famlia em nome da manuteno do vnculo de casamento
(www.infopedia.com/gentios.Acesso em 13/08/2014).
Veja, portanto, que o Estado entedia, at ento, que a famlia apenas surgia a partir do casamento.
Os conjuntos de pessoas unidos sem tal conveno no eram considerados famlia e, em razo
disso, no mereciam a proteco estatal, (www.infopedia.com/gentios.Acesso em 13/08/2014).
Contudo, com a promulgao da Constituio de 1988, houve um impacto relevante sobre tais
concepes, por meio dos princpios constitucionais elencados que reflectiram directamente no
Direito de Famlias, (FARIAS & REOSENVALD, 1999).
11
FARIAS & REOSENVALD, (1999), enobrece que de extrema importncia salientar que, a
mulher, outrora tratada com inferioridade, teve sua capacidade reconhecida no que diz respeito
sua posio de cnjuge. Detecta-se, portanto, que ao ncleo familiar passou a ser imputado maior
prioridade o prprio ser humano, sendo considerado absolutamente inconstitucional violar
direitos que dizem respeito sua dignidade; o conceito de famlia-instituio foi substitudo
para famlia-instrumento do desenvolvimento da pessoa humana, protegida de acordo com
interesse de seus componentes, com igualdade bem como solidariedade entre eles.
3.2.1.Conceito da famlia
Na ideia do VELOZO (2005), valoriza que de fundamental importncia para a compreenso
deste estudo a abordagem do conceito de entidade familiar.
A entidade familiar de incio constituda pela figura do marido e da mulher. Depois se amplia
com o surgimento da prole. Sob outros prismas, a famlia cresce ainda mais: ao se casarem, os
filhos no rompem o vnculo familiar com seus pais e estes continuam fazendo parte da famlia,
os irmos tambm continuam, e, por seu turno, casam-se e trazem os seus filhos para o seio
familiar, (VELOZO, 2005).
De acordo com o VELOZO (2005), a famlia uma sociedade natural formada por indivduos,
unidos por lao de sangue ou de afinidade. Os laos de sangue resultam da descendncia. A
afinidade se d com a entrada dos cnjuges e seus parentes que se agregam entidade familiar
pelo casamento.
3.3.Famlia como fenmeno natural ou cultural
Na ptica do ARIS (1978), a famlia veio da evoluo natural como nascer, crescer, evoluir e
morrer e carrega dentro dela sua cultura. Cada sociedade cria um sentido e seus valores
representativos de cada famlia esse comportamento acaba se tornando um mbito cultural, e
como um fenmeno natural inserida na sociedade e com isso na cultura daquela cidade em que
convive. Desde a criao a famlia comea como natural e no decorrer do tempo sua vida vai
sendo includa na vida cultural por isso acredito que seja Natural e Cultura.
12
Desde o princpio com a existncia da vida j se pode chamar de um fenmeno natural, a espcie
humana j comea com disciplinas e costumes conforme a vida daquela famlia ou estado em
que residem. As famlias das antiguidades usavam mais os costumes como doutrinas ou regras a
serem
cumpridas
delas
faziam-se
culturas
tambm
(ARIS,
1978).
O mesmo autor (ARIS, 1978), diz que esse mecanismo que o homem usa para se aperfeioar,
conhecer descobrir coisas novas, desde esse instante, o dado da natureza se converte em
elemento da cultura, adquirindo uma significncia ou dimenso nova, ao ponto de exigir a
participao do antroplogo, isto , de um estudioso de antropologia cultural, que na verdade a
cincia das formas de vida, das crenas, das estruturas scias e das instituies desenvolvidas
pelo homem consequentemente.
Enquanto a PEREIRA (2004), afirma que a cultura esta ligada ao natural exactamente porque o
homem, em busca da realizao de fins que lhe so prprios, acaba alterando aquilo que lhe
dado, e tambm alterando a si prprio. A vida humana sempre uma procura de valores. Viver
indiscutivelmente optar diariamente, permanentemente entre dois ou mais valores.
A famlia constri sobre a base da natureza, modificando aos demais e a si prprio, j a cultura
um conjunto de tudo aquilo que, nos planos material e espiritual acaba construindo o homem
natural, (PEREIRA, 2004).
3.4.Novas abordagens tericas e metodologias no estudo da famlia
ALVES (2007), avana que so inquietantes e incontveis os factores que exercem influncia no
que diz respeito formao da personalidade de cada ser humano, porm no h o que se discutir
que a famlia a maior responsvel de todas elas. Em outras palavras, compreende-se que esta
no considerada apenas uma instituio de ordem biolgica, mas, acima de tudo, um
agrupamento demarcado por caractersticas culturais e sociais.
Com o surgimento da Lei de proteco da mulher vtima da violncia no seio familiar e social,
foi incorporado ao ordenamento jurdico mecanismos de ordem objectiva e subjectiva com a
finalidade de repreenso e preveno da violncia contra a mulher no seio familiar e social,
independente de raa, cultura e orientao sexual. No bastasse isto, apesar de poucos terem esse
conhecimento, tratou de estabelecer infraconstitucionalmente, o conceito moderno de famlia,
13
qual seja a comunidade formada por indivduos que so ou se consideram aparentados, unidos
por laos naturais, por afinidade ou por vontade expressa, (ALVES, 2007).
Partindo desse contexto e de que o Estado democrtico tem como um de seus fundamentos a
dignidade da pessoa humana, amparada pelos princpios da liberdade, igualdade e proibio
discriminatria. exactamente neste campo que se configura o reconhecimento das unies entre
pessoas do mesmo sexo; mesmo embora no sendo explicitamente vedada sua discriminao,
partindo dessa posio normativa, no h o que se indagar o gnero da espcie, mas os vnculos
que os unem. Nesse sentido, em virtude do silncio proveniente da Lei, surgem posicionamentos
no tocante legtima proteco desse novo tipo de entidade familiar, posto que atende aos
preceitos fundamentais que a Constituio consagrou, pois o facto de algum se ligar a outro
do mesmo sexo, para uma proposta de vida em comum, e desenvolver seus afectos, est dentro
das prerrogativas da pessoa no torna diferente, ou impede, o intenso contedo afectivo de uma
relao emocional, espiritual, enfim, de amor, descaracterizando-a como tal (DIAS, 2009).
ALVES (2007), descreve que desta maneira, como j explicitado, a concepo tradicional e
monopolizada de que famlia estaria relacionada apenas a enlaces sanguneos e por meio do
matrimnio foi sendo afastada. Nesse seguimento, abriu caminho de passagem para as demais
entidades e arranjos no previstos constitucionalmente, que se formam em meio sociedade,
unidos pela afectividade que permeia as variadas relaes familiares. Como diz a DIAS (2009),
existe uma nova concepo de famlia, formada por laos afectivos de carinho e de amor.
Com posicionamento semelhante, vale invocar as palavras de ALVES (2007), no sentido de que
enquanto houver affectio haver famlia, unida por laos de liberdade e responsabilidade, e
desde que consolidada na simetria, na colaborao, na comunho de vida.
guisa de todo o explanado, comprova-se que a famlia moderna esta definida como uma
comunidade de afecto, local perfeitamente propcio ao desenvolvimento da dignidade da pessoa
humana que culmina em um ambiente voltado para o ser humano, em sua natureza plural,
democrtica, aberta e multifacetada. Sendo assim, considera-se que as entidades familiares vo
alm do campo estabelecido pelas barreiras jurdicas e cada vez mais firmam-se sobre o rochedo
do afecto, devendo a cincia do direito preocupar-se em tratar de cada uma delas, atendendo as
novas demandas sociais.
14
3.5.Estudo de caso (famlias em contexto de mudana em Moambique)
Em Moambique, a prtica do lovolo foi geralmente entendida como sendo uma expresso da
tradio e, consequentemente, um conjunto de prticas, crenas e conhecimentos passados de
uma gerao para outra de forma inaltervel. As tradies foram vistas durante muito tempo
como imveis, incluindo pelas cincias sociais. Porm, estudos recentes mostram que as
tradies nunca foram estticas e constituem um recurso flexvel constantemente adaptado, uma
vez que resultam de processos scio-econmicos, so determinadas por eles e demonstram
grande capacidade de adaptao.
O estudo de caso
Yolanda estava grvida de seis meses e estava sempre doente desde o primeiro ms. No comia,
vomitava constantemente e tinha muitas dores de estmago. Vrias pessoas aproximaram para
ajudar quando os centros de sade no tinham soluo, foi consultar aos seus espritos na igreja
Zione e em vrios curandeiros, o profeta do zione informou-a de que tinha de voltar para casa
dos pais, em Patrice Lumumba, provncia de Gaza, at que Antnio, o seu parceiro, cumprisse o
ritual do lovolo.
Uma ecografia tradicional em casa do curandeiro mostra que tinha um rapaz saudvel. Esta
informao reforou a ideia do casal de que os espritos da linhagem de Yolanda estavam contra
a sua unio e gravidez. A morte de uma da criana era para eles a expresso do poder dos
espritos e convenceu Yolanda a voltar para casa antes que perdesse a criana ou ela mesma
perdesse a vida. Esta situao criou conflitos no seio do casal. Yolanda e Antnio acreditavam
que os espritos da famlia de Yolanda eram os responsveis pela sua infelicidade. Porm,
Yolanda no entendia os motivos pelos quais o seu companheiro no realizava o lovolo. Do seu
ponto de vista, Antnio estava indirectamente na origem do seu sofrimento. Para Antnio, os
espritos da linhagem de Yolanda no eram compreensivos e no tomavam em considerao a
situao econmica do casal.
Yolanda e o Antnio conheciam-se desde 2004. A Yolanda rfo de pai mas com a sua me que
recebe a penso mensal nos correiros de Gaza em cada dia 20 do ms, enquanto o seu parceiro
Antnio tambm rfo de pai e me camponesa tambm da provncia de Gaza.
Antnio, de 30 anos, professor e estudou at 10. classe +1 ano no Instituto de Formao de
Professores de Inhamissa. Amlia, de 26 anos, desemprega de 10. classe e frequentava a 12
15
classe, altura em que ficou grvida pela segunda vez, mas com mesmos problemas. Obrigado
pelos irmos de Yolanda, o Antnio foi a casa dos pais da sua parceira e pagou 5.000,00 Mt de
multa pela gravidez, e pela tradicional lavelane haleni, para alm de 2 caixas de refrescos, 1 de
cerveja, 5 litros de vinho, entre outros produtos.
Foram-lhe pedidos 12.500,00 Mt de lovolo, para alm dos restantes bens geralmente solicitados
nestas ocasies. Deveriam ser poupados por completo cerca de seis meses de salrios para se
fazer o lovolo. Estas exigncias estavam, do ponto de vista de Antnio, muito alm das suas
possibilidades. Na altura ele no tinha casa, vivendo numa casa de renda mensal no valor de
800,00Mt e dava prioridade sua construo, em vez do lovolo. Em Maio de 2014, Antnio
pensava que poderia comprar os presentes aos poucos e dizia: Eles vo entender que no
porque eu no quero, porque no tenho meios. Mas, aps a doena de Yolanda, em Fevereiro
do presente ano, quando foram consultados os espritos, estes expressaram um ponto de vista
diferente: Se eles [Yolanda e Antnio] alimentam-se todos os dias porque tm dinheiro para
pagar o lovolo.
Este caso mostra como foi interpretada a gravidade da doena de Yolanda, atribuda ira dos
seus antepassados, que queriam que Antnio realizasse o lovolo. O acesso mdicos
tradicionais, a ecografia tradicional simulado pelo curandeiro, s confirmou, no entender de
Yolanda, o que tinha sido predito pelos mdiuns. A sua sade e gravidez estariam em risco
enquanto os antepassados no fossem acalmados. Como resultado desta situao, as tenses
predominavam no casal.
A viso que Antnio tinha das relaes com o mundo espiritual era diferente da dos irmos de
Yolanda e dela prpria. O Antnio adiava a cerimnia de hikombelamati, colocando a prioridade
na construo da casa para a famlia. A resistncia de Antnio mostra a possibilidade de os
indivduos negociarem alternativas.
Porm, as suas opes so vistas como uma ameaa para a sua famlia, afectando a vida da
mulher e dos filhos.
A situao de Yolanda ilustra o facto de que as doenas, a morte e os azares podem ser
entendidos como expresso da ira dos antepassados, causada pela falta do lovolo e pela
negligncia de alguns pedidos com ele relacionados. Quando os antepassados esto descontentes,
16
podem manifest-lo de vrias maneiras. O que aconteceu com Yolanda um exemplo disso. A
gravidade da doena ou mesmo a morte de criana para reclamar o lovolo uma medida
extrema. Contudo, faz parte da relao contnua de adorao e respeito que, por sua vez, garante
proteco, sorte e bem-estar aos vivos. Estes avisos (doena, morte e desgraa) indicam que
nunca tarde de mais para realizar certos rituais e para venerar os antepassados. A Yolanda teve
de voltar para casa dos pais para resolver o problema.
A centralidade da relao entre os vivos e os mortos, no que diz respeito aos assuntos
matrimoniais, e a capacidade das cerimnias do lovolo para providenciarem sade e felicidade
para o casal so claramente estabelecidas.
A negligncia do Antnio durante o processo e os perodos estabelecidos para cerimnias do
lovolo levaram ao nascimento prematuro da sua criana. Com esta posio, so encorajados a
todos os moambicanos a seguir a ira da tradio dos rituais que constituem uma realidade na
felicidade dos casais.
4.0.CONCLUSES
Na abordagem conclusiva importa referenciar que o conceito de famlia se ajustou medida que
transformaes sociais se surgiram, exigindo do legislador um posicionamento eficaz no que
tange a tal facto. A famlia, com a instaurao da dignidade da pessoa humana deixou de ser
considerada como ncleo econmico, patrimonial e de reproduo parar constituir-se sob a
17
vertente afectiva, embalada por princpios de ordem constitucional, trazendo o afecto para o
mbito da proteco jurdica. Destarte, os grupos familiares, actualmente, devem ser
compreendidos pelos laos de afectividade que os une. Pensar diferente, seria um retrocesso.
Nessa cadncia, salienta-se que os indivduos so dotados de anseios e ideais que se intercalam,
alteram, transformam no decorrer do tempo, porm a famlia considerada ponto em comum,
visto que a referncia do ser humano em relao sociedade. Com efeito, sabe-se que o
ordenamento jurdico no conseguiria tratar de cada inovao social, muito menos de todos os
casos que surgissem; pensando nisso, fixou princpios, de ordem moral e com ampla incidncia,
a fim de que reflectissem nas mais variadas situaes que permeiam a sociedade, cada qual com
suas peculiaridades.
V-se, portanto, que a famlia da ps-modernidade sustentada em laos de afectividade, sendo
esta sua causa originria e final. A finalidade da famlia para a sociedade permitir que seus
integrantes desenvolvam de forma plena a sua personalidade para que possa assim, cada qual
com sua individualidade, mas alicerados em elos comuns e indissociveis o afecto, atingir a
felicidade a todos os intervenientes da famlia.
5.0.REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
o ALVES, Leonardo Barreto Moreira. A funo social da Famlia. Revista Brasileira de
Direito de Famlia. Porto Alegre, IBDFAM/Sntese, 2007.
o ARIS, P. Histria Social e da famlia, 2 ed., Rio de Janeiro, 1978.
o DIAS, B. Manual de Direito das Famlias. 5 ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
18
o ENGELS, F. A Origem da famlia da propriedade Privada e do Estado, 5 ed., So Paulo
1998.
o FARIAS, Cristiano Chaves. Direito Constitucional Famlia. Revista Brasileira de
Direito de Famlia. Porto Alegre, IBDFAM/Sntese, 2004.
o FARIAS, Cristiano Chaves & ROSENVALD, N. Direito das Famlias. 3 ed., Rio de
Janeiro: Lmen Jris, 2011.
o HOMERO, M. A famlia, 4 ed., So Paulo, 1998.
o LEITE, Eduardo de Oliveira. Tratado de direito de famlia: origem e evoluo do
casamento. Curitiba: Juru, 1991.
o PEREIRA, urea Pimentel. A nova Constituio e o Direito de Famlia, Rio de Janeiro:
Renovar, 1991.
o PEREIRA, R. da Cunha. Combinado e Unio estvel, 7 ed., Belo Horizonte, 2004.
o PEREIRA, Srgio Gischkow. Aspectos Polmicos ou Inovadores. Revista Brasileira de
Direito de Famlia. Porto Alegre, 2000.
Você também pode gostar
- (Apometria) - Implantes BiopositronicosDocumento5 páginas(Apometria) - Implantes BiopositronicosEspaçoHolisticoKuan100% (1)
- Rumo A Uma Teologia Da EmoçãoDocumento18 páginasRumo A Uma Teologia Da Emoçãozwinglio100% (2)
- Politicas Publicas No BrasilDocumento363 páginasPoliticas Publicas No BrasilInacio Manuel Winny NhatsaveAinda não há avaliações
- ModelagemDocumento385 páginasModelagemcspuhl100% (2)
- Secchi LeonardoDocumento189 páginasSecchi LeonardoInacio Manuel Winny Nhatsave100% (1)
- Alex Collier e o Projeto CamelotDocumento20 páginasAlex Collier e o Projeto Camelotscootscoot100% (1)
- Ciclos de Vida - FDocumento100 páginasCiclos de Vida - FZoel AlvarengaAinda não há avaliações
- Geografia Na Antiguidade, Idade Media, IdadeDocumento18 páginasGeografia Na Antiguidade, Idade Media, IdadeInacio Manuel Winny Nhatsave93% (15)
- Psicologia 12º Ano - GenéticaDocumento3 páginasPsicologia 12º Ano - GenéticaAna Pinto83% (6)
- Resumo Da Historia Da 8 ClasseDocumento13 páginasResumo Da Historia Da 8 ClasseInacio Manuel Winny Nhatsave83% (18)
- TMPLNM FelicianoManuel PDFDocumento132 páginasTMPLNM FelicianoManuel PDFDomingos Tolentino Saide DtsAinda não há avaliações
- Formação de Professores Primários e Identidade Nacional: Moçambique em Tempos de MudançaNo EverandFormação de Professores Primários e Identidade Nacional: Moçambique em Tempos de MudançaAinda não há avaliações
- Relacao Da Filosofia Com Outras CienciasDocumento5 páginasRelacao Da Filosofia Com Outras CienciasAdilson D B MiguelAinda não há avaliações
- Banze - MonografiaDocumento61 páginasBanze - MonografiaElidio Mula100% (1)
- Poster 4 Tiposdesuicidio 1Documento1 páginaPoster 4 Tiposdesuicidio 1Inacio Manuel Winny Nhatsave0% (1)
- Poster 4 Tiposdesuicidio 1Documento1 páginaPoster 4 Tiposdesuicidio 1Inacio Manuel Winny Nhatsave0% (1)
- A Doutrina Do Homem (Antropologia Biblica)Documento115 páginasA Doutrina Do Homem (Antropologia Biblica)SpinelliAinda não há avaliações
- CASTIANO - Filosofia Africana Da Sagacidade À IntersubjetivaçãoDocumento122 páginasCASTIANO - Filosofia Africana Da Sagacidade À IntersubjetivaçãoHeuler100% (1)
- Direito ambiental moçambicano e as bases legais para o empoderamento comunitário na proteção ambiental: uma comparação entre Brasil e MoçambiqueNo EverandDireito ambiental moçambicano e as bases legais para o empoderamento comunitário na proteção ambiental: uma comparação entre Brasil e MoçambiqueAinda não há avaliações
- (O Que Significa Pensar) Heidegger Por KahlmeyrDocumento9 páginas(O Que Significa Pensar) Heidegger Por KahlmeyrTheodor Adorno100% (1)
- Filosofia Política PDFDocumento21 páginasFilosofia Política PDFhermenegildoAinda não há avaliações
- Dominios Simbolicos Antropologia CulturalDocumento15 páginasDominios Simbolicos Antropologia Culturalantonio100% (1)
- Historia Das SociedadesDocumento12 páginasHistoria Das Sociedadesvicente chocancuneneAinda não há avaliações
- Historia Economica IVDocumento15 páginasHistoria Economica IVBasilioAntonioSamuelSamuelAinda não há avaliações
- Homens e Natureza Na Amazônia BrasileiraDocumento0 páginaHomens e Natureza Na Amazônia BrasileiraDiego MachadoAinda não há avaliações
- AMIN, Samir - O Capitalismo SenilDocumento24 páginasAMIN, Samir - O Capitalismo Senilfklacerda100% (1)
- Antropologia - Parentesco - 4 GrupoDocumento17 páginasAntropologia - Parentesco - 4 GrupoDelito LopesAinda não há avaliações
- Ensaio de BiogeografiaDocumento12 páginasEnsaio de BiogeografiaJoao AlfandegaAinda não há avaliações
- Etica ProfissionalDocumento14 páginasEtica ProfissionalHelder AngeloAinda não há avaliações
- Conceito Da CulturaDocumento15 páginasConceito Da CulturaCassimo Aiuba AbudoAinda não há avaliações
- W O Contributo Da Pedagogia para As Ciências Da EducaçãoDocumento14 páginasW O Contributo Da Pedagogia para As Ciências Da EducaçãoGenésio Paulino da CostaAinda não há avaliações
- Estrutura Ecologica-6 GrupoDocumento25 páginasEstrutura Ecologica-6 GrupoCastro SabadoAinda não há avaliações
- Habitos e Costumes Mocambique ConteporaneoDocumento9 páginasHabitos e Costumes Mocambique ConteporaneoJustino José Rauanheque100% (1)
- Impacto Das Estratégias de Ensino Usadas No Tempo de Pandemia de Covd 19 em Moçambique. Caso EP1 e 2 de Milange - Sede.Documento53 páginasImpacto Das Estratégias de Ensino Usadas No Tempo de Pandemia de Covd 19 em Moçambique. Caso EP1 e 2 de Milange - Sede.Otilia Da Tina Tina100% (1)
- Airass DesistenciaDocumento21 páginasAirass DesistenciaMoisesAinda não há avaliações
- Universidade Católica de MoçambiqueDocumento1 páginaUniversidade Católica de MoçambiqueNELIO EUSEBIO VICTOR COHOLIA COHOLIAAinda não há avaliações
- Lopes e Med2020Documento20 páginasLopes e Med2020Mahomed Ossufo Ali100% (1)
- Literatura Luso-BrazileiraDocumento21 páginasLiteratura Luso-BrazileiraVeronica Monteiro Pedro100% (1)
- Historia Da Sociedade IIIDocumento16 páginasHistoria Da Sociedade IIIDércio Humberto EvaristoAinda não há avaliações
- Funcionamento Da Administração Pública Moçambicana: Influência Da Cultura Organizacional Na Secretaria Distrital de MorrumbalaDocumento11 páginasFuncionamento Da Administração Pública Moçambicana: Influência Da Cultura Organizacional Na Secretaria Distrital de MorrumbalaJossias Noé JossiasAinda não há avaliações
- Trab. HIVDocumento16 páginasTrab. HIVSongane de Araujo Araujo100% (1)
- Trabalho de Tema Transversal IIDocumento11 páginasTrabalho de Tema Transversal IIPaulo João Massora100% (1)
- Sistema de Formacao de ProfessoresDocumento2 páginasSistema de Formacao de ProfessoresPaulo Reginaldo MacandeneAinda não há avaliações
- Educação Rodoviária TT II Cinturão Marcos SaizeDocumento3 páginasEducação Rodoviária TT II Cinturão Marcos SaizeJaime João ManuelAinda não há avaliações
- TEMA 07 - Parentesco Familia e Caamento (2 Semanas)Documento18 páginasTEMA 07 - Parentesco Familia e Caamento (2 Semanas)Antonio Zanga Eusebio100% (2)
- Historia Da Supervisao Na Educacao de MozDocumento2 páginasHistoria Da Supervisao Na Educacao de Mozyoung50% (2)
- Trabalho de BilinguismoDocumento15 páginasTrabalho de BilinguismoJoaquim Saldeira ManuelAinda não há avaliações
- MIC II SergioDocumento25 páginasMIC II Sergiosergio Constantino JoaquimAinda não há avaliações
- Relatorio Guiao de Elaboracao Do Relatorio de EstagioDocumento31 páginasRelatorio Guiao de Elaboracao Do Relatorio de EstagioTavane Vasco Vasco MabundaAinda não há avaliações
- Educação ComparadaDocumento25 páginasEducação Comparadarogerio fernandoAinda não há avaliações
- Monografia Angelina Up (Guardado Automaticamente)Documento26 páginasMonografia Angelina Up (Guardado Automaticamente)dario alfredoAinda não há avaliações
- Guia de Evolução Do Pens. GeográficoDocumento12 páginasGuia de Evolução Do Pens. Geográficonuro2010Ainda não há avaliações
- TRABALHO ANTROPOGIA 8grupoDocumento11 páginasTRABALHO ANTROPOGIA 8grupojuga diqueAinda não há avaliações
- A SubordinaçãoDocumento10 páginasA Subordinaçãogsantosirene100% (1)
- Elaboracao e Gestao de ProjectosDocumento7 páginasElaboracao e Gestao de ProjectosFidel António ArmandoAinda não há avaliações
- Texto de Apoio Do Topico I - As Primeiras Manifestações HistoriográficasDocumento10 páginasTexto de Apoio Do Topico I - As Primeiras Manifestações HistoriográficasIsmail Jorge Adelino100% (2)
- Introdução A Planificação Da EducaçãoDocumento5 páginasIntrodução A Planificação Da Educaçãorosa orlando bentoAinda não há avaliações
- Diversidade RelegiosaDocumento8 páginasDiversidade RelegiosaDinis Miguel Matsinhe100% (1)
- Avaliação de Aprendizagem - Princípios e TiposDocumento3 páginasAvaliação de Aprendizagem - Princípios e TiposETEVALDO OLIVEIRA LIMAAinda não há avaliações
- CAPAUCMDocumento14 páginasCAPAUCMGaspar GuedesAinda não há avaliações
- Educacao ComparadaDocumento18 páginasEducacao ComparadaDinis Miguel MatsinheAinda não há avaliações
- Antropossociologia EvolutivaDocumento12 páginasAntropossociologia EvolutivaGoverno Amede100% (1)
- PosturaDocumento7 páginasPosturaJorge Cossa Jr.Ainda não há avaliações
- Historia EconomicaDocumento17 páginasHistoria EconomicaDanildo Sangarote Guima100% (2)
- Trabalho de Línguas MoçambicanasDocumento8 páginasTrabalho de Línguas MoçambicanasFrechó Lacerda Ernesto BtcAinda não há avaliações
- Texto Expositivo ExplicativoDocumento12 páginasTexto Expositivo ExplicativojoaquimAinda não há avaliações
- Literatura Africana PalmiraDocumento10 páginasLiteratura Africana PalmiraHelder NgunguloAinda não há avaliações
- Monitoria e Avaliação Como Instrumentos Do Apoio Do Trabalho DocenteDocumento18 páginasMonitoria e Avaliação Como Instrumentos Do Apoio Do Trabalho DocenteJose Mateus Arlete CarlosAinda não há avaliações
- Chale Falume Rachide Ruth Inácio Jonasse Paulino Abudo Felizardo Messias Pensamento Silva CalabouçoDocumento9 páginasChale Falume Rachide Ruth Inácio Jonasse Paulino Abudo Felizardo Messias Pensamento Silva CalabouçoPensamento Silva CalaboçoAinda não há avaliações
- SEGUNDO TRABALHO DO 3 ANO Geogafia de Mocambique IIDocumento15 páginasSEGUNDO TRABALHO DO 3 ANO Geogafia de Mocambique IIQuinito ZacarriasAinda não há avaliações
- Manual Do Estudante Hab. de Vida e HIV & SIDA PDFDocumento119 páginasManual Do Estudante Hab. de Vida e HIV & SIDA PDFPaizan Pinhar100% (2)
- Formas de Tratamento em Administração de Recursos HumanosDocumento10 páginasFormas de Tratamento em Administração de Recursos HumanosRonaldo Emílio100% (1)
- Segundo Trab de TELPDocumento20 páginasSegundo Trab de TELPAcacioMonjaneAinda não há avaliações
- Trabalho de Monitoria e AvaliacaoEducacaional 2Documento12 páginasTrabalho de Monitoria e AvaliacaoEducacaional 2Bacar Amane100% (1)
- IntegraçãoDocumento16 páginasIntegraçãoBernardino Limas100% (1)
- Didactica de Lingua Portuguesa IIDocumento10 páginasDidactica de Lingua Portuguesa IIMartinho A. AfateAinda não há avaliações
- Um Breve História Da ACAMODocumento3 páginasUm Breve História Da ACAMOElísio Maxlhuza Maxlhuza100% (1)
- Direito Cidadania e Seguranca Publica IIDocumento250 páginasDireito Cidadania e Seguranca Publica IIInacio Manuel Winny NhatsaveAinda não há avaliações
- Dissertacao Versao Integral Rodrigo Garcia Vilardi 5861744Documento323 páginasDissertacao Versao Integral Rodrigo Garcia Vilardi 5861744Inacio Manuel Winny NhatsaveAinda não há avaliações
- A Longa Marcha de Uma Educacao Castiano Jose P e Ngoenha SeDocumento163 páginasA Longa Marcha de Uma Educacao Castiano Jose P e Ngoenha SeInacio Manuel Winny NhatsaveAinda não há avaliações
- 5 Fatores Que InfluenciaramDocumento19 páginas5 Fatores Que InfluenciaramInacio Manuel Winny NhatsaveAinda não há avaliações
- Projecto de Pesquisa BeneditaDocumento16 páginasProjecto de Pesquisa BeneditaInacio Manuel Winny NhatsaveAinda não há avaliações
- Didatica de HistoriaDocumento21 páginasDidatica de HistoriaInacio Manuel Winny NhatsaveAinda não há avaliações
- Mobilidade Humana e PsicologiaDocumento9 páginasMobilidade Humana e PsicologiaCarlosErickAinda não há avaliações
- Cuidado A Ética No Começo Da Vida - Soelia Ferrante e Ribamar SilvaDocumento4 páginasCuidado A Ética No Começo Da Vida - Soelia Ferrante e Ribamar SilvaRibamar SilvaAinda não há avaliações
- Sautul Isslam - Edicao Nº24Documento57 páginasSautul Isslam - Edicao Nº24José GomesAinda não há avaliações
- Biologicamente CulturalDocumento11 páginasBiologicamente CulturalJonatha XavierAinda não há avaliações
- Textos para Reflexão Sobre o ObjetoDocumento47 páginasTextos para Reflexão Sobre o ObjetoTiago RosárioAinda não há avaliações
- PCN e ValoresDocumento4 páginasPCN e ValoresCida MartinsAinda não há avaliações
- Interação Droga Nutriente (Nutricionistas)Documento4 páginasInteração Droga Nutriente (Nutricionistas)Isabelle MouraAinda não há avaliações
- Artigo Arteterapia PDFDocumento49 páginasArtigo Arteterapia PDFElisangela Correa Cezar BuzuttiAinda não há avaliações
- Os Sonhos - Dudley, G. ADocumento85 páginasOs Sonhos - Dudley, G. AAndrey Sartóri100% (1)
- Cap 1 - Bem-Vindo À Psicologia Positiva PDFDocumento9 páginasCap 1 - Bem-Vindo À Psicologia Positiva PDFpoker12345Ainda não há avaliações
- A Valoração Econômica Da BiodiversidadeDocumento22 páginasA Valoração Econômica Da BiodiversidadeAna AraujoAinda não há avaliações
- Idoso Provedor FamiliaDocumento96 páginasIdoso Provedor FamiliaAislan AzevedoAinda não há avaliações
- Resumo - Teorias Da AprendizagemDocumento16 páginasResumo - Teorias Da AprendizagemMauricio Fulber100% (2)
- Design Emocional e Semiótica Caminhos para Obter Respostas Emocionais Dos UsuariosDocumento16 páginasDesign Emocional e Semiótica Caminhos para Obter Respostas Emocionais Dos UsuariosMariana GuimarãesAinda não há avaliações
- A Modernidade Líquida e A Vida Humana Transformada em Objeto de Consumo - Vida PastoralDocumento7 páginasA Modernidade Líquida e A Vida Humana Transformada em Objeto de Consumo - Vida PastoralFernando MartinsAinda não há avaliações
- O Trabalho Segundo A BíbliaDocumento2 páginasO Trabalho Segundo A BíbliaTiago Mangas100% (1)
- Altura e Largura de Degraus de Uma EscadaDocumento4 páginasAltura e Largura de Degraus de Uma EscadaAlex Gomes da FonsecaAinda não há avaliações
- Aspectos Sócio Históricos Da Educação Física 3Documento5 páginasAspectos Sócio Históricos Da Educação Física 3David SucupiraAinda não há avaliações
- Maos Suplices Por SocorroDocumento300 páginasMaos Suplices Por SocorroVinicius MesqiAinda não há avaliações
- Livro Ética Capitulo Pro SaberDocumento26 páginasLivro Ética Capitulo Pro SaberCri MarinhoAinda não há avaliações