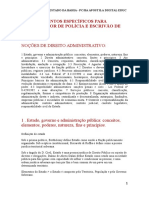Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Manual de Direito Administrativo I
Enviado por
Raquel CaldasTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Manual de Direito Administrativo I
Enviado por
Raquel CaldasDireitos autorais:
Formatos disponíveis
lOMoARcPSD|14934464
Manual de Direito Administrativo I
Direito Administrativo (Universidade de Coimbra)
A Studocu não é patrocinada ou endossada por alguma faculdade ou universidade
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Direito Administrativo I
Manual de Direito
Administrativo
Dr.: Pedro Costa Gonçalves
Beatriz Prata
2019 - 2020
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Manual de Direito Administrativo
Secção I
Estado Administrativo
1 – Estado e Estado Administrativo
A nossa compreensão do Direito Administrativo assenta na premissa da existência de um
mapa dualista da realidade política, que conhece uma divisão entre o Estado e a Sociedade
Civil. Uma comunidade politicamente organizada contempla uma bifurcação entre a
esfera pública, da autoridade institucionalizada e da governação da res pública, e a esfera
privada, da Sociedade Civil e dos cidadãos, onde imperam a liberdade, a autonomia
individual e a igualdade.
A separação entre o Estado e a Sociedade Civil constitui um elemento irrenunciável da
ordenação jurídica clássica do Estado de direito. Temos, de um lado o Estado (abrangendo
toda a aparelhagem pública de governo da coletividade), com as suas organizações e as
suas funções ou missões e as suas competências, tudo instituído para servir a coletividade
e os cidadãos. Do outro lado, surge-nos a Sociedade Civil, o conjunto dos cidadãos,
titulares de direitos e sujeitos de liberdades, bem como as organizações instituídas pelos
cidadãos num espaço de liberdade e de autonomia e no desenvolvimento de direitos
subjetivos.
a) Conceito de Estado Administrativo
O Estado Administrativo localiza-se, naturalmente, do lado do Estado: reporta-se à esfera
pública, ao setor público e à sua organização. Mas não se confunde com o Estado.
A fórmula composta é aqui empregue para identificar e delimitar, dentro da complexa
organização do Estado, um sistema composto por dois elementos: um de caráter subjetivo
ou orgânico, a Administração Pública, e outro de caráter objetivo ou material, a função
administrativa. O Estado Administrativo é, então, a parte da máquina do Estado,
identificada com a AP, que se ocupa das missões ou tarefas públicas que constituem a
função administrativa.
“The modern state is, by any conceivable measure, largely an administrative state.”
b) Presença efetiva do Estado Administrativo na vida dos cidadãos
É indiscutível a importância e a extensão da presença efetiva e prática do Estado
Administrativo na vida dos cidadãos: prestação de cuidados de saúde, execução de tarefas
no ensino e na cultura, atribuição de subsídios, gestão de equipamentos coletivos, recolha
de lixo, combate ao terrorismo, construção de edifícios e estradas, … algumas das
inúmeras tarefas e missões do Estado do nosso tempo.
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Com a responsabilidade de executar essas e outras tarefas, a presença do Estado
Administrativo na vida dos cidadãos, além de extensa, materializa-se através de um
contacto real e direto, o Estado Administrativo entra em relação direta com os cidadãos
(quer seja em sentido favorável a estes, quer desfavorável).
c) Estado Administrativo e Direito Administrativo
O Estado Administrativo de um Estado de direito encontra-se subordinado ao direito e
constitui um ‘objeto’ regulado por normas jurídicas. O Direito Administrativo é o direito
próprio do Estado Administrativo.
Podemos apresentar esta disciplina, como um sistema de normas jurídicas
especificamente vocacionado para organizar e estruturar a AP, bem como definir o âmbito
da função administrativa.
d) Dimensão do Estado Administrativo e do Direito Administrativo
O Direito Administrativo é um ‘direito relacional’, um sistema normativo que disciplina
relações que se desenrolam entre o Estado Administrativo e os cidadãos e entidades
particulares: as relações jurídicas administrativas.
A presença desta dimensão relacional evidencia que o Direito Administrativo não se
ocupa apenas do Estado Administrativo. Em larga medida, o sentido próprio da regulação
do Direito Administrativo reside em disciplinar os termos do funcionamento e da ação do
Estado Administrativo no quadro das relações jurídicas em que o mesmo se envolve com
outros sujeitos de direito.
Há, contudo, dimensões importantes da regulamentação jurídica do Estado
Administrativo que não se reportam, pelo menos de forma direta e imediata, às relações
com os cidadãos: a regulação e disciplina da estrutura da organização da máquina do
Estado Administrativo e das relações e contactos que se processam no seu interior.
2 – Modelos fundamentais de Estado Administrativo
A configuração e a extensão atual do Estado Administrativo representam o produto de
um processo evolutivo cuja marca mais clara se reconduz a um crescimento constante e
a uma aquisição sucessiva de novas responsabilidades.
A história tem evidenciado que a referência a momentos de ‘transição’ ou de ‘mudança’
de modelos de Estado não corresponde, em regra, à eliminação de modelos anteriores e à
sua substituição por outros mais avançados. Tem-se, sim, assistido a um movimento de
assunção de novas responsabilidades e incumbências públicas, que se sobrepõem e
acrescem às missões que o Estado vinha desempenhando em momentos anteriores.
A fisionomia do Estado em cada momento histórico é determinada pela configuração e o
peso da AP e da função administrativa. “Administration is the most obvious part of the
government; it is government in action”.
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Identificam-se quatro modelos fundamentais de Estado Administrativo que, em certa
medida, se sucederam historicamente: o Estado constitucional-liberal, o Estado de serviço
público, o Estado social e o Estado regulador.
2.1 – Estado constitucional-liberal
Instituído na sequência das revoluções liberais, preconiza uma forte contenção da
intervenção administrativa e limita as suas missões às tarefas da proteção das liberdades
individuais e da propriedade privada.
Promove-se a separação entre o Estado e a Sociedade Civil, que prolonga a separação
entre o Estado e a Nação que já vinha dos absolutismos do Ancien Régime, em que a
Sociedade Civil surge como o espaço da liberdade, igualdade e autonomia individual, da
esfera privada, e o Estado como o espaço da supremacia, do poder e da autoridade, da
esfera pública.
O Estado constitucional-liberal vai caracterizar-se pela sua subordinação a uma
constituição e pela ideia de que o poder do Estado deriva da lei fundamental e encontra-
se aí definido e delimitado. Um elemento central e decisivo para a compreensão deste
novo modelo é o princípio da separação dos poderes e a conceção de que o poder do
Estado não está localizado num único centro, antes se deve dispersar e separar pelo
parlamento, pela AP, e pelos tribunais.
Este modelo assenta na afirmação da supremacia e primazia do legislador e na
consequente submissão de todo o sistema de governo administrativo e judicial à lei.
Erigia-se um Estado da legalidade, apoiado numa compreensão da lei como fonte
exclusiva de criação de direito e numa visão dos outros dois ‘poderes’ como momentos
de aplicação ou de mera execução dos comandos legais.
O fator da subordinação da AP à lei assinala o nascimento de um Estado Administrativo
subordinado ao Direito Administrativo. Emerge um ‘princípio de legalidade da
Administração’, para afirmar a preeminência do parlamento, com o sentido imediato de
estabelecer um ‘princípio do primado da lei’: a Administração não pode contrariar ou
violar o disposto na lei.
No plano da ação administrativa, a intervenção do Estado revelava-se muito limitada,
uma vez que se exigia que a ação pública não perturbasse a autonomia individual e que
respeitasse as liberdades dos cidadãos. O Estado não se mete em questões de caráter social
que à Sociedade digam respeito, o que de essencial se reclama do Estado é a garantia da
preservação da ordem pública e, no caso de ameaça ou perturbação, a proteção dos
direitos individuais dos cidadãos.
A preocupação dos liberais em condicionar e limitar a ação administrativa conduz à
exigência de que qualquer interferência ou intromissão da Administração nos ‘direitos
naturais’ dos cidadãos se baseie numa lei – princípio da precedência ou da reserva de lei.
2.2 – Estado de serviço público
A transição para o séc. XIX é o tempo de consolidação dos resultados da Revolução
Industrial e, por isso, de grandes desenvolvimentos tecnológicos. Esta evolução
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
tecnológica constitui um elemento decisivo para o Estado constitucional liberal evoluir
para um Estado de serviço público.
Às limitadas funções de autoridade próprias do estado liberal, vêm juntar-se as novas
incumbências públicas de fornecimento de bens e utilidades aos cidadãos individualmente
considerados, em geral baseadas na instalação e exploração de novas infraestruturas
públicas.
O Estado Administrativo emerge agora numa nova condição, de ‘ator económico’,
assumindo mesmo as vestes de empresário, na exploração, de forma direta ou indireta, de
atividades económicas consistentes no fornecimento de bens e na prestação de serviços
ao público em contrapartida de um preço.
Num ambiente ainda marcado pelas ideias liberais, a legitimação política e jurídica da
intervenção pública nestes domínios da economia assenta, fundamentalmente, no facto
de as indústrias de rede constituírem um monopólio natural e na nova ideia de ‘serviço
público’.
É também nesta época que, a nível local, surge o chamado socialismo municipal, que se
manifesta em fenómenos variados de municipalização de atividades económicas.
O Estado que começa agora a emergir assume responsabilidades pela prestação de
serviços que se vão tornando essenciais para os cidadãos. Inicia-se um movimento de
interpenetração entre o Estado e a Sociedade e, sobretudo, entre o Estado e a economia.
O Estado de serviço público vai também abraçar importantes funções de infraestrutura,
ocupando-se com uma tarefa de ‘melhoramentos materiais’ que não vai parar de crescer,
no domínio das obras públicas.
O fornecimento de serviços públicos económicos transforma-se numa espécie de
característica de um modelo europeu de Estado e mantém-se durante todo o século XX.
2.3 – Estado social
Com as Grandes Guerras e a grande depressão, a ideologia do serviço público vai
propagar-se para zonas de intervenção fora do âmbito empresarial ou económico.
Aos serviços públicos económicos vêm, então, juntar-se os serviços públicos sociais:
educação e cultura, saúde, habitação e segurança social.
Com o avanço do séc. XX, o Estado Administrativo vai protagonizar novas funções, mais
e maiores responsabilidades. Não se trata agora apenas de um Estado de serviço público,
que intervém diretamente na economia, mas de um Estado social, que tem a pretensão de
garantir a todos, de forma gratuita, o acesso a serviços e a prestações sociais. O Estado
social pretende realizar o ideal de uma sociedade justa; assume o compromisso de garantir
o acesso dos cidadãos à educação e à cultura, bem como as incumbências de os proteger
e assistir nas mais variadas situações de infortúnio ou na velhice.
Além disso, o Estado Social não desiste da realização de grandes obras públicas, num
processo permanente de ‘melhoramentos materiais’.
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
2.4 – Estado regulador e de garantia
A ideia fundamental do Estado regulador assenta em voltar a separar o Estado da
economia (um certo ‘rolling back’ do Estado Administrativo): a economia é para o
mercado, ao Estado cabe a tarefa de o regular, o que se associa à responsabilidade de
garantir que o mercado funciona bem e que os direitos dos consumidores são protegidos.
Desenvolve-se assim, uma função publica reguladora, que consiste, no desempenho de
tarefas de edição de regulamentações dirigidas aos agentes económicos.
O Estado Administrativo regulador não se posiciona como um mero espectador do que se
passa na economia; o Estado não se concebe como um agente alheado dos resultados do
funcionamento do mercado de livre concorrência, dele se reclamando o cumprimento da
responsabilidade institucional de garantir ou assegurar o funcionamento eficiente e
equilibrado da economia; a incumbência fundamental do Estado regulador reconduz-se,
assim, a uma ideia de ‘responsabilidade de garantia’. Emerge aqui a ideia de um Estado
protetor, que deve assumir a missão de proteger os cidadãos contra os ‘poderes privados’,
das grandes corporações e dos grandes grupos económicos.
O Estado regulador não substituiu, porém, o Estado social e de serviço público.
Em síntese, os quatro modelos de Estado Administrativo correspondem a outros tantos
momentos de evolução do Estado. Todavia, em termos históricos, a passagem de um
modelo para outro não significou o abandono ou a retirada do Estado Administrativo das
funções exercidas no modelo precedente.
3 – Objetivos essenciais do Estado Administrativo
O Estado administrativo existe para cumprir objetivos e para realizar valores; numa
leitura que pretende considerar apenas o núcleo fundamental, serão dois os objetivos
essenciais prosseguidos pelo Estado Administrativo e que, em simultâneo, o explicam e
justificam:
- A realização do interesse público
- A realização e proteção de certos direitos dos cidadãos.
3.1 – Realização do interesse público
O interesse público é o parâmetro, a fonte e o cânone fundamental de toda a ação pública,
o fim da ação administrativa e, ainda antes disso, como razão de ser da existência do
Estado Administrativo e da AP. O Estado Administrativo existe para prosseguir o
interesse público, ou seja, o interesse do coletivo de pessoas que pertencem a uma
comunidade.
Sem pôr em causa o sentido fundamental da ideia de ‘prossecução’, afigura-se mais
adequado considerar como objetivo do Estado Administrativo a realização do interesse
público. A realização do interesse público é um processo que se materializa no
5
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
desempenho pela Administração de missões que procuram responder ou satisfazer as
‘pretensões de interesse público’.
a) Interesse público e interesse privado
Em geral, entende-se por interesse a ‘pretensão de um sujeito em relação a um objeto (um
bem)’. No caso do interesse público, o sujeito é um público, um grupo ou uma
coletividade de pessoas que pertencem a uma comunidade determinada (nacional ou
local). Verifica-se aqui uma imputação impessoal e abstrata, baseada na atribuição de um
interesse a um público ou a um conjunto ou a uma coletividade de referência, e que
pressupõe a ficção da existência da pretensão deste mesmo público em relação ao bem
considerado. A indicada atribuição ou imputação ignora o interesse efetivo, real e pessoal
de cada indivíduo que integra o público ou a coletividade de referência. O que conta é
aquilo que ‘alguém’ determina interessar à coletividade ou ao público, qua tale.
Diferentemente, o interesse privado corresponde à pretensão de um sujeito em relação a
um bem que responde a uma necessidade especificamente por ele sentida. Não há agora
uma imputação abstrata, nem a ficção de uma pretensão; pelo contrário, o interesse
privado corresponde a uma pretensão concreta e real de uma pessoa em relação a um bem.
Esta radicação subjetiva do interesse privado explica que o mesmo se considere, por
vezes, um ‘interesse egoísta’. Contudo, talvez se revele mais adequada a expressão
interesse pessoal, ‘próprio de uma pessoa’ ou de uma entidade da Sociedade Civil.
Sem se desconsiderarem os casos de coincidência e de conexão entre interesse público e
interesse privado são inúmeros os cenários de desencontro, de tensão e de conflito
eventual ou atual entre eles. Está em causa um cenário de tensão e de colisão entre um
interesse pessoal e legítimo de um indivíduo e um interesse qualificado como público;
ex.: o interesse pessoal de um indivíduo em andar armado, face ao interesse público da
resolução de litígios por meios pacíficos, que conduz à proibição do porte de armas. O
interesse privado não se pode realizar por causa do interesse público – princípio de
supremacia ou de prevalência do interesse público sobre o interesse privado. Segundo
este princípio, a realização do interesse público pode impor o sacrifício de interesses
privados legítimos.
b) Definição político-legislativa do interesse público
O interesse público traduz a imputação de um interesse a um público, a uma coletividade.
Estamos perante um interesse que é convertido em interesse público – ‘feito público’.
Mas quem tem legitimidade para efetuar essa operação de conversão e de imputação e
para definir, eleger ou identificar o que é de interesse público e corresponde a um bem
comum da coletividade? A definição inicial do interesse público corresponde a uma
prerrogativa político-legislativa que, em termos gerais, se encontra repartida entre o
legislador constitucional e o legislador ordinário.
Ou seja, será na CRP, e sobretudo na lei, que o poder político toma as opções decisivas
sobre o que considera interesse público. Assim sendo, o interesse público é um interesse
definido e especificado numa norma jurídica proveniente do poder constituinte e,
sobretudo, do político-legislativo. Neste encargo, entende-se que os poderes responsáveis
se orientem pela sugestão de W. Lippman, segundo a qual se deve considerar de interesse
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
público algo que como tal seria declarado por pessoas com uma visão clara, um
pensamento racional e uma atuação benévola e desinteressada.
c) Realização administrativa do interesse público
Cabe ao poder político-legislativo a responsabilidade de escolher os interesses públicos a
realizar, de os definir e de os especificar numa norma jurídica. Já a responsabilidade
constitucional e legal da prossecução do interesse público exige, depois, tarefas práticas
de realização (realização enquanto concretização, atuação na vida real). A realização do
interesse público é um processo que se materializa no desempenho de missões que dão
resposta e pretendem satisfazer “pretensões de interesse público”.
E com a incumbência deste objetivo de realização do interesse público que surge a
Administração Pública, através da execução de inúmeras tarefas. A AP tem a
responsabilidade de cuidar, de proteger e prosseguir um interesse alheio, um interesse que
não lhe pertence, um interesse que é do público.
Supremacia do interesse público sobre os interesses privados. Uma prevalência e
supremacia que se encontra no facto de a AP surgir, com frequência, investida de poderes
de autoridade; poderes que para a realização do interesse público lhe conferem uma
capacidade de ação unilateral.
Esta supremacia não é natural, resulta especificamente de cada norma legal que confere
à AP um poder de autoridade para a realização do interesse público. Na ausência de uma
norma com estes contornos, a AP não tem autoridade.
d) Vinculação da AP pelo interesse público; o interesse público como “interesse da
AP”
A AP existe para se ocupar da realização do interesse público; esta realização constitui
uma incumbência e uma responsabilidade; mas também um cânone de vinculação para a
AP – interesse público enquanto vínculo, limite e finalidade.
Não pode a AP orientar a sua ação por objetivos ou valores que não reconduzam ao
interesse público.
Há mesmo quem fale em “interesse público administrativo”, mas o interesse é do público
e a Administração tem de o prosseguir qua tale, como um interesse alheio e não próprio.
e) Participação da AP na definição concreta do interesse público
A definição inicial do interesse público processa-se fora da AP, em sede político-
legislativa; a Administração encontra-se vinculada por essa definição.
Em geral, a vinculação da Administração pelo interesse público coincide com o
cumprimento da lei. Pode, contudo, acontecer, e acontece com frequência, que a lei não
defina, de forma taxativa e completa, os pressupostos da sua aplicação ou os termos
precisos do seu cumprimento. Neste último caso, a vinculação pelo interesse público
autonomiza-se e, em si mesmo, o interesse público ascende ao patamar de um critério
jurídico autónomo da ação administrativa. Em casos como este a AP é chamada a assumir
um papel na própria definição do interesse público.
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Assim sendo, nem sempre a AP surge apenas no momento de realização do interesse
público, pode, por vezes, participar na definição complementar e concretizadora do
próprio interesse público.
A AP desenvolve-se também, muitas vezes, não num quadro de aplicação da lei e da
Ordem Jurídica, mas num processo de desenvolvimento, implementação e dinamização
da lei e da ordem jurídica (ex.: desenvolvimento e implementação de políticas públicas
como da saúde, da educação, da cultura, …). Note-se, porém, que mesmo assumindo uma
responsabilidade na própria definição do interesse público, a AP tem de orientar as suas
decisões e a sua ação por uma finalidade identificada numa norma do ordenamento
jurídico.
f) Realização de “interesses públicos” fora da AP
A AP tem responsabilidade de realização do interesse público, mas não existe um
monopólio da realização do interesse público por esta. Na esfera da Sociedade Civil, no
campo da autonomia privada e com os instrumentos do direito privado, os cidadãos
podem desenvolver atividades com a finalidade de servir interesses gerais da coletividade
– «ação privada de interesse público».
Neste contexto, o conceito de interesse público, assume um significado próximo de
interesse geral.
3.2. Realização dos direitos dos cidadãos
Mas também é função da AP a realização e proteção de direitos dos cidadãos, e o assumir
de um papel na garantia da efetividade de muitos direitos dos cidadãos.
a) Realização de direitos dos cidadãos pela AP (a «cidadania administrativa»)
A realização do interesse público pode coincidir com a realização e proteção de direitos
dos cidadãos.
Esta ligação entre AP e realização de direitos dos cidadãos revela-se, desde logo, muito
nítida no domínio do fornecimento de serviços públicos, que contribuem para a realização
de direitos como o direito à saúde ou ao ensino, bem como nas atividades de caráter
providencial (ex.: concessão de subsídios de várias espécies). Nestes casos, a realização
dos direitos dos cidadãos processa-se em forma individualizada, no contexto de um
relacionamento direto entre a AP e os beneficiários, em que estes últimos surgem como
titulares de direitos a prestações a que correspondem deveres da Administração.
Noutros casos, a Administração contribui para a realização de direitos dos cidadãos, já
não através de prestações, mas de decisões que permitem o exercício efetivo de direitos
legalmente comprimidos – direitos de exercício condicionado – (ex.: direito ao exercício
de uma atividade económica que depende de uma autorização administrativa).
b) Proteção de direitos dos cidadãos pela AP
Mais do que um objetivo, a proteção dos cidadãos é a primeira razão de ser de um Estado
de Direito. Na sociedade dos tempos atuais, a proteção dos direitos dos cidadãos
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
apresenta-se cada vez mais necessária. Esta proteção realiza-se através de sistemas de
socorro eficazes em situações de emergência, bem como através de medidas que evitem
e previnam as situações de perigo.
Ora, o objetivo da realização dos direitos dos cidadãos associa-se aos casos que têm na
sua base uma relação jurídica dual entre a Administração e o cidadão. Contudo, faz
sentido distinguir um objetivo de proteção dos direitos dos cidadãos, baseado num quadro
de relacionamento que se pode configurar como um triângulo em cujos 2 vértices da base
estão cidadãos e em cujo vértice superior está a Administração: figura triangular que
pretende evidenciar a presença de uma relação social na base, na qual se verificam, por
vezes, casos de violação ou ameaça de violação de direitos; quando isto sucede, a
Administração tem a responsabilidade e o dever de proteger os direitos lesados ou
ameaçados. Aqui, o sentido de intervenção da Administração não consiste já na
realização, mas sim na tutela ou na proteção dos direitos.
Ao exigir que a Administração prossiga o interesse público no respeito pelos direitos dos
cidadãos, a CRP determina-lhe que tenha em consideração os efeitos que a sua atuação
pode provocar nos direitos dos cidadãos, e que considere estes como um elemento de
ponderação das suas escolhas.
4. Administração Pública
A AP corresponde ao componente subjetivo ou orgânico do Estado Administrativo.
O sentido inicial e básico do conceito de AP refere-se à “máquina administrativa” ou ao
“aparelho administrativo” do Estado, e abrange as inúmeras entidades e os múltiplos
organismos que se dedicam ao exercício de uma função pública com determinadas
características que a distinguem das demais funções públicas do Estado.
a) Administração Pública como sistema de organizações
AP é um conceito agregador que identifica determinados elementos ou características em
sujeitos, entidades ou organizações, reconduzindo-os à categoria de “sujeitos da
administração pública”.
Assim, não existe uma entidade que se designe «Administração Pública». Existe sim uma
variedade de sujeitos e organismos que apresentam características ou que preenchem
elementos definidos pela ordem jurídica como relevantes para os considerar «da» AP. A
AP apresenta-se, então, não como «uma» organização, mas como um sistema de
organizações dotadas da sua subjetividade jurídica própria.
Sendo que um sujeito da AP fica exposto à regulação do Direito Administrativo.
b) Sujeitos da AP
O ponto critico do estudo surge no momento de eleger os critérios que identificam a
condição de sujeito da AP.
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Numa primeira aproximação, é possível identificar atualmente 2 grupos fundamentais de
sujeitos da AP:
- As pessoas coletivas de direito público (1)
- As entidades administrativas privadas (2)
- As entidades particulares com funções administrativas (adicionado por nós pelo facto
de abranger sujeitos que exercem a função administrativa fora da AP em sentido orgânico)
(3)
(1) Pessoas coletivas de direito público: critério da personalidade jurídica pública
Um primeiro critério baseia-se numa indicação de ordem jurídico-formal: são sujeitos
da AP todas as entidades com personalidade de direito público.
Nos termos da lei, detêm personalidade de direito público, são sujeitos de AP:
- O Estado (o «Estado Administração»)
- As regiões autónomas
- As autarquias locais (municípios e freguesias)
- As entidades intermunicipais
- Os institutos públicos
- As associações públicas
- As entidades públicas empresariais
É a partir deste grupo primeiro e inicial que derivam e se formam os outros dois.
(2) Entidades administrativas privadas: critério da participação dominante de
pessoas coletivas de direito público
Na delimitação do universo da AP, o critério da personalidade jurídica pública revela-
se incompleto e redutor, uma vez que não atende e desconsidera a verdadeira
substância de entidades que, apesar de não disporem de personalidade de direito
público, integram a AP – entidades que se apresentam revestidas de um formato
jurídico-privado mas que possuem uma substância pública.
As entidades privadas com participação dominante de pessoas coletivas de direito
público representam um “segundo grupo” de sujeitos da AP – integram a AP em
forma privada.
10
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
(3) Entidades particulares com funções administrativas: critério do exercício de
funções da AP
Os 2 grupos suprarreferidos circunscrevem o universo das entidades que pertencem à
AP, delimitam a AP em sentido orgânico ou institucional. Mas ao conceito de AP
vamos ainda reconduzir as entidades que, embora não integradas institucionalmente
na AP, desenvolvem funções administrativas (funções que pertencem à AP).
Este grupo é constituído por entidades particulares que se responsabilizam pelo
exercício de funções e atividades que a lei qualifica como públicas e que lhes são
delegadas ou concessionadas por sujeitos da AP do ‘primeiro’ ou até do ‘segundo
grupo’.
Aqui incluem-se as empresas concessionárias de obras públicas e de serviços públicos
e, em geral, as entidades particulares delegatárias de funções públicas. O conjunto
destas entidades constitui um ‘terceiro grupo’ que se pode designar da AP delegada
ou concessionada, o qual substitui a intervenção das entidades que pertencem à AP
em sentido orgânico ou institucional.
Este grupo distingue-se dos anteriores, neste da AP delegada ou concessionada,
situam-se entidades que pertencem ao setor privado, criadas e controladas por
particulares, e que assumem uma condição de sujeitos da AP apenas numa perspetiva
funcional. Quer isto dizer que são sujeitos da AP por causa do que fazem e não por
pertencerem a entidades da Administração.
7 – Noção de Direito Administrativo
Direito Administrativo – conjunto das normas jurídicas, de várias proveniências, que,
dentro do ordenamento jurídico, se distinguem pelo facto de se dirigirem à AP, com o
propósito de a organizar, de indicar as suas missões e competências e de definir os termos
e as condições do desenvolvimento da função administrativa, ou também a particulares,
com o objetivo de lhes conferir direitos ou de os onerar com deveres no âmbito de relações
entre eles e a AP.
a) Critério da administratividade: normas dirigidas a entidades da AP no exercício
da função administrativa
O critério de administratividade das normas repousa num elemento de ordem
subjetiva ou estatutária: as normas jurídicas administrativas envolvem sempre a
presença da AP como sujeito de ordenação; mesmo que se dirijam diretamente aos
particulares, reconduzem-se ao Direito Administrativo as normas que lhe atribuem
direitos ou que lhes impõem deveres no contexto de uma “relação com a AP”. Neste
sentido, as normas que se dirigem a particulares também se dirigem à Administração.
O objeto de regulação do Direito Administrativo é a AP, enquanto organização e
enquanto centro de relações jurídicas, o Direito Administrativo existe para a AP e por
causa dela. Assume-se uma conceção subjetiva do DA, que o revela como um sistema
composto por normas jurídicas que se identificam e se distinguem dentro do
11
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
ordenamento jurídico pelo facto de se dirigirem à AP “enquanto tal”, enquanto
responsável pelo exercício de competências públicas, conferidas por lei.
Mas essa leitura subjetiva não ignora a conveniência de associar igualmente o DA à
regulação do exercício da ação da AP, à função administrativa.
Em função da necessária presença de uma dimensão orgânica nos termos assinalados,
entende-se que não se afigura de todo suficiente para mobilizar a aplicação do DA, a
presença de uma certa atividade, independentemente do sujeito que a desenvolve.
Igualmente por força da compreensão subjetivista recusa-se delimitar o âmbito do DA
pelo critério do imperium ou da autoridade: por um lado, o DA regula atuações em
que a AP não se encontra investida de imperium e, por outro lado, há poderes de
autoridade exercidos fora da AP e, portanto, não regulados pelo DA.
O exposto permite referenciar um princípio de tripla correspondência entre AP,
função administrativa e DA (o direito para a AP e para a função administrativa; o
direito para o Estado Administrativo).
Os particulares que aqui se consideram podem ser quaisquer pessoas ou porventura
todas, mas efetivamente não são quaisquer pessoas, nem todas as pessoas. Ou seja,
não se propõe conceber o DA como um direito para «qualquer um» ou «para todos».
As normas jurídicas podem, na verdade, atingir quaisquer particulares, quaisquer
pessoas, mas, em cada caso, só atingem «determinados particulares», concreta e
especificamente os particulares referenciados numa relação com a AP. Quer isto dizer
que as normas de DA só atingem os particulares que, enquanto ‘administrados’, se
apresentam na condição de sujeitos de concretas relações jurídicas em que o outro
elemento é um sujeito da AP.
A norma jurídica que se dirige diretamente a particulares para lhes impor deveres
administrativos é precisamente a mesma que confere à Administração o poder de
exigir o cumprimento desses deveres, o de fiscalizar o respetivo cumprimento e,
porventura, o de punir a sua violação. Por sua vez, a norma que atribui a particulares
um direito de exigir uma conduta da Administração é também uma norma de DA que
tem subjacente uma relação jurídica na qual a Administração surge na condição de
titular de um dever de prestar ou de decidir.
Assim se conclui que o facto de o DA conter normas que se dirigem a particulares
não põe em causa a conceção do mesmo como um direito da AP, porquanto os
particulares só são atingidos por normas administrativas se, e na medida em que se
encontram numa relação com a AP. O DA não regula nem pretende regular as relações
entre meros particulares.
Conjunto das normas jurídicas administrativas:
- Normas de organização
- Normas de ação ou de competência
- Normas de condicionamento da ação administrativa
12
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
- A este conjunto (que tem em comum dirigirem-se diretamente à AP) acrescentam-
se as normas diretamente dirigidas a particulares em relação com a AP.
b) Origem das normas de DA
O DA é um sistema normativo, um conjunto de normas jurídicas: pode tratar-se de
‘princípios jurídicos’ ou de ‘regras jurídicas’.
As normas de DA têm várias proveniências, desde logo a CRP ou o Direito da EU.
Mas, e sem prejuízo, da prioridade hierárquica das normas constitucionais ou da
preferência das normas de direito europeu, uma posição de claro destaque, enquanto
fonte do DA pertence aos atos legislativos nacionais: leis e decretos-leis. Ainda que
não disponha de um monopólio de regulação da AP, o ato legislativo ocupa uma
posição de primeira linha neste campo, já que é, em regra, num ato normativo dessa
natureza que se fundam as competências da Administração.
Além das normas da CRP e outras, provenientes da EU, ainda integram o corpus
jurídico-administrativo normas jurídicas emitidas pela própria AP – os regulamentos
administrativos.
Desta diversidade de origens, que pode até resultar de se tratar de normas que provêm
de diferentes sistemas jurídicos, emergem novos problemas de conciliação e de
resolução de antinomias entre normas jurídicas que não se encontram ordenadas
segundo uma regra de hierarquia. Neste plano, fenómenos como a
constitucionalização e a europeização do DA estão na origem de novas dificuldades
e convocam respostas prudentes, que evitem a desadequada exacerbação do momento
jurídico da ação administrativa e, em especial, que afastem o risco de transformar a
AP numa instância de resolução de conflitos normativos.
8 – Funções do Direito Administrativo
Funções principais do DA:
- Constituição e modelagem do sistema administrativo
- Organização da AP
- Legitimação e direção e o condicionamento da ação administrativa
- Proteção dos direitos e interesses dos cidadãos
- Condicionamento da atuação dos particulares
- Garantia do DA
8.1 – Constituição e modelagem do Sistema Administrativo
Se é verdade que o DA regula, de facto, o Estado Administrativo. Também é verdade que
essa asserção não capta devidamente uma função primária e essencial do DA.
13
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
O sistema administrativo de cada momento histórico é um produto do DA.
A primeira função do DA de cada época histórica e de todos os lugares consiste em
constituir e estruturar a AP, em definir os conteúdos da função administrativa e em
apetrechar aquela com os instrumentos considerados necessários para a realização das
suas incumbências.
8.2 – Organização da Administração Pública
O DA apresenta-se como um direito da organização administrativa; trata-se de uma
disciplina assente numa regulamentação virada para o interior da AP, um direito interno.
A função específica das normas que integram esse segmento reside, por um lado, em
instituir, organizar e compor a máquina administrativa e, por outro lado, em regular as
condições de funcionamento e as relações que se processam dentro da Administração.
A organização da AP corresponde a uma função do DA que se tem vindo a tornar
sucessivamente mais importante e que se ocupa, além do mais, da distribuição do poder
dentro do sistema administrativo. Quanto às decisões fundamentais, a organização da AP
corresponde a uma função reservada ao DA: princípio da legalidade administrativa em
sentido institucional.
8.3 – Legitimação e orientação finalística da ação administrativa
Ao DA cabe a função essencial de definir as missões administrativas, assinalando os fins
a prosseguir pela AP e dotando-a dos instrumentos e dos poderes (competências)
indispensáveis para executar as referidas missões.
O corpo jurídico-administrativo cumpre assim uma função de autorização e assegura que
a Administração só atua e, em especial só restringe a liberdade dos cidadãos, quando se
encontre especialmente autorizada para o fazer.
A função de autorização e de legitimação da ação administrativa efetiva-se através da
edição de ‘normas de ação’: normas de atribuição e normas de competência.
A esta função junta-se a função de direção ou orientação finalística da ação
administrativa: é ao Direito Administrativo que cabe definir as finalidades a prosseguir
pela Administração e os interesses que esta deve realizar. A atuação da AP é na verdade,
dirigida e programada pelo sistema normativo que constitui o DA.
Por fim, é ainda nesta função que se enquadra a indicação legal dos instrumentos jurídicos
de que a AP pode dispor na execução das suas missões.
8.4 – Condicionamento da ação administrativa
A função de legitimação e orientação finalística da ação administrativa articula-se
diretamente com outra função essencial do DA, relativa à estipulação de ‘condicionantes
procedimentais e formais’, bem como de ‘limites substanciais’ ao desenvolvimento ou
aos termos do desenvolvimento da ação administração.
Esta função de condicionamento, de regulação da ação administrativa é desempenhada
pelas ‘normas condicionantes da ação administrativa’, conjunto que engloba, por um lado
as normas de procedimento e de forma e, por outro, certos princípios gerais da ação
14
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
administrativa, como, entre outros, o princípio da proporcionalidade, o princípio da
imparcialidade, o princípio da razoabilidade ou, claro, o próprio princípio da legalidade.
Ao DA (às normas que o integram) cabe a função de habilitar a AP a atuar, conferindo-
lhe as competências necessárias para o efeito. Mas também é o DA que limita e
condiciona a ação da Administração. As normas jurídico-administrativas, por um lado,
atribuem poderes e competências à AP, e, por outro lado, estabelecem restrições, limites
e condições ao exercício desses mesmos poderes e competências – empowerment and
constraint.
O DA ocupa-se do estabelecimento de limites, de condições e de requisitos a observar
pela AP no desenvolvimento das suas competências. Neste sentido, o sentido último do
DA reside em regular, orientar e condicionar os termos do desenvolvimento das
competências administrativas, estabelecendo um regime de ‘due process’, mediante a
submissão do poder administrativo a regras de forma e a regras e princípios de
procedimento, mas também a princípios gerais de caráter substantivo.
A acentuação deste perfil condicionador do DA não pretende desvalorizar a importância,
decisiva, das «normas de competência», que definem o que a AP pode fazer, balizam a
sua intervenção e, portanto, cumprem a função de legitimação e autorização da ação
administrativa. Sucede, porém, que as normas de autorização e de legitimação da ação
administrativa, enquanto conjunto, não correspondem, em geral, a um sistema normativo
preestabelecido para a garantia e realização de um quadro de valores homogéneo e
consolidado. As normas de competência representam concretizações da ideia de interesse
público, mas trata-se de concretizações múltiplas, heterogéneas e que não permitem
descortinar uma unidade de sentido.
Diferentemente, nas suas dimensões de condicionamento, o DA acolhe um valor
universal, presente em todas as formas de intervenção da AP: na realização dos seus fins
legítimos, a ação administrativa está sempre sujeita ao cumprimento de certas regras de
procedimento e de forma, bem como à observância de princípios jurídicos que a limitam
e condicionam.
19 – Direito administrativo: fonte de legitimação e de orientação finalística
da ação administrativa
19.2 – Natureza jurídica das normas de competência
A ação da Administração está sob reserva de norma jurídica, não há nem pode haver
nenhuma medida ou ato de uma entidade pública da Administração com um impacto
externo que não se baseie numa norma jurídica estabelecida ex ante.
Normas de competência – as verdadeiras normas de ação administrativa.
15
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
19.2.1 – Origem das normas de competência
A Administração só pode fazer aquilo que a CRP e a lei permitirem, ou seja, a ação
administrativa deve fundar-se na constituição e, ou na lei.
a) Constituição e lei
Apesar de conter preceitos dedicados à Administração, a CRP não é a lei da AP, o
direito desta é o DA e este é sobretudo um direito de fonte legal. Contudo, a
Administração pode desenvolver uma atividade diretamente fundada na CRP,
enquanto ‘lei habilitante do agir administrativo’, mas trata-se de casos excecionais,
pois não é, em geral, na constituição que vamos encontrar as normas de competência.
É, em regra, na legislação ordinária que vamos encontrar a regra, a base ou o
fundamento da ação administrativa.
Lei, neste sentido, é o ato legislativo, conceito que inclui a lei propriamente dita (lei
formal), da AR, mas também o decreto-lei do governo, e o decreto legislativo regional
das regiões autónomas.
Nisto se consubstancia o princípio da legalidade administrativa, na vertente de
princípio da precedência de lei: ‘a lei é o pressuposto e fundamento de toda a atividade
administrativa’.
b) Regulamentos administrativos
A competência administrativa de um órgão pode fundar-se direta e imediatamente
numa norma feita pela própria AP, num regulamento administrativo.
O regulamento pode, pois, surgir como o fundamento imediato do exercício da uma
competência dos órgãos da Administração (ex.: sanção disciplinar aplicada pelo reitor
a um estudante).
Sendo que o basear da ação administrativa em regulamentos, não constitui uma
infração à exigência constitucional de subordinação à CRP e à lei, porquanto são
precisamente estas que autorizam a Administração a emitir regulamentos.
Nestes termos, a ação que um órgão da Administração desenvolve ao abrigo de um
regulamento da Administração cumpre a exigência segundo a qual toda a ação da
Administração se deve fundar numa norma editada por um poder exterior à AP.
c) Normas de direito da União Europeia e de Direito internacional
Há ainda que ter presente a possibilidade de a ação administrativa se fundar
diretamente em atos legislativos, mas da União Europeia. Os regulamentos da UE
podem atribuir diretamente competências a entidades e órgãos das administrações dos
estados-membros.
Admite-se também que as normas de direito internacional convencional, bem como
as normas emitidas pelos órgãos competentes de organizações internacionais podem
habilitar diretamente uma atuação de órgãos da AP portuguesa.
16
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Em síntese, a ação administrativa tem de se basear sempre numa norma jurídica esta
pode ter várias fontes: CRP, regulamentos da UE, normas de direito internacional,
atos legislativos ou regulamentos administrativos.
d) Constituição e lei como referenciais das normas de competência
Num sentido figurado poderá falar-se em ‘fundamento legal’, em ‘legalidade da
Administração’ ou ‘legalidade administrativa’, não se vê inconveniente no recurso ao
conceito de lei neste sentido material a referenciar uma norma jurídica idónea para
legitimar a ação da Administração. Neste contexto, ‘lei administrativa’ é qualquer
norma jurídica com capacidade de autorizar ou legitimar a ação administrativa.
A ação administrativa tem de basear-se sempre numa norma jurídica idónea ou capaz
de produzir esse resultado, capaz de legitimar a atuação da Administração Pública.
No direito português apenas a CRP e a lei têm capacidade para indicar quais as normas
jurídicas idóneas e capazes de servir de base ou fundamento da ação administrativa.
Constituindo assim os 2 pilares essenciais do processo de legitimação jurídica da ação
da AP.
19.2.2 – Lei como fonte principal das normas de competência: o princípio da legalidade
da Administração
Independentemente das considerações anteriores e da possibilidade de a ação
administrativa se fundar em atos não legislativos, o certo é que, em regra, é em leis e atos
legislativos que a competência administrativa se desenvolve e fundamenta. Isto além de
serem também, em regra, os atos legislativos os que organizam o sistema administrativo.
Ou seja, a lei assume uma efetiva liderança na direção e condução da ação da AP. E a lei
cumpre esta função num duplo sentido: enquanto fonte imediata da ação administrativa,
e enquanto fonte indireta (ou mediata), no caso das ações da Administração baseadas em
regulamentos que, por sua vez se baseiam em leis
A posição destacada e preeminente da lei ordinária como fonte de autorização da ação
administrativa explica-se pelas seguintes razões:
- Apesar de poder conter, e conter, normas de ação administrativa, a CRP não é uma lei
para a Administração, pelo que nela não se inscrevem preceitos com essa função senão
de uma forma excecional.
- Podendo desempenhar a função de autorizar diretamente a ação administrativa, as
normas de direito da UE só marginalmente o fazem; desde logo porque a elaboração das
normas de ação pressupõe o conhecimento específico da máquina administrativa e a
identificação dos órgãos a quem as competências vão ser alocadas, um conhecimento que
falta ao legislador europeu sobre cada um dos estados-membros.
- Quanto aos regulamentos, há que ter em conta que a CRP define um elenco vasto de
matérias que estão sob ‘reserva de lei’ e que, por isso, têm de ser disciplinadas por lei da
AR ou do governo (por decreto-lei autorizado). Nestas matérias, a possibilidade de
intervenção regulamentar encontra-se fortemente condicionada.
17
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
O princípio da legalidade administrativa tem dois sentidos: num primeiro sentido,
negativo, a legalidade administrativa consubstancia-se no cânone do primado, primazia
ou preferência da lei e estabelece que a Administração não pode praticar atos que
contrariem a lei. A lei, o ato legislativo tem sempre primazia sobre as medidas e os atos
da administração; depois, num sentido positivo, a legalidade administrativa indica a
exigência de a ação administrativa se fundar na lei, tendo nesta o seu pressuposto ou
fundamento, fala-se aqui, em precedência ou reserva de lei.
20 – Direito Administrativo como fonte de condicionamento da ação
administrativa
O DA não cumpre apenas a função de autorizar ou legitimar a ação administrativa e de
determinar a finalidade dessa ação. Uma outra função essencial das normas jurídico-
administrativas consubstancia-se na regulação do exercício, do modo de exercício da ação
administrativa. Trata-se, pois, do condicionamento da ação administrativa.
20.1 – Condicionamento formal e procedimental
Constituindo o DA um ordenamento regulador de comportamentos, uma parte importante
das suas normas tem o propósito de condicionar as condutas da Administração num plano
formal e procedimental. Trata-se aqui de a norma prescrever não ‘o que’ a Administração
pode fazer, mas ‘como fazer’. Ou seja, no exercício das suas competências, a
Administração vai ter de seguir procedimentos definidos na legislação e exigências
procedimentais, constantes de regras ou que se deduzem de princípios gerais. Depois, no
momento da decisão, a Administração vai ter de cumprir exigências legais de caráter
estritamente formal.
Este condicionamento formal e procedimental, é uma decorrência do princípio da
legalidade, enquanto primado ou preferência da lei, na sua proibição de violação da lei: o
facto da Administração se achar proibida de contrariar a lei, representa um
condicionamento que, em muitos casos, se projeta nos capítulos formal e procedimental.
20.2 – Condicionamento substancial ou material
Em termos gerais e não no contexto de uma ação específica da Administração, o DA
cumpre uma função essencial de definição de regras de condicionamento substancial ou
material da ação administrativa, isto é, de condicionamento da escolha dos conteúdos das
medidas administrativas.
Diferentemente das anteriores, estas normas não se dirigem à Administração com um
propósito de definir ‘como fazer; agora está em causa a definição de critérios ou, melhor,
de parâmetros que a Administração vai ter de considerar na determinação dos conteúdos
das suas ações. Trata-se de regras que definem condições e que estipulam limites
operativos no momento da tomada de decisões, da escolha de medidas, quer se trate de
18
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
escolha entre agir ou não agir, ou da escolha entre a adoção da medida X ou da medida
Y.
O DA, as suas regras e os seus princípios cumpre aqui uma função de orientação dos
processos de ação e decisão administrativa, e tem a pretensão, se não se dirigir esses
processos, pelo menos de limitar e condicionar as escolhas da Administração.
No conjunto de normas com função de condicionamento da ação administrativa ocupam
uma posição de destaque os princípios gerais da atividade administrativa, alguns deles
referenciados na CRP.
21 – Subordinação da Administração ao direito: princípio da juridicidade
A ação administrativa está, quanto à sua possibilidade, sob uma reserva de norma jurídica
(‘norma de ação’) e, quanto ao seu desenvolvimento, sob o efeito da ingerência e das
limitações impostas por outras normas jurídicas (‘normas de condicionamento’), de várias
proveniências e até de estruturas diferenciadas (regras e princípios).
A norma de competência revela-se essencial, mas é apenas a luz verde para se iniciar um
percurso em que muitas outras normas têm de ser respeitadas e em algumas delas têm
mesmo a função de dirigir e de orientar o sentido da marcha.
A ação administrativa não se esgota num processo de aplicação de soluções gizadas pelo
legislador, na maior parte dos casos, o agente administrativo é convocado para, com o seu
saber, se empenhar, de uma forma dinâmica, mas também autónoma, na ‘construção’ das
decisões que deve proferir. Esta tarefa, desenvolvida a partir de normas abertas, que não
oferecem uma solução única, tem de ser juridicamente orientada e parametrizada e não
poder deixar de estar sujeita a controlos jurídicos.
A AP está então constrangida a respeitar um conjunto aberto e evolutivo de regras
jurídicas e de princípios que vão sendo elaborados e apurados com o propósito de dirigir,
de orientar e de condicionar a ação daquela.
A Administração está vinculada ao direito, em qualquer que seja a forma como este se
manifesta.
24 – Considerações iniciais: discricionariedade e vinculação
Quando a Administração é habilitada a exercer poderes unilaterais perante os
administrados, através da prática de atos administrativos, impõe-se que a normas que
autorizam essa intervenção adote a estrutura da programação condicional: hipótese (‘se’),
conector deôntico (‘pode’, ‘deve’, ‘tem de’) e estatuição (‘medida a adotar’).
A norma de competência indica ainda o ‘fim’ ou a ‘finalidade’ das medidas e providências
da Administração e fornece, na estatuição, uma indicação mais ou menos precisa sobre o
conteúdo da medida (ex.: ‘quem’, ‘quando e para quê’ e ‘o quê’).
19
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
O tema da discricionariedade relaciona-se sempre com uma ‘abertura da norma’, com o
emprego pelo legislador ou pelo autor da norma de competência de uma técnica de
abertura na formulação dos preceitos normativos.
O oposto da discricionariedade é a vinculação. Regista-se esta segunda situação quando
a norma de competência:
- Indica de forma fechada, definitiva ou taxativa as circunstâncias que desencadeiam a
intervenção administrativa
- Estabelece que a Administração tem de agir quando estes pressupostos se verifiquem
(norma obrigatória)
- Define, de forma rigorosa e fechada, em que consiste esta ação.
O ato a praticar ao abrigo de uma norma assim estruturada corresponde a ‘um ato
administrativo estritamente vinculado’, ou seja, um ato administrativo cuja prática é
legalmente devida e que, nos termos da lei, deve ser praticado com um determinado
conteúdo.
A discricionariedade, enquanto oposto de vinculação, supõe que a norma de competência
formule uma ‘disciplina incompleta do poder’, ou seja, que não defina de modo pontual
todos os aspetos operativos da ação administrativa.
25 – Discricionaridade administrativa: ‘espaço de autonomia da
Administração’
A AP está sujeita à lei e ao direito. Toda a ação administrativa, em qualquer das formas
que assuma, tem de se basear e de se poder reconduzir a uma norma jurídica estabelecida
ex ante.
Salvo em situações marginais, de habilitação conferida por normas da UE ou da CRP, a
ação administrativa baseia-se, de forma direta e imediata, em leis ou em regulamentos
administrativos, os quais se baseiam, por sua vez, em leis. Ou seja, a habilitação da ação
administrativa reside, em regra, de forma direta ou indireta, na lei.
25.1 – Compreensão inicial: discricionariedade como espaço livre e não
jurídico
A ideia de vinculação da Administração à lei conduziu à compreensão da função
administrativa como uma função de aplicação ou de execução da lei. Levando, em outros
tempos, a que à Administração coubesse executar mecânica e automaticamente as
determinações da lei.
Mas em contraposição a esse espaço de vinculação, admitia-se um espaço de não-
vinculação, em que a Administração poderia atuar livremente sem fundamento numa lei
– um espaço de discricionariedade administrativa.
20
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
A discricionariedade equivaleria a uma liberdade própria da Administração para atuar em
áreas e dispor sobre assuntos e matérias não reguladas por lei.
Assim, discricionariedade e legalidade eram dois hemisférios separados que não se
misturavam, não se cruzavam e nem se sobrepunham. Além disso, a discricionariedade
era concebida como um poder não jurídico, de ‘pura administração’, exercido num quadro
de plena liberdade, situado fora do direito. E por isso, era vista como uma esfera reservada
da Administração, a discricionariedade delimitava um espaço no qual os tribunais não
poderiam entrar: discricionariedade corresponderia a injusticiabilidade.
25.2 – Discricionaridade como espaço jurídico autorizado por lei
O alargamento do princípio da legalidade e a sujeição de toda a atividade administrativa
à lei, pôs em causa a conceção da discricionariedade como espaço não jurídico. Esta ideia
de que a discricionariedade se situa fora da lei não pode manter-se uma vez que não há
ação administrativa fora da lei. A Administração não tem um poder próprio de escolher e
definir as suas ações ou os fins das mesmas.
A discricionariedade transformou-se numa competência legal confiada e entregue ao
agente administrativo. O poder discricionário passou a ser, e é hoje, um poder ao serviço
de uma função e de uma finalidade: a realização do interesse público indicado na norma
de competência.
A discricionariedade corresponde a um poder de determinação e de escolha de efeitos
jurídicos que a Administração exerce com base em valorações próprias, mas tem de se
orientar ou guiar, nesse exercício, por cânones jurídicos, como a adequação, a
proporcionalidade, a imparcialidade ou a razoabilidade.
Não há ‘decisões discricionárias’, há, pode haver, isso sim, momentos discricionários de
decisões administrativas, momentos esses que se entrecruzam com momentos vinculados.
25.3 – Discricionaridade como espaço de autonomia da Administração e de
liberdade de decisão administrativa
A discricionariedade administrativa é aqui assumida como o espaço de autonomia ou de
liberdade de decisão de que desfruta a Administração numa situação concreta e
individualizada, referindo-se a um poder situado numa relação jurídica que se desenvolve
entre a administração e um ou vários administrados determinados.
Claro que o uso de vocábulos como ‘autonomia’ ou ‘liberdade’ requer a máxima cautela,
uma vez que a Administração não tem liberdades nem goza de autonomia para definir os
fins das suas ações.
A Administração não é um poder livre da lei e do direito, mas também não deve ser
concebido como poder subalterno, totalmente subjugado à lei e aos tribunais.
21
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
A ‘liberdade de decisão administrativa’ só é atribuída e reconhecida na medida em que
exista uma justificação (podendo essa justificação concreta, em cada caso, descansar em
múltiplos fatores).
A discricionariedade administrativa não deve, pois, ser aceite, como uma espécie de ‘mal
necessário’ ou como um espaço de autonomia da Administração que os tribunais, por
razões práticas têm de tolerar. O poder discricionário da Administração é um elemento
essencial de uma compreensão adequada do princípio da separação e interdependência de
poderes, em que a Administração não pode ser o parente pobre dos 3 poderes clássicos.
27 – Noção de discricionaridade administrativa
Poder conferido por uma norma de competência à AP para que esta, com base nos seus
próprios juízos de apreciação e valoração, decida, em última instância, sobre a medida a
adotar numa situação concreta.
27.1 – Poder conferido à Administração pela norma de competência
A discricionariedade refere-se a um poder conferido por uma norma jurídica ao agente
administrativo, o qual é chamado a aplicar essa norma numa situação concreta da vida,
mediante uma decisão.
O poder discricionário tem uma fonte normativa, resulta da concessão ou da autorização
do poder normativo através da abertura normativa.
A determinação da existência do poder discricionário depende de uma interpretação
jurídica. É por interpretação da norma de competência que se define uma premissa
essencial sobre a presença de um poder discricionário. É a interpretação da norma que
indica se e quando existe discricionariedade (a atividade interpretativa visa revelar e
clarificar o texto da norma de modo a poder determina-se o seu âmbito e o seu sentido).
27.2 – Valorações próprias da Administração
É ainda por via da interpretação da norma de competência que se vai poder concluir sobre
se o poder por ela conferido convoca ou faz apelo a valorações próprias, ‘privativas’, que
se devam considerar ‘reservadas’ à Administração. Assim se designam as apreciações, os
juízos de valor, valorações e ponderações que a Administração tem de fazer para poder
decidir nos termos da norma de competência.
A valorização administrativa não se esgota na formulação de juízos isolados de
apreciação, avaliação ou de qualificação de factos ou qualidades de pessoas ou coisas. A
valorização que a norma confia ao agente pode incidir apenas sobre a eleição da medida,
da melhor medida, que vai adotar no caso concreto.
Os juízos isolados de apreciação e os juízos de ponderação valorativa são elementos do
que se pode designar ‘autonomia de valoração da Administração’ (valoração que pode ser
atual ou prospetiva).
22
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Podemos então concluir que um poder é discricionário porque o seu exercício em
concreto, que se materializa numa escolha, numa seleção entre alternativas, se baseia em
valorações e juízos que o sistema jurídico deve reconhecer e assumir como próprios e
privativos da Administração, ou em valorações próprias do exercício da função
administrativa.
27.3 – Escolha da medida a adotar numa situação concreta - decisão
A discricionariedade pressupõe e assenta num momento valorativo, na formulação de
juízos sobre os factos ou situações a que a decisão responde, bem como sobre as medidas
a adotar; depois das valorações e ponderações valorativas, e com fundamento nestas, o
exercício efetivo da discricionariedade vai materializar-se num momento volitivo, na
tomada de uma decisão e, em especial, na escolha do conteúdo ou substância dessa
decisão.
O poder discricionário consubstancia-se num poder de escolha, de seleção e de decisão
sobre a medida, a adotar num caso determinado.
27.4 – Decisão da Administração em última instância
Em todos os elementos analisados até aqui, esteve sempre presente uma compreensão do
exercício da discricionariedade como um processo que se materializa na escolha de uma
medida pela Administração com base numa norma de competência (em regra, uma norma
legal). Neste sentido, a discricionariedade envolve uma ação conjugada do legislador e
da Administração.
Num tempo posterior ao exercício do poder discricionário, poderá intervir um tribunal,
ao qual pode ser solicitada a apreciação da legalidade da decisão discricionária. Ora só
existe discricionariedade, como um espaço de valoração e de decisão próprio e reservado
do agente administrativo, se este tiver a última palavra sobre a escolha discricionária, se
decidir em última instância. A discricionariedade exige assim que, se vier a ser chamado
a apreciar uma decisão administrativa, o tribunal ‘respeite’ o espaço de valoração próprio
da Administração.
Mas, claro, isto abrange exclusivamente o momento especificamente discricionário da
decisão, não os elementos vinculados, que também existem, os quais estão expostos a
apreciação judicial.
Vimos antes que o poder administrativo discricionário é o resultado de uma divisão de
competências entre o legislador e a Administração. Pois, podemos concluir agora que essa
leitura não permite compreender a discricionariedade na sua inteireza. Uma leitura global
só se alcança quando se considera um plano tripolar, um processo de divisão de
competências entre legislador, Administração e tribunais.
28 – Limites jurídicos e critérios do exercício do poder discricionário
A escolha discricionária é, em si mesmo, uma decisão jurídica, uma vez que, por força de
um dever jurídico que comanda o poder de escolha da Administração, aquela deve ser a
23
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
decisão certa, correta e justa: é o que exige o dever de boa administração. Mas não se
esgota dentro desses limites a juridicidade do poder discricionário.
Além dessa juridicidade inerente ao dever de boa administração, a discricionariedade é
um poder orientado juridicamente, que tem de ser exercido segundo critérios e padrões
jurídicos, e que se desenvolve dentro de limites legais e jurídicos.
Em território de uma ‘juridicidade perfeita’ existe, para a Administração, um imperativo
de correto exercício da discricionariedade. Quer isto dizer que o poder discricionário se
apresenta como um poder vinculado; o exercício do poder discricionário é limitado
juridicamente por critérios jurídicos.
28.1 – Limites jurídicos ao exercício da discricionariedade
Além de ter de respeitar limites resultantes imediatamente da norma de competência que
lhe atribui o poder discricionário, o agente administrativo tem ainda de respeitar outros
limites.
a) Respeito no âmbito da norma de competência
Em primeiro lugar a decisão ou escolha tem de ser feita dentro dos limites
especificamente previstos na norma de competência; o agente só é autorizado a agir
com discricionariedade no âmbito da autorização.
Assim é porque o poder discricionário é atribuído ao agente para ou em função da
prossecução de um fim definido externamente. A discricionariedade visa a realização
de uma finalidade, em concreto o interesse público revelado pela norma de
competência.
A discricionariedade administrativa consiste num «poder-dever», num poder que se
encontra funcionalizado, porque atribuído para que o agente prossiga o interesse
público e, para que, no seu exercício, alcance a realização máxima ou ótima deste
interesse. O dever de prosseguir o fim legal, não existe, porém, uma absolutização
desse interesse; reclama-se do agente uma atitude de equilíbrio, de ponderação de
outros interesses relevantes (públicos e privados).
O desrespeito pelo fim definido, pelo interesse público indicado na norma, origina um
vício de ‘desvio de poder’ ou de ‘uso indevido da discricionariedade’. A finalidade
concretamente prosseguida, de forma ilegal, porque estranha ao fundamento previsto
na norma de competência, poderá ser ainda de interesse público ou responder já a um
interesse particular: no primeiro caso, temos um desvio do poder para fins de interesse
público, no segundo, um desvio de poder para fins de interesse particular.
Vale ainda referir que nem sempre o uso indevido da discricionariedade é
determinado por uma intenção do agente no sentido de mobilizar o poder
administrativo para fins não previstos (ex.: erro resultante de uma deficiente leitura
do caso real, ou da consideração de elementos incorretos ou inexatos: erro de facto,
ou erro material).
24
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Também representa desrespeito dos limites do âmbito da autorização o fenómeno do
abuso da discricionariedade.
b) Outros limites
O agente administrativo tem ainda de respeitar limites gerais da ordem jurídica, pelo
que não pode, por ex.: infringir quaisquer disposições legislativas ou quaisquer
normas jurídicas aplicáveis ao caso.
Limites de ordem geral são também os que decorrem de uma eliminação ou ‘redução
da discricionariedade a zero’. A figura refere-se a situações em que, apesar de a norma
de competência conferir à partida um poder discricionário à Administração, a
apreciação das circunstâncias do caso apenas permite identificar uma única solução
como juridicamente possível ou legítima.
A eliminação ou desaparecimento do poder discricionário pode resultar das
circunstâncias específicas do caso concreto, que elimina alternativas decisórias, ou de
atuações anteriores da Administração, em conexão com os princípios da igualdade e
da boa fé.
28.2 – Critérios jurídicos do exercício do poder discriminatório
Além de se desenvolver no respeito de limites no âmbito da autorização, o poder
discricionário tem de ser exercido segundo critérios (regras) jurídicos, decorrentes, desde
logo, da exigência de procura da melhor solução para o interesse público.
a) Conhecimento integral, exato e correto dos elementos pertinentes
Em primeiro lugar, o agente tem o dever de identificar e de avaliar todas as
circunstâncias e elementos relevantes ou pertinentes para se colocar em posição de
exercer corretamente o seu poder discricionário. Da mesma forma que está obrigado
a não atender, a despistar, a descartar todos os elementos e circunstâncias que não
sejam relevantes para o mesmo efeito.
Seja qual for o canal de abertura discricionária que a suporta, a decisão discricionária,
para ser legal e justa, tem de ser uma decisão informada, materialmente fundada e
baseada no conhecimento e na consideração de todos os elementos pertinentes.
b) Exercício adequado do poder de apreciação
Além da decisão discricionária dever ser informada, a Administração deve fazer uma
representação correta desses elementos e deve utilizá-los de forma lógica, racional,
no desenvolvimento do processo decisório. A Administração não deve ter apenas o
conhecimento certo de todos os elementos pertinentes, deve saber interpretá-los e,
sobretudo, aplicá-los corretamente.
25
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Com frequência, a norma de competência convoca juízos de apreciação, de valoração
e de qualificação da Administração sobre factos ou situações; e o mesmo sucede em
casos em que a Administração se encontra incumbida de competências de avaliação
de pessoas ou de coisas ou de situações.
A formulação de juízos como estes deverá orientar-se segundo o princípio da
adequação da decisão à situação, à finalidade indicada na norma de competência.
Aplicado à decisão baseada num poder de apreciação, o princípio da adequação
postula a correspondência racional entre a decisão da Administração e a situação
concreta.
Embora com uma intensidade mais fraca, aplica-se também aqui o princípio da
razoabilidade, que impõe à Administração o dever de rejeitar as soluções
manifestamente desrazoáveis em matéria das valorações próprias do exercício da
função administrativa.
c) Imparcialidade e proporcionalidade na ponderação dos interesses relevantes
A valoração na qual a decisão se baseia, pode recair sobre a qualificação e avaliação
de factos e situações, mas também sobre os vários interesses envolvidos e que devam
ser ponderados quando se trate de construir a melhor medida sempre que a norma
atribui ao agente a responsabilidade de escolher entre agir ou não agir, ou de optar
entre medidas alternativas.
A decisão discricionária haverá de ser uma decisão ponderada segundo critérios
jurídicos, deve basear-se num processo de ponderação valorativa de todos os
interesses relevantes na situação concreta. Dentro dos limites da norma de
competência, e tendo presente a finalidade prosseguida com a atribuição do poder
discricionário, o agente administrativo terá de considerar e ponderar outros interesses
públicos relevantes, bem como os interesses particulares em presença.
Surge aqui um processo de ‘aquisição’ de interesses, orientado pelos princípios da
legalidade e da imparcialidade.
A consideração e a ponderação de ‘outros’ interesses relevantes, legítimos e dignos
de proteção concretiza a ideia de uma não absolutização ou da recusa da
predominância sistemática, absoluta e automática do interesse público essencial ou
primário. Nos termos da CRP e da lei, a prossecução do interesse público efetiva-se
no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, o que
implica, para a Administração, uma efetiva proibição de discriminação ou
desconsideração dos interesses particulares relevantes no contexto da decisão a
proferir.
Apesar do dever de consideração de todos os interesses relevantes no contexto
decisório, o interesse público que se revela na norma de competência é, com certeza,
o interesse crucial, essencial.
Além do princípio da imparcialidade, o processo de decisão deve também ser
orientado pelo princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade
desdobra-se na já referida exigência de adequação dos meios aos fins ou idoneidade.
26
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Esta exigência de adequação impõe-se quanto a todas as decisões da Administração
que envolvam escolhas.
Em concreto exige-se que a Administração se oriente por uma regra do meio mais
suave (o que envolve o menor sacrifício dos interesses agredidos).
Por fim, o princípio da proporcionalidade contempla uma exigência de proporção em
sentido restrito: a decisão deve ponderar os interesses em confronto no sentido de
alcançar uma ‘justa medida’ entre sacrifício e ganho ou vantagem. O sacrifício que a
decisão provoca no interesse lesado deve ser proporcional à vantagem que gera para
o interesse público beneficiado; regra da proibição do excesso: a Administração não
deve impor sacrifícios desproporcionais, excessivos em relação aos benefícios
alcançados.
O princípio da proporcionalidade tem dois subprincípios:
- Necessidade
- Proporcionalidade em sentido estrito (proibição de excesso)
No que diz respeito à tomada da decisão, além da imparcialidade e proporcionalidade,
também a justiça e a boa fé podem surgir como critérios de orientação. Sendo que se
trata de princípios jurídicos, não de regras rígidas
29 – Âmbito da discricionariedade: as aberturas normativas discricionárias
A discricionariedade administrativa é o resultado de uma ‘decisão legislativa’ que se
materializa na definição de uma ‘abertura’ na norma de competência.
As normas de competência que autorizam a adoção de decisões administrativas concretas
e individuais adotam a estrutura da programação condicional, fornecendo uma indicação
sobre o órgão competente para agir, sobre as circunstâncias que esse órgão pode ou deve
agir e o fim a prosseguir, e, por fim, sobre o poder a exercer, a medida a adotar, pelo
mesmo órgão: ‘quem’, ‘quando e para quê’ e ‘o quê’ são as indicações que em geral se
devem extrair da norma de competência.
A discricionariedade reside essencialmente numa abertura da norma de competência
sobre a indicação do ‘quando’, em que circunstâncias, ou de ‘o quê’, do conteúdo das
medidas a adotar. Num ou noutro desses elementos, a norma convoca uma valoração
própria da Administração, autorizando-a a proferir uma decisão com base nessa
valoração. A discricionariedade reside sempre numa tarefa mista, que abrange a
apreciação e a decisão.
A abertura discricionária pode então dizer respeito ao ‘quando’, encontrando-se na
previsão normativa, na definição ou enunciação dos pressupostos, por via da utilização
de conceitos jurídicos indeterminados. Mas também pode resultar do enunciado da
estatuição da norma, na indicação de ‘o quê’, das medidas que podem ser adotadas, ou na
formulação do conector deôntico, do elemento estrutural de ligação entre a hipótese e a
estatuição. Podemos ainda ter situações de acoplamento, se a norma de competência
define canais discricionários na identificação dos pressupostos e na estatuição.
27
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
29.1 – Conceitos jurídicos indeterminados na hipótese da norma de
competência
As diferentes origens das aberturas discricionárias explicam diferentes graus de
dificuldade na identificação da intencionalidade legislativa de conferir poderes
discricionários. Mas a intencionalidade da decisão, nem sempre se revela tão clara quando
se está em presença de uma competência de apreciação definida com a mobilização de
conceitos jurídicos indeterminados utilizados no recorte hipotético da norma.
Na medida em que constitua uma forma de abertura discricionária, o emprego de
conceitos indeterminados na hipótese da norma está, em regra, associado à formulação
de juízos isolados, suscitando uma apreciação de sim ou não, no contexto de um juízo de
adequação que não envolve uma ponderação valorativa de interesses. Mas essa não é uma
regra taxativa, uma vez que há conceitos imprecisos na hipótese que recamam uma
ponderação valorativa de interesses concorrentes.
29.1.1 – Conceitos jurídicos indeterminados
Conceitos abertos e cláusulas indeterminadas como ‘acidente grave’, ‘pessoa idónea’,
‘capacidade de resolução de problemas complexos’, ‘acentuada carência de recursos’,
‘incumprimento persistente’, e outros do mesmo tipo, surgem nas normas jurídicas
administrativas.
Tratam-se, em todos esses casos, de cláusulas legais que empregam «conceitos jurídicos
indeterminados», conceitos formulados mediante um enunciado impreciso ou vago e que,
por isso, têm, no contexto da norma, uma extensão incerta. A indeterminação destes
conceitos não se resolve com recurso às ferramentas de metodologia jurídica de
interpretação de normas. Em casos como estes, trata-se de abrir um espaço ao aplicador
da norma para fazer apreciações, formular valorações, emitir juízos de valor sobre uma
situação, um facto ou qualidades de coisas ou pessoas.
Neste sentido, conceitos indeterminados não são conceitos de interpretação difícil ou
conceitos ambíguos, cuja ambiguidade se possa resolver por uma interpretação que lhes
defina o sentido exato. Trata-se de conceitos imprecisos que por causa dessa sua
imprecisão, apresentam-se elásticos e com uma extensão incerta.
Estes conceitos jurídicos indeterminados não devem confundir-se com os designados
‘conceitos classificatórios’, os quais, mesmo quando aparentemente indeterminados,
referem-se a situações individualizáveis e, em função da experiência, de conhecimentos
técnicos, científicos ou jurídicos, conhecem apenas uma possibilidade de aplicação em
cada caso; não revelam qualquer flexibilidade, plasticidade ou capacidade de aplicação.
A aplicação do conceito classificatório só permite uma única solução correta, razão pela
qual se tem de concluir que o emprego do mesmo pela norma de competência não
significa uma abertura discricionária. Na interpretação e aplicação desses preceitos, o
agente administrativo não desenvolve um processo de valoração, de apreciação
valorativa, nem é chamado a formular um juízo próprio. O ordenamento jurídico reclama,
no âmbito da aplicação destes conceitos uma decisão da Administração apoiada na
objetividade, não na opinabilidade.
28
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Deve ter-se ainda presente que, um conceito (verdadeiramente) indeterminado pode ser
objeto de definição legal. Esta pode ter o propósito de eliminar a indeterminação, para
efeitos de aplicação do regime jurídico em causa. Pode, no entanto, suceder que a lei
apenas diminua (sem eliminar) a indeterminação de um conceito. Por fim, a lei pode
fornecer uma indicação sobre alguns casos típicos ou indiciadores da aplicação correta do
conceito.
29.1.2 – Conceitos jurídicos indeterminados como fonte de discricionariedade
A utilização de conceitos jurídicos indeterminados em sentido próprio na descrição dos
pressupostos, na previsão da norma, pode constituir um modo de a norma de competência
conferir discricionariedade ao agente administrativo – discricionariedade de apreciação.
Dizemos ‘pode constituir’ porque a circunstância de uma norma administrativa utilizar
um conceito indeterminado não significa necessariamente que nele esteja presente uma
intenção de devolver à Administração a última palavra sobre a aplicação do conceito
indeterminado: a discricionariedade administrativa exige que se possa retirar da norma
legal uma intencionalidade de abertura para uma valoração própria da Administração.
Sem a presença dessa intencionalidade, não se pode atribuir à decisão da AP o sentido de
decisão de última instância sobre a valoração de um conceito. O poder discricionário,
além de envolver a intervenção conjugada da legislação e da Administração, exige ainda
que o tribunal, se vier a ser chamado a apreciar a decisão da Administração, respeite a
valoração administrativa. Assim, só se estará perante um poder discricionário quando o
agente administrativo tenha uma liberdade de decisão não apenas em face do legislador,
mas também em face do tribunal.
O primeiro passo consiste em identificar o tipo de valoração que o conceito indeterminado
suscita, de modo a perceber-se se faz apelo à experiência e a apreciações que se possam
considerar próprias da Administração.
Por outro lado, há conceitos indeterminados intrinsecamente associados à descrição do
núcleo típico das competências de uma autoridade administrativa.
Além disso, surgem conceitos que remetem para o saber específico da Administração,
para a sua perícia ou expertise, os seus conhecimentos especializados, a sua formação e
competência técnica.
Noutros casos, a competência de apreciação pode assumir uma natureza discricionária em
razão de ser da especial preparação técnico-científica do órgão administrativo ou da
legitimação especial da autoridade responsável decorrente da sua composição aberta e
plural.
Acrescem ainda as situações em que a norma define competências decisórias que se
sustentam na ponderação de situações e problemas complexos, que exigem a adoção de
medidas em situações de incerteza ou de risco e que, em geral, têm de se basear em juízos
prospetivos, estimativas e projeções. Também nestes casos, os conceitos indeterminados
convocam um poder de apreciação próprio da Administração que, em regra, o tribunal
29
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
deve respeitar pelo facto de resultar da mobilização de competências e conhecimentos
técnicos que oferecem garantias de utilização dos instrumentos idóneos nos processos de
análise prospetiva e de estimativa futura sobre a evolução de situações.
Aos casos anteriores, juntam-se os das decisões administrativas com um impacto político
ou com consequências políticas.
Em todos os casos indicados, os conceitos indeterminados empregados na norma de
competência são uma fonte de discricionariedade e, portanto, remetem para um espaço
de valoração própria da Administração que se manifesta na decisão.
Num grau ainda mais elevado de atribuição de discricionariedade, temos conceitos como
‘interesse público’ ou ‘mérito, conveniência ou oportunidade’ que as normas de
competência também empregam na definição dos pressupostos do exercício do poder que
conferem ao agente administrativo.
Nem todos os conceitos jurídicos indeterminados conduzem a um tal resultado, a
indeterminação no modo de descrição da hipótese normativa não corresponde sempre, em
todos os casos, a uma abertura discricionária. Exige-se que a indeterminação seja o
corolário de uma intenção legislativa (da norma de competência) de autorizar um poder
discricionário da Administração.
A situação apresenta-se nos mesmos termos quanto a conceitos como ‘boa fé’,
‘moralidade’, ‘idoneidade moral’, ‘moral’, ‘bons costumes’: também estes convocam
uma valorização para a qual a Administração não está em situação que a autorize a decidir
em última instância. O tribunal realiza, também neste caso, um controlo total da decisão
que aplica o conceito.
Por outro lado, entende-se que, por razões de transparência e de igualdade de tratamento
dos administrados e no sentido de aumentar a racionalidade do seu processo decisório, a
Administração deve, em geral, densificar e precisar previamente os critérios que vai
seguir no exercício de poderes de apreciação e de avaliação – redução da
indeterminabilidade de conceitos normativos.
Cumpre ainda observar que, em relação a matérias protegidas pela reserva de lei
parlamentar, como é o caso dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, impõe-se ao
legislador, ou ao autor do regulamento administrativo, um dever de especial contenção
no emprego de conceitos jurídicos indeterminados na definição das normas de
competência, de modo a evitar as indefinições e as aberturas normativas em áreas da ação
administrativa que interferem diretamente com essas matérias.
A maior densificação das normas de competência também se deve fazer exigir nas normas
que conferem competências sancionatórias à Administração. Aqui, o propósito da
determinação, da garantia de um ‘mínimo de determinabilidade’, não consiste em
diminuir a discricionariedade da Administração, mas, antes, em diminuir a indefinição da
conduta ilícita e, consequentemente, a indefinição da sanção aplicável. De resto, no caso
do ilícito de mera ordenação social, a questão da discricionariedade administrativa na
aplicação de sanções não se coloca, uma vez que os tribunais têm poderes de plena
jurisdição na apreciação dessas decisões administrativas.
30
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
29.2 – Permissões de ação
Por vezes, a competência administrativa não corresponde a um estrito dever de ação,
limitando-se a norma a conferir um poder à administração e, em simultâneo, a conferir-
lhe o poder de decidir ‘se’ vai agir ou não. Temos aqui o poder de agir, desligado de um
dever de agir, e, portanto, uma «discricionariedade de ação», de «decisão» ou de
«intervenção». Em geral, a norma emprega neste caso, o conceito “pode”.
O conceito normativo de “pode” revela-se suscetível de ser interpretado como faculdade,
permissão, que remete para um poder de escolha entre fazer e não fazer, concedido por
uma norma permissiva. Mas não se deve excluir que o ‘pode’ referencie, não um poder
de escolhe entre agir ou não agir, mas antes um ‘poder-dever’ de agir e, por conseguinte,
uma competência pública que pode ser de exercício obrigatório. Ou seja, podemos estar
diante de um ‘poder discricionário’ ou de um ‘poder-competência’.
Assim, a conclusão segundo a qual uma norma jurídica que enunciar que um “órgão
administrativo pode” se apresenta como meramente permissiva só se alcança quando nela
se acolhe de forma clara a atribuição ao agente aplicador de um poder de escolha entre
agir ou não agir, de optar entre estas 2 possibilidades de acordo com o princípio da
oportunidade. Em suma, tem de se afigurar claro que a norma ‘deixa em aberto com
inteira igualdade a hipótese positiva e a negativa’ e que o critério que dita a opção pode
ser configurado pelo órgão.
Nos antípodas das normas permissivas, encontram-se as normas obrigatórias, as quais
exigem a intervenção do órgão competente sempre que se verifiquem, em concreto, os
respetivos pressupostos. As normas obrigatórias não contêm uma abertura discricionária
quanto à decisão entre agir ou não agir.
Em geral, as normas obrigatórias podem dividir-se entre aquelas que definem um dever
específico de agir e as que definam apenas um dever genérico de agir.
Nas primeiras, que determinam a intervenção administrativa sempre que se verifique a
situação real, concreta e determinada nelas prevista, não existe uma possibilidade de
escolha entre agir ou não agir, mas já existe o poder de escolha do momento de agir. Por
outro lado, as situações excecionais e atípicas, pode até admitir-se a não-ação, ou seja, o
incumprimento do dever de agir, com fundamento no princípio da proporcionalidade, se
se aceitar que este princípio se pode aplicar no caso de decisões administrativas
vinculadas.
No caso de dever geral de agir, a norma estabelece uma competência obrigatória e não
admite, como regra geral, a inércia da Administração, mas, evidentemente, não pode
exigir-se que esta faça o impossível. Pelo que este tipo de normas está na origem de uma
forma de discricionariedade organizatória de programação e de planificação do trabalho
administrativo.
31
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
29.3 – Indicação de medidas em alternativa
Um canal típico de abertura discricionária consiste em a norma de competência indicar
que, perante dada situação, a Administração pode adotar a medida A, B, ou C. Está aqui
presente uma discricionariedade de escolha alternativa ou optativa.
29.4 – Não determinação das medidas a adotar (atipicidade)
É na estatuição que a norma define especificamente o ‘poder’ que a Administração vai
exercer, por via da indicação do conteúdo possível da decisão a adotar. Trata-se de indicar
‘o quê’, em que consiste a ação administrativa. Ora, pode suceder que a norma de
competência utilize cláusulas gerais ou conceitos indeterminados na enunciação das
medidas que o agente administrativo pode adotar. Pode, em qualquer fase do
procedimento, o órgão competente para a decisão final, oficiosamente ou a requerimento
dos interessados, ordenar as medidas provisórias que se mostrem necessárias, se houver
justo receio de, sem tais medidas, se constituir uma situação de facto consumado ou se
produzirem prejuízos de difícil reparação para os interesses públicos ou privados em
presença, e desde que, uma vez ponderados esses interesses, os danos que resultariam da
medida se não mostrarem superiores aos que se pretendam evitar com a respetiva adoção.
30 – Controlo judicial da discricionariedade
Como quaisquer outras, as decisões administrativas proferidas no exercício de poderes
discricionários estão expostas ao controlo judicial, que, necessariamente, vai ocorrer, se
alguém com legitimidade para o efeito, desferir um ‘ataque’ contra elas. Pode surgir aqui
uma ação de impugnação, no sentido de se obter a anulação ou a declaração de nulidade
de uma decisão, ou de uma ação de condenação, se o propósito for o de obter a
condenação da Administração a proferir uma decisão. Em ambos os casos, o facto de a
Administração ter proferido a decisão ou ter-se recusado a fazê-lo no exercício de um
poder discricionário coloca a questão de saber em que termos se vai processar a
intervenção judicial.
Para existir discricionariedade administrativa, revela-se essencial a decisão legislativa de
instituir o poder discricionário. Esta é uma questão necessária, porém não suficiente. Um
poder discricionário só existe na medida em que as decisões proferidas no seu exercício
constituem uma decisão em última instância, que o tribunal deva respeitar. Se o tribunal
puder ‘discordar’ da escolha da AP, ou puder refazer todo o juízo em que esta baseou a
sua escolha, então, não existe, afinal, discricionariedade enquanto momento da autonomia
própria da Administração.
É importante reter, que a decisão administrativa discricionária se apresenta também como
uma decisão vinculada. Não há decisões discricionárias, como sabemos, há, pode haver,
momentos discricionários de decisões administrativas, momentos ou elementos
discricionários que se cruzam com momentos ou elementos vinculados. Maior ou menor,
ao lado da parcela de discricionariedade existe sempre na atividade administrativa uma
parcela de vinculação por normas jurídicas – uma parcela de normatividade.
32
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Os elementos vinculados também podem relacionar-se de uma forma direta com o próprio
exercício do poder discricionário: o desrespeito dessas vinculações dá origem a vícios,
como o desvio de poder ou uso indevido da discricionariedade, bem como o abuso ou
subutilização do poder discricionário. Embora recaia sobre situações diretamente
associadas ao exercício da discricionariedade, a apreciação do tribunal não toca a essência
ou o exercício em si mesmo do poder discricionário.
A situação é já diferente quando a decisão ou a omissão administrativa se apoiam em
juízos de valoração e em ponderações efetuadas pela Administração no pleno exercício
do poder discricionário, na essência deste poder. Agora terá de definir-se uma metódica
específica de apreciação judicial que respeite o exercício da discricionariedade como
momento da autonomia da Administração; mas também que garanta o controlo da
observância da racionalidade jurídica que se impõe no exercício da discricionariedade,
máxime dos cânones jurídicos que devem ser observados neste contexto.
A lei acolhe um arranjo conciliador:
- Se o ato a praticar envolve a formulação de valorações próprias da função
administrativa, o tribunal não pode determinar o conteúdo do ato a praticar – respeito da
autonomia da Administração
- Mas deve explicar as vinculações a observar pela Administração na emissão do ato
devido – garantia do respeito pelos critérios jurídicos do exercício da discricionariedade.
Mas precisamente a mesma questão surge noutras situações, designadamente quando o
tribunal é acionado para apreciar decisões proferidas pela Administração no exercício de
poderes discricionários. O esquema conciliador passa aqui, pela ideia de que o tribunal
tem de fiscalizar, mas sem proceder a um reexame da decisão. Deve existir aqui, um
controlo judicial, mas que respeite o momento da escolha discricionária. Este é o critério
geral que resulta de uma compreensão adequada das relações entre a Administração e os
tribunais à luz de uma leitura equilibrada do princípio da separação dos poderes.
30.1 – Discricionariedade de apreciação
No cenário de ‘discricionariedade de apreciação’, associado ao emprego de conceitos
indeterminados na previsão da norma de competência, o exercício do poder discricionário
deve orientar-se pelo princípio da adequação da decisão à situação ou de adequação da
decisão à finalidade indicada na norma de competência.
a) A questão da amplitude do controlo judicial
A questão que importa agora colocar é que metódica deve o tribunal seguir para
verificar se a decisão proferida pela Administração, com fundamento num juízo de
valoração própria, é uma decisão adequada à situação.
De acordo com a doutrina clássica, ainda seguida em grande medida na jurisprudência
administrativa portuguesa, em áreas de discricionariedade, o tribunal apenas deve
realizar um controlo externo, e, se for o caso, elimina a decisão administrativa na
hipótese de uma completa e manifesta desconexão entre a decisão e o facto – erro
manifesto de apreciação.
33
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Incorrem no vício de erro manifesto de apreciação as decisões em que a
Administração se recusa a reconduzir a um conceito indeterminado uma situação
concreta que, indiscutivelmente, corresponde a esse conceito ou, em sentido inverso,
as decisões que reconduzem a um conceito indeterminado uma situação concreta que,
indiscutivelmente, não se encaixa nos limites normativos do mesmo.
Aderimos ainda, à opinião de uma parte da doutrina, segundo a qual ao erro manifesto
de apreciação, devem ainda reconduzir-se as situações que, sem serem de erro
flagrante ou visível à distância, e exigindo por isso alguma indagação judicial, se
materializam numa decisão completamente desconexa com a situação à qual se aplica,
em termos de se poder considerar o resultado como absurdo, contrário ao bom senso
e à razão, que nenhuma autoridade razoável teria produzido.
O controlo judicial do princípio adequação baseado no erro manifesto de apreciação,
revela-se um controlo judicial muito atenuado e tímido, que, em termos práticos, se
limita a suscitar uma intervenção judicial em cenários de violação pela Administração
de parâmetros elementares de razoabilidade e racionalidade.
b) A tendência internacional (TEDH e Tribunal de Justiça da União Europeia) no
sentido do controlo judicial mais intenso
Pela natureza limitada, contida e deferencial, o controlo judicial da
‘discricionariedade de apreciação’ baseado no erro manifesto de apreciação vem
sendo posto em causa em decisões do TEDH. Por várias vezes, intervindo em
processos com origem em decisões administrativas que aplicam sanções ou que
interferem com os direitos civis dos cidadãos, o Tribunal tem vindo a considerar
violado o direito a um processo equitativo pelo facto de a decisão administrativa não
ter sido objeto de controlo judicial suficiente pelo tribunal nacional.
É, contudo, percetível a tendência no sentido de que o TEDH não aceita o controlo
judicial limitado ao erro manifesto, e considera, em geral, que os tribunais nacionais
não podem renunciar a uma fiscalização suficientemente aprofundada sempre que
estejam em causa conflitos relacionados com a aplicação de sanções ou com
intervenções administrativas em matérias de direitos civis.
c) Existência de controlo judicial da adequação meio – fim de decisões
administrativas a direitos dos cidadãos
A tendência internacional (TEDH e Tribunal de Justiça da EU) aponta para o controlo
judicial aprofundado que assegure a fiscalização suficiente da legalidade das decisões
administrativas relacionadas com direitos dos cidadãos. Sendo esta também uma
exigência que decorre da nossa CRP quando estão envolvidas intervenções
administrativas em matéria de direitos, liberdades e garantias. Com efeito, apesar de
a legislação nesta matéria dever respeitar um ‘imperativo de determinabilidade’,
poderão, não obstante, surgir normas com conceitos indeterminados, hipótese em que
a respetiva concretização pela Administração deverá ficar sujeita ao controle total do
juiz; a utilização por lei de conceitos indeterminados neste caso não deve, em regra,
ser interpretada como concessão de poderes discricionários à Administração. Impõe-
se, assim, um controlo ‘point by point’, sobre todos os elementos de facto e de direito
34
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
em que assenta a decisão, sempre que esteja alegada a violação de direitos, liberdades
e garantias.
A questão a colocar é se, mesmo fora desse âmbito, não se justifica um controlo de
maior amplitude do exercício de poderes discricionários nos casos em que estejam em
jogo decisões relativas a direitos (quaisquer direitos e não apenas direitos, liberdades
e garantias) dos administrados. Ora, na nossa interpretação, um alargamento do
controlo judicial não apenas se justifica, como se impõe neste cenário.
Mesmo que não tenha de se estender ao controlo total, a intervenção judicial deve
escrutinar os termos da adequação da decisão administrativa aos factos, e efetuar um
controlo da adequação meio – fim. Ou seja, o controlo judicial do respeito do princípio
da adequação não pode esgotar-se num controlo negativo da razoabilidade, em que só
decisões irracionais, desrazoáveis ou de flagrante arbitrariedade são eliminadas.
Exige-se mais do que isso: o tribunal deve certificar-se de que a decisão
concretamente proferida se revela adequada à situação adequada. Não basta assegurar
que uma decisão relativa a direitos de pessoas não é desrazoável, torna-se necessária
a afirmação explícita da convicção judicial de que a decisão se revela adequada. E
para formular este juízo positivo de convicção, o tribunal tem ao seu dispor os
elementos constantes do processo administrativo, bem como as ‘explicações’ que
pode solicitar à Administração no decurso do processo contencioso.
O mero controlo da razoabilidade, do erro manifesto de apreciação, poderá manter-se
como controlo suficiente, quanto a decisões neutras para os direitos de particulares,
bem como para todas as que envolvem ‘direitos precários’, que a lei desenha, ab initio,
como situações jurídicas de substância mais frágil, que podem fraquejar por razões de
interesse público.
30.2 – Discricionariedade de ação e discricionariedade de escolha
Nas situações em que a Administração escolhe os efeitos das suas decisões com base
numa abertura discricionária na estatuição, os critérios fundamentais a seguir são os que
resultam dos princípios da imparcialidade, da proporcionalidade, bem como da justiça e
da boa fé. Ao tribunal cabe, então, apreciar se todos os interesses relevantes e pertinentes
foram efetivamente considerados, indagando se, no procedimento da decisão, a
Administração cumpriu a obrigação de considerar com objetividade todos e apenas os
interesses relevantes no contexto decisório. O tribunal não deve tolerar a decisão
administrativa que cria um efeito totalmente favorável para um certo particular,
descurando totalmente, sem qualquer ponderação, os interesses contrapostos de outros
particulares.
O tribunal é ainda competente para apreciar se a decisão cumpre as exigências do
princípio da proporcionalidade: como desfecho dessa apreciação, poderá a vir anular a
decisão se a mesma se revelar desadequada, desnecessária ou desproporcional.
O controlo judicial baseado nos princípios da imparcialidade e da proporcionalidade
assegura o imperativo de existência de um controlo judicial, mas de um controlo que
35
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
respeite o espaço de discricionariedade administrativa, originado na abertura intencional
da norma de competência.
33 – Europeização do Direito Administrativo
O DA português acusa atualmente uma influência significativa, tanto em extensão como
em intensidade, do direito da UE.
A materializar a influência europeia, pode falar-se de um fenómeno de «europeização».
Embora possa conhecer um significado porventura ainda mais amplo, o conceito de
europeização do DA apresenta um potencial de identificação dos seguintes 2 principais
fenómenos:
1) Enquanto processo de ‘apropriação europeia’ da regulamentação direta da AP
nacional. O DUE está em posição de surgir como fundamento ou fator de
condicionamento da ação administrativa nacional. Isto coloca o DUE a concorrer
com o DA nacional. A europeização, neste sentido, pode mesmo conduzir aos
resultados de uma certa desnacionalização do DA, bem como da desaplicação da
regulamentação jurídico-administrativa nacional.
2) Compreensão do DA nacional como um corpo de normas de origem formalmente
nacional, as quais, com intensidade crescente, se limitam a efetuar a mera
transposição de normas do DUE, no contexto do objetivo europeu da
harmonização das legislações nacionais. Embora convertido, em direito nacional,
este DA é, na origem, um direito europeu. Neste âmbito, a AP é, em termos
substanciais, regulada por um direito europeizado, ainda que com a aparência
nacional.
Como resultado desta europeização: a regulamentação administrativa da origem europeia
é diretamente aplicável no direito interno; e a regulamentação administrativa é
influenciada pelo DUE.
35 – Direito da União Europeia e Administração Pública nacional
O DUE não se aplica apenas às instituições europeias e à AP da UE. O sistema de normas
europeu tem também uma incidência direta na ação administrativa nacional (portuguesa).
Esse processo tem-se desenvolvido por 3 vias principais:
- Através da atribuição direta de competências a instâncias administrativas nacionais, o
que coloca o DUE na condição de fundamento direto da ação administrativa nacional
- Mediante a edição de normas que definem regimes que limitam e condicionam
diretamente (à margem e independentemente das normas de direito interno) a ação da AP
nacional
- Por força de um princípio de primazia de aplicação do DUE, que confere a normas deste
ordenamento a consideração de critério de vinculação preferencial da AP.
36
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Num plano diferente, mas ainda no âmbito das relações entre DUE e AP nacional, assiste-
se a um fenómeno com um relevo organizativo que podemos designar «europeização da
AP nacional».
35.1 – DUE como fundamento direto da ação administrativa nacional
Um dos pilares clássicos da essência do DA assenta no princípio da legalidade
administrativa e, portanto, na subordinação da AP à lei: a lei é o fundamento e o limite
da ação administrativa. O princípio da legalidade traduz a supremacia do legislador sobre
a AP.
Além de existir hoje uma vinculação administrativa mais alargada, no quadro de uma
complementaridade entre legalidade e juridicidade, impõe-se ter presente que, para a
compreensão da existência de legalidade administrativa, a lei já não se reconduz
necessariamente a uma norma jurídica do legislador nacional. Com efeito, na condição
de lei, surgem normas jurídicas de DUE.
Certas normas jurídicas e atos de DUE são de aplicação direta na ordem interna
portuguesa; isso cria as condições para que tais normas possam figurar como fonte direta
de DA português.
Precisamente pelo facto de se incorporarem na ordem jurídica portuguesa, na qual se
aplicam diretamente, certas normas de DUE podem desempenhar as funções clássicas da
lei e até dispensar a intervenção do legislador nacional.
Neste sentido, ‘lei’ enquanto norma de competência e fundamento direto da ação
administrativa, pode (também) ser uma norma de DUE.
A doutrina alude, a este respeito, a uma legalidade administrativa compósita, que conjuga
elementos de direito nacional com elementos de direito europeu.
O DUE está em condições de cumprir a função de autorizar diretamente e de forma
autónoma as administrações públicas dos Estados-Membros a editar regulamentos
administrativos, bem como a proferir decisões concretas ou, pura e simplesmente, a agir.
De acordo com a conceção segundo a qual as normas do direito originário da UE podem
conhecer uma aplicação direta, não está sequer excluído que a ação administrativa
nacional se funde diretamente no TFUE. Como alguma doutrina assiná-la, é isso que
sucede, embora de forma excecional.
Mas, naturalmente, é no regulamento que, com maior frequência, se encontram normas
de competência da AP dos Estados-Membros.
Existem efetivamente cenários em que os regulamentos da EU conferem diretamente às
AP nacionais competências para atuar no plano das relações com os cidadãos.
É verdade que aos Estados-Membros pode ainda caber, por via legislativa ou por via
regulamentar, a designação, em concreto, das autoridades nacionais a quem cabe o
exercício das competências. Mas também pode suceder que o DUE indique, em concreto,
a autoridade nacional competente. Nesse caso, as autoridades administrativas nacionais
37
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
recebem diretamente competências de normas de DUE, tornando-se desnecessária
qualquer intervenção legislativa nacional.
Na linha de um princípio de equiparação entre lei e normas (e outros atos) de DUE como
fundamento da ação administrativa, compete às entidades reguladoras fazer cumprir as
leis, os regulamentos e os atos de DUE aplicáveis.
35.2 – Limitação direta e autónoma da ação administrativa nacional
Considera-se agora um fenómeno independente daquele em que as normas de DUE
atribuem diretamente competências às administrações nacionais sem intermediação de
qualquer norma; considera-se um fenómeno em que também diretamente, as normas de
DUE definem um regime jurídico que limita e condiciona diretamente a ação da AP
nacional.
Também aqui se assiste a uma correlação direta entre DUE e a ação da AP, ainda que de
contornos algo diversos: a Administração atua com fundamento numa norma interna, mas
a sua ação sofre o impacto da vinculação de normas europeias de aplicação direta.
As normas de DUE estão em condição de constituir um fator autónomo e independente
de limitação e de condicionamento da ação administrativa nacional.
Os atos administrativos praticados em violação direta de normas de DUE diretamente
aplicáveis são inválidos. Em princípio tais atos são anuláveis por terem sido praticados
com ofensa de normas jurídicas aplicáveis. Em relação aos regulamentos, estes são
inválidos quando infrinjam normas de DUE, o que parece envolver uma opção pela
invalidade em detrimento da desaplicação do regulamento administrativo contrário ao da
UE.
35.3 – DUE como critério de vinculação preferencial da ação da AP nacional
O DUE estabelece, de forma direta e autónoma, limites à ação da AP nacional: tais
limites são impostos verticalmente e, na hipótese até agora equacionada, de forma direta,
dispensando a intermediação de uma norma nacional.
Mas pode suceder uma outra situação relacionada com a presença de uma norma de
direito interno: suponha-se o caso de uma norma de DA interno definir os pressupostos
da decisão de uma autoridade administrativa em violação de uma diretiva.
Agora, a Administração, no momento da aplicação da norma, em que tem de decidir se
concede ou não a autorização, vê-se confrontada com uma contradição ou antinomia
normativa, que resulta num dilema: se se confronta com este, infringe a norma do direito
interno.
Para casos com tais contornos, advoga o Tribunal de Justiça a mobilização de um
princípio de aplicação preferencial do DUE: nos termos deste princípio, a AP nacional
não só pode como terá o dever de desaplicar a lei nacional contrária ao disposto em
38
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
normas de DUE com efeito direto. Trata-se, neste cenário, de uma consequência do
primado do DUE sobre o direito nacional.
Compreende-se esta imposição europeia do princípio de aplicação preferencial. Sobram,
porém, muitas dúvidas sobre a generalização desse critério de resolução de um conflito
ou de uma contradição normativa.
Em primeiro lugar, importa ter presente a situação específica e real da AP, a qual, na
maioria das vezes não dispõe de competências instaladas para apurar a existência de um
conflito normativo, nem está na condição de formular um juízo conclusivo numa matéria
tão complexa como pode ser a da avaliação da conformidade da lei nacional com o DUE.
Além disso, não se pode desconhecer que a mobilização do princípio da aplicação
preferencial pressupõe uma atitude da AP que, em termos práticos, envolve o consciente
e deliberado ‘desrespeito’ (desaplicação) de uma norma de direito nacional.
Assim, na nossa interpretação, a desaplicação de norma de direito nacional só se deve ter
por possível e, porventura, obrigatória se a violação da norma europeia pela norma
nacional se apresentar objetivamente certa, indiscutível, manifesta ou patente.
Como corolário do princípio do primado do DUE, os atos administrativos nacionais
praticados ou os regulamentos editados em conformidade com leis nacionais contrárias a
normas europeias são inválidos, por força da desaplicação pelo tribunal das leis em que
eles se fundamentam – invalidade indireta.
35.4 – Europeização da AP nacional
Num plano diferente dos 3 anteriores, mas igualmente no âmbito das relações entre o
DUE e a AP nacional, vem-se verificando um fenómeno de europeização da AP nacional,
conceito que traduz o facto de os organismos da AP nacional se verem com frequência
convertidos em elementos ou peças de um sistema administrativo europeu.
A execução do DUE processa-se, em larga medida, por via da função do desenvolvimento
de tarefas administrativas.
Nos primeiros tempos adotou-se um sistema de execução indireta: a realização prática
das normas do direito (então) comunitário cabia às AP dos estados-membros. O direito
comunitário, aplicável em todos os estados-membros, era, pois, executado através de
medidas e atos com eficácia nacional.
A esse sistema de execução indireta contrapõe-se o sistema de execução direta: neste
caso, a execução, efetivação ou realização prática do DUE cabe, diretamente, às
instituições, órgãos, organismos da União praticam atos de administração no contexto de
relações que se processam diretamente com particulares.
Nas suas versões mais extremadas, os dois sistemas de execução convivem com uma
lógica de separação entre Administrações nacionais e Administração europeia: o sistema
de execução indireta apresenta-se como um sistema de execução descentralizado, de
caráter nacional, que pode dispensar a interação com a Administração europeia; o sistema
39
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
de execução direta surge, por sua vez, como um sistema de execução centralizado,
europeu, que pode dispensar as administrações nacionais.
Esta esquematização dualista não corresponde, porém, à realidade atual ou, pelo menos,
não cobre todas as formas ou modelos de execução do DUE. Com efeito, na atualidade,
as AP nacionais operam, em muitos casos, em função europeia, no desempenho de
missões administrativas comuns e funcionalmente integradas numa espécie de
administração comum da UE.
No novo quadro, ainda que se possa manter uma contraposição entre execução direta (de
origem europeia) e execução indireta (de origem nacional), o certo é que, em larga
medida, a distinção deixou de se associar a uma separação terminante de funções entre
AP europeia e AP nacionais.
A função administrativa comum – função administrativa europeia – está, na génese de
uma União Administrativa Europeia, estabelecida mediante um processo de integração e
de instituição de um espaço de condomínio entre administrações nacionais e órgãos da
Administração Europeia. Trata-se de uma função administrativa desenvolvida, em regra,
num sistema compósito, que funciona numa lógica de continuidade, de rede, de
colaboração, de cooperação, de gestão partilhada. Assim, em vez do modelo inicial de
separação, temos um fenómeno de coadministração, de interação concertada ou de
condomínio entre AP europeia e administrações dos estados-membros, em cujo âmbito,
insiste-se as administrações nacionais atuam ‘em função europeia’.
Estamos agora em posição de perceber que a implementação administrativa do DUE
promove um fenómeno de europeização das AP nacionais. Na verdade, na medida em
que participam na função administrativa comum, as AP nacionais tornam-se também
elementos ou peças da AP europeia ou, pelo menos, polos de execução partilhada do
DUE.
Este processo de europeização, que se precipita num plano organizativo, efetiva-se, na
prática, através de formas variadas de integração funcional e de integração institucional
de competentes das AP nacionais na AP europeia.
a) Integração funcional (através de procedimentos administrativas)
O modelo de integração funcional desenvolve-se essencialmente através do modelo
de estruturação de procedimentos administrativos.
Os procedimentos administrativos com relevância europeia podem dividir-se em 5
grupos fundamentais: procedimentos europeus em sentido escrito (decisão
centralizada em órgãos da União); procedimentos compostos ou conjuntos (com
intervenção simultânea de instituições da União e dos Estados); procedimentos
nacionais com efeitos trasnacionais; procedimentos administrativos nacionais
associados a sistemas de reconhecimento expresso; procedimentos nacionais
modelados e conformados pelo DUE.
No presente instante, como fundamento da integração funcional, interessam-nos os
procedimentos indicados em segundo, terceiro e quarto lugares.
40
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
- PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS COMPOSTOS OU CONJUNTOS
Neste contexto, assinala-se o facto de em muitos casos as AP nacionais participarem
nos procedimentos de execução direta (nos procedimentos administrativos europeus).
Também há casos em que os procedimentos nacionais contemplam um momento de
intervenção europeia: constitui de algum modo o caso inverso do anterior e que são
concebidos com o intuito de garantir uma aplicação uniforme de normas com origem
no DUE, incluem a intervenção de uma instância europeia.
Existem ainda casos de procedimentos com faseamento variável, que podem ter o
início e conclusão a nível nacional ou, inversamente, ter início ao nível nacional e a
conclusão ao nível europeu.
Estes procedimentos compostos ou conjuntos constituem o exemplo de uma
‘governação composta’ ou ‘partilhada’ entre autoridades nacionais e europeias.
- PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOSCOM EFEITOS TRANSNACIONAIS
Além dos procedimentos compostos ou conjuntos, sugerem também os
procedimentos em que uma administração nacional, de forma isolada e num
procedimento que se desenrola apenas num plano nacional e que se conclui com um
ato nacional, desenvolve uma ação à qual o DUE atribui uma eficácia jurídica
transnacional (em todo o território da UE).
Esta eficácia transnacional de atos e medidas de autoridades nacionais denota que, ao
praticarem tais atos e tomarem aquelas medidas, as autoridades nacionais surgem
como centros de decisão de uma rede desconcentrada da AP europeia.
Surge aqui a figura do ato administrativo transnacional: trata-se da decisão de uma
autoridade nacional (da AP de um Estado) mas que produz efeitos fora do território
nacional. Distingue-se do ato administrativo supranacional que constitui uma decisão
de uma autoridade supranacional, por exemplo um ato administrativo da UE.
O ato administrativo transnacional associa-se, com alguma frequência, ao
reconhecimento mútuo. Importa, contudo, não os confundir. O ato administrativo
transnacional é automaticamente eficaz, nos mesmos termos, na ordem jurídica
interna de todos os Estados-Membros da UE. Associado ao ato administrativo
transnacional, existe um reconhecimento mútuo perfeito ou automático, que se traduz
em o mesmo produzir ipso iure efeitos jurídicos não apenas no Estado de origem, mas
também em qualquer outro estado-membro.
- PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NACIONAIS ASSOCIADOS A
SISTEMAS DE RECONHECIMENTO EXPRESSO
Agora, o ato administrativo não produz direta e imediatamente efeitos jurídicos fora
do território nacional, mas o mesmo deve ser expressamente reconhecido pelas
autoridades dos Estados-Membros à qual o pedido de reconhecimento for dirigido.
Existe, neste caso, um sistema de decisões consecutivas, a primeira, do Estado de
origem e, a segunda, do Estado de destino. Esta segunda é uma decisão de
reconhecimento, em que a autoridade requerida reconhece os efeitos do ato
administrativo do Estado de origem.
41
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
b) Integração institucional
Corresponde a um fenómeno de incorporação ou de quase incorporação de uma
instância administrativa nacional na AP europeia.
Nuns casos, estamos diante de uma integração institucional vertical, baseada na
instituição de uma cadeia de supra e infraordenação entre instâncias europeias e
organismos nacionais.
A integração institucional pode conduzir a uma espécie de «desnacionalização» da
autoridade administrativa nacional, a qual, em termos práticos, pode acabar por se ver
integrada em formas de organização da UE.
Com uma outra configuração, surge-nos a integração institucional horizontal, que se
materializa através da criação de agências ou de organismos europeus compostos por
autoridades nacionais.
41 – Constituição e Direito Administrativo
É na CRP de 1976 que o DA português encontra uma grande parte dos seus fundamentos
e dos seus valores. Na Lei Fundamental repousam os princípios jurídicos que enformam
diretamente o DA e que moldam as leis em que o mesmo se corporiza.
A referência à dicotomia Constituição e DA subentende este como um direito de fonte
infraconstitucional. Na verdade, a compreensão da CRP como um fator de influenciação
do DA coloca aquela fora do universo do DA. E assim é, naturalmente. As normas da
constituição pertencem ao direito constitucional e, muitas delas, influenciam e, mais do
que isso, determinam externamente o conteúdo das normas de DA, bem como de outros
setores do ordenamento jurídico. Trata-se fundamentalmente de normas destinadas ao
legislador, que é, em regra, o ator responsável pela dinamização e pela concretização das
opções constitucionais. Todavia, há na CRP normas que se dirigem diretamente à AP,
quer marginalmente para autorizar a sua ação, quer, em maior número, para a limitar ou
condicionar. Neste âmbito podemos falar em um Direito Constitucional Administrativo
para indicar o elenco de normas de direito constitucional sobre questões jurídico-
administrativas.
No quadro das relações entre a CRP e o DA, importa assinalar as normas constitucionais
especificamente relacionadas com a AP, independentemente de se lhe dirigirem
diretamente ou não. De modo a abrange-las todas, as que se dirigem diretamente, bem
como aquelas que, não se lhe dirigindo, se referem à Administração ou, de qualquer
modo, a atingem, utilizamos os conceitos de ‘Constituição da AP’ ou ‘Constituição
Administrativa’.
41.1 – Constituição da Administração Pública
A Constituição assume opções decisivas e fundantes quanto à definição das missões e à
estrutura da AP, num processo que se pode designar «constitucionalização da AP», bem
como quanto à consagração de direitos fundamentais dos cidadãos administrados; num
42
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
plano diferente, a Constituição contém normas que definem parâmetros e de critérios de
regulação da ação administrativa. É na Constituição que se estabelecem os fundamentos
jurídicos da subordinação da AP à lei, aos tribunais e ao poder político democrático.
41.1.2 – Definição de missões da AP
A prossecução do interesse público constitui, mais do que a finalidade, a razão de ser da
AP. A constituição assinala, enfaticamente essa vinculação necessária da Administração
ao interesse público. Mas a Lei Fundamental não se limita a referenciar o interesse público
como o fim da AP e a remeter para o legislador a incumbência de o concretizar e
especificar. Com efeito, logo na Constituição vamos encontrar pasmados os fundamentos
iniciais e as responsabilidades de ação do Estado e definidas algumas das missões
principais do Estado Administrativo (isto é, das missões públicas cujo desempenho vai
ser da responsabilidade da AP).
Em geral, as normas constitucionais referidas acolhem sobretudo diretrizes para o
legislador, suscitando assim a intervenção do DA.
41.1.3 – Definição da Estrutura da AP
A Constituição consagra os princípios fundamentais em matéria de organização da AP:
entre outros, é isto que ocorre com os princípios da desconcentração e da
descentralização, da aproximação dos serviços às populações, da admissibilidade de
entidades administrativas independentes, da autonomia das autarquias locais, da
centralidade do Governo no sistema administrativo.
Ou seja, a Constituição acolhe as opções primárias, iniciais e essenciais sobre a
arquitetura e o modo de organização do sistema administrativo.
41.1.6 – Consagração do estatuto do cidadão administrado
É no texto constitucional que se delineiam as bases essenciais de um verdadeiro estatuto
do cidadão administrado (cidadão em relação com a AP), ou da cidadania administrativa;
em especial, nela se consagram 2 categorias de direitos fundamentais dos cidadãos: os
direitos perante a Administração e os direitos de proteção contra a Administração. Além
disso, a Constituição estabelece que a Administração tem um dever geral de respeito dos
direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos: a prossecução do interesse
público não pode fazer-se de qualquer modo, não pode, designadamente, fazer-se sem a
devida ponderação dos direitos dos cidadãos, quando estejam em pauta ações que colidam
com tais direitos.
a) Direitos perante a Administração
Aqui, temos, em primeiro lugar, os direitos a prestações, ao fornecimento de bens e
de serviços no contexto do Estado Social, como o direito à saúde, educação, segurança
social.
43
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Trata-se de direitos concretizados pelo legislador, mas que se reconduzem a posições
jurídicas subjetivas radicadas na Constituição e cuja realização se faz através do
Estado Administrativo; este é, na verdade, uma peça insubstituível no processo de
realização efetiva do Estado Social e dos direitos sociais dos cidadãos: tem
intervenção decisiva quer na produção direta de serviços e utilidades a que os cidadãos
têm direito, quer na garantia de que esses serviços e utilidades são produzidos em
condições acessíveis e universais.
Num plano mais especificamente jurídico, a Constituição consagra os seguintes
direitos e garantias dos cidadãos perante a AP:
- Direito à informação procedimental
- Direito de acesso aos documentos administrativos
- Direito à notificação dos atos administrativos
- Garantia da fundamentação de atos administrativos
- Garantia de participação na formação de decisões
- Direito de defesa e audiência em processos sancionatórios
- Direito de petição
A legislação ordinária regulamenta e define o sentido de cada um destes direitos.
b) Direitos e garantias de proteção contra ações ou omissões da AP
Além de lhes atribuir direitos subjetivos em face da AP, a Constituição consagra
direitos e garantias de proteção dos cidadãos administrados contra ou em face da AP,
seja das suas ações ou das suas omissões. Surgem assim os seguintes direitos:
- Direito de acesso à justiça e à tutela jurisdicional efetiva contra todos os atos da
Administração e todas as formas de ação ou omissão administrativa que comportem
lesão de direitos
- Garantia constitucional de responsabilização civil da AP por ações ou omissões
praticadas no exercício das suas funções de que resulte a violação de direitos,
liberdades e garantias ou prejuízos
- Direito de resistência a ordens da Administração que ofendam direitos, liberdades e
garantias
- Direito de queixa ao Provedor de Justiça
41.2 – Vinculação da Administração à Constituição
41.2.1 – Proibição de vinculação da Constituição
O princípio da constitucionalidade tem, em primeiro lugar um sentido negativo, a
Administração não pode violar a Constituição.
44
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Assim, os órgãos da Administração com competências de fiscalização das atividades
económicas não podem pretender impor a entrada de trabalhadores com funções de
fiscalização no domicílio dos cidadãos e contra a vontade deste. Do mesmo modo, o
Governo não pode, no exercício de poderes de tutela, recusar a autorização solicitada por
uma autarquia local pelo facto de ‘não considerar oportuna’ a prática do ato autorizado.
Em hipóteses como essas, a norma constitucional impõe-se direta e imediatamente à
Administração, e esta tem de atuar em conformidade com a Constituição. Mas a
eventualidade de uma violação da Constituição pela Administração não resulta só da
infração do disposto em normas que lhe sejam especialmente dirigidas.
Os atos da administração obedecem, pois, a uma exigência de conformidade com a
Constituição; ou seja, de constitucionalidade. O desrespeito da Constituição, por violação
direta e autónoma de normas constitucionais, provoca a invalidade dos regulamentos, atos
ou contratos administrativos.
41.2.3 – Desaplicação de leis inconstitucionais
Em regra, o parâmetro que a Administração deve seguir nas suas decisões é a lei: se uma
lei estabelece que um órgão da Administração pode fazer A, com recurso aos meios B ou
C; o condicionamento da ação administrativa está definido nesses termos, por essa lei.
Neste caso, se o órgão em causa produzir o resultado A com recurso ao meio B, a sua
atuação apresenta-se irrepreensível e a questão da subordinação à Constituição não se
coloca. É, em geral, assim que as coisas se passam na vida administrativa. O parâmetro
de vinculação é a lei e é em face deste que se qualifica a ação administrativa como válida
ou inválida.
Mas vamos admitir que se suscitam dúvidas sobre a conformidade constitucional da lei,
porque, suponha-se, a produção do resultado A ou a utilização do meio B afrontam o
disposto em preceitos constitucionais.
Agora, a autoridade administrativa competente vê-se colocada perante um dilema entre a
exigência de cumprir a lei (princípio da legalidade) e o imperativo e respeitar a
Constituição (princípio da constitucionalidade).
A questão coloca-se em saber se a Administração pode ou até deve desaplicar uma lei
inconstitucional. Trata-se de uma questão complexa, para a qual não existe uma resposta
uniforme.
Em rigor, o que está aqui em causa é saber se pode admitir-se um juízo administrativo no
sentido da inconstitucionalidade de uma lei, para, desse modo, legitimar a respetiva não
aplicação. Com implicações diretas neste problema, alguma doutrina sustenta que a
Administração detém uma competência de exame ou de fiscalização sobre a validade e
eficácia das normas jurídicas que lhes são dirigidas e que deve aplicar. Observa-se que o
facto de a Administração estar obrigada a respeitar a lei não exclui liminarmente que
possa também fiscalizar a lei. Num plano teórico, podemos concordar com este ponto de
vista. Do mesmo modo que devem certificar-se de serem competentes para decidir um
certo assunto os órgãos da administração também deverão certificar-se de que a lei que
vão mobilizar é a lei certa para aquele caso e que a lei está em vigor (não foi revogada).
45
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
No nosso juízo, não existe, em se afigura aceitável em geral, um poder administrativo de
desaplicação ou de rejeição de leis inconstitucionais. Nos termos da Constituição a
fiscalização da constitucionalidade das normas é uma competência dos tribunais, não da
Administração.
Em regra, o elemento fundamental e central da vinculação da Administração é a lei, o ato
legislativo. A tese da admissibilidade generalizada da competência administrativa para
julgar as leis, as quais têm precisamente o propósito de vincular a AP, constituiria, em
rigor, uma inversão da ordenação dos poderes, que, em termos práticos, atribuiria a um
poder subordinado uma posição de supremacia, e conduziria a considerar próprio da AP
um poder que a Constituição confia apenas aos tribunais. Ou seja, por todos os ângulos,
teríamos uma subversão do sistema de separação e de interdependência dos poderes.
Isto conduz-nos à conclusão já antecipada: a Administração está obrigada a cumprir e a
respeitar as leis que regulam a sua ação e, em regra, está proibida de proceder à
desaplicação destas com fundamento no seu juízo de inconstitucionalidade.
Esta regra referida como conclusão, contempla 2 exceções:
- Parece de admitir que, em caso de subsistência de uma dúvida consistente e
juridicamente fundada sobre a constitucionalidade de uma norma legal, cuja aplicação
envolva um ataque a direitos fundamentais e a dúvida da constitucionalidade tenha
precisamente a ver com a possibilidade constitucional desse ataque ou com os termos
rígidos ou definitivos em que o mesmo se encontra disciplinado, a Administração pode
proceder à desaplicação da norma legal
- Parece que haverá um dever de desaplicação de leis nos casos em que estas violem a
Constituição de uma forma objetivamente certa, indiscutível, manifesta ou patente.
42 – Princípios de Direto Administrativo
a) Os princípios como normas jurídicas
No sentido que aqui vamos considerar, os princípios são normas jurídicas. Trata-se
de ‘princípios normativos’, conceito utilizado com o propósito de indicar a função
normativa dos princípios jurídicos enquanto unidades de dever ser, pretensão que
comungam com as demais formas jurídicas.
Referimo-nos, em primeiro lugar, aos princípios de DA enquanto normas jurídicas
que têm a função de orientar as condutas da Administração. Não se trata de cânones
pré-normativos, com a função de consagrar valores ou ideais que, depois as normas
jurídicas acolhem e densificam, mas da direta definição de padrões ou critérios de
conduta da ação administrativa.
Pode aceitar-se que os princípios de DA não sejam justiciáveis e não correspondam a
padrões ou ‘normas de controlo’ para os tribunais: ausência de justiciabilidade, pelo
facto de a inobservância do que neles se prescreve não poder ser sancionada por um
tribunal. Mas claro, para que se trate de normas jurídicas, já não se pode prescindir da
46
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
juridicidade, de modo que o desrespeito ou a inobservância do que prescrevem deverá
ter consequências no plano do direito.
Um preceito sem juridicidade (que se limita a sugerir uma conduta), não é um
princípio normativo, mas, talvez, uma regra de boa administração, um valor que
assinala linhas programáticas , define metas ou resultados desejáveis, ou que se limita
a estimular ou sugerir a adoção de certas condutas. Se um princípio com esta feição
surgir positivado ou relevado por um preceito legal, deveremos então considerá-lo um
falso princípio jurídico.
Por outro lado, os princípios jurídicos só adquirem um lugar próprio enquanto fonte
de normatividade jurídico-administrativa na medida em que não se limitem a replicar
o que já consta de outras normas jurídicas ou a lembrar que outras normas existem.
Os preceitos legais que positivam ‘princípios que repetem o que outras normas
jurídicas estabelecem ou que remetem para outras normas, são inúteis ou, também
estes, não são mais do que falsos princípios.
O valor jurídico dos princípios reside na sua função normativa, ou de regulação de
condutas, que pode ser autónoma e primária, mas também de integração normativa,
como critério de preenchimento de lacunas. Por outro lado, podem ainda desempenhar
uma função de interpretação, servindo como critérios de interpretação de outras
normas jurídicas administrativas.
b) Princípios e vinculação da Administração ao direito
A conceção de uma Administração sujeita a princípios jurídicos associa-se a uma
ideia de evolução ou expansão da vinculação jurídica do poder administrativo, que
deu origem a um novo paradigma da relação entre Administração e o Direito: do
original princípio da legalidade evolui-se para o princípio da juridicidade. Note-se,
porém, que não se está perante um processo de substituição da legalidade pela
juridicidade, nem de substituição de uma vinculação da Administração por regras por
uma vinculação por princípios. Própria do DA do nosso tempo é a exigência de
sujeição da Administração à lei e ao direito. Neste sentido, mantém-se a exigência de
sujeição da Administração à lei, à qual acresce a sua sujeição a outras diretrizes de
atuação jurídica, de sujeição ao direito – «dupla vinculação».
Considerando apenas o plano das vinculações jurídicas, a Administração está
constrangida a respeitar regras jurídicas e um conjunto aberto e evolutivo de
princípios jurídicos que vão sendo elaborados e apurados com o propósito de dirigir,
orientar e condicionar a ação da Administração, bem como, em regra, de oferecer aos
tribunais um padrão ou parâmetro de controlo das opções administrativas.
42.1 – Princípios jurídicos e regras jurídicas
Princípios jurídicos são normas jurídicas, normas que incluem uma prescrição jurídica
nova, que não consta de outras normas, ou que expandem o âmbito normativo de uma
norma existente.
47
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Trata-se de normas jurídicas que, dentro dessa categoria, se contrapõem às regras, pois
conhecem uma intencionalidade normativa mais branda, menos determinista. De facto,
ao contrário das normas jurídicas com estrutura de regra, os princípios definem normas
que atuam num plano de maior abstração e de maior distância em relação a uma situação
definida da vida, não tendo a pretensão de oferecer um único resultado certo, mas antes
definir um critério, um guia de orientação a seguir na adoção de medidas administrativas
e, em geral, no exercício do poder administrativo; os princípios não prescrevem a
produção de um efeito determinado, exigem antes que um determinado objetivo ou
resultado se realize na maior medida possível, segundo as possibilidades fáticas e
jurídicas – «imperativos de otimização».
Precisamente por causa da sua mais fraca intencionalidade normativa, a observância de
um princípio, ao não exigir uma resposta única, convive com várias situações, várias
possibilidades, vários resultados. Por causa desta flexibilidade ou plasticidade, quando
estão em jogo princípios em tensão ou conflito são possíveis, muitas vezes, vias de
harmonização e de concordância prática, que assegurem a realização simultânea dos
interesses protegidos nos 2 casos, sem prejuízo de, no caso concreto e tendo em conta a
sua configuração particular, o aplicador ter o dever de identificar o princípio
preponderante.
Note-se, porém, que, em certos casos, os princípios jurídicos podem apresentar uma
intencionalidade normativa mais forte, que, neste plano, os aproxima das regras jurídicas.
Eis o que ocorre com ‘princípios com a estrutura de regras’, que, como as regras, adotam
uma formulação determinada e fechada.
Também pode acontecer que um princípio jurídico se encontre, em parte, positivado e
concretizado em regras, mas conserve, fora dessa positivação, uma capacidade normativa
própria, que pode ver-se mobilizada no quadro da função de integração normativa: eis o
que pode suceder com o princípio do aproveitamento dos atos jurídicos ilegais da
Administração, mas que poderá ter aplicação fora dessas situações, em relação a outros
atos jurídicos da Administração.
No plano das relações entre princípios e regras, recorde-se a função de interpretação dos
princípios, contexto em que se alude a um cânone de interpretação das regras conforme
os princípios, designadamente para fazer prevalecer a interpretação das regras que se
apresente mais harmoniosa com os princípios. Por outro lado, embora se trate de uma
situação excecional, não é de excluir a eventualidade de um princípio afastar o
cumprimento de uma regra.
42.2 – Fonte da normatividade dos princípios de DA
As normas de DA encontram-se, em regra, consagradas em textos ou documentos
escritos: CRP, convenções internacionais, leis, regulamentos. Em todos esses casos, a
fonte ou a autoria das normas é clara: legislador constituinte, estados contratantes,
legislador ordinário ou, no caso dos regulamentos, sujeito da Administração.
Cabe agora saber quem é o autor, qual a fonte dos princípios jurídicos de DA.
48
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Quando escritos num documento com força de lei, a questão da vigência dos princípios
não suscita dificuldades. Independentemente do que existia no tempo anterior à
positivação legal, a vigência jurídica do princípio torna-se certa e indiscutível com a sua
legalização.
Ainda no caso dos princípios escritos, cumpre distinguir entre situações em que a lei se
limita a referenciar um ou uma série de princípios e aquelas em que a lei procede à
configuração ou explicitação dos princípios. No primeiro caso, a existir, a normatividade
do princípio será, terá de ser, desvendada ou revelada pela jurisprudência e pela doutrina.
No segundo caso, uma parte deste trabalho de revelação é realizado, ou pelo menos
começado, pela lei, vindo, muitas vezes a ser complementado pelos tribunais e pela
doutrina.
Quanto aos princípios não escritos, não expressamente positivados, a questão é um pouco
mais complexa, e começa logo com o caráter incerto da subsistência do princípio (pense-
se em princípios como o da boa administração, da racionalidade, ou da promoção da
concorrência).
Como critério geral, parece dever-se assentar a ideia de que um princípio jurídico (não
escrito num documento com força de lei) só se pode considerar vigente no ordenamento
jurídico administrativo na medida em que se possa extrair ou deduzir como concretização
ou especificação de outros princípios jurídicos gerais vigentes ou de valores fundamentais
da ordem jurídica de um estado de direito.
42.3 – Tipos de princípios (segundo o critério da área de incidência)
Os princípios jurídicos que contém normas de DA operam em 3 grandes áreas ou setores:
- Organização Administrativa
- Procedimento Administrativo
- Atividade Administrativa
Em conformidade, procede-se à distinção entre princípios de organização da AP;
princípios do procedimento administrativo e princípios da atividade administrativa.
Esta proposta de distinção não assinala apenas uma diferente geografia da respetiva
incidência. Na verdade, os grupos também se distinguem pelo escopo normativo de cada
princípio consagrado.
Princípios de organização da AP: são normas de organização, com a função de
estruturação do sistema administrativo e de disciplina do relacionamento entre os
componentes desse sistema; em alguns casos, estes princípios não se dirigem à
Administração, mas ao legislador administrativo.
Princípios do procedimento administrativo: são normas de procedimento que têm a
pretensão de enquadrar e orientar as condutas da Administração desenvolvimento e na
transmitação dos procedimentos administrativos
49
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Princípios da atividade administrativa: são todos os que visam regular, orientar e
condicionar juridicamente as condutas da Administração que se materializam na
realização de escolhas dos efeitos jurídicos a produzir. Trata-se de princípios que
intervêm (como critérios de orientação ou limites) no momento da escolha dos conteúdos
das normas, dos contratos ou das decisões da Administração.
Esta distinção não pretende sugerir a definição de territórios separados de uma forma
estanque. Na verdade, há princípios cujo âmbito normativo tem incidências simultâneas
mais do que um plano. A multi-incidência dos princípios jurídicos evidencia as
particularidades da respetiva normatividade: o facto de esta não estar dirigida para uma
situação específica ou definida permite a aplicação dos princípios em diferentes espaços,
também nisto se traduz a plasticidade ou a elasticidade dos princípios jurídicos.
43 – Legislação (atos legislativos)
Apesar da força normativa dos princípios jurídicos gerais e do sentido da evolução de
uma vinculação da Administração à lei para uma vinculação à lei e ao direito, o princípio
da legalidade conserva uma posição central no nosso sistema administrativo. Desde as
origens e, em grande medida, ainda hoje, a legalidade administrativa corresponde a uma
exigência de atuação da AP com fundamento e dentro dos limites de leis, ou seja, de atos
legislativos, leis, decretos-leis e decretos legislativos regionais.
É certo que a Administração não está apenas subordinada às leis: seja em nível superior
(normas de DUE), seja em nível inferior à lei (regulamentos administrativos), existem
outros padrões e outros parâmetros de vinculação, de condicionamento e até de
legitimação da ação da AP.
Apesar do fenómeno da efetiva plurilocalização das normas jurídico-administrativas,
mantém-se muito clara uma esmagadora preponderância das leis como fonte do DA:
continua a constar de leis a maior parte das normas de organização do sistema
administrativo, ou das que autorizam ou legitimam a ação administrativa ou das que
limitam ou condicionam essa mesma ação.
Mesmo considerando apenas a lei, o DA é marcado por uma grande dispersão normativa:
para se perceber o fundamento dessa dispersão, basta ter presente que cada decisão da AP
exige uma norma que estabeleça, em concreto, o poder a adotar.
Ora, sem desvalorizar a óbvia importância de cada específica norma de DA, tem de se
reconhecer uma relevância particular a algumas leis fundamentais, que regulam, de uma
forma global e a partir de uma abordagem transversal, todo o sistema administrativo ou,
pelo menos, partes significativas do mesmo.
Trata-se das leis que têm a função de definir:
- O modelo geral de organização da AP ou de setores significativos da mesma
- Uma regulação geral e transversal, de aplicação a toda a ação administrativa ou a grupos
significativos de ações administrativas
- A regulação da responsabilidade civil da Administração
50
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
- O regime jurídico do emprego na AP
- As garantias dos cidadãos em face da AP
Designamos essas, as leis fundamentais do DA português.
a) Organização da Administração Pública
Em concretização dos princípios constitucionais, há um conjunto importante de leis
que definem o modo de organização da AP.
- Estado (administração estadual direta e indireta):
. lei orgânica do Governo e leis orgânicas dos vários ministérios
. regime jurídico da Administração direta dos Estados
. Lei-Quadro dos Institutos Públicos
. Lei-Quadro das Fundações
. regime jurídico das Instituições de ensino superior
. Lei-Quadro das entidades reguladoras
. regime jurídico do Setor público empresarial
- Autarquias locais:
. regime jurídico das autarquias locais
. regime jurídico da tutela Administrativa do Estado sobre as autarquias locais
. regime jurídico da Atividade empresarial local
- Regiões autónomas:
. estatuto político-administrativo da Região Autónoma dos Açores
. estatuto político-administrativo da Região Autónoma da Madeira
- Associações públicas
. regime jurídico das Associações públicas profissionais
b) Atuação da Administração Pública
Leis fundamentais a assinalar:
- Código do Procedimento Administrativo
. pela sua abrangência, o CPA destaca-se como uma lei de referência do DA
português. A sua importância para a construção do DA é ímpar.
51
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
- Código dos contratos públicos
. o CCP é a lei dos procedimentos aplicáveis às compras públicas, mas também
contempla o regime jurídico-substantivo da figura do contrato administrativo.
c) Responsabilidade Civil pública (da AP)
Impõe-se ainda uma referência ao Regime da Responsabilidade Civil do Estado e
demais Entidades Públicas (RRCEEEP) cujo capítulo II disciplina precisamente a
responsabilidade civil por danos decorrentes da função administrativa. Embora
também haja fora desse capítulo um ou outro ponto importante neste âmbito.
d) Emprego na AP
Ao DA pertence igualmente a regulamentação dos vários aspetos da relação de
emprego com a Administração Pública: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.
e) Garantias dos cidadãos perante a AP
Por fim temos as leis que preveem e regulam instrumentos de garantia dos cidadãos
perante a AP (não esquecendo as normas com esta função inseridas em leis já
referidas).
Leis fundamentais marcadas pelo propósito fundamental da proteção dos cidadãos
administrados:
- Lei de participação procedimental e de ação popular
- Lei de acesso à informação administrativa e ambiental
- Estatuto do provedor de justiça, que regula o direito de queixa ao Provedor de Justiça
- Lei sobre o exercício do direito de petição
-Leis da justiça administrativa: trata-se, neste caso, de normas de Direito Processual
Administrativo, com o fim de disciplinar a organização e o funcionamento dos
tribunais que têm a incumbência de resolver litígios jurídico-administrativos:
tribunais administrativos, porém, esta qualificação não desvaloriza o caráter
fundamental e decisivo de tais normas no capítulo da proteção jurídica dos cidadãos
em face da AP; o Direito Processual Administrativo completa, garante e confere
efetividade ao DA.
52
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
44 – Regulamentos administrativos, normas internas e outros atos da
Administração
O DA enquanto conjunto de normas jurídicas que se destinam à AP, inclui ainda os
regulamentos administrativos. Trata-se de normas que apresentam a dupla característica
de se dirigirem à Administração e de serem editadas pela própria AP. Os regulamentos
constituem um modo ou uma forma de ação administrativa.
Além dos regulamentos administrativos, que são normas jurídicas e verdadeiras fontes de
DA, e das regulações administrativas de soft law, devemos considerar as normas de
direito interno da Administração, como as circulares, as instruções, as diretivas, as
guidelines e outros atos de orientação emitidos por órgãos superiores ou com poderes de
orientação da atuação de outros órgãos ou de agentes da Administração.
Embora não produzam efeitos jurídicos fora da esfera interna da Administração, não se
rejeita a eventualidade de os interessados invocarem as normas internas nos processos de
impugnação de decisões que os afetem, proferidas ao abrigo dessas normas. Num outro
plano, e uma vez que já impôs a publicação das referidas normas, não será surpreendente
que a lei venha a conferir-lhes alguma juridicidade externa, com o direito dos interessados
à oponibilidade dos efeitos das instruções e circulares perante a AP.
Se por fonte de direito se entende um ato que estabelece um ‘dever-ser’, determina a
adoção de uma conduta ou os termos em que uma conduta deve efetivar-se, então
poderemos aceitar que os contratos administrativos podem ser uma fonte de DA quando,
por ex.: determinam os termos em que a Administração virá ou poderá vir, no futuro a
proferir uma decisão administrativa. Outro tanto se pode dizer da figura do ato
administrativo, que corresponde a uma fonte de juridicidade e de estabilização jurídica
dotada de força para limitar ou condicionar decisões posteriores e, segundo alguma
doutrina, até o próprio legislador. Contudo, trata-se, nestes casos, de uma juridicidade
ligada ao caso e aos sujeitos envolvidos, sendo certo que os efeitos jurídicos que atingem
esses sujeitos decorrem de se tratar de ‘atos jurídicos’ que produzem efeitos para os
respetivos autores, para os destinatários e, porventura, para terceiros. Trata-se, neste
sentido, de fontes de direito sem caráter normativo.
45 – Regulações administrativas de soft law
Com uma intensidade que tem crescido nos últimos tempos, sobretudo em associação
com o Estado Regulador, a Administração produz e publicita linhas de orientação,
recomendações, advertências, instruções, orientações técnicas ou diretrizes que, mesmo
sem força vinculativa própria das normas jurídicas (uma vez que não proíbem nem
impõem) têm, não obstante, a intenção de condicionar e de influenciar as escolhas dos
particulares, induzindo-os a adotarem certos comportamentos ou exortando-os sobre a
conveniência de não adotarem outros, por envolverem perigos ou riscos.
Em geral, trata-se de mecanismos de regulação flexível, branda, soft, que pretendem
promover uma vinculação fática, por vezes atuando até a um nível psicológico. Pode
também ter uma pretensão pedagógica, de explicação sobre a forma correta de interpretar
uma lei ou um regime jurídico, ou de divulgação das boas práticas sobre um determinado
53
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
processo ou conduta. Podem ainda anunciar o modus operandi de uma autoridade
administrativa na execução de uma certa.
Esses instrumentos são, em geral, reconduzidos ao conceito de soft law, que referencia
um direito não vinculativo, quer dizer, um ordenamento em que está ausente a dimensão
da coercibilidade.
A doutrina tem chamado a atenção para a relevância deste ‘soft law administrativo’,
questionando-se sobre o seu lugar nas fontes do DA e anunciando que se trata de uma
fonte atípica. Por vezes, estes instrumentos são utilizados pela Administração com uma
intenção de fuga do regulamento, por se supor que o facto de não produzirem efeitos
jurídicos vinculativos justifica a dispensa de um fundamento legal para a respetiva
emissão. Mas, em Portugal, não é assim, pelo menos desde 2015, já que se exige o respeito
pelo princípio da precedência de lei também neste caso; embora não tenham natureza
regulamentar, carecem de lei habilitante quaisquer comunicações dos órgãos da AP que
enunciem de modo orientador padrões de conduta na vida em sociedade com, entre outras,
as denominações de ‘diretiva’, ‘recomendação’, ‘instruções’, ‘código de conduta’ ou
‘manual de boas práticas’.
Apesar de se tratar de ‘nonbinding regulations’ e de ‘soft law’, estes mecanismos quase-
normativos não se apresentam juridicamente irrelevantes. Assim, por ex., quando
antecipam e anunciam o modo como a AP se propõe atuar, criam um efeito de
autovinculação e, em princípio, tem o efeito de proibição de venire contra factum
proprium. Na mesma linha, quando fornecem sugestões de boas práticas aos
administrados também têm o efeito de retirar à Administração o poder de reprimir as
atuações destes em conformidade com as sugestões que lhes foram dadas. Por outro lado,
deve ter-se presente que, em determinados setores, estes instrumentos de regulação
acabam por se verem reconhecidos pelos tribunais que os consideram ou ponderam nas
suas próprias decisões.
Pode assim dizer-se que a ação dos participantes em relação com a AP também se vê
condicionada por um DA soft, que não tem o efeito de condicionamento jurídico
vinculativo ou coercivo, mas, ainda assim, tem a ambição de influenciar as condutas dos
particulares.
53 – Democracia administrativa
O Estado Administrativo português, delineado pela CRP, tem de observar as exigências
postuladas pela regra segundo a qual a República Portuguesa é um Estado de direito
democrático. Além de dever atuar em função dos direitos dos cidadãos e de dever cumprir
exigências de um fundamento democrático, aberto e transparente, o Estado
Administrativo, enquanto organização, terá de ser estruturado ou modelado segundo as
exigências do princípio democrático. A democracia administrativa, que haverá de estar
presente na ação concreta da Administração, começa, contudo, pela organização do
sistema administrativo e pela adoção de soluções, esquemas e modelos organizativos
aptos a responder a exigências essenciais de legitimação democrática, de imparcialidade,
ética pública e anticorrupção, de transparência administrativa e de participação dos
cidadãos na AP.
54
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
53.1 – Legitimação democrática da Administração
O princípio do Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, condiciona
fortemente a arquitetura da organização administrativa, ao postular uma imprescindível
legitimação democrática do exercício do poder administrativo: o povo é titular e,
necessariamente, o ponto de referência da legitimação do poder
a) Legitimação democrática popular
Como todo o poder político, o poder administrativo pertence ao povo e, por
conseguinte, o seu exercício pela AP carece de legitimação; o poder político ou poder
público em geral, é um objeto carecido de legitimação. A irrenunciável exigência de
legitimação do exercício do poder administrativo pela Administração, que haverá de
pressupor, em princípio, uma efetiva capacidade popular (do povo) de influenciar a
ação administrativa, resulta, em geral, de uma combinação de componentes pessoais.
No plano pessoal, a exigência de legitimação democrática reclama que as estruturas
da organização administrativa e responsáveis pelo poder administrativo, se encontrem
confiadas e sejam dirigidas por indivíduos diretamente escolhidos pelo povo (eleição)
ou designados a qualquer título por indivíduos que detenham uma legitimação
imediata ou mediatamente derivada do povo. Decisivo revela-se que os protagonistas
e os responsáveis pelo funcionamento da AP e titulares das competências
administrativas estejam inseridos numa cadeia de legitimação que apresente o poder
que exercem como um objeto que, sem interrupção, deriva, direta ou indiretamente,
do povo e a este se reconduz. É, assim, indispensável a presença de um canal que
assegure a ligação do poder exercido pela Administração ao povo: canal de
legitimação democrática.
O sistema clássico de legitimação democrática da Administração baseia-se numa
responsabilização da mesma perante ‘todo o povo’: assim é, em regra, quanto à
Administração do Estado, diretamente dependente ou sujeita a orientação do
Governo, uma vez que este responde perante a AR.
O princípio democrático concilia-se, porém, com modelos de legitimação alternativos
àquele, assentes na legitimação de uma ‘parte do povo’: eis o que sucede no caso das
autarquias locais, cujos órgãos são ocupados por eleitos pela população abrangida
pelo território da autarquia local ou por pessoas designadas por esses eleitos.
Uma situação análoga a essa ocorre com as entidades da administração autónoma
corporativa, que têm a sua condição baseada numa legitimação democrática
autónoma: trata-se de uma legitimação não parlamentar, que se efetiva, num contexto
micro-democrático, no interior de entidades que congregam os particulares
diretamente interessados na gestão de determinados assuntos de interesse público e
que são dirigidas precisamente por estes interessados, através de órgãos
representativos.
55
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
b) Alternativas à legitimação democrática popular
Desde há algum tempo que vem sendo denunciada a insuficiência dos processos de
legitimação democrática tradicional (formal, eleitoral) e se entende que uma
Administração democrática também tem de se legitimar por outras formas. A este
respeito diz-se que a democracia deve significar algo mais do que o poder que assiste
aos povos de eleger os seus ditadores.
Neste contexto, ocupam lugar de destaque as exigências de que a ação administrativa
se desenvolva através dos devidos procedimentos, com abertura à participação efetiva
e influente dos interessados, através de decisões que se imponham pela sua
credibilidade, razoabilidade e racionalidade, que possam ser e sejam explicadas e
justificadas, e não apenas pela autoridade formal do decisor, e com uma atitude
proativa de transparência de exposição ao público.
Tem-se sustentado, aliás, que alguns dos referidos podem mesmo revelar-se modelos
de legitimação democrática alternativos às formas de legitimação popular: diz-se que
poderão compensar a falta de legitimação democrática popular. A garantia legal da
independência em face do Governo coloca algumas entidades fora do circuito
democrático clássico, uma vez que a falta de legitimação por via da dependência em
relação ao Governo, não é substituída por qualquer mecanismo de legitimação
autónoma. Por isso, nesses casos, o referencial legitimador terá de ser compensado e
de se fundar em outras bases e, em especial, em fatores como o procedimento ou a
legitimação material.
Esquemas, formas e explicações de legitimação alternativos à legitimação
democrática popular dos responsáveis e decisores públicos revelam-se indispensáveis
noutros setores da AP: por ex.: o caso dos professores responsáveis pelos exames e
avaliações dos alunos nas escolas ou universidades, …
c) Síntese
Assim, o princípio democrático reclama a legitimação democrática da Administração
e esta exige, em regra, a delineação de modelos e formas de organização das estruturas
administrativas que assegurem uma ligação efetiva entre os titulares do Poder
Administrativo e o povo. Nos casos em que exista, o défice de uma legitimação nestes
termos terá de ser compensado por adequados e exigentes modelos alternativos.
Sublinhe-se que o princípio da legitimação democrática da Administração não se
reduz a uma exigência projetada num plano pessoal, de legitimação subjetiva e formal
dos titulares do poder administrativo. Reclama-se ainda a legitimação num plano
material. Agora, o que está em causa é a instituição de soluções que permitam uma
capacidade de influência do povo sobre os conteúdos das próprias ações públicas, com
o objetivo da garantia da realização do interesse público. Neste contexto, a submissão
de toda a AP à lei e o controlo parlamentar do Governo e a dependência da
Administração do Estado perante este, bem como a instituição de deveres de prestação
de contas constituem elementos essenciais de legitimação de um sistema
administrativo democrático.
56
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
53.2 – Imparcialidade, ética pública e anticorrupção
A primeira exigência do princípio da imparcialidade reside em determinar que a
Administração prossiga o interesse público de uma forma imparcial, isenta, sem
distorções patológicas, sem favorecimentos pessoais, preferências ou discriminações em
benefício de interesses particulares, parciais ou de grupo. Nesse âmbito, o princípio
acolhe uma dimensão normativa que se projeta e tem consequências num plano jurídico-
material, nos processos de definição dos conteúdos das decisões da AP.
Mas, nessa mesma dimensão, o princípio da imparcialidade tem ainda uma incidência
específica no plano organizatório, na medida em que o cumprimento do dever jurídico
que dele decorre implica a adoção de soluções organizatórias indispensáveis à
preservação da isenção administrativa e à confiança nessa isenção.
Esta ideia de confiança na isenção administrativa remete para um imperativo de adoção
de soluções que, além de preservarem a isenção, se revelem idóneas para assegurar uma
confiança do público no funcionamento correto e isento da Administração. Com efeito, o
sistema jurídico-administrativo não pode deixar de reclamar, com exigência primária,
essencial e irrenunciável da sua moralidade, a atuação imparcial dos agentes da
Administração. Trata-se de garantir o respeito pela ética pública, pela exigência de um
comportamento integro dos agentes públicos, de serviço ao interesse público e à
coletividade.
Os instrumentos organizatórios de garantia da imparcialidade passam pela definição de
situações de inelegibilidade, de incompatibilidade e de impedimento dos titulares de
cargos e órgãos administrativos, de trabalhadores e até de prestadores de serviços à
Administração, bem como pela fixação de períodos de quarentena. Trata-se em geral, de
mecanismos idealizados para resolver situações de conflito de interesses e, em geral,
quaisquer fenómenos de potencial contaminação ou de influenciação ilegítima de
decisões da AP.
Urge a promoção de uma cultura organizacional na qual impere forte tolerância
relativamente às situações de conflito de interesse.
Igualmente relevante como mecanismo ao serviço da imparcialidade administrativa, é a
garantia da independência ou da autonomia decisória dos órgãos administrativos com
funções de controlo, inspeção e auditoria dos serviços administrativos.
Em particular, no que se refere ao combate ao fenómeno da corrução administrativa, o
princípio da imparcialidade, conjugado com o princípio da prossecução do interesse
público e com os valores da ética pública e da integridade, estão na origem do que se pode
designar por ‘princípio de anticorrupção’. Na verdade, não é concebível um DA do Estado
de direito democrático que não tenha inscrito, ainda que de uma forma implícita, a repulsa
radical e sistemática da corrupção e, em geral da criminalidade administrativa como um
princípio cardinal do sistema. Um princípio que se impõe, desde logo, ao legislador
administrativo, ao exigir a sua intervenção na definição de instrumentos de prevenção da
criminalidade no exercício da função pública, mas também à AP. É no quadro desta
atenção especial aos fenómenos da corrupção e da criminalidade administrativa que vai
surgir um DA da corrupção, ao qual cabe, além do mais, proceder à instituição de
organismos pela AP com a função de impor o respeito pela integridade e pela ética
57
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
pública, prosseguindo o objetivo de prevenir a prática de crimes no exercício da função
administrativa.
É ainda neste contexto da prevenção e do combate à corrupção que se tem assistido à
consagração e modelação de novas figuras como é o caso mais conhecido do denunciante
de infrações.
53.3 – Transparência administrativa
O Estado Administrativo democrático tem de ser um Estado transparente: não existe uma
democracia administrativa sem acesso do público à informação sobre o funcionamento
do Estado. As sociedades do nosso tempo são ‘sociedades de informação’, que não
convivem com o segredo dos negócios públicos, pelo que a boa governação dos sistemas
administrativos impõe a garantia da máxima acessibilidade à informação detida pela AP.
Mais do que um princípio, a transparência referencia uma característica da AP à qual se
aspira: a Administração transparente.
O princípio da transparência mistura-se assim com o princípio da Administração aberta.
a) Direito de acesso à informação administrativa
Trata-se de um princípio que, além do mais, concretiza a ideia de arquivo aberto,
inscrita como direito subjetivo público.
Uma outra dimensão da transparência reside na consagração constitucional e legal do
direito subjetivo à informação procedimental; os cidadãos têm o direito de ser
informados pela Administração, sempre que o requeiram sobre o andamento dos
processos em que sejam diretamente interessados, bem como o de conhecer as
resoluções definitivas que sobre eles forem tomadas.
Na vertente subjetiva, do direito de acesso à informação administrativa, a
transparência administrativa é um importante instrumento de fomento da participação
dos cidadãos na vida administrativa: só num sistema administrativo inspirado pela
transparência se pode realizar, na sociedade, uma efetiva atividade propositiva,
participativa e de controlo, bem como o valor da cidadania administrativa.
b) Divulgação ativa da informação administrativa
Obviamente sem se desvalorizar a indiscutível relevância jurídica da consagração
constitucional e legal de direitos subjetivos de acesso à informação administrativa,
deve dizer-se que os valores da transparência e da administração aberta exigem
também, como componente estrutural da organização administrativa, que cada
organismo ou unidade da Administração adote uma estratégia proativa de máxima
abertura, de partilha e de disponibilização da informação. Ou seja, não se pede apenas
à Administração que, em posição passiva, assegure, em via de resposta o acesso dos
interessados à informação e aos dados que detém, mas que vá além disso, e coloque
em prática uma política ativa de informação aberta e transparente que facilite e
promova o controlo difuso da sua ação pelos cidadãos.
58
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Toda a informação pública relevante para garantir a transparência da atividade
administrativa, designadamente a relacionada com o funcionamento e controlo da
atividade pública, também deve ser divulgada ativamente, de forma periódica e
atualizada, pelos respetivos órgãos e entidades.
c) Efeito moralizador da transparência
A interiorização de uma cultura de transparência cria estímulos positivos e diminui,
ou pode diminuir, o espaço para a ocorrência de fenómenos de corrupção e de tráficos
de influências e para outras práticas de desvio da prossecução do interesse público;
tem ainda um efeito moralizador, ao prevenir os responsáveis quanto à necessidade
de não seguirem opções que não podem explicar ou que, de antemão, sabem que a
opinião pública não vai assimilar ou vai reprovar.
Como a doutrina enfatiza, a transparência é um instrumento crucial para a realização
do valor da imparcialidade da atuação de quem serve a AP e que pode atuar como
uma espécie de remédio preventivo contra a corrupção e, em geral, contra a má
administração.
Nesta vertente a concretização da transparência tem dado origem à institucionalização
de formas de publicitação ou de acesso público às declarações de rendimentos e do
património de titulares de cargos públicos, categoria que, para este efeito, inclui, em
grande número, vários responsáveis pelo funcionamento da AP.
A promoção de uma AP transparente exige a criação de estruturas organizativas e a
instalação de plataformas que assegurem a divulgação e o acesso difuso à informação
administrativa.
53.4 – Participação dos cidadãos na AP
A AP atua para os cidadãos, para os cidadãos administrados.
A abertura à participação dos cidadãos continua naturalmente a passar pelas formas
clássicas de participação individual dos interessados nos procedimentos administrativos
bem como por mecanismos, mais abrangentes, mas ainda inspirados numa lógica de
instituição de oportunidades de participação cívica, mediante a previsão de fases de
consulta pública ou de discussão pública nos procedimentos de aprovação de planos de
gestão do território.
Mas o atual sentido da participação dos cidadãos pretende abrir canais mais amplos de
intervenção e fomentar uma atitude pró-ativa dos particulares; não se trata de
simplesmente organizar o sistema de modo a ‘permitir’ que os cidadãos participem, mas
verdadeiramente, de seguir uma política de estímulo, incentivo e ativação da participação.
O particular, vê-se convocado a assumir um novo papel de ator, que deve ser estimulado
a exprimir os seus pontos de vista e a contribuir para o governo e o desenvolvimento da
coletividade. Está aqui suposto o particular no estatuto de cidadão comprometido,
empenhado e socialmente responsável, que procura e aceita contribuir para a realização
do bem comum.
59
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
É esta conceção do cidadão e da cidadania administrativa que suscita a definição de
modelos e esquemas variados de participação dos cidadãos e interessados na gestão da
AP. A participação dos interessados na estruturação da Administração radica numa
conceção de organização administrativa segundo a qual a democracia não se esgota na
fórmula liberal de participação, devendo antes estender-se à intervenção e
responsabilização dos administrados pela própria condução ou orientação da
Administração – democracia participativa.
Esta forma de participação dos cidadãos na Administração encontra-se reconhecida na
CRP, que estabelece que a AP será estruturada de modo a assegurar a participação dos
interessados na sua gestão efetiva.
Não é claro em que consistem estas outras formas de representação democrática. Tudo
indica, contudo, que se pretende autorizar formas de coadministração, de administração
partilhada, mediante a instituição de órgãos administrativos com poderes de decisão nos
quais participam os diretos interessados, isto é, os cidadãos especial ou diretamente
relacionados com a ação própria desses órgãos. A própria CRP prevê situações que
concretizam este fenómeno de coadministração ou de administração partilhada com os
interessados.
54 – Pluralismo do sistema administrativo
O conceito de AP sugere uma ideia unitária e parece reportar-se a uma realidade
institucional homogénea, concebida segundo um princípio de unidade
Porém, o conceito não corresponde a uma entidade ou instituição, tendo, antes, a função
de indicar um universo de sujeitos ou organizações. Nestes termos, os conceitos de AP
ou de sistema administrativo, revelam-se conciliáveis com um princípio de pluralismo.
Este pluralismo encontra-se, de resto, bem patente na forma como a AP portuguesa se
encontra organizada: o sistema administrativo português é, na verdade, um sistema de
pluralismo administrativo.
Em sentido radical, a ideia de unidade da Administração representa a exigência de um
sistema monolítico, compacto, burocrático, centralizado, concentrado e organizado de
acordo com um princípio da unidade de direção e de hierarquia. Um sistema assim
delineado representa a sujeição do conjunto da AP à direção e ao controlo de um centro
superior e único (em regra, o Governo). Na visão mais extremada deste modelo, a
Administração seria sempre e apenas estadual, direta e toda ela dependente do Governo.
Ora, postulando um sistema administrativo exclusivamente ministerial, a unidade da AP
não existe atualmente.
Sem prejuízo da expressa referência constitucional à unidade de ação da Administração,
e sem desconsiderar uma certa primazia e centralidade do Governo, são visíveis no
sistema administrativo português os fatores de diversidade e multiplicidade institucional,
que resultam de nele se integrar uma extensa cópia de entidades juridicamente autónomas
entre si, as quais, por vezes, revelam até sinais de uma efetiva independência dentro do
sistema.
60
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
54.1 – Tipos de pluralismo administrativo
Em geral, o pluralismo do sistema administrativo é o efeito visível da implementação de
uma lógica de distanciamento de muitos setores da AP em relação ao Governo e à direção
e controlo governamental.
Essa tendência resulta de vários fatores: instituição e, por vezes, reconhecimento de
entidades administrativas dotadas de legitimidade democrática própria – pluralismo
democrático -; exigência de independência e de isenção de organismos que se dedicam a
determinadas funções públicas – pluralismo funcional-; incremento de eficiência da
gestão administrativa – pluralismo técnico.
a) Pluralismo democrático
O processo de distanciamento de setores da AP em relação ao Governo exprime-se
desde logo em várias formas de descentralização administrativa e na emergência da
AP autónoma.
Ao setor da administração autónoma reconduzem-se as autarquias locais e as
associações públicas de interessados.
Nos termos constitucionais e legais, a administração autónoma, que ostenta uma
legitimidade democrática própria, encontra-se apenas submetida a tutela ou
fiscalização estadual, exercida pelo Governo. A Administração autónoma constitui,
assim, a primeira ilustração da ideia de uma AP plural. Integram este setor da AP as
autarquias locais e suas associações, bem como outras entidades sobretudo de caráter
associativo.
A Administração autónoma associa-se ao conceito de administração, a qual indica a
presença de uma administração realizada pelos próprios interessados, sem
interferência externa, salvo quanto à tutela (fiscalização).
Outras formas de pluralismo democrático projetam-se na configuração interna de
certos órgãos, abertos à participação institucional de representantes de interessados,
de especialistas, de peritos e de representantes de interesses particulares.
Os fenómenos organizativos de administração autónoma e de administração
partilhada com os interessados concretizam um pluralismo administrativo
democrático no sistema português e traduzem-se numa participação direta e efetiva
de cidadãos interessados na condução de funções administrativas.
b) Pluralismo funcional
Por vezes, o pluralismo é imposto por razões funcionais, decorrentes da natureza e
das características particulares da missão confiada a um determinado organismo.
Este pluralismo funcional desenvolveu-se nos anos 90 do séc. XX, sobretudo para a
regulação da economia e do mercado. Surgiu a AP Independente, tendencialmente
isenta ou imune à ingerência ou interferência governamental. A independência
funcional das entidades administrativas independentes surge como o efeito de um
61
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
processo de desgovernamentalização de certas parcelas da AP que se deve a fatores
muito variados.
A exigência de distanciamento em relação ao Governo de estruturas administrativas
surge por vezes imposta pelo DUE.
c) Pluralismo técnico
Com um impacto diferente das formas de pluralismo democrático e funcional, há
também um pluralismo administrativo de recorte essencialmente prático e baseado
em vários esquemas de distanciamento da gestão de setores da Administração em
relação ao controlo hierárquico governamental. A este pluralismo técnico, prático ou
de gestão, assinala-se objetivos de eficiência e de agilização do sistema
administrativo, de redução da dependência burocrática e do aumento de qualidade de
decisão pública. As entidades que dão corpo ao modelo de pluralismo em análise
integram a Administração Indireta do Estado. Trata-se, neste caso, de um pluralismo
com um caráter essencialmente formal, porquanto a criação de entidades da
administração indireta do estado atenua a direção e o controlo governamental, mas o
Governo, além de assumir poderes relevantes, mantém-se como o responsável último
pelo funcionamento dessas entidades.
Embora com outras implicações, parece de reconduzir a este pluralismo técnico
muitos dos casos de concessão de funções administrativas a entidades particulares.
54.2 – Efeitos do pluralismo administrativo
O efeito mais evidente reside na complexidade e na diversidade interna da AP: são vários
os sujeitos ou entidades que a compõem e, por sua vez, esses sujeitos também se
apresentam plurais no seu interior, na sua estrutura interna.
Mas o pluralismo do sistema administrativo não se resume a um arranjo técnico, que se
esgote na instituição de várias entidades ou de entidades com vários órgãos. Em certos
casos, o pluralismo administrativo tem concretização efetiva no reconhecimento ou na
atribuição a unidade da Administração da responsabilidade pela representação e proteção
de certos interesses públicos específicos, ou de interesses públicos parciais ou de partes
da população. Daqui decorre que no interior do sistema administrativo se possam
desenvolver situações de tensão e até de conflito entre unidades administrativas que têm
a responsabilidade de defender interesses públicos diferenciados e divergentes em face
dos interesses a realizar por outras unidades administrativas.
Esta dinâmica de tensão reclama soluções legais especificamente pensadas para o
eventual ou efetivo cenário de conflitualidade interadministrativa, entre pessoas coletivas
públicas e até entre órgãos das mesmas pessoas coletivas: assim se explica a atribuição
de legitimidade procedimental a órgãos administrativos para intervirem em
procedimentos em defesa dos seus direitos ou de interesses difusos, bem como a
referência a litígios entre pessoas coletivas de direito público ou entre órgãos públicos e
62
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
atribuição aos órgãos administrativos de legitimidade processual para reagir contra atos
ou omissões de atos de outros órgãos administrativos.
O pluralismo administrativo pode ainda ter um efeito pernicioso, de fragmentação e de
desarticulação interna da AP, suscetível de originar situações de conflitos de
competências e, pior, de desresponsabilização ou de indefinição sobre quais as estruturas
responsáveis pela prossecução de determinados interesses públicos. Em rigor, deve dizer-
se que este efeito não resulta apenas do pluralismo administrativo, mas de facto, com
maior frequência do que seria desejável, de serem instituídos serviços, organismos e
autoridades que, sem critério e sem reflexão se vão sobrepondo uns aos outros.
55 – Unidade do sistema administrativo e centralidade do Governo
Esse pluralismo (acabado de expor e caracterizar) não pode ignorar um momento de
unidade presente numa parte relevante do sistema administrativo, que se constitui ou
forma em volta de um polo de centralidade e de unidade que é o Governo. Além disso,
apesar de a realidade nos mostrar um sistema efetivamente plural, não se podem ignorar
algumas indicações que apontam para uma ideia matricial de unidade no sistema
administrativo.
55.4 – Centralidade do Governo no sistema administrativo
Não existe um princípio de unidade aplicável à organização ou modelação de todo o
sistema administrativo, uma vez que, nos termos da CRP, existem setores da AP que se
situam fora da unidade do sistema e, em concreto, fora da esfera de influência do
Governo, que seria polo integrador ou de unidade: administração regional, administração
autárquica e certos organismos de administração independente.
Sucede, porém, que uma parte muito significativa da AP se encontra sob influência e na
dependência do Governo. Desde logo, tendo em conta o peso desse setor da AP, revela-
se legítimo afirmar que o Governo ocupa uma clara posição de centralidade no sistema
administrativo, porquanto uma parte significativa deste se encontra sob a direção e a
orientação do Governo.
Essa ideia de centralidade do Governo tem concretização de maior alcance, que atribuem
a este órgão uma presença relevante em praticamente todos os elementos ou componentes
do sistema administrativo.
O Governo é o órgão superior da AP, no exercício da função administrativa, cabe-lhe
dirigir os serviços e a atividade da administração direta do Estado, civil e militar,
superintender na administração indireta e exercer a tutela sobre esta e sobre a
administração autónoma.
A centralidade do governo no sistema administrativo português revela-se, assim, nas 3
categorias de poderes sobre a AP que a CRP confia a esse órgão.
63
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
a) Direção da administração direta do Estado
Integram este setor da Administração, os serviços centrais e os serviços periféricos
que, pela natureza das suas competências e funções, devam estar sujeitos ao poder de
direção do respetivo membro do Governo – o poder de direção é uma das expressões
do poder hierárquico.
b) Tutela e superintendência da Administração indireta dos Estados (institutos
públicos e regime geral)
Nos termos da lei, o Governo exerce vastos poderes de tutela sobre os institutos
públicos de regime geral; por outro lado, no capítulo da superintendência, o membro
do Governo responsável tem o poder de dirigir orientações, emitir diretivas ou
solicitar informações aos órgãos dirigentes dos institutos públicos sobre os objetivos
a atingir na gestão do instituto e sobre as prioridades a adotar na respetiva
prossecução.
Próxima da ideia de superintendência do Governo sobre a administração indireta,
deve referir-se o poder do Governo de definir orientações de gestão para o setor
empresarial do Estado.
c) Tutela da administração autónoma
A CRP não fornece diretamente o sentido do conceito de administração autónoma.
Esse conceito aparece a par dos de administração direta e indireta, pelo que, por
exclusão, deve entender-se que se trata de referenciar a administração autónoma em
relação ao Estado, incluindo a administração autónoma territorial e a administração
autónoma corporativa. Ao Governo cabe exercer a tutela sobre as autarquias locais,
bem como sobre as associações públicas profissionais.
O exposto permite perceber a centralidade do Governo e a sua posição de clara
supremacia jurídica em relação à Administração do Estado que o Governo surge numa
posição de efetiva supremacia e superioridade jurídica: cabe-lhe a função de direção
política desse setor da Administração e é responsável pelo respetivo funcionamento.
No caso da Administração Direta, exerce mesmo poderes de direção administrativa.
Mas o protagonismo do Governo no sistema revela-se ainda nos poderes que detém
em relação à Administração autónoma. Deve dizer-se que se tem assistido, nos
últimos tempos a um incremento evidente da interferência governamental no âmbito
das autarquias locais. Contudo, em sentido oposto, observa-se serem praticamente
inexistentes os poderes de tutela do Governo sobre as associações públicas
profissionais.
64
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
56 - Hierarquia
O regime jurídico da Administração Direta do Estado estabelece que a organização da AP
se deve orientar pelo ‘princípio da unidade e eficácia da ação da AP’ e acrescenta, que o
citado princípio se consubstancia no exercício de poderes hierárquicos, nomeadamente
os poderes de direção, substituição e revogação.
A hierarquia é um modelo de organização de uma pessoa coletiva, que tem uma projeção
exclusivamente interna. O que distingue a hierarquia de outros modelos de organização é
o facto de instituir um sistema de organização vertical entre os órgãos da pessoa coletiva,
os quais se posicionam numa cadeia ou série, em regra, com vários níveis, e na qual os
órgãos superiores detêm um poder de supremacia (de direção) sobre os órgãos
subalternos.
A hierarquia pressupõe uma ideia de verticalidade e de disposição em cadeia ou em série
de dois ou mais órgãos, e assenta na presença de um relacionamento entre os órgãos de
uma pessoa coletiva baseado numa lógica de autoridade/subordinação ou de
direção/obediência.
O modelo de organização hierárquica está assumido na CRP em relação ao Governo,
quando se refere ao poder que este detém de ‘dirigir os serviços e a atividade da
administração direta do Estado. O poder de direção é um dos poderes típicos da hierarquia
administrativa, como aliás o indica o Regime Jurídico da Administração Direta do Estado.
A presença de um encadeamento vertical entre os órgãos, com a indicação de um poder
de direção do superior e um dever de obediência dos subalternos, associa o modelo
hierárquico à ideia de unidade administrativa.
O modelo de organização hierárquica a que nos referimos assenta numa relação que se
processa no interior de uma entidade, entre os órgãos administrativos que a integram e
surge associado à competência administrativa para a prática de atos externos. Trata-se,
por conseguinte, da hierarquia administrativa.
A hierarquia implica a existência, dentro de uma pessoa coletiva, de vários órgãos com
competências administrativas externas. Neste sentido, o modelo de organização
hierárquica exige alguma medida de desconcentração vertical de competências: se toda a
competência para a prática de atos externos estiver atribuída a um único órgão não há
espaço para uma relação de hierarquia.
Na medida em que se pressupõe a competência de órgãos subalternos para praticar atos e
adotar medidas de efeitos externos, a hierarquia parece implicar ainda que o superior
hierárquico detenha uma competência própria para atuar no âmbito da competência do
subalterno; mas não é assim. Com efeito, não se inscreve na natureza intrínseca do modelo
hierárquico um qualquer princípio ou regra de englobamento da competência do
subalterno na competência do superior. O órgão subalterno pode, na verdade, ser titular
de competências exclusivas. Além disso, salvo se a lei estabelecer coisa diferente, as
competências próprias dos órgãos subalternos não pertencem aos órgãos superiores. Por
força disto, podemos distinguir uma hierarquia plena, se as competências do superior
englobam as do subalterno, e uma hierarquia restrita, na situação oposta.
65
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
A referenciação da hierarquia como um princípio procura sobretudo chamar a atenção
para um dado do sistema, e não tanto para uma diretriz jurídica solidamente estabelecida
para a sua modelação.
É, aliás, por isso que a organização das pessoas coletivas públicas não segue sempre o
modelo hierárquico: os órgãos das pessoas coletivas, não surgem, em todos os casos,
encaixados numa cadeia de hierarquia, podendo ser e sendo muitas vezes, instituídos de
acordo com um princípio e separação ou até de dependência.
57 - Desconcentração
A implementação de medidas de descentração (conceito amplo, que abrange os
fenómenos da desconcentração e da descentralização), corresponde a um cânone ou
orientação constitucional fundamental para a estruturação do sistema administrativo.
A ideia de descentração sugere uma ideia de dinâmica e movimento, no sentido de uma
alteração ou de uma evolução de um sistema que, na base e à partida, se apresenta
centralizado e concentrado. Uma vez que se trata de um fenómeno relativo a poderes ou
competências, a ideia de descentração representa, por conseguinte, um movimento ou
deslocação de competências ou de poderes de um ponto da organização administrativa,
para um outro ponto; um ponto descentrado, situado fora do centro ou num escalão abaixo
do topo. Esta ideia encontra-se presente nas figuras da desconcentração e da
descentralização, que concretizam, assim, uma ideia inicial próxima ou semelhante. Mas
essas figuras do direito da organização administrativa não se confundem, pois refletem
opções muito diferentes de implementar e concretizar a diretriz de descentração.
A desconcentração conhece duas aplicações:
- Uma interna, que se processa no interior de uma pessoa coletiva
- Uma outra externa, que pressupõe um movimento de deslocação das competências dos
órgãos de uma pessoa coletiva para os órgãos de uma outra pessoa coletiva.
Em qualquer caso, a desconcentração versa sobre competências administrativas externas,
ou seja, competências com projeção fora das pessoas coletivas em que se integram os
órgãos envolvidos no processo de desconcentração.
57.1 – Desconcentração no interior das pessoas coletivas públicas
A desconcentração de competências representa, nesta primeira hipótese, uma solução ou
arranjo essencialmente técnico, que, em termos jurídicos, consiste em deslocar de um
órgão para um outro da mesma pessoa coletiva pública uma competência para a prática
de atos externos ou para a adoção de medidas externas: em regra, esta desconcentração
processa-se pela transferência da competência de um órgão superior para um órgão
subalterno, e poder corresponder, também, à transferência da competência ou de um órgão
central para um órgão periférico.
66
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Fala-se, neste caso, de ‘desconcentração interna’, por se referir a uma transferência de
competências que se realiza no interior de uma pessoa coletiva, entre os seus órgãos.
a) Desconcentração vertical e desconcentração horizontal
A deslocação de competências processa-se, em muitos casos, de cima para baixo,
considerando a cadeia hierárquica: fala-se então de desconcentração vertical. Trata-
se de uma solução de recorte técnico-jurídico, pautada por objetivos de eficiência e
de descongestionamento dos órgãos de topo de uma organização.
Por força das medidas de desconcentração, os órgãos da Administração em posição
subalterna passam a poder exercer competências externas e a atuar como unidades de
ação da pessoa coletiva pública; mas essas competências não têm de lhes ser
conferidas como próprias, pois podem ser-lhes apenas delegadas, e, quando próprias,
não têm de ser exclusivas, pois pode tratar-se de competências comuns ou partilhadas.
Existe ainda a possibilidade de desconcentração horizontal, baseada na distribuição
de competências administrativas por órgãos entre os quais não subsiste qualquer
relação hierárquica. O objetivo agora, consiste em repartir por vários órgãos
separados e sem qualquer relação vertical entre si, o poder administrativo e a
responsabilidade associada ao respetivo exercício.
A desconcentração horizontal pode também resultar da pretensão de efetivar, no
interior de uma pessoa coletiva, uma separação de poderes porventura baseada em
diferentes legitimidades dos órgãos envolvidos.
b) Desconcentração originária e desconcentração derivada
A primeira é promovida por lei, e a segunda operada por decisão administrativa.
No caso da desconcentração originária, ocorre um fenómeno de deslocação ou de
transferência, por via legislativa (ou regulamentar), da competência de um órgão
administrativo para outro.
Em geral, o conceito de desconcentração sobretudo o de desconcentração originária,
pressupõe um sistema administrativo concentrado como modelo abstrato de partida.
Em inteiro rigor, a desconcentração originária não tem de se concretizar exatamente
num processo de efetiva deslocação ou transferência de competências de um órgão
para um outro órgão. Também se considera medida de desconcentração uma
atribuição legal inicial ou originária de uma competência a um órgão administrativo
subalterno ou periférico.
Por sua vez, a desconcentração derivada opera, com fundamento na lei, por via de um
ato de delegação de poderes. Ao passo que a originária é o efeito de uma opção e de
uma medida legislativa, a desconcentração derivada surge como um efeito de uma
opção e de uma medida administrativa (baseada numa lei).
A delegação de poderes perfila-se, portanto, como um instrumento fundamental de
desconcentração e de repartição do exercício de competências administrativas.
67
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
c) Desconcentração territorial e desconcentração funcional
Sobretudo, a desconcentração de tipo vertical associa-se, em certos casos, à promoção
de uma desconcentração territorial, quando promove uma descida da competência
administrativa na escala hierárquica, mas também no sentido de aproximar o exercício
da competência dos cidadãos.
Quando isto se sucede, a desconcentração promove um outro valor constitucional: a
aproximação dos serviços às populações. Com efeito, esta última determinante
constitucional da estrutura da Administração não reclama apenas uma aproximação
da logística, mas também a atribuição de competências efetivas aos órgãos que
dirigem os serviços periféricos.
Pode existir desconcentração vertical dissociada da geográfica. A desconcentração
(de tipo vertical ou horizontal) pode constituir apenas um mecanismo de
desconcentração funcional, de distribuição de funções e de competências entre órgãos
administrativos, sem qualquer implicação territorial.
57.2 – Desconcentração intersubjetiva
Além da desconcentração interna, que se processa no interior de uma pessoa coletiva,
mediante a deslocação da competência entre os respetivos órgãos ou a atribuição legal de
competência a órgãos subalternos, existe uma outra aplicação da ideia de
desconcentração: a desconcentração que opera num plano intersubjetivo, entre órgãos de
diferentes pessoas coletivas. Esta consiste na deslocação de uma função ou de uma
competência dos órgãos de uma entidade para órgãos de uma outra entidade juridicamente
diferente.
57.2.1 – Sentido da desconcentração intersubjetiva
Como a que se desenvolve entre órgãos da mesma pessoa coletiva, a desconcentração
externa assume a natureza de um expediente de recorte técnico, de divisão do trabalho e
descongestionamento de poderes ou competências. A pessoa coletiva que recebe as
competências desconcentradas surge fundamentalmente como um instrumento de que a
pessoa coletiva principal se vai poder servir para realizar as suas finalidades ou exercer
as suas competências. A pessoa coletiva beneficiária da desconcentração prossegue em
nome próprio, mas sob a orientação da pessoa coletiva principal, interesses públicos cuja
realização a lei confia a esta última.
A desconcentração intersubjetiva associa-se ao fenómeno da administração indireta ou
mediata e, no caso do Estado, à figura dos institutos públicos.
O processo de desconcentração é ativado, em regra, por via legal, caso em que teremos
uma desconcentração intersubjetiva originária.
Pode ainda suceder que a lei habilite órgãos da entidade principal a efetuar, pela via
administrativa, a delegação de poderes em órgãos da entidade desconcentrada.
68
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Embora se associe em regra a uma relação entre o Estado e a Administração indireta, a
desconcentração intersubjetiva também pode operar como processo de relacionamento
entre o Estado e entidades da administração autónoma: assim sucede no caso da delegação
de competências do Estado em autarquias locais ou em entidades intermunicipais. Neste
cenário, deparamo-nos com uma ligação direta entre os conceitos de desconcentração,
administração autónoma e administração indireta.
57.2.2 – Adequação da desconcentração intersubjetiva
A desconcentração não representa um valor constitucional absoluto, a lei deverá
estabelecer adequadas formas de desconcentração.
O aludido condicionamento constitucional conhece várias concretizações ao nível do
direito legislado, o que nos leva a referenciar, no sistema administrativo português, um
princípio de prevalência da Administração direta do Estado sobre as formas de
Administração indireta.
58 – Descentralização
Do mesmo modo que a desconcentração, a descentralização sugere a imagem de uma
operação dinâmica, de um momento que realiza a deslocação de competências ou de
funções de um ponto para outro ponto da organização administrativa.
Contudo, e ao contrário da desconcentração, a descentralização não se compreende já
como uma figura de dimensão apenas técnica, de incremento da eficiência na gestão e
com o propósito de promover o descongestionamento eficiente do poder decisório. Não
é de facto assim. A descentralização tem um outro alcance.
58.1 – Delimitação da figura
A compreensão do conceito e da figura jurídica da descentralização reclama uma análise
desdobrada em 3 itens: pressupostos, medidas de concretização e autonomia.
a) Pressupostos da descentralização
O conceito de descentralização pressupõe a existência de uma coletividade ou grupo
de pessoas delimitado e distinto dentro da coletividade nacional: a delimitação do
grupo ou coletividade infra-estadual deverá assentar numa característica ou elemento
agregador, por todas partilhado.
Em segundo lugar, a descentralização pressupõe a identificação de um círculo de
interesses de todas as pessoas da coletividade considerada (interesses comuns) que,
por causa das características que partilham, se possam considerar interesses
específicos dessas pessoas, por terem a ver especificamente com os interesses da
coletividade.
69
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
b) Medidas de concretização da descentralização
Reunidos os 2 pressupostos indicados (coletividade delimitada de pessoas + interesses
específicos), a descentralização é operacionalizada ou realizada em dois momentos
sucessivos:
- Num primeiro momento, através de medidas que confiram uma identidade jurídica
à coletividade de interessados, o que passa, em regra, pela indicação ou pela criação
de uma entidade ou pessoa coletiva que congregue o conjunto dos interessados
- Num segundo momento, mediante medidas que confiram à entidade instituída e que
congrega os interessados, competências de gestão e administração de assuntos
públicos relativos aos interesses próprios e específicos da coletividade de
interessados. A tarefa pública consistente em gerir ou administrar estes assuntos
públicos é descentralizada, retirada da esfera e da influência do Estado e confiada aos
próprios interessados. A descentralização dá assim origem à definição de uma tarefa
pública não estadual: função ou tarefa pública, de prossecução de um interesse
qualificado como público, mas que, além de se envolver fora do Estado, não pertence
ao Estado.
Ao contrário do que aparenta, a descentralização não se efetiva exclusivamente
através de um movimento de deslocação ou de transferência de uma tarefa ou
competência: desestadualização. Com efeito, a descentralização pode também ser
promovida por medidas e atribuição legal inicial ou originária de competências a uma
entidade autónoma ou descentralizada.
c) Autonomia
A compreensão integral da figura da descentralização não dispensa uma referência ao
elemento da autonomia do desempenho da tarefa descentralizada. Não existe, em
rigor, um fenómeno de descentralização se a tarefa de gestão ou administração de
interesses não for assumida como própria da coletividade de interessados. Daqui
decorre que, nos limites da lei, deverá caber à própria coletividade de interessados,
através dos órgãos eleitos, o poder de definir livremente a gestão da tarefa
descentralizada, sem ingerência, intromissão ou orientação do Estado ou de qualquer
outra entidade.
A descentralização promove, assim, uma autoadministração: administração realizada
pelos administrados. Na verdade, ela consiste em atribuir a uma entidade que abrange
ou congrega a coletividade dos interessados na gestão ou administração de um certo
assunto público o poder de gerir ou de administrar esse assunto.
Por representar uma forma de atribuição da gestão de assuntos públicos aos direitos
interessados, a descentralização é um instrumento da democracia administrativa, em
particular, da participação democrática dos cidadãos na vida administrativa.
70
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
58.2 – Descentralização territorial e descentralização corporativa
O princípio da descentralização tem 2 aplicações fundamentais, distintas em função da
presença, ou não, de um elemento territorial como elemento agregador da coletividade de
interessados: existe, assim, uma descentralização territorial, em que as entidades
descentralizadas são as autarquias locais, bem como as entidades intermunicipais, e uma
descentralização funcional ou corporativa, em que as entidades descentralizadas são
entidades que congregam um grupo homogéneo de interessados. No primeiro caso a
descentralização dá origem à administração autónoma territorial; no segundo à
administração autónoma corporativa.
A descentralização territorial baseia-se na existência de comunidades de pessoas ligadas
pela residência numa parte determinada do território nacional, facto que, de uma forma
imediata, vincula essas pessoas a uma freguesia e a um município; o território é aqui um
elo de ligação entre as pessoas e constitui um fator de delimitação ou identificação de
uma variedade de assuntos do interesse dessas pessoas.
Por sua vez, a descentralização funcional é baseada na agregação ou associação de
pessoas que partilham o mesmo estatuto ou uma certa condição: ex.: profissão, utilização
de um bem. O estatuto ou a condição pessoal, profissional ou outra, é agora o elo entre as
pessoas que constituem o grupo e o elemento de delimitação de assuntos do interesse
dessas pessoas.
Em qualquer caso, a descentralização realiza-se através de medidas legislativas que
entregam a uma entidade autónoma (descentralizada) competências públicas de gestão ou
administração de assuntos que são do interesse imediato das pessoas que constituem o
substrato dessa entidade.
A distinção entre os dois tipos de descentralização não se baseia apenas no elemento
territorial.
A descentralização funcional indica, na verdade, um processo com características e
elementos idênticos aos da descentralização territorial, mas que provoca um impacto de
natureza diferente no sistema administrativo. Com efeito, esta forma de descentralização
sobretudo quando se desenvolva de forma descontrolada, pode originar a fragmentação
do poder público e conduzir a uma feudalização do sistema administrativo. Trata-se de
conferir a determinados grupos de pessoas o poder público de gestão das tarefas públicas,
mas que estão diretamente relacionadas com os seus interesses próprios. Esse poder,
como é próprio da ideia de descentralização, é exercido sem a interferência orientadora
do Estado.
Por outro lado, e apesar da proximidade, há uma diferença relevante entre as 2 formas de
descentralização: no caso da descentralização territorial, as tarefas objeto de medidas de
descentralização dizem respeito aos interesses próprios e específicos das populações de
cada autarquia local e o modo como as referidas tarefas são geridas não tem, em geral,
um impacto fora do território sob jurisdição da entidade descentralizada. Ao invés, na
descentralização funcional, as tarefas descentralizadas dizem respeito a assuntos do
interesse direto das pessoas que integram a coletividade que os gere, mas tais assuntos
podem ter um alcance geral, que ultrapassa as fronteiras da coletividade dos interessados.
71
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
58.3 – Processos de descentralização
Tal como com a desconcentração, a descentralização remete para uma ideia dinâmica e
de movimento, materializado, em regra, na passagem de uma competência de um ponto
para outro ponto da AP.
Embora esta conceção se possa manter em geral, importa notar que, sobretudo no caso da
descentralização, o processo não consiste, em todas as suas manifestações, na
transferência de uma competência de um ponto para outro.
Modalidades ou processos de descentralização de competências:
a) Descentralização por transferência legal de competências
Apesar de não se revelar único, o processo mais óbvio de efetuar a descentralização
consiste na adoção de medidas legais de transferência de competências.
A descentralização representa a transferência, promovida por lei, de uma função ou
tarefa da esfera do Estado para a de outra entidade da AP. Uma vez que consiste em
atribuir a uma entidade, como própria desta, a competência ou tarefa descentralizada,
a descentralização vem, neste caso, a coincidir com um processo de
desestadualização: a tarefa descentralizada sai do Estado para entrar na entidade
autónoma descentralizada.
A descentralização administrativa concretiza-se através da transferência por via
legislativa de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais e
das entidades intermunicipais.
A transferência de competências pode operar por mero efeito da lei. Há, contudo,
casos, em que para se completar o processo e para se definir o âmbito das
competências transferidas, a transferência legal não dispensa a celebração de acordos
ou a prática de atos de execução.
b) Descentralização por atribuição legal inicial ou originária de competências
Além da transferência legal, a descentralização pode basear-se numa lei que crie uma
competência pública nova e a atribua imediatamente a uma entidade autónoma. Pode,
na verdade, suceder que uma determinada tarefa seja imediatamente reconhecida
como própria de uma entidade autónoma e atribuída a esta entidade: neste caso a
tarefa pública nasce como tarefa descentralizada.
Não subsiste uma operação de transferência de competência, mas de criação ex novo
de competências e da respetiva atribuição a uma entidade autónoma.
c) Descentralização por meio do reconhecimento legal de uma capacidade geral de
ação das entidades descentralizadas
Este processo opera exclusivamente na descentralização territorial e apenas em
relação aos municípios e freguesias.
72
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Nos dois processos anteriores a descentralização efetiva-se mediante medidas legais
que enumeram as competências transferidas ou atribuídas às entidades
descentralizadas: mediante esse sistema de enumeração, a lei determina e especifica
as competências que são objeto de descentralização.
Na situação agora em análise, o legislador não enumera as competências que podem
ser exercidas pela entidade autónoma descentralizada. Em vez disso, reconhece que
esta entidade dispõe de uma capacidade geral de ação em certos domínios, ou dispõe
da capacidade e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações.
59 – Independência
A ideia de centralidade do Governo no sistema administrativo português é, em geral,
correta, e tem manifestações claras nos poderes do Governo enquanto órgão superior da
AP, sobretudo no âmbito da Administração Estadual: direção da Administração direta e
superintendência da Administração indireta.
Contudo, esta dimensão do sistema tem de se articular com uma intendência, que se tem
desenvolvido nos últimos anos, no sentido da instituição de organismos da AP do Estado
com a garantia de independência em face do Governo. Surgiu assim uma «Administração
desgovernamentalizada», composta pelas designadas entidades administrativas
independentes, que o legislador está autorizado a criar.
A criação de entidades independentes (independentes em relação ao Governo, bem como
a qualquer outra instância administrativa) responde, em geral, a um ou mais do que 3
propósitos fundamentais:
- Garantia de uma intervenção administrativa independente da diretriz político-ideológica
das maiorias governamentais, que se considera essencial
- Garantia de intervenção independente de qualquer influência do Governo ou de outros
setores da Administração quando está em causa a proteção dos administrados contra a
própria AP ou a proteção de bens constitucionais
- Garantia de uma intervenção administrativa imune a diretrizes, instruções ou orientações
sobre os termos específicos do exercício de certas competências
A existência de elementos de Administração independente corresponde, hoje, a um
princípio de organização da AP, cuja concretização corresponde, em certos casos, a
exigências constitucionais, bem como a determinações constantes de regras do DUE ou
de standards internacionais.
Esta independência encontra fundamento na conveniência de distanciar do Governo e da
política o exercício de certas missões administrativas. Para esse efeito, atribuem-se tais
missões a organismos que gozam de uma garantia de independência institucional. Mas,
por vezes, a independência institucional do órgão ou entidade; trata-se dos casos de
autonomia ou independência técnica, que pressupõe a mobilização de uma capacidade
pessoal no plano técnico, científico ou jurídico. Aqui, a independência refere-se à
competência, não à condição de quem a exerce.
73
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
61 – Personalidade jurídica de direito público
O critério para identificar os sujeitos da AP baseia-se numa indicação jurídico-formal:
são sujeitos da AP as pessoas coletivas de direito público.
Apesar dos defeitos e das limitações de que padece, o critério da subjetividade de direito
público mantém-se como um referencial decisivo do processo de delimitação da AP. Na
verdade, um sujeito com personalidade de direito público pertence, seguramente, à AP e,
desde logo por esta razão, também seguramente, participa no exercício da função
administrativa.
No conceito de pessoas coletivas de direito público reúnem-se dois elementos: a presença
de uma organização dotada de personalidade jurídica, a que acresce a sua qualificação
como organização de direito público.
61.1 – Personalidade jurídica
As pessoas coletivas públicas ou de direito público são sujeitos de direito e estão, por
isso, em posição de poderem ser titulares de situações jurídicas subjetivas (em geral,
direitos e obrigações). Por deterem personalidade jurídica, as pessoas coletivas são
sujeitos de imputação jurídica final, estando, assim, em condição de suportar, em termos
definitivos e finais, a imputação dos efeitos jurídicos dos atos praticados pelos respetivos
órgãos.
Trata-se de pessoas coletivas, ou seja, organizações, que, nessa condição, conhecem
apenas uma existência jurídica ou institucional, sem uma correspondência real, física ou
material.
Pelo facto de ser investida de personalidade jurídica a entidade assume, por inerência ou
de forma automática, a capacidade jurídica genérica e torna-se titular de todos os direitos
e obrigações necessários ou convenientes à prossecução dos seus fins.
A presença do elemento subjetivo da personalidade jurídica revela-se essencial para
distinguir a categoria das pessoas coletivas públicas dos órgãos administrativos e dos
serviços administrativos e das entidades públicas sem personalidade jurídica.
Em regra, a atribuição de personalidade jurídica a um determinado organismo ou serviço
depende da opção de natureza político-legislativa, do poder de organização da
Administração. Compreende-se, por isso, que se revele decisiva a indicação legal sobre
se uma certa organização constitui uma pessoa coletiva de direito público.
Só por si, a denominação oficial de um organismo pode não desvendar se se trata de uma
pessoa jurídica ou de um órgão ou de um serviço administrativo ou, ainda, de uma
entidade pública sem personalidade jurídica.
Contudo, em certos casos, por força da indicação legal, revela-se possível identificar
imediatamente a condição subjetiva pública de determinadas entidades. Eis o que sucede
com os institutos públicos, que são pessoas coletivas de direito público, e devem incluir
na sua denominação a designação ‘Instituto, IP’ ou ‘Fundação, IP’: a designação IP indica
tratar-se de um instituto público e, logo, de uma pessoa coletiva de direito público.
74
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Situação análoga à dos institutos públicos verifica-se no caso das entidades públicas
empresariais cuja denominação deve, nos termos da lei, integrar a expressão ‘entidade
pública empresarial’ ou as iniciais EPE.
Conduzem ao mesmo resultado de identificação imediata de uma entidade como pessoa
coletiva de direito público, as situações em que a lei reserva a denominação de certas
entidades para pessoas coletivas públicas: eis o que sucede com as referências ‘ordem
profissional’ ou ‘câmara profissional’ que, nos termos da lei, apenas podem ser utilizadas
por associações públicas.
61.2 – Do direito público
Dentro do universo dos organismos e entidades com personalidade jurídica, as pessoas
coletivas de direito público distinguem-se pelo facto de deterem uma personalidade
jurídica pública ou de direito público.
Por deter uma personalidade de direito público, uma entidade vai deter, além da
capacidade jurídica genérica (de direito privado), uma capacidade específica de direito
público, assumindo a titularidade de um conjunto definido, enumerado, de poderes e de
deveres de natureza jurídico-administrativa.
O elemento “de direito público” subentende, a distinção entre pessoas coletivas públicas
e pessoas coletivas privadas.
a) Continuação da importância da distinção entre pessoas coletivas de direito
público e pessoas de direito privado
O facto de o direito público poder aplicar-se não só à atuação de pessoas públicas,
mas também à de pessoas privadas, bem como a circunstância de tanto umas como
outras poderem executar tarefas públicas não devem precipitar a conclusão de que a
distinção entre direito público e privado perdeu relevo. A natureza, pública ou
privada, da personalidade jurídica continua a estar associada à estrutura dualista da
ordem jurídica. A criação de uma entidade com personalidade de direito público
implica a sua entrada automática na esfera pública, no grupo das organizações que
integram a máquina ou o aparelho administrativo e implica também a publicitação das
tarefas de que fica incumbida. Além disso, a ação pública das pessoas públicas é, em
princípio, regida pelo direito público administrativo: princípios gerais e regras de
direito administrativo procedimental e substantivo, regime da responsabilidade civil
e submissão à justiça administrativa.
b) Critérios jurídicos de distinção entre pessoas coletivas de direito público e
pessoas coletivas de direito privado
A distinção requer um critério de orientação que permita, em concreto, identificar a
natureza jurídica de um sujeito. Mas o recurso a esse critério não se revela necessário
em todos os casos: há pessoas que são por natureza privadas ou públicas e há outras
que o legislador qualifica como revestindo uma ou outra natureza.
75
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
- PESSOAS PÚBLICAS POR NATUREZA E PESSOAS PRIVADAS POR
NATUREZA
Pessoas de direito privado por natureza são os indivíduos: a personalidade das pessoas
físicas ou humanas é sempre e apenas uma personalidade de direito privado.
Há também pessoas de direito público por natureza: eis o caso das entidades públicas
primárias, das pessoas coletivas de população e território ou pessoas coletivas
territoriais, como o Estado, as regiões autónomas, os municípios e as freguesias.
- QUALIFICAÇÃO OU INDICAÇÃO LEGAL
Frequentemente a lei indica a natureza jurídica de uma entidade. Uma indicação
legislativa deste tipo impõe-se ao intérprete, mesmo se o regime jurídico desenhado
não se revela, num ou noutro ponto, inteiramente coerente com a mesma.
Entre os casos em que a questão da qualificação se resolve por via legal contam-se
também aqueles em que a lei indica expressa e abertamente a natureza de uma
entidade, bem como quando a lei fornece uma indicação explícita nesse sentido.
Além disso, uma indicação implícita pode revelar-se suficiente: assim sucede se a lei
ou um outro ato cria uma entidade num formato exclusivo do direito privado. Mesmo
que criada por iniciativa pública, uma entidade que reveste um formato próprio do
direito privado deve considerar-se uma pessoa de direito privado.
- CRITÉRIO DOUTRINAL
A natureza jurídica de uma entidade resulta, em regra, da indicação legal, quer no
sentido de que se trata de uma pessoa pública, quer no da sua qualificação como
pessoa privada. Mas pode suceder que a lei ou o ato instituidor não tomem posição,
caso em que deverá o intérprete mobilizar fatores que lhe permitam apurar a natureza
jurídica de um sujeito.
Considerando-se, como ponto de partida, uma noção residual de pessoa privada, o
ponto essencial reside em identificar um critério da personalidade pública ou critério
da publicidade.
Para esse efeito, deverá usar-se um critério misto, que conjugue os seguintes fatores
ou índices de publicidade:
1) Criação por iniciativa pública – em primeiro lugar a qualificação pública
depende de a entidade ser criada por um ato de uma entidade pública ou, pelo
menos, por um ato jurídico em cujo momento constitutivo participe uma
entidade pública.
Se a entidade cuja natureza se procura determinar é criada por um ato da
autoria e da livre iniciativa de particulares, a questão está resolvida, pois os
particulares não podem criar pessoas coletivas públicas. Mesmo que uma
entidade criada por particulares possa vir a ser investida de um estatuto
público, o fator da criação particular constitui elemento determinante da
qualificação dela como pessoa de direito privado
Não há entidades públicas criadas por ato de iniciativa particular. A questão
ficaria resolvida se o contrário fosse verdadeiro. Mas não é: por iniciativa de
76
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
uma entidade pública podem criar-se pessoas públicas, mas também pessoas
privadas.
2) Criação por lei ou por um ato público baseado numa lei – A criação de uma
pessoa pública exige sempre a iniciativa de outra pessoa pública. Estando esse
requisito preenchido, interessa determinar a seguir a natureza jurídica do ato
instituidor, porquanto a pessoa pública tem de ser criada por um ato de direito
público.
Pois bem, o ato de criação reveste seguramente natureza jurídico-privada
quando praticado no exercício da capacidade jurídica privada da pessoa
pública: pode ser um ato unilateral (criação de uma sociedade unipessoal) ou
contratual (criação de uma associação). Uma vez que um ato de direito privado
não pode criar uma pessoa pública, a qualificação que se procura estará
encontrada: personalidade jurídica privada.
A criação de uma pessoa pública deverá, portanto, basear-se num ato de direito
público, que pode ser uma lei ou um ato praticado ao abrigo de uma lei
especialmente dirigida à entidade pública enquanto titular de funções públicas.
O ‘outro ato’ pode ser um regulamento, um ato administrativo ou um contrato
administrativo.
Sendo o ato de criação de uma pessoa coletiva uma lei ou um ato praticado ao
abrigo de uma lei especialmente dirigida a uma pessoa coletiva pública
enquanto tal, impõe-se qualificá-lo como ato de direito público. Porém, a
natureza da entidade instituída não pode ficar determinada, pois, por um ato
dessa natureza (lei ou ato administrativo) também podem ser criadas pessoas
de direito privado.
3) Sujeição da entidade a um regime de direito público – Além dos requisitos
anteriores, a qualificação pública de uma entidade depende ainda da sua
sujeição legal a um regime de direito público, que pode projetar-se no plano
das relações internas ou no plano da atuação externa e da regulação das suas
relações com terceiras entidades.
Assim, uma entidade criada por iniciativa pública e por um ato de direito
público deve qualificar-se como pessoa pública, desde que se encontre
submetida a um regime de direito público expressamente previsto e definido
por lei. A sujeição a um regime jurídico com estes contornos não é uma
consequência, mas antes um fundamento da natureza pública de uma entidade.
- QUALIFICAÇÃO LEGAL E CRITÉRIO (DOUTRINAL) DA PERSONALIDADE
JÚRIDICA
Do critério aqui proposto resulta que a pessoa coletiva do direito público se pode definir
como uma entidade criada por lei ou por um ato público com fundamento numa lei, que
expressamente a submete a um específico regime de direito público ou a investe de
poderes públicos indissociáveis da função pública que lhe está confiada.
Pode, porém, suceder que todos os requisitos da personalidade jurídica pública se
verifiquem em relação a uma determinada entidade que, apesar disso, a lei qualifica como
entidade de direito privado.
77
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Assim, a proposta definição doutrinal de entidade pública é suscetível de abranger, nos
seus termos literais, entidades privadas. Por isso, a definição deve ser integrada com os
seguintes detalhes, a acrescentar no início e no final: «Pessoa coletiva de direito público
é, além da que como tal seja qualificada por lei, a entidade criada por uma lei ou ato
público com fundamento numa lei, que expressamente a submete a um específico regime
de direito público ou a investe de poderes públicos indissociáveis da função pública que
lhe está confiada, se a lei a não qualificar como pessoa de direito privado».
- APLICAÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO
Vamos agora aplicar o critério adotado na tarefa de determinar a natureza das associações
de freguesias e de municípios de fins específicos. As associações de autarquias locais são
instituídas por iniciativa dos municípios ou das freguesias interessados, que se constituem
por contrato e que se regem, além do mais, pela legislação aplicável às pessoas coletivas
públicas.
Na nossa interpretação trata-se de pessoas coletivas de direito público, visto que:
. são criadas
. são criadas por iniciativa pública
. por ato praticado pelas autarquias interessadas ao abrigo de uma norma legal que
lhes é especialmente dirigida
. ficam expressamente submetidas a um regime de direito público
. não são qualificadas como pessoas de direito privado.
67 – Categorias de pessoas coletivas públicas
Também no DA português existem inúmeras pessoas coletivas públicas.
67.1 – Pessoas coletivas públicas de fins gerais e Pessoas coletivas públicas
de fins específicos
Considerando as atribuições conferidas às várias entidades públicas, podemos distinguir
entre pessoas públicas de fins gerais e pessoas públicas de fins específicos.
As primeiras incluem o Estado, as regiões autónomas e as autarquias locais e dedicam-se
à prossecução de finalidades públicas genericamente definidas na lei, com recurso a
cláusulas gerais ou exemplificativas. Em regra, estas entidades ocupam-se, ou estão em
condições de se ocuparem de quaisquer assuntos administrativos relacionados com os
interesses das populações que residem num determinado território. Assim, as autarquias
locais visam a prossecução de interesses próprios das populações respetivas.
78
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
No direito português; temos assim uma correspondência entre a prossecução de fins
administrativos gerais e a categoria das pessoas públicas de população e território ou
pessoas coletivas territoriais.
Não deve confundir-se a categoria das pessoas dos ‘fins gerais’ com o facto de uma
entidade prosseguir vários fins previstos na lei. Assim, as entidades intermunicipais
prosseguem vários fins, mas não são pessoas coletivas de fins gerais, pois que, em
qualquer caso só se ocupam dos fins especificamente previstos em lei e não (como as
autarquias locais) de quaisquer assuntos de interesse local. Nestes termos, as pessoas
coletivas de fins específicos podem ter um fim singular ou fins múltiplos.
De fins gerais são, pois, as pessoas coletivas de população e território, ou seja, o Estado,
as regiões autónomas e as autarquias locais (municípios e freguesias).
Todas as outras pessoas coletivas públicas (institutos públicos, associações públicas e
entidades públicas empresariais) ocupam-se da prossecução de fins específicos.
67.2 – Pessoas coletivas públicas principais e Pessoas coletivas públicas
instrumentais
Algumas pessoas coletivas públicas são criadas para a prossecução de interesses públicos
que a lei define e configura como interesses públicos próprios dessas pessoas: tipicamente
é o caso do Estado e, em geral, das pessoas coletivas públicas de população e território.
Na verdade, o Estado, os municípios ou as freguesias ocupam-se com a prossecução de
interesses públicos cuja realização a lei lhes confia e define como seus. Já fora do conceito
de pessoas coletivas de população e território, o mesmo fenómeno ocorre com algumas
associações públicas, concretamente as associações instituídas no contexto de um
processo de descentralização e em suporte de formas de Administração autónoma
corporativa: caso paradigmático é o das associações públicas profissionais, que
prosseguem interesses públicos que o Estado abdicou de assumir como seus.
As pessoas coletivas públicas que prosseguem interesses públicos próprios ou que são
instituídas para se ocuparem de interesses que a lei define como próprios delas, designam-
se pessoas coletivas públicas principais ou primárias. A instituição destas pessoas
coletivas representa uma solução da ordem jurídica quanto à responsabilidade última pela
gestão de um determinado interesse público.
As pessoas coletivas instrumentais (ou secundárias) são instituídas para se dedicarem à
prossecução, ainda que em nome próprio, de interesses públicos que a lei mantém na
titularidade e sob a responsabilidade última de outras pessoas coletivas (principais). A
criação de entidades instrumentais ocorre no desenvolvimento de processos de
desconcentração intersubjetiva, pelo que a pessoa coletiva instrumental constitui um meio
de administração indireta da pessoa coletiva principal.
Em regra, e aliás em coerência com a ideia de instrumentalidade, a entidade instrumental
é orientada pela entidade principal: este é o espaço normal da relação de superintendência.
Todavia, há desvios importantes a essa regra, que resultam da existência de entidades
79
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
instrumentais, mas independentes, bem como de entidades instrumentais que beneficiam
de garantias de autonomia e autogoverno.
68 – Elenco típico das pessoas coletivas públicas
O elenco das pessoas coletivas públicas, ou de direito público, inclui as seguintes
categorias:
- Estado
- Regiões Autónomas
- Municípios e freguesias (autarquias locais)
- Institutos públicos
- Associações públicas
- Entidades públicas empresariais
a) Estado
O Estado, na sua veste jurídico-administrativa, é a pessoa coletiva pública primeira
ou de base: é o titular originário dos seus próprios poderes, posto que não os recebe
de qualquer outra instância.
O Estado desempenha as missões que lhe estão confiadas diretamente, por meio dos
seus órgãos e serviços (administração direta), em regra, sob a dependência direta do
Governo. A AP estadual apresenta, todavia, um âmbito mais amplo, e abrange
múltiplas formas de Administração estadual indireta, em cuja execução vão surgir
vários tipos de pessoas coletivas públicas instrumentais.
b) Autarquias locais
Integram a AP autónoma territorial.
c) Institutos públicos
Formam uma categoria muito heterogénea que abriga vários tipos de entidades
públicas de base institucional, com localizações diferenciadas na organização
administrativa do Estado: institutos públicos integrados em ministérios e submetidos
a tutela e superintendência do Governo, na Administração estadual indireta sob
orientação do Governo, subcategoria que inclui diferentes tipos de institutos públicos,
como os serviços personalizados e os fundos ou fundações públicas; instituições de
ensino superior públicas, que se reconduzem à Administração indireta com
autogoverno; entidades administrativas independentes, que integram a Administração
estadual independente.
80
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
d) Associações públicas
São associações, têm base corporativa e, portanto, como dominante do seu substrato
o elemento pessoal (conjunto de pessoas); são instituídas para a prossecução conjunta
de atribuições das entidades associadas, cuja execução administrativa é confiada ao
conjunto das pessoas diretamente interessadas, as quais integram a associação.
Representam uma categoria heterogénea, na qual se integram as associações públicas
de interessados, as associações públicas interadministrativas e as associações públicas
em condomínio público-privado.
As associações públicas podem dedicar-se à realização de tarefas públicas próprias,
relativas aos interesses dos respetivos associados, localizando-se, nesse caso, no setor
da administração autónoma corporativa; mas também podem ser instituídas para a
realização de fins estaduais ou para a realização de fins públicos das entidades que se
associam.
e) Entidades públicas empresariais
São pessoas coletivas de direito público criadas pelo Estado com o objetivo de intervir
no mercado, como ator económico, na prestação de serviços ou no fornecimento de
bens. São abrangidas pelo conceito de empresa pública e integram a administração
estadual indireta em formato empresarial.
69 – Atribuições das pessoas coletivas públicas
As pessoas coletivas de direito público existem para prosseguir fins; a instituição de uma
pessoa coletiva pública exprime a individualização de um centro de referência de um ou
vários interesses públicos. A essa prossecução de interesses públicos que são atribuídos,
dá-se o nome de função ou missão da pessoa coletiva.
69.1 – Atribuições: os fins das pessoas coletivas públicas
As atribuições correspondem aos fins, às finalidades de interesse público, por ex.: os
municípios dispõem de atribuições nos domínios do ordenamento do território, da recolha
de resíduos, etc.
A indicação das atribuições da pessoa coletiva tem, então, um sentido finalístico, ao
apontar as finalidades de uma entidade; mas fornece também uma indicação sobre o
conteúdo da missão ou das missões dessa entidade.
Existe um princípio de correspondência (ainda que não absoluta) entre os conceitos de
pessoa coletiva de direito público e de atribuições. Compreende-se que assim seja, pois,
cada pessoa de direito púbico, é criada para a realização de uma ou várias finalidades de
interesse público.
Contudo, e como se disse, essa correspondência não se revela absoluta. Com efeito, nos
casos do Estado e das regiões autónomas, por causa da pluralidade dos interesses que
81
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
curam e das finalidades que prosseguem, as atribuições encontram-se funcionalmente
‘separadas’ pelos vários departamentos governamentais: no caso do Estado, temos os
ministérios e, nas regiões autónomas, as secretarias regionais. A cada ministério e a cada
secretaria regional, encontra-se confiada a realização de finalidades específicas, que
correspondem às suas atribuições.
Observe-se ainda, que os ministérios, não tendo personalidade jurídica, têm, porém,
personalidade judiciária.
70 – Capacidade jurídica pública das pessoas coletivas públicas
As pessoas coletivas detêm capacidade jurídica genérica para atuar no âmbito do direito
privado, em conjugação com as normas que indicam as respetivas atribuições. E atuam,
em regra, ao abrigo de normas que se lhes dirigem enquanto tais, e, portanto, no exercício
de poderes de DA, que é o seu direito comum ou geral. Neste contexto, elas atuam no
exercício de uma capacidade jurídica pública, de DA.
70.1 – Capacidade jurídica pública em sentido material
As pessoas coletivas públicas desenvolvem as finalidades que lhes estão confiadas através
da ação de órgãos. Estes órgãos, são os instrumentos ou as unidades de ação das pessoas
coletivas, são repartições organizativas internas da pessoa coletiva.
Cada um dos órgãos da pessoa coletiva tem a sua esfera de ação própria, os seus poderes
ou competências. Existe assim uma correspondência formal entre órgão administrativo e
competência administrativa, no duplo sentido de que os órgãos têm competências e as
competências são os poderes dos órgãos.
Poderá então compreender-se a tentação para estabelecer um duplo nível de
correspondência: ‘pessoa coletiva de direito público (ou ministério) e atribuições’, por
um lado; e ‘órgão e competência’, por outro.
Cada um desses grupos de correspondências está certo, mas já não se apresenta correta a
conclusão segundo a qual a competência está para o órgão, como a atribuição está para a
pessoa coletiva de direito público. Esta relação de equivalência não existe.
Na verdade, as atribuições referem-se às finalidades da pessoa coletiva; não lhe atribuem
uma capacidade jurídica de ação. Embora referida a órgãos e não a pessoas coletivas, é
precisamente essa a dimensão em que se situa o conceito de competência (material): a
competência representa um poder e indica a capacidade de ação de um órgão.
Assim, nenhum dos conceitos fornece qualquer indicação sobre o conjunto de poderes de
direito público ou a capacidade jurídica pública das pessoas coletivas de direito público.
Essa capacidade determina-se nos termos seguintes:
- A capacidade jurídica de uma pessoa coletiva resulta da soma das competências
dos seus órgãos.
82
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
É a soma das competências dos seus vários órgãos que permite perceber o que é que uma
pessoa coletiva pública pode fazer, que poderes e que deveres detém e de que relações
jurídicas pode ser parte no âmbito do DA.
O fator decisivo para delimitar a capacidade de direito público da pessoa coletiva pública
é, pois, a competência dos órgãos. A lei não atribui poderes (competências) às pessoas
coletivas, mas antes, apenas, aos respetivos órgãos.
Assim, o facto de um determinado órgão da pessoa coletiva pública atuar fora da sua
competência não envolve necessariamente um problema de incapacidade da pessoa
coletiva. Importará apurar se a competência que o órgão exerceu pertence a outro órgão
da mesma pessoa coletiva ou se, pelo contrário, esse poder não pertence a nenhum órgão
daquela pessoa. O primeiro caso reconduz-se a um problema de incompetência do órgão
que atuou; é o órgão que não dispõe de competência para a ação efetuada, mas esta ação
cabe na capacidade da pessoa de direito público a que o órgão pertence. O segundo já
traduz uma incapacidade da própria pessoa coletiva pública a que pertence o órgão; a
própria pessoa coletiva não dispõe de capacidade jurídica para assumir a ação efetuada.
Diferentemente da capacidade de direito privado, que se apresenta como uma capacidade
genérica, a capacidade de direito público é uma capacidade jurídica específica, que
abrange apenas os direitos e obrigações enumeradas que a lei confere aos respetivos
órgãos - princípio da enumeração das competências públicas.
72 – Conceito de órgão administrativo
As pessoas coletivas são centros de imputação jurídica, mas não são humanas, não têm
vida, nem pensamento. Trata-se de organizações: Estado português, Município de Lisboa,
UC, …
O ordenamento jurídico vai também conceber as pessoas coletivas como pessoas que
atuam através de órgãos. Agora já se fala de Governo, Ministérios e de Inspetor-geral
(órgãos do Estado), de câmara municipal ou presidente da câmara (órgãos do município),
de reitor e conselho geral (órgãos das universidades), …
Como pessoas coletivas, os órgãos das pessoas coletivas também não existem no mundo
físico: têm uma existência apenas jurídica, com um recorte abstrato e não real ou físico.
Os órgãos administrativos constituem, também eles, centros de imputação jurídica; são
investidos de poderes e deveres (competências) e suportam, no plano jurídico, a
imputação da atividade que os respetivos titulares desenvolvem no exercício daqueles
poderes e deveres.
Contudo, por falta de personalidade jurídica, não se apresentam como centros de
imputação jurídica final ou definitiva: a imputação final da sua atuação efetiva-se na
pessoa coletiva a que pertencem. A ação externa da AP pressupõe uma dupla imputação:
o A ação (humana) dos titulares dos órgãos é imputada aos órgãos (imputação
transitória)
o E, logicamente a seguir, à pessoa coletiva (imputação final).
83
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Órgão administrativo: centro institucionalizado, uma estrutura organizativa ou unidade
de ação, inserido numa pessoa coletiva de direito público, titular de poderes e deveres
(competências) e por meio da qual a pessoa coletiva desenvolve a sua ação e se relaciona
juridicamente com outros sujeitos.
A atuação do órgão surge automaticamente atribuída, imputada à pessoa coletiva pública
a que pertence. O órgão administrativo não representa a pessoa coletiva pública de que
faz parte. Constitui antes uma estrutura subjetiva e uma unidade de ação dessa pessoa. A
ação do órgão é, imediata e automaticamente, ação da pessoa coletiva.
No DA, pode dizer-se que, classicamente, a figura subjetiva de referência é o órgão e não
propriamente a pessoa coletiva. Note-se que até a própria referência ao conceito no CPA
‘órgão da AP’ sugere que se trata de uma figura primária, ignorando a pessoa coletiva.
Contudo, em rigor, no plano da compreensão da estrutura administrativa, os órgãos
administrativos constituem um ‘segundo escalão’, situado a seguir às pessoas coletivas
públicas. Esta leitura permite ainda enquadrar os órgãos nos processos de distribuição de
funções e de competências administrativas.
O órgão é criado por lei ou por um ato da Administração com fundamento na lei.
75 – Titulares dos órgãos e relação orgânica de imputação
A pessoa de direito público atua juridicamente por intermédio de órgãos. Mas os órgãos,
como aliás as próprias pessoas de direito público, não tem existência física; trata-se, antes,
de figuras puramente abstratas, de instituições, dotadas de uma existência apenas jurídica.
O legislador institui as pessoas coletivas públicas, indica os respetivos órgãos e as
competências destes. Tudo isto está concretizado na lei ou numa outra norma jurídica e
é, portanto, neste cosmos jurídico e abstrato que as pessoas coletivas públicas e os órgãos
existem.
Para fazer os órgãos funcionar e pôr em prática as competências que a lei lhes confere,
são imprescindíveis pessoas físicas, capazes de pensar e de agir no plano físico. Surge,
neste contexto, a figura do titular do órgão ou do membro do órgão.
A pessoa física que assume a titularidade ou condição de membro do órgão não representa
este; não se trata de um representante. Trata-se do desenvolvimento de uma atuação direta
e imediatamente do órgão. Ou seja, entre o órgão e o titular não existe qualquer relação
de representação, mas sim uma relação orgânica de imputação. Ocorre também agora, um
fenómeno de imputação jurídica, de atribuição da atuação do titular do órgão ao próprio
órgão; tudo se passa, juridicamente, como se fosse o próprio a agir diretamente, sem a
intermediação da pessoa física.
A ação dos titulares do órgão é a ação do órgão: existe aqui uma imputação transitória, a
ação do órgão é a ação da pessoa coletiva, verificando-se, apenas num segundo momento
lógico, uma imputação final. A imputação final ou definitiva ocorre com a atribuição da
atuação do órgão à pessoa coletiva, pois só esta tem personalidade jurídica e capacidade
jurídica para ser titular de poderes e deveres.
84
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
O órgão não representa a pessoa coletiva de que faz parte. O titular do órgão também não
representa o órgão, nem a pessoa coletiva de que este faz parte. Não existe uma relação
de representação, mas, em ambos os casos, uma relação orgânica de imputação.
80 – Conflitos de interesses, impedimentos e suspeições
Os indivíduos que assumem a condição de titulares dos órgãos administrativos têm a
responsabilidade de lhes dar vida e de os fazer funcionar. Os titulares dos órgãos têm,
pois, de exercer os poderes ou competências que a lei entrega aos órgãos, enquanto,
precisamente, centros de competências.
Sucede, porém, que a lei proíbe ou limita a intervenção desses indivíduos na condição de
titulares dos órgãos nas situações de impedimento ou de suspeição. Estas figuras são, nos
termos da lei, ‘garantias da imparcialidade’ e constituem mecanismos de resolução ou de
gestão de conflitos de interesses.
a) Conflitos de interesses
A AP é, em bloco, uma organização exclusivamente ao serviço do interesse público.
Todas as entidades que a integram e cada órgão dessas entidades têm a incumbência
constitucional e legal de prosseguir o interesse público, tal como definido pelo
legislador. Por consequência, os titulares dos órgãos e, em geral, todos os indivíduos
que servem a Administração estão exclusivamente ao serviço do interesse público.
À exigência constitucional e legal de exercício da função administrativa ter de se fazer
ao serviço do interesse público associa-se o princípio da imparcialidade.
Na condição de titulares de órgãos e no exercício de competências administrativas, os
indivíduos devem agir ao serviço do interesse público e, por isso, com imparcialidade,
isenção e independência, sem misturar a consideração de interesses não atendíveis e
que possam infetar ou inquinar o processo de ponderação valorativa dos interesses
relevantes no contexto decisório.
Os titulares dos órgãos da AP são pessoas humanas que, desde logo, têm interesses
pessoais do mais variado recorte (financeiros, de progressão profissional, …).
Ora a presença de interesses pessoais dos titulares dos órgãos no momento do
exercício das competências representa um risco evidente para a consideração
exclusiva dos interesses pertinentes e para a atuação imparcial da Administração.
Independentemente da predisposição psicológica ou da intenção efetiva do agente em
se prevalecer da sua condição para obter um favorecimento pessoal, surge aqui um
risco de contaminação do exercício da competência administrativa, o qual, em vez de
servir o interesse público, pode ver-se posto ao serviço de interesses pessoais.
Pois bem, quando, numa situação determinada do exercício da função administrativa,
se cruza a presença de interesses particulares do agente, temos um caso de conflito de
interesses, uma situação em que, no exercício da sua competência num caso concreto,
um agente da Administração tem, de forma direta ou indireta, um interesse pessoal,
alheio aos interesses que deve ponderar, que, por isso, é suscetível de comprometer a
85
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
sua imparcialidade, isenção e independência na condução de um procedimento, na
tomada de uma decisão ou na celebração de um contrato.
b) Prevenção e resolução do conflito de interesses
Nem sempre é possível prevenir os conflitos de interesses.
Contudo, existem institutos, mecanismos e medidas idealizados para evitar ou
prevenir situações futuras e previsíveis de conflitos de interesses.
Todavia, a prevenção não é suficiente, e não evita a ocorrência de situações de conflito
de interesses, as quais, podem surgir em qualquer circunstância. Exige-se então a
mobilização de mecanismos de gestão (identificação) e de resolução de conflitos de
interesses: é este o domínio de intervenção das garantias de imparcialidade previstas
no CPA, os impedimentos e as suspeições.
c) Conflitos de interesses estruturais/funcionais; reais/aparentes e atuais/potenciais
De acordo com um primeiro critério, os conflitos de interesses podem classificar-se
em estruturais e funcionais. Os ‘conflitos de interesses estruturais’ referem-se a
situações em que a lei fixa uma regra geral de não conciliação do exercício de uma
determinada atividade ou função com outra ou outras atividades ou funções. São
tipicamente casos de incompatibilidade (incompatibilidade entre o exercício de uma
função pública e quaisquer outras funções, públicas ou privadas).
O conflito de interesse estrutural dá, assim, lugar a uma situação de
incompatibilidade, a qual tem um alcance geral e atinge, em bloco, uma determinada
atividade ou função. Ao invés o conflito de interesse funcional apresenta um caráter
pontual e circunscrito a uma situação concreta e definida, e, em princípio, gera um
dever de abstenção ou de não intervenção apenas na situação concreta (impedimento).
Podemos ainda distinguir os conflitos de interesse em reais ou aparentes: ‘reais’ são
os conflitos relacionados com a presença efetiva e comprovada de um interesse
pessoal do agente público capaz de contaminar o seu dever de imparcialidade;
‘aparentes’ são os conflitos que resultam da dúvida que se possa suscitar no espírito
de uma pessoa razoável sobre a atuação imparcial de um agente público.
Na categoria dos conflitos reais, distinguem-se os conflitos ‘atuais’, se o interesse
pessoal está presente e envolvido numa situação concreta; dos conflitos ‘potenciais’,
que ocorrem quando, não estando ainda presente na situação concreta, o interesse
pessoal do agente surge previsivelmente em momento posterior.
d) Impedimentos e suspeições no CPA
No DA português, os mecanismos de resolução de conflitos de interesses funcionais
consistem na arguição e declaração de impedimento ou no pedido e decisão de escusa.
Estes mecanismos correspondem às garantias de imparcialidade e representam
86
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
soluções organizatórias e procedimentais indispensáveis à preservação da isenção
administrativa.
Além de conceber mecanismos de resolução, a lei define critérios de identificação dos
conflitos de interesses funcionais. A lei não opera com as categorias de conflitos
reais/aparentes de conflitos atuais/potenciais. Assim, não revelam entre nós, os
conflitos potenciais, dado que, tanto os impedimentos como as suspeições supõem um
conflito de interesses atual, no âmbito de um concreto procedimento, ato ou contrato.
Mas já quanto à distinção entre conflitos reais e aparentes, pode dizer-se que, em
alguns casos, os impedimentos correspondem a casos de conflitos reais e os casos de
suspeição, que se baseiam na presença de circunstância pela qual se possa com
razoabilidade duvidar seriamente da imparcialidade da conduta ou decisão do órgão
ou agente, apontam para a ideia de conflito aparente, associados a um regime que
tutela o valor da aparência de imparcialidade. Mas, sobretudo quanto à consideração
dos impedimentos como conflitos reais, trata-se de uma tendência e não de um
elemento de identificação definitiva válido em todos os casos, pois também é certo
que a lei define muitos deles como impedimentos em homenagem ao valor da
aparência da imparcialidade.
Pode acontecer que os valores da imparcialidade e da isenção sejam postos em crise
por outras situações reconduzíveis à ideia de conflitos de interesses, mas que não estão
contempladas como impedimentos, nem tão-pouco como suspeições. E claro,
demonstrando-se que a Administração atuou de forma parcial e não neutra, o
veredicto da ilegalidade impõe-se em razão da violação do princípio da
imparcialidade.
Além disso, em relação às situações legalmente previstas de impedimento e
suspeição, importa notar:
o O caráter aberto do conceito jurídico de ‘ter interesse’ em procedimento, ato
ou contrato
o O caráter exemplificativo dos fundamentos de pedido e de decisão de escusa
81 – Impedimentos
O conceito de impedimento indica que o titular do órgão fica impedido de intervir em
procedimento, de tomar decisão ou de participar na celebração de contrato.
A ocorrência da situação que gera um impedimento tem efeitos imediatos para o titular
do órgão, o qual deve comunicar o facto e suspender imediatamente a sua atividade.
81.1 – Casos de impedimento
A situação de impedimento resulta da conjugação de um elemento ou fator objetivo,
relativo ao tipo ou natureza de intervenção do titular do órgão, e um elemento subjetivo,
relacionado com a verificação de uma situação subjetiva, na pessoa do titular do órgão,
que exige o seu fundamento.
87
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
81.1.1 – Elemento objetivo (natureza da intervenção)
Em geral, as situações de impedimento são previstas com o objetivo de prevenir o risco
de o titular do órgão se determinar por considerações alheias aos interesses relevantes;
neste contexto, os impedimentos relevam especialmente em cenários em que o titular do
órgão tem, de algum modo, uma capacidade de influenciar o sentido ou o resultado da
ação da Administração.
A lei indica os tipos de intervenção que podem determinar impedimento:
i) Intervenção em procedimento administrativo: aqui está em causa a
intervenção na fase de formação de decisões administrativas e de contratos;
ainda que nem toda e qualquer intervenção em procedimento se deva
considerar atingida, parece indiscutível que se abrange a intervenção como
responsável do procedimento, a participação na discussão de propostas em
reuniões de órgãos colegiais, a apresentação de propostas e relatórios de apoio
à decisão ou a emissão de pareceres e estudos.
ii) Intervenção em ato administrativo: uma vez que a intervenção no
procedimento de formação do ato administrativo é causa autónoma de
impedimento, abrange-se aqui a intervenção no momento da prática do ato
(tomada de decisão) quer se trate de órgão unipessoal ou de órgão colegial.
iii) Intervenção em contrato de direito público (contrato administrativo) ou
contrato de direito privado da Administração: abrange o momento da
celebração ou outorga do contrato.
O sistema de impedimentos não abrange a edição de regulamentos administrativos, nem
outras medidas de caráter genérico, mas a presença de situações de conflito de interesses
terá decerto consequências também nesses casos, por força do princípio da
imparcialidade.
As intervenções referidas não originam impedimento quando se trate:
i) De intervenções dos titulares dos órgãos que se traduzam em atos de mero
expediente, designadamente atos certificativos – o sentido da solução legal
consiste em considerar irrelevante a eventual presença de um interesse pessoal
na produção de atos ou de operações que não são determináveis, nem quanto
à sua prática, nem quanto ao seu conteúdo, pela capacidade de influência do
titular do órgão; deve, contudo, notar-se que a referência a atos de ‘mero
expediente’ não se baseia só na natureza não discricionária, mas também na
natureza não decisória dos atos abrangidos; aqui entram as certidões
independentes de despacho, mas porventura, já não as que dependam de
despacho (decisão).
ii) Da emissão de parecer, na qualidade de membro do órgão colegial competente
para a decisão final, quando tal formalidade seja requerida pelas normas
aplicáveis, embora a formulação não seja clara, supomos que o que se pretende
aqui, é afastar o impedimento do membro do órgão para participar na
deliberação deste órgão que se pronuncie sobre um seu parecer, quando a
emissão deste é imposta por lei; na falta desta exclusão, existiria impedimento.
88
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
iii) No caso da pronúncia do autor do ato recorrido.
81.1.2 – Elemento subjetivo (situação pessoal do titular do órgão ou agente)
A existência de impedimento está relacionada com a situação pessoal do titular de órgão
ou agente que protagoniza uma intervenção relevante neste âmbito. A lei usa duas
metodologias para sinalizar a situação pessoal geradora de um impedimento.
a) Interesse no procedimento, ato ou contrato
A primeira consiste na referência ao facto de o titular do órgão ou agente ‘ter
interesse’ no procedimento, ato ou contrato, sendo que esse interesse pode ser direto,
do próprio (‘por si’), ou indireto (interesse indireto do titular por ser reportado ao
interesse direto no procedimento, ato ou contrato de pessoas próximas que a lei
identifica).
Este elemento subjetivo, não reclama a presença de um elemento psicológico, nem a
comprovação de um efetivo interesse do titular do órgão ou agente. Isto porque a
situação de impedimento não é determinada pela intencionalidade, que pode estar
ausente, nem tão-pouco pelo resultado de um benefício efetivo para o agente, mas
apenas pela verificação de uma situação objetiva que indicia, com suficiente precisão,
o perigo ou o risco de uma contaminação da intervenção do agente. Pode assim dizer-
se, que se protege o valor da imparcialidade aparente.
Mesmo quando aferido em função do interesse do titular do órgão, não se visa apenas
referenciar um interesse pessoal que se traduza necessariamente na obtenção de um
benefício para o próprio titular. Esse interesse pode existir (ex.: vantagem patrimonial
ou profissional), mas também pode estar ausente por se revelar de forma menos clara
(interesse em beneficiar alguém que pertence ao mesmo partido político).
O caráter aberto do conceito de “interesse no procedimento, ato ou conceito” pode
suscitar dúvidas sobre se numa determinada situação está presente um ‘interesse
pessoal’.
Pode suceder que a identificação do impedimento dependa da mera verificação de
uma situação de facto, presumindo-se imediatamente a existência do interesse (ex.: o
diretor-geral tem interesse na decisão sobre a atribuição de um subsídio a uma
empresa de que o seu filho é sócio).
b) Situações de interesse na defesa de posições previamente assumidas
O segundo método que a lei utiliza para identificar a situação pessoal que gera um
impedimento consiste na indicação de situações em que o titular do órgão ou agente
tem um interesse em defender posições previamente assumidas. Eis o que ocorre:
i) Com a intervenção do titular do órgão ou de ‘pessoa próxima’ no
procedimento como perito ou mandatário
ii) Quando o titular do órgão seja autor de parecer sobre a questão a resolver no
procedimento
89
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
iii) Quando se trate de recurso de decisão proferida por titular do órgão, com a
sua intervenção, ou proferida por pessoas próximas ou com intervenção
destas.
Em todos estes casos, a lei presume que o titular do órgão tem um interesse em defender
uma posição previamente assumida, por razões de coerência com o que ele próprio opinou
no parecer ou decidiu, ou por razões de proximidade com o autor do parecer ou da decisão
recorrida.
As situações típicas constitutivas de impedimento são as que a lei indica e não outras.
Contudo, em algumas situações próximas das que a lei enuncia, poderá haver fundamento
de escusa ou de suspeição.
82 – Escusa e suspeição
Os casos de que acima se falou, reportam-se a situações de conflitos de interesses que a
lei define taxativamente como de impedimento, conduzem a uma proibição estrita da
intervenção do titular do órgão e obrigam este a comunicar ao órgão competente, sob pena
de sanção disciplinar.
Mas podem verificar-se outras situações de conflitos de interesses mais ou menos
próximas daquelas, que, como os impedimentos, acabam por poder representar um risco
para a aparência de imparcialidade e de isenção da AP ou que, em qualquer caso, são
suscetíveis de colocar o titular do órgão administrativo numa situação incómoda, por, na
sua apreciação, poder gerar-se objetivamente uma dúvida séria sobre a sua
imparcialidade. Com o propósito de enquadrar em que termos se pode determinar a não
intervenção de titulares de órgãos administrativos em situações que a lei não tipifica como
impedimentos, o legislador delineou o regime jurídico do pedido de escusa ou de
dispensa de intervenção no procedimento e da oposição de suspeição – esta variação
semântica, tem que ver com quem coloca a questão em termos procedimentais: se o fizer
o titular do órgão, diz-se que “pede escusa ou dispensa”, se o fizer um interessado, diz-se
que “opõe suspeição” ou “deduz suspeição”.
84 – Conceito de órgão colegial
Órgãos colegiais são órgãos administrativos compostos por dois ou mais membros.
Diferentemente do que sucede com os órgãos singulares ou unipessoais, que exercem as
suas competências por meio de um só indivíduo e cujo funcionamento depende apenas
deste, a atuação dos órgãos colegiais reclama a atuação conjunta dos respetivos membros.
A competência administrativa que a lei lhes entrega tem de ser exercida por um colégio,
um coletivo de pessoas. Apesar da pluralidade genética e constitutiva, o colégio
corresponde a uma unidade orgânica, à qual, como unidade é juridicamente imputado o
efeito das manifestações de vontade da pluralidade dos indivíduos que o compõem,
valendo como ‘vontade colegial’ a vontade da maioria dos seus membros, expressa
através de voto de cada um. O órgão colegial constitui uma unidade em si, que transcende
90
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
e que supera os indivíduos que o compõem, um corpo permanente e sempre idêntico mau
grado a mudança dos seus membros.
Na conceção clássica, o órgão colegial funda-se no princípio do unitas actus,
correspondente a uma tripla unidade: de tempo, de lugar e de ação de todos os membros;
o órgão colegial tem de reunir os seus membros num mesmo contexto logístico e
temporal. Daqui decorre como elemento essencial do funcionamento do órgão a reunião
dos indivíduos que o compõem num mesmo local e à mesma hora.
A conjugação das posições individuais dos vários membros do órgão vai dar origem a
uma posição coletiva e colegial, considerada a posição do órgão; esta é formalizada numa
deliberação. Nas notas da pluralidade presencial e participativa e da formação coletiva da
vontade unitária da Administração concretiza-se o princípio da colegialidade.
Neste âmbito distingue-se colegialidade perfeita de colegialidade imperfeita.
Órgãos colegiais perfeitos são os que apenas podem funcionar com a presença do número
legal de membros, devendo todos esses participar na discussão, e sendo as respetivas
deliberações tomadas por consenso. Os órgãos colegiais imperfeitos são os que podem
funcionar sem a presença de todos os membros e em que as respetivas deliberações podem
ser adotadas por uma parte dos membros presentes (em regra, a maioria absoluta dos
votos dos membros).
A regra do direito português é da colegialidade imperfeita.
O exercício da competência do órgão colegial reclama uma disciplina específica do
funcionamento do colégio, que regule, além do mais, tudo o que se relaciona com a
realização da reunião. Perspetivando a ação administrativa em termos procedimentais,
quer se trate da formação de um ato, de um regulamento ou de um contrato, a intervenção
de um órgão colegial no procedimento envolve, em especial, uma sequência de atos e de
formalidades atinentes ao funcionamento do colégio a qual constitui uma espécie de
subprocedimento que se enxerta no procedimento de formação do ato, do regulamento ou
do contrato: subprocedimento colegial.
87 – Reunião
A reunião dos membros que integram o órgão colegial é momento essencial do
funcionamento dele. O órgão só pode funcionar entre os momentos formais do início e
do encerramento das reuniões.
Fora desses momentos, o órgão colegial existe como um centro ativo de imputação de
efeitos jurídicos. Percebe-se o caráter essencial deste elemento do regime de
funcionamento dos órgãos colegiais: pelo facto de estes, enquanto figuras abstratas,
assumirem e suportarem efeitos jurídicos decorrentes de atuações dos respetivos
membros, impõe-se, naturalmente, todas as cautelas na definição dos termos em que estes
membros podem imputar ou atribuir efeitos das suas próprias declarações e ações àquelas
figuras abstratas.
Antes da abertura e depois do encerramento, o órgão encontra-se inativo e incapaz de
funcionar: até podem estar reunidos os seus membros, mas este não está a funcionar, pelo
91
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
que as ‘conversas’, ou os ‘acordos’ e ‘posições comuns’ que entre os membros sejam
alcançados não valem, não podem valer, como deliberações do órgão colegial.
Para que se apresente como um centro operacional e capaz de suportar a imputação de
efeitos jurídicos da atuação dos seus membros, o órgão tem de reunir formalmente, o que
pressupõe a definição concreta de um início de reunião; deixa de estar ativo e de ser capaz
de suportar a imputação após o encerramento da reunião.
A reunião materializa-se num encontro pessoal e formal dos membros do órgão, um
encontro presencial, que pressupõe ou exige a presença física dos membros num
determinado local (ao contrário do que sucede com o funcionamento de órgãos no âmbito
do direito privado).
O encontro dos membros (que não podem fazer-se representar por um terceiro ou por um
outro membro do órgão) só assume a condição de reunião, se for precedido de uma
convocação formal dos membros para esse efeito.
As reuniões dos órgãos colegiais podem ser ordinárias ou extraordinárias: as primeiras
realizam-se regularmente, em datas certas (‘ao dia 20’) ou dias certos (‘terça e quinta
feira’) ou com uma cadência certa (‘uma vez por semana’), definida por lei ou em
regimento; as extraordinárias são as que se realizam fora da sequência normal das
reuniões ordinárias, de forma imprevista ou inesperada.
A reunião realiza-se dentro de um intervalo de tempo definido quanto à hora de início
(não quanto à hora de encerramento, podendo, todavia, esta ser estimada) e, em regra, de
uma forma contínua; porém, pode haver a interrupção ou a suspensão da reunião durante
um período de tempo definido (intervalo). Quando as circunstâncias o ditarem (ex.: não
ser cumprida a ordem do dia), a reunião pode ser interrompida ou suspensa e retomada
em outro dia.
87.1 – Convocação e envio da ordem do dia da reunião
Convocação – notificação, feita a todos os membros do órgão colegial sobre a reunião,
na qual se estabelece a ordem do dia e, se for caso disso, se fixa o dia e a hora da reunião.
Convocatória – é o documento que contém os elementos suprarreferidos.
a) Reuniões ordinárias
Neste caso, a convocação, embora não referida na lei, deve ter lugar e cabe, em regra,
ao presidente do órgão colegial.
A ordem do dia de cada reunião é estabelecida pelo presidente e deve incluir os
assuntos que para esse fim lhe forem indicados por qualquer vogal, desde que sejam
da competência do órgão e o pedido seja apresentado por escrito com uma
antecedência mínima de 5 dias sobre a data da reunião.
O direito de indicar assuntos para a ordem do dia pertence a todos os vogais, nas
condições indicadas e salvo disposição especial em contrário. Em caso de
92
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
incumprimento pelo presidente da obrigação de incluir na ordem do dia assuntos
indicados por vogal, este, querendo terá de reagir pela via judicial.
Salvo regime especial, a convocação deve ser efetuada nos mesmos termos em que se
efetuam, em geral, as notificações: notificação “por contacto pessoal com o
notificado”, também se podendo fazer a convocação por via eletrónica, para os
endereços eletrónicos de todos os membros do órgão, quando aqueles se encontrarem
registados nos termos estatutários ou regimentais.
A convocatória de reuniões ordinárias deve, em geral, ser entregue a todos os
membros com antecedência e, pelo menos, 48h sobre a data da reunião.
Nos casos em que a data e hora da reunião estejam previamente estabelecidas, não há,
em rigor, lugar a uma convocação da reunião, mas apenas ao envio da ordem do dia
da reunião agendada. A ordem do dia deve ser entregue a todos os membros com a
antecedência de, pelo menos, 48h sobre a data da reunião. Aplica-se ao envio da
ordem do dia, o regime de envio da convocação.
Quaisquer alterações ao dia e hora fixados para as reuniões devem ser comunicadas a
todos os membros do órgão, de forma a garantir o seu conhecimento seguro e
oportuno.
b) Reuniões extraordinárias
Em regra, as reuniões extraordinárias têm lugar mediante convocação do presidente:
a lei ou mesmo o regimento do órgão podem estabelecer coisa diferente.
O presidente é, contudo, obrigado a proceder à convocação sempre que, pelo menos,
um terço dos vogais lho solicitem por escrito, indicando o assunto que desejam ver
tratado.
Se o presidente não cumprir essa sua obrigação legal, os requerentes podem efetuar a
convocação diretamente, com invocação daquela circunstância, expedindo a
convocatória para os endereços eletrónicos de todos os membros do órgão, quando
aqueles se encontrem registados nos termos estatutários ou regimentais, ou
publicitando-a mediante publicação num jornal de circulação nacional ou local e nos
locais de estilo usados para a notificação edital.
A convocação da reunião extraordinária deve ser feita para um dos 15 dias seguintes
à apresentação do pedido, mas sempre com uma antecedência mínima de 48h sobre a
data da reunião. Da convocatória devem constar, de forma expressa e especificada, os
assuntos a tratar na reunião (como que a ordem do dia das reuniões ordinárias).
87.2 – Início da Reunião
A reunião inicia-se no local, dia e hora definidos previamente.
A declaração, pelo presidente, do início oficial da reunião deve ser precedida pela
verificação do preenchimento da exigência de quórum (número mínimo de membros que
93
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
tem de estar presente na reunião). Em regra, os órgãos colegiais só podem deliberar
quando esteja presente a maioria do número legal dos seus membros com direito a voto.
Não parece que se possa considerar legal ou regular a reunião de um órgão colegial
iniciada sem a presença do número legal mínimo de membros com direito a voto, assim,
a exigência de quórum estabelecida, deve considerar-se uma imposição de quórum de
funcionamento (e não apenas de quórum deliberativo).
A regra do CPA consiste em definir o quórum como a maioria do número legal de
membros com direito a voto: a referência à ‘maioria do número legal’ indica o número
que a lei (ou regulamento) define como número de membros do órgão e não o número
dos membros em efetividade de funções; ‘com direito a voto’, porque pode haver
membros sem direito a voto. Assim, num órgão com 7 membros com direito a voto, há
quórum quando estiverem presentes 4 membros; se o número legal for de 9, á quórum
com a presença de 5.
Quando não se verifique na primeira convocação o quórum previsto (ex.: de um órgão
com 7 membros com direito a voto, estão presentes 3), deve ser convocada nova reunião
com um intervalo mínimo de 24h. Nesta reunião, sempre que se não disponha de forma
diferente (em lei), o órgão pode deliberar desde que esteja presente um terço dos seus
membros com direito a voto.
Nos órgãos colegial compostos por 3 membros, é de dois o quórum necessário para
deliberar. O valor da colegialidade não se perde com órgãos a funcionar com dois
membros.
O quórum pode existir no início da reunião, mas deixar de existir em momento posterior.
Além disso, o quórum pode existir em relação ao funcionamento geral do órgão, mas não
se verificar para a tomada de uma deliberação específica.
As deliberações aprovadas com inobservância do quórum são nulas. É um vício que afeta
o valor da colegialidade.
Acabámos de analisar quem tem de estar presente na reunião. Passamos agora a procurar
perceber quem pode estar na reunião, quem pode assistir à reunião.
Ora, podem estar na reunião colegial, apenas os membros do órgão colegial.
Mas este princípio consente desvios, no caso de reuniões que, nos termos da lei, podem
participar convidados. Por outro lado, ao abrigo de disposição regimental, podem estar
presentes na reunião funcionários de apoio ao secretário.
Não parece ainda de excluir que, por decisão do presidente, participem na reunião peritos
ou especialistas com o propósito de prestarem esclarecimentos técnicos aos membros do
órgão.
Pode ainda suceder que a lei atribua a pessoas estranhas a um órgão o direito de participar
nas respetivas reuniões: eis o que sucede nos termos do RIJES, que confere ao reitor ou
ao presidente de instituições públicas o direito de participar nas reuniões do conselho
geral, sem direito a voto.
94
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Além destes casos, a participação de terceiros pode ocorrer, em certos termos, nas
reuniões públicas.
Quando as reuniões hajam de ser públicas, deve ser dada a publicidade aos dias, horas e
locais da sua realização, de forma a garantir o conhecimento dos interessados com uma
antecedência de, pelo menos, 48h sobre a data da reunião.
Se a lei determinar ou se o órgão tiver deliberado nesse sentido, o público que assiste às
reuniões pode intervir para comunicar ou pedir informações, ou expressar opiniões, sobre
assuntos relevantes da competência daquele. Fora do período definido para a sua
intervenção, o público que assiste à reunião não pode intrometer-se na discução.
87.3 – Discussão de propostas
Iniciada a reunião, há lugar à discussão das propostas de deliberação, bem como à
aprovação de deliberações sobre os assuntos incluídos na ordem do dia (que delimita o
objeto das deliberações).
Permite-se a deliberação de assuntos fora da ordem do dia, desde que, em reunião
ordinária, pelo menos dois terços do órgão reconheçam a urgência da deliberação
imediata sobre um desses assuntos. O facto desses requisitos se verificarem não assegura,
só por si, a legalidade das deliberações tomadas, que depende da efetiva urgência de
deliberação imediata.
Em regra, cada assunto é analisado com base numa proposta de deliberação ou,
porventura, em várias propostas de deliberação submetidas a discussão no órgão. Não
podem estar presentes no momento da discussão os membros do órgão que se
encontrarem ou se considerarem impedidos. Está aqui em causa, no momento da
discussão, uma proibição de assistir ou de estar presente na reunião, o que significa que
o membro impedido tem de abandonar o local onde a reunião decorre.
Não se apresenta muito clara a consideração pelos membros do órgão colegial de que
estão impedidos. Com efeito, seguindo-se a aplicação do regime legal que define o
procedimento de declaração de impedimentos, teria de haver lugar a uma comunicação
ao presidente do órgão, ao qual caberia declarar o impedimento. Na nossa interpretação,
na parte ‘que se considerarem impedidos’, tem o propósito de autorizar o membro do
órgão a invocar, por si mesmo, uma situação de impedimento e, desse modo, legitimar a
sua saída do local onde a reunião se realiza.
Não havendo ou não podendo, nas circunstâncias do caso, ser designado suplente, o órgão
funciona sem o membro impedido.
87.4 – Votação e deliberação
Após a discussão, quando esta existir, haverá lugar à submissão da proposta (ou várias
propostas sobre o mesmo assunto) a votação.
95
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
A votação representa um momento essencial do funcionamento do órgão e constitui um
processo ou um método de deliberar: é através da votação que se exterioriza a vontade
colegial e que se produz a deliberação.
a) Definição do processo de votação
Em relação ao processo de votação, o CPA define um regime que, na primeira leitura,
aparenta contrapor a votação nominal à votação por escrutínio secreto.
Contudo, esses conceitos classificam processos de votação em consideração de
diferentes critérios.
Assim, considerando o critério da identificação do sentido de voto de cada membro
do órgão, a votação qualifica-se como pública (todos os membros conhecem o sentido
de voto de cada um) ou secreta (o sentido de voto de cada membro é secreto).
Segundo um critério que atende à forma de manifestação do sentido de voto, a votação
pode ser normal (feita na sequência da chamada nominal de cada um dos membros
do órgão para declarar o seu sentido de voto) ou simbólica (feita por expressão física
dos membros do órgão com um significado predefinido).
Ou seja, a votação nominal é a que se contrapõe a simbólica; votação secreta opõe-se
a pública.
Salvo disposição legal em contrário, as deliberações são tomadas por votação
nominal, devendo votar primeiramente os vogais e, por fim o presidente.
Como regra, deve, pois, adotar-se um sistema de votação nominal, em que, em
resposta a uma interpelação direta do presidente, cada membro do órgão manifesta o
seu voto, contra ou a favor de uma proposta de deliberação. Depois de todos os
membros terem votado, segue-se o voto do presidente.
Esse sistema de votação nominal deve ser seguido, salvo disposição em contrário.
As deliberações que envolvam um juízo de valor sobre comportamentos ou
qualidades de pessoas são tomadas por escrutínio secreto.
A exigência de votação secreta coloca-se em relação a deliberações colegiais que
envolvem a expressão ou a formulação de um juízo de valor, de uma apreciação sobre
comportamentos ou qualidades pessoais (que caracterizam as pessoas e as distinguem
enquanto pessoas humanas). Nem todas as deliberações que envolvam pessoas ou a
apreciação sobre as capacidades de pessoas reclamam votação secreta, não o exigem
por ex.: as deliberações de designação de um indivíduo para um cargo quando suscita
um juízo sobre as capacidades e aptidões profissionais ou os conhecimentos técnicos
do designado, mas sim as que envolvam a apreciação da sua valia como ser humano,
pela sua integridade, sensibilidade, inteligência e compostura.
A votação secreta deverá ter lugar se a lei exige especificamente que um cargo deve
ser preenchido por ‘pessoa de reconhecida idoneidade’, aqui, a deliberação já vai
envolver um juízo sobre as qualidades pessoais do designado.
Em caso de dúvida fundada sobre se estão efetivamente verificados os requisitos de
votação secreta, cabe ao presidente determinar esta forma de votação: a dúvida tem
96
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
de ser fundada, mas subsistindo, a lei atribui primazia aos valores protegidos pela
votação secreta.
A exigência legal de votação secreta visa garantir essencialmente a liberdade de
apreciação dos membros dos órgãos colegiais desonerando-os de expor publicamente
o seu próprio juízo sobre comportamentos ou qualidades pessoais de alguém.
A fundamentação das deliberações tomadas por escrutínio secreto é feita pelo
presidente do órgão colegial após a votação, tendo presente a discussão que a tiver
precedido.
b) Verificação do quórum deliberativo
No momento da deliberação, tem de estar preenchido o requisito do quórum
deliberativo: presença da maioria do número legal dos membros do órgão colegial
com direito a voto.
Recorde-se que, os membros que se encontrarem ou considerem impedidos não
participam na discussão e não podem estar presentes no momento da votação. Mas,
se, já em infração à lei quanto à proibição de presença, estiverem presentes, não
poderão votar.
c) Realização da votação
Definido o processo e observadas as exigências de quórum, segue-se a votação.
Esta consubstancia-se na manifestação, por cada membro do órgão do seu sentido de
voto: contra ou a favor da proposta (ou propostas) em votação.
Os membros do órgão, poderão ainda optar pela abstenção.
Em regra, a abstenção é possível, uma vez que não está proibida. Mas, claro, a lei
especial pode sempre proibi-la.
De resto, o próprio CPA define uma regra geral de proibição da abstenção, quando se
trate de órgãos consultivos ou de deliberação adotada por órgão não consultivo, mas
no exercício de funções consultivas.
Após a votação, segue-se o apuramento do resultado e a determinação do sentido da
deliberação: de aprovação ou de rejeição da proposta.
As deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos dos membros presentes à
reunião, assim, estando presentes 7 membros, se 3 votarem a favor, 2 contra e os
outros 2 se absterem, a proposta não é aprovada por não se ter formado maioria
absoluta nesse sentido. Mas note-se que também a proposta de deliberação não é
rejeitada, pois não se formou maioria absoluta nesse sentido.
Quando seja exigível maioria absoluta e esta não se forme, nem se verifique empate,
procede-se imediatamente a nova votação e, se aquela situação se mantiver, adia-se a
deliberação para a reunião seguinte, na qual a maioria relativa é suficiente.
97
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
No caso de várias propostas em alternativa (A, B e C) e estando presentes 7 membros,
obtém a maioria absoluta a proposta que tiver, pelo menos 4 votos; não basta que
tenha mais votos que as outras (também aqui pode haver abstenções).
A exigência de maioria absoluta é uma regra geral, a lei ou os estatutos podem exigir
maioria qualificada ou determinar maioria relativa.
Perante um cenário de empate, há 2 regimes de superação, cuja mobilização depende
de a votação em que o empate se verifica ser pública ou secreta.
Quando se trate de votação pública, o presidente tem voto de qualidade, o que
significa que a deliberação tem o sentido da proposta votada pelo presidente (em caso
de empate na votação, decide o voto do presidente). Esta hipótese, do voto do
presidente para desempatar, coloca-se nos casos em que, nos termos da lei, o
presidente não tem, em regra, direito a voto. Permite-se aqui, que ele vote apenas
como remédio para a situação de impasse.
Se a votação for por escrutínio secreto, procede-se imediatamente a nova votação e,
se o empate se mantiver, adia-se a deliberação para a reunião seguinte. Se na primeira
votação da reunião seguinte, se mantiver o empate, procede-se a votação nominal, na
qual a maioria relativa é suficiente. A superação do impasse envolve aqui, um desvio
em relação a duas regras: a da maioria absoluta e a da votação secreta.
d) Apuramento do resultado e proclamação do sentido da deliberação
Depois de apurar a votação, o presidente proclama o resultado e declara o sentido da
deliberação, a qual deve considerar-se adotada nesse momento. As deliberações dos
órgãos colegiais manifestam-se na forma oral, mas têm sempre de ser consignadas em
ata, sem o que não produzem efeitos jurídicos.
Admite-se a hipótese de os atos administrativos dos órgãos colegiais revestirem a
forma escrita (se a lei o determinar). A hipótese de atos colegiais em forma escrita
pode consistir em a lei determinar que os membros do órgão manifestem o sentido do
seu voto mediante a aposição da assinatura do documento que contém a proposta da
deliberação ou mediante a sinalização do sentido do seu voto.
Prevê-se o registo na ata da reunião das declarações de voto dos membros que tenham
ficado vencidos. Estes membros podem fazer constar da ata o seu voto vencido,
enunciando as razões que o justifiquem.
Os membros do órgão que ficarem vencidos na deliberação tomada e fizerem registo
da respetiva declaração de voto na ata ficam isentos da responsabilidade que dela
eventualmente resulte. (voto de vencido + registo da declaração de voto na ata =
isenção de responsabilidade)
Assim, a responsabilidade que decorra de deliberações dos órgãos colegiais pode
atingir:
o Os membros que votaram no sentido dessas deliberações
o Os que se abstiveram
98
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
o Os que votaram vencidos, mas não registaram a respetiva declaração de voto
Quando se trate de pareceres a dar a outros órgãos administrativos, as deliberações
são sempre acompanhadas das declarações de voto apresentadas. Neste caso, as
declarações de voto de vencido devem constar do próprio texto de deliberação e
não apenas da ata da reunião.
87.5 – Encerramento da reunião
Após o esgotamento da ordem do dia, ocorre o encerramento, quando, de forma expressa
ou tácita, o presidente do órgão declara encerrada a reunião. A partir dessa declaração, o
órgão colegial deixa de poder funcionar, mesmo que a maioria dos membros tenha a
pretensão de o manter em funcionamento. Após o encerramento oficial da reunião pelo
presidente, a continuação da presença dos membros do órgão corresponde a um encontro
de cidadãos onde se promovem conversas privadas; trata-se, para efeitos jurídicos, de
uma reunião inexistente.
Sendo que o exposto vale para o encerramento normal da reunião e não para o
encerramento antecipado.
88 – Ata da reunião
De cada reunião terá de ser lavrada uma ata, que contém um resumo de tudo o que nela
tenha ocorrido e seja relevante para o conhecimento e a apreciação da legalidade das
deliberações tomadas, designadamente a data e o local da reunião, a ordem do dia, os
membros presentes, os assuntos apreciados, as deliberações tomadas, a forma e o
resultado das respetivas votações e as decisões do presidente.
Da ata consta ainda o registo dos votos de vencido.
A ata é redigida pelo secretário, mas o presidente do órgão colegial tem a responsabilidade
de zelar pela exatidão do conteúdo da mesma. Uma vez redigida, a ata é submetida à
aprovação dos membros, no final da respetiva reunião ou no início da reunião seguinte,
sendo assinada, após a aprovação, pelo presidente e pelo secretário.
a) Aprovação da ata
Em termos práticos, e embora a lei admita essa possibilidade, não se revela fácil
proceder à aprovação da ata logo no final da reunião a que a mesma respeita. Daí que
a lei preveja a aprovação da ata no início da reunião seguinte.
A aprovação da ata é condição de eficácia jurídica das deliberações aprovadas na
reunião do órgão a que a mesma se refere.
b) Ata como documento
Deve constar dos atos administrativos a assinatura do presidente do órgão colegial
que o emana. Esta assinatura não se confunde com a da ata pelo presidente; dali
99
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
decorre a exigência de assinatura do documento que contém o ato ou no qual este é
transcrito.
Da ata deve ainda constar a fundamentação dos atos administrativos. Com exceção
dos membros que tenham votado vencido, que podem enunciar os fundamentos do
seu voto, a fundamentação é comum a todos os membros do órgão.
A ata constitui um documento autêntico, cuja força probatória só pode ser ilidida com
base na sua falsidade. Faz prova sobre tudo o que se passou na reunião.
Por outro lado, o que se passa na reunião com relevância jurídica deve constar da ata.
A ata corresponde a um documento administrativo que pode ser objeto do direito à
informação procedimental, bem como do direito de acesso aos documentos
administrativos.
c) Aprovação da ata em minuta sintética
Por causa da dificuldade de elaboração da ata imediatamente após a reunião, e no
sentido de evitar o inconveniente de diferimento da sua aprovação para a reunião
seguinte (com o consequente diferimento da produção de efeitos das deliberações
aprovadas na reunião), a lei atribui aos órgãos colegiais o poder de deliberar no
sentido da aprovação da ata, logo na reunião a que diga respeito, em minuta sintética.
A ata, em versão final, é definitiva, contém um resumo da reunião. A ata minuta
sintética é menos do que esse resumo e poderá limitar-se à identificação do sentido
das deliberações aprovadas bem como, quando for caso, à apresentação de uma
indicação sucinta dos fundamentos das mesmas.
A ata aprovada em minuta sintética deve ser assinada pelo presidente e pelo secretário
e deve ser depois transcrita com maior concretização, finalizada e novamente
submetida a aprovação na reunião seguinte. A eficácia das deliberações constantes da
minuta sintética cessa se a ata da reunião a que a minuta se refere não as reproduzir.
90 – Órgão administrativo e competência
O órgão administrativo, representa a instituição ou figura subjetiva central do DA; à
mesma diretamente associada, e com idêntica importância no estudo da nossa disciplina
surge agora o conceito de competência.
Órgão administrativo e competência são conceitos interrelacionados e umbilicalmente
conectados.
Órgão – centro institucionalizado de competências como figura organizatória dotada de
competência.
Órgãos administrativos – centros institucionalizados titulares de poderes e deveres para
efeitos da prática de atos jurídicos imputáveis à pessoa coletiva, sendo esses poderes e
deveres que a lei considera na titularidade dos órgãos as competências, ou seja, o órgão é
uma forma de institucionalização de uma competência. A definição de uma competência
implica a sua radicação num órgão de uma pessoa coletiva.
100
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Importante será referir que, não existem órgãos sem competência, e que os órgãos que
apenas exercem competências delegadas (secretários de Estado, vereadores da câmara)
só assumem a condição de órgãos se e quando forem investidos de competências por um
ato de delegação.
91 – Conceito de competência
Competência – complexo de poderes funcionais conferido por lei ou por regulamento a
um órgão administrativo. A competência indica o poder de um órgão para atuar, decidir
ou deliberar sobre uma determinada matéria ou assunto.
A competência é definida por lei ou por regulamento, entendendo-se por ‘lei’, ato
legislativo (da AR), decreto-lei ou decreto legislativo regional; e por ‘regulamento’ o
regulamento administrativo, uma norma jurídica geral e abstrata emitida pela
Administração, no exercício de poderes jurídico administrativos. Uma norma
regulamentar pode assumir a condição de norma atributiva do poder ou competência. E
pode até suceder que o próprio órgão (titular da competência) seja criada por um
regulamento.
A competência administrativa que aqui se considera é, sobretudo, a que se pode
materializar na produção de atos jurídicos externos, quer dizer, de atos que representam
uma atuação externa da pessoa coletiva que o órgão integra, que projetam os seus efeitos
numa outra pessoa ou entidade.
Existem competências internas, ou seja, competências para a prática de atos que
produzem efeitos jurídicos apenas no interior da pessoa coletiva, num plano
interorgânico, por ex.: o parecer que um órgão consultivo emite por solicitação de um
órgão ativo.
92 – Irrenunciabilidade e inalienabilidade da competência
A competência administrativa é irrenunciável e inalienável.
Os órgãos administrativos estão obrigados a exercer as suas competências (poderes
funcionais) ou as competências que neles estiverem delegadas. Não podem despojar-se,
renunciar, demitir-se ou abdicar da responsabilidade de, nas circunstâncias previstas na
lei, exercer as competências que a ordem jurídica lhes confia ou permite que lhes seja
confiada. Assim como também não podem alienar, transmitir ou transferir as
competências de que são titulares.
A regra da proibição de renúncia às competências é uma imediata decorrência do
princípio da legalidade administrativa: as competências que a lei confia aos órgãos da AP
não são direitos subjetivos e não são, por isso, remetidas para uma esfera de
disponibilidade da Administração. Trata-se, em rigor, de poderes que também constituem
deveres na esfera do seu titular: poderes deveres, as competências administrativas devem
ser exercidas se e quando se verifiquem os pressupostos legais e de facto desse exercício.
101
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
A proibição de renúncia ou de alienação corresponde a uma proibição de abdicação, de
desistência do exercício de uma competência. Isto vale para os órgãos, bem como para os
respetivos titulares: com exceção dos casos de impedimento e de suspeição, os titulares
dos órgãos administrativos não podem abandonar o órgão de que são titulares, nem se
furtar ao exercício das competências deste.
A proibição da renúncia implica também uma proibição de perdão da AP, por via de
execução dos seus créditos perante os devedores ou da recusa a exceder os seus poderes
de sancionar comportamentos ilícitos.
Sendo que essas regras de proibição podem ser excecionadas por lei.
Além de irrenunciável, a competência é inalienável: o órgão administrativo não pode
alienar, transferir ou conceder a um outro órgão administrativo ou qualquer outra
instância, a titularidade ou o exercício da competência que lhe está confiada.
A inalienabilidade implica a regra geral de indelegabilidade das competências (salvo
exceção legal), mesmo que a delegação não se considere, em sentido rigoroso, uma
alienação de competência, mas apenas uma transferência do seu exercício.
A regra da irrenunciabilidade e da inalienabilidade das competências não prejudica certas
figuras previstas na lei, nomeadamente:
o Delegação de poderes – que realiza uma transferência, com fundamento em lei,
do exercício de competência de um órgão para outro órgão
o Suplência – que, em rigor não interfere com a competência de um órgão, mas
apenas com a alteração da titularidade
o Substituição – em que, com base na lei, um órgão assume o exercício das
competências de outro órgão.
Todos esses casos representam não exatamente exceções à proibição de renúncia ou
alienação, mas institutos que operam apesar dessa proibição. As figuras contempladas em
lei como “figuras afins (da delegação de poderes) legalmente previstas” são
nomeadamente a concessão ou delegação de poderes públicos em entidades privadas. E,
portanto, nesses casos, afasta-se a nulidade por haver fundamento legal para esses casos
de alienação ou de transferência do exercício de competências. Sendo importante notar
que a ressalva não depende apenas de as figuras mobilizadas estarem, em geral, previstas
na lei: exige-se um fundamento legal específico para cada caso e, assim sendo, será nula
uma delegação de poderes efetuada sem fundamento legal específico.
112 – Administração estadual direta dirigida pelo Governo
A Administração estadual direta reporta-se ao “Estado-Administração”, e, assim, ao
desempenho da função administrativa pelo próprio Estado na sua condição de pessoa
coletiva de direito público e sujeito da AP, que atua através dos seus próprios órgãos. No
interior do Estado-Administração, o Governo ocupa uma posição constitucional de
primazia e de superioridade, mas nem toda a AP do Estado depende do governo.
Existindo, assim, uma bifurcação entre AP direta dirigida pelo Governo e AP
independente.
102
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
A AP estadual direta abrange o conjunto de órgãos administrativos e de serviços
administrativos pertencentes ao Estado e que, em geral, se encontram sujeitos ao poder
de direção do Governo, no contexto de uma relação de hierarquia.
Fala-se em Administração direta do Estado porque, neste caso, a realização dos fins
públicos estaduais é protagonizada diretamente pelo próprio Estado, por si mesmo,
diretamente, através dos seus órgãos e dos seus serviços (Estado-Administração).
O poder de direção radicado no Governo evidencia a continuidade e o princípio da não
separação entre política e Administração, bem como o princípio da subordinação da
Administração Pública à política.
Destaca-se o princípio da unidade e eficácia da ação da AP que se consubstancia no
exercício de poderes hierárquicos.
Os serviços e organismos que integram este setor da AP são, em geral, dirigidos por
trabalhadores em funções públicas, designados em comissão de serviço, com o estatuto
de dirigentes (chefias).
O setor da Administração estadual direta subdivide-se, assim, em Administração central
(órgãos e serviços centrais) e em Administração periférica (órgãos e serviços periféricos).
112.1 – Administração Central
O setor da Administração central do Estado inclui o Governo, na sua condição de órgão
administrativo, bem como os órgãos e serviços dele diretamente dependentes que
exercem uma competência extensiva a todo o território nacional (continental) – órgãos e
serviços centrais.
O Governo é constituído pelo Primeiro Ministro, Ministros e Secretários de Estado e
Subsecretários de Estado.
Na Administração do Estado, o ministério é a unidade de referência para a organização
de todo o sistema da Administração direta.
Sem prejuízo da abertura constitucional à exigência de ‘secretarias de Estado’, dotadas
de atribuições, a lei ordinária nunca instituiu departamentos administrativos com a
designação de secretaria de Estado. Os ministros dirigem ministérios e os secretários de
Estado coadjuvam-nos nessa missão, e não lhes cabe, por competência própria, dirigir
qualquer departamento administrativo.
Cabe à lei orgânica de cada ministério definir as respetivas atribuições, bem como a
estrutura necessária ao seu funcionamento: atualmente, a estrutura do Governo encontra-
se prevista na lei orgânica do XXI Governo Constitucional, sendo cada um dos
ministérios dotado de uma lei orgânica própria.
Classicamente, cada ministério é dirigido pelo ‘respetivo ministro’, o ‘respetivo titular’.
Mas as leis orgânicas de vários órgãos eliminaram essa vinculação e instituíram
‘ministros sem ministérios’ (ex.: Ministro do Planeamento, Ministra da Cultura) e
ministros que dirigem serviços distribuídos por diferentes ministérios. Perdeu-se, assim,
103
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
o sentido da vinculação entre cada ministério, enquanto departamento unitário e um
determinado ministro.
Aos ministérios parece dever equiparar-se a Presidência do Conselho de Ministros: o
departamento central do Governo que tem por missão prestar apoio ao Conselho de
Ministros, ao Primeiro-Ministro e aos demais membros do Governo organicamente
integrados e promover a coordenação interministerial dos diversos departamentos
governamentais. A presidência do Conselho de Ministros tem personalidade jurídica e
atribuições. O âmbito das suas atribuições é delimitado em função dos serviços e
organismos que a lei orgânica de cada Governo coloca na sua dependência.
A existência de departamentos ministeriais resulta de uma divisão horizontal do trabalho
em função da diferente natureza material das áreas de intervenção do Estado (saúde,
segurança, economia, educação). Sendo que os vários ministérios têm funções comuns e
exercem atividades comuns.
A lei define uma política de promoção da partilha de atividades comuns entre os serviços
integrantes de um mesmo ministério ou de vários ministérios para a otimização dos
recursos. Esse modelo de funcionamento partilhado abrange especialmente atividades de
natureza administrativa e logística:
o Negociação e aquisições de bens e serviços
o Sistemas de informação e comunicação
o Gestão de edifícios
o Serviços de segurança e de limpeza
o Gestão da frota automóvel
o Processamento de vencimentos e contabilidade
O Regime Jurídico da Administração Direta do Estado promove o modelo de
funcionamento em rede, quando estejam em causa funções do Estado cuja completa e
eficiente prossecução dependa de mais de um serviço ou organismo, independentemente
de pertencer ao mesmo ministério ou a ministérios diferentes.
Tendencialmente, todos os órgãos e serviços do Estado são integrados em ministérios,
seja ao nível central, seja ao nível periférico.
Cada ministério é objeto de desconcentração funcional (os órgãos que o integram exercem
funções e competências diferentes) e, em regra, de desconcentração geográfica (comporta
órgãos centrais e órgãos periféricos).
Ao setor da Administração central do Estado pertencem os serviços centrais, como as
direções-gerais, as inspeções-gerais e outros serviços com diversas designações.
Os serviços da Administração direta do Estado são definidos, de acordo com a sua função
dominante, em: serviços executivos que prosseguem as políticas públicas; serviços de
controlo, auditoria e fiscalização, que fazem o acompanhamento e a avaliação da
execução das políticas públicas; serviços de coordenação, que promovem a articulação
entre outros serviços em domínios em que a necessidade de coordenação seja permanente.
Os serviços centrais podem dispor de unidades orgânicas geograficamente
desconcentradas (ex.: a ASAE tem 5 direções-regionais).
104
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Pertencem ao setor da Administração central os serviços e forças de segurança, como a
PSP, a GNR, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – todos estes serviços e forças de
segurança integram o Ministério da Administração Interna, encontrando-se na
dependência direta do Ministro da Administração Interna, e contam com unidades
desconcentradas.
112.2 – Administração periférica
Os órgãos e serviços da Administração central do Estado têm ‘jurisdição’ em todo o
território nacional (serviços centrais). Mas o Estado detém ainda órgãos e serviços
subordinados ao Governo e integrados em ministérios, mas com poderes restritos a
determinada porção do território nacional ou circunscrição administrativa. Assim sendo,
serviços periféricos são aqueles que dispõem de competência limitada a uma área
territorial restrita – administração periférica ou local do Estado.
As áreas de competência territorial dos serviços periféricos não são sempre coincidentes.
Em certos casos, embora de uma forma excecional, ainda subsiste a divisão distrital (ex.:
centros distritais de segurança social, comandos distritais da PSP). Nos últimos anos tem
sido visível o esforço no sentido da criação de uma circunscrição ‘regional’,
correspondente às designadas NUTS. Mas esta também não é uma tendência definida,
pois que, em alguns setores, adota-se um modelo de divisão assente nas NUTS III.
Em determinados setores da sua intervenção, a Administração do Estado tem de estar
mais próxima dos cidadãos, e torna-se necessário instalar serviços e estabelecimentos
com áreas de jurisdição cuja delimitação não obedece a um critério uniforme, evoluindo
de forma mais ou menos casuística, em função das necessidades: instalação da rede
escolar dos ensinos básico e secundário, rede de agrupamentos de centros de saúde,
serviços de finanças, centros de emprego, esquadras da PSP, …
Refiram-se ainda os serviços periféricos externos, que exercem poderes fora do território
nacional, como é o caso das embaixadas, as representações permanentes ou os postos
consulares.
115 – Administração estadual indireta e institutos públicos
Os institutos públicos integram a administração indireta do Estado (e das Regiões
Autónomas). Sem prejuízo dos desvios que resultam da fisionomia específica de alguns
deles, os institutos públicos representam a figura pública típica da Administração
Estadual indireta: trata-se, em geral, de entidades, com um substrato institucional, criadas
por lei do Estado para a realização de fins e atribuições originariamente estaduais. Os
institutos públicos surgem como organizações instrumentais ao serviço da realização de
fins estaduais.
Trata-se, porém, de uma categoria muito diversificada, que abrange:
o Institutos submetidos aos poderes de superintendência e tutela do Governo, que
vamos designar “institutos públicos dependentes do Governo”
105
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
o Institutos com autogoverno, que é o caso das instituições de ensino superior, que
correspondem a “institutos públicos autónomos”
o Institutos independentes do Governo, como é o caso das entidades administrativas
independentes com funções de regulação económica, que correspondem a
“institutos públicos independentes”
Todos os institutos públicos se integram da Administração estadual indireta, pois, em
todos os casos estamos perante organismos de substrato institucional, instituídos para
prosseguirem atribuições de Estado. Os institutos públicos são, em todos os casos,
entidades instrumentais do Estado.
116 – Institutos públicos (institutos públicos dependentes do Governo)
Âmbito: Administração estadual indireta sob orientação do Governo.
Os Institutos Públicos têm no seu nome sempre as iniciais IP (ex.: Instituto Português do
Desporto e da Juventude, IP; Administração Regional de Saúde do Centro, IP), e a eles
aplica-se a LQIP.
O instituto público é o suporte típico da Administração indireta, correspondente a uma
figura institucional criada pelo Estado e à qual este disponibiliza ou afeta meios humanos,
bem como recursos materiais para o desempenho de atividades administrativas
determinadas sob a superintendência e tutela do Governo.
Institutos Públicos – pessoas coletivas públicas com um substrato institucional, instituídas
por ato legislativo para a prossecução, em nome próprio e com autonomia administrativa,
de determinados fins públicos estaduais e que se submetem à superintendência e tutela do
Governo.
a) Criação por ato legislativo
Os institutos públicos são criados por ato legislativo, em regra, por decreto-lei,
não estando, porém, excluída a criação por lei parlamentar.
Princípio da prevalência da Administração direta do Estado sobre as formas de
Administração indireta: a criação de IP’s apenas é viável para o desenvolvimento
de atribuições que recomendem, face à especificidade técnica da atividade
desenvolvida, designadamente no domínio da produção de bens e da prestação de
serviços, a necessidade de uma gestão não submetida à direção do Governo,
estando impedida a constituição de IP’s para o desempenho de atividades que, nos
termos constitucionais, devam ser desempenhadas por organismos da
Administração estadual direta ou para personificar serviços de estudo e conceção,
coordenação, apoio e controlo de outros serviços administrativos.
106
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
b) Personalidade jurídica
Os IP’s são pessoas coletivas de direito público, dotadas de órgãos e património
próprio. O atributo da personalidade jurídica é um elemento essencial do conceito.
Os IP’s podem ser serviços ou fundos, isto é, serviços personalizados, ou fundos
personalizados (‘fundações públicas’).
c) Prossecução de determinados fins estaduais
A figura dos IP’s surge reportada à Administração do Estado (institutos públicos
estaduais) ou das regiões autónomas (institutos públicos regionais).
Importante é referir que existem institutos públicos fora da esfera da
Administração do Estado (nomeadamente no âmbito da administração municipal).
O IP é criado para a prossecução de determinados fins estaduais: rege aqui uma
regra da especialidade. A figura foi idealizada para a prossecução de funções e
tarefas administrativas sem caráter económico, comercial ou industrial.
Por vezes, as leis orgânicas de determinados IP’s preveem a sujeição de algumas
das atividades que desenvolvem ao regime jurídico aplicável às entidades
empresariais. Soluções ditadas pelo propósito de aliviar o regime jurídico de
atividades que alguns IP’s desenvolvem e que apresentam contornos muito
próximos da oferta de serviços no mercado ou que, por razões diversas, o
legislador entende não submeter, em parte, ao regime aplicável ao exercício das
atividades próprias da gerência administrativa.
Os IP’s ocupam-se de missões do Estado como as seguintes:
o Regulação de atividades económicas privadas (ex.: setores da construção
e imobiliário)
o Prestação de serviços públicos aos cidadãos (ex.: saúde, segurança social)
o Apoio e fomento de atividades privadas (ex.: artes, agricultura,
internacionalização das empresas)
o Atividades de financiamento e subsidiação
o Prestação de serviços administrativos (ex.: atividades de registo, avaliação
e acreditação de instituições)
o Prestação de serviços técnicos (ex.: estatística, meteorologia)
o Gestão financeira de recursos públicos consignados a determinadas
finalidades
o Participação na elaboração, estudo e gestão de políticas públicas
132 – Instituições do ensino superior
Trata-se de uma área caracterizada por uma certa hibridez, posto que compreende um
ingrediente decisivo na Administração estadual indireta, a prossecução de fins estaduais,
mas, em simultâneo, adota, nos termos da lei, um modelo de funcionamento que o
aproxima das instituições típicas da Administração autónoma: o autogoverno e a
autonomia.
Na nossa leitura, a este setor de Administração estadual indireta com autogoverno e
autonomia, reconduzem-se as instituições de ensino superior.
107
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Nos termos do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RIJES), o ensino
superior articula-se segundo um sistema binário: o ensino universitário e o ensino
politécnico. A esse sistema correspondem dois tipos de instituições de ensino superior: as
universidades e os institutos politécnicos.
133 – Administração indireta dependente do Governo
O Governo ocupa a posição de destaque em toda a Administração do Estado,
constitucionalmente consagrado como ‘órgão superior da AP’, e que, em termos efetivos,
assume um protagonismo decisivo no âmbito de quase toda a Administração estadual.
Em grande extensão, a AP estadual encontra-se sob influência/dependência do Governo:
nos termos constitucionais, o Governo tem a responsabilidade de dirigir a AP direta e de
superintender (orientar) a AP indireta.
Sem prejuízo do exposto, importa ter presente o facto atual de partes relevantes da AP
estadual (direta ou indireta) se apresentarem independentes do Governo.
Entidades investidas de funções administrativas do Estado que beneficiam da garantia de
desgovernamentalização no desempenho das suas missões principais: são as entidades
administrativas independentes.
A Administração independente identifica um setor da AP do Estado, composta por
pessoas coletivas de direito público que prosseguem finalidades ou atribuições do Estado,
mas que, no desenvolvimento das suas missões ou competências, estão imunes à
interferência ou, pelo menos, à orientação governamental.
A Administração independente (que pertence ao Estado) é reconduzida ao setor da
Administração indireta.
As entidades administrativas independentes prosseguem fins ou atribuições do Estado e,
como todos os organismos da Administração indireta, são entidades do Estado, por ele
criadas para a realização das suas missões. Mas o conceito de Administração estadual
indireta tem de se desconectar da ideia de superintendência do Governo. Referimo-nos a
uma Administração indireta que é independente do Governo.
135 – Administração independente e sistema administrativo estadual
O sistema português de Administração estadual apresenta-se tradicionalmente, como um
sistema governamentalizado, que, em regra, atua sob direção ou orientação do Governo.
O sistema administrativo clássico, organizado segundo um modelo vertical e centralista
e assente numa cadeia hierárquica de comando e controlo com o Governo no topo,
encontra as suas raízes no processo de centralização do poder e na exigência de
legitimação democrática da Administração: a dependência governamental da
Administração assegura a democracia administrativa. A criação de organismos de
Administração independente persegue o propósito de colocar elementos ou estruturas da
Administração do Estado fora da esfera de influência (e responsabilidade) do Governo.
108
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
De acordo com a compreensão clássica do princípio democrático, a instituição de
organismos burocráticos sem legitimidade democrática própria, subtraídos à esfera de
influência do Governo não se revela aceitável. Mas, sobretudo desde os últimos anos do
século passado, desenvolveu-se a tendência para uma certa ‘americanização’ do sistema
administrativo e para a imitação dos modelos das ‘independent agencies’ ou ‘independent
commissions’ do sistema de Governo norte-americano. Essa tendência, de matriz
ideológica e imposta por uma certa compreensão sobre o relacionamento entre o Estado
e o mercado, conciliou-se especialmente bem com o processo de evolução da UE a
apontar para a desgovernamentalização de certas esferas da AP: o caso mais exemplar é
o dos bancos centrais.
O resultado deste processo consistiu na eclosão de novas criaturas: as entidades
administrativas independentes, entidades com ou sem personalidade jurídica.
A abertura constitucional à criação de entidades administrativas independentes, ainda
que, em geral, credibilizou a figura, acomodou-a no sistema administrativo e, do mesmo
modo, consolidou a tese de que a legitimação da AP não tem de resultar exclusivamente
dos canais da democracia administrativa formal e da responsabilidade parlamentar do
Governo. A subordinação à lei e aos tribunais, ou seja, a subordinação ao DA, a instituição
de mecanismos mais afinados de legitimação procedimental e a definição de exigências
mais apuradas no plano da legitimação pessoal e técnica dos dirigentes representam
pressupostos que, em conjunto, são suscetíveis de garantir a ligação desta Administração
independente ao princípio democrático.
Em geral, a criação de entidades administrativas independentes responde, conforme os
casos, a um dos 3 propósitos fundamentais:
o Garantia de uma intervenção administrativa imune à influência de diretrizes
político-ideológicas das maiorias governamentais de cada momento, o que se
considera essencial, por ex.: para a regulação de certos setores da economia
(banca, seguros, gestão de bolsas)
o Garantia de intervenção independente de qualquer influência do Governo ou da
Administração quando esteja em causa a proteção dos administrados contra a
própria Administração ou a proteção de bens constitucionais (ex.: organismos de
regulação da comunicação social ou que tutelam o direito de acesso à informação
administrativa)
o Garantia de uma intervenção administrativa independente de diretrizes, instruções
ou orientações quando esteja em causa a atuação de organismos com específica
habilitação para a realização de avaliações independentes ou para a emissão de
juízos ou opiniões técnicas ou científicas (ex.: avaliação independente sobre a
consistência, cumprimento e sustentabilidade da política orçamental; ou com o
controlo das contas dos partidos políticos).
136 – Garantia da independência na Constituição ou no direito da UE
Em casos específicos, a independência de estruturas administrativas é imposta e, por isso,
assegurada ou garantida pela Constituição.
109
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
O DUE também reclama, em certas áreas, o figurino da entidade administrativa
independente (ex.: modelo de independência dos bancos centrais).
Na medida em que a independência de uma autoridade administrativa se vê assegurada
pelo DUE, a garantia impõe-se ao próprio legislador nacional, limitando-se a sua
liberdade de conformação.
Havendo mesmo uma norma que determina a não aplicação da lei quando exista norma
de DUE ou internacional que disponha em sentido contrário e seja aplicável à entidade
reguladora e respetiva atividade.
Pode também acontecer que a independência dos organismos responsáveis por
determinados setores da intervenção administrativa seja preconizada e sugerida por
disposições ou standards de boas práticas editados por prestigiados organismos
internacionais. Embora se encontrem desprovidos de efeito jurídico vinculativo para o
legislador nacional, tais standards definem padrões que, em regra, os Estados não devem,
nem têm interesse em ignorar, desde logo para a defesa da reputação internacional da sua
regulação.
142 – Em especial, as entidades administrativas independentes com funções
de regulação da economia: entidades reguladoras
Dentro do universo das entidades administrativas independentes ocupam hoje um lugar
de destaque as entidades com funções de regulação da economia – autoridades
reguladoras nacionais (ARN).
146 – Administração autónoma e Administração autónoma territorial
A AP portuguesa não é apenas a Administração do Estado. Existe um setor da AP ‘fora’
do Estado, que se dedica à prossecução de interesses próprios, que se diferenciam dos
interesses administrativos (gerais) de que o Estado se ocupa – AP autónoma.
A Administração autónoma compreende os seguintes elementos:
o Existência de uma coletividade infraestadual que congrega os indivíduos ligados
por uma característica comum, a qual pode assentar na residência num certo local,
ou no exercício de uma certa atividade ou profissão
o Consideração de que essa coletividade tem interesses próprios e específicos que
se podem diferenciar em relação aos interesses gerais da coletividade estadual
o Governo ou administração desses interesses próprios pelos indivíduos que
formam a coletividade, diretamente ou indiretamente através de órgãos por eles
eleitos (autogoverno e autoadministração)
o Autonomia face ao Estado, com a exclusão de formas de direção, orientação ou
ingerência estadual quanto ao mérito das opções e das medidas dos órgãos da
administração autónoma
o Utilização de meios e instrumentos próprios da AP
110
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Concordamos com esse ponto de vista, exceto quanto ao segundo elemento, o qual não
parece que esteja presente em todas as formas de Administração autónoma.
A Administração autónoma é um instrumento de participação dos cidadãos da AP,
interliga-se com a autoadministração.
Há 2 manifestações da Administração autónoma: territorial e não territorial (também
designada funcional ou corporativa), a diferença entre elas reside no fator territorial.
A Administração autónoma territorial é a parte do sistema administrativo que se ocupa da
realização dos interesses próprios e específicos da população residente num espaço
delimitado do território nacional através de órgãos eleitos e representativos. Sendo as
maiores referências deste setor da AP as autarquias locais, ou seja, os municípios e as
freguesias.
148 – Garantia constitucional da autonomia local
Autonomia local – direito e capacidade efetiva de as autarquias locais regulamentarem e
gerirem, nos termos da lei, sob sua responsabilidade e no interesse das respetivas
populações uma parte importante dos assuntos públicos.
A autonomia local constitui uma garantia institucional das autarquias locais. Num plano
jurídico, a autonomia local tem um caráter essencialmente objetivo, de garantia de uma
instituição, e não, como os direitos de proteção de uma situação jurídica subjetiva. Mas
trata-se de uma realidade protegida pela Constituição.
As autarquias locais beneficiam de um regime constitucional que, em função do elemento
territorial e da sua configuração como protagonistas do poder local, as distingue no
panorama da AP: além do Estado e das regiões autónomas, só as autarquias são, por força
da Constituição, titulares de domínio público; além dos do Estado e das regiões
autónomas, os bens das autarquias podem ser defendidos por qualquer pessoa, no
exercício do direito de ação popular; além do Estado e das regiões autónomas, as
autarquias locais são as únicas entidades da Administração que a Constituição autoriza a
serem titulares de poderes tributários e às quais atribui a titularidade do poder
regulamentar.
Enquanto garantia constitucionalmente protegida, o âmbito da autonomia local inclui,
desde logo, a garantia da existência de autarquias locais; pode dizer-se que a Constituição
não só garante, como impõe a existência de autarquias locais em todo o país, pelo que
nenhuma parcela do país pode deixar de estar organizada sob a forma de autarquia local.
Inerente à garantia constitucional da existência de autarquias locais é a garantia de
definição de um círculo de interesses autárquicos, a atribuição de poderes públicos para
realizar esses interesses, bem como a garantia de acesso e disponibilidade de recursos
financeiros que permitam satisfazer as necessidades públicas relacionadas com os
interesses locais. Daqui decorre que a autonomia local se vai projetar em múltiplas
dimensões, em graus diferenciados, que variam em razão da categoria da autarquia
(município ou freguesia):
o Autonomia financeira
111
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
o Autonomia administrativa
o Autonomia na contratação de pessoal
Todas estas dimensões de autonomia se desenvolvem dentro de limites e de
condicionantes legais. Além disso, a autonomia local não é um valor absoluto e pode
sofrer compressões e restrições de vária ordem e em vários planos, nomeadamente as
restrições legais (orçamentais) em matéria de contratação de pessoal; ou os cenários de
restrição severa da autonomia financeira de autarquias locais endividadas e em processo
de ajustamento financeiro.
A autonomia local é suscetível de tutela judicial, por via da imputação de atos e medidas
estaduais de qualquer natureza que atentem contra a garantia constitucional. Mas, por si
mesmas, as autarquias locais apenas podem impugnar as medidas restritivas que revistam
um caráter administrativo, estando-lhes vedada a possibilidade de reação contra medidas
legislativas.
149 – Conceito de autarquia local
Autarquias locais – pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que
visam a prossecução de interesses próprios das populações respetivas.
As autarquias locais são pessoas coletivas de direito público, entidades dotadas de
personalidade jurídica, que prosseguem atribuições públicas.
Elementos constitutivos das autarquias locais:
o Território ou circunscrição territorial – as autarquias locais são ‘pessoas coletivas
de população e território’, ou seja, pessoas coletivas territoriais. O território de
cada autarquia corresponde a uma circunscrição do território nacional. Em
conjunto com a população residente, o território constitui um elemento
fundamental das autarquias locais, como fator de identificação e determinação dos
interesses próprios da autarquia e de delimitação do âmbito das competências dos
seus órgãos: o território é o elemento com base no qual se definem os específicos
interesses comuns dessas pessoas. O território é o critério de aplicação do direito
de cada autarquia.
o Coletividade de pessoas residentes numa circunscrição territorial – a residência é
o conceito de local de inscrição para efeitos de recenseamento eleitoral. É em
função do recenseamento que se define uma espécie de residência oficial de uma
pessoa para efeitos de identificar a sua pertença a uma autarquia local, com os
direitos e deveres inerentes a essa condição. Há situações em que o âmbito da
intervenção das autarquias locais resulta apenas de um elemento de conexão
territorial, sem ligação ao fator de residência. Nestes termos, pessoas não
residentes podem ser abrangidas pela intervenção do município (ex.: o condutor
que comete uma infração de trânsito sancionada pela polícia municipal; ou o
proprietário obrigado pelo município em que não reside a fazer obras num imóvel
que ali detém). A jurisdição das autarquias locais é determinada pelo elemento
territorial e pelo território que as constitui.
112
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
o Interesses próprios e específicos – reconhecimento legal da existência de
interesses próprios e específicos da coletividade de pessoas que as constituem.
Interesses locais que se distinguem em face dos interesses nacionais. As
autarquias locais têm como objetivo constitucionalmente definido a prossecução
de interesses próprios das populações respetivas.
Os interesses locais, referenciados ao agregado de residentes, são ou podem ser
‘quaisquer uns’, sem uma definição ou recorte específico – princípio de
generalidade. Haverá casos inequívocos de interesses de natureza local, por vezes
correspondentes a interesses historicamente enraizados no âmbito local (ex.:
gestão do espaço público, regulamentação de feiras e mercados, limpeza pública).
Em sentido oposto, também há casos nítidos de interesses nacionais (ex.: defesa
nacional e política externa). Mas, em muitas hipóteses, não se revela possível
delinear uma compartimentação taxativa e definitiva entre interesses locais (que
digam respeito à população que reside numa certa parcela do território) e
interesses nacionais. Na verdade, existem, até talvez em regra, zonas de
confluência ou de concorrência entre os dois graus de interesses, pelo que em
princípio, e salvo casos de manifesto excesso ou de erro evidente, tem de se
reconhecer uma importante margem de liberdade legislativa na delimitação de
interesses locais para efeitos de definição de competências das autarquias locais.
Deve reconhecer-se às autarquias locais um conjunto de atribuições próprias (e
aos seus órgãos um conjunto de competências) que lhes permitam satisfazer os
interesses próprios (privativos) das respetivas comunidades locais; o legislador
deve balancear a prossecução de interesses locais e do interesse nacional ou
supralocal, gozando de uma margem de autonomia. Não pode inferir-se da
garantia institucional da autonomia local a consagração de uma reserva
constitucional de competência dos entes autárquicos, de acordo com um modelo
de rígida separação entre esferas de interesses e de atribuições, como se fosse
identificável uma clara e intransponível linha de demarcação entre o que é e não
é de relevo local.
Deve, contudo, notar-se que o revelar-se difícil ou até impossível recortar
interesses exclusivamente locais não significa que o Estado não possa, ou não
deva transferir competências para as autarquias locais. A Constituição exige que
as autarquias locais se ocupem dos interesses locais, mas não proíbe que elas
intervenham em áreas que não correspondem a interesses inequívoca e
exclusivamente locais. O princípio da descentralização contém, por si só, a força
jurídica bastante para enquadrar a transferência de competências para as
autarquias em matérias que interessam sobretudo ou também às respetivas
populações e que elas estão em condições de executar sob a sua própria
responsabilidade.
o Órgãos representativos – os órgãos que dirigem as autarquias locais têm um
caráter representativo; os titulares desses órgãos são eleitos pela população
residente da autarquia, nas eleições autárquicas.
113
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
151 – Categorias de autarquias locais
Existem 3 categorias de autarquias locais:
o Freguesias
o Municípios
o Regiões administrativas
Apesar da provisão constitucional, apenas existem as primeiras duas categorias. As
regiões administrativas não foram instituídas.
O município e a freguesia representam níveis territoriais sobrepostos, que partilham o
território, mas correspondem a entidades entre si independentes: trata-se de duas
categorias de sujeitos da Administração autónoma, que se ocupam da prossecução dos
interesses específicos dos respetivos agregados populacionais.
152 – Conceito de município
Município – pessoa coletiva que visa a prossecução dos interesses próprios da população
residente numa parcela do território nacional designada circunscrição municipal,
mediante órgãos representativos eleitos por aquela população.
Elementos da definição de município, enquanto autarquia local:
o Pessoa coletiva de direito público (o município é uma pessoa coletiva, com
atribuições e competências próprias)
o Ocupa uma parcela ou circunscrição do território nacional
o População residente
o Visa a prossecução dos interesses próprios dos residentes na parcela do território
que ocupa
o Órgãos representativos eleitos pela população residente (eleições municipais).
156 – Órgãos do município
Os municípios contam com 3 órgãos primários ou principais, dotados por lei de
competências próprias: a assembleia municipal, a câmara municipal e o presidente da
câmara municipal.
Além desses órgãos primários, outros agentes podem atuar como órgãos do município,
mas com competências delegadas, em regra a partir de uma delegação ou subdelegação
do presidente da câmara: surgem assim como órgãos (secundários) dos municípios os
vereadores e os dirigentes dos serviços municipais.
156.1 – Assembleia municipal
A organização das autarquias locais compreende uma assembleia eleita dotada de poderes
deliberativos. A assembleia é eleita por sufrágio universal, direto e secreto dos cidadãos
114
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
recenseados na respetiva autarquia, segundo o sistema de representação proporcional. No
caso do município, este órgão é a assembleia municipal.
A assembleia municipal é um órgão de composição mista, constituída por membros
diretamente eleitos, e também pelos presidentes das juntas de freguesias abrangidas pelo
município: o número de eleitos deve ser superior ao dos presidentes da junta. Contudo, o
número de membros eleitos diretamente não pode ser inferior ao triplo do número de
membros da câmara municipal respetiva (sendo a câmara composta por 11 elementos, a
assembleia municipal deverá ter, pelo menos 33 eleitos + os presidentes de junta de
freguesia).
Além de competências de funcionamento, a assembleia municipal dispõe de um largo
conjunto de competências de apreciação e de fiscalização, a maior parte das quais só pode
exercer com fundamento em proposta da câmara municipal (ex.: aprovação das posturas
e regulamentos com eficácia externa do município). A legislação acolhe um modelo que
confere a iniciativa procedimental à câmara municipal: proposta obrigatória.
156.2 – Câmara municipal
Órgão executivo colegial responsável perante a assembleia deliberativa e constituído por
um “número adequado de membros”.
A câmara municipal é constituída por um presidente e por vereadores, um dos quais
designado vice-presidente. É um órgão diretamente eleito pelos cidadãos eleitores
recenseados na sua área. O número de vereadores da câmara varia entre 4 (nos municípios
com 10 000 eleitores ou menos) e 16 (no município de Lisboa). O presidente da câmara
é o primeiro candidato da lista mais votada nas eleições para a câmara municipal.
A câmara detém um naipe variado e muito extenso de competências; mas não dispõe
atualmente de poderes para a emissão de regulamentos externos: pode aprovar
regulamentos internos e elaborar e submeter a aprovação da assembleia municipal
regulamentos externos. Algumas competências da câmara municipal só podem ser
exercidas com a autorização prévia da assembleia municipal (ex.: aquisição e alienação
de bens imóveis acima de certo valor, …).
A assembleia municipal e a câmara municipal são os órgãos representativos do município.
156.3 – Presidente da câmara municipal
O município conta ainda com um outro órgão primário (dotado de competências
próprias): o presidente da câmara municipal.
A Constituição é quase omissa quanto ao presidente, embora acabe por lhe fazer uma
referência indireta quando se refere ao presidente do órgão executivo como “o primeiro
candidato da lista mais votada para a assembleia ou para o executivo, de acordo com a
solução adotada na lei”.
115
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Não se pode dizer que o presidente da câmara seja ignorado pela Constituição e muito
menos desconhecido do legislador constituinte das sucessivas revisões constitucionais.
O facto de a Constituição se revelar quase omissa sobre o presidente da câmara municipal
não exclui que este se possa conceber como órgão do município.
O presidente da câmara municipal é, na verdade, um órgão primário do município, uma
vez que dispõe de um extenso leque de competências próprias.
A atribuição legal direta de competências ao presidente revela que está aqui presente um
órgão primário e autónomo do município.
Além de deter competências próprias, no presidente pode ser delegada uma parte muito
significativa das competências da câmara municipal. Podem ser delegadas no presidente
competências para executar as opções do plano e orçamento; alienar bens imóveis;
ordenar a demolição total ou parcial de edifícios que ameace ruína ou constituam perigo
para a saúde e segurança das pessoas, …
Na atuação das suas competências (próprias e delegadas), o presidente é coadjuvado pelos
vereadores no exercício das suas funções.
O presidente tem o poder de optar pela existência de vereadores a tempo inteiro ou a meio
tempo, assim como de escolher, em concreto, os vereadores a tempo inteiro e a meio
tempo, fixar as suas funções e determinar o regime do respetivo exercício. O presidente
tem ainda o poder de delegar as suas competências próprias e subdelegar as suas
competências delegadas nos vereadores.
É o presidente que, por fim, designa, de entre os vereadores, o vice-presidente da câmara,
a quem, além de outras funções que lhe sejam distribuídas, cabe substituir o primeiro nas
suas faltas e impedimentos.
156.4 – Vereadores e dirigentes dos serviços municipais
Na medida em que disponham de competências delegadas (pelo presidente da câmara)
para a prática de atos externos, os vereadores e os dirigentes dos serviços municipais
também são órgãos dos municípios (órgãos secundários).
161 – Associações de municípios e entidades intermunicipais
Os municípios podem constituir associações e federações para a administração de
interesses comuns e prevê-se que o legislador possa conferir ‘atribuições e competências
próprias’ a essas entidades.
A CRP não se limita a autorizar os municípios a associarem-se, autoriza a lei a conferir
atribuições e competências próprias a essas organizações de associativismo municipal,
deixando a sugestão de que essas associações podem configurar legalmente como
116
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
entidades investidas de funções administrativas que desenvolvem num patamar ou nível
supramunicipal (acima do município e autónomo em relação a este) e não apenas
intermunicipal (associativa).
Em relação às grandes áreas urbanas (e às ilhas), a Constituição vai ainda mais longe, e
autoriza o legislador a estabelecer outras formas de organização territorial autárquica.
161.1 – Tipos de associações de municípios
O RJAL aprova também o regime jurídico do associativismo autárquico (autárquico, e
não apenas municipal), bem como o estatuto das entidades intermunicipais. O RJAL
estabelece que as entidades intermunicipais constituem ‘associações de autarquias locais’.
Associações de municípios (instituídas para a prossecução conjunta das respetivas
atribuições):
o Áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais, que, em conjunto,
correspondem às entidades intermunicipais
o Associações de municípios de fins específicos
As entidades intermunicipais constituem uma criação legislativa, com atribuições
próprias definidas em lei e em legislação subsequente, que podem beneficiar de
delegações de competências do Estado e dos municípios e atuam numa parcela territorial
definida por lei.
As associações de fins específicos são de criação espontânea e livre pelos municípios, no
desenvolvimento de uma liberdade de associação, para a prossecução de interesses
comuns, sem atribuições, nem competências próprias, sem a condição de candidatas à
delegação de competências públicas e sem um território de intervenção. Os fins destas
associações – fins públicos – são os indicados nos respetivos estatutos.
161.2 – Em especial, as entidades intermunicipais
Entidades intermunicipais são as áreas metropolitanas e as comunidades intermunicipais
(CIM). Têm atribuições e competências próprias, conferidas por lei, e competências
delegadas: as delegações podem ser do Estado (de cima para baixo) ou dos municípios
que as integram (de baixo para cima).
As entidades intermunicipais constituem unidades administrativas que correspondam a
unidades territoriais definidas com base nas NUTS III.
161.2.1 – Áreas metropolitanas
As áreas metropolitanas foram instituídas diretamente por lei. Existem duas: Área
Metropolitana de Lisboa e Área Metropolitana do Porto.
117
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Considerando a divisão e a nomenclatura constitucional, revela-se, porventura, duvidosa
a qualificação legal das áreas metropolitanas como associações de municípios ou de
autarquias locais. Com efeito, neste âmbito, a Constituição distingue três realidades:
o Autarquias locais
o Associações de municípios
o Outras formas de organização territorial autárquica
Não sobram dúvidas de que as áreas metropolitanas integram o terceiro e não o segundo
grupo.
161.2.2 – Comunidades intermunicipais
As comunidades intermunicipais são instituídas por iniciativa dos municípios através de
contrato, nos termos previstos na lei civil.
Está em causa, a constituição de uma pessoa coletiva de direito público, não obstante,
interpretamos a referência legal como querendo apenas significar que a constituição das
comunidades intermunicipais se processa nos mesmos termos da constituição de uma
associação de direito civil, quer dizer, por escritura pública.
Os municípios não escolhem os seus parceiros da comunidade, pois é a lei que define o
território desta e, logo, os municípios que podem integrá-la. A adesão municipal à
comunidade é livre: a lei alude a um direito potestativo de adesão. O abandono também
é livre, mas pode ter as consequências: o município que abandone o CIM nos três anos
seguintes à data em que nela ingressou perde todos os benefícios financeiros e
administrativos que tenha recebido em virtude da sua presença à mesma.
165 – Conceito de freguesia
Freguesia (é outra categoria da autarquia local) – pessoa coletiva de direito público que
visa a prossecução dos interesses próprios da população residente numa parcela do
território de um município através de órgãos representativos.
Elementos:
o Pessoa coletiva de direito público
o População residente
o Parcela ou circunscrição do território municipal (em regra as freguesias ocupam
uma parcela do território municipal, ou, em alguns casos, coincidem com o
território municipal)
o Visa a prossecução dos interesses próprios dos residentes nessa parcela do
território
o Órgãos representativos eleitos pela população residente
No ano de 2012, teve lugar um complexo processo de reorganização administrativa do
território das freguesias, que veio a culminar com a agregação e a consequente redução
do número de freguesias.
118
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
167 – Órgãos da freguesia
A freguesia tem dois órgãos representativos: assembleia de freguesia (órgão deliberativo)
e junta de freguesia (órgão executivo).
O presidente da junta de freguesia é o candidato que encabeçar a lista mais votada na
eleição para a assembleia de freguesia. O presidente do órgão executivo (junta) é o
primeiro da lista mais votada na eleição que se realiza para o órgão deliberativo, que é a
única eleição no âmbito da freguesia.
A assembleia de freguesia é eleita por sufrágio universal, direto e secreto dos cidadãos
recenseados na área da freguesia, segundo o sistema de representação proporcional. O
número de membros da assembleia da freguesia varia em função do número de eleitores.
A junta de freguesia tem, além do presidente, um número de vogais variável, de 2 a 6, em
função do número de eleitores. Os vogais são eleitos pela assembleia de freguesia, de
entre os seus membros, mediante proposta do presidente da junta.
170 – Administração autónoma e Administração autónoma corporativa
A administração autónoma corporativa constitui uma forma de descentralização e de
participação dos interessados na AP. O fenómeno da Administração autónoma
corporativa tem na sua base uma coletividade ou um agregado de indivíduos ou entidades
particulares diretamente interessadas na gestão de determinados assuntos.
Por exemplo: os agentes que se dedicam à atividade de mediação imobiliária. Esse
conjunto de indivíduos e empresas tem um interesse próprio, direto e imediato na
definição de regras quanto ao acesso e exercício da atividade imobiliária, quanto aos
preços a cobrar aos clientes, quanto à aplicação de sanções aos agentes que não cumprem
as regras, etc. Pelo facto de a exercerem, os referidos agentes têm um interesse próprio
na regulação administrativa da atividade de mediação imobiliária.
Na atualidade, a regulação administrativa dessa atividade cabe a um IP, encontrando-se
atribuída ao setor da Administração indireta do Estado. Na perspetiva dos agentes
imobiliários, estamos aqui em presença de um caso de hétero-administração: a regulação
administrativa da atividade profissional em causa é determinada por um organismo
público estranho e alheio aos profissionais (distinção clara entre quem tem o encargo de
administrar e os destinatários da atividade administrativa).
Mas admitamos agora que o legislador decide criar uma nova entidade pública, vamos
supor uma Câmara dos Agentes Imobiliários, composta pelas pessoas que exercem a
profissão de agente de mediação imobiliária, dispondo de órgãos por estes eleitos e com
a função de efetuar a regulação administrativa da atividade de mediação imobiliária.
Teríamos, então, um processo de descentralização desta função pública, por via da sua
deslocação da esfera do Estado para a coletividade dos interessados (dos próprios
destinatários das medidas e dos atos praticados no exercício dessa função pública). Esta
119
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
passaria a ser desenvolvida em sistema de autoadministração, em um sistema de
administração realizada pelos destinatários da atividade administrativa.
As entidades da Administração autónoma territorial congregam todos os membros da
coletividade local residente; o território é aqui o elo de ligação e todas as pessoas que o
partilham são abrangidas. Na Administração autónoma corporativa, são abrangidos os
membros que compartilham uma certa condição: o elo é agora a qualidade ou condição
que as pessoas que integram o grupo partilham.
Por se basear no território, a Administração autónoma territorial ocupa-se de fins
múltiplos, no quadro de um princípio de generalidade. A Administração corporativa tem
atribuições delimitadas e específicas, segundo um princípio de especialidade.
A Administração autónoma territorial é constitucionalmente necessária. Já a
Administração autónoma corporativa, além de facultativa é vista como excecional do
ponto de vista constitucional.
Na Administração autónoma corporativa o interesse público cuja realização se vê
confiada à coletividade de interessados não é assumido, qua tale como um interesse
próprio e específico dos membros da coletividade. A coletividade de interessados vê-se
beneficiada com o privilégio de gerir uma atividade de interesse público geral em cuja
regulação tem um interesse direto.
Verifica-se a coincidência ou identidade entre o interesse público geral na regulação de
uma certa atividade ou na utilização de um bem público e o interesse (privado) próprio
de determinados indivíduos. A presença deste interesse próprio é precisamente o fator
que legitima uma solução de autoadministração, no quadro da efetivação do princípio
constitucional da participação dos interessados na gestão da Administração.
A convocação da ideia de democracia para legitimar estas formas de autoadministração
não é credencial bastante, porquanto se trata, afinal, de instituir uma micro-democracia,
de que apenas beneficia quem pertence à coletividade que tem o privilégio de se
autoadministrar.
171 – Suportes organizativos
O suporte principal da Administração autónoma corporativa é a associação pública.
A associação que aqui está em jogo é a associação pública de interessados que congrega
indivíduos e, porventura, pessoas coletivas privadas que integram a categoria dos
administrados que se autoadministram através da associação.
A associação pública de interessados caracteriza-se como entidade de natureza
corporativa ou associativa que reúne uma coletividade de pessoas e que, através de órgãos
representativos, assume a responsabilidade de executar tarefas relacionadas com os
interesses específicos dessas pessoas e com o interesse público geral, sem sujeição a
orientação, ainda que sob a tutela do Estado. A associação pública permite aos
interessados a participação na gestão efetiva dos interesses públicos.
120
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
A categoria mais significativa das associações públicas de interessados são as associações
públicas profissionais.
173 – Superintendência
a) Traços gerais da figura da superintendência
A superintendência refere-se a uma situação de supremacia de uma entidade, ou
de um órgão, sobre outra entidade, ou outro órgão.
Conceitos com o qual se relaciona:
o Direção – compete ao Governo dirigir os serviços e a atividade da
Administração direta
o Tutela – compete ao Governo exercer a tutela sobre a Administração
indireta e a Administração autónoma
A superintendência, enquanto poder de supremacia, apresenta-se, por um lado,
menos forte ou intrusivo que o poder de direção e, por outro, mais forte e intenso
que o poder de tutela: superintender não significa tanto como dirigir, mas também
não significa tão pouco como controlar ou fiscalizar.
Superintendência – relação jurídica entre duas entidades da AP, na qual uma delas,
a entidade principal, detém um poder de orientação da outra, a entidade
instrumental que, em geral, se materializa através da adoção de medidas de
definição das prioridades e objetivos a prosseguir, estratégias a adotar e das metas
a atingir, bem como da emissão de diretrizes e de instruções sobre o modo de
realização dos referidos objetivos e metas por parte da entidade instrumental.
A típica relação de superintendência processa-se, no âmbito da Administração
estadual indireta, entre o Estado e os IP’s dependentes do Governo.
Superintendência é, então, a relação que se processa entre o Governo e os órgãos
dirigentes dos IP’s: o membro do Governo da tutela pode dirigir orientações,
emitir diretivas ou solicitar informações aos órgãos dirigentes dos IP’s sobre os
objetivos a atingir na gestão do instituto e sobre as prioridades a adotar na
respetiva prossecução.
Os IP’s são entidades dotadas de personalidade jurídica instituídas pelo Estado
para a realização, em seu próprio nome, de finalidades estaduais, integram, então,
as pessoas coletivas públicas instrumentais ou secundárias. São organismos
criados para servir o Estado, para atuarem como seus instrumentos que se colocam
na dependência do Governo, adstritos a um ministério, o ministério da tutela.
O facto de estar aqui presente um processo de desconcentração intersubjetiva é o
resultado de uma opção intencional de distanciamento do Governo em relação à
gestão da tarefa desconcentrada.
O afastamento dos poderes de direção governamental representa um efeito
necessário da desconcentração intersubjetiva. Assim: superintender é menos do
que dirigir.
121
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Não está pressuposto o reconhecimento de interesses públicos fora do Estado, nem
qualquer propósito de atribuir à entidade desconcentrada o poder de
autoadministrar interesses públicos não estaduais. Os IP’s não se apresentam
como protagonistas ou titulares de interesses públicos próprios, que possam ter a
pretenção de definir. Atuam para servir interesses próprios do Estado. Os IP’s
clássicos (dependentes do Governo) não possuem legitimidade democrática
própria; a sua legitimidade provém do Governo, ao qual cabe designar os seus
dirigentes e perante o qual estes são responsáveis.
Existe controlo análogo quando uma entidade pode exercer uma influência
decisiva sobre os objetivos estratégicos e as decisões relevantes da entidade
controlada.
A aplicação mais importante da relação de superintendência ocorre no âmbito da
Administração indireta do Estado e, de forma exemplar, na relação entre os
Estados e os IP’s, entre o Governo e os órgãos dirigentes dos IP’s. Mas a figura
não se esgota nesse âmbito.
A relação de superintendência é uma relação própria do DA: os poderes que a
caracterizam são exercidos pela ‘via administrativa’, com fundamento na lei, em
regulamentos ou, porventura, em contrato administrativo celebrado entre 2
pessoas coletivas.
b) Dimensão externa da relação de superintendência
A configuração da superintendência como relação jurídica que se processa entre
2 pessoas coletivas, como relação jurídica externa, não determina, porém, que se
trate de uma relação justiciável.
Pelo menos no caso das relações de superintendência que se processam entre o
Estado e os ‘seus’ IP’s ou as ‘suas’ entidades empresariais, afigura-se-nos que não
se verificam os pressupostos para a ocorrência de conflitos cuja resolução possa
ser pedida a tribunais. O caráter claramente instrumental dos institutos públicos e
das empresas públicas em relação ao Estado não se concilia com a invocação de
direitos ou de interesses próprios que lhes cumpra defender no quadro de litígios
com o Estado.
O mesmo sucede no plano das relações de superintendência entre os municípios e
as empresas locais sob a respetiva influência dominante.
Na entidade superintendida não radica qualquer interesse próprio que deva ser
protegido perante a entidade principal.
A entidade superintendida é uma peça ou instrumento da entidade principal,
instituída para servir esta e que por esta é controlada.
122
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
c) Efetividade do poder de superintendência
Os poderes exercidos no âmbito da relação de superintendência vinculam os
destinatários, em regra, os titulares dos órgãos com funções de dirigir e de
administrar a pessoa coletiva instrumental.
Os dirigentes dos IP’s estão enquadrados numa relação de emprego público,
assente numa comissão de serviço.
Essa específica relação de emprego público (trabalho em funções públicas) tem
ingredientes disciplinares; compete ao Governo exercer a ação disciplinar sobre
os membros dos órgãos dirigentes.
Não será tanto pelo lado do poder disciplinar que se garante a efetividade da
superintendência do Governo. Essa garantia assenta no estabelecimento que o
Governo pode determinar a cessação do mandato (destruição) dos dirigentes dos
IP’s pela não comprovação superveniente da capacidade adequada a garantir o
cumprimento das orientações e objetivos superiormente fixados. O Governo tem
o poder de determinar a dissolução do conselho diretivo em caso de falta de
prestação de informações ou prestação deficiente das mesmas, do incumprimento
dos objetivos definidos no plano das atividades aprovado ou desvio substancial
entre o orçamento e a sua execução ou, em geral, em caso de incumprimento das
orientações, recomendações ou diretivas ministeriais no âmbito do poder de
superintendência.
O incumprimento ou inobservância de determinações superiores baseadas em
poderes de superintendência podem não constituir factos ilícitos disciplinares
mas, em todo o caso trata-se de factos que justificam a destituição de membros do
conselho diretivo ou a dissolução do conselho diretivo de IP’s (‘justa causa’); os
referidos factos justificam medidas repressivas, determinadas na sequência de um
juízo de censura sobre o incumprimento de deveres ( = meios de garantia da
efetividade dos poderes de superintendência do Estado sobre os IP’s).
A relação de superintendência abrange um conjunto limitado de poderes, onde não
se inclui, por exemplo, a emissão de comandos específicos no sentido da prática
de um ato ou da adoção de uma medida, tal é ilegal e a consequência da ilegalidade
é a sua ineficácia jurídica: o destinatário não está obrigado a acatá-lo, e não poderá
ser sancionado pelo facto do incumprimento.
174 – Tutela administrativa
A relação jurídica estabelecida por lei entre duas entidades da AP, na qual uma delas
dispõe de poderes legais de fiscalização e de intervenção sem caráter orientador,
exercidos no quadro de uma apreciação da legalidade ou do mérito da gestão
administrativa autónoma da entidade tutelada.
A tutela administrativa consiste numa relação intersubjetiva, que se processa entre duas
entidades juridicamente autónomas entre si; uma relação estabelecida por lei, a qual
define os específicos poderes suscetíveis de serem exercidos no âmbito dessa relação.
123
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Princípio da tipicidade legal das medidas de tutela: só existem os poderes de tutela
previstos na lei.
Ao conceito de tutela administrativa reconduzem-se quaisquer poderes legais de
intervenção ou de ingerência sem natureza orientadora e, por maioria da razão, sem
natureza dirigista ou hierárquica.
Associa-se tutela a fiscalização ou controlo. Todavia, a tutela pode abranger poderes de
ingerência e de intervenção que não cabem no conceito de atividade de controlo ou
fiscalização: a aplicação de sanções e medidas restritivas, ou a adoção de medidas em
substituição da entidade tutelada são exemplos de poderes que ultrapassam o âmbito do
controlo ou fiscalização. Consideramos, então, poderes de tutela, quaisquer poderes de
fiscalização e de intervenção não orientadora, a exercer no âmbito de uma relação de
caráter intersubjetivo entre duas entidades da AP.
A relação intersubjetiva de tutela pode conviver com outras relações jurídicas que
intercorrem entre as mesmas entidades, como por ex.: a relação de delegação ou de
superintendência.
É sob o modelo da relação de tutela que se desenvolve o relacionamento geral e típico
entre o Estado e as entidades da Administração autónoma – autarquias locais e entidades
da Administração corporativa.
174.1 – Tutela, Administração autónoma e Administração indireta
A relação de tutela reporta-se a poderes de intervenção externa de uma entidade que atua
num plano de realização do interesse público diferente daquele em que, com autonomia,
se desenvolve a ação da entidade tutelada. Supõe-se que esta entidade dispõe de uma
capacidade própria de administrar os seus interesses e de pautar a sua ação pelos seus
próprios critérios, sem a direção ou a orientação de terceiros. Isto explica uma associação
íntima entre a tutela e a AP autónoma ou, pelo menos, a capacidade de autoadministração:
em qualquer caso, a ideia que se sugere é a de que uma certa entidade (autónoma ou com
capacidade de autoadministração) desenvolve as suas atribuições e competências num
quadro de autonomia, dentro dos limites da lei, mas de acordo com os seus critérios, e
sem orientação externa; mas esta entidade pode estar sujeita a ações externas de
fiscalização e de intervenção que representam limites ou restrições, mais ou menos
extensas, à sua autonomia e capacidade de autoadministração.
A tutela é então a relação que se processa entre o Estado e as entidades da Administração
autónoma.
No âmbito desta aplicação, o conceito de tutela administrativa deixa de pressupor uma
lógica de intervenção externa, no sentido de extrínseca ou exterior, própria de uma
entidade alheia ou estranha aos interesses prosseguidos pela entidade tutelada. A tutela
manifesta-se no âmbito de uma relação entre uma entidade principal e uma entidade
instrumental. A utilização do conceito neste âmbito provoca a sua desnaturação, pois,
agora, a tutela já não se revela como um limite à autonomia pela simples razão de que a
entidade tutelada não dispõe de autonomia, surgindo antes como instrumento da entidade
com poderes de tutela, que prossegue os fins desta, de acordo com orientações e diretrizes
124
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
que esta define. Neste cenário, a relação de tutela convive com a relação de
superintendência.
A lei pretende associar à tutela todas as formas de intervenção de uma entidade pública
na gestão de outra entidade que não se reconduzam ao conceito de superintendência
(orientação). Assim, no plano da relação entre o Estado e os IP’s, o Governo tem um
poder de orientar, mas também dispõe de muitos outros poderes de intervenção
desprovidos de sentido orientador. Na medida em que não têm sentido orientador, estas
formas de intervenção são legalmente qualificadas como tutela administrativa. Há uma
diferença substancial relevante entre as medidas de tutela do Estado sobre as entidades da
AP autónoma (ex.: autarquias locais) ou sobre os IP’s autónomos (ex.: universidades) e
as que o mesmo Estado adota sobre os IP’s dependentes do Governo. As primeiras
constituem medidas materialmente externas de condicionamento ou limitação da
autonomia (impugnáveis judicialmente para proteção da autonomia e dos interesses
próprios das entidades tuteladas); as segundas correspondem a medidas formalmente
externas de intervenção legitima sobre uma entidade instrumental (não impugnáveis
judicialmente por falta de legitimidade processual ativa dos IP’s, por não disporem de
interesses próprios perante o Estado).
174.2 – Tutela de legalidade e tutela de mérito
A tutela é sempre definida e balizada por lei. Mas, em si mesma, quanto ao funcionamento
das medidas pelas quais se manifesta, a tutela pode ser de legalidade ou de mérito.
Tutela de legalidade – a que se manifesta através de medidas de controlo e intervenção
que têm como finalidade ou fundamento uma apreciação da legalidade da atuação
realizada ou a realizar pela entidade tutelada.
No caso da tutela do Estado sobre as autarquias locais, a Constituição e a lei estabelecem
que a tutela consiste na verificação do cumprimento da lei.
Tutela de mérito – possibilidade de adoção de medidas que têm a finalidade de apreciar
o mérito (a oportunidade ou a conveniência) ou que se fundamentam numa apreciação
sobre o mérito das condutas empreendidas ou a empreender pela entidade tutelada.
O poder de tutela sobre as instituições de ensino superior tem em vista o cumprimento da
lei e a defesa do interesse público. Aqui, o conceito de defesa do interesse público remete
para uma intervenção tutelar não situada exclusivamente no plano da legalidade, e que
pode, portanto, dar lugar à adoção de medidas com fundamento em juízos de mérito.
Em muitos casos, a tutela de legalidade e a tutela de mérito podem materializar-se através
do mesmo tipo de medidas tutelares, por ex.: autorizações ou decisões de homologação.
Suponha-se a exigência de autorização tutela para a contração de empréstimos pela
entidade tutelada: no caso de tutela de legalidade, o juízo subjacente à decisão tutelar
sobre autorizar ou não tem de se fundamentar numa apreciação da legalidade; ao passo
que, sendo admitida a tutela de mérito, a decisão de autorizar a contração do empréstimo
pode basear-se no juízo que a entidade tutelar faz sobre a oportunidade ou a conveniência
do empréstimo para a finalidade pretendida.
125
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
181 – Hierarquia administrativa
No plano da organização interna da pessoa coletiva de direito público, a hierarquia
administrativa baseia-se na integração dos respetivos órgãos numa cadeia ou num
escalonamento vertical, na qual um ou alguns surgem ordenados numa posição superior
e outro ou outros numa posição inferior ou subalterna. Os órgãos superiores detêm um
poder de supremacia jurídica sobre os órgãos subalternos ou subordinados.
Em razão da sua valia como instrumento ordenador da repartição de funções e de poderes
dentro de organizações humanas e complexas, o modelo hierárquico transformou-se no
esquema natural para a estruturação interna das organizações eclesiásticas ou das
organizações militares, bem como numa fase posterior, da AP.
Hierarquia administrativa – sistema de relacionamento entre órgãos administrativos.
181.1 – Conceito de hierarquia administrativa enquanto relação entre órgãos
A hierarquia administrativa consiste num processo de relacionamento que se desenvolve
num plano interorgânico, entre órgãos administrativos, enquanto centros
institucionalizados de competências externas. A hierarquia pressupõe, a presença de um
órgão administrativo que, embora em posição subalterna em face de outro órgão, se
encontra dotado de uma competência própria para praticar atos jurídicos com relevância
externa que, portanto, produzem efeitos fora da esfera da pessoa coletiva em que se
integra.
Segundo a doutrina, a hierarquia reporta-se a uma relação jurídica de caráter interno,
intrasubjetivo, que opera entre órgãos da mesma pessoa pública. Recusa-se, pois, a
possibilidade jurídica de relações de hierarquia entre diferentes pessoas, que se projetem
num quadro intersubjetivo.
As relações no interior do sistema administrativo desenvolvem-se sempre entre órgãos.
Isto é assim também no caso das relações intersubjetivas (tutela, superintendência), as
quais se distinguem pelo facto de se desenrolarem entre órgãos de diferentes pessoas
coletivas públicas. Entre nós, designadamente no âmbito da Administração indireta do
Estado, a Constituição convoca um modelo de relação (entre o Estado e os IP) baseado
na superintendência e não na hierarquia.
O órgão inferior ou subalterno é, necessariamente, um órgão unipessoal ou singular. Por
força do seu modo de funcionamento (colegial) e do seu processo de ação (discussão de
propostas), em que cada membro tem o direito de decidir o seu sentido de voto, o órgão
colegial não pode ter condição de subalterno, e ficar exposto ao poder de direção
hierárquica e ao de um outro órgão.
Esta compreensão clássica pode, contudo, contestar-se.
A hierarquia administrativa externa, é uma relação jurídica entre órgãos administrativos.
Todavia, em algumas das suas dimensões, a essa relação interorgânica associa-se uma
relação jurídica entre o órgão superior e o titular do órgão subalterno.
126
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
A hierarquia administrativa (externa) é, então, uma relação entre dois ou mais órgãos
administrativos de uma pessoa coletiva pública posicionados em graus diferentes de uma
cadeia ou de um escalonamento vertical em que os órgãos ordenados em posição superior
detêm um poder de supremacia jurídica sobre os órgãos ordenados em posição inferior.
182 – Delegação de poderes
A delegação de poderes ou de competências administrativas é um instituto do direito da
organização administrativa que, em geral, se associa ao fenómeno da desconcentração
administrativa de competências: na verdade, a delegação promove a distribuição ou
repartição, pela via administrativa, de competências que a lei confia, em primeira mão, a
um certo órgão administrativo.
A delegação põe em marcha um processo de separação entre titularidade e exercício de
um determinado poder ou competência: o órgão delegante não perde a competência que
delega, mas o delegado passa a poder exercer a competência delegada. No exercício de
poderes delegados, o delegado exerce, em nome próprio, uma competência do delegante,
uma competência alheia. Este constitui entendimento mais ou menos generalizado sobre
a natureza jurídica da delegação de poderes, mas há construções dogmáticas com outros
contornos.
Numa perspetiva pragmática, indica-se a delegação e a subdelegação de competências
como instrumentos privilegiados de gestão e incentiva-se os titulares dos cargos de
direção a promover a sua adoção, enquanto meios que propiciam a redução de circuitos
de decisão e uma gestão mais célere e desburocratizada.
A delegação de poderes, por um lado, assenta num ato da Administração, decorre de uma
medida administrativa, por outro lado, o seu objeto é a transferência do exercício de
competências ou poderes administrativos.
182.1 – Delegação como figura de aplicação geral no sistema administrativo
Como instituto ou figura de aplicação geral do DA, definimos a delegação de poderes
como um ato jurídico, fundado em expressa permissão legal, pelo qual um órgão
administrativo transfere para outro órgão ou agente da mesma ou de outra pessoa coletiva
pública ou para uma entidade particular o exercício de uma competência que lhe pertence.
a) Ato de delegação
A delegação de poderes pressupõe a existência do poder que vai ser objeto de
delegação na esfera de competências do órgão delegante. Este não pode delegar
um poder de que não dispõe.
A delegação de poderes assenta num ato jurídico, o ato de delegação.
Pode tratar-se de um ato jurídico unilateral, ou seja, um ato administrativo ou de
um contrato administrativo: conforme os casos, teremos uma delegação unilateral
ou uma delegação contratual.
Ato de delegação – quando resulta de um ato unilateral, a vontade do órgão
delegado não tem qualquer influência, e, na prática, a delegação é-lhe imposta; a
127
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
delegação comporta um efeito jurídico obrigatório para o delegado, o qual fica
adstrito à obrigação de exercer a competência nele delegada, no quadro dos
princípios da irrenunciabilidade e da inalienabilidade da competência.
Quando a lei estabelece que a delegação repousa num contrato, o delegado detém
o poder de aceitar ou recusar a delegação.
Na perspetiva do órgão delegante, a delegação apresenta-se como um ato
facultativo ou livre, embora raros, existem casos de delegação obrigatória.
Mesmo quando opera nas relações entre órgãos da mesma pessoa coletiva
(relações jurídicas internas), o ato de delegação produz efeitos externos,
porquanto habilita o órgão ou agente delegado a atuar num plano externo no
exercício legítimo de competências que a lei não lhe confere. Apesar de, em si
mesma, a relação de delegação poder projetar-se num plano subjetivo puramente
interno, o ato jurídico de delegação introduz uma alteração no esquema legal de
distribuição de competências, ao habilitar um órgão ou agente a desenvolver uma
ação com efeitos externos. Neste sentido, o ato de delegação produz um efeito de
caráter normativo, comportando-se, de certo modo, como ‘norma de competência’
em relação ao delegado. Este efeito não infirma, contudo, a natureza concreta e
individual do ato de delegação. Trata-se de um ato jurídico (ato administrativo ou
contrato administrativo) dotado de um recorte organizativo, que interfere e altera,
com fundamento na lei, no modelo legal originário de distribuição de
competências.
b) Habilitação legal (normativa)
A regra da inalienabilidade das competências incorpora também uma regra de
indelegabilidade ou de proibição da delegação.
A delegação de poderes é um ato necessariamente fundado numa lei (ato
legislativo). Esta é a regra. Mas o fundamento da delegação de poderes também
pode ser um regulamento administrativo, se e quando o poder ou competência que
é objeto da delegação tiver sido atribuído ao delegante por regulamento
administrativo.
A delegação de poderes tem de se encontrar habilitada por uma norma jurídica do
mesmo valor hierárquico da norma que atribui ao órgão delegante os poderes
delegados. Assim, um regulamento não pode permitir a delegação de
competências atribuídas pela lei regulamentada.
Um ato de delegação sem fundamento legal deve qualificar-se como ato nulo, por
corresponder a uma renúncia ao exercício da competência.
A norma de habilitação da delegação deve indicar os poderes delegáveis. Mas essa
exigência não corresponde a um imperativo de enumeração taxativa, a norma de
habilitação pode identificar como objeto de delegação um ‘conjunto’ ou
‘complexo’ genérico de poderes. Não se exclui sequer a hipótese de não existir
uma indicação precisa dos poderes delegáveis, caso em que deve entender-se que
o órgão delegante se encontra habilitado a delegar qualquer um dos seus poderes
ou competências – habilitação genérica – (ex.: “o presidente da câmara municipal
pode delegar ou subdelegar competências nos vereadores”).
A norma de habilitação não indica sempre os órgãos delegáveis, o que, quando se
verifica, não significa que o delegante possa delegar em quaisquer órgãos ou
agentes.
128
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
c) Objeto da delegação
A delegação alberga conteúdos muito variados: o ponto de partida é,
naturalmente, o conjunto dos poderes ou competências do órgão delegante.
Órgão delegante – órgão normalmente competente para decidir em determinada
matéria.
A delegação permite que o delegado pratique atos administrativos sobre a mesma
matéria – delegação de poderes para a prática de atos administrativos.
Quando se processa entre órgãos de diferentes pessoas coletivas, a delegação de
poderes é suscetível de envolver a vinculação do órgão delegado à prossecução
de finalidades públicas – atribuições – da pessoa coletiva a que pertence o órgão
delegante. Mas isso não altera o sentido da delegação, que conserva o perfil de
um ato de transferência do exercício de competências, no qual devem ser
especificados os poderes delegados.
d) Sujeitos da delegação
A delegação pode processar-se no âmbito de relações:
o Entre órgãos administrativos da mesma pessoa pública – ex.: delegação de
competências da câmara municipal no presidente da câmara ou delegação
de competências do ministro no diretor geral
o Entre órgãos administrativos de diferentes pessoas coletivas públicas –
ex.: delegação de competências do ministro da tutela no presidente do
conselho diretivo de um IP, ou a delegação de competências dos órgãos de
Estado nos órgãos dos municípios ou das entidades intermunicipais
o Entre órgãos administrativos e titulares de órgãos administrativos que não
dispõem de competências próprias – ex.: delegação de competências de
órgão colegial no respetivo presidente, delegação de competências do
presidente da câmara nos vereadores.
o Entre órgãos administrativos e agentes de uma pessoa coletiva pública – o
conceito genérico de ‘agente’ refere-se aos trabalhadores da AP, agente é
aquele que, a qualquer título, exerça funções públicas ao serviço da pessoa
coletiva, em regime de subordinação jurídica; agente é um trabalhador da
pessoa coletiva pública.
o Entre órgãos administrativos e entidades particulares – delegação privada,
em que os primeiros estão na condição de delegantes e os segundos na
condição delegatária.
A lei de habilitação nem sempre indica os destinatários possíveis na
delegação, ou seja, os órgãos delegáveis. Quanto à subdelegação, o
subdelegante pode subdelegar as competências que lhe tenham sido
subdelegadas, mas não há qualquer indicação sobre quais os órgãos nos quais
pode o subdelegante subdelegar competências.
Na falta de indicação legal do órgão delegável, parece-nos que o órgão
delegante (ou subdelegante) apenas pode delegar (ou subdelegar) em órgãos
ou agentes que, em relação a si, estejam em condições de subalternidade ou
subordinação jurídica: órgãos ou agentes inferiores hierárquicos no âmbito da
relação de hierarquia.
129
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
e) Relação de delegação
A delegação institui uma relação jurídica entre delegante e delegado, que
neutraliza ou suspende, no respetivo âmbito, a eventual relação (ex.: relação
hierárquica) existente antes da delegação.
f) Síntese sobre a figura geral da delegação de poderes administrativos
A operação de delegação pressupõe e inclui os seguintes momentos:
o Atribuição normativa de um poder ou competência a um órgão
administrativo
o Habilitação normativa conferida a esse órgão para efetuar a delegação de
poderes ou competências específicas que lhe estejam atribuídas
o Prática do ato de delegação ou celebração do contrato de delegação
o Exercício dos poderes delegados pelo órgão delegado
g) Regime jurídico da delegação
A delegação de poderes é uma figura jurídica de origem e com fundamento legal
(ou normativo): é a lei que habilita um determinado órgão a delegar, que indica o
objeto da delegação e define a natureza do ato de delegação e, em regra, é ainda a
lei que indica os órgãos delegáveis.
Mas essa base de legalidade presente na figura da delegação não equivale, só por
si, à delineação de um regime jurídico da delegação, que contenha, por ex.: uma
disciplina sobre os poderes do delegante ou sobre os termos de extinção da
delegação. Este regime pode ainda estar previsto na lei de habilitação, mas
também pode existir fora dela. Pode até não existir um regime legal definido para
uma determinada delegação de poderes.
No atual DA português, descortinamos dois regimes gerais de delegação de
poderes administrativos:
o Um para as delegações que envolvam municípios, quer como delegatários,
quer como delegantes
o Outro, para as delegações de poderes delegados no art44º, nº1 e 3 do CPA
182.3 – Delegação de poderes prevista e regulada no CPA
182.3.1 – Delimitação
“Os órgãos administrativos normalmente competentes para decidir em determinada
matéria podem, sempre que para tal estejam habilitados por lei, permitir, através de um
ato de delegação de poderes, que outro órgão ou agente da mesma pessoa coletiva ou
outro órgão de diferente pessoa coletiva pratique atos administrativos sobre a mesma
matéria” – art44º, nº1 CPA
o O CPA não constitui, nem pretende constituir, uma lei geral de habilitação de
delegação, tal poderá ocorrer sempre que para tal (os órgãos administrativos)
estejam habilitados por lei, a delegação que o CPA pressupõe é prevista e
delineada fora dele, por uma lei de habilitação.
130
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
o O exposto no ponto anterior conhece duas exceções, em que o CPA se assume
diretamente como lei de habilitação de delegações:
✓ Atos de administração ordinária
✓ Subdelegações
o A delegação de poderes que o CPA pressupõe como base de aplicação do regime
jurídico nele previsto é apenas a delegação administrativa, a que promove uma
deslocação de competências por iniciativa de um órgão da Administração.
o Nas situações que constituem a regra, a delegação que o CPA pressupõe não é
qualquer delegação de poderes prevista em lei: o propósito consiste em
estabelecer um regime jurídico da delegação para a prática de atos
administrativos.
o O sentido da regulamentação legal reside em abranger as delegações indicadas
quando efetuadas por órgãos administrativos, unilateralmente, em outros órgãos
ou agentes da mesma pessoa coletiva ou em órgãos de outra pessoa coletiva.
A figura específica de delegação que o CPA se propõe regular define-se nos termos
seguintes: ato unilateral praticado, com fundamento na lei, pelo qual um órgão
administrativo transfere para outro órgão ou agente da mesma pessoa coletiva ou para o
órgão de outra pessoa coletiva o exercício da sua competência para a prática de atos
administrativos ou de atos de administração ordinária.
182.3.1.1 - Ato de delegação
A delegação de poderes a que o CPA se refere é uma delegação administrativa, efetuada
por um ato da Administração de caráter concreto e individual; excluem-se, assim as
delegações legais, bem como as efetuadas por regulamento.
Pressupõe-se apenas a delegação por ato unilateral, afastando-se, as delegações
contratuais – unilateralidade da intervenção do delegante.
182.3.1.2 – Lei de habilitação
A delegação de poderes, enquanto ato da Administração, pressupõe duas normas jurídicas
prévias:
o Norma atributiva do poder delegado (a norma que atribui ao órgão A o poder de
aplicar coimas)
o Norma de habilitação de delegação (a norma que atribui ao órgão A o poder de
delegar o seu poder de aplicar coimas)
A delegação de poderes depende, em geral, de lei de habilitação, o CPA não tem o
propósito de assumir, em geral, a condição de lei de habilitação. Trata-se de estabelecer
um regime para uma figura jurídica que outras normas permitem mobilizar.
Mas, em exceção a essa regra, o CPA também constitui lei de habilitação e contém normas
que habilitam órgãos administrativos a efetuarem delegações.
131
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
a) Delegação para a prática de atos de administração ordinária
Os órgãos competentes para decidir em determinada matéria ficam genericamente
habilitados (‘podem sempre’) a delegar no seu imediato inferior hierárquico,
adjunto ou substituto a prática de atos de administração ordinária nessa matéria.
Uma habilitação com o mesmo alcance é conferida aos órgãos colegiais em
relação aos respetivos presidentes. Esta habilitação não opera havendo lei de
habilitação específica que estabeleça uma particular repartição de competências
entre os diversos órgãos.
O CPA não indica o que deve entender-se por atos de administração ordinária no
âmbito da matéria em que um órgão é competente para decidir, mas tudo aponta
para assim se considerarem os atos instrumentais isolados, os atos preparatórios,
em geral apenas com relevância jurídica interna, bem como os atos de execução
de uma competência decisória.
Pelo menos em regra, esta delegação não tem como objeto a competência para a
prática de atos administrativos.
b) Subdelegação de poderes
O delegante é autorizado a subdelegar os poderes delegados, sendo atribuída a
mesma autorização ao subdelegado, uma vez que a subdelegação constitui uma
delegação, uma norma de habilitação de delegações.
182.3.1.3 – Âmbito subjetivo da delegação
O CPA pressupõe uma figura de delegação que opera no âmbito de relações que
envolvem, na qualidade de delegantes, órgãos administrativos, órgãos da AP. O órgão
administrativo suscetível de figurar como delegante é aquele que a lei de habilitação
indicar.
A delegação que o CPA tem como referência é a que, nos termos da lei de habilitação,
tem ou pode ter na condição de delegado num órgão da mesma pessoa coletiva pública a
que pertence o órgão delegante.
Todavia, a regulamentação também se aplica à delegação efetuada, nos termos da lei de
habilitação, por um órgão administrativo de uma pessoa coletiva num órgão de outra
pessoa coletiva.
Cremos que se pressupõe apenas as delegações efetuadas em órgãos de pessoas coletivas
públicas.
A regulamentação do CPA atinge as delegações que, com fundamento em lei, os órgãos
administrativos possam efetuar em agentes da mesma pessoa coletiva.
Delegáveis, podem ser órgãos, pertencentes ou não à pessoa coletiva a que pertence o
órgão delegante, bem como agentes pertencentes a essa pessoa coletiva, o CPA não
contém qualquer indicação, sobre quais podem ser os órgãos ou os agentes delegáveis.
Uma tal indicação deverá constar da lei de habilitação.
Pode suceder que a lei de habilitação não proceda à indicação dos órgãos ou agentes
delegáveis. Muitas vezes, as leis autorizam os órgãos da AP a delegar os seus poderes,
132
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
mas não indicam o órgão ou agente que pode beneficiar da delegação. O CPA também
não contém essa indicação. Parece-nos de considerar, o princípio segundo o qual o órgão
legalmente habilitado a delegar pode delegar (apenas em órgãos) ou agentes que, em
relação a si, estejam em condição de subalternidade ou subordinação jurídica.
182.3.1.4 – Âmbito objetivo da delegação
O CPA tem em vista a delegação de poderes para a prática de atos administrativos e atos
de administração ordinária. A figura de delegação considerada no CPA é a que tem por
objeto poderes ou competências de decisão ou poderes para a prática de atos de
administração ordinária no âmbito das competências de decisão.
182.3.1.5 – Delegação como transferência de exercício de competência
Na perspetiva do CPA, a delegação efetua a transferência do exercício de uma
competência do órgão administrativo delegante (competência de que este é titular, que
lhe pertence nos termos da lei): ao delegado é permitido praticar os atos administrativos
sobre a matéria da competência normal do delegante.
Por pressupor que o delegado exerce uma competência alheia (que não lhe pertencia
antes, nem passa a pertencer-lhe depois da delegação) ali atribui-se ao delegante o poder
de avocar os poderes delegados, bem como de revogar ou de substituir os atos praticados
pelo delegado.
182.3.2 – Regime jurídico
182.3.2.1 – Requisitos do ato de delegação
O ato de delegação de competências, a praticar pelo órgão delegante, tem de cumprir
requisitos, em matéria de especificação e de publicidade.
O ato de delegação deve especificar (enunciar de forma específica, objetiva e clara), os
poderes delegados ou subdelegados, ou enumerar quais os atos que o delegado ou
subdelegado pode praticar – exigência de especificação do ato de delegação.
O ato de delegação deve mencionar a norma atributiva do poder delegado (norma de
competência) e aquela que habilita o órgão a delegar (norma de habilitação).
A falta dos elementos de especificação ou de menção obrigatória conduzem à invalidade
do ato de delegação.
A eficácia jurídica da delegação (ou subdelegação) depende da sua publicitação nos
termos legais. O ato de delegação deve ser publicado no Diário da República ou na
publicação oficial da entidade pública a que pertence o órgão delegante. Além desta forma
oficial de publicitação, sem a qual não produz efeitos, o ato de delegação tem ainda de
ser publicitado na internet, no sítio constitucional da entidade em causa. O prazo de 30
133
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
dias, conta-se desde o momento da prática do ato de delegação e sugere que este ato
caduca se não for publicado no referido prazo.
182.3.2.2 – Limites ao poder legal de delegação
A catalogação legal de poderes indelegáveis constitui um exercício inútil, porquanto o
que a lei precisa de prever é a possibilidade de delegação e não o inverso. Sem lei de
habilitação os poderes de um órgão administrativo são sempre indelegáveis; esta é a regra
da indelegabilidade dos poderes administrativos. Não faz sentido uma enumeração legal
de poderes que não podem ser delegados.
O art45º do CPA, sob a epígrafe “Poderes indelegáveis” sugere um catálogo de poderes,
de competências administrativas, que não podem ser delegadas.
Todavia, numa leitura mais cuidada, verifica-se que não é exatamente isso que se quer
prever nas alíneas do preceito: estas não indicam, em rigor, poderes legalmente
indelegáveis.
A intenção é de definir um regime a aplicar aos órgãos habilitados por lei a efetuar
delegações de poderes. O sentido deste regime não consiste, em estipular uma proibição
objetiva da delegação de certos poderes, mas antes, em proibir especificamente o órgão
legalmente habilitado a delegar – de delegar os seus poderes em certos órgãos ou agentes
ou de os delegar numa extensão tal que fique despojado do exercício de todos os seus
poderes.
A epígrafe do artigo revela-se enganadora, o que está em causa é uma indicação legal que
não se refere ao objeto da delegação, mas aos limites gerais do poder administrativo de
delegação.
a) Proibição da delegação da globalidade dos poderes
A proibição da delegação da globalidade dos poderes só se compreende se se tiver
presente que, por vezes, a lei de habilitação não procede a uma enumeração ou
indicação, precisa e específica dos poderes delegáveis.
A proibição que o CPA estabelece, aplica-se nos casos em que a lei de habilitação
não procede a uma especificação ou enumeração dos poderes delegáveis,
autorizando a delegação de quaisquer poderes do delegante. Neste cenário, o
delegante está proibido de delegar a globalidade dos seus poderes, terá de manter
na sua esfera o exercício de uma parte deles. Basta, para não desrespeitar o limite,
que o delegante conserve o exercício de uma pequena parte das suas
competências. O que a lei parece querer evitar é que um órgão administrativo se
transforme apenas num órgão delegante, deslocando para outro órgão o exercício
de todas as suas competências.
b) Proibição de delegação de poderes suscetíveis de serem exercidos sobre o
próprio delegado
O sentido da proibição é o da delegação de certos poderes do delegante no órgão
ou agente delegado. O CPA proíbe que o delegante delegue num determinado
agente os seus poderes de disciplina ou avaliação desse mesmo agente.
134
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Também se deve considerar proibida a delegação da competência para a
apreciação de recursos nos órgãos ou agentes que tenham praticado os atos objeto
desses recursos; de resto, a intervenção do titular do órgão ou agente nessa
situação configura um impedimento.
c) Proibição da delegação de poderes a exercer pelo delegado fora do âmbito da
respetiva competência territorial
A proibição legal aplica-se, neste caso, à delegação de poderes em órgãos que têm
competência apenas numa área territorial delimitada; ex.: um diretor geral, que a
lei autoriza a delegar a sua competência para licenciar indústrias, não poderá
delegar num diretor regional do norte a competência para licenciar indústrias a
instalar na região centro. O CPA pretende limitar o poder de delegação, de modo
a que esta não perturbe a lógica de vinculação das competências dos órgãos a um
determinado território.
182.3.2.3 – Regime aplicável à atuação do delegado
O órgão ou agente delegado passa a dispor do poder (e do dever) de exercer a competência
delegada. Um poder-dever, uma vez que o delegado não pode, por sua iniciativa,
abandonar ou deixar de exercer as competências delegadas.
Apesar de não ser nem se transformar no titular da competência, cabe ao delegado a
responsabilidade, no plano jurídico, decorrente dos atos que pratica. Qualquer órgão
administrativo é o responsável pelas consequências dos seus atos, e isso inclui os que
pratica no âmbito da delegação.
O princípio de equivalência entre a atuação do delegado e a que teria sido realizada pelo
delegante; por ex.: se os atos praticados pelo delegante estivessem sujeitos a recurso
administrativo necessário, o mesmo deverá suceder com os atos do delegado; os atos do
delegado devem entender-se como manifestações da competência reconhecida ao
delegante.
Contudo, esse princípio de equivalência entre os atos do delegado e os que seriam
praticados pelo delegante, conhece vários desvios; por ex.: os atos do delegado não são
impugnáveis em tribunais nos mesmos termos em que seriam se praticados pelo
delegante: as regras de competência territorial dos tribunais aplicam-se em função de se
tratar de uma atuação do delegado e não do delegante; o mesmo vale para a competência
dos tribunais em razão da hierarquia, se o primeiro ministro delega poderes num ministro,
o tribunal competente para apreciar as ações de impugnação das decisões do ministro
proferidas ao abrigo da delegação é o tribunal administrativo, e não o Supremo Tribunal
Administrativo.
182.3.2.4 – Regime dos atos praticados pelo delegado
O CPA estabelece algumas exigências formais quanto aos atos que o delegado pratica no
exercício dos poderes delegados. Impõe que estes atos mencionem a qualidade de
delegado no uso da delegação. Visa-se que os destinatários fiquem cientes de que se trata
135
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
de atos praticados ao abrigo de uma competência delegada. A inobservância, bem como
a observância defeituosa, não determinam a invalidade dos atos do delegado, mas os
interessados não podem ser prejudicados no exercício dos seus direitos pelo
desconhecimento da existência da delegação.
Os atos do delegado podem ser anulados, revogados ou substituídos pelo delegante. Os
atos do delegado podem também ser objeto de reclamação (impugnação para o próprio
delegado), nos casos expressamente previstos em lei, pode haver recurso administrativo
especial para o delegante dos atos praticados pelo delegado.
182.3.2.5 – Relação de delegação: poderes do delegante
A delegação está na origem de uma relação jurídica entre delegante e delegado. Uma
relação instuito personae, que envolve uma confiança do titular do órgão delegante no
titular do órgão ou agente delegado.
Uma relação caracterizada pela supremacia jurídica do delegante, o qual dispõe de
poderes sobre a própria relação de delegação, bem como sobre os atos praticados pelo
órgão delegado.
a) Emissão de diretivas e instruções vinculativas
O delegante tem o poder de emitir diretivas ou instruções vinculativas relativas ao
modo como devem ser exercidos os poderes delegados.
O exercício da competência delegada encontra-se submetido à orientação do
delegante. As diretivas e as instruções são vinculativas, o delegado tem sempre de
atender ou considerar o que nas mesmas se dispõe. O incumprimento das diretivas
e instruções pode comportar consequências no plano da relação de delegação. Mas
a violação das diretivas e das instruções não provoca a invalidade dos atos
praticados pelo delegado.
b) Autorização da subdelegação de poderes
A subdelegação de poderes pode considerar-se um tipo de delegação, com a
diferença estrutural consistente no facto de a delegação propriamente dita
envolver, na posição de delegante, o órgão titular da competência, ao passo que a
subdelegação envolve, na posição de subdelegante, o órgão ou agente com
competências delegadas.
O delegante pode autorizar o delegado a subdelegar (salvo disposição legal em
contrário). O CPA habilita o órgão delegante a autorizar o delegado a subdelegar.
Se a lei não estabelecer coisa diferente ou se o delegante ou subdelegante não
excluírem de forma expressa uma tal possibilidade, qualquer subdelegante pode
subdelegar as competências que lhe tenham sido subdelegadas.
‘Todo’ ou ‘qualquer’ subdelegado dispõe do poder legal de subdelegar.
c) Avocação
Avocação – ato pelo qual um órgão chama a si o exercício da competência de um
outro órgão, para decidir um caso específico ou um conjunto definido de casos; o
delegante tem o poder de avocar.
136
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Trata-se antes de um ato pelo qual o órgão delegante chama a si o exercício da
sua própria consistência (que delegou).
Como a delegação consiste na transferência do exercício da competência,
enquanto a mesma está em vigor, não existe uma dupla possibilidade de exercício
(pelo delegante e pelo delegado) da competência delegada. A avocação permite
ao delegante recuperar o exercício de um ou alguns poderes delegados, mantendo
a delegação quanto aos poderes não avocados.
A lei não regula a forma do ato de avocação, qualquer forma de comunicação
poderá ser utilizada (e-mail, sms, telefone) o ato de avocação pode até ser
praticado de forma concludente (ex.: solicitação ao delegado do envio do processo
administrativo relativo a um caso específico). Enquanto ato autónomo, praticado
de forma expressa ou tácita, a avocação tem o propósito prático de tornar o
delegado ciente de que o delegante chamou a si o exercício da competência num
âmbito definido. Neste sentido, a avocação previne o risco da ocorrência de
decisões contraditórias ou de duas decisões para a mesma situação da vida.
Na sequência da avocação, o delegado vê-se destituído do exercício da
competência delegada, pelo que o ato que venha a praticar é ilegal (por
incompetência).
Na hipótese de o delegante exercer a (sua) competência sem proceder à avocação,
o ato que pratique não deverá reputar-se inválido.
A falta de resposta a requerimento dirigido a delegante (ou subdelegante) é
imputada ao delegado (ou subdelegado), mesmo que a este não tenha sido
remetido o requerimento.
Assim, por ex.: depois de um ministro ter delegado a competência X num
secretário de Estado, o requerimento que o interessado apresenta ao ministro no
sentido da prática de um ato no âmbito daquela competência X é considerado
requerimento dirigido a órgão competente, decorrendo do preceito estar
preenchida a condição do dever legal de decidir. A falta de decisão do ministro
sobre o requerimento é imputada ao delegado, o secretário de Estado.
d) Anulação, revogação e substituição dos atos praticados pelo delegado
O delegante tem o poder de anular, revogar e substituir os atos praticados pelo
delegado, ao abrigo da delegação de poderes.
O órgão delegante pode exercer qualquer destes poderes oficiosamente, por
iniciativa própria. Quando a lei o estabelecer, também o pode fazer a pedido dos
interessados, mediante recurso administrativo especial.
A revogação e a anulação dos atos do delegado apenas pode ocorrer enquanto
vigorar a delegação. A competência do delegante para revogar, anular (e também
substituir) atos do delegado esgota-se (caduca) com a extinção da delegação.
Os atos administrativos do delegado estão assim, expostos a uma apreciação pelo
delegante, o qual, cumprindo as regras gerais, pode determinar:
o A revogação (fundada em razões de mérito, conveniência ou
oportunidade)
o A anulação (fundada em invalidade)
o A substituição de atos praticados pelo delgado
137
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Qualquer destes poderes, incluindo o de substituir os atos praticados pelo
delegado, é suscetível de ser exercido pelo delegante sem necessidade de
avocação.
Os poderes do delegante não se limitam à determinação da cessação ou da
destruição dos efeitos dos atos praticados pelo delegado. Vão mais longe, e podem
passar pela prática de novos atos que substituam ou alterem atos praticados pelo
delegado.
e) Revogação e anulação da delegação
O delegante pode, a todo o momento, fazer cessar a delegação por revogação. A
delegação, que constitui um ato livre do delegante é também um ato livremente
revogável.
Quanto ao poder de anulação do ato de delegação; a anulação tem como
fundamento a invalidade do ato de delegação.
182.3.2.6 – Extinção da delegação
Duas formas de extinção da delegação:
o Revogação e anulação
o Caducidade
A caducidade pode surgir como consequência do esgotamento dos efeitos da delegação
(ex.: delegação para decidir sobre pedidos de autorização durante o mês de julho) ou em
virtude de mudança dos titulares dos órgãos delegante ou delegado.
186 – Função administrativa enquanto função pública
A função administrativa é uma atividade pública, da responsabilidade originária e inicial
do Estado ou de outra pessoa coletiva pública. Reconduzem-se à função administrativa,
ou, talvez melhor, à ação pública, todas as ações executadas ou apropriadas pelo Estado
ou por entidades públicas.
Ação pública – do Estado Administrativo
Ação privada – da Sociedade Civil
Não está em causa discernir entre ação pública ou privada, mas sim, identificar o caráter
administrativo de uma atividade ou função dentro da esfera pública (do Estado em sentido
lato).
Princípio da separação de poderes – na compreensão inicial, o sistema tripartido de
poderes e funções assentava na delimitação rigorosa da função legislativa, enquanto
atividade essencial de produção de leis e com primazia sobre as demais funções: quer
sobre a função judicial, de resolução de litígios através de sentenças e com fundamento
138
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
na lei; quer sobre a função administrativa, concebida como atividade de mera execução
de lei e definida de uma forma negativa, segundo um método de subtração, como toda e
qualquer atividade pública que não se traduz na função legislativa, nem na função judicial.
Esta definição negativa da função administrativa é evidentemente insatisfatória, uma vez
que, nomeadamente, não explica os momentos de autonomia da função administrativa,
em que esta não surge, pois como atividade de execução da lei, nem como uma espécie
de função entalada entre as funções legislativa e judicial.
Apresenta-se conveniente e necessária a apresentação, se não uma definição, ao menos
uma caracterização orientada por um critério tipológico, que assinale as características
marcantes ou os momentos típicos dessa específica função do Estado.
186.1 – Função administrativa e função política ou de governo
Função política – função que não se inscreve no objetivo de distribuição do poder público
em que assenta o princípio da separação de poderes, mas que, a partir de uma certa fase
da evolução da ciência do direito público, a doutrina autonomizou precisamente em face
da função administrativa.
O que determinou a autonomização da função pública não foi tanto a ‘descoberta’ de uma
quarta função do Estado, delimitada a partir de elementos ou fatores de distinção material
dos designados atos políticos em face dos atos de administração, mas, entes, a ideia de
que determinados atos dos poderes públicos não deveriam estar expostos ao controlo de
tribunais. A função política surgiu por desmembramento da função administrativa, pelo
que, não se revela fácil a tarefa de distinguir as duas funções. Nas duas funções
encontram-se presentes a ‘dimensão executiva’, de aplicação de uma norma de
competência estabelecida ex ante; bem como o ‘caráter concreto’, que redunda em ambas
se materializarem em medidas adotadas para uma específica situação e, muitas vezes,
para uma determinada pessoa ou instituição.
Em alguns dos seus preceitos, a Constituição indica as competências políticas dos órgãos
constitucionais, por ex.: “competência política e legislativa” da AR, “competência
política” do Governo.
No exercício das competências políticas são praticados os ‘atos políticos’: este é o
domínio da função política ou de governo.
a) Função política ou de governo e injusticiabilidade
O conceito de função política foi determinado pelo propósito de recortar um
universo de atos públicos que deveriam ficar isentos de fiscalização ou controlo
judicial.
O direito positivo confirma essa conexão entre injusticiabilidade e atos de função
política, excluindo do âmbito da jurisdição administrativa a apreciação de litígios
que tenham por objeto a impugnação de atos praticados no exercício da função
política (e legislativa).
Pelo facto de a função política se desenvolver através de medidas e atos
insuscetíveis de controlo judicial, a sua delimitação assume uma importância
particular e acrescida quando se trate de atos oriundos de órgãos que também
139
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
exercem a função administrativa, como sucede, tipicamente com o Governo. Para
discernir entre atos da função política e atos de administração, considera-se
essencialmente a parcela da função política exercida pelo Governo, a designada
‘função de governo’, que se desenvolve através da prática de ‘atos de governo’.
O problema existe no cenário da qualificação de atos ou medidas do Governo,
mas não está ausente em outras situações.
Pode discutir-se se um ato do PR, praticado no exercício de uma competência
constitucional, constitui um ato político ou um ato administrativo em matéria
administrativa.
b) Caracterização da função política ou de governo
Em razão do carácter executivo e pelo facto de traduzir o exercício de uma
competência para um caso concreto, o ato de um poder público poderá ver-se
qualificado como ato político ou como ato de administração.
Função política – atividade de órgãos superiores do Estado, que se manifesta
mediante a prática de atos concretos no desenvolvimento de competências criadas
pela Constituição e por esta defendida. Os atos políticos dizem sobretudo respeito
ao relacionamento entre órgãos superiores do Estado ou entre estes e outros
órgãos, às relações externas, bem como a matérias de defesa e de segurança
nacional, abrangendo ainda as designadas medidas de clemência.
Trata-se, em primeiro lugar, de uma função confiada a órgãos superiores ou
supremos do Estado, enquanto órgãos criados pela Constituição e com as suas
missões e competências definidas, nos seus traços essenciais, no texto
constitucional. Não é suficiente, para esse efeito, que se trate de um órgão
constitucional; exige-se que esteja em pauta a ação de um órgão imediato e
supremo do Estado, como o PR, a AR ou o Governo.
Em segundo lugar, a função política realiza-se mediante o exercício de
competências constitucionais, competências criadas e definidas pela Constituição,
que dão origem à prática de atos que aplicam diretamente a Constituição, sem
intermediação legislativa necessária. Assim, mesmo que relacionados com
competências definidas na Constituição, não se consideram atos políticos aqueles
cujos pressupostos são estabelecidos e o respetivo conteúdo fixado ou demarcado
por normas de legislação ordinária (estes atos enquadram-se na aplicação da lei
ordinária). Sendo que, a definição de competências políticas na Constituição não
tem de ser exaustiva ou integral, pelo que os termos formais e procedimentais do
exercício dessas competências podem ser regulamentados por lei.
Por fim, a função política caracteriza-se por se desenvolver mediante atos
concretos, de aplicação da Constituição a uma situação específica e, por vezes,
em relação a uma determinada pessoa ou instituição. A ação política é impregnada
de individualidade e respira a atmosfera do caso singular e das suas exigências
particularíssimas. Salvo se a Constituição ou a lei fornecerem uma indicação
explícita, é ao intérprete que cabe identificar, caso a caso, os atos políticos.
Reconduzem-se à função política os vários atos concretos especificados na
Constituição, como a nomeação e a demissão do Governo, a promulgação de
diplomas, a marcação de eleições, atos diplomáticos (nomeação e exoneração de
embaixadores), atos de designação de titulares de vários cargos públicos como o
Procurador Geral da República ou o Provedor de justiça, etc.
140
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
c) Não recondução à função política de atos concretos ou de decisões gerais do
Governo fora dos casos reconduzidos pela Constituição à competência política
do Governo
A função política não se esgota na prática de atos como os que indicamos, que se
encontram definidos, de uma forma típica, na Constituição, ou que são
referenciáveis a uma norma constitucional de competência.
Independentemente da forma que os suporte, podemos ter medidas do Governo
que não correspondem a atos típicos previstos na Constituição, mas que, não
obstante, se referem a decisões fundamentais e primárias (fundadas diretamente
na Constituição) sobre a condução do Estado ou sobre a definição de políticas
públicas.
A questão aí, é de saber se estaremos perante atos da condução política geral do
país praticados ao abrigo de uma competência constitucional genericamente
estabelecida, ou, pelo contrário, em face de atos de administração, praticados no
âmbito das competências administrativas que a Constituição confere ao Governo.
Embora se reconheça uma diferença entre as missões de administrar e de governar,
considerada esta como uma função de liderança e condução do Estado, não se
descortina o fundamento constitucional para qualificar como ‘de governo’ e,
portanto, imunes ao controlo judicial, atos do Governo fora dos casos típicos. A
Constituição remete para a competência administrativa do Governo a prática de
quaisquer atos e providências para ‘governar’, mas explicitamente, pela via
administrativa.
A natureza dos atos concretos praticados sob a forma legislativa (decreto-lei) e
que não se reconduzam a atos previstos na Constituição: admitindo que a resposta
possa variar em razão dos particularismos do caso, propendemos para considerar
que, neste cenário, essencial é perceber se está em pauta um ato que, apesar do
caráter concreto, pode ainda ser reconduzido à função legislativa. Não se
apurando elementos nesse sentido, tratar-se-á de um ato administrativo praticado
sob a forma de decreto-lei: divergimos, pois da jurisprudência do STA. Na nossa
compreensão, se tais atos – concretos e não correspondentes a atos da competência
política nos termos constitucionais – não puderem ser atribuídos à função
legislativa, deverão considerar-se atos administrativos próprios da função
administrativa. Não se revela conforme com a Constituição o processo de, fora
dos casos constitucionalmente previstos, isentar de controlo judicial quaisquer
atos concretos do Governo com o argumento de estarem em pauta atos de
“definição e prossecução do interesse geral da coletividade” ou “relativos à
definição dos interesses ou fins primaciais do Estado”.
186.2 – Função administrativa e função legislativa
Na compreensão inicial do sistema de repartição das funções públicas pelos 3 poderes, a
distinção entre as funções administrativa e legislativa apresentava-se simples:
o Legislar – função de um órgão específico (o parlamento) e consistia em fazer
‘leis’, ou seja, normas jurídicas gerais e abstratas.
141
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
o Administrar – função da AP (dirigida pelo Governo) através de atos individuais e
concretos.
O sistema assentava na supremacia da legislação sobre os atos administrativos.
Supremacia do Parlamento (povo) sobre a Administração: o Parlamento, ao aprovar leis,
exercia uma função primária; a Administração, encarregada de executar as leis, exercia
uma função secundária.
Atualmente, o esquema de arrumação das duas fontes já não existe: as funções legislativa
e administrativa transformaram-se e, por causa deste processo, surgiram áreas de
sobreposição funcional e, em geral, tornou-se mais difícil delimitar as fronteiras entre
elas.
a) Transformações ocorridas do lado da função legislativa
o O Governo, o principal órgão da Administração, exerce também a função
legislativa – mistura entre as duas funções.
A primeira transformação pode então ser a de que o Governo, órgão superior da
AP, participa, em regra, no mesmo plano da AR no exercício da função legislativa.
A supremacia da legislação sobre a administração deixou de coincidir com a
supremacia do órgão parlamentar.
O Governo dispor de competências legislativas, não perturba o sentido formal e
até substancial da distinção entre legislar e administrar. Ao exercer a função
administrativa, a atuação do Governo desenrola-se por outros procedimentos, tem
uma natureza secundária e, dir-se-ia, poderia continuar a manter-se no plano dos
atos concretos e individuais.
Sem prejuízo do exposto, a participação do Governo na função de legislar introduz
um elemento novo, uma vez que cria condições para se processar uma mistura
entre a forma legislativa e a substância administrativa, nomeadamente através do
uso pelo Governo do decreto-lei para praticar atos administrativos (ex.: se o
Governo reconhece por decreto-lei o interesse público de uma instituição – ato
administrativo praticado sob a forma de decreto-lei).
Um ato individual e concreto pode ser praticado sob a forma de decreto-lei, o que
cria uma dificuldade inicial de discernir se se trata de um ato da função
administrativa ou se, diferentemente, e apesar do seu caráter individual e concreto,
se deve reconduzir à função legislativa. Um ato para ser administrativo, não lhe
basta ser individual e concreto já que para assim ser qualificado tem ainda de
proceder do exercício da função administrativa; o facto de uma decisão contida
num diploma legal visar destinatários determináveis ou indetermináveis, através
de uma determinação individual e concreta não exclui que se possa qualificar
como decisão legislativa; ou ainda, a materialidade do ato legislativo não se
confunde com o caráter geral e abstrato das determinações nele contidas.
Um ato legislativo pode conter determinações individuais e concretas, próprias
dos atos administrativos e, apesar disso, conservar uma natureza legislativa.
Assim, a função legislativa não se caracteriza pela produção de normas comas
dimensões de abstração e generalidade. As características da generalidade e
142
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
abstração são apenas típicas (não exclusivas) da função legislativa, e o caráter
concreto é (se tanto) típico da função administrativa, de modo que não são
suficientes para assegurar a respetiva diferenciação.
Uma vez que existem decretos-leis individuais e concretos, relativos ao exercício
da função legislativa, a questão que se suscita consiste em saber como os distinguir
dos atos administrativos praticados sobre a forma de decretos-leis, relativos ao
exercício da função administrativa.
Quanto a nós, o critério que permite discernir a função exercida na produção de
uma decisão concreta e individual sob a forma de decreto-lei não repousa
necessariamente na presença ou não de uma relação dessa decisão com uma lei
anterior. Afastamo-nos então do entendimento segundo o qual este tipo de
decisões se enquadra na função administrativa ou na função legislativa, consoante
surja em aplicação ou em execução ou como concretização de uma lei anterior ou,
em vez disso, como expressão de um juízo inovador de valor legal, que resulte de
uma opção primária, que tem como único parâmetro de validade a Constituição.
Em regra, a determinação concreta contida num decreto lei não é produzida em
execução ou em aplicação de uma lei anterior. Nos casos em que isso suceda,
estará em pauta a prática de um ato administrativo. Mas quando assim não suceda,
não nos parece que o facto de inexistir uma lei prévia que a determinação contida
em decreto-lei execute ou aplique deva ser imediatamente interpretado como um
sintoma de estar aí implicado o exercício da função legislativa. Um preceito legal
que rege para um caso concreto e que, nessa medida, se apresenta com uma
eficácia equivalente à de um ato administrativo, nunca é um puro ato de aplicação
do direito pré-existente, pois que simultaneamente se traduz num ato de criação
de direito novo.
Assim, o dizer que uma determinação é produzida no exercício da função
legislativa pelo facto de se tratar de uma opção política primária, que tem como
único parâmetro de validade a Constituição, e não uma lei anterior, é, em rigor,
uma consequência e não um critério de qualificação da referida determinação
como legislativa.
Uma determinação concreta e individual contida num decreto-lei corresponderá,
em princípio, a um ato administrativo, praticado no exercício da função
administrativa.
Ainda que as dimensões da generalidade e abstração sejam apenas típicas da
função legislativa, parece-nos que, no caso dos decretos-leis, o facto de provirem
do Governo, que é um órgão administrativo, conduz à formulação do princípio
segundo o qual as determinações individuais e concretas produzidas na forma
legislativa configuram atos administrativos. Um princípio que, em casos
particulares, poderá ser infirmado.
Embora se admitam desvios, está fora de causa recusar a natureza administrativa
de uma determinação legal que se destina ou atinge, com uma eficácia destrutiva
de qualquer forma – favorável ou desfavorável -, a esfera jurídica de pessoas
determinadas.
143
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Não se trata de excluir a possibilidade de decretos-leis individuais e concretos,
mas antes de considerar que, em princípio, esses são atos legislativos apenas em
sentido formal, pois contêm atos administrativos. A consequência desta natureza
não reside só na impugnação nos tribunais administrativos, mas, logicamente
antes disso, na submissão de tais atos ao DA.
o A AR aprova leis de caráter individual e concreto – rutura com as notas
clássicas do ato legislativo
Surge aqui a questão de saber se, em certos casos, isso não corresponde a uma
usurpação da função administrativa pelo legislativo e, por consequência, à
violação do princípio da separação de poderes.
Desde logo, a possibilidade de leis concretas resulta da própria Constituição,
quando remete para a forma de lei a concessão de amnistias, a aprovação de
grandes opções dos planos nacionais, a autorização ao Governo para a concessão
de empréstimos ou a criação ou extinção de municípios. Mas, além dessas, no
exercício da sua competência de ‘fazer leis sobre todas as matérias’, a AR produz
leis concretas, e esta situação apresenta contornos diferentes da emissão de
decretos-leis individuais e concretos pelo Governo, que é um órgão
administrativo. Agora, no caso da AR, a emissão de leis individuais e concretas
pode corresponder a uma anomalia do exercício da função legislativa por,
eventualmente, representar uma ‘usurpação’ da função administrativa pelo órgão
legislativo, ou, em termos diretos, a violação de uma reserva de Administração.
Porém, a Constituição não estabelece uma reserva de Administração, no sentido
de confiar à Administração o exclusivo do exercício da função administrativa ou
até da prática de atos administrativos concretos e individuais. Quase se pode dizer
que a Constituição chega mesmo a contar com a possibilidade de atos
administrativos sob a forma de lei, quando se refere a atos administrativos,
“independentemente da sua forma”.
A Constituição distingue a AR, enquanto órgão legislativo e o Governo enquanto
órgão superior da AP, indiciando, além de qualquer dúvida, que se trata de órgãos
de soberania que protagonizam diferentes poderes; a Constituição define que a
República Portuguesa se baseia, além do mais, na separação e independência de
poderes. A somar a isto, a função administrativa encontra na própria Constituição
o seu título legitimador. Podemos então concluir não ser legítimo que a AR se
intrometa no exercício das funções próprias da AP, em especial, as funções de
administrar e de prosseguir o interesse público em casos concretos. Decorre da
Constituição, para a AP, uma reserva de decisão no caso concreto e proibição da
intervenção do Parlamento no exercício concreto da função administrativa.
Sem prejuízo de a lei ter perdido o seu caráter da generalidade e abstração, e de se
admitir que, em determinados cenários, pode adotar providências legislativas que
constituem medidas ou providências para responder a problemas específicos, a
verdade é que nada disso equivale a aceitar que a AR se intrometa no exercício da
função administrativa, através da adoção de leis ou outros atos que, em termos
144
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
práticos, correspondem à prática de atos administrativos ou a outras formas de
intervir diretamente em relações jurídicas administrativas concretas por ex.: por
via da modificação de contratos públicos.
b) Transformações ocorridas do lado da função administrativa
Do lado da função administrativa, a grande transformação resulta do
desenvolvimento do poder normativo da Administração. Com efeito, a AP, em
vários níveis, exerce um poder normativo, através da emissão dos regulamentos
administrativos.
Os regulamentos administrativos – normas jurídicas, com as notas de generalidade
e abstração – permitem perceber que a Administração não se limita a atuar num
plano concreto e individual: a função administrativa também contempla a emissão
de normas jurídicas.
Em muitas áreas, ocorreu um processo de deslegalização, que se explica pela
autocontenção do legislador e pela entrega de poderes de produção normativa a
entidades normativas.
Os regulamentos são atos de administração, em condição de inferioridade em face
dos atos legislativos, devendo, pois, respeitar a lei (princípio do primado da lei);
além disso, devem indicar as leis que visam regulamentar (princípio da
precedência de lei).
186.3 – Função administrativa e função jurisdicional
A função jurisdicional reservada aos tribunais, e a função administrativa partilham, em
geral, as notas de se tratar de funções do Estado que consistem na ‘aplicação’ ou
‘execução’ da lei, e de atuação em situações concretas da vida e perante pessoas
determinadas. Sem prejuízo das notas comuns, é viável definir uma diferença substancial
entre as duas funções: indicação constitucional; na administração da justiça incumbe aos
tribunais assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos,
reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os conflitos de interesses públicos
e privados.
Jurisdição – função que tem por objeto conflitos e que tem o propósito exclusivo de
resolver esses conflitos mediante a aplicação de regras jurídicas. À função jurisdicional
cabe declarar “what the law is”. O interesse público da função jurisdicional esgota-se na
resolução ou na composição justa do conflito de interesses, no âmbito de um processo de
realização da justiça e do direito, que se desenvolve para se alcançar o resultado da paz
jurídica.
Enquanto a jurisdição resolve litígios em que os interesses em confronto são apenas os
das partes, a Administração, embora na presença de interesses alheios, realiza o interesse
público. Na primeira hipótese, a decisão situa-se num plano distinto dos interesses em
conflito. Na segunda hipótese verifica-se numa osmose entre o caso resolvido e o
interesse público.
145
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
A função jurisdicional corresponde a uma reserva dos tribunais (reserva do juiz): exercer
a jurisdictio é uma função própria e reservada a tribunais, a instâncias terceiras e
independentes das partes.
As situações em que emerge uma especial dificuldade de distinção entre as funções
administrativa e jurisdicional: aquelas em que a atividade da AP se desenvolve a partir da
ocorrência de um conflito, e com o propósito de reagir e de o resolver; e aquelas em que
a atividade administrativa se consubstancia na aplicação de sanções, com uma finalidade
exclusiva ou primacialmente repressiva.
a) Resolução de conflitos por ato administrativo
Por vezes, a lei confia a entidades da AP competências para a resolução de
conflitos entre particulares: a Administração surge aqui na condição de um
terceiro em relação aos protagonistas da situação de conflito (ex.: nos termos da
lei, a ANACOM é chamada a dirigir litígios entre dois operadores de
comunicações, para garantia do direito de acesso e à interligação de redes). Neste
caso, entram em cena os designados ‘atos administrativos de resolução de
conflitos’: apesar de terem subjacente um conflito e de serem praticados em vista
da respetiva resolução, tais atos ainda pertencem à função administrativa, uma vez
que a Administração não atua em forma desinteressada.
Ex.: ordenar aos operadores sujeitos à sua regulação e adoção das providências
necessárias à reparação justa dos direitos dos consumidores. – Aqui permite-se
que uma autoridade administrativa ordene a particulares (empresas reguladas) a
adoção de providências que visem reparar de forma justa os direitos dos
consumidores. Nos termos da LQER, as entidades reguladoras têm a missão de
proteger os direitos e interesses dos consumidores, mas afigura-se já forçado
considerar dentro da função administrativa a resolução destes conflitos entre
consumidores e empresas prestadoras de serviços com o objetivo de alcançar a
reparação justa dos primeiros. Inclinamo-nos para considerar que se está aqui
perante uma intervenção administrativa substancialmente jurisdicional, que se
desenvolve através dos atos jurídicos que consideramos parajurisdicionais, pois
tudo indica, prosseguem sobretudo o interesse da composição justa no conflito
(justiça).
Fora da categoria dos atos administrativos de resolução de conflitos estão os atos
de órgãos da AP sobre reclamações e recursos administrativos, pelo menos nos
casos de reclamação e de recurso hierárquico. Mesmo tendo por fundamento a
ilegalidade do ato praticado ou omitido pela Administração e mesmo podendo
dizer-se que pressupõem um conflito ou controvérsia entre a Administração e o
particular, as reclamações e os recursos hierárquicos não suscitam a intervenção
de uma instância terceira em relação às partes do conflito. O autor do ato (no caso
da reclamação) ou o superior hierárquico são partes da controvérsia que se veem
chamados a resolver.
b) Aplicação pela Administração de sanções no âmbito do ilícito administrativo de
mera ordenação social
Missão da AP que consiste na defesa da ordem jurídica mediante a repressão de
condutas ilícitas dos particulares. Os órgãos da AP aplicam sanções com
finalidades essencialmente repressivas (ex.: aplicação de coimas no âmbito do
146
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
ilícito de mera ordenação social), ficando então perante o exercício de
competências administrativas que também são competências dos tribunais. O
sancionamento da ação complementa a missão, de interesse público, de
fiscalização do cumprimento da norma. Ainda que a sanção possa não se destinar
imediatamente a reintegrar o interesse público violado, está nela sempre presente
um propósito de proteger o interesse público e não exclusivamente a punição dos
infratores. A aplicação de sanções no âmbito do ilícito de mera ordenação social
constitui, atualmente, um espaço de condomínio entre a função administrativa e a
função jurisdicional.
c) A questão da “reserva do juiz” ou “reserva de jurisdição dos tribunais”
A atribuição à Administração de competências para a resolução de conflitos
suscita a interrogação se não haverá uma violação da reserva constitucional dos
tribunais quanto ao exercício da função jurisdicional (reserva de juiz ou reserva
de jurisdição). Na nossa compreensão, o problema não se coloca, e estará
resolvido nos casos em que se possa reconduzir a intervenção da Administração à
figura do ato administrativo de resolução de conflitos. Uma situação em que a
Administração, na condição de entidade terceira, resolve um conflito entre
particulares, mas em que o faz na prossecução de um interesse público diferente
do interesse na justa solução do conflito. O caso já é diferente nos, por nós
designados, “atos administrativos parajurisdicionais”: agora, a intervenção
administrativa desenvolve-se em vista da realização de finalidades próprias dos
atos da função jurisdicional, ou seja, essencialmente com o sentido de alcançar
uma solução justa do conflito ou a repressão justa da violação da legalidade.
A atribuição legal a órgãos administrativos de competências que significam uma
intromissão na função jurisdicional pode aceitar-se em zonas de contacto entre as
funções administrativa e jurisdicional, em que a intervenção materialmente de tipo
jurisdicional esteja diretamente relacionada com a realização de interesses
administrativos.
Porém, os atos praticados pela Administração neste âmbito (atos
parajurisdicionais) terão de surgir num procedimento decisório justo, com
garantias de imparcialidade e contraditório, além de deverem ser objeto de um
recurso jurisdicional que permita a revisão ou controlo total pelos juízes. Trata-se
de aceitar que a Administração possa ter uma primeira palavra sobre os termos de
resolução de conflitos de interesses, embora a palavra decisiva sobre o assunto,
ainda que apenas em recurso, caiba aos tribunais. A reserva relativa de jurisdição
dos tribunais não exige que aos tribunais seja conferido um monopólio da primeira
palavra na resolução de conflitos.
d) Observação sobre os atos de órgãos judiciais em matéria administrativa
Certos órgãos do poder judicial exercem uma função de administração e de gestão
dos recursos em cujo âmbito praticam atos em matéria administrativa. Esta
atividade administrativa dos tribunais não representa qualquer forma de
intromissão judicial no exercício das missões da AP; trata-se, antes, do
desenvolvimento normal de atividades próprias de uma organização, de ‘governo
da casa’.
147
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
e) Um caso especial: a fiscalização da legalidade das despesas públicas pelo
Tribunal de Contas
O Tribunal de Contas é um tribunal e exerce funções de natureza jurisdicional.
Todavia, o caráter jurisdicional já não parece encontrar-se presente nas funções
que o TdC desenvolve no âmbito da fiscalização da legalidade das despesas
públicas.
Trata-se, nesse caso, de uma atividade de verificação da legalidade financeira de
um ato ou de um contrato num contexto em que não está sequer presente um
conflito: a entidade obrigada limita-se a submeter um ato seu ao visto e, em face
disso, o TdC verifica a legalidade, e concede ou recusa o visto. Não podemos,
pois, concordar com a ideia segundo a qual a recusa de visto integra a atividade
jurisdicional do TdC.
A concessão ou recusa de visto não são atos de jurisdição, mas atos próprios da
função administrativa. A questão já é, contudo, diferente no caso da função que o
mesmo Tribunal exerce no âmbito do recurso das decisões de concessão ou de
recusa de visto: nos termos da LOPTC, essas decisões são recorríveis para o
plenário da 1ª secção do TdC, que, diz a lei, procede a um julgamento. Agora, o
processo já tem subjacente um conflito, ex.: entre a entidade autora do ato gerador
de despesa, que discorda da recusa do visto, e o próprio TdC, que proferiu a
decisão de recusa. Porém, neste caso, dos recursos de decisões de concessão ou
recusa de visto do TdC, o órgão competente para fazer o julgamento é o próprio
TdC, razão pela qual não parece que se possa considerar presente uma nota
irrenunciável da função jurisdicional: a intervenção de um órgão independente das
partes em conflito.
Quer nas decisões de concessão ou recusa de visto, quer nos recursos dessas
decisões, o TdC exerce funções de natureza administrativa; pelo que essas
decisões se entendem como sendo atos administrativos.
Tratando-se de atos administrativos, praticados no exercício da função
administrativa, as decisões de concessão ou recusa de visto, bem como as decisões
proferidas em recursos destas últimas encontram-se plenamente abrangidos pela
garantia constitucional da tutela jurisdicional efetiva, pelo que deverão ser
suscetíveis de apreciação por uma instância independente.
186.4 – Reserva de Administração: ação pública através de medidas
concretas e individuais em vista da realização de interesses públicos
No quadro da separação de funções, subsiste uma reserva de lei, no sentido de que é à lei
(ao ato legislativo) que cabe a função exclusiva de definir a regulamentação essencial em
determinadas matérias, através de preceitos gerais e abstratos; subsiste, por outro lado,
uma reserva do juiz, que se traduz em atribuir aos tribunais um monopólio para proferir
a primeira palavra quanto à resolução de conflitos sobre certas matérias (ex.: matéria
criminal) e, além disso, a última palavra sobre a resolução de conflitos dirimidos em
primeira mão pela AP. A questão agora em pauta é a de saber se existe também uma
reserva da Administração.
148
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
Nós respondemos que existe uma reserva da Administração (pelo menos uma reserva de
princípio), no sentido em que é à AP que se encontra confiada a execução da função
administrativa por via de medidas concretas e individuais, no quadro da realização de um
interesse público diferente da solução pacífica e justa de um conflito. O relacionamento
direto com uma determinada entidade ou um certo cidadão a quem se dirigem as medidas,
são as marcas de uma função, tarefa ou missão que deverá pertencer à AP.
A reserva da AP não tem um sentido material, não se refere a elencos de matérias que se
encontrem vedadas à interferência de outros poderes. A reserva tem, em vez disso, um
sentido procedimental, conjugado com uma dimensão finalística, dizendo respeito ao
modo de agir, em situações concretas e perante pessoas determinadas e, ao agir para a
realização de um interesse público.
Em certos setores da Administração, podemos ainda identificar uma reserva de autonomia
em matéria regulamentar (ex.: poder regulamentar das autarquias locais, associado a uma
reserva de regulamento local e ao poder próprio das autarquias de regulamentação de
interesses próprios e específicos das respetivas populações).
A reserva da Administração também indica a limitação da intervenção do tribunal nos
espaços de discricionariedade administrativa. Trata-se, aqui, de conceber a reserva como
espaço de autonomia da Administração e de não intromissão do poder judicial.
186.5 – Elementos de caracterização da função administrativa
Reconhecendo que a caracterização definitória de função administrativa se apresenta
como um resultado dificilmente alcançável e sublinhando que esta será sempre uma noção
aberta, a doutrina tem procurado identificar as características marcantes ou os momentos
típicos da função pública de administrativo, procurando ultrapassar a mera ‘negativ-
defitition’.
Características fundamentais da função administrativa:
a) Gestão de meios para a produção de resultados
A função de administrar consiste, em geral, numa atividade de organização e de
gestão de meios ou de recursos disponíveis com o objetivo de produzir resultados,
que podem consubstanciar-se na produção de serviços, na tomada de decisões, na
emissão de declarações, na edição de regras de conduta, na produção, manutenção
ou conservação de bens e, em geral, no desenvolvimento de atividades materiais
de caráter técnico ou de outra natureza.
Trata-se de uma função com um propósito prático ou utilitário, de gestão de
recursos para produzir resultados que servem interesses.
b) Determinação externa e produção de benefícios para a coletividade
A função administrativa é, por um lado, uma atividade determinada por
condicionantes externas que vinculam o responsável pela sua execução (princípio
da legalidade) e, por outro lado, exercida em vista da realização do bem comum,
para produzir benefícios para a coletividade (princípio da prossecução do interesse
149
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
lOMoARcPSD|14934464
Beatriz Prata
público). A função administrativa caracteriza-se pela não-primariedade. Apesar
da presença deste elemento de vinculação externa (prévia e finalística), e da sua
não novidade, na medida em que atua sobre matéria já existente, a função
administrativa não se reduz necessariamente à execução mecânica de um
programa estabelecido, e pode incluir momentos de escolha dos meios a utilizar e
de ponderação e escolha sobre o modo de servir o interesse público.
c) Variedade de conteúdos
Grande diversidade das matérias e dos domínios tocados pelas tarefas
administrativas. A noção objetiva de AP remete imediatamente para um copioso
número de atividades, tarefas e missões cuja classificação é, por isso,
reconhecidamente difícil e complexa.
d) Diversidade de formas jurídicas de manifestação
A função administrativa exterioriza-se mediante variados atos jurídicos típicos,
aos quais corresponde uma forma jurídica preestabelecida (atos unilaterais,
contratos e normas administrativas), mas também por atos declarativos que não
se subsumem numa forma ou num modelo abstrato, previamente formatado e
regulado, bem como por meio de operações materiais; numa outra perspetiva,
importa assinalar que a atividade de administração é, em princípio efetuada
segundo formas ou instrumentos de ação do direito público, mas também pode sê-
lo por formas e instrumentos do direito privado (ex.: contratos).
150
Descarregado por Raquel Caldas (raquel.pereira1974@gmail.com)
Você também pode gostar
- O Desvio Ilegal De Função Do Servidor Público Titular De Cargo Efetivo:No EverandO Desvio Ilegal De Função Do Servidor Público Titular De Cargo Efetivo:Ainda não há avaliações
- Dto AdmDocumento10 páginasDto AdmMárcio Celeste IIAinda não há avaliações
- Apontamentos Direito Administrativo Freitas Do AmaralDocumento93 páginasApontamentos Direito Administrativo Freitas Do AmaralAna CatarinaAinda não há avaliações
- Adm Dto ActualizadoDocumento10 páginasAdm Dto ActualizadoMárcio Celeste IIAinda não há avaliações
- Apostila MoodleDocumento15 páginasApostila MoodleTammy AguiarAinda não há avaliações
- 1o Semestre Resumo Teoria Geral Do Direito Civil PDFDocumento49 páginas1o Semestre Resumo Teoria Geral Do Direito Civil PDFZheleneAinda não há avaliações
- TCC Gabriela CoradinDocumento35 páginasTCC Gabriela Coradincg37digitacoesAinda não há avaliações
- PDF Emillyalbuquerque Direito Administrativo GMF TeoriaDocumento28 páginasPDF Emillyalbuquerque Direito Administrativo GMF TeoriaPintinho PiuAinda não há avaliações
- Apostila de Direito AdministrativoDocumento69 páginasApostila de Direito Administrativoempresario.22digitalAinda não há avaliações
- Dto AdmDocumento6 páginasDto AdmMárcio Celeste IIAinda não há avaliações
- Direito Administrativo I João AssunçãoDocumento99 páginasDireito Administrativo I João AssunçãoAntonio JorgeAinda não há avaliações
- Apontamentos CADocumento25 páginasApontamentos CABacarAinda não há avaliações
- Apontamentos CADocumento27 páginasApontamentos CABacar ManéAinda não há avaliações
- Exame AdministracaoDocumento16 páginasExame AdministracaoCastigo BenjamimAinda não há avaliações
- Noções de Direito AdministrativoDocumento137 páginasNoções de Direito AdministrativoYan RibeiroAinda não há avaliações
- Administração Pessoal PDFDocumento12 páginasAdministração Pessoal PDFVicente ReboucasAinda não há avaliações
- Definição Do Direito Administrativo - Marçal Justen FilhoDocumento9 páginasDefinição Do Direito Administrativo - Marçal Justen FilhoEliabe valverdeAinda não há avaliações
- Fale Do Contributo Da Administração Directa e Indirecta Do Estado para A Sociedade.Documento11 páginasFale Do Contributo Da Administração Directa e Indirecta Do Estado para A Sociedade.Castigo BenjamimAinda não há avaliações
- Apostila - Direito Administrativo - Gabriela XavierDocumento215 páginasApostila - Direito Administrativo - Gabriela XavierAfonso JúniorAinda não há avaliações
- A Ética Na Administração PúblicaDocumento15 páginasA Ética Na Administração PúblicaAlexandre SousaAinda não há avaliações
- DCP Teste IntermedioDocumento7 páginasDCP Teste IntermedioFAMILY SPOTAinda não há avaliações
- Portal Administração - Tudo Sobre Administração de Empresas: Noções de Administração Pública (Resumo)Documento7 páginasPortal Administração - Tudo Sobre Administração de Empresas: Noções de Administração Pública (Resumo)RosybastosAinda não há avaliações
- Administrativo I Duarte Canau PDFDocumento71 páginasAdministrativo I Duarte Canau PDFFernanda Duarte De Barros MarquesAinda não há avaliações
- Introdução A Administração PúblicaDocumento22 páginasIntrodução A Administração PúblicaJosiel PereiraAinda não há avaliações
- Direito Administrativo IDocumento29 páginasDireito Administrativo IDinis FigueiredoAinda não há avaliações
- TCC Uso e Abuso de Poder (Final)Documento17 páginasTCC Uso e Abuso de Poder (Final)Giovanna CorrêaAinda não há avaliações
- Disciplina: Ética e Administração PúblicaDocumento22 páginasDisciplina: Ética e Administração PúblicaRicardo CunhaAinda não há avaliações
- Administração Pública by Claudia Costin (Auth.)Documento53 páginasAdministração Pública by Claudia Costin (Auth.)Mtech ReviewsAinda não há avaliações
- Direito Administrativo ResumosDocumento158 páginasDireito Administrativo ResumosCatarina FernandesAinda não há avaliações
- Jorge Miranda - Tomo VDocumento9 páginasJorge Miranda - Tomo VAna VicenteAinda não há avaliações
- Nocoes de Administracao PublicaDocumento56 páginasNocoes de Administracao Publicajv gamerAinda não há avaliações
- Noções de Administração Pública - Nova Concursos PDFDocumento56 páginasNoções de Administração Pública - Nova Concursos PDFThiagoGuedes100% (3)
- Agentes20Públicos 230807 111927Documento166 páginasAgentes20Públicos 230807 111927Lucas ReisAinda não há avaliações
- 05 - Resumo Com Exercícios - Militares Na Administração Da Aeronáutica PDFDocumento23 páginas05 - Resumo Com Exercícios - Militares Na Administração Da Aeronáutica PDFJoão CruzAinda não há avaliações
- Apontamentos de Direito Administrativo 2021Documento47 páginasApontamentos de Direito Administrativo 2021mike saeneAinda não há avaliações
- 0593 FormandosDocumento53 páginas0593 Formandosana.cerqueiraAinda não há avaliações
- Trabalho de Administrcao Publica 3Documento5 páginasTrabalho de Administrcao Publica 3Saide Matsunaga LoveinsideAinda não há avaliações
- Apontamentos de Direito Administrativo IIDocumento14 páginasApontamentos de Direito Administrativo IIRosarioAlfredoAlfredo100% (3)
- Tema 10Documento8 páginasTema 10Keynas JulayAinda não há avaliações
- Organização Do EstadoDocumento10 páginasOrganização Do Estadosantos oAinda não há avaliações
- Significado de Administração Pública - O Que É, Conceito e DefiniçãoDocumento2 páginasSignificado de Administração Pública - O Que É, Conceito e DefiniçãoJúlia RebouçasAinda não há avaliações
- 09 Manoel IlsonDocumento4 páginas09 Manoel IlsonGabriela FeldensAinda não há avaliações
- 1 IntroducaoDocumento24 páginas1 IntroducaoFidelso JoaquimAinda não há avaliações
- Administração Direta e IndiretaDocumento91 páginasAdministração Direta e IndiretaLucas AmorimAinda não há avaliações
- Direito Administrativo - Funções Do Estado - ApontamentosDocumento9 páginasDireito Administrativo - Funções Do Estado - ApontamentosSalvador Cumaio JuniorAinda não há avaliações
- Administração PublicaDocumento134 páginasAdministração PublicaJéssica BeatrizAinda não há avaliações
- Direito Administrativo IDocumento29 páginasDireito Administrativo IDinis FigueiredoAinda não há avaliações
- Apostila de Noções de Direito Administrativo para A Analista Administrativo Da ANATELDocumento45 páginasApostila de Noções de Direito Administrativo para A Analista Administrativo Da ANATELAchei ConcursosAinda não há avaliações
- 1 - Resumo Direito Administrativo - Volume I DFADocumento81 páginas1 - Resumo Direito Administrativo - Volume I DFASimone VazAinda não há avaliações
- Direito Administrativo RESUMOSDocumento46 páginasDireito Administrativo RESUMOSEurico TomásAinda não há avaliações
- Organização Do Estado e Adm PublicaDocumento35 páginasOrganização Do Estado e Adm Publicamaria.danyelleAinda não há avaliações
- Administração PúblicaDocumento28 páginasAdministração PúblicaSamuel Matias100% (1)
- Administracao Publica RespostasDocumento7 páginasAdministracao Publica RespostasBread TypeAinda não há avaliações
- Apostilasmetodo 200603010307Documento10 páginasApostilasmetodo 200603010307Brena DiogenesAinda não há avaliações
- APOSTILA Direito Administrativo IDocumento34 páginasAPOSTILA Direito Administrativo Isidney gurgelAinda não há avaliações
- Nocoes Direito AdmDocumento144 páginasNocoes Direito AdmHellen Cristiane100% (1)
- Conteudo, ESTADODocumento21 páginasConteudo, ESTADOgoncalvesvascoantoniolutoAinda não há avaliações
- VI - Profissões JurídicasDocumento11 páginasVI - Profissões JurídicasRaquel CaldasAinda não há avaliações
- (M. Matilde Lavouras) O Proccesso Orçamental 2022-2023Documento15 páginas(M. Matilde Lavouras) O Proccesso Orçamental 2022-2023Raquel CaldasAinda não há avaliações
- A Problemática Da Ordem SocialDocumento36 páginasA Problemática Da Ordem Socialcarla100% (1)
- As Fontes Do Direito No Sistema Jurídico PortuguêsDocumento21 páginasAs Fontes Do Direito No Sistema Jurídico Portuguêscarla100% (1)
- A Problemática Da Ordem SocialDocumento36 páginasA Problemática Da Ordem Socialcarla100% (1)
- Lei N.º 4-A.2020 de 06.04Documento4 páginasLei N.º 4-A.2020 de 06.04Raquel CaldasAinda não há avaliações
- Lista Artigos Julgar Online 2021-2023Documento8 páginasLista Artigos Julgar Online 2021-2023Raquel CaldasAinda não há avaliações
- Intermediação Financeira. Deveres de Informação Do Intermediário - Tribunal Da Relação de CoimbraDocumento2 páginasIntermediação Financeira. Deveres de Informação Do Intermediário - Tribunal Da Relação de CoimbraRaquel CaldasAinda não há avaliações
- Direito Do Trabalho II - 2. T - 2. ParteDocumento81 páginasDireito Do Trabalho II - 2. T - 2. ParteRaquel CaldasAinda não há avaliações
- DL N.º 67 - 2003, de 08 de Abril - Antiga Emp. de ConsumoDocumento6 páginasDL N.º 67 - 2003, de 08 de Abril - Antiga Emp. de ConsumoRaquel CaldasAinda não há avaliações
- Transparência Administrativa e Atuação ParlamentarDocumento59 páginasTransparência Administrativa e Atuação ParlamentarLeonilda MascarenhasAinda não há avaliações
- Universidade Cesumar - Unicesumar: Plano de EnsinoDocumento5 páginasUniversidade Cesumar - Unicesumar: Plano de EnsinoSara TeixeiraAinda não há avaliações
- ApostilaDocumento146 páginasApostilaFabiana FigueredoAinda não há avaliações
- Administração em CordelDocumento7 páginasAdministração em CordelDanilo Reis Mulundeuanda100% (1)
- Direito Administrativo Fontes Princípios Expressos QuestõesDocumento29 páginasDireito Administrativo Fontes Princípios Expressos QuestõesElis VitóriaAinda não há avaliações
- Conceito de Administração Pública Sob Os Aspectos Orgânico, Formal e Material.Documento5 páginasConceito de Administração Pública Sob Os Aspectos Orgânico, Formal e Material.Lincoln AugustoAinda não há avaliações
- Direito Administrativo PDFDocumento255 páginasDireito Administrativo PDFwpaulvAinda não há avaliações
- Resumos Contratos PúblicosDocumento50 páginasResumos Contratos PúblicosAna Sofia CostaAinda não há avaliações
- Ementa Kauane EstacioDocumento48 páginasEmenta Kauane Estaciomelokauane429Ainda não há avaliações
- Edital Convocacao Candidatos Deficientes para Exame MedicoDocumento1 páginaEdital Convocacao Candidatos Deficientes para Exame MedicomarlonscAinda não há avaliações
- Estranhamento Da Ciência Política Nos Cursos de DireitoDocumento19 páginasEstranhamento Da Ciência Política Nos Cursos de DireitolaryssaqueirozAinda não há avaliações
- Regime Juridico 1Documento4 páginasRegime Juridico 1Gil VaneteAinda não há avaliações
- Agente Previdenciário: ProvaDocumento23 páginasAgente Previdenciário: Provarodrigo-bmx1hotmail.comAinda não há avaliações
- Quadros Er Vidor A TivoDocumento19 páginasQuadros Er Vidor A TivoMichael NettoAinda não há avaliações
- Simulado STNDocumento12 páginasSimulado STNdivulgador2024Ainda não há avaliações
- Contratos-E-Parcerias-Administrativas (1) OK PDFDocumento65 páginasContratos-E-Parcerias-Administrativas (1) OK PDFARLINDOAinda não há avaliações
- Aula 1 - Origem, Conceito e Fontes Do Direito AdministrativoDocumento4 páginasAula 1 - Origem, Conceito e Fontes Do Direito AdministrativoSâmia BeatrizAinda não há avaliações
- Manual 2021Documento99 páginasManual 2021yumna nazaret100% (5)
- Direito AdministrativoDocumento15 páginasDireito AdministrativoGonçalves PilicueAinda não há avaliações
- Verticalizado PMDF 2018 - IadesDocumento5 páginasVerticalizado PMDF 2018 - IadesRodrigo Noronha0% (1)
- 1 - Introdução Ao Direito AdministrativoDocumento28 páginas1 - Introdução Ao Direito AdministrativoAudy EstevesAinda não há avaliações
- Elementos DO CONTENCIOSO - LigonhaDocumento20 páginasElementos DO CONTENCIOSO - LigonhaOsvaldo LigonhaAinda não há avaliações
- Polícia Pará AprovadoDocumento32 páginasPolícia Pará AprovadowelingtonregoAinda não há avaliações
- A Importância Da Política de Saneamento Básico - Artigos JusbrasilDocumento7 páginasA Importância Da Política de Saneamento Básico - Artigos JusbrasilRafael RosaAinda não há avaliações
- Administrativo I VPS Lara MagalhãesDocumento130 páginasAdministrativo I VPS Lara MagalhãesRaul PinheiroAinda não há avaliações
- Octalberto No Sapo PT o Direito Administrativo HTMDocumento11 páginasOctalberto No Sapo PT o Direito Administrativo HTMromeonederlandsAinda não há avaliações
- Estado, Governo e Administração PúblicaDocumento2 páginasEstado, Governo e Administração PúblicaDébora Thays100% (1)
- Direito Administrativo Sancionador - OAB BOM 149-171Documento23 páginasDireito Administrativo Sancionador - OAB BOM 149-171PPsrAinda não há avaliações
- Planejamento Estratégico Na Gestão PúblicaDocumento18 páginasPlanejamento Estratégico Na Gestão PúblicaGata MimadaAinda não há avaliações
- CADERNO DE QUESTÕES 1 Direito AdministrativoDocumento6 páginasCADERNO DE QUESTÕES 1 Direito Administrativoana araujoAinda não há avaliações