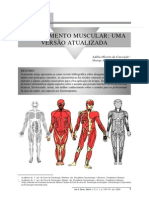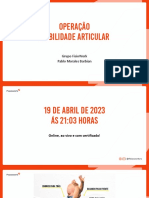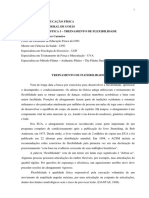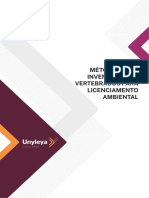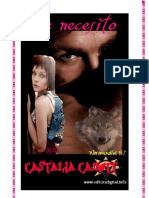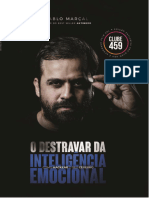Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Flexionamento Alongamento
Flexionamento Alongamento
Enviado por
Amandavictooria0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações5 páginasTítulo original
flexionamento alongamento
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações5 páginasFlexionamento Alongamento
Flexionamento Alongamento
Enviado por
AmandavictooriaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 5
32
Sade, Santa Maria, vol 33, n 1: p 32-36, 2007
Trabalho realizado no Departamento de Fisioterapia e Reabilitao da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)/RS.
Mestre em Educao pela UFSM, Professora Adjunta do Departamento de Fisioterapia e Reabilitao da UFSM.
Formandas do Curso de Fisioterapia/CCS/UFSM.
FLEXIBILIDADE VERSUS ALONGAMENTO: ESCLARECENDO AS DIFERENAS
Flexibility and stretching: review of concepts and applicability
Ana Ftima Viero Badaro, Aline Huber da Silva, Daniele Beche
2
RESUMO
A flexibilidade e o alongamento so qualidades essenciais para um bom desempenho fsico, tanto para a realizao de
atividades da vida diria, como para melhorar a performance no meio desportivo. Ao rever esses conceitos buscamos
esclarecer, com base na fisiologia, o que h em comum entre flexibilidade e alongamento, suas distines e a interao entre
suas tcnicas e aplicabilidades. Salientamos, tambm, a importncia dessas tcnicas para o meio desportivo. Contribuir
para um melhor esclarecimento dessas tcnicas, muitas vezes confundidas e/ou mal interpretadas pelos profissionais da
sade e do meio desportivo, que delas se utilizam, foi a motivao maior da realizao desse estudo.
Palavras-chave: flexibilidade, alongamento, amplitude de movimento.
SUMMARY
Flexibility and stretching are essential qualities for a good physical performance, either to the accomplishment of the
daily life tasks, as to improve the sports activities. Here these concepts are reviewed at the light of physiology to clarify
the differences and similarities among flexibility and stretching, as well interaction among its tecniques and applicability.
We also point point out the importance of these techniques to the sports performance. Several times these techniques
interpreted by the health and sports professionals. The motivation to perform this review was to contribute for a better
clarification of these techniques.
key-Word: flexibility, stretching, amplitude of movement.
INTRODUO
Enquanto flexibilidade um termo utilizado para descrever
um componente de aptido relacionado ao bem-estar fsico, a
palavra alongamento usada para descrever a tcnica utilizada
para melhorar a flexibilidade, por meio de elasticidade muscular,
ao colocar o msculo alongado alm de seu tamanho habitual
1
.
A flexibilidade considerada como um importante
componente da aptido fsica, relacionada sade e ao desempenho
atltico. Embora ela no seja a nica qualidade fsica importante
na performance, ela est presente em quase todos os desportos,
fazendo-se necessria tambm para realizao de atividades de
vida diria de qualidade.
muito importante, pois favorece uma maior mobilidade
nas atividades dirias e esportivas, diminui o risco de leses,
favorece o aumento da qualidade e quantidade de movimentos e
uma melhora da postura corporal.
Sabe-se que a maioria das atividades de vida diria
requerem um grau relativamente normal de flexibilidade.
Contudo, certas atividades como ginstica, bal ou carat,
exigem maior flexibilidade para atingir desempenho superior
2
.
O conhecimento e a prtica do alongamento garantiro
uma boa flexibilidade que permitir a execuo de movimentos
com amplitudes articulares dentro de suas necessidades
especficas, diminuindo a suscetibilidade de leses e permitindo
a obteno de arcos articulares mais amplos, possibilitando a
execuo de movimentos que de outra forma seriam limitados.
Os termos flexibilidade e alongamento so, algumas
vezes, confundidos tanto pelos fisioterapeutas, como pelos
educadores fsicos, profissionais que utilizam esses recursos
em seu dia-a-dia. Neste estudo queremos esclarecer as
diferenas desses conceitos, objetivando contribuir para as
discusses e aplicaes dessas tcnicas entre os acadmicos e
os profissionais que delas se utilizam.
33
Badaro et al
DESENVOLVIMENTO
1 Flexibilidade
A performance humana composta por inmeros fatores
interdependentes, tais como fora, velocidade, flexibilidade,
resistncia muscular localizada, entre outros. O valor da flexibilidade
neste contexto foi sendo gradativamente comprovado e aceito
pela comunidade cientifica, embora muitas dvidas ainda precisem
ser sanadas
3
.
Falar em flexibilidade , portanto, se referir aos maiores
arcos de movimentos possveis nas articulaes envolvidas.
Muitos desportos exigem a utilizao completa dos arcos
articulares especificadamente envolvidos em seus gestos, fica
muito difcil, se no impossvel, a performance de alto rendimento
sem se usar de um bom nvel de flexibilidade nos segmentos
musculares empenhados.
Para que haja uma boa amplitude de movimento, ou seja,
uma boa flexibilidade, que varia de acordo com a necessidade de
cada um, preciso haver mobilidade e elasticidade adequada dos
tecidos moles que circundam a articulao (msculos, tecido
conectivo e pele), vindo a favorecer o desempenho da maioria das
atividades ocupacionais e recreativas, com amplitudes de
movimentos sem restries e sem dor
4
.
1.1 Conceito e importncia
Definir flexibilidade no uma tarefa fcil, pois envolve
vrios conceitos de diferentes reas, representando situaes
conflitantes quando considerada no mbito clnico, desportivo ou
pedaggico. Atualmente vrios so os autores que se posicionam
de diferentes formas quando se referem flexibilidade. Catellan
5
refere que alguns a abordam como sendo sinnimo de mobilidade
articular, por envolver o movimento sobre articulaes de forma
ampla em todas as direes. Outros, como Arajo
6
e Dantas
7
a
definem como a qualidade fsica responsvel pela execuo de
movimentos voluntrios de amplitudes mximas dentro dos limites
morfolgicos, dependente tanto da elasticidade muscular quanto
da mobilidade articular. Concordam ainda, que a flexibilidade
necessria para a perfeita execuo de atividades fsicas,
minimizando assim o risco de provocar leses, ressaltando que ela
necessria e essencial para o desenvolvimento de atividades da
vida diria de qualidade, proporcionando ao individuo maior
liberdade e movimentos mais harmnicos.
1.2 Tipos de Flexibilidade
A flexibilidade pode ser classificada em geral ou especfica,
ativa ou passiva, e ainda em esttica ou dinmica.
A flexibilidade geral observada em todos os movimentos
da pessoa englobando todas as articulaes, enquanto que a
flexibilidade especfica referente a um ou alguns movimentos
realizados em determinadas articulaes
7
.
A maior amplitude de movimento (ADM) possvel de
uma articulao, obtida sem ajuda, ou seja, pela contrao do
msculo agonista denominada flexibilidade ativa. J, a
flexibilidade passiva a maior amplitude de movimento
possvel da articulao obtida por meio da atuao de foras
externas (companheiro, aparelhos, peso corporal). sempre
maior que a ativa
9
.
Observa-se a flexibilidade esttica pela mobilizao do
segmento corporal de forma lenta e gradual por agente externo
buscando alcanar o limite mximo, enquanto que a dinmica
expressa pela ADM mxima obtida pelos msculos motores,
volitivamente, de forma rpida
7
.
Existem, ainda, outras duas classificaes para a
flexibilidade, uma do tipo balstica, que no tem existncia no
dia-a-dia, mas que poderia ser observada em um movimento
onde toda a musculatura circundante articulao empregada
ficaria em estado de relaxamento total e o segmento corporal
seria mobilizado por um agente externo de forma rpida e
explosiva e outra, do tipo controlada, observvel quando se
realiza um movimento sob a ao do msculo agonista de
forma lenta, at chegar maior amplitude na qual seja possvel
realizar uma contrao isomtrica
7
. Esta ltima de grande
importncia para os atletas, como exemplo os ginastas, pois
permite ao praticante sustentar um segmento corporal, numa
contrao esttica realizada em um amplo arco articular.
1.3 Fatores que influenciam na flexibilidade
A mobilidade de uma articulao depende diretamente
das estruturas que a compem e circundam, como ossos,
cpsula articular, tendes, ligamentos, msculos, gordura e
pele
2
.
Existem fatores limitantes, de natureza mecnica,
divididos em influenciveis, onde se encontram a capacidade
de distenso da pele, ligamentos, tendes e cpsula articular;
e no influenciveis que so a estrutura articular e a massa
muscular existente.
As estruturas de tecidos moles tambm contribuem para
a resistncia articular, sendo por ordem decrescente: cpsula
articular 47%, msculos 41%, tendes - 10% e pele
2%
10
.
Os fatores endgenos influenciadores dos graus de
flexibilidade so
11
: idade, sexo, somattipo, individualidade
biolgica, condio fsica, respirao e concentrao, e os
exgenos so a temperatura ambiente e a hora do dia.
Alguns estudos
3
, relacionando idade e flexibilidade,
preconizam que os melhores resultados no treinamento de
flexibilidade ocorrem entre 10 e 16 anos de idade, apesar da
melhor mobilidade de algumas articulaes corresponder a
uma idade mais avanada.
Dentre os fatores que mais favorecem a reduo dos
34
Badaro et al
nveis de amplitude articular, destaca-se o envelhecimento, devido
s mudanas msculo-esquelticas e fisiolgicas relacionadas
idade.
Segundo Contursi
3
, atletas que apresentam boa parte de sua
preparao fsica voltada para o aumento da flexibilidade, como
ginastas e capoeiristas, possuem uma flexibilidade geral maior
que, por exemplo, os jogadores de futebol de campo. Alm disso,
cada atividade fsica solicita um grau de flexibilidade diferente
para as distintas regies do corpo, de acordo com as caractersticas
da mesma, assim como das reas msculo-articulares mais utilizadas
por cada um
3
.
A flexibilidade possui, portanto especificidade em relao
atividade fsica nas distintas articulaes utilizadas para
determinadas prticas desportivas. Sua garantia contribui para
uma tcnica mais acurada, aumentando eficincia e segurana do
gesto motor.
O bom nvel de flexibilidade varia com a necessidade de cada
um, logo, a boa flexibilidade aquela que permite ao individuo
realizar os movimentos articulares, dentro da amplitude necessria
durante a execuo de suas atividades dirias, sem grandes
dificuldades e leses
11
.
2 Alongamento
O alongamento uma forma de trabalho que visa a
manuteno dos nveis de flexibilidade obtidos e a realizao dos
movimentos de amplitude articular normal com o mnimo de
restrio possvel
7
.
2.1 Tipos de alongamento
De acordo com Contursi
3
, temos:
- Alongamento esttico ou passivo: consiste em realizar o
alongamento de uma determinada musculatura at a sua extenso
mxima de movimento, e ao chegar neste ponto, permanecer por
um perodo que varia de 3 a 60 segundos
3
.
- Alongamento dinmico, ativo ou balstico: corresponde a
habilidade de se utilizar a ADM, na performance de uma atividade
fsica em velocidades rpidas do tipo sacudidas. Utiliza-se de
vrios esforos musculares ativo insistidos, na tentativa de maior
alcance de movimento
3
.
Dantas
7
acrescenta que o alongamento por Facilitao
Neuromuscular Proprioceptiva utiliza a influncia recproca entre
o fuso muscular e o Orgo Tendinoso de Golgi (OTG) de um
msculo entre si e com os do msculo antagonista, para obter
maiores amplitudes de movimento.
Para atingir o alongamento de um msculo de maneira mais
eficiente, a temperatura intramuscular deve elevar-se antes que ele
seja realizado
2
. Quando um msculo est aquecido ele d mais de
si, alonga-se mais, tem maior resistncia leses e sua capacidade
contrtil maior
12
.
Embora exista uma grande polmica sobre se o aquecimento
possui ou no influncia na performance, no h dvida de
que, se ele for realizado corretamente provocar uma
diminuio da viscosidade dos lquidos orgnicos; aumento da
espessura da cavidade articular, permitindo o aumento da
compressibilidade e a diminuio da presso por rea da
superfcie articular, reduzindo o risco de leses e diminuio
do tempo de transio entre os estados de contrao e
relaxamento
7
.
O aumento da temperatura tem efeito positivo sobre a
capacidade de os componentes de colgeno e elastina, no
interior da unidade msculo-tendnea, se deformarem. Ainda,
a capacidade dos OTG
s
relaxarem o msculo de modo reflexo
por meio de inibio autognica ampliada quando o msculo
est aquecido. Recomenda-se que o exerccio seja empregado
como o principal meio de elevar a temperatura intramuscular
2
.
2.2 Bases neurofisiolgicas do alongamento
Os msculos esquelticos constituem-se de milhares de
fibras contrteis individuais cilndricas, chamadas fibras
musculares. Essas fibras so clulas longas, finas e
multinucleadas, possuindo uma membrana conhecida como
sarcolema
7
.
Cada fibra muscular composta por vrias miofibrilas e
cada miofibrila composta de vrios sarcmeros (unidade
funcional do msculo) ligados em srie. O sarcmero
representa a zona que vai de uma linha Z at a outra linha Z.
As miofibrilas so compostas de pequenas estruturas
chamadas miofilamentos proticos de actina e miosina dentro
do sarcmero. Contudo, nos anos 70 e 80 surgiu um terceiro
ligamento conectivo extremamente elstico conhecido como
titina
1
.
A titina tambm denominada de conectina uma protena
elstica extremamente longa que percorre paralelamente ao
arranjo ordenado dos miofilamentos e se estende da linha Z
para a linha M no centro do filamento da miosina e mantm o
sarcmero no centro durante contrao e relaxamento.
Presume-se que a miosina associada ao segmento da titina no
se alongue
8
.
Quando o sarcmero alongado, a regio da molcula de
titina encontrada na banda A, geralmente comporta-se como
se ela fosse rigidamente ligada aos filamentos grossos e impede
o alongamento. Provavelmente pela interao dos filamentos
grossos e outras protenas relacionadas. A resistncia passiva
quando o msculo alongado origina-se da banda I, e a parte
da titina que se encontra na linha Z complascente ao
alongamento. Parece bem estabelecido que a banda I da titina
estende durante o alongamento do sarcmero
8
.
O tecido conjuntivo possui propriedades viscoelsticas.
O componente viscoso permite um estiramento plstico que
resulta em alongamento permanente do tecido depois que a
carga removida. Inversamente, o componente elstico torna
35
Badaro et al
possvel o estiramento elstico que o alongamento temporrio,
com o tecido retornando ao seu comprimento anterior depois que
o estresse removido. As tcnicas de exerccio de movimento
devem ser elaboradas principalmente de forma a produzir a
deformao plstica
13
.
Devem-se ressaltar ainda os componentes inextensveis, que
so aqueles que no trabalham quando submetidos ao de foras
longitudinais. Por mais intensas que essas foras sejam no
provocam deformaes. Estruturalmente, so os ossos e os
tendes
7
.
Alm da participao mecnica dos componentes plsticos,
elsticos e inextensveis como a cpsula articular, o alongamento
grandemente influenciado pelo mecanismo de propriocepo. Cada
msculo no corpo contm vrios tipos de proprioceptores, os
quais, se estimulados, informam ao sistema nervoso central o que
est acontecendo com o msculo. Os receptores mais importantes
envolvidos no alongamento muscular so: o fuso muscular e o
OTG
14
.
O fuso muscular monitora a velocidade e durao do
alongamento e detecta as alteraes no comprimento do msculo.
As fibras do fuso so sensveis rapidez com a qual um msculo
alongado
4
.
Diferente dos fusos musculares, que ficam paralelos s fibras
musculares extrafusais, os OTG esto conectados em srie com
at vinte e cinco fibras extrafusais. Esses receptores sensoriais
tambm esto localizados nas articulaes e so responsveis
principalmente pela identificao das diferenas de tenso
muscular
5
.
Esses receptores devem ser levados em conta no processo
de seleo de qualquer procedimento de alongamento. O fuso
muscular responde ao alongamento rpido desencadeando uma
contrao reflexa do msculo que est sendo alongado. Se um
estiramento (alongamento) mantido por um perodo
suficientemente longo (de pelo menos seis segundos), o mecanismo
protetor poder ser anulado pela ao do OTG, que pode
sobrepujar os impulsos provenientes do fuso muscular
2
.
O Reflexo de alongamento miottico (1), o Reflexo de
alongamento inverso (inibio autognica) (2) e a Inervao
recproca (inibio recproca) (3), so as trs tcnicas de
alongamento que se baseiam em um fenmeno neurofisiolgico
que envolve o reflexo do estiramento, onde o fuso muscular e o
OTG so importantes
2
.
3 Avaliao da Flexibilidade
Assim como existem diferentes tcnicas de alongamento
para desenvolver a flexibilidade, encontram-se, tambm,
diferentes formas de avali-la. Os testes existentes para medio
e avaliao (medidas morfolgicas) da flexibilidade podem ser
divididos em trs grandes grupos: angulares, lineares e
adimensionais
16
.
- Testes Angulares: so aqueles que possuem resultados
expressos em ngulos. A medida dos ngulos denominada de
Goniometria e pode ser feita principalmente pelo gonimetro;
o mtodo mais utilizado para quantificar os graus de amplitude
articular
17
.
- Testes Lineares: se caracterizam por expressar seus
resultados em uma escala de distncia, tipicamente em
centmetros ou polegadas. O mais utilizado o da Caixa de
Sentar e Alcanar de Weels. Esse teste tem como objetivo
medir a flexibilidade do quadril, dorso e msculos posteriores
dos membros inferiores (cadeia muscular posterior).
Consiste em uma caixa de madeira, sendo que na parte
superior esta possui uma escala, graduada de um em um
centmetro. Na parte central, perpendicular, existe um aparato
de madeira que serve de apoio para os ps com o sujeito
sentado no cho. A partir da linha central, vinte e trs
centmetros na direo do sujeito onde comea o marco zero
da escala do instrumento. A distncia alcanada entre a ponta
dos dedos do individuo at o marco zero da escala, situada ao
nvel da regio plantar, estando o individuo sentado no cho,
com os joelhos estendidos o referencial para marcao
5
.
- Testes Adimensionais: a mensurao da flexibilidade
constituda pela interpretao dos movimentos articulares de
um indivduo, comparando-os com uma folha de gabarito,
onde as posies articulares e o valor correspondente j esto
definidos.
DISCUSSO
Os conceitos levantados so importantes para a reflexo
dos profissionais que deles se utilizam. Na prtica dos
fisioterapeutas e dos educadores fsicos, h necessidade de
maior discusso e esclarecimento dentre os mtodos que deles
se apropriam.
No tivemos a pretenso de inferir sobre a natureza
conceitual, mas do uso que deles estamos fazendo, buscamos
1- Reflexo de alongamento miottico: impede que o msculo alongue demais e com rapidez demasiada, protegendo a articulao contra
leses. mediado pelo fuso muscular, atravs de impulsos sensoriais da medula espinhal, fazendo com que o msculo se contraia, resistindo
ao alongamento evitando o estiramento da articulao
2
.
2- Reflexo de alongamento inverso (inibio autognica): o disparo do OTG com o objetivo de inibir ou relaxar um msculo, quando uma
contrao mxima realizada; eles monitoram a quantidade de tenso exercida sobre o tendo. Essa a base para a teoria do relaxamento
ps-isomtrico, que postula que um msculo est neurologicamente relaxado e, portanto, mais facilmente alongado aps uma contrao
isomtrica mxima
15
.
3 - Inervao recproca (inibio recproca): mediada pelo fuso muscular, faz com que um msculo relaxe quando seu antagonista contrai.
Isso permite que ocorra movimento em torno de uma articulao
15
.
36
Badaro et al
conceitos atuais, discutidos entre os autores que dominam o assunto
na rea.
Ressaltamos que, apesar dos termos flexibilidade e
alongamento serem muitas vezes confundidos e/ou usados como
sinnimos, possuem significados diferentes. Enquanto flexibilidade
est relacionada com a amplitude de movimento da articulao, o
alongamento refere-se elasticidade muscular. Sendo assim, uma
boa flexibilidade, que permita a realizao de movimentos sem
restrio articular e sem compensaes de outros segmentos
corporais, depende de um bom grau de alongamento dos tecidos
moles circundantes.
CONCLUSO
Diante do exposto, podemos concluir que, tanto a
flexibilidade como o alongamento, esto diretamente relacionados
com a mobilidade articular, a funo muscular e a amplitude de
movimento, porm, so trabalhos (aes) com significados
distintos.
O alongamento refere-se s situaes que envolvem mais
diretamente a estrutura muscular e os tecidos moles que envolvem
a articulao. As tcnicas de alongamentos resultam na elasticidade
e melhoria da funo muscular. J a flexibilidade, resultante do
trabalho de alongamento, que se reflete na amplitude do movimento
articular.
Apesar das diferenas conceituais, fisiolgicas, neurolgicas
e tcnicas, flexibilidade e alongamento, esto diretamente inter-
relacionados, no se podendo realizar um, sem considerar o outro.
A falta de estudos cientficos que esclaream a importncia
do alongamento e flexibilidade, e que relacionem suas tcnicas
com os diferentes desportos, com certeza contribui muito para a
falta de conhecimento dos profissionais que atuam na rea. Sugere-
se que mais estudos e pesquisas sejam realizados relacionando
tais tcnicas com diferentes faixas etrias, sexos, e grupos de atletas,
pois a importncia da flexibilidade neste meio j est, de fato,
comprovada.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
1. Alter MJ. Cincias da Flexibilidade. Porto Alegre: Artmed, 1998.
2. Prentice WE. & Voight ML. Tcnicas em Reabilitao
Musculoesqueltica. Porto Alegre: Artmed, 2003.
3. Contursi TLB. Flexibilidade e alongamento. 19 ed, Rio de
Janeiro: Sprint, 1986.
4. Kisner C & Colby LA. Exerccios Teraputicos: Fundamentos
e Tcnicas. So Paulo: Manole, 1998.
5. Cattelan AV. Estudo das tcnicas de alongamento esttico e
por Facilitao Neuromuscular Proprioceptiva no
desenvolvimento da flexibilidade em jogadores de futsal.
[Monografia de especializao do Programa de Ps-Graduao
em Cincia do Movimento Humano - rea de Concentrao em
Biomecnica]. Santa Maria (RS): Universidade Federal de Santa
Maria; 2002.
6. Arajo CGS. Existe relao entre flexibilidade e somatotipo?
Uma nova metodologia para um problema antigo. Revista
Medicina do Esporte. 1983; 7(3/4): 7.
7. Dantas EHM. Flexibilidade: alongamento e flexionamento.
4 ed, Rio de Janeiro: Shape, 1999.
8. Achour Jr, AA. Bases para exerccios de alongamento
relacionado com a sade e no desempenho atltico. Paran:
Midiograf, 1996.
9. Barbanti VJ. Treinamento fsico: bases cientficas. 3 ed, So
Paulo: CLR Balieiro, 1996.
10. Fox EL. & Mathews DK. Bases fisiolgicas da educao
fsica e dos desportos. 3 ed, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
1991.
11. Blanke D. Flexibilidade In: Mellion MB. Segredos em medicina
desportiva. Porto Alegre, Artes Mdicas. 3 ed. So Paulo: Ibrasa;
1997. p. 87 92.
12. Calvo JB. Apuntes para uma anatomia aplicada a la danza.
Madrid: Veriser, 1998.
13. Andrews JR, Harrelson GL, Wilk KE. Reabilitao fsica das
leses desportivas. 2 ed, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2000.
14. Lehmkuhl LD & Smith LH. Cinesiologia clnica de
Brunnstrom. 4 ed, So Paulo: Manole, 1989.
15. Mcatee RE. Alongamento facilitado. So Paulo: Manole,
1998.
16. Marins JCB e Giannichi RS. Avaliao e Prescrio de
Atividade Fsica. 2 ed, Rio de Janeiro: Shape, 1998.
17. Zatsiorski V. Biomecnica de los Ejerccios Fsicos. URSS:
Raduga Moscu, 1988.
Endereo para correspondncia:
Aline Huber da Silva
Rua Desembargador Pedro Silva, 2202, BL 34, apto 34.
CEP 88080-700, Florianpolis SC.
Fone: (48) 9945 3070.
e-mail: huberfisio@yahoo.com.br
Você também pode gostar
- Mobilidade e FlexibilidadeDocumento28 páginasMobilidade e FlexibilidadeAnna Carla Gouveia83% (6)
- Alongamento e FlexibilidadeDocumento25 páginasAlongamento e FlexibilidadeCláudia Souza Costa100% (3)
- Fisiologia Do Alongamento e FlexibilidadeDocumento27 páginasFisiologia Do Alongamento e FlexibilidadeDavi Huguenin0% (1)
- Alongamento MuscularDocumento60 páginasAlongamento MuscularMarcelo Andrade80% (5)
- Farmacia Programa Sanar Saude - C0rrigid0Documento20 páginasFarmacia Programa Sanar Saude - C0rrigid0Renato Rodrigues0% (3)
- Flexibilidade X Alongamento (TRABALHO DE VOLEIBOL)Documento2 páginasFlexibilidade X Alongamento (TRABALHO DE VOLEIBOL)Katiele Araújo MolinaAinda não há avaliações
- Mobilidade Vs FlexibilidadeDocumento29 páginasMobilidade Vs FlexibilidadeCristina MauricioAinda não há avaliações
- Ciências - Células - 6o AnoDocumento4 páginasCiências - Células - 6o AnoGuaracyara Ribas Augusto100% (3)
- Ebook Mobilidade Articular - 01Documento28 páginasEbook Mobilidade Articular - 01DANIANDRIGHETTI100% (1)
- Flexibilidade Na Dança 01Documento88 páginasFlexibilidade Na Dança 01Davi Huguenin100% (2)
- FlexibilidadeDocumento18 páginasFlexibilidadeAlessandra Figueiredo0% (1)
- 3 Aula-Avaliação Na Fisioterapia DesportivaDocumento63 páginas3 Aula-Avaliação Na Fisioterapia Desportivaeunice rocha oliveiraAinda não há avaliações
- AlongamentoDocumento24 páginasAlongamentoRichardsonAlves100% (1)
- Treinamento de Flexibilidade - ApostilaDocumento27 páginasTreinamento de Flexibilidade - ApostilaannaAinda não há avaliações
- O Desenvolvimento Psiquico e Da Consciência HumanaDocumento15 páginasO Desenvolvimento Psiquico e Da Consciência HumanaAlberto75% (4)
- A Flexibilidade No FutebolDocumento10 páginasA Flexibilidade No Futebolpfalcao05994100% (1)
- Flexibilidade e Alongamento Curso 2012Documento37 páginasFlexibilidade e Alongamento Curso 2012Estevão Diniz100% (3)
- Apostila Ed Fisica CompletaDocumento41 páginasApostila Ed Fisica CompletaAnna Dionísio100% (1)
- FlexibilidadeDocumento42 páginasFlexibilidadepapayalokAinda não há avaliações
- Livro de SociologiaDocumento39 páginasLivro de SociologiaJoão Vitor Alves100% (1)
- Capacidades Físicas Básicas ApostilaDocumento45 páginasCapacidades Físicas Básicas ApostilaVandevaldo Pereira100% (1)
- Trabalho Escrito JajaDocumento12 páginasTrabalho Escrito JajalululululululululyAinda não há avaliações
- Mitos e Verdades Do Alongamento para o Personal TrainingDocumento12 páginasMitos e Verdades Do Alongamento para o Personal TrainingMessias FilhoAinda não há avaliações
- Apostila Capacidades Físicas-MédioDocumento6 páginasApostila Capacidades Físicas-Médiokimtete290296Ainda não há avaliações
- Template Modulo VDocumento12 páginasTemplate Modulo VElizabete Gianesini MacedoAinda não há avaliações
- Fisiologia Do Alongamento e Flexibilidade Trabalho Feito SLIDEDocumento22 páginasFisiologia Do Alongamento e Flexibilidade Trabalho Feito SLIDEJoão Paulo AlbuquerqueAinda não há avaliações
- A Influência Do Treinamento de Força Na FlexibilidadeDocumento6 páginasA Influência Do Treinamento de Força Na FlexibilidadecinesiologiaAinda não há avaliações
- Capacidades Motoras CondicionaisDocumento12 páginasCapacidades Motoras CondicionaisRosana AgraAinda não há avaliações
- Alongamento e FlexibilidadeDocumento5 páginasAlongamento e FlexibilidadeRosa LopesAinda não há avaliações
- Flexibilidade E Mobilidade: Conceito E DiferenciaçãoDocumento13 páginasFlexibilidade E Mobilidade: Conceito E DiferenciaçãoMateus MirandaAinda não há avaliações
- Aula 2.2Documento15 páginasAula 2.2Italo bruno Costa de SousaAinda não há avaliações
- FlexibilidadeDocumento12 páginasFlexibilidadeCleberson Do CarmoAinda não há avaliações
- Material Sobre Capacidades Fisicas (Recorte) PDFDocumento5 páginasMaterial Sobre Capacidades Fisicas (Recorte) PDFDenise Karoline100% (1)
- Capacidade Fisicas Basicas ApostilaDocumento6 páginasCapacidade Fisicas Basicas ApostilaTiago Rafael PaivaAinda não há avaliações
- Apostilado3e4bimestresdeeducaofsica 111013053029 Phpapp02Documento43 páginasApostilado3e4bimestresdeeducaofsica 111013053029 Phpapp02Cleves Portela FilhoAinda não há avaliações
- Ginástica de Condicionamento Físico Resistencia e FlexibilidadeDocumento13 páginasGinástica de Condicionamento Físico Resistencia e Flexibilidadeeduadamaria.010Ainda não há avaliações
- Trabalho Flexibilidade Ef - OdpDocumento13 páginasTrabalho Flexibilidade Ef - OdpMartim DiasAinda não há avaliações
- Saude Qualidade de VidaDocumento6 páginasSaude Qualidade de VidaDirlei Rodrigo FerrariAinda não há avaliações
- Alongamento e FlexibilidadeDocumento10 páginasAlongamento e FlexibilidadeMessias FilhoAinda não há avaliações
- Artigo - MeninasDocumento15 páginasArtigo - Meninascertificado.gynmetroAinda não há avaliações
- Alongam. CaptDocumento16 páginasAlongam. CaptEnayle FernandesAinda não há avaliações
- Análise de Flexibilidade Dos IsquiotibiaisDocumento9 páginasAnálise de Flexibilidade Dos IsquiotibiaisAugusto ManoelAinda não há avaliações
- Considerações Sobre A Aplicação Dos Exercícios de Alongamento e Flexibilidade em Programas de TreinamentoDocumento18 páginasConsiderações Sobre A Aplicação Dos Exercícios de Alongamento e Flexibilidade em Programas de TreinamentoLevyAinda não há avaliações
- Alongamento & FlexibilidadeDocumento12 páginasAlongamento & FlexibilidadeBianca AntunesAinda não há avaliações
- Flexibilidade No Treinamento Do Atleta de Alto RendimentoDocumento10 páginasFlexibilidade No Treinamento Do Atleta de Alto RendimentoSandroCandidodeCarvalhoAinda não há avaliações
- Trabalho Escrito AlongamentoDocumento12 páginasTrabalho Escrito AlongamentoSilvio_IkegamiAinda não há avaliações
- FLEXIBILIDADEDocumento3 páginasFLEXIBILIDADEBruno RufinoAinda não há avaliações
- Gabarito - Atividade de Educação Física - 17!08!2023 - (2 Série Do Ensino Médio)Documento4 páginasGabarito - Atividade de Educação Física - 17!08!2023 - (2 Série Do Ensino Médio)larinha PiresAinda não há avaliações
- Artigo 2Documento13 páginasArtigo 2Diogo Alves dos SantosAinda não há avaliações
- EFI - RevisãoDocumento8 páginasEFI - RevisãoFlyingAtol 61687Ainda não há avaliações
- Apostila AlongamentoDocumento73 páginasApostila AlongamentoFelipeAinda não há avaliações
- 2 - Flexibilidade e AlongamentoDocumento2 páginas2 - Flexibilidade e AlongamentoYuriAinda não há avaliações
- Resumo Capacidades Fisicas Com AtividadeDocumento3 páginasResumo Capacidades Fisicas Com AtividadeEdson ZacqueuAinda não há avaliações
- Flexibilidade No FutebolDocumento28 páginasFlexibilidade No FutebolpasqtwitterAinda não há avaliações
- 03 Preparacao FisicaDocumento27 páginas03 Preparacao FisicaMarcio De Souza RochaAinda não há avaliações
- Aula 1Documento16 páginasAula 1Lívia LealAinda não há avaliações
- A Flexibilidade e o Desporto PDFDocumento14 páginasA Flexibilidade e o Desporto PDFAntónio BastosAinda não há avaliações
- Artigo FlexibilidadeDocumento9 páginasArtigo FlexibilidadeFelipe Santos De LimaAinda não há avaliações
- Flexibilidade de Atletas de Basquetebol Submetidos À Postura "Em Pé Com Inclinação Anterior" Do Método de Reeducação Postural Global (RPG)Documento8 páginasFlexibilidade de Atletas de Basquetebol Submetidos À Postura "Em Pé Com Inclinação Anterior" Do Método de Reeducação Postural Global (RPG)clmr7565Ainda não há avaliações
- 2013 - Arroyo - Efeito de Treinamentos de Flexibilidade Sobre A Forca e o Torque MuscularDocumento12 páginas2013 - Arroyo - Efeito de Treinamentos de Flexibilidade Sobre A Forca e o Torque Muscularhenrique de souzaAinda não há avaliações
- Ebook Mobflexest.Documento46 páginasEbook Mobflexest.salvattorimusicAinda não há avaliações
- Cópia de Teste para Avaliaçao Dos Conhecimentos 3º PeríodoDocumento15 páginasCópia de Teste para Avaliaçao Dos Conhecimentos 3º PeríodoBeatriz CorreiaAinda não há avaliações
- Morfologia e Citologia Dos FungosDocumento34 páginasMorfologia e Citologia Dos FungosYasmin100% (1)
- Anatomia Crà NioDocumento8 páginasAnatomia Crà NioAdriano SilvaAinda não há avaliações
- Metodos para Inventarios de Vertebrados para Licenciamento AmbientalDocumento90 páginasMetodos para Inventarios de Vertebrados para Licenciamento AmbientalPriscila NunesAinda não há avaliações
- Lesões Fundamentais Conceitos 8º PeriodoDocumento23 páginasLesões Fundamentais Conceitos 8º PeriodoPolpese OdontoAinda não há avaliações
- Levi Heitor,+7+1+6-12Documento7 páginasLevi Heitor,+7+1+6-12GERSON SANTANAAinda não há avaliações
- Aula 12 - Sistema Renal Morfologia Fluxo Sanguíneo Renal e Filtração GlomerularDocumento31 páginasAula 12 - Sistema Renal Morfologia Fluxo Sanguíneo Renal e Filtração GlomerularMaria Eduarda PratesAinda não há avaliações
- Catalogo CertoDocumento29 páginasCatalogo Certojaciel ferreiraAinda não há avaliações
- POP 006 Sadt Rotina para Coleta de Exames de Sangue e Transporte para Laboratorio de Apoio CientificalabDocumento4 páginasPOP 006 Sadt Rotina para Coleta de Exames de Sangue e Transporte para Laboratorio de Apoio CientificalabMario NetoAinda não há avaliações
- Weremindful - Livro 05 - Preciso de Você - Castalia CabottDocumento117 páginasWeremindful - Livro 05 - Preciso de Você - Castalia CabottAna Clara Dias CardosoAinda não há avaliações
- A Cultura Do AbacateDocumento3 páginasA Cultura Do AbacateMatheus RafaelAinda não há avaliações
- GUIADOJEJUMINTERMITENTEDocumento1 páginaGUIADOJEJUMINTERMITENTEELISA REGINA DOS ANTOSAinda não há avaliações
- Aula de Afecção Cirúrgica Do Sistema UrinárioDocumento57 páginasAula de Afecção Cirúrgica Do Sistema UrinárioSara SantosAinda não há avaliações
- O Destravar Da Inteligencia EmocionalDocumento199 páginasO Destravar Da Inteligencia EmocionalsilcristinaAinda não há avaliações
- Os Chacras e A UmbandaDocumento5 páginasOs Chacras e A UmbandaRicardo TriquesAinda não há avaliações
- Bio12 Teste Genética2018Documento6 páginasBio12 Teste Genética2018Sonia CostaAinda não há avaliações
- 20130628085955lista ProbabilidadeDocumento8 páginas20130628085955lista ProbabilidadeGuto PedrosaAinda não há avaliações
- Bioquimica Resumo Ap1 CederjDocumento6 páginasBioquimica Resumo Ap1 CederjKauã MachadoAinda não há avaliações
- Artigo Patricia PonteDocumento11 páginasArtigo Patricia PonteJhonnyAinda não há avaliações
- Bula Librela v3 080221Documento1 páginaBula Librela v3 080221Caroline Pinho WinckAinda não há avaliações
- Aula 1 - Introdução À BromatologiaDocumento15 páginasAula 1 - Introdução À BromatologiaNaraVanessaAinda não há avaliações
- Jason Dark - A Deusa Da Morte - RS e RTSDocumento97 páginasJason Dark - A Deusa Da Morte - RS e RTSDor MundanaAinda não há avaliações
- Demon Gate 10 - ChaosDocumento159 páginasDemon Gate 10 - ChaosJuliana ToledoAinda não há avaliações
- Stayve AC Stem Cell Gold AmpouleDocumento9 páginasStayve AC Stem Cell Gold AmpouleNataliaAinda não há avaliações
- 1º ANO Biologia I BIMESTREDocumento4 páginas1º ANO Biologia I BIMESTREFAGNER GONCALVES LOPESAinda não há avaliações
- 11 Problemas-de-Audição MOV DOWNDocumento20 páginas11 Problemas-de-Audição MOV DOWNEspaço IntegrarAinda não há avaliações
- Protese TCCDocumento155 páginasProtese TCCIlgner Aparecido BecheleniAinda não há avaliações