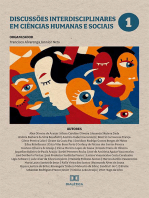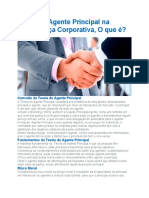Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Referencial Teorico - Ed Moz
Referencial Teorico - Ed Moz
Enviado por
Alirio MendesDescrição original:
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Referencial Teorico - Ed Moz
Referencial Teorico - Ed Moz
Enviado por
Alirio MendesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Referencial teórico
A pesquisa tomará como suporte teórico principal as obras póstumas de Wittgenstein intituladas
O Livro Azul (1992), O Livro Castanho (1992), Zettel (2007) e Investigações Filosóficas (1999).
Igualmente, tomará como subsidiárias as obras de filósofos renomados no campo da educação,
como John Dewey e Paulo Freire. Não obstante, alguns pensadores de crucial relevância serão
abordados para uma reflexão acentuada do ensino inclusivo no contexto moçambicano, tais como
Brazão Mazula, Severino Ngoenha e José Castiano.
De modo geral, a educação é tida como um direito humano fundamental e uma ferramenta crítica
para o desenvolvimento pessoal e social, permitindo que os indivíduos adquiram conhecimentos,
habilidades e valores que os capacitem a participar plenamente da sociedade. No entanto, nem
todos os indivíduos têm igual acesso à educação, e a educação inclusiva visa resolver isso criando
um ambiente de aprendizagem que acolhe e acomoda alunos de diversas origens e habilidades. E,
contexto moçambicano é onde mais podemos ver essa diversidade de origens e habilidades,
oportunidades e valores. Neste referencial teórico, exploraremos os conceitos de educação e
educação inclusiva, e sua inter-relação com o conceito de jogo de linguagem proposto por
Wittgenstein, valendo-se de várias perspectivas e obras filosóficas.
A educação pode ser definida, a grosso modo, como um processo de aquisição de conhecimento,
habilidades e valores que capacitam os indivíduos a funcionar de forma eficaz na sociedade.
Todavia, na obra Democracia e Educação, Dewey (2007, p. 49) contrapõe que a educação não é
apenas sobre a aquisição de conhecimento, mas também sobre o desenvolvimento da capacidade
de pensar de forma crítica e criativa, para resolver problemas e para se comunicar de forma eficaz
com os outros.
Westbrook (2010, p. 27) interpretando o conceito de educação em Dewey, explica que
A educação constitui uma espécie de caldo de cultura que pode influenciar eficazmente
o curso de sua evolução. Se os educadores desempenharem realmente bem seu
trabalho, apenas se necessitaria de reforma: da classe poderia surgir uma comunidade
democrática e cooperativa (WESTBROOK, 2010: 21).
A expressão ‘caldo da cultura’ referente à educação demonstra um aspecto que lhe é
imprescindível: a educação dá vida e move a cultura; ela impulsiona a evolução da cultura. Ora,
como poderíamos advogar uma educação descontextualizada de nosso meio e de nossa
sociedade? Como poderíamos sustentar uma educação que exclui os menos favorecidos de
diversos modos? Em Dewey (2007, p. 203) percebe-se que devemos reconhecer que a educação
pode assumir várias formas, incluindo educação formal, não formal e informal, e que ela pode
ocorrer em diferentes ambientes, como escolas, locais de trabalho e comunidades. A educação é
um processo que dura toda a vida e abrange não apenas a aquisição de conhecimentos
acadêmicos, mas também o desenvolvimento de competências sociais e emocionais.
A educação enquanto o despertar de uma atitude reflexiva e crítica também foi desenvolvida por
Paulo Freire. Na obra Educação e Mudança, Freire (1983, p. 58) argumenta que a educação é um
acto político que pode reproduzir ou transformar as desigualdades sociais. No entanto, ela não
ocorre de forma ‘bancária’, ou seja, do mero bombardeio de informações descontextualizadas ao
aluno. Para Freire, o professor não deve se impor ao aluno, muito menos o conteúdo lecionado
deve ser imposto ao aluno, pois isso “[...] mata o poder criador não só dos educandos, mas
também do educador” (FREIRE, 1983, p. 69).
A educação bancária não só mata a capacidade criativa e crítica do aluno e do professor, como
também impede o progresso da inclusão no ensino. A educação inclusiva é uma abordagem que
busca criar um ambiente de aprendizagem acolhedor para todos os alunos, independentemente de
suas origens, habilidades ou diferenças. A educação inclusiva reconhece que os alunos têm
diferentes necessidades e estilos de aprendizagem, e visa fornecer apoio individualizado e
acomodações para garantir que todos os alunos possam participar plenamente no processo de
aprendizagem. Ela dá liberdade criativa ao aluno, para que ele possa se expressar e se descobrir, à
medida em que vai descobrindo novos conhecimentos.
A educação inclusiva é fundamentada em princípios de justiça social e equidade, e procura
abordar a marginalização e exclusão de alunos que historicamente foram excluídos da educação.
A educação inclusiva reconhece que os alunos vêm de diversas origens e têm diferentes
experiências, culturas e idiomas, e visa criar um ambiente de aprendizagem que valorize e
respeite essas diferenças. Segundo o Relatório de Revisão de Subeducação: Educação Inclusiva,
da UNESCO (2021, p. 1), a educação inclusiva não é apenas fornecer acesso à educação, mas
também garantir que os alunos se sintam valorizados, respeitados e apoiados em seu aprendizado.
Uma das melhores formas de compreender a educação inclusiva é por meio da teoria dos jogos de
linguagem, de Wittgenstein. O conceito de jogos de linguagem é uma estrutura importante para
entender o papel da linguagem na educação. Nas Investigações Filosóficas, Wittgenstein (1999,
p. 56-57) aponta que a linguagem não é um sistema fixo e estável, mas sim uma prática dinâmica
e fluida que é moldada pelo contexto em que é usada.
Terá para mim o nome ‘Moisés’ um determinado uso, sólido e sem equívoco em todos
os casos possíveis? – Não é como se eu, por assim dizer, tivesse à mão toda uma série
de suportes e que me apoio em um deles quando os outros me são retirados e vice-
versa? […]. Deve-se dizer que eu uso uma palavra cuja significação não conheço, e
que digo, pois, um absurdo? – Diga o que quiser dizer, contanto que isto não o impeça
de ver o que ocorre (WITTGENSTEIN, 1999, p. 57).
Do supracitado, nota-se que a linguagem não é um meio de representar a realidade, mas sim um
meio de participar de actividades e práticas contextuais, demarcadas pelo uso da própria
linguagem. A linguagem não é uma ferramenta para comunicar ideias, mas sim um meio de criar
e manter relações sociais.
No Livro Azul, Wittgenstein (1992, p. 41) mostra como os jogos de linguagem estão relacionados
ao ensino e à educação:
Suponhamos que eu ensino a alguém o uso da palavra «amarelo», apontando
repetidamente para uma mancha amarela e pronunciando a palavra. Numa outra
ocasião faço-o aplicar o que aprendeu dando-lhe a seguinte ordem: «escolhe de dentro
deste saco uma bola amarela». O que se passou quando ele obedeceu à minha ordem?
Direi que «possivelmente passou-se apenas isto: ele ouviu as minhas palavras e tirou
uma bola amarela do saco». Podem imediatamente sentir-se inclinados a pensar que
isto não pode ter sido tudo o que se passou; e o tipo de coisa que sugeririam é a de que
ele imaginou algo amarelo quando compreendeu a ordem, tendo em seguida escolhido
a bola de acordo com a sua imagem […]. Se o sentido da palavra «amarelo» nos for
ensinado por recurso a uma qualquer espécie de definição ostensiva (uma regra para o
uso da palavra) este ensino pode ser considerado de duas maneiras diferentes. (A) O
ensino é uma repetição. Esta repetição leva-nos a associar uma imagem amarela, coisas
amarelas, com a palavra «amarelo». (B) O ensino pode ter-nos proporcionado uma
regra que está envolvida nos processos de compreensão, execução de uma ordem, etc.;
«envolvida» significando, contudo, que a expressão desta regra faz parte destes
processos (WITTGENSTEIN, 1992, p. 40-41).
Do texto supracitado, percebe-se a Wittgenstein compreende a preocupação central dos jogos de
linguagem como sendo a de ensinar ou educar dentro de determinado contexto. O que a pessoa
aprende como ‘amarelo’, aprendeu em um contexto específico, onde se associava a palavra
‘amarelo’ a objectos da cor comumente conhecida como ‘amarelo’. Todavia, em um contexto
diferente, poderia ter-se ensinado que a palavra ‘amarelo’ refere-se a objectos com quatro patas,
peludos e que possuem a capacidade de miar, e a palavra ‘gato’ poderia ter-se ensinado referindo
a objectos com superfície de coloração similar a do sol ao meio dia. Deste modo, compreende-se
que os jogos de linguagem são diferentes formas de linguagem usadas em diferentes práticas e
actividades sociais, onde cada uma possui seu próprio conjunto de regras e convenções (o uso da
palavra).
O conceito de jogos de linguagem de Wittgenstein tem implicações importantes para a educação,
particularmente no contexto da educação inclusiva em Moçambique. No país, reconhece-se que
os alunos vêm de diversas origens linguísticas, económicas e culturais. Por esse motivo, o sistema
educativo tem procurado, nos últimos anos, criar um ambiente de aprendizagem que valorize e
respeite essas diferenças. No entanto, as abordagens tradicionais para o ensino muitas vezes
priorizam uma forma padronizada de linguagem e ignoram a rica diversidade linguística e
cultural que os alunos trazem para a sala de aula. A educação inclusiva, por outro lado, reconhece
que a linguagem é uma prática social moldada pelo contexto e procura criar um ambiente de
aprendizagem que valorize e apoie as diversas práticas linguísticas dos alunos.
Em Moçambique, a educação inclusiva deve ter como objectivo desenvolver a competência
comunicativa dos alunos, o que inclui não apenas sua capacidade de usar uma forma padronizada
de linguagem, mas também sua capacidade de usar sua língua materna e navegar por diferentes
práticas linguísticas em diferentes contextos. Temos visto, recentemente, a adopção do ensino
bilingue no país, o que é, até certo ponto, louvável. A educação inclusiva reconhece a
importância do ensino bilingue e os benefícios que ele pode trazer para os alunos (Cf.
CUMMINS, 2001, p. 118). O bilinguismo (até mesmo o multilinguismo) pode fornecer aos
alunos uma perspectiva mais ampla sobre o mundo, uma compreensão mais profunda de
diferentes culturas e habilidades cognitivas e linguísticas aprimoradas (Cf. BAKER, 2011).
Bibliografia
BAKER, Colin. (2011). Foundations of bilingual education and bilingualism. Clevedon-Toronto-
Sydney: Multilingual Matters.
CUMMINS, Jim. (2001). Bilingual children's mother tongue: Why is it important for education?
Toronto: Sprogforum, n. 19, p. 15-20.
DEWEY, John. (2007). Democracia e Educação. São Paulo: Ática.
FREIRE, Paulo. (1983). Educação e Mudança. 11ªed., Rio de Janeiro: Paz e Terra.
WITTGENSTEIN, Ludwig. (1992). O Livro Azul. Lisboa: 70.
__________. (1992). O Livro Castanho. Lisboa: 70.
__________.(1999). Investigações Filosóficas. São Paulo: Nova Cultural.
UNESCO. (2021). Sub-Education Policy Review Report: Inclusive Education. Paris: UNESCO.
Você também pode gostar
- Ser Estoico - Eterno Aprendiz - Ward Farnsworth - PDF Versão 1Documento478 páginasSer Estoico - Eterno Aprendiz - Ward Farnsworth - PDF Versão 1Yan Pereira100% (4)
- Theilin - SalmosDocumento12 páginasTheilin - SalmosGustavo MarquesAinda não há avaliações
- Processo RaízesDocumento53 páginasProcesso RaízesSamuel Alves SilvaAinda não há avaliações
- Para além da aprendizagem - Educação democrática para um futuro humanoNo EverandPara além da aprendizagem - Educação democrática para um futuro humanoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- 02 Aprendizagem-Da-Leitura-E-EscritaDocumento47 páginas02 Aprendizagem-Da-Leitura-E-EscritaAderilson Oliveira100% (1)
- CartazesDocumento38 páginasCartazesVivi MenezesAinda não há avaliações
- Limite de Uma SucessãoDocumento3 páginasLimite de Uma SucessãoVicente Tuma78% (18)
- 65 Sete Coisas Que Voce Precisa Saber para Entender A Profecia Dos Tempos Finais Parte 1Documento6 páginas65 Sete Coisas Que Voce Precisa Saber para Entender A Profecia Dos Tempos Finais Parte 1Renato FonsecaAinda não há avaliações
- Aeplv617 Naus Ver Pinho GuiaoDocumento2 páginasAeplv617 Naus Ver Pinho GuiaosandronecaAinda não há avaliações
- Resumo Gadamer - Verdade e MetodoDocumento8 páginasResumo Gadamer - Verdade e MetodoAlirio Mendes0% (1)
- Historia e Historiadores - Angela Castro GomesDocumento4 páginasHistoria e Historiadores - Angela Castro GomesLuiz Henrique Blume0% (1)
- Mini Mental State ExaminationDocumento2 páginasMini Mental State ExaminationAna Catarina SimõesAinda não há avaliações
- Descolonização Escolar, Improbidades Educacionais Na Cibercultura Anderson Luis Da SilvaDocumento12 páginasDescolonização Escolar, Improbidades Educacionais Na Cibercultura Anderson Luis Da SilvaAnderson Luis da SilvaAinda não há avaliações
- Discussões interdisciplinares em ciências humanas e sociais: Volume 1No EverandDiscussões interdisciplinares em ciências humanas e sociais: Volume 1Ainda não há avaliações
- Ae Eureka Ficha Trimestral 1Documento9 páginasAe Eureka Ficha Trimestral 1CláudiaRolo88% (8)
- Conceitos Educação e Formação de AdultosDocumento14 páginasConceitos Educação e Formação de AdultosAndersonAdriana FetterAinda não há avaliações
- Aula 2 A Prática Educativa, A Prática Pedagógica e A Prática DocenteDocumento5 páginasAula 2 A Prática Educativa, A Prática Pedagógica e A Prática DocenteMarina Simionato33% (3)
- Reflexões Sobre o Conceito de EducaçãoDocumento8 páginasReflexões Sobre o Conceito de EducaçãoAmanda LimaAinda não há avaliações
- Eu Tu Nós Elas - Humanas UFRRJ 2014Documento22 páginasEu Tu Nós Elas - Humanas UFRRJ 2014Tania Mikaela Garcia RobertoAinda não há avaliações
- Valeria TCC PostarDocumento15 páginasValeria TCC Postarqueila.pugerAinda não há avaliações
- Conceitos de Ensino Alfabetização e LinguagemDocumento10 páginasConceitos de Ensino Alfabetização e Linguagemantonia silmara silAinda não há avaliações
- Macedo APRENDIZAGEM E FORMACA1 PDFDocumento9 páginasMacedo APRENDIZAGEM E FORMACA1 PDFSandro SalesAinda não há avaliações
- O Despreparo Dos ProfessoresDocumento5 páginasO Despreparo Dos ProfessoresAdilson Cruz de AlmeidaAinda não há avaliações
- Ficha de Leitura - As Contribuições de Rousseau Na Educação - Grupo 2 - DGDocumento2 páginasFicha de Leitura - As Contribuições de Rousseau Na Educação - Grupo 2 - DGForex Moçambique OnlineAinda não há avaliações
- Masini (2016) APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA ESCOLADocumento9 páginasMasini (2016) APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA ESCOLALeiteRAAinda não há avaliações
- 2 A Importância Da Aprendizagem Da Língua InglesaDocumento8 páginas2 A Importância Da Aprendizagem Da Língua InglesaGonçalves Dos Santos MolaAinda não há avaliações
- Música, Uma Mediadora para A Inclusão PDFDocumento6 páginasMúsica, Uma Mediadora para A Inclusão PDFOctávio MachadoAinda não há avaliações
- Aprendizagem IntegradaDocumento10 páginasAprendizagem IntegradaIsaiasAinda não há avaliações
- O Que É Educação Num Contexto Didático e Num Contexto PedagógicoDocumento5 páginasO Que É Educação Num Contexto Didático e Num Contexto PedagógicoJasse PacanateAinda não há avaliações
- Queila TCC MatemáticaDocumento15 páginasQueila TCC Matemáticaqueila.pugerAinda não há avaliações
- TCC CamilaDocumento15 páginasTCC Camilaqueila.pugerAinda não há avaliações
- Disciplina 2vygotsky Processo Ensino AprendizagemDocumento3 páginasDisciplina 2vygotsky Processo Ensino AprendizagemWALDETE APARECIDA BASSIAinda não há avaliações
- Unidade 1 - Fundamentos Da Educação (Capítulo Do Livro)Documento14 páginasUnidade 1 - Fundamentos Da Educação (Capítulo Do Livro)Victoria SouzaAinda não há avaliações
- Educa º ÚoDocumento6 páginasEduca º ÚopcmendesvieiraAinda não há avaliações
- ARTIGO FILOSOFIA DA EDUCAÇÃOv2Documento9 páginasARTIGO FILOSOFIA DA EDUCAÇÃOv2Denia DiasAinda não há avaliações
- Ir para o ConteDocumento16 páginasIr para o ConteJoão Charles MuaAinda não há avaliações
- A Compreensão Sobre As Questões IdentitáriasDocumento9 páginasA Compreensão Sobre As Questões IdentitáriasDaisy Cristina Olerich CecattoAinda não há avaliações
- A Teoria Sócio-Histórica de Vygotsky No Contexto EscolarDocumento5 páginasA Teoria Sócio-Histórica de Vygotsky No Contexto EscolarMiguel SilvaAinda não há avaliações
- Reflexões Acerca Da Educação InclusivaDocumento6 páginasReflexões Acerca Da Educação InclusivaCaroline SimoesAinda não há avaliações
- Resenha - Pedagogia Do Oprimido (Paulo Freire)Documento3 páginasResenha - Pedagogia Do Oprimido (Paulo Freire)Paloma ManuellaAinda não há avaliações
- TccpsicopedagogiaDocumento19 páginasTccpsicopedagogiaSuziane KeziaAinda não há avaliações
- DidáticaDocumento3 páginasDidáticaAgda SousaAinda não há avaliações
- Resumo A Temática Da DidáticaDocumento3 páginasResumo A Temática Da DidáticamamapeAinda não há avaliações
- A Didátiica em Espaços Não EscolaresDocumento16 páginasA Didátiica em Espaços Não Escolaresguilherme.rodrigues36.23Ainda não há avaliações
- Aula de TeatrortgDocumento19 páginasAula de TeatrortgBruna de OliveiraAinda não há avaliações
- Trabalho Ev140 MD1 Sa20 Id4260 24082020174103Documento12 páginasTrabalho Ev140 MD1 Sa20 Id4260 24082020174103Jaqueline AndradeAinda não há avaliações
- Conceitos PrincipaisDocumento14 páginasConceitos PrincipaisDenigencia armandoAinda não há avaliações
- Ausubel e Vygotsky - Aprendizagem Significativa e o LúdicoDocumento7 páginasAusubel e Vygotsky - Aprendizagem Significativa e o LúdicoFernandabioAinda não há avaliações
- Educação Artística em Creche e JIDocumento29 páginasEducação Artística em Creche e JIJoão Pedro ReigadoAinda não há avaliações
- Compreensão Do Processo de Ensino de AprendizagemDocumento14 páginasCompreensão Do Processo de Ensino de AprendizagemAlberto Jacinto KotingoAinda não há avaliações
- A Intervenção Pedagógica NDocumento11 páginasA Intervenção Pedagógica NNielsen ValeAinda não há avaliações
- Pedagogia Formação de Adultos - ResumoDocumento17 páginasPedagogia Formação de Adultos - ResumoTelma SantosAinda não há avaliações
- Livro MatemáticaDocumento12 páginasLivro Matemáticapaulom2010Ainda não há avaliações
- Nomalihana TrabalhoDocumento14 páginasNomalihana Trabalhopaulo M. JulioAinda não há avaliações
- TCC KellyDocumento15 páginasTCC Kellyqueila.pugerAinda não há avaliações
- BECEVELLI, Indiana Reis Da Silva. Educação e Inclusão e A Relação Trabalho, Cultura, Ciência e Tecnologia PDFDocumento22 páginasBECEVELLI, Indiana Reis Da Silva. Educação e Inclusão e A Relação Trabalho, Cultura, Ciência e Tecnologia PDFfrancissquintoAinda não há avaliações
- 6 DidáticaDocumento40 páginas6 DidáticaGlaucemberg NovacosqueAinda não há avaliações
- Avalição Final2Documento4 páginasAvalição Final2Henrique LopesAinda não há avaliações
- Psicologia Da Aprendizagem-HumanismoDocumento8 páginasPsicologia Da Aprendizagem-HumanismoNestorTavaresAinda não há avaliações
- FilosofiaDocumento13 páginasFilosofiaCarol RibeiroAinda não há avaliações
- Brincar - Pedagogica em ParticipaçãoDocumento14 páginasBrincar - Pedagogica em ParticipaçãoJoana FlorindoAinda não há avaliações
- Livro DidáticaDocumento59 páginasLivro DidáticaPâmela TomasiniAinda não há avaliações
- Vigotski TrabalhoDocumento6 páginasVigotski TrabalhoPegagogia MatheusAinda não há avaliações
- 578-Texto Do Artigo-1237-1-10-20160105Documento39 páginas578-Texto Do Artigo-1237-1-10-20160105Mariana de Jesus Dias SilvaAinda não há avaliações
- 1 - TA - Gaitas, S. & Morgado, J. (2010) PDFDocumento18 páginas1 - TA - Gaitas, S. & Morgado, J. (2010) PDFSofia CardosoAinda não há avaliações
- Trabalho de FundamentosDocumento11 páginasTrabalho de FundamentosJosé Maria Claudino AlbanoAinda não há avaliações
- O Ensino Da Arte: Educação Sensível e A Diversidade Cultural Na EducaçãoDocumento12 páginasO Ensino Da Arte: Educação Sensível e A Diversidade Cultural Na EducaçãoCari CopAinda não há avaliações
- Referenciais CurricularesDocumento5 páginasReferenciais Curricularesarthurantonio.fernandesAinda não há avaliações
- PORTUGUESDocumento3 páginasPORTUGUESChenito Mungive CosoreAinda não há avaliações
- Resenha Dos 20 PensadoresDocumento18 páginasResenha Dos 20 PensadoresannakrysAinda não há avaliações
- v2. A LeituraDocumento11 páginasv2. A LeituraAlirio MendesAinda não há avaliações
- Cinco Teorias Da Origem Do UniversoDocumento2 páginasCinco Teorias Da Origem Do UniversoAlirio MendesAinda não há avaliações
- O Conceito de Justica Cognitiva Enquanto Fundamento Dos Saberes e Linguais Locais em Boaventura de Sousa SantosDocumento1 páginaO Conceito de Justica Cognitiva Enquanto Fundamento Dos Saberes e Linguais Locais em Boaventura de Sousa SantosAlirio MendesAinda não há avaliações
- TabelaDocumento1 páginaTabelaAlirio MendesAinda não há avaliações
- Revisto - Poemas - Entre - o - Pensamento - e - o - SentimentoDocumento46 páginasRevisto - Poemas - Entre - o - Pensamento - e - o - SentimentoAlirio MendesAinda não há avaliações
- Resumo - GadamerDocumento6 páginasResumo - GadamerAlirio MendesAinda não há avaliações
- Trabalho Completo - Os Principios Da Administracao PublicaDocumento14 páginasTrabalho Completo - Os Principios Da Administracao PublicaAlirio MendesAinda não há avaliações
- Movimentos Culturais AfricanosDocumento10 páginasMovimentos Culturais AfricanosAlirio MendesAinda não há avaliações
- Teoria Do Agente Principal - Administracao PublicaDocumento2 páginasTeoria Do Agente Principal - Administracao PublicaAlirio MendesAinda não há avaliações
- Lição Logica I Virtual Lab Pós Lab UltimaDocumento2 páginasLição Logica I Virtual Lab Pós Lab UltimaAlirio MendesAinda não há avaliações
- Gnosiologia e Religiao em Zara YacobDocumento3 páginasGnosiologia e Religiao em Zara YacobAlirio MendesAinda não há avaliações
- O Aticador de Wittgenstein - Orelha Do LivroDocumento2 páginasO Aticador de Wittgenstein - Orelha Do LivroAlirio MendesAinda não há avaliações
- A Antropoetica de Edgar MorinDocumento4 páginasA Antropoetica de Edgar MorinAlirio MendesAinda não há avaliações
- Licoes de Metafisica. 2018Documento5 páginasLicoes de Metafisica. 2018Alirio MendesAinda não há avaliações
- Apostila - Calculo NuméricoDocumento102 páginasApostila - Calculo NuméricoDaniel FAinda não há avaliações
- A Metodologia Dialética em Sala de Aula - FilosofiaDocumento4 páginasA Metodologia Dialética em Sala de Aula - Filosofiaveracastel4637Ainda não há avaliações
- Manual de Resumos e Comunicações CientíficasDocumento24 páginasManual de Resumos e Comunicações CientíficasEmerson Duarte MonteAinda não há avaliações
- O VELHO DO RESTELODocumento5 páginasO VELHO DO RESTELOsusanavbbAinda não há avaliações
- Efemm en PTDocumento63 páginasEfemm en PTanon_351258748Ainda não há avaliações
- As Três Etapas Da Vida Cristã - Pregação CompletaDocumento5 páginasAs Três Etapas Da Vida Cristã - Pregação CompletaPatrick Rhamom Almeida CaldasAinda não há avaliações
- Dramitiea Ela If Ntua Pertuguesa:, Lê Côp!Ai V .EDocumento18 páginasDramitiea Ela If Ntua Pertuguesa:, Lê Côp!Ai V .EFlávia LanzoniAinda não há avaliações
- PORT Atividade Gramatica Processos Fonologicos PDFDocumento2 páginasPORT Atividade Gramatica Processos Fonologicos PDFPaula GonçalvesAinda não há avaliações
- Manual Do TCC 2Documento27 páginasManual Do TCC 2Pétis PétisAinda não há avaliações
- A Formula de Magia Salomonica e Muito SiDocumento2 páginasA Formula de Magia Salomonica e Muito SiCaio AndradeAinda não há avaliações
- Conjuntos Numéricos - Atividade InterativaDocumento6 páginasConjuntos Numéricos - Atividade InterativaJuliete MadalenaAinda não há avaliações
- As Crenças e As Proposições de Carl RogersDocumento7 páginasAs Crenças e As Proposições de Carl RogersIgor SlashAinda não há avaliações
- Resumo Reading StrategiesDocumento6 páginasResumo Reading StrategiesnildoforteAinda não há avaliações
- Leitura Anual Da Biblia Genesis A Apocalipse CompressedDocumento2 páginasLeitura Anual Da Biblia Genesis A Apocalipse Compressedlanasilva2208Ainda não há avaliações
- Apostila de GuitarraDocumento15 páginasApostila de GuitarraPaulo MhiAinda não há avaliações
- Planejamento Anual 1º e 2º Anos 2022Documento118 páginasPlanejamento Anual 1º e 2º Anos 2022Andrielen de SouzaAinda não há avaliações
- Classificacao UNEAL 2010Documento35 páginasClassificacao UNEAL 2010Janne MarjanAinda não há avaliações
- Mod 6 AIDocumento14 páginasMod 6 AIAna DuroAinda não há avaliações
- Lugares Altos - Nao Olhe para A Sua Condição-1Documento8 páginasLugares Altos - Nao Olhe para A Sua Condição-1Gabriel CarvalhoAinda não há avaliações
- AdorareiDocumento3 páginasAdorareiKaren OliveiraAinda não há avaliações