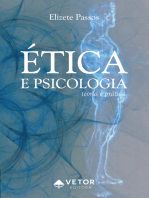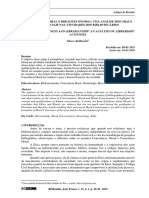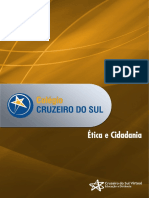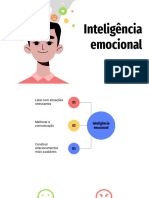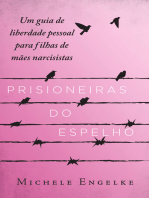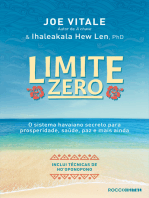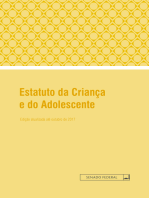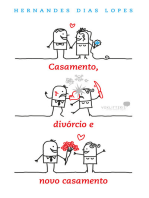Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Deliberao Moral - Dimenses Intelectuais e Afetivas
Enviado por
Hélio FrançaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Deliberao Moral - Dimenses Intelectuais e Afetivas
Enviado por
Hélio FrançaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Revista de Educação PUC-Campinas
ISSN: 1519-3993
ISSN: 2318-0870
Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas
Taille, Yves de La
A deliberação moral: dimensões intelectuais e afetivas
Revista de Educação PUC-Campinas, vol. 24, núm. 1, 2019, Janeiro-Abril, pp. 5-14
Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas
DOI: 10.24220/2318-0870v24n1a4232
Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=572064156002
Como citar este artigo
Número completo Sistema de Informação Científica Redalyc
Mais informações do artigo Rede de Revistas Científicas da América Latina e do Caribe, Espanha e Portugal
Site da revista em redalyc.org Sem fins lucrativos acadêmica projeto, desenvolvido no âmbito da iniciativa
acesso aberto
A DELIBERAÇÃO MORAL 5
Escola: conflitos, sentimentos e alteridade
A deliberação moral: dimensões
intelectuais e afetivas
Moral deliberation: Intelectual and
affective dimensions
Yves de La Taille1 0000-0001-5472-2701
Resumo
Há uma “deliberação” moral, um pensar, um refletir
que presidem um agir. Toda ação (e o próprio pensar
é uma ação) depende, para ser realizada, da dimensão
intelectual (a razão) e de uma motivação, ou seja, de uma
energética. A deliberação moral e a ação que a segue não
fogem à regra. O “dever” moral é uma forma de “querer”,
e todo querer implica, por um lado, a formulação de
um propósito (dimensão intelectual) e, por outro, uma
“vontade” (dimensão afetiva). O artigo apresenta como
essas duas dimensões se articulam e constituem a base
das decisões dos sujeitos em diferentes contextos e
situações, inclusive, o escolar. No que se refere a esse
contexto, o texto aborda como a escola pode, por
meio de uma “educação moral”, oportunizar aos alunos
apreenderem esse fenômeno humano complexo que
é a moralidade. Nesse sentido, o alcance desse objetivo
se vê favorecido com a vivência de “uma verdadeira vida
social aos alunos, no interior da sala de aula”. Vida social
1
Universidade de São Paulo, Instituto de Psicologia, Departamento de Psicologia da Aprendizagem
do Desenvolvimento da Personalidade. Av. Professor Mello Moraes, 721, Cidade Universitária,
05508-900, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: <ytaille@usp.br>.
Como citar este artigo/How to cite this article
La Taille, Y. A deliberação moral: dimensões intelectuais e afetivas. Revista de Educação
PUC-Campinas, v.24, n.1, p.5-14, 2019. http://dx.doi.org/10.24220/2318-0870v24n1a4232
CC
BY
http://dx.doi.org/10.24220/2318-0870v24n1a4232 Rev. educ. PUC-Camp., Campinas, 24(1):5-14, jan./abr., 2019
6 Y. LA TAILLE
que permita relações de cooperação, de reciprocidade, na qual a justiça é fato e não apenas discurso,
na qual o aluno poderá conquistar a autonomia moral e valorizar o “respeito de si”. A “verdadeira
vida social” permitirá ao aluno vivenciar e compreender, na prática, o que lhe terá sido apresentado
verbalmente, e nela investir a sua personalidade. A “verdadeira vida social” vai ajudá-lo a abrir seus
horizontes intelectuais da moralidade, e também vai incidir sobre seus sentimentos, sobre a dimensão
afetiva de seus juízos e atos.
Palavras-chave: Afetividade. Educação moral. Ética.
Abstract
Moral deliberation is a certain way of thinking and reflecting that regulates an act. Every action (and
thinking itself is an action) depends on the intellectual dimension (reason) and motivation to be realized,
that is, energy. Moral deliberation, and action that follows it, does not escape the rule. Moral duty is a way of
wanting, and all wanting involves, on the one hand, the formulation of a purpose (intellectual dimension)
and, on the other, a will (affective dimension). The article addresses how these two dimensions are associated
and constitute the basis of the subjects’ decisions in different contexts and situations, including at school.
Within this context, we discuss how schools can, through “moral education”, help students learn about this
complex human phenomenon that is morality. In this sense, the achievement of this objective is favored by
the students’ experience of true social life in the classroom. Social life that allows relations of cooperation
and reciprocity, in which justice is a fact and not just discourse and the student will be able to achieve
moral autonomy and value self-respect. True social life will enable students to experience and understand,
in practice, what has been verbally discussed with them and invest their personality in it. True social life
will help students open intellectual horizons of morality, which will also affect their feelings and affective
dimension of judgments and action (deeds).
Keywords: Affectivity. Moral education. Ethics.
Introdução
Este texto é escrito do ponto de vista da Psicologia Moral, área dedicada ao estudo dos processos
que levam um indivíduo a legitimar regras, princípios e valores morais e por eles pautar suas deliberações
e ações. Serão feitas algumas considerações de ordem educacional, apresentando-se antes a abordagem
teórica que as inspiram. Começa-se por apresentar algumas definições de conceitos empregados nesta
explanação.
Chama-se “plano moral” aquele referente aos “deveres”: juízos e ações considerados “obrigatórios”
por representarem a tradução do que é avaliado como “certo” ou expressão do “bem moral”. A pergunta
do plano moral é, portanto: “como devo agir?”.
Chama-se “plano ético” aquele referente à “vida boa”, à “vida significativa”, ou seja, à “vida que vale
a pena viver”. A pergunta referente ao plano ético é: “que vida eu quero viver?”. E, uma vez que a escolha
de que vida viver implica opções no nível da identidade, outra pergunta complementa a primeira:
“quem eu quero ser?”.
Talvez alguns leitores estranhem a associação entre ética e “vida boa”. Ela é pouco empregada
no mundo ocidental, no qual ética é quase sempre definida como sinônimo de moral, referindo-se,
portanto, à dimensão dos deveres (por exemplo, quando se fala em “ética na política” ou em “código
Rev. educ. PUC-Camp., Campinas, 24(1):5-14, jan./abr., 2019 http://dx.doi.org/10.24220/2318-0870v24n1a4232
A DELIBERAÇÃO MORAL 7
de ética” de diversas profissões e instituições). Todavia, a referida associação encontra-se na história da
Filosofia, notadamente em autores como Spinoza (1954), Aristote (1965), Ricoeur (1990), entre outros. Se
ela é empregada aqui, é porque, do ponto de vista psicológico, ela ajuda a compreender as ações morais
dos indivíduos, e também a entender porque algumas pessoas não optam por elas. Esta abordagem
deverá ficar clara pouco a pouco.
As definições supra-apresentadas são formais: deveres, vida boa. Cabe debruçar sobre os
conteúdos. Que deveres? Que vida boa? Dependendo do sistema moral pelo qual se opta, elegem-se
determinados deveres em detrimento de outros. Por exemplo, obedecer aos mandamentos divinos
caracteriza-se como dever para um cristão ou para um muçulmano. Sob a inspiração da Declaração
dos Direitos Humanos, elegem-se aqui três deveres morais básicos: a justiça (pautada pela igualdade
e equidade), a generosidade (fazer um “dom de si”) e a dignidade (atributo de todo ser humano, que
deve respeitá-la em outrem e zelar pela própria).
Em relação à vida boa, que caracteriza o plano ético, optou-se aqui pela bonita definição de autoria
do filósofo Ricoeur (1990, p.200): uma vida ética é uma “vida boa, com e para outrem, em instituições
justas”. Como se vê, não é qualquer tipo de “vida boa” que merece o nome de ética. É possível ser feliz
vivendo rodeado de escravos e gastando dinheiro roubado. Mas tal vida não é ética. Para que o seja, é
preciso que a “vida boa” tenha como elemento incontornável a relação moral com outrem.
Isto posto, o tópico a seguir trata da deliberação moral, começando pela dimensão intelectual
que a preside necessariamente. O presente artigo voltará a falar de ética quando tratar da dimensão
afetiva da referida deliberação.
A deliberação moral: dimensão intelectual
Terá a moral alguma relação com o trabalho da razão? Ou será ela, essencialmente, intuitiva ou
até mesmo estritamente afetiva? Seria pecar por desonestidade intelectual afirmar que há consenso a
respeito da questão, tanto na Filosofia quanto na Psicologia. Para alguns, como Turiel (1993), crianças de
cinco anos já seriam capazes de diferenciar regras morais (notadamente atinentes à justiça) de outras
convencionais (por exemplo, ir à missa aos domingos), julgando universais as primeiras e relativas
as segundas. Para outros, como Cyrulnik (2001), a origem das ações morais seria encontrada em um
sentimento, a empatia. Em compensação, para autores, como Kohlberg (1981) e Piaget (1992), haveria
um progressivo desenvolvimento da moralidade, da heteronomia para a autonomia, presidida, entre
outros fatores, por uma apreensão intelectual cada vez mais sofisticada dos temas morais. Neste artigo,
assume-se que há, sim, íntima relação entre moral e razão, como demonstram os argumentos a seguir
discutidos.
O primeiro incide na ideia de responsabilidade moral. Quem é eximido de tal responsabilidade?
Os animais, as crianças pequenas e, finalmente, as pessoas que, por algum motivo, perderam o controle
de si próprias, como nos casos de surto psicótico. Qual é, nesses três casos, o critério empregado?
Ora, é a capacidade ou incapacidade de fazer uso da razão. Não se julga que os animais sejam seres
racionais, pois se acredita que são movidos por instintos. Julga-se que as crianças pequenas ainda não
usufruem de maturidade intelectual. E julga-se que pessoas em surto perderam, momentaneamente,
http://dx.doi.org/10.24220/2318-0870v24n1a4232 Rev. educ. PUC-Camp., Campinas, 24(1):5-14, jan./abr., 2019
8 Y. LA TAILLE
sua capacidade de discernimento. Dito de outra forma, não se pensa que animais, crianças e pessoas
em surto sejam “livres” para determinar se agirão de uma ou de outra forma. E qual seria a condição
dessa liberdade? O uso da razão.
O segundo argumento diz respeito à razão como reguladora da afetividade. Tome-se o exemplo
da empatia. É claro que nenhum indivíduo é capaz de decidir se vai experimentar esse sentimento em
relação a outrem, assim como não se delibera que se vai amar alguém. Porém, seria um erro deduzir do
que acaba de ser lembrado que a razão não desempenha papel algum na empatia. Veja-se um exemplo.
Se alguém vir uma criança chorando porque deixou cair o seu sorvete, é provável que sinta empatia por
ela (compaixão) e, se assim for, procurará comprar-lhe outra guloseima. Mas, imagine-se agora diante
de um homem adulto chorando pelo mesmo motivo: o espectador experimentará empatia ou, ao
contrário, estará inclinado a achar a cena ridícula? A segunda alternativa é a mais provável. Mas, se ficar
sabendo que esse homem que chora sofre de sérios problemas mentais, talvez volte a experimentar a
empatia. Por quê? Porque, na prática, “julga-se” que é legítimo uma criança se desesperar pela perda de
um sorvete, mas não se julga legítimo um homem adulto normal chorar pelo mesmo motivo. Verifica-se,
portanto, que a empatia é regulada pela razão. Não se trata de decidir se se vai experimentá-la, ou não,
mas se trata de observar que ela depende de um juízo de valor. Ora, quem fala em juízo, fala em razão.
Veja-se o terceiro argumento a partir de um dilema moral que muitos médicos enfrentam,
sobretudo, nos hospitais dos países pobres nos quais não raramente recebem ao mesmo tempo vários
pacientes em estado grave, mas somente dispõem de um leito na sua Unidade de Terapia Intensiva
(UTI). Como escolher que paciente será internado? Imagine-se que um médico tenha de decidir, para
ocupar o único leito que lhe resta, entre uma criança e um velho. Perante um dilema trágico como esse,
a maioria das pessoas espontaneamente responde que o moralmente correto é o médico optar pela
criança. Trata-se de uma “reação” moral compreensível: as crianças em sérias dificuldades despertam
mais empatia do que adultos em mesma situação. Julga-se que o velho já usufruiu da vida, o que
não ocorreu com a criança, julga-se também que a criança, por ser mais nova, tem mais chances de
sobreviver etc. Tais argumentos são válidos, mas cabe perguntar se são necessariamente decisivos.
Alguém pode lembrar que as chances de sobrevida dos mais jovens não são sempre maiores do que as
dos mais velhos (depende de inúmeros fatores sobre os quais esse médico não dispõe de informações
no momento de sua decisão). Outra pessoa poderá dizer que talvez esse homem velho, de quem
nada se sabe, tenha batalhado a vida toda para sustentar a sua família, para criar os filhos, talvez ela
tenha sido, em algum momento, um herói que salvou pessoas, talvez ele finalmente esteja podendo
usufruir tranquilamente da vida etc. Ora, será moralmente válido destiná-lo à morte apenas porque é
velho? Não seria cometer uma injustiça? Outra pessoa ainda poderá ponderar que o fato de as crianças
despertarem mais compaixão do que os velhos é critério fraco para tomar uma decisão tão importante
e trágica. E outros argumentos mais podem ser apresentados, não tanto para discordar da opção pela
criança, mas, sobretudo, para problematizá-la. E, na falta de critérios morais irreprocháveis para tomar
a decisão por um ser humano ou pelo outro, não seria mais apropriado sortear quem vai para a UTI? O
que se quer mostrar com esse exemplo da vida real (e há tantos outros) é que a “reação” moral intuitiva
nem sempre é a melhor, nem sempre é a única possível, pois um equacionamento da situação faz-se
necessário. Ora, quem fala em equacionamento fala em análise, fala em discussão, fala em reflexão; fala,
portanto, no emprego da razão para decidir o maior bem e o maior mal, ou para chegar à conclusão
de que há situações nas quais várias opções morais têm o mesmo peso.
Rev. educ. PUC-Camp., Campinas, 24(1):5-14, jan./abr., 2019 http://dx.doi.org/10.24220/2318-0870v24n1a4232
A DELIBERAÇÃO MORAL 9
O último argumento para a defesa da participação da razão nas ações morais provém dos
estudos psicológicos do chamado desenvolvimento moral, estudado por, entre outros autores, Piaget
e Kohlberg. Esses dois pesquisadores foram criticados por reduzir a moralidade das crianças pequenas
à mera obediência a figuras de autoridade (Piaget, 1992) ou ao cálculo de consequências boas ou ruins
para o indivíduo (Kohlberg, 1981). Sabe-se, hoje, que as crianças menores, para além das limitações
corretamente apontadas por esses autores, são dotadas de certo senso moral que as torna sensíveis à
generosidade, à injustiça e também ao valor de virtudes, como coragem, humildade, gratidão etc. (La
Taille, 2006).
Todavia, seria um erro equiparar a moral infantil à moral adulta. Seria um erro pensar que as
crianças pequenas possuem reflexão moral autônoma, que são capazes de estabelecer genuínas
relações de reciprocidade, que se inspiram pelo respeito mútuo, que diferenciam com clareza virtudes,
como justiça e generosidade. Tome-se um exemplo. Conta-se que um pai deu um pacote de balas para
um filho, mas nada deu ao outro. Pergunta-se se esse pai agiu corretamente: a maioria das crianças
responde que ele não agiu bem, o que prova que a “autoridade” do pai não é sempre “sagrada”. Em
seguida, conta-se que o menino que recebeu o pacote de balas resolveu dar algumas a seu irmão. Ele
agiu bem? As crianças menores (até 7, 8 anos de idade) respondem que sim, mas as maiores ponderam
que o moralmente correto seria dividir as balas e não apenas dar uma espécie de compensação ao
irmão. Ou seja, as crianças mais velhas percebem que o irmão foi generoso, mas julgam que teria sido
melhor ele ser justo. As crianças menores não parecem atentas a essa diferença, pois aceitam que uma
injustiça seja compensada por um ato de generosidade. Seria possível multiplicar os exemplos desse
tipo e assim mostrar que há um desenvolvimento moral e que esse depende, dentre outros fatores, de
uma apreensão intelectual cada vez mais sofisticada da moralidade. Não há nada de surpreendente
nisso: como crianças pré-operatórias (no sentido piagetiano da palavra) poderiam compreender
relações de reciprocidade se a própria reciprocidade é uma operação mental de que carecem? Como
poderiam apreender sistemas morais complexos (como a Declaração Universal dos Direitos Humanos)
se tal apreensão demanda pensamento hipotético dedutivo?
Em resumo, em razão dos argumentos apresentados, deduz-se que é correto afirmar que há uma
“deliberação” moral, um pensar, um refletir que presidem um agir. Logo, uma “educação moral” deve
dar a oportunidade de os alunos apreenderem de forma cada vez mais fina esse fenômeno humano
complexo que é a moralidade. Como fazê-lo? Como o objetivo deste estudo não é de ordem didática,
ele se limita a fornecer alguns apontamentos.
Antes de mais nada, parece incontornável que as instituições educacionais (em seus vários níveis,
da pré-escola à universidade) se debrucem, com seus alunos, sobre a moral. Algumas pessoas parecem
acreditar que a educação moral seria papel exclusivo da família, mas bons pensadores já apresentaram
sólidos argumentos para desmentir tal possibilidade. Kant (1981, p.45), por exemplo, pensava que “a
educação doméstica, longe de corrigir os defeitos da família, os reproduz”. Na mesma linha, o filósofo
Alain (1948, p.20) escrevia que a família educa mal porque “o amor é sem paciência”, porque ele “espera
demais”, porque “os sentimentos tiranizam”. Menos severo, o sociólogo Durkheim admitia o valor do
papel da família, mas apontava suas limitações:
Contrariamente à opinião, demasiadamente difundida, segundo a qual a educação
moral caberia antes de tudo à família, estimo que a função da escola no desenvolvimento
http://dx.doi.org/10.24220/2318-0870v24n1a4232 Rev. educ. PUC-Camp., Campinas, 24(1):5-14, jan./abr., 2019
10 Y. LA TAILLE
moral pode e deve ser da mais alta importância [...]. Pois se a família pode, sozinha,
despertar e consolidar os sentimentos domésticos necessários à moral e mesmo,
de forma mais geral, aqueles que estão na base das relações privadas mais simples,
ela não é constituída de maneira a poder formar a criança para a vida em sociedade
(Durkheim, 1974, p.16).
Se a essas reflexões se acrescentar o diagnóstico de que, na contemporaneidade, a família parece
estar fragilizada no seu papel educativo (notadamente, em razão da grande presença da mídia na vida
das crianças), deduz-se que as instituições educacionais não podem se furtar a dar a sua contribuição.
Note-se, aliás, que os educadores são os primeiros a se queixar de falta de respeito em sala de aula, de
violência, de bullying, de incivilidade etc.
Volte-se, então, à velha aula de “educação moral e cívica”? Se os professores não apresentarem
a moral como mero conjunto de regras divorciadas dos princípios éticos que as inspiram, se não se
limitarem a fazer os alunos cantarem hinos e se prostrarem perante supostos heróis da pátria, se, ao
invés disso, eles fizerem seus alunos refletir sobre bons textos de psicologia, de sociologia e de filosofia
moral (há tantos!), se mostrarem que os homens ainda têm muitas dúvidas a respeito do bem e do mal,
enfim, se eles se pautarem pela máxima de “não impor, mas sim convencer”, não se vê por que uma
aula desse tipo não poderia ser rica. Porém, mais rica é a opção pela transversalidade: cada professor
trabalha o tema da moralidade articulando-o com as características de sua disciplina. Assim, ao invés
de, por um lado, jogar a responsabilidade da educação moral para cima de um só docente, e, por
outro, de limitar a discussão moral a um horário específico, a educação moral torna-se papel de todos
e seus diversos aspectos podem ser apreendidos por intermédio dos variados tipos de conhecimentos
construídos pelo homem.
Todavia, deve-se ficar atento ao que, há mais de meio século, escrevia Piaget (1998, p.44) a respeito
da empreitada pedagógica que visa uma apreensão exclusivamente intelectual da moral: “ela não pode
dar seus frutos se não houver uma verdadeira vida social no interior da sala de aula”. A “verdadeira vida
social” a que se refere o pai da Epistemologia Genética é aquela na qual relações de cooperação e
reciprocidade são realidade, é aquela para a qual a justiça é fato e não apenas discurso, é aquela na qual
o aluno vai poder conquistar a autonomia moral e valorizar o “respeito de si”. A “verdadeira vida social” vai
permitir ao aluno vivenciar e compreender, na prática, o que lhe terá sido apresentado verbalmente, e
nela investir a sua personalidade. A “verdadeira vida social” irá ajudá-lo a abrir seus horizontes intelectuais
da moralidade e, também, incidirá sobre seus sentimentos, sobre a dimensão afetiva de seus juízos e
atos. O tópico a seguir discute tal dimensão, explicitando a razão da referência ao “respeito de si”.
A deliberação moral: dimensão afetiva
Toda ação (e o próprio pensar é uma ação) depende, para ser realizada, de uma “motivação”, ou
seja, de uma energética. A deliberação moral e a ação que a segue não fogem à regra. O “dever” moral
é uma forma de “querer”, e todo querer implica, por um lado, a formulação de um propósito (dimensão
intelectual) e, por outro, uma “vontade” (dimensão afetiva).
Há, para alguns autores, como Freud (1971), desejos inconscientes que, à revelia do sujeito,
presidem suas deliberações e ações morais. Não há por que duvidar da veracidade dessa tese. Mas não
Rev. educ. PUC-Camp., Campinas, 24(1):5-14, jan./abr., 2019 http://dx.doi.org/10.24220/2318-0870v24n1a4232
A DELIBERAÇÃO MORAL 11
há também por que reduzir a moralidade a pulsões recônditas. Deve-se falar também de “sentimentos”,
cuja qualidade pode ser, como se viu, regulada pela razão (foi dado o exemplo da empatia), e cuja
presença é conscientemente reconhecida pelo sujeito. Alguns sentimentos costumam ser associados
à moral: já se falou da “empatia”, também se pode falar da “culpa”, da “indignação”, do “sentimento do
sagrado” (Durkheim,1974), da “confiança”, da “vergonha”. Todos eles certamente desempenham um
papel incontornável, mas o presente estudo dá destaque a um sentimento apenas, a vergonha, pois
ela é importante tanto para a moral quanto para a ética (ver as definições mencionadas no decorrer
do texto). Para tanto, analisa-se um fato real, relatado por Camus (1994), em sua biografia romanceada,
intitulada “Le Premier Homme”.
O grande romancista e ensaísta francês, Prêmio Nobel de Literatura em 1957, nasceu em 1913,
na Argélia, então colônia francesa, no seio de uma família pobre. Seu pai faleceu quando ainda era
pequeno, e ele foi criado por sua mãe, pessoa de pouca cultura e que trabalhava como empregada
doméstica. Graças a um professor severo e generoso (ao qual o grande autor agradeceria quando
agraciado pelo Prêmio Nobel), o pequeno Camus prossegue seus estudos no Lycée, fato que o faz
conviver com alunos de uma classe social mais abastada do que a sua de origem, já que os mais pobres
costumavam abandonar a escola mais cedo. Num dos primeiros dias de aula, Camus é solicitado a
preencher um formulário no qual, entre outras informações, pedem-lhe que diga qual é a profissão
de sua mãe. Ele começa a escrever “doméstica” e ocorre um evento significativo para sua vida, evento
esse que ele assim descreve: “Jacques [o nome fictício que Camus emprega para referir-se a si próprio]
começou a escrever a palavra, parou e, num só instante, conheceu a vergonha e a vergonha de ter tido
vergonha” (Camus, 1994, p.187).
As duas vergonhas, evidentemente, relacionam-se ao fato de ele escrever que a mãe é empregada
doméstica. Quais serão as razões das duas vergonhas? Para respondê-lo, deve-se rapidamente analisar
esse sentimento.
A vergonha é um sentimento penoso, desencadeado seja pela consciência de que se está sendo
observado por uma ou mais pessoas (vergonha de exposição), seja pela autoavaliação de que se é
inferior em relação a uma imagem à qual se pensava corresponder ou à qual se desejaria corresponder.
Como a vergonha de exposição não interessa aqui (e nem é essa que Camus experimentou), importa
focalizar a vergonha decorrente de um juízo – juízo esse que avalia haver uma distância entre o que o
sujeito realmente é e o que ele gostaria de ser ou pensava ser.
Em primeiro lugar, sublinhe-se que a vergonha é decorrente de um juízo que o próprio
envergonhado faz de si próprio. Não é suficiente ser julgado negativamente por outrem para sentir
vergonha, é preciso concordar com tal juízo. Tanto é verdade que acontece de as pessoas sentirem
vergonha sozinhas, sem que ninguém saiba o que fizeram. Em segundo lugar, note-se que a vergonha
incide sobre o “eu”. Mesmo quando a vergonha é desencadeada por uma ação (ter perdido um jogo,
por exemplo), sente-se vergonha do que se é (no exemplo, julgar-se um jogador medíocre). Em terceiro
lugar, é importante fazer a distinção entre a vergonha retrospectiva – sente-se vergonha em razão de
um estado ou de uma ação já realizada –, e a vergonha prospectiva – sente-se vergonha ao antecipar o
que se poderia ser ou fazer (Harkot-De-La-Taille, 1999). A vergonha prospectiva inibe a ação antecipada
(mentir, por exemplo) ou faz a pessoa evitar um estado julgado por ela negativo (por exemplo, não ir a
http://dx.doi.org/10.24220/2318-0870v24n1a4232 Rev. educ. PUC-Camp., Campinas, 24(1):5-14, jan./abr., 2019
12 Y. LA TAILLE
determinado lugar sem a roupa adequada). Finalmente, note-se que a vergonha pode associar-se aos
mais diversos conteúdos, entre os quais os conteúdos morais (ter vergonha de ter mentido, matado,
roubado etc. ou a vergonha prospectiva de pensar-se agindo dessa forma). Volte-se agora à cena relatada
por Camus, na qual ele “conheceu a vergonha e a vergonha de ter tido vergonha” (Camus, 1994, p.187).
A “primeira vergonha” está relacionada à tomada de consciência, desencadeada pelo fato de
escrever sobre a ocupação profissional da mãe, de que pertence a uma classe social por ele julgada,
naquele momento, como inferior. Com efeito, se ele não a julgasse inferior, não sentiria vergonha, pois
esse sentimento, como dito, decorre de uma distância entre o que se julga ser e o que se desejaria ser.
Fosse Camus filho de militantes comunistas, talvez sentisse orgulho de pertencer ao proletariado. Mas
não é o caso: ele sente vergonha, vergonha de ser filho de pobre, de pertencer a uma família pouco culta,
de ter uma mãe semianalfabeta. Numa sociedade de classes, nada há de estranho em compreender tal
vergonha: não raramente as pessoas, quando podem, escondem seu baixo status cultural e econômico,
pois se autodesvalorizam em razão dele.
Mas, como explicar a “segunda vergonha”, a “vergonha de ter tido vergonha”? Como o próprio
Camus explicita mais abaixo no seu texto, trata-se de uma vergonha moral. Cite-se a reflexão que ele
coloca a respeito do significativo evento:
Uma criança nada é por ela mesma, são seus pais que a representam. É por eles que
ela se define, que ela é definida aos olhos do mundo. É por intermédio deles que
ela se sente julgada, isto é, julgada sem que ela possa apelar, e foi esse julgamento
do mundo que Jacques acabara de descobrir, e, com ele, seu próprio julgamento a
respeito de mau coração que era o seu (Camus, 1994, p.188).
O “julgamento do mundo”, ao qual sua vergonha prova que ele, inconscientemente adere, é aquele
que desvaloriza os pobres. Seu “próprio julgamento”, que desencadeou a “vergonha de ter tido vergonha”,
incide sobre o fato de ele ter sentido vergonha da própria mãe, vergonha de ter de “confessar” que ela é
“apenas” empregada doméstica. Camus (1994, p.188) se indigna consigo próprio: como pode ele ter tido
vergonha dessa mãe, essa mãe que “tal como era permanecia o que ele mais amava no mundo” Como
se vê, a “segunda vergonha” é uma vergonha moral, vergonha de ter vergonha da mãe, vergonha de
ter, mesmo que por apenas um segundo, sentido a vontade de renegá-la e renegar toda a sua família.
Qual das duas vergonhas é a mais forte? A segunda, a vergonha moral. E qual a “deliberação” de Camus?
Manter escrita a palavra doméstica: antes confessar a sua pobreza do que renegar a própria mãe. Não
tivesse Camus sentido “vergonha de ter tido vergonha”, provavelmente teria apagado a fatídica palavra
e assim guardado em segredo a origem social que o incomodava tanto. Mas não: ele prefere que todo
mundo saiba que ele é filho de pobre a agir de forma por ele considerada traiçoeira, desleal, imoral.
Resumindo, pode-se dizer que Camus, ao tomar consciência de que estava desrespeitando a
mãe, perdeu, momentaneamente, o respeito de si (daí a vergonha). Logo, segundo essa leitura de uma
dimensão afetiva da moralidade, verifica-se que respeitar moralmente outrem e se respeitar são as
duas faces de uma mesma moeda. O “respeito de si é condição necessária à ação moral”. Tal afirmação
teórica remete ao plano ético e à ética.
A “vida boa”, tema do plano ético, certamente tem, como condição psíquica necessária a
possibilidade de atribuir valor a si próprio valor (Piaget, 1954; Rawls, 1971; Adler, 1991; Perron, 1991; La
Rev. educ. PUC-Camp., Campinas, 24(1):5-14, jan./abr., 2019 http://dx.doi.org/10.24220/2318-0870v24n1a4232
A DELIBERAÇÃO MORAL 13
Taille, 2002). Não é a única condição: sentir-se no “fluxo do tempo” e dar significação à própria vida são
duas outras La Taille (2006). Ninguém vive bem se é constantemente subjugado pela humilhação e pela
vergonha. Disso a reconhecida importância psicológica da chamada “autoestima”. Todavia, deve-se evitar
o erro, não raro por sinal, de pensar que basta ter boa autoestima para agir conforme os imperativos da
moral. Segundo essa tese, os “imorais” seriam os “infelizes”. Ora, se é verdade que uma baixa autoestima,
ou ausência dela, pela dor psíquica que causa, costuma levar quem dela sofre a relações conflituosas
e até agressivas com outrem, não é de forma alguma verdade que quem goza de boa autoestima
seja, necessariamente, pessoa respeitosa, generosa, justa, digna, enfim, que seja pessoa moral. Há
pessoas – e parece não serem raras –, que retiram sua autoestima justamente do poder que exercem
sobre outrem, poder este que pode se expressar pela violência, pela humilhação, pela injustiça. É por essa
razão que se diferencia plano ético de ética. Para alguém merecer ser reconhecido como pessoa ética,
é preciso que a vida boa de que goza inclua o outro como pessoa com a qual ele vai cooperar (“com
outrem”), a quem ele vai ajudar (“para outrem”), e com a qual ele vai procurar construir uma sociedade
justa (“em instituições justas”). Se, como visto, o respeito moral por outrem depende do respeito de si,
pode-se também afirmar que somente é ética a pessoa motivada por essa forma particular de respeito.
Considerações Finais
Este texto finaliza falando rapidamente de educação. Lembrando Piaget, que falava em “verdadeira
vida social”, tem-se que tal vida social, para merecer esse nome, deve estar pautada pelos valores morais
que se quer que os alunos legitimem. Evidentemente, as experiências sociais interferem tanto no nível
intelectual quanto no nível afetivo. Viver numa sociedade baseada na coação, na constante ameaça
de punição, no constante controle exterior das condutas, na sacralização ufanista de símbolos de todo
tipo, enfim, viver numa sociedade autoritária, longe de promover a autonomia moral, reduz as pessoas à
heteronomia ou ao constante medo de ser castigado. Em compensação, viver numa sociedade inspirada
pela cooperação e pela reciprocidade permite aos sujeitos que conquistem a autonomia e legitimem
intimamente a moral. Cite-se mais uma vez Piaget (1992, p.309):
O elemento quase material de medo, que intervém no respeito unilateral, desaparece
progressivamente, para deixar lugar a este medo todo moral que é o de decair perante
os olhos da pessoa respeitada: a necessidade de ser respeitado equilibra então a
de respeitar, e a reciprocidade que resulta desta nova relação basta para aniquilar
qualquer elemento de coação.
Porém, falta acrescentar que uma “verdadeira vida social”, verdadeira no sentido de permitir aos
alunos se desenvolverem moralmente, também deve considerar outros valores, situados no plano ético.
Todos terão certamente observado que, na contemporaneidade, as pessoas socialmente valorizadas não
são as pessoas éticas, mas sim os “vencedores”, as pessoas que dão “espetáculo de si”, as “celebridades”,
os “frios competidores”. Ora, tal olhar judicativo mais leva as pessoas à vaidade do que ao respeito de
si. É preciso, portanto, que, na medida do possível, a escola não reproduza a “cultura da vaidade” atual,
e faça seus alunos refletirem, não apenas sobre a moral, mas também sobre o que é, de fato, uma “vida
boa”, uma vida significativa. Se não o fizer, esforços para a formação moral poderão ser vãos, pois os
alunos procurarão definir seus projetos de vida e suas identidades em direções divorciadas da moral
http://dx.doi.org/10.24220/2318-0870v24n1a4232 Rev. educ. PUC-Camp., Campinas, 24(1):5-14, jan./abr., 2019
14 Y. LA TAILLE
ou contrárias a ela, como se procurou analisar no livro “Formação ética: do tédio ao respeito de si” (La
Taille, 2009). Não há educação moral separada de formação ética. Não há respostas à pergunta “como
devo agir?” divorciadas das respostas às duas perguntas do plano ético: “que vida quero viver?” e “quem
eu quero ser?”. É o que se procurou mostrar neste texto que aqui se encerra.
Referências
Adler, A. Le sens de la vie. Paris: Payot, 1991.
Alain. Propos sur l’éducation. Paris: PUF, 1948. p.20.
Aristote. Ethique de nicomaque. Paris: Flamarion, 1965.
Camus, A. Le premier homme. Paris: Gallimard, 1994. p.187-188.
Cyrulnik, B. Les vilains petits canards. Paris: Odile Jacob, 2001.
Durkheim, E. L’Education morale. Paris: PUF, 1974. p.16.
Freud, S. Malaise dans la civilisation. Paris: PUF, 1971.
Harkot-De-La-Taille, E. Ensaio semiótico sobre a vergonha. São Paulo: Humanitas, 1999.
Kant, E. Traité de pédagogie. Paris: Hachette, 1981. p.45.
Kohlberg, L. Essays on moral development. San Francisco: Harper & Row, 1981.
La Taille, Y. Vergonha: a ferida moral. Petrópolis: Vozes, 2002.
La Taille, Y. Moral e ética: dimensões intelectuais e afetivas. Porto Alegre: Artmed, 2006.
La Taille, Y. Formação ética: do tédio ao respeito de si. Porto Alegre: Artmed, 2009.
Perron, R. Les représentations de soi. Toulouse: Privat, 1991.
Piaget, J. Les relations entre l’affectivité et l’intelligence. Paris: Sorbonne, 1954.
Piaget, J. Le jugement moral chez l’enfant. Paris: PUF, 1992. p.309.
Piaget, J. De la pédagogie. Paris: Odile Jacob, 1998. p.44.
Rawls, J. Théorie de la justice. Paris: Seuil, 1971.
Ricoeur, P. Soi-même comme um autre. Paris: Seuil, 1990. p.200.
Spinoza, B. L’Ethique. Paris: Gallimard, 1954.
Turiel, E. The development of social knowledge: Morality and convention. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
Recebido em 30/3/2018 e aprovado em 8/6/2018.
Rev. educ. PUC-Camp., Campinas, 24(1):5-14, jan./abr., 2019 http://dx.doi.org/10.24220/2318-0870v24n1a4232
Você também pode gostar
- Conhecimento Como Valor MoralDocumento12 páginasConhecimento Como Valor MoralAL Serviços AcadémicosAinda não há avaliações
- Fichamento - Ética Na Produção AcadêmicaDocumento2 páginasFichamento - Ética Na Produção Acadêmicareynanpacheco2407Ainda não há avaliações
- Guia de Estudos Da Unidade 2 - Etica e CidadaniaDocumento11 páginasGuia de Estudos Da Unidade 2 - Etica e CidadaniadulcesousalimaAinda não há avaliações
- Plano de Ensino - ÉTICADocumento11 páginasPlano de Ensino - ÉTICAMario CruzAinda não há avaliações
- Etica Social NelsonDocumento10 páginasEtica Social NelsonTrindade Atanasio UasoeAinda não há avaliações
- Síntese Integradora - SamiaDocumento2 páginasSíntese Integradora - SamiaMarcelo martins de oliveiraAinda não há avaliações
- Etica e Deontologia Profissional WorkDocumento11 páginasEtica e Deontologia Profissional WorkBilly FigueiredoAinda não há avaliações
- Etica Social Bene 2 TrabalhoDocumento8 páginasEtica Social Bene 2 TrabalhoJoão Samuel MandauaAinda não há avaliações
- Desenvolvimento de Valores Morais, Éticos e Científicos Na EducaçãoDocumento14 páginasDesenvolvimento de Valores Morais, Éticos e Científicos Na EducaçãocucoscribdAinda não há avaliações
- A Exigencia Da Ética Na EducaçãoDocumento34 páginasA Exigencia Da Ética Na EducaçãoGutenberg BarrosoAinda não há avaliações
- 1 - Etica SocialDocumento15 páginas1 - Etica SocialhngunguloAinda não há avaliações
- Essita MapureDocumento14 páginasEssita MapureAlberto UzarAinda não há avaliações
- Ética, Crianças e AdolescentesDocumento15 páginasÉtica, Crianças e AdolescentesAntonio Alves dos SantosAinda não há avaliações
- Consciência Moral Na BiblioteconomiaDocumento10 páginasConsciência Moral Na BiblioteconomiaGlenda OliveiraAinda não há avaliações
- Trabalho de EticaDocumento10 páginasTrabalho de EticaAnachasia ChaúqueAinda não há avaliações
- EticaDocumento11 páginasEticaamiel moraisAinda não há avaliações
- 06 - GALLO, Silvio. Ética e Cidadania COMPRAR PDFDocumento14 páginas06 - GALLO, Silvio. Ética e Cidadania COMPRAR PDFAndreza FontesAinda não há avaliações
- Ética e EducaçãoDocumento15 páginasÉtica e EducaçãoAltino MutaquihaAinda não há avaliações
- Capitulo 3 - 3.1 Relacoes Entre A Moral e A EducacaoDocumento4 páginasCapitulo 3 - 3.1 Relacoes Entre A Moral e A EducacaoNuno M AlexandreAinda não há avaliações
- Planejamento PsicologiaDocumento9 páginasPlanejamento PsicologiaRaiza AnjosAinda não há avaliações
- Etica No Regulamento Da Escola PublicaDocumento7 páginasEtica No Regulamento Da Escola PublicaDinis Miguel MatsinheAinda não há avaliações
- Assane Virgilio AssaneDocumento14 páginasAssane Virgilio AssaneAlberto UzarAinda não há avaliações
- A Função Social Da ProfissãoDocumento36 páginasA Função Social Da ProfissãoBernardo Donça100% (2)
- Dimensoes Eticas Da EducacaoDocumento18 páginasDimensoes Eticas Da Educacaojoaquim Mateus ZamboAinda não há avaliações
- Monteiro HDHDocumento12 páginasMonteiro HDHVenâncio Correia PaizinhoAinda não há avaliações
- Ética Na EducaçãDocumento15 páginasÉtica Na EducaçãCelcio Domingoss SaleAinda não há avaliações
- MIC Tema I 2020 CópiaDocumento121 páginasMIC Tema I 2020 Cópiapretinho xatohAinda não há avaliações
- M EMCDocumento7 páginasM EMCEurico DeyoungAinda não há avaliações
- Ética em Cuidados PaliativosDocumento10 páginasÉtica em Cuidados PaliativosJoana Bragança100% (1)
- 181-Texto Do Artigo-538-1-10-20170522Documento30 páginas181-Texto Do Artigo-538-1-10-20170522Elisabete Célia SantosAinda não há avaliações
- Ver FinDocumento3 páginasVer FinbellemaricgAinda não há avaliações
- O Objeto Da ÉticaDocumento7 páginasO Objeto Da ÉticaMatheus VinyciusAinda não há avaliações
- Revisão Ética-2Documento9 páginasRevisão Ética-2Victor RaposoAinda não há avaliações
- Consideracoes Sobre A Educacao Moral de KohlbergDocumento9 páginasConsideracoes Sobre A Educacao Moral de KohlbergSabino Sacahala SacahalaAinda não há avaliações
- Aprender A Viver CompletoDocumento22 páginasAprender A Viver Completogilbastos_advAinda não há avaliações
- Relatório 2Documento4 páginasRelatório 2Ana Beatriz Pinheiro VelosoAinda não há avaliações
- 01-Fundamentos de Ética e de Moral Na Sociedade LIDODocumento18 páginas01-Fundamentos de Ética e de Moral Na Sociedade LIDONatáliaMarinsAinda não há avaliações
- Lectura 3Documento18 páginasLectura 3Rodrigo CmAinda não há avaliações
- Trabalho UenpDocumento8 páginasTrabalho UenpCristiane CostaAinda não há avaliações
- Educação Moral e Autonomia Na Educação Infantil o Que Pensam Os ProfessoresDocumento11 páginasEducação Moral e Autonomia Na Educação Infantil o Que Pensam Os ProfessoresTatiane PereiraAinda não há avaliações
- o Lugar Da Psicologia Na educaÇÃo Contemporânea PDFDocumento12 páginaso Lugar Da Psicologia Na educaÇÃo Contemporânea PDFCamillaSobralAinda não há avaliações
- E-Fólio A - Ética e Educação - Ana Maria E.C.Alves Martins - Nº 1104760Documento3 páginasE-Fólio A - Ética e Educação - Ana Maria E.C.Alves Martins - Nº 1104760Eduardo Alves MartinsAinda não há avaliações
- Apostila Direito Educacional e ÉticaDocumento52 páginasApostila Direito Educacional e ÉticaPaulo AlbertoAinda não há avaliações
- Filosofia 2 Ano EjaDocumento4 páginasFilosofia 2 Ano Ejaleiliane100% (1)
- Teorico Etica e Cidadania Unidade IDocumento20 páginasTeorico Etica e Cidadania Unidade IWagner NunesAinda não há avaliações
- Etica e Deontologia JohnnyDocumento9 páginasEtica e Deontologia JohnnyJolitoAinda não há avaliações
- Valdelice ConstruindoDocumento5 páginasValdelice ConstruindoRoberto RodriguesAinda não há avaliações
- A Etica Na EducacaoDocumento10 páginasA Etica Na Educacaorafa chechuAinda não há avaliações
- FilosofiaDocumento4 páginasFilosofiaEmyle MesquitaAinda não há avaliações
- Ensino Religioso - 7° Ano - III UNIDADE - 2023Documento13 páginasEnsino Religioso - 7° Ano - III UNIDADE - 2023Marcos, WendelAinda não há avaliações
- O Paradigma ExistencialDocumento9 páginasO Paradigma ExistencialZuleca Sara PedroAinda não há avaliações
- Aulas I Direito Ética ProficionalDocumento30 páginasAulas I Direito Ética ProficionalNeres & Carvalho N&C AdvogadosAinda não há avaliações
- Alencar Et Al 2014Documento10 páginasAlencar Et Al 2014Mayara LimaAinda não há avaliações
- Ética e Educação Efolio - ADocumento2 páginasÉtica e Educação Efolio - AMargarida RodriguesAinda não há avaliações
- Valores, Moral e ÉticaDocumento4 páginasValores, Moral e ÉticaSTEPHANE CARDOSO GONCALVESAinda não há avaliações
- 1 Aula 1 Livro - Ética e Governança - Profº Luciano StodulnyDocumento51 páginas1 Aula 1 Livro - Ética e Governança - Profº Luciano StodulnyCamilaAinda não há avaliações
- Ebook Autonomia Moral KuauDocumento38 páginasEbook Autonomia Moral KuauAdalberto MeeAinda não há avaliações
- Ética - Como Principio Da Pratica PedagogicaDocumento5 páginasÉtica - Como Principio Da Pratica Pedagogicazlma225100% (2)
- Ética e Responsabilidade SocialDocumento2 páginasÉtica e Responsabilidade SocialFranciele De Quadros ColombeliAinda não há avaliações
- A Existencia Como Cuidado PDFDocumento7 páginasA Existencia Como Cuidado PDFRafaela ShinoharaAinda não há avaliações
- Gabarito Definitivo Cursos AdministrativosDocumento1 páginaGabarito Definitivo Cursos AdministrativosHélio FrançaAinda não há avaliações
- Leitura - Martín-BaróDocumento6 páginasLeitura - Martín-BaróHélio FrançaAinda não há avaliações
- Artigo Sobre A Morte Que Cita Uma Única Vez Os Chapéus TranseuntesDocumento14 páginasArtigo Sobre A Morte Que Cita Uma Única Vez Os Chapéus TranseuntesdavidlopesdasilvaAinda não há avaliações
- Melhores Filmes Brasileiros de Todos Os TemposDocumento3 páginasMelhores Filmes Brasileiros de Todos Os TemposlalouruguayAinda não há avaliações
- (2020060-PT) Visão História 59Documento84 páginas(2020060-PT) Visão História 59Hélio França100% (1)
- Liv 84115Documento44 páginasLiv 84115Hélio FrançaAinda não há avaliações
- (2020060-PT) Visão História 59Documento84 páginas(2020060-PT) Visão História 59Hélio França100% (1)
- Você Já Parou para Ver A Chuva?Documento1 páginaVocê Já Parou para Ver A Chuva?Hélio FrançaAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido Prova 70-680 PT-BRDocumento97 páginasEstudo Dirigido Prova 70-680 PT-BRmarcelowebcbaAinda não há avaliações
- 11.4.1.2 Packet Tracer - Skills Integration Challenge Instructions PDFDocumento4 páginas11.4.1.2 Packet Tracer - Skills Integration Challenge Instructions PDFHélio FrançaAinda não há avaliações
- Teste PDFDocumento1 páginaTeste PDFHélio FrançaAinda não há avaliações
- EcologiaDocumento1 páginaEcologiaLaender PereiraAinda não há avaliações
- Revista Progredir 096.altruismoDocumento70 páginasRevista Progredir 096.altruismoceuvazAinda não há avaliações
- Lidando Com Pacientes de Terapia Que Se Sentem Julgados Bonus 2 PDFDocumento17 páginasLidando Com Pacientes de Terapia Que Se Sentem Julgados Bonus 2 PDFcarolAinda não há avaliações
- Psicologia Nas Organizações Aulas de 1 A 10Documento52 páginasPsicologia Nas Organizações Aulas de 1 A 10LaressaMartins50% (2)
- Entrevista Psiquiátrica e Exame Psíquico - Dos Sintomas Ao Diagnóstico e TratamentoDocumento5 páginasEntrevista Psiquiátrica e Exame Psíquico - Dos Sintomas Ao Diagnóstico e Tratamentorodveloso100% (1)
- Escape - Como Vencer o Narcisista Por H.G. Tudor (Portuguà S)Documento104 páginasEscape - Como Vencer o Narcisista Por H.G. Tudor (Portuguà S)soellen.lopezAinda não há avaliações
- Document - Onl - Manual Tecnico 2015 Da o Salto Com o Dropi Programa de PrevencaoDocumento65 páginasDocument - Onl - Manual Tecnico 2015 Da o Salto Com o Dropi Programa de Prevencaobruno silvaAinda não há avaliações
- Projeto Semana de Acolhimento Pei Eliseu NarcisoDocumento6 páginasProjeto Semana de Acolhimento Pei Eliseu NarcisoThaís FerreiraAinda não há avaliações
- VigiaDocumento9 páginasVigiaTony PulseirasAinda não há avaliações
- Inteligência EmocionalDocumento15 páginasInteligência EmocionalMaria Costa100% (1)
- Homenagem Ao FracassoDocumento1 páginaHomenagem Ao FracassoJacinto SilvaAinda não há avaliações
- Competências Requeridas Ao Treinador de FutebolDocumento17 páginasCompetências Requeridas Ao Treinador de FutebolNatan Pedrosa TeixeiraAinda não há avaliações
- MENTALISTA - Classe Nova de Tormenta 20 IncompletaDocumento5 páginasMENTALISTA - Classe Nova de Tormenta 20 IncompletalanternverdemanAinda não há avaliações
- Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência Na Atenção Básica em SaúdeDocumento15 páginasAcolhimento de Mulheres Vítimas de Violência Na Atenção Básica em SaúdeLILIANE CASTANHAAinda não há avaliações
- Vivendo LimpopdfDocumento169 páginasVivendo LimpopdfRafael Kury100% (2)
- Teste Sua Inteligência Emocional 3Documento3 páginasTeste Sua Inteligência Emocional 3Gysele Fernandes Dos Santos RogoAinda não há avaliações
- Plano Anual Jardim II 2021Documento46 páginasPlano Anual Jardim II 2021LEIVA DE SÁ PEREIRA NERISAinda não há avaliações
- Caderno Das Aulas PV - Prof - 2°ano - 2°bimDocumento75 páginasCaderno Das Aulas PV - Prof - 2°ano - 2°bimmaria.falcao.duarteAinda não há avaliações
- 4 - Sofrimento Como Consequencia Do Adoecer - Andrea FerrianDocumento13 páginas4 - Sofrimento Como Consequencia Do Adoecer - Andrea FerrianGünther BeinekeAinda não há avaliações
- MindfulnessDocumento23 páginasMindfulnessMariaAinda não há avaliações
- Persuasão - Conheça Os Padrões Hipnóticos de Influência - Mais PersuasãoDocumento6 páginasPersuasão - Conheça Os Padrões Hipnóticos de Influência - Mais PersuasãoRodolfo SantosAinda não há avaliações
- Amostra THS AdultosDocumento8 páginasAmostra THS AdultosAdriana ReisAinda não há avaliações
- DANIEL GOLEMAN Do Que É Feito Um Líder (1999,9p)Documento9 páginasDANIEL GOLEMAN Do Que É Feito Um Líder (1999,9p)Amit Singh100% (1)
- Gestão de Conflitos No Ambiente de TrabalhoDocumento6 páginasGestão de Conflitos No Ambiente de TrabalhoCRAS ItamogiAinda não há avaliações
- Cartilha Educação Humanitária - Respeito A Todas As Formas de VidaDocumento46 páginasCartilha Educação Humanitária - Respeito A Todas As Formas de VidaTatiana Vieira de LimaAinda não há avaliações
- Artigo para o LivroDocumento23 páginasArtigo para o LivroJosé Glaucio Ferreira de FigueiredoAinda não há avaliações
- SabrinaDocumento4 páginasSabrinaSabrina QueirozAinda não há avaliações
- Diário Da CompaixãoDocumento38 páginasDiário Da CompaixãoPat QueirozAinda não há avaliações
- Resenha - Profunda SimplicidadeDocumento17 páginasResenha - Profunda SimplicidadeEttore Riter100% (2)
- Primeiro Sentimos, Depois Julgamos - Mente CérebroDocumento6 páginasPrimeiro Sentimos, Depois Julgamos - Mente CérebroVera AlmeidaAinda não há avaliações
- SEJUSP MG Curso Hotmart Comunicação Não ViolentaDocumento41 páginasSEJUSP MG Curso Hotmart Comunicação Não ViolentaGilson MacielAinda não há avaliações
- A Bíblia e sua família: Exposições bíblicas sobre casamento, família e filhosNo EverandA Bíblia e sua família: Exposições bíblicas sobre casamento, família e filhosNota: 4 de 5 estrelas4/5 (3)
- 21 dias para curar sua vida: Amando a si mesmo trabalhando com o espelhoNo Everand21 dias para curar sua vida: Amando a si mesmo trabalhando com o espelhoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (57)
- Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimentoNo EverandCaminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimentoNota: 4 de 5 estrelas4/5 (6)
- Pense Como Um Gênio: Os Sete Passos Para Encontrar Soluções Brilhantes Para Problemas ComunsNo EverandPense Como Um Gênio: Os Sete Passos Para Encontrar Soluções Brilhantes Para Problemas ComunsNota: 4 de 5 estrelas4/5 (27)
- Poder e Alta Performance: O manual prático para reprogramar seus hábitos e promover mudanças profundas em sua vidaNo EverandPoder e Alta Performance: O manual prático para reprogramar seus hábitos e promover mudanças profundas em sua vidaNota: 2.5 de 5 estrelas2.5/5 (9)
- Mulher do reino: Seu propósito, seu poder e suas possibilidadesNo EverandMulher do reino: Seu propósito, seu poder e suas possibilidadesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (6)
- O homem é aquilo que ele pensa: Saúde, Felicidade e Abundância Através do Domínio do pensamentoNo EverandO homem é aquilo que ele pensa: Saúde, Felicidade e Abundância Através do Domínio do pensamentoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (16)
- Prisioneiras do Espelho: Um guia de liberdade pessoal para filhas de mães narcisistasNo EverandPrisioneiras do Espelho: Um guia de liberdade pessoal para filhas de mães narcisistasNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (24)
- Limite zero: O sistema havaiano secreto para prosperidade, saúde, paz, e mais aindaNo EverandLimite zero: O sistema havaiano secreto para prosperidade, saúde, paz, e mais aindaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (21)
- Pensamento Positivo: a arte de transformar seu pensamento negativo em positivoNo EverandPensamento Positivo: a arte de transformar seu pensamento negativo em positivoAinda não há avaliações
- Superando o Ciúme Retroativo: Um Guia Para Superar el Passado da Sua Parceira e Encontrar a PazNo EverandSuperando o Ciúme Retroativo: Um Guia Para Superar el Passado da Sua Parceira e Encontrar a PazNota: 5 de 5 estrelas5/5 (7)
- Águas no deserto: Encontrando Refrigério para os sedentosNo EverandÁguas no deserto: Encontrando Refrigério para os sedentosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Contos que curam: Oficinas de educação emocional por meio de contosNo EverandContos que curam: Oficinas de educação emocional por meio de contosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (8)
- Escola dos Deuses: Formação dos líderes da nova EconomiaNo EverandEscola dos Deuses: Formação dos líderes da nova EconomiaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (7)
- Piaget, Vigotski, Wallon: Teorias psicogenéticas em discussãoNo EverandPiaget, Vigotski, Wallon: Teorias psicogenéticas em discussãoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (21)
- Fitoenergética: A Energia das Plantas no Equilíbrio da AlmaNo EverandFitoenergética: A Energia das Plantas no Equilíbrio da AlmaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (17)
- Uma viagem pelo cérebro: A via rápida para entender neurociência: 1ª edição revisada e atualizadaNo EverandUma viagem pelo cérebro: A via rápida para entender neurociência: 1ª edição revisada e atualizadaNota: 4 de 5 estrelas4/5 (13)
- Mentes únicas: Aprenda como descobrir, entender e estimular uma pessoa com autismo e desenvolva suas habilidades impulsionando seu potencialNo EverandMentes únicas: Aprenda como descobrir, entender e estimular uma pessoa com autismo e desenvolva suas habilidades impulsionando seu potencialNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Síndrome da alienação parental: Um novo tema nos juízos de famíliaNo EverandSíndrome da alienação parental: Um novo tema nos juízos de famíliaAinda não há avaliações