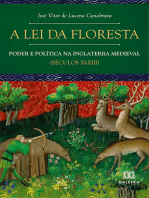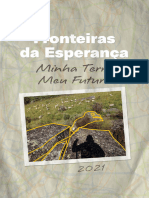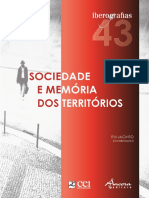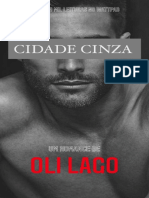Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Leituras de Eduardo Lourenço
Leituras de Eduardo Lourenço
Enviado por
Centro de Estudos IbéricosDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Leituras de Eduardo Lourenço
Leituras de Eduardo Lourenço
Enviado por
Centro de Estudos IbéricosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.
indd 1 13/05/2024 14:55:46
Titulo: Leituras de Eduardo Lourenço
Coordenação: António Pedro Pita
Autores: António Pedro Pita; Celeste Natário; João Dionísio; João Tiago Lima; Maria Manuela Cruzeiro;
Margarida Calafate Ribeiro; Nazir Can; Roberto Vecchi; Sérgio Fernando da Silva Costa; Vincenzo Russo
Fotografias: Rui Jacinto
Fotografia da capa: Rui Jacinto
Preparação e revisão da edição: Alexandra Isidro e Ana Margarida Proença
Centro de Estudos Ibéricos
Rua Soeiro Viegas n.º 8
6300-758 Guarda
cei@cei.pt
www.cei.pt
Âncora Editora
Avenida Infante Santo, 52 – 3.º Esq.
1350-179 Lisboa
geral@ancora-editora.pt
www.ancora-editora.pt
www.facebook.com/ancoraeditora
Capa e pré-impressão: Âncora Editora
Impressão e acabamento: Gráfica Diário do Minho
1.ª edição: Maio de 2024
Depósito legal n.º 532245/24
ISBN: 978 972 780 935 6
ISBN: 978 989 8676 44 3
Edição n.º 55002
O Centro de Estudos Ibéricos respeita os originais dos textos, não se responsabilizando pelos conteúdos, forma
e opiniões neles expressas.
A opção ou não pelas regras do novo acordo ortográfico é da responsabilidade de cada autor.
Apoios:
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 2 13/05/2024 14:55:47
LEITURAS DE
EDUARDO
LOURENÇO
Coordenação de
ANTÓNIO PEDRO PITA
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 3 13/05/2024 14:55:47
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 4 13/05/2024 14:55:47
Índice
. Nota de Abertura 7
Sérgio Fernando da Silva Costa
. Nota de Apresentação 9
António Pedro Pita
O esplendor do Caos
. O caos, princípio e fim do esplendor. O quiasmo imperfeito 13
Roberto Vecchi
. O esplendor do caos: edição e espólio de Eduardo Lourenço 19
João Dionísio
Sobre o espírito da Heterodoxia
. Breves considerações à volta de Heterodoxias 31
João Tiago Lima
. Eduardo Lourenço, Um Espírito Heterodoxo 37
Celeste Natário
. Ler Eduardo Lourenço. Do desconforto ao deslumbramento 41
Maria Manuela Cruzeiro
Tempo Português e Outros Tempos
. Eduardo Lourenço – uma carta a Portugal 51
Margarida Calafate Ribeiro
. Eduardo Lourenço – as ideias fora do lugar do colonialismo português 63
Nazir Ahmed Can
. O Tempo certo da desmitologização ou as Cruzadas duvidosas da 73
parasociologia arbitrária do Mestre de Apipucos
Vincenzo Russo
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 5 13/05/2024 14:55:47
6 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 6 13/05/2024 14:55:48
Nota de Abertura
Sérgio Fernando da Silva Costa
Presidente da Câmara Municipal da Guarda
Membro da Direção do CEI
O ano de celebração do Centenário do Nascimento de Eduardo Lourenço (23 de maio
de 2023 a 23 de maio de 2024) representou para a Guarda uma honra e um compromisso.
Honra por celebrar a vida e obra do Pensador, Filósofo e Ensaísta reconhecido como uma
das mais notáveis figuras da Cultura Contemporânea Portuguesa. Compromisso para
com o legado que deixou à sua Cidade: uma Biblioteca que apadrinhou e à qual doou a
maior parte da sua biblioteca pessoal e um Centro de cariz singular, transfronteiriço, pla-
taforma de diálogo e encontro entre as culturas ibéricas.
Para o Centro de Estudos Ibéricos, o Centenário do Nascimento de Eduardo Louren-
ço constituiu uma oportunidade de celebração e de responsabilização ao posicionar-se
como plataforma de conhecimento e de divulgação das iniciativas no âmbito das come-
morações. Um trabalho desenvolvido em articulação com várias entidades nacionais e
estrangeiras com o objetivo de articular uma programação ampla e diversificada, que
refletisse criticamente sobre o legado e alargasse o conhecimento da obra, dignificando
assim o seu Mentor e Diretor Honorífico.
Além das entidades que celebraram a parceria que criou o CEI, constituída pela Câma-
ra Municipal da Guarda, Universidade de Coimbra, Universidade de Salamanca e Instituto
Politécnico da Guarda, integraram a rede de parceiros do Centenário a Câmara Municipal
de Almeida, a Câmara Municipal de Coimbra, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Biblio-
teca Nacional, o Instituto Camões, o Centro Nacional de Cultura, a Direção Geral do Livro,
dos Arquivos e das Bibliotecas, a Rede de Bibliotecas Escolares, a Direção Regional da
Cultura do Centro, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, o
Turismo Centro de Portugal, o Turismo de Portugal, a Fundação José Saramago e a Casa
Fernando Pessoa.
Alicerçado nesta rede foi possível estruturar uma programação variada, rigorosa, pe-
dagógica e criativa, que contribuiu para a difusão da obra de Eduardo Lourenço e para o
alargamento do universo dos seus leitores.
7 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 7 13/05/2024 14:55:48
Conferências, exposições, edições, colóquios, seminários, roteiros e espetáculos mar-
caram o ano de celebrações. As iniciativas que abriram o programa, na Guarda e na sua
aldeia natal de S. Pedro do Rio Seco, concelho de Almeida, em 23 de maio de 2023, deram
o mote a um programa eclético que se prolongou ao longo do ano em vários locais do
país e do estrangeiro.
A edição que se dá a estampa é o resultado das intervenções dos mais reputados
especialistas na obra de Eduardo Lourenço proferidas no âmbito do Congresso “Leituras
de Eduardo Lourenço” que teve lugar na Guarda, nos dias 23 e 24 de maio de 2023. Um
excelente contributo para conhecermos melhor o universo Lourenciano e refletirmos
sobre o seu legado.
Cumpre-me agradecer penhoradamente aos parceiros envolvidos no Centenário
pelo interesse, disponibilidade e iniciativas desenvolvidas e, particularmente, ao grupo
que coordenou as Comemorações no CEI, constituído por António Pedro Pita e Rui
Jacinto (Universidade de Coimbra), Roberto Vecchi e Margarida Calafate Ribeiro (Cátedra
Eduardo Lourenço, Universidade de Bolonha) pelo empenho e compromisso para com
esta missão.
Celebrar Eduardo Lourenço é manter vivo o seu legado, pensar e refletir sobre o nosso
futuro comum, com base nos valores humanistas e dimensão universal que lhe eram tão
caros. É continuar a incentivar o diálogo intercultural e o intercâmbio de saberes, aprofun-
dando o seu conhecimento e pesquisa, desenvolvendo a colaboração entre povos e cultu-
ras, transcendendo limites territoriais e culturais, cumprindo a sua vontade e pensamento.
Para a Guarda e para o Centro de Estudos Ibéricos é um dever de gratidão e memória.
Guarda, maio de 2024
8 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 8 13/05/2024 14:55:48
NOTA DE APRESENTAÇÃO
António Pedro Pita
Universidade de Coimbra
O título desta obra, «Leituras de Eduardo Lourenço», concentra com nitidez, na pe-
quena escala de uma expressão, o sentido e a forma do Programa do Centenário que
o Centro de Estudos Ibéricos organizou para celebrar o itinerário e a presença do seu
inesquecível mentor
De facto, tal como o leitor pode ler-se nos livros que lê (foi o caso do grande Ensaísta),
também todas as atividades que compõem o longo e rico Programa do Centenário são, a
seu modo, leituras de Eduardo Lourenço. É que em nenhum momento do itinerário e em
nenhum passo da obra, Lourenço pretendeu ocupar-se de determinados objetos cultu-
rais ou políticos sem que, de qualquer modo, essa abordagem fosse a expressão de uma
determinada experiência. Por isso, nos seus textos sobre o colonialismo, ou sobre Pessoa,
ou sobre a construção do socialismo, ou sobre a importância da Guarda num pensamen-
to ibérico, ou sobre os problemas da construção europeia, ou sobre o acidentado percur-
so da Modernidade e seus (des)afluentes (como “pós-modernidade”) – o que sobreleva,
para além (talvez seja mais rigoroso dizer: para aquém) das considerações sobre o proble-
ma (ou o pretexto) em causa é o modo como esse problema deveio da dimensão de uma
determinada experiência de mundo na forma de um determinado texto.
Parafraseando um célebre, mas vetusto lugar comum, as experiências de Eduardo
Lourenço parecem ocorrer para (ou na medida em que) se tornarem texto, esse lugar
seguro (uma segurança provisória) de uma determinada relação.
Era, pois, inevitável que um momento nesse Programa do Centenário fosse dedicado
a uma leitura não tanto de alguns textos, mas de alguns problemas. E que, em rigor, ne-
nhuma dessas leituras fosse re-leitura. Ler os textos e os problemas de Eduardo Lourenço
jamais é re-ler: porque um elemento de novidade se interpõe sempre, inevitavelmente,
entre o leitor atual e o antigo-novo texto.
Ao Centro de Estudos Ibéricos foi grato poder contar com a participação ativa de gran-
des intérpretes da obra de Eduardo Lourenço: Roberto Vecchi, João Dionísio, João Tiago
Lima, Celeste Natário, Maria Manuela Cruzeiro, Margarida Calafate Ribeiro, Nazir Ahmed
9 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 9 13/05/2024 14:55:48
Can, Vincenzo Russo. “Ativa” quer dizer: a disponibilidade que se propõe desenvolver o
esforço de um novo olhar. O conjunto de comunicações que iluminaram o dia 23 de maio
de 2023 percorrem temas fulcrais, diria: obsessões, de uma vida, restituindo-as, todavia, a
um novo puzzle de compreensão.
Margarida Calafate Ribeiro e Roberto Vecchi partilharam, aliás, o trabalho de prepara-
ção do Congresso. Quero, gratamente, reconhecê-lo. Essa preparação não seria possível
sem a dedicada competência do Secretariado do Centro de Estudos Ibéricos, coordenado
por Alexandra Isidro. E tudo isto seria impossível sem o trabalho persistente, a resistência
para a longa duração e a paciência perante adversidades de Rui Jacinto.
O conjunto de textos agora reunido é um contributo relevante para (re)ler Eduardo
Lourenço e para, através da sua escrita cintilante, e frequentemente quase encantatória,
aceder ao denso enigma dos dias que vivemos. Não nos deixemos sucumbir à maior ar-
madilha destes dias, a voragem do imediato. Como Eduardo Lourenço, por estas ou por
outras palavras sempre sustentou, “uma existência que renunciou às certezas” (que será
a existência de muitos indivíduos hoje) não pode nem deve renunciar “à exigência de
claridade que nelas em permanência se configura”.
Nos textos que compõem este volume, percorremos labirintos de certezas sem pres-
cindir da “exigência de claridade”.
10 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 10 13/05/2024 14:55:49
O esplendor do Caos 11 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 11 13/05/2024 14:55:49
12 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 12 13/05/2024 14:55:50
O caos, princípio e fim do esplendor.
O quiasmo imperfeito
Roberto Vecchi
Cátedra Eduardo Lourenço
Università di Bologna
Há uma figura associada à ausência: é aquela da prosopopeia, a máscara que personi-
fica e sobretudo, na retórica clássica, vocaliza o inanimado, o ausente, a matéria. Os mor-
tos ou os silenciados que sempre falam por mediações e ausências. Veja-se a imagem ca-
nónica da literatura portuguesa, o gigante Adamastor, do V canto de Os Lusíadas. No caso
de Eduardo Lourenço obviamente não somos nós que precisamos de vocalizar a morte,
por ocasião do centenário do nascimento. Ele deixou como herança uma obra gigantes-
ca. A figura da prosopopeia é, no entanto, vantajosa por uma razão: somos nós que somos
chamados a interrogar a obra, a interpretá-la, a pensá-la, acentuando a capacidade de
escuta. Sem traí-la ou confundi-la. Portanto não se trata de vocalizar um vazio, embora o
exercício com um autor defunto seja sempre um exercício póstumo. Mas a revocalização
da obra, daqui a pertinência da figura clássica, é da nossa responsabilidade, cabe à nossa
leitura, à nossa capacidade de não confundir a sua voz, diria mais, como a filologia nos
ensina, a não desconsiderar a respiração profunda da sua palavra.
O tema da mesa organizada pelo CEI da Guarda por ocasião do centenário de 23 de
Maio de 2023, refere-se a um ensaio famoso de Eduardo Lourenço, construído pelo fio do
paradoxo e da expressão oximórica, dois elementos ontológicos da sua escrita. Em O es-
plendor do caos (1998) num primeiro texto quase epónimo, “Caos e esplendor”, o tempo
contemporâneo da desordem finissecular contribui para pensar no sentido próprio o con-
ceito de caos, “É nele que habitamos e é esplendoroso porque se constitui como medida
e possibilidade de todas as coisas” (Lourenço 1998, p.11).
Afirmações como esta põem logo um problema: como aturamos perante uma obra
constituída como desenho para que a incompletude seja a cifra de um conjunto labirín-
tico e assistemático de palavras, onde novidades, retornos, obsessões, aventuras do pen-
samento se sobrepõem, se intersectam, contrastam, na exaltação de um caminho não
linear, mas sempre por linhas tortas ou laterais?
13 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 13 13/05/2024 14:55:50
Em função desta pergunta (retórica, mas não só), gostaria de propor um desafio li-
gado à centralidade e à peculiaridade do caos na obra de Eduardo Lourenço. Um outro
paradoxo. Por um singular espírito do contrário, o caos não gera opacidade, mas ilumina,
como se o cúmulo pudesse produzir pensamento apreensível, desenho ordenado, senti-
do, partilha. O complexo e o simples, em simultâneo. O desafio perante a obra do Profes-
sor talvez seja atualmente a interpretação deste equilíbrio inesperado, desta combinação
de contrários que produz, e continua a produzir, para todos nós, conhecimento e acesso
ao pensamento crítico.
Há uma imagem recorrente quando falamos da obra de Eduardo Lourenço: refiro-me
à sua natureza de objeto irredutível e compósito, de muitas partes, mas, sem um todo,
como a Natureza de Alberto Caeiro no Guardador de rebanhos.
O caos como aparência
É um desencontro, esse, que experiência quem aborda a pluralidade de uma obra
que não se submete a reduções, com a de Eduardo Lourenço, experiência um desencon-
tro. Uma resistência aos estudos em suma, determinada pela força da diversidade que
incorpora. Uma multidireccionalidade implacável, fundos de ideias inexploráveis, raciocí-
nios sinuosos que envolvem a ideia abordada.
A complexidade das dobras, se se pode dizer por redundância, é na verdade a combi-
nação de gestos simples e singelos. Muitos críticos mostraram a peculiaridade do ensaio
do Professor, a força que deriva da sua natureza fragmentária e, aparentemente, dispersa.
Remete, já no plano interpretativo, para o seu carácter trágico, de uma intermitência, sem
síntese, de silêncio e voz: o poder de excepção do crítico, a incompletude que se torna
uma permanência analítica.
Esta condição decorre, diríamos, de uma atenta “economia” do fragmento, como o
resultado da rutura de uma totalização de conhecimento possível: o que o fragmento pro-
cura é, modestamente, a nostalgia do que se perdeu, uma divisão que se associa no plano
da escrita à forma do aforismo???, ou seja, o “menor inteiro possível” (Rella 1993, p.58).
Nesta óptica, o ensaio inscreve-se sempre dentro do horizonte de um saber assistemá-
tico, que já desistiu de qualquer possibilidade de construção de um tratado sobre um dado
assunto, portanto as tentativas servem só para trabalhar uma hipótese sem pretensão de
chegar a qualquer tese definitiva. A experiência limitar-se-á assim a um plano puramente
hipotético onde o que prevalece é a interrogação e não as suas possíveis respostas. Nesta
14 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 14 13/05/2024 14:55:50
postura dubitativa, que foge do unitário e se estrutura como pluralidade, as partes que têm
uma autonomia na verdade reforçam substancialmente o olhar do sujeito crítico.
A leitura e o caos
Estas características atribuem uma responsabilidade fundamental ao outro lado da
comunicação, ou seja, ao receptor, ao leitor. A fragmentação que se estrutura não de
modo categórico ou assertivo depende muito da capacidade de apreensão da leitura. O
inacabado do pensamento solicita a capacidade de conjugar e pensar do intérprete am-
plificando o seu papel.
O risco que surge neste plano é que a obra de Eduardo Lourenço nunca possa ser
completa, mas sempre condicionada por uma seleção receptiva. Se portanto é impossível
delimitar as funções que exerce o Professor através da sua crítica (filósofo, escritor, pen-
sador, crítico literário, crítico de arte, de cinema, de música, analista, mitólogo, historiador
etc.) o que interessa é, como as partes dos seus diferentes discursos, que as leituras se en-
caixem para resgatar um todo perdido que se encontra na reconstrução de um discurso
cuja unidade será sempre precária e, para usar um adjectivo lourenciano, “póstuma”.
Caso contrário, tornaríamos um retrato intelectual que coincide com metade do sécu-
lo XX de Portugal num espelho para a autorreflexão, no risco de um simulacro presente
em cada ato de leitura ou de crítica, risco que se avoluma no caso de uma obra ampla,
disseminada, sem contornos e que convoca a responsabilidade filológica de quem tenta
reconstruir a última intenção do autor. Ou, de outro modo, teremos sempre o perigo de
ter um Eduardo Lourenço só nosso, dentro da nossa visão, que somos nós.
A morfologia irregular e dispersa desta obra exige uma ética de apreensão própria e
não comum. Uma ética que em tempos póstumos, perante o imenso e complexo legado
do Professor, seria necessário definir, o que nos leva sempre muito além dos muitos lu-
gares comuns que caracterizam a leitura de uma obra certamente de sucesso. Antes que
se torne um espelho mudo e onde se reflete só o rosto do leitor, o nosso. E não do autor.
Talvez o que nos cabe a nós hoje, não é articular o grande arcabouço da obra que seria
uma totalidade impossível, mas alguns micro elementos, discursivos, linguísticos, figurais,
conceituais que além de todos os temas (de um repertório amplíssimo) mostram o fio
ténue de imagens e palavras que representam uma espécie de denominador mínimo, de
eixo submerso que gera uma paradoxal analogia dentro de uma diversidade incontorná-
vel. A cifra do autor, a sua invisível assinatura.
15 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 15 13/05/2024 14:55:50
É por isso que, se quisermos voltar à dimensão textual e de crítica textual da obra,
é preciso assumir a impossibilidade de uma edição crítica da obra do Professor porque
seria impossível derivar qualquer esquematização da tradição e das relações de códigos,
porque o que se intersecta são ideias e pensamentos, através de formas livres e em movi-
mento caótico, e não só textos e testemunhos.
A obra de Eduardo Lourenço apoia-se em suma num arquivo impossível, um arquivo
por contornar. Como provavelmente podem confirmar os colegas filólogos, que têm um
conhecimento direto dos manuscritos, da escrita do Professor, da edição sempre insufi-
ciente dos seus textos. O caos alimenta uma reprodução constante de leituras. As formas
são multíplices e as apreensões praticamente infinitas. Daí a responsabilidade que cabe
a todos nós, os leitores.
Caos e inovação
Se a forma é o inacabado ou o desafio a uma regularidade de formas ou de para-
digmas, é interessante interrogarmo-nos sobre o sentido do “esplendor do caos”. Numa
direção que procure na contradição aparente da contradição, como dissemos, o sentido
da construção do saber a partir da “arte do pensamento” de Eduardo Lourenço. Sobre os
modos com que se constrói o conhecimento na sua obra, já temos análises minuciosas
em particular na vertente académica (José Gil, Maria Manuel Baptista, João Tiago Lima). O
uso da imagem para daí derivar o conceito que parece decorrer mais de uma criatividade
poética do que analítica, a função da escrita, uma escrita que pensa (algo de próximo do
nosso -no sentido de italiano – “pensiero poetante” de Giacomo Leopardi) e que aproveita
em abundância figuras por oposição da retórica clássica – quiasmos, oxímoros, ironias
ou paradoxos etc – indicam o gesto de ordenar o caos, de encontrar uma mínima ordem
discursiva que o cative.
O que é oportuno assinalar é que “esplendor do caos” é uma definição bastante justa
sobre um tema que na contemporaneidade nos obceca e tem a ver não só com a produ-
ção do conhecimento, mas sobretudo no como a construção do conhecimento é matricial
a uma outra construção. Refiro-me à inovação, ou seja, ao como se renova, por um viés
epistemológico, o património dos saberes existentes. E aqui surge a meu ver algo de sur-
preendente. Aqui nenhuma concessão ao sentido clássico da “inventio” ou “invenire” (que
numa pseudoetimologia Santo Agostinho definia (De Trinitate, Liber decimus) como “in id
venire quod quaeritur”: chegar ao que se procura, mas fora dos limites medievais, é chegar
16 //
ao que não se procura porque dele se ignora a existência. Ou seja, o novo. E o novo decorre
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 16 13/05/2024 14:55:50
do caos: é algo de problematicamente engenheirizável, ou melhor a engenheirização vem
depois da superação do conhecido. Vem esta reflexão a propósito da modalidade sinuosa
do Professor e permite-nos rever em termos funcionais a forma do caos.
Não avento uma tipologia geral que é obviamente impossível depreender, da mesma
foram que é inviável inscrever a norma no seu desvio. Lembro também que as figuras da
inovação, não só no campo discursivo, mas sobretudo no plano material, se encontram
no ensaio de Eduardo Lourenço. De fato um famoso economista austríaco dos primórdios
de século XX, Joseph Schumpeter, tinha indicado no papel do empreendedor (que dis-
tinguia pela sua natureza temporária do proprietário capitalista) uma prática específica,
aquela da “polissemia dos elementos” de que qualifica / que gera???? dispõe??? a inven-
ção do novo. Significa que a inovação (a invenção) não ocorre mudando a matéria, mas
pensando em novas relações das partes do todo existente. O novo decorre assim de uma
diferente arte combinatória. Portanto encontrar relações, o que faz o discurso no caos,
produz uma significação nova a partir dos mesmos materiais (cfr. Virno 2005, p.78).
Isto está muito presente em Eduardo Lourenço quando por exemplo constrói cons-
telações com novas relações (entre as inúmeras citáveis, por exemplo a que em Portugal
como destino articula entre saudade, melancolia e nostalgia, e assim muda o campo de
forças habitual, produzindo um novo significado, uma nova interpretação a partir de ele-
mentos constantes e só aparentemente “imóveis” nas suas possíveis combinatórias).
A outra figura a ser lembrada na construção do novo é a do “êxodo”, do “tertium datur”,
onde a dicotomia se supera encontrando uma terceira condição, uma outra via, o que
lembra a solução do dilema do povo hebraico que entre a rebelião e a submissão durante
a prisão no Egito opta por uma alternativa externa às duas que é a fuga, o êxodo justa-
mente. Pensar de modo convencional é abandonar-se a um êxodo que permite inscrever
o pensamento fora dos impasses do trágico (em si não superável) através da mudança de
discurso (Virno, 2005, p.79). O esplendor do caos é a possibilidadede “saída”, de “êxodo” de
uma situação só aparentemente dualista. Foi isso que, no feliz caos histórico de processos
complicados como democratização, descolonização, europeização, Lourenço lança atra-
vés de O Labirinto da saudade, manual de sobrevivência à crise histórica do pós-“impen-
sados”: Salazarismo e colonialismo.
Quero só citar o pensamento de Eduardo Lourenço que mostra esta luta para ordenar
o informe que acentua o aspecto barroquizante ou conceptista da sua escrita, correspon-
dendo, na verdade, a uma postura política e reflexiva:
“Uma utopia europeia assumida só é digna de ser vivida como vitó-
ria da Europa sobre a Europa, da ficção de si mesma que, consciente ou
17 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 17 13/05/2024 14:55:50
inconscientemente, tem condicionado o seu destino, contra a sua realidade.
Em suma, do triunfo da sua sublime não-identidade sobre os fantasmas da
sua alucinada identidade” (Lourenço 2005, p.40)
Entendemos o convívio com o caos de Eduardo Lourenço através de rastos presentes
na escrita. A desordem no pensamento crítico é controlada através de figuras da lingua-
gem que organizam as multiplicidades do real em simetrias – elegantes e artificiais – que
se propõem encontrar uma nova disposição, a que sempre o mundo escapa. Lourenço re-
corre a estas figuras, mas através da sua despotencialização, como se se tratasse de figu-
ras de composição mas imperfeitas. Um quiasmo funcional, mas que, ao mesmo tempo,
exibe uma imperfeição. Que é a história.
O que Eduardo Lourenço pratica é um uso do caos que renova a sua matriz mitológi-
ca: o caos não como desordem, mas como vazio matricial ou como princípio de uma ou-
tra ordem. Assim, em particular nas crises de que o Professor se torna o grande, às vezes
único, intérprete pela sua escrita, o “real” inacessível, é pensado e remontado, deixando
assim a possibilidade da sua apreensão pelos outros. O que explica o seu tenaz corpo a
corpo que reverte o caos numa inteligível e “sublime imperfeição” (Lourenço 1999, p.180).
Bibliografia
Lourenço, Eduardo (1998): O esplendor do caos. Lisboa: Gradiva
Lourenço Eduardo (1999): A nau de Ícaro seguido de Imagem e miragem da Lusofonia.
Lisboa: Gradiva.
Lourenço, Eduardo (2005): “Da identidade europeia como labirinto”. A Europa desincan-
tada. Para uma mitologia europeia. Lisboa: Gradiva. pp. 233-240
Rella, Franco (1993): Miti e figure del moderno. Milano: Feltrinelli
Virno, Paolo (2005): Il moto di spirito e l’azione innovativa. Pe runa logica del cambiamen-
to. Torino: Bollati Boringhieri.
18 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 18 13/05/2024 14:55:50
O esplendor do caos: edição
e espólio de Eduardo Lourenço1
João Dionísio2
Centro de Linguística
Universidade de Lisboa
Achou apropriado a organização do congresso Leituras de Eduardo Lourenço que
este primeiro painel fosse designado “O Esplendor do Caos”. O pedido de empréstimo,
para este efeito, do título concebido pelo intelectual agora homenageado não ocorre ago-
ra pela primeira vez. Entre outras ocasiões, já em 2015 num artigo para o jornal Público,
Luís Miguel Queirós se servira dele quando, a propósito do espólio e das edições a realizar
a partir desse espólio, escrevera:
Para quem agora tem a missão de, com a sua ajuda [i.e., com a ajuda de
Eduardo Lourenço], organizar toda esta documentação, e escolher o que edi-
tar ou reeditar, e em que moldes, o problema será mais o de decidir como
formatar este esplendoroso caos sem o trair.
A observação de Luís Miguel Queirós toca num ponto sensível da relação entre espó-
lio e edição em certos autores, de que é máximo exemplo Fernando Pessoa, um escritor
cuja obra publicada tem a particularidade de ser muito escassa perante a quantidade
impressionante de documentos por ele deixados inéditos em vida. Para autores assim,
o espólio guarda um halo de autenticidade que em parte se perde quando, através da
edição, chega ao público. Dar forma ao que não a tem, formatar o que não dispõe de for-
mato não ocorre nesses casos sem que paire a sombra da traição sobre o procedimento
1 A investigação para este artigo enquadra-se no âmbito do projeto UIDB/00214/2020, FCT – Fundação para a Ciên-
cia e Tecnologia, I.P. Agradeço o convite para participar no congresso Leituras de Eduardo Lourenço, realizado nos
dias 23 e 24 de Maio de 2023, ao Centro de Estudos Ibéricos e aos coordenadores desta iniciativa, nomeadamente
os Professores António Pedro Pita e Rui Jacinto, da Universidade de Coimbra, e Roberto Vecchi e Margarida Cala-
fate Ribeiro, da Cátedra Eduardo Lourenço, estabelecida na Universidade de Bolonha.
19 //
2 joaodionisio@campus.ul.pt
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 19 13/05/2024 14:55:50
editorial. Mas para um intelectual como Eduardo Lourenço, que publicou o que quis e o
que tantas vezes, mais do que resultado da sua deliberação, permitiu, a questão coloca-se
em termos diferentes.
O título “Esplendor do Caos” ressoa como a figura retórica do paradoxo histórico na
medida em que nele convergem duas parcelas de tempo sucessivas ou, mais exactamen-
te, uma parcela de tempo e, por metonímia, uma propriedade atribuída à parcela que lhe
sucede. Ou seja, por um lado, o Caos, isto é, o estado geral das coisas antes de existir um
universo organizado; por outro lado, a luz intensa que em várias narrativas cosmogónicas
corresponde a uma propriedade inaugural deste universo organizado. Inversamente, a
ausência de luz é característica de uma conhecida configuração do Caos, o submundo
abissal do Tártaro, na Teogonia de Hesíodo. Nestes termos, se quiséssemos incorrer numa
paráfrase grosseira daquele título, teríamos qualquer coisa como “a luz das trevas” ou “o
cosmos do caos”. O paradoxo que reconhecemos em expressões deste tipo revela que
somos herdeiros de separações inaugurais, como a relatada no Génesis:
No princípio, quando Deus criou o céu e a terra, 2a terra estava sem forma e
1
sem ordem. Era um mar profundo coberto de escuridão; mas sobre as águas
pairava o Espírito de Deus. 3Então Deus disse: “Que a luz exista!” E a luz come-
çou a existir. 4Deus achou que a luz era uma coisa boa e separou-a da escuridão.
O título de Eduardo Lourenço alude, portanto, a esse tempo anterior ao da Criação,
no qual a luz ainda não estava separada das trevas. Nesse movimento nota-se decerto o
influxo de Fernando Pessoa, tão atreito a formulações paradoxais, mas, talvez mais ainda,
revela-se a matriz antitética de Teixeira de Pascoaes, cuja descrição vou buscar a António
Feijó, de resto atravessada por citações do próprio Pascoaes:
A posição de Pascoaes face à Natureza é violentamente antitética. O Sol, por
exemplo, é uma “chaga de Satã” (...) O seu nascimento [do Sol] é triste como
a morte. E o mundo entristecido recebe, todos os dias, a sua visita lúgubre e
outonal (...) Quanto às “formas objectivas do universo ninguém as vê. Existem
sepultadas na escuridão que cai do sol”. Movendo-se o filósofo na dúvida, a
dúvida é “luz e sombra, ou sombra luminosa ou luz sombria”. Conhecer a alma
é o “anseio nocturno” de Santo Agostinho porque o homem é, de todos os ani-
mais, “o menos banhado em sol”. [Feijó 2016, 80-82]
20 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 20 13/05/2024 14:55:50
Esta inversão dos valores habitualmente atribuídos à luz e às trevas, de que se pode
perceber um indício crucial no passo do Génesis referente ao juízo “Deus achou que a luz
era uma coisa boa e separou-a da escuridão”, está exemplarmente formulada no ensaio
de Eduardo Lourenço sobre António Sérgio. Escrito em França em pleno Maio de 1968, o
ponto de partida é a interpretação que Sérgio faz dos sonetos de Antero, um tanto à ima-
gem do Deus genesíaco que separa a luz da escuridão. Justifica-se citar extensamente:
Não é só Antero que, segundo a sua análise célebre, é luminoso ou nocturno,
é toda a realidade histórica ou moral que nos aparece apreendida e já julgada
segundo um modelo que é menos da ordem da inteligibilidade que da ordem
ética, assimilada sem outra forma de processo à ordem racional. O lado ne-
gativo (posto já como negativo...) não é objecto de verdadeira compreensão,
como numa visão dialéctica o deve ser, mas de exclusão, de condenação ou
minimização. Os Sonetos de Antero, sendo o que são, o que seria necessário
explicar seria essa intrusão ou, antes, essa consubstancial presença do noctur-
no no seio do luminoso ou do luminoso no nocturno. Sérgio limita-se a reen-
viar o nocturno para o fisiológico ou patológico anteriano, sobrepondo assim
uma configuração ideal (um anterianismo ideal...) ao poeta inteiro dos Sonetos,
que sem essa presença entenebrecedora da noite não seria – e não é – o autor
deles. Sérgio decidiu que só o racional, tal como ele o concebe, pura transpa-
rência da consciência a si mesma, tem direito de cidade e autêntica realidade.
O Antero nocturno será pois deixado às suas trevas, quando nós teríamos pre-
ferido que o ilustre ensaísta nos mostrasse nessas trevas o esplendor inverso
da luz total pelo poeta buscada mas não atingida. [Lourenço 2023, 188].
Explicada a forma paradoxal do título, apontado Teixeira de Pascoaes como seu men-
tor eventual, indicado um uso do que lhe está subjacente no comentário sobre António
Sérgio, chegou o momento de observarmos o prefácio do volume assim intitulado. Escrito
em 1997, é dele que retiro o seguinte passo:
a era do caos (...) não faz mais do que reflectir a caoticidade cultural intrínseca
de uma dada cultura. Em particular a dos Estados Unidos, levando a cabo, não
por exigências decorrentes das falhas detectadas em todo o discurso racional
ou com essa pretensão, mas por necessidade, inconsciente para essa cultura,
de se inventar um código sem passado, um “indianismo” do seu imaginário
liberto da utopia europeia da razão. [Lourenço 1999, 7-8]
21 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 21 13/05/2024 14:55:50
Se em certo sentido se pode subscrever esta afirmação, importa notar que os Estados
Unidos se afirmaram ao longo do séc. XX como o país que, fora da Europa, mais valorizou
(aliás, também em sentido pecuniário) o passado europeu, nomeadamente através da
aquisição e preservação de espólios de escritores e artistas do velho continente. Neste
sentido, o “indianismo” americano3 nem sempre parece libertar-se da utopia europeia da
razão. Sirvam de ilustração vários exemplos.
A Lilly Library da Universidade de Duke conserva o espólio de Ezra Pound. Dir-se-á que
se trata de um escritor americano, embora de facto Pound tenha predominantemente
vivido em países europeus a partir de 1908. Mas esta reserva já não se aplica, por exem-
plo, aos espólios de Lewis Carroll, James Joyce, D. H. Lawrence e Doris Lessing, todos eles
respeitantes a autores britânicos e a um escritor irlandês e guardados no Harry Ransom
Center, na Universidade do Texas, em Austin. Poderá replicar-se que aqui funcionará so-
bretudo o vínculo da língua, mais forte do que a separação geográfica ou política entre
os Estados Unidos e a Inglaterra e a Irlanda. Assim será, mas também esta reserva não se
aplica ao espólio de Marcel Proust na biblioteca de livros raros e manuscritos da universi-
dade do Illinois, em Urbana-Champaign. Como também não se aplica à Fales Library and
Special Collections da Universidade de Nova Iorque, onde podemos consultar os espólios
do escritor alemão Erich Maria Remarque e do compositor Richard Wagner. E continua a
não ter aplicação quando se pensa na biblioteca Beinecke de livros raros e manuscritos,
sediada na Universidade de Yale, pois lá se encontram espólios como os do escritor russo
Boris Filippov, do fundador do futurismo F. T. Marinetti, do polígrafo alemão Kurt Wolff ou
do autor polaco Witold Gombrowicz.
Estes exemplos bastarão para se perceber que, pelo menos no campo dos arquivos
literários, não parece haver nenhum “indianismo” nos Estados Unidos que prescinda da
memória de vários grandes escritores europeus, furando a lógica – por exemplo vigen-
te em Portugal, entre tantos outros países – de que os investimentos neste domínio só
são compreensíveis à luz de um vínculo nacional. Nota-se, pelo contrário, um padrão de
valorização comercial a uma escala que não é exactamente exclusiva do próprio país ou
de países com a mesma língua. De novo, o caso português mais digno de nota, raro por
enquanto, é o de Fernando Pessoa, cujo leilão de 2008 organizado pela empresa P4 foi di-
fundido em inglês, por exemplo, através da firma Symonds Rare Books, fazendo soar sinais
de alarme no território nacional. Em Agosto do ano seguinte, com vista à sua valorização
3 O “indianismo” da América é quase um topos no modo como intelectuais europeus vêem os Estados Unidos,
mesmo quando resulta de experiência vivida e não de observação remota. Christopher Hitchens, que mais tarde
obteria (com entusiasmo) cidadania americana, expressa assim a sua reacção inicial: “America seemed either too
modern, with no castles or cathedrals and no sense of history, or simply too premodern with too much wilderness
22 //
and unpolished conduct” [Hitchens 2011, 208].
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 22 13/05/2024 14:55:50
e protecção, o espólio pessoano seria classificado como bem de interesse nacional, numa
decisão que se acha acompanhada por definição de âmbito consideravelmente alargado.
É certo que, em vários aspectos fundamentais, o espólio de Eduardo Lourenço é bem
dissemelhante do seu escritor mais estudado, mas em outros há bastantes convergên-
cias. Além do da valorização pecuniária, amplamente divulgado nos meios de comuni-
cação social e discutido sobretudo nas redes sociais, interessa-me sublinhar um ponto
na definição de espólio pessoano que é divulgada pelo número do Diário da República
(1.ª série, 178, 14 de Setembro de 2009) no qual se determina a sua classificação como
bem de interesse nacional. Tenho em mente a parte que refere “documentos impressos
que se reconheça terem pertencido à sua biblioteca e ostentem marcas autógrafas de
utilização”. Aplicada esta definição ao espólio de Eduardo Lourenço, teremos de acres-
centar aos mais de 100.000 documentos que se estima existirem na Biblioteca Nacional
de Portugal os milhares de livros que tiveram como destino a Casa da Escrita, em Coim-
bra e, evidentemente, o ainda mais vasto conjunto bibliográfico que se encontra hoje na
biblioteca da Guarda.
A valorização desta parte do espólio pela Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço tem
sido notável, nomeadamente através de iniciativas que incluem, em 2012, a mostra “En-
tre páginas”, no quadro da comemoração dos 813 anos do Foral da Guarda, e que se
centrou nas primeiras doações de livros por Eduardo Lourenço; em 2019, a exposição
homónima “Entre páginas”, à época subintitulada “o esplendor da dispersão em livros da
biblioteca de Eduardo Lourenço”, e apresentada por António José Dias de Almeida; em
2021, a residência artística “Mãos que escrevem histórias” de Anabela Matias, que conce-
beu um conto a partir dos materiais do espólio egitaniense e, agora, a mostra organizada
no âmbito do centenário, com curadoria de Maria Manuel Baptista, Fernanda de Castro
e Beatriz Stutz.
De acordo com uma noção ampla e realista do que podemos chamar o espólio de
Eduardo Lourenço, talvez faça sentido perguntar pelas finalidades que lhe podem ser
destinadas. E talvez se possa começar a responder a esta questão, convocando a atitude
do próprio Eduardo Lourenço face a trabalhos de natureza filológica, que considero abar-
carem a reunião e organização de acervos bem como a elaboração de edições e de outros
estudos de incidência material.
Se tomarmos como corpus o conjunto de textos compilados no volume do Labirinto
da Saudade e outros ensaios sobre a cultura portuguesa, a palavra que mais rapidamen-
te os espólios evocam, filologia, aparece uma única vez e usada sem entusiasmo. Serve
para distinguir, na arena das interpretações concorrentes de Camões, a perspectiva assu-
mida por Teófilo Braga e a abordagem explorada por Oliveira Martins:
23 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 23 13/05/2024 14:55:50
a perspectiva de Oliveira Martins é sobretudo a do “filósofo da História” ou, tal-
vez melhor, do “sociólogo da Civilização”. A de Teófilo é, com mais propriedade,
a da “história literária”, tal como a primeira metade do século, filóloga e erudita,
a fora erguendo, atenta ao documento, à génese biográfica, às influências, mas
igualmente ávida de explicações sistemáticas, orgânicas, capazes de entrela-
çar o fenómeno literário com o movimento geral da civilização [Lourenço 2023,
166-167]
Não nos equivoquemos: por muito educada que seja a descrição desta diferença entre
Oliveira Martins e Teófilo Braga, o coração e o cérebro de Lourenço estão com o primei-
ro 4. Na mesma descrição, o próprio pendor cumulativo do paradigma que caracteriza a
perspectiva de Teófilo Braga (o documento, a determinação biográfica, o registo de in-
fluências, o pendor para a leitura orgânica, de reenvio perfeito do caso literário para a
marcha do mundo e vice-versa, e a lista poderia prosseguir) sugere uma prolixidade algo
desorientada.
Outro sinal deste reduzido interesse de Lourenço pela prática filológica fica patente
numa das suas crónicas de 2001 para a revista Sábado, onde escreveu: “é duvidoso que
alguma vez possamos gozar em relação ao poeta da “Ode Marítima” dessa espécie de paz
erudita que se liga à ideia de edição crítica” [Lourenço 2001, 114].
Isto é, enquanto em Portugal vários projectos editoriais concorrentes produziam re-
sultados pouco consensuais e tranquilizadores para os críticos pessoanos, em França a
Pléiade garantia a paz cuja falta era tão intensamente sentida por Lourenço. A paz, deve
dizer-se, resultará menos da leitura crítica que Patrick Quillier, o organizador desta publi-
cação, faz das edições pessoanas de referência [Quillier 2001, XCVII] do que da vocação de
vulgata que a Pléiade manifesta em relação ao mercado livreiro francês. De resto, o título
da crónica de Lourenço, “Pessoa entre os seus”, mostra bem a sensibilidade do autor de
Fernando Pessoa revisitado a esta faceta do cânone literário: uma lista de obras que se
manifestam acima de minudências materiais.
Aliás, o próprio Eduardo Lourenço tinha experienciado a ausência de paz em ano do
centenário pessoano, 1988. É nessa data que se publica, com um prefácio seu, a edição
Teresa Sobral Cunha do Fausto. O prefaciador – dizia-se – esperava sofridamente por uma
edição definitiva do texto, ao passo que o estabelecimento era o que Teresa Sobral Cunha
4 Estão com o primeiro, apesar de o epíteto “sociólogo da civilização” remeter para uma disciplina pouco cara a
Lourenço e que pouco o considerou. Tratar-se-á, já aqui, de um uso irónico do termo, conduzido a um sentido
24 //
entusiasmante graças ao complemento modificador “da civilização”?
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 24 13/05/2024 14:55:50
ia sempre afinando, sempre modificando aqui e ali, com uma decifração evolutiva que
evidentemente tornava incerta a redacção do texto introdutório.
Tendo isto em conta, quais seriam as expectativas de Lourenço relativamente ao seu
espólio? Estou em crer que uma das expectativas está directamente relacionada com a
paz erudita que agora mesmo referi. No espólio se encontraria a resposta para a angústia
que lhe provocavam as ininteligibilidades provocadas pela sua letra, os erros introduzidos
na composição tipográfica ou até nas provas de livros seus. Sirva de exemplo O Labirinto
da Saudade. Publicado em 1978, logo Lourenço se apercebeu de um número elevado de
lapsos tipográficos, que prontamente procurou identificar e corrigir em folhas A4. Apesar
de ter tencionado enviar um documento deste género às publicações Dom Quixote, os
responsáveis pela editora nunca o receberam ou nunca lhe deram seguimento. Mais tar-
de um exemplar corrigido também terá sido anotado com este propósito, mas também
ele foi desconsiderado. Este exemplar não tem hoje paradeiro conhecido, mas um outro,
igualmente corrigido, e aquela outra lista manuscrita de gralhas conserva-se no espólio.
São materiais deste tipo que permitem ou pelo menos facilitam a detecção de erros e
garantem a sua correcção.
Dois exemplos apenas:
Na 1.ª edição do Labirinto da Saudade encontramos: “Não fomos, nós somos uma pe-
quena nação que desde a hora do nascimento se recusou a sê-lo.”, mas o que Lourenço
escreveu foi o exacto oposto: “Nós fomos, nós somos uma pequena nação que desde a
hora do nascimento se recusou a sê-lo.” Noutra zona do livro, encontramos um aponta-
mento sobre os primeiros tempos do regime democrático e lemos: “O 25 de Abril, quer di-
zer, umas Forças Armadas e um povo que sabiam onde efectivamente estamos,”. Na ver-
dade, o que Eduardo Lourenço observou foi “O 25 de Novembro, quer dizer, umas Forças
Armadas e um povo que sabiam onde efectivamente estamos,” [Lourenço 2023, 73 e 94].
O uso correctivo, agora ilustrado, do espólio bastaria para se lhe justificar a existência.
Mas, fosse este o único uso a ser-lhe dado, teria razão quem diz que a publicação da obra
completa inutiliza o espólio. O raciocínio é de uma evidência cristalina: se o espólio se
apresenta como um garante da correcção editorial, uma vez publicadas as Obras Comple-
tas de Lourenço de acordo com o conjunto documental guardado na Biblioteca Nacional,
a sua função esgotar-se-ia. Tenho a este respeito uma posição sensivelmente diferente.
Vejamos: se a regra para a identificação de um lapso for a divergência em relação ao
testemunho manuscrito, corre-se o perigo de ignorar o trabalho de revisão e de correcção
de provas, cujos documentos, sobretudo para as publicações mais antigas, não parecem
estar integralmente preservadas no espólio. Também não é impossível que, aqui e ali,
25 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 25 13/05/2024 14:55:50
alguma tresleitura da sua letra tenha ocasionado palavras novas que Lourenço aprovou
em silêncio ou autorizou passivamente.
Tão ou mais importante, os livros publicados na colecção das Obras Completas não
obedecem aos mesmos princípios editoriais, em consonância com os posicionamentos
dos respectivos editores perante o texto e a situação testemunhal dos corpora estabe-
lecidos em cada um dos livros. No volume desta colecção que foi organizado por Isabel
Almeida o testemunho-base é substancialmente o documento de Eduardo Lourenço en-
viado aos periódicos que publicaram os seus textos obituários. Em aparente contradição,
o testemunho-base na edição que preparei de O Labirinto da Saudade foi o da última
publicação revista pelo autor. Há um conflito entre estas duas posições? Em teoria, sim,
como dá a entender Jerome McGann em 1991: a abordagem editorial de Isabel Almeida
parece seguir a visão de Hershel Parker, a que procurei realizar aparenta estar mais pró-
xima do entendimento do próprio McGann. Mas, neste caso particular, as posições apre-
sentadas reflectem antes uma avaliação precisa da situação testemunhal. Na esmagado-
ra maioria dos textos que compõem o volume dos Requiem, Eduardo Lourenço não teve
oportunidade de ver provas e a publicação destes textos obituários foi produzida muito
rapidamente, sujeita a lapsos de leitura e de reprodução, em especial quando o texto
circulou em forma manuscrita. Já na edição de O Labirinto, a maior parte dos textos que
a integra circulou em formato de livro, tendo o autor tido a possibilidade de ver provas,
ainda que este processo não tenha sido isento de dificuldades [cf. Dionísio 2023]. De resto,
nesta mesma edição uns poucos textos inéditos foram estabelecidos, como não poderia
deixar de ser, segundo o testemunho respectivo guardado no espólio, mas as normas
de transcrição que lhes foram aplicadas têm um claro cunho conservador, no respeito
pelo estado em que eles se encontram. Um estado, digamos, anterior à socialização do
texto tão encarecida por McGann. De facto, outros editores poderiam favorecer normas
que lhes conferissem aspecto mais padronizado, em abono da leitura, mais do que da
representação documental. Há, pois, tanto no domínio do testemunho-base, como no da
transcrição, mais do que um caminho viável e a colecção das Obras Completas, nestes as-
pectos e noutros, permitiu uma margem de manobra considerável a quem teve respon-
sabilidades editoriais. Portanto, a edição, na medida em que representa uma entre várias
possíveis explorações do espólio, não o inutiliza.
Mais importante ainda: todos os livros das Obras Completas, sem excepção, foram pro-
duzidos enquanto o acervo, primeiro, e o espólio, depois, ia sendo organizado. O trabalho
notável de João Nuno Alçada no recenseamento dos documentos por afinidades temá-
ticas e de publicação e a colaboração indispensável de António Ramalho no tratamento
da epistolografia não tiram que o espólio precisa de um inventário global, condição para
26 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 26 13/05/2024 14:55:51
que a edição seja realizada com níveis de segurança aconselháveis5. É compreensível que,
quando estão publicados 13 volumes das Obras Completas, a organização global assuma
no seu interior os conjuntos que foram fixados para efeitos desta colecção. Foi este, em
boa parte, o princípio aplicado no caso do espólio Fernando Pessoa, mas os resultados fo-
ram discutíveis e têm sido discutidos. Do meu ponto de vista, não vejo vantagem especial
em arrumar todos os materiais no suposto de se perseguir uma ordem perfeita segundo
a qual, por exemplo, todos os documentos escritos sobre a colonização estariam no mes-
mo sítio, localizando-se noutra zona todos os documentos sobre a construção europeia e
noutra ainda o núcleo documental completo sobre Camões. O que interessa, parece-me,
é que independentemente da localização, qualquer investigador ou profissional da cultu-
ra venha a poder reunir, de acordo com o seu interesse, informação sobre o paradeiro de
qualquer documento sobre qualquer assunto ou pertencente a qualquer título ou pro-
jecto de Eduardo Lourenço. É que a identificação da pertinência de um dado documento
em relação a determinado objectivo depende frequentemente da interpretação de cada
indivíduo. Sem surpresa, aliás, o próprio Eduardo Lourenço consagrou a possibilidade de,
na edição da sua obra, alguns dos seus textos aparecerem em mais do que um volume.
Neste sentido, o espólio pode, e talvez deva ser um lugar do caos, desde que haja um ins-
trumento de esplendor que lance luz sobre as ligações entre documentos de localização
diferenciada.
Quanto à parte do espólio bibliográfico agora distribuído pela Biblioteca Municipal da
Guarda e pela Casa da Escrita, gostaria de lembrar o seguinte. Como já foi oportunamente
indicado, no interior de vários livros foram encontrados documentos que têm evidente
estatuto arquivístico e algumas páginas dos próprios exemplares podem exibir, além de
dedicatórias de quem os ofereceu, anotações do seu proprietário. Não há pois diferença
funcional substantiva entre estes objectos e os documentos à guarda da Biblioteca Na-
cional. Mas, ainda que nada tivesse sido encontrado no interior dos livros e que nenhum
exemplar contivesse dedicatória ou apontamentos de Lourenço, esta parte do espólio
pode desempenhar um serviço de grande utilidade para o estudo do pensamento e es-
crita lourencianos. Várias vezes as citações feitas nos seus ensaios são-no de memória ou
com monitorização bibliográfica expedita. A conservação dos livros permite o estudo das
leituras realizadas por Eduardo Lourenço, finalidade com valor próprio, possibilitando ain-
da acompanhar com alguma precisão o uso que o autor lhes deu na sua ensaística. Tudo
5 Além de duas cartas de Snu Abecassis que gostaria de ter abordado na edição de O Labirinto da Saudade [cf.
Dionísio 2023], foi entretanto detectado o paradeiro de um manuscrito de Lourenço a que tive acesso apenas atra-
vés de uma transcrição. Trata-se de uma versão de “Pequena mitologia portuguesa” [cf. Lourenço 2023, 381-384]
localizada na pasta agora numerada 654. A arrumação de todo o espólio em capas numericamente identificadas
que foram colocadas no interior de caixas arquivadoras iniciou-se depois do fim (temporário?) do projecto das
27 //
Obras Completas e, na sua sequência, do expurgo a que os documentos foram sujeitos.
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 27 13/05/2024 14:55:51
somado, quer os documentos do espólio Lourenço, quer os livros da sua biblioteca hoje
distribuídos por várias instituições são vias para o conhecimento aprofundado do que terá
sido talvez o nosso intelectual público mais conhecido. Uns e outros são do conhecimento
de poucos e compõem uma imagem, para usar um adjectivo a que Lourenço recorreu no
prefácio a O Esplendor do Caos, “indianista” do futuro.
Bibliografia
Bíblia. s.d. Odivelas: Sociedade Bíblica de Portugal. https://www.biblia.pt/
Dionísio, João. 2023 (no prelo). “Umas linhas com urgência”: dinâmicas pós-textuais no Labi-
rinto da Saudade, de Eduardo Lourenço. In E. Martines & A. Ragusa (coord.), Il testo e le
sue dinamiche nelle culture di lingua portoghese (pp.15-23). Alessandria: Edizioni dell’Orso.
Feijó, António M. 2016. Uma Admiração Pastoril pelo Diabo (Pessoa e Pascoaes). Lisboa: Im-
prensa Nacional-Casa da Moeda.
Hitchens, Christopher. 2011. Hitch 22. A memoir. New York-Boston: Twelve.
Lourenço, Eduardo. 1999. O Esplendor do Caos. Lisboa: Gradiva.
Lourenço, Eduardo. 2001 (27 Dezembro). Pessoa entre os seus. Visão, p. 114.
Lourenço, Eduardo. 2020. Requiem para alguns vivos. Transcrição e fixação dos textos, intro-
dução, notas e revisão final de Isabel Almeida. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Lourenço, Eduardo. 2023. O Labirinto da Saudade e outros ensaios sobre a cultura portugue-
sa. Edição de João Dionísio. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
McGann, J. J. The Textual Condition. Princeton: Princeton University Press, 1991.
Queirós, L. M. 2015 (6 Fevereiro). Arquivo de Eduardo Lourenço: cem mil euros por cem mil do-
cumentos. Público, suplemento Ípsilon. https://www.publico.pt/2015/02/06/culturaipsilon/
noticia/arquivo-de-eduardo-lourenco-tera-mais-de-cem-mil-documentos-1685196
Quillier, P. 2001. Note sur la présente edition. In F. Pessoa, Oeuvres Poétiques, préface par R.
Bréchon, édition établie par P. Quillier (pp. LXXXVIII-C). Paris: Gallimard.
28 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 28 13/05/2024 14:55:51
Sobre o espírito da
Heterodoxia
29 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 29 13/05/2024 14:55:51
30 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 30 13/05/2024 14:55:52
Breves considerações à volta de Heterodoxias
João Tiago Lima
Praxis
Universidade de Évora
Se o primeiro volume de Heterodoxia foi recebido não tanto com indiferença, mas so-
bretudo com uma espécie de silêncio que, provavelmente, terá levado Eduardo Lourenço
a adiar por mais de dezassete anos a sua continuação, é forçoso reconhecer que o se-
gundo (e, de certa forma, último) tomo desta série provocou uma considerável repercus-
são entre leitores e amigos do autor. De facto, desde as recensões de Mário Sacramento,
Vergílio Ferreira, João Gaspar Simões, Eduardo Prado Coelho, António Quadros ou Óscar
Lopes, para citar somente os nomes mais famosos, até às cartas (publicadas no n.º 171 da
revista Colóquio-Letras de Maio de 2009) de Joel Serrão, Sílvio Lima, Adolfo Casaes Mon-
teiro ou António Ramos Rosa, não é possível dizer-se que Heterodoxia II tenha passado
propriamente desapercebida. Claro que há bastante heterogeneidade nessas reacções
ao livro de 1967, mas julgo que, mesmo no caso das leituras mais críticas, se encontra la-
tente uma sincera admiração pelo ensaísta heterodoxo. Vejamos o caso de Óscar Lopes,
cujo texto provocou uma quase imediata resposta do próprio Eduardo Lourenço, facto
bastante inabitual e sobre o qual me debrucei no prefácio ao primeiro volume das Obras
Completas. Trata-se de uma recensão crítica muito pormenorizada e bastante bem fun-
damentada, como seria de esperar. E, para além disso, coloca um conjunto de questões
extremamente pertinentes que acabam por ficar ofuscadas com a primeira frase do ar-
tigo em que o crítico fala de «um ensaísta católico da categoria de Eduardo Lourenço».
Ora, o certo é que durante muitos anos Eduardo Lourenço acabou por não elaborar um
terceiro volume de Heterodoxia, apesar de ter esboçado pelo menos uma tentativa, como
é facilmente provado pela existência de um índice manuscrito (cf. Imagem n.º 1), existente
no seu espólio, no qual se projectava uma continuação de Heterodoxia II. Nessa tábua
de matérias – e que poderemos datar, sem grande margem de erro, entre 1967 e o 25 de
Abril de 1974 – encontramos várias coisas interessantes. Assim, após um segundo prólogo
ao espírito da heterodoxia (Será um lapso? Não deveria ser um terceiro prólogo?), depa-
ramos com os seguintes títulos de capítulos: “Situação Espiritual Portuguesa”, “O Mito
da Comunidade Luso-Brasileira”, “Ensaio sobre o Ateísmo”, “O Exército e a Inteligentzia”,
31 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 31 13/05/2024 14:55:52
“Situação Africana e Consciência Nacional”, “Da Paz como Imperativo Histórico Supremo”
e “A Questão da Filosofia Portuguesa e a Filosofia Portuguesa em Questão”. É verdade
que alguns destes títulos serão hoje facilmente identificáveis. Por exemplo, “Situação Afri-
cana e Consciência Nacional” corresponderia, com certeza, ao que veio a ser o livro com o
título homónimo (Amadora, Génese, 1976, Col. “Cadernos Critério 2”), até porque, quando
o opúsculo é editado (naturalmente já depois do 25 de Abril, devido à delicadeza política
do tema colonial), Eduardo Lourenço esclarece os seus leitores que se trata de um texto
elaborado nos primeiros anos da Guerra de Angola. Por outro lado, é muito provável que,
mesmo que não haja uma total coincidência entre os dois títulos, “O Exército e a Inteli-
gentzia” venha, ao menos em parte, a desembocar em Os Militares e o Poder (Lisboa, Ar-
cádia, 1975). Tal como “O Mito da Comunidade Luso-Brasileira” acabará por ser, bastantes
anos volvidos, um dos capítulos dos volumes dedicados ao Brasil, organizados por Maria
de Lourdes Soares. Quanto aos outros, embora seja possível identificar certos manuscritos
inéditos que permitam antever o que poderia vir a ser essa nunca concretizada Hetero-
doxia III, eles talvez nunca tenham ido além do título. Ou se foram, o seu rasto perdeu-se...
Numa curiosa e muito longa entrevista a Ana Nascimento Piedade, realizada entre 2
e 6 de Abril de 2007, Eduardo Lourenço revelava por que motivo terá hesitado tanto em
concluir a edição do terceiro volume de Heterodoxia. Vejamos com alguma atenção o
passo da entrevista:
«– Acha que o espírito heterodoxo, visto com alguma profundidade, representa
o essencial de Eduardo Lourenço sobre Eduardo Lourenço?
– Sim, porque senão não voltava a pôr o mesmo título.
– Da segunda vez, ou seja, vinte anos depois.
– Da segunda vez e agora estou à espera da terceira. Eu não ponho a terceira,
porque eu sei que é a última e é por superstição que eu não quero pôr, porque
eu ponho o título e acabo. De maneira que não ponho a Heterodoxia 3. Mas
está todo completo.
– Está escrito?
– Está.
– Então, podemos falar sobre ele?
– Pode ficar para depois. Está escrito, estão uma data de coisas resumidas.
Ainda não escolhi todas, mas não sei…»
(Ana Nascimento Piedade, Em Diálogo com Eduardo Lourenço, Lisboa, Gradiva, 2015, p. 56).
32 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 32 13/05/2024 14:55:52
Quando foi decidido reunir no primeiro volume das Obras Completas os dois tomos
publicados de Heterodoxia, logo surgiu a ideia de se acrescentar o terceiro volume, até
porque havia no Espólio de Eduardo Lourenço uma pasta que guardava os textos que
deveriam compor a tal terceira parte. Que textos eram esses? Desta vez, já não apare-
cia um novo prólogo ao espírito da heterodoxia e surgiam alguns escritos anteriormente
publicados em lugares dispersos, bem como outros inéditos, a saber: “Nós e a Filosofia”,
“Montaigne ou o lugar vazio”, “Joaquim de Carvalho e a ideia de uma Filosofia portugue-
sa”, “O Poeta do religioso. Evocação de Sören Kierkegaard”, “À Margem de Quatro Livros
e de uma só Canção”, “A Linguagem em questão ou a Filosofia”, “O Lá-Fora de Portugal”,
“Nacionalistas e Estrangeirados”, “Circunstância de um Moralista”, “St. Agostinho – Tabu
do Ocidente”, “Kierkegaard e o Sistema”, “Da Evidência como Questão” e “A Invenção da
Filosofia como Praxis Cultural”. Que poderíamos concluir da consulta desta pasta e da sua
comparação com a tábua de matérias manuscrita de que se falou atrás? À primeira vista,
Heterodoxia III tem agora uma feição por assim dizer mais estritamente filosófica, retira-
dos que foram os textos sobre Portugal e as antigas colónias.
Não me foi por isso muito difícil compor a terceira parte de Heterodoxia, pois Eduardo
Lourenço já tinha praticamente escolhido todos os novos textos que vieram a comparecer
em Heterodoxias. Ainda assim, acrescentei a esta lista:
a) o ensaio redigido em francês com o título “Montaigne ou la vie écrite”;
b) uma recensão crítica sobre uma edição portuguesa dos Ensaios do mesmo
Montaigne;
c) dois excertos de textos inéditos manuscritos e inacabados que Eduardo
Lourenço entendeu preferível publicar assim mesmo;
d) um depoimento ao jornal Público sobre as relações entre Heidegger e o
nazismo;
e) um texto publicado no Brasil sobre as relações entre filosofia e literatura;
f) um texto sobre o filósofo José Gil;
g) uma conferência proferida em Salamanca sobre o conceito de Morte de
Schopenhauer a Unamuno;
h) uma conferência sobre Nietzsche;
j) o prefácio à edição portuguesa do livro Os filósofos e o amor.
33 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 33 13/05/2024 14:55:52
Decidiu-se também recuperar textos de natureza filosófica (embora o ensaísmo de
Eduardo Lourenço torne difícil que se defina quaisquer dos seus textos desta maneira de-
masiado simples) publicados ou redigidos em épocas contemporâneas dos volumes I e II
de Heterodoxia, integrando-os em secções com os títulos respectivamente de Tempo de
Heterodoxia I e Tempo de Heterodoxia II. Deste modo, julguei ter conseguido reunir todo
o ensaísmo filosófico de Eduardo Lourenço disponível em 2011. Lembro-me ainda que
Eduardo Lourenço excluiu deste volume Heterodoxias dois textos inéditos sobre o tema
da chamada Filosofia Portuguesa e que, de certa forma, poderiam caber aqui, dado que
na tábua de matérias há pouco mencionada estava previsto um texto precisamente com
o título “A Questão da Filosofia Portuguesa e a Filosofia Portuguesa em Questão”. Um dos
textos era uma resposta a uma crítica que Joel Serrão fizera aparecer em dois artigos de
O Comércio do Porto em Agosto de 1955 e nos quais este procurava demolir, sem dó nem
piedade, o grupo de Álvaro Ribeiro. O outro era uma crítica do próprio Eduardo Lourenço
ao mesmo Álvaro Ribeiro que, por vontade expressa do autor, continuou inédito.
Ora, o primeiro destes textos, intitulado “A querela da Filosofia Portuguesa. Carta a
Joel Serrão” não é, em bom rigor, totalmente inédito. É que em 9 de Maio de 2001, o pró-
prio Eduardo Lourenço facultou-me cópia deste manuscrito, o que me permitiu usá-lo
no texto da minha Dissertação de Doutoramento, onde o cito por diversas vezes. Assim,
quando preparávamos o primeiro volume das Obras Completas, recordei ao autor que
esse manuscrito já era conhecido de alguns leitores que eventualmente tivessem lido a
minha Dissertação, entretanto publicada em livro. Todavia, o argumento mobilizado por
Eduardo Lourenço para excluir “A querela da Filosofia Portuguesa. Carta a Joel Serrão”
das suas Obras revelou-se irrefutável. Cito de cor as suas palavras: «A verdade é que, dado
nunca escrevi mais nada acerca do Joel Serrão, não quero que se fique com a impressão
de que estou mais distante dele do que do grupo do Álvaro Ribeiro». Com efeito, “A que-
rela da Filosofia Portuguesa. Carta a Joel Serrão” é sobretudo uma crítica não ao grupo da
chamada Filosofia Portuguesa, mas sobretudo uma rejeição dos pressupostos dos quais
Joel Serrão parte para atacar esse grupo. Por isso, trata-se de um ensaio que não faz jus-
tiça ao valor intelectual que Eduardo Lourenço reconhece em Joel Serrão e sobre o qual
não tivera oportunidade (ou vontade) de escrever.
Sobre este novo título que pluraliza o conceito de Heterodoxia, Eduardo Lourenço
também fala numa entrevista concedida em 23 de Dezembro de 2011 à revista Actual do
jornal Expresso. Permitam-me que a cite:
« – A Gulbenkian começou a reeditar as suas obras. O primeiro volume chama-
-se Heterodoxias. Um plural que permite várias leituras…
34 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 34 13/05/2024 14:55:52
– Mas, sabe, esse título não é meu. O jovem filósofo que se encarregou desta
edição dá a isso uma interpretação da minha mudança, da pluralidade de he-
terodoxias. Ou seja, de uma certa incoerência ou equivocidade do meu próprio
conceito de heterodoxia. Eu não disse heterodoxias. Porque cela va de soi, no
sentido em que a heterodoxia é a exigência do discurso da diferença.
– Poderia ser um plural destinado a lançar um olhar irónico sobre a sua própria
criação original…
– Tem razão. Porque eu, com a Heterodoxia, não pretendo dizer que ela é a úni-
ca. Tem um sentido negativo. São os discursos da liberdade de discordar. Não
só dos outros como de si mesmo.»
(Eduardo Lourenço, entrevista por Rosa Pedroso Lima e Valdemar Cruz, Revista Actual de
Expresso, 23/XII/2011, p. 11).
Imagem nº 1
35 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 35 13/05/2024 14:55:52
36 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 36 13/05/2024 14:55:52
Eduardo Lourenço, Um Espírito Heterodoxo
Celeste Natário
Universidade do Porto
As marcas do longo e fecundo percurso intelectual de Eduardo Lourenço na cultura
portuguesa contemporânea, dos séculos XX e XXI, são razões suficientes para reflectir e
procurar aqui acrescentar algumas ideias para um acesso mais directo ao seu pensamen-
to, neste momento em que se homenageia o autor d’O Labirinto da Saudade.
O contributo de Eduardo Lourenço para o campo da Filosofia em Portugal é aquele
que mais chama a nossa atenção e, provavelmente, a dimensão à qual não tem sido dada
a devido relevo. O conceito de Heterodoxia tem, a este nível, uma particular e fundamen-
tal importância, por ser a chave do seu pensamento e obra e, ao mesmo tempo, pela
distância que o seu pensamento estabelece com alguns autores e tendências filosóficas
da época.
As suas primeiras obras publicadas, Heterodoxia I e II, atestam isso mesmo. Nelas,
Eduardo Lourenço expõe o que vem a ser essa sua posição, mesmo que, ao longo do tem-
po, tenha acrescentado novas aportações, procurando explicitar sempre, e cada vez mais,
essa tendência do seu pensamento e espírito. Eduardo Lourenço foi um claro espírito he-
terodoxo, apresentando em 1949, entre outras aproximações à heterodoxia, esta que nos
parece de grande expressividade, quando afirma: “é o humilde propósito de não aceitar
um só caminho pelo simples facto de ele se apresentar a si próprio como único caminho,
nem de os recusar a todos só pelo motivo de não sabermos em absoluto qual deles é, na
realidade, o melhor de todos os caminhos” .
Eduardo Lourenço sabia não ser fácil o caminho da heterodoxia e por diversas ve-
zes o afirmou, porque experienciava essas dificuldades continuamente. Podemos talvez
situar as suas maiores dificuldades iniciais, as que decorrem do convívio com as duas
tendências, ou visões, consideradas como “ideologias” e que nessa época conheceram
grande divulgação: o catolicismo e o marxismo, curiosamente as duas por razões políticas.
Com a primeira, teve Eduardo Lourenço uma natural relação, natural porque inserida no
contexto de uma educação recebida desde a infância. Contudo, esta vai ser depois ser
alvo do seu perscrutar analítico e crítico, sobretudo em Coimbra, onde vai decorrer a sua
37 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 37 13/05/2024 14:55:53
formação académica e na sequência dos desenvolvimentos da relação e situação política
e social portuguesa.
O Estado Novo, ao ligar-se à Igreja Católica, vai desvirtuar os princípios de uma religião,
que deixa de “estar ao serviço” de Deus e do espírito para passar a ficar ao serviço de uma
posição política, que não dialogava com uma concepção ética e social cristã em acordo
com um ideal de progresso e evolução humanistas, que boa parte dos intelectuais de
então, sobretudo aqueles com os quais Eduardo Lourenço se relacionava, partilhavam.
Por isso, a Universidade de Coimbra teve um papel fundamental na oposição ao regime.
Se o grande pólo da cultura portuguesa da época tinha Coimbra como centro –
obviamente, e sobretudo, por causa da Universidade –, isso justifica-se também porque
aí se criavam e desenvolviam movimentos culturais, onde grupos de intelectuais iam
aparecendo num movimento de contestação e enfrentamento social, político e cultural
de grande expressão.
Eduardo Lourenço é aí um protagonista, primeiro como estudante e depois como pro-
fessor. Mas, paralelamente, importa referir a importância do marxismo, que não só tem
uma importância decisiva na formação de boa parte desta geração, como um pouco por
todo o país, por influência das novas posições ideológicas e políticas que então se afirma-
vam um pouco por toda a Europa.
Próximo de toda esta efervescência, Eduardo Lourenço era um atento observador e
um interveniente cauteloso. Encontrando-se muito próximo de alguns intelectuais, es-
critores e artistas, com especial importância para o grupo da Presença, e designadamente
de Miguel Torga, Adolfo Casais Monteiro e Joaquim Namorado, entre outros, Eduardo
Lourenço seguiu um caminho muito próprio.
É assim num ambiente de grande convulsão e crítica, com o aparecimento de novas
propostas políticas, sociais e filosóficas, que Eduardo Lourenço vive e que os seus primei-
ros livros vão aparecer. É claramente um filósofo que vai emergir no contexto da história
da filosofia em Portugal, seguindo uma matriz filosófica “coimbrã” – não tivesse tido como
grande mestre Joaquim de Carvalho.
Essa matriz teve âncora naquelas que eram as grandes correntes filosóficas de então,
sobretudo a Fenomenologia e o Existencialismo, mesmo que outras, decerto não tão ex-
pressivas, pudessem ser conhecidas.
É de sublinhar ainda, no contexto filosófico português, a influência de António Sérgio,
por via do seu idealismo e do seu racionalismo, sendo que Antero de Quental vai superar
ainda mais o âmbito das aproximações ao pensamento do jovem Eduardo Lourenço, que
com os poetas vai encetar especial diálogo.
38 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 38 13/05/2024 14:55:53
Daqui podemos falar da relação da sua filosofia com a poesia, marca por um lado do
seu pensamento filosófico e, paralelamente, de uma heterodoxia, que o vai levar a uma
crescente admiração e irmanação maior com os poetas, em particular com Fernando
Pessoa, sobretudo o poeta construtor de heterónimos.
Entre a heterodoxia como atitude, como caminho, sobretudo como modo de pensar,
e a heteronímia como meio de expressão de uma diversidade contida numa unidade,
reside uma das facetas do percurso filosófico de Eduardo Lourenço. Ou um percurso que
concilia Filosofia e Poesia como meios para a própria compreensão das íntimas e comple-
xas questões que se colocam à existência. A Filosofia, por si só, não fora suficiente ao autor
de Heterodoxias, porque mesmo que a poesia não tivesse “a pré-evidência do sol” , ela é
“na totalidade da nossa existência um sol fabricado, mas a sua luz é a única que permite
distinguir o que dura do que morre, o que é digno do homem e o que não é. O que dura
os poetam o fundam.” (ibid.).
O seu constante diálogo com a Poesia foi uma matriz axial, e tendo ela ou não, como
base “recusar a verdade dos outros ou o espírito com que eles a vivem” , a sua posição ini-
cial face à Heterodoxia, o certo é que Eduardo Lourenço nunca entendeu que isso signifi-
caria que ele fosse encontrar a verdade. Mesmo assim, parece-nos que Eduardo Lourenço
encontrou um grande mestre: o Tempo, e com ele, seguindo Heidegger, que em Tempo
e Poesia, cita logo na abertura: “Mas se o homem deve algum dia chegar à vizinhança do
Ser, tem que aprender antes a existir no que não tem nome” . Da nossa interpretação do
pensamento lourenciano, que algum dia gostaríamos de desenvolver, terá sido para esta
aprendizagem que o espanto e o encanto do pensamento do nosso autor se encaminhou.
39 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 39 13/05/2024 14:55:53
40 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 40 13/05/2024 14:55:53
Ler Eduardo Lourenço
Do desconforto ao deslumbramento
Maria Manuela Cruzeiro
Universidade de Coimbra
Queiramo-lo ou não, todos nos escrevemos naquilo que, com razão ou sem
ela, os outros recebem como obra nossa. Alguma coisa de mim deve estar
no que, ao longo de meio século, e sempre como por acaso, fui escrevendo
(Eduardo Lourenço, Relâmpago, 2008)
Em si mesma, para cada um de nós, no momento em que nos toca como se
fosse o dedo de Deus, a poesia esconde-nos da morte. É o único céu portátil de
que estamos certos. Um céu de palavras que, de século em século, se comuni-
cam, a queimadura celeste que a vida deixou nos nossos vulneráveis corações.
(Eduardo Lourenço, 21 Poemas, 2017)
1. Inspirada pelo próprio título deste colóquio, Leituras de EL, começo por uma constata-
ção algo paradoxal, mas que é já quase um lugar comum: não é fácil ler Eduardo Lourenço.
Muito conhecido e pouco (ou mal) lido, as homenagens, prémios, doutoramentos, distinções
incontáveis, que teve em vida e que agora se replicarão nesta ano de celebração do seu
Centenário, por mais justas e merecidas que sejam, potenciam o efeito perverso de aumen-
tarem a sua visibilidade, ao mesmo tempo que aumentam também os níveis de desconhe-
cimento em torno da sua extensa e complexa obra. Acresce que, tanto obra como autor, só
passaram a existir para a esmagadora maioria dos seus conterrâneos após o 25 de Abril de
1974. Como constantemente afirmava, recusando vitimizações ou louros que julgava igual-
mente imerecidos, ele não se considerava um exilado, muito menos um refugiado. Nem se-
quer um emigrante, Apenas um “emigrante voluntário”. E seria fácil, porém não totalmente
justo, atribuir apenas à Censura esse longo e doloroso silêncio que as suas palavras tão crua-
mente traduzem: “Lá fora, durante anos e anos, persisti no deserto. Só quando escrevia sobre
41 //
alguém, recebia o eco na forma de uma carta, e depois caía o silêncio” (Lourenço,2008:175).
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 41 13/05/2024 14:55:54
Também nesse sentido vão as palavras lúcidas e frontais de Ana Maria Martins:“Na in-
tensa história de amor entre Portugal e EL são inegáveis a culpa e o remorso do país pelos
anos que passou sem quase saber da sua existência (com excepção de um grupo muito
restrito). Para ultrapassar o tempo perdido sufocamo-lo agora na nossa admiração, quase
lhe negando o sossego para prosseguir com a sua obra” (Martins,2008:69).
E agora, que o rio torrencial e luminoso da sua produção chegou ao fim, agora que a
morte recobre obra e autor com o halo da (im)possível eternidade – como ele próprio re-
petia,“nós só escrevemos porque nos julgamos eternos.” –, talvez seja tempo de lhe pres-
tarmos a única homenagem que lhe faltou em vida: Lê-lo. Com tempo, com trabalho, ins-
pirados porventura naquele pacto que M. Gabriela Llansol (uma das suas autoras) pedia
aos seus leitores: um “pacto de desconforto”. Sem ficar numa abordagem cómoda, mas
superficial e apressada, reduzida a estereótipos e clichés, muito úteis para polvilhar um
texto (qualquer texto, seja ele sobre desporto, moda, turismo, ou gastronomia!) com belas
citações, tantas e tantas vezes retiradas do seu contexto; mas também sem engrossar o
coro do consenso ou mesmo da admiração acrítica daqueles que, “vivendo como abelhas
enterradas e sufocadas pelo mel alheio, não vivem de outra coisa que do desejo e do so-
nho de que, ao menos uma gota desse mel tome um dia a forma do seu coração”(Lou-
renço,2016:196). De sinal oposto, tanto a leitura distraída e preguiçosa, como a admiração
elevada ao fulgor da canonização, não servem uma obra que, como poucas, merece e
exige ser lida e questionada na sua densidade reflexiva, na sua invulgar capacidade de
convocar uma pluralidade de saberes e procurar o sentido na dispersão, na hibridez e no
fragmentário.
2. Auto definido como “alguém disponível para pensar tudo o que merece ser pensa-
do, e mesmo o que não merece ser pensado”(Lourenço,2004), nem sempre a indisfarçá-
vel nota de ironia com que EL sinaliza a sua condição de ensaísta é devidamente captada
e a academia, onde a inteligentzia dominante teimava em considerar o ensaio um género
menor (que lhes perdoem os Montaigne, os Rousseau, os Sílvio Lima, os Blanchot...), foi
dos últimos redutos conquistados por aquele que em Portugal eleva o ensaio ao nível
dos seus maiores cultores internacionais. Foi lenta mas segura essa entrada, pela mão de
autores muito diversos mas ligados pela mesma paixão intelectual – José Gil, Fernando
Catroga, Eduardo Prado Coelho, Maria Manuel Baptista, Manuel Maria Carrilho, Pedroso
de Lima, Miguel Real entre outros – entre os quais modestamente me incluo – e hoje a fi-
gura ímpar de EL, nas suas múltiplas facetas, atrai cada vez mais estudiosos, demonstran-
do que a sua obra, sendo uma longa e interminável viagem por temas, lugares, tempos e
criadores (poetas, escritores, pintores, músicos, filósofos) de hoje, de ontem e de sempre,
42 //
é simultâneamente a morada de um pensamento de rara coerência, unidade e coesão.
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 42 13/05/2024 14:55:54
Um sistema filosófico-cultural de extrema riqueza e complexidade, que tanto está nos
ensaios de literatura, de arte, pintura ou música, como nos de política e história, e tanto
no suporte mais nobre dos milhares de páginas dadas à estampa ou nas publicações das
mais prestigiadas universidades portuguesas e internacionais, como no mais humilde
e descartável das páginas de jornais nacionais e regionais, ou nas publicações ditas “de
massas”. Não é difícil ver nessa atitude de generoso desprendimento um sinal eloquente
da sua curiosidade voraz e da paixão com que acompanhava o pulsar da vida na sua pro-
digiosa diversidade. A sua voz fez de tal forma corpo com o nosso tempo colectivo, que
mais do que memória ou inscrição, foi dele desejo e pulsão de futuro. O futuro que, como
ninguém, ele sabia captar no presente, “na surpresa, na contradição, no tumulto e no
desafio do presente”. É justamente esse mais fundo sentido da actualidade (é conhecida
a sua obsessão por jornais e o tempo diário que lhes dedicava) a sempre comprometida
atenção aos sinais dos tempos, que lhe fez atravessar incólume o fogo cruzado das es-
colas e correntes da filosofia, da cultura, da história, da crítica literária, a ponto de os seus
textos “não envelhecerem uma ruga, permanecendo tão luminosamente comunicantes
como há 30 ou 40 anos”. (F. Pinto Amaral)
3. Por muitos ângulos se tem tentado abordar o ensaísmo deste “simples” amigo de
poetas, como lhe chamou E. Prado Coelho na sua função desestabilizadora do edifício dos
saberes. E, longe de ajudar, ele é o primeiro a agravar essa já difícil tarefa, pela variedade de
fórmulas que ao longo do tempo foi encontrando para descrever o seu ofício: de “Kamikaze”
a “sismógrafo da tempestade alheia”, passando pela natureza particularmente “infeliz” ou
mesmo “irremediavelmente perdida” da sua aventura, EL não poupou nas tintas para assi-
nalar os desafios e riscos que corria, como praticante de um “género literário não identifica-
do”, bem como os limites a que irremediavelmente se condenava. Sabendo à partida que
nenhum intelectual tem o poder de mudar a realidade, mas no máximo mudar o olhar dos
outros e o seu próprio olhar sobre ela, ele sublinha que “um ensaísta luta em duas frentes,
mas a frente mais dura é aquela em que luta contra si mesmo, contra as suas próprias op-
ções, contra as suas mesmas ideias já fossilizadas”(Mesquita,1996:23/24). Na verdade, dessas
duas frentes de combate – contra os dogmatismos alheios e contra os próprios – são estes
os que mais exigem de si, como pensador nunca satisfeito, e muito menos instalado numa
atitude neutra, ou de um certo relativismo gnoseológico ou ético. Se assim fosse, não faria
sentido a procura, sempre falhada mas constante, daquilo que mais se aproxima da verda-
de, recusando quer as mais gritantes, quer as mais insidiosas formas da sua negação, numa
espécie de “exercício do desassossego contínuo”.
Tentarei de seguida analisar os traços essenciais desse exercício (outro nome para en-
43 //
saio) detectando ao mesmo tempo a sua presença no ensaísmo lourenceano: A começar,
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 43 13/05/2024 14:55:54
obviamente, pelo traço primeiro e matricial da heterodoxia. Sendo a condição básica de
todo o ensaio, é já um lugar-comum nos estudos dedicados a EL. Heterodoxo, essa es-
drúxula palavra, passou quase a ser um seu heterónimo. Inspirado porventura inicialmen-
te no seu mestre Sílvio Lima, para quem o ensaio era “a réplica da criação da vida livre so-
bre a ruína do autoritarismo” (Lima,1964:134), ele inicia o seu ambicioso e solitário projecto
logo com Heterodoxia I (1949), mais do que qualquer outro da sua vastíssima obra, um li-
vro-acto, pela ruptura tão íntima e pessoal com as duas ortodoxias vigentes no panorama
político, cultural, ideológico e religioso dos anos da sua formação: catolicismo e marxismo.
E também sinal de afastamento quase culposo em relação a qualquer um deles. Na ver-
dade, se a recusa do catolicismo/salazarismo, apesar de dolorosa pelo corte com as raízes
de aldeão e católico que são as suas, lhe não impediu de assinar algumas das mais lúcidas
e severas críticas a esse regime, a sua ruptura com o marxismo, que tanto entusiasmou
muitos dos seus melhores amigos e companheiros de Coimbra, reveste-se de tal gravida-
de, que chega a considerá-la um fratricídio. Nas variadíssimas referências (voluntárias ou
forçadas) que faz a esse “primeiro livrinho” são visíveis os sentimentos contrários, mas de-
cisivos, que lhe ficaram desse gesto inicial que frequentemente descreve ora com os tons
da melancolia, ora com a subtil ironia que esconde e recicla o fundo trágico declinado de
tantas maneiras em tudo o que escreveu: “Realmente isso foi um acto interessante, por-
que foi um acto de fuga. Um acto de fuga, porque assim escusei-me a ouvir os comentá-
rios, alguns deles pouco agradáveis, dos meus camaradas de geração” (Piedade,2015:246).
Na verdade, todos o sabemos, e ele melhor que ninguém, que mesmo que o desejasse
a fuga era impossível.... para trás deixava um rasto inapagável: “uma gota de silêncio no
seio de um clamor unânime”. E com ele levava a sua “fé heterodoxa”, passaporte para uma
viagem sem regresso nem destino seguro. E uma inesgotável paixão: “paixão circular da
vida por si mesma” como lembra o mito de Migdar (a serpente que morde em círculo a
própria cauda), cuja representação gráfica figura não por acaso nessa sua obra de estreia
e vai permanecer como símbolo identificador na extensa lista de títulos que vai dando à
estampa em contínuo durante mais de meio século.
Uma “fé heterodoxa” que recusa tanto o dogmatismo dos caminhos já feitos, como a
posição inversa do niilismo, que defende a inexistência pura e simples de qualquer cami-
nho. Aparentemente opostas, as duas posições aproximam-se frequentemente, contudo,
a ponto de podermos afirmar que uma é consequência da outra. Tal é, segundo EL, a mar-
cha do niilismo prevista por Nietzsche: quando se acredita que tudo tem um sentido, fa-
cilmente se cai na crença contrária de que nada o tem. O difícil será permanecer no meio
dos contrários, no epicentro de todos os sismos e abalos, na tensão criadora (poética) que
navega à estima, sem se refugiar no falso paraíso das crenças mais optimistas, nem se
afundar no vazio mais aterrador. É esse o lugar-outro, ou o não lugar da sua aventura
44 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 44 13/05/2024 14:55:54
intelectual feita de inesperadas e apaixonadas deambulações numa estratégia de aproxi-
mação gradual através de “uma escrita que estrutura no seu estilo espiralado uma relação
com o mundo” (Coelho,1994:138).
Profundamente ligado com o conceito-chave de heterodoxia, está naturalmente o
conceito de liberdade e total abertura. Tanto na escolha dos temas, como na sua forma
de tratamento. O ensaísta não escolhe o seu tema, mas é escolhido por ele, estimulado
ou provocado pelas circunstâncias. E o seu modelo mental é, segundo João Barrento, o
de uma força em expansão: “a partir de um centro, núcleo ideativo duro, pérola de ostra,
nó de rizoma, ponto e ponte de fuga (arquitectónica ou musical)”. E ainda: “A escrita do
ensaio pede espaço, quer ser deambulação (mas orientada), deriva (mas sem perder o
norte), labirinto (com zénite à vista), centro que é permanentemente descentrado, e a
que sempre se regressa”. (Barrento,1998:189). Tal atitude mental pressupõe, se é que não
exige, uma curiosidade insaciável, uma convivência natural com os mais variados temas
de reflexão, tratados com o prazer, a lucidez e a generosidade que sempre lhe inspirou “a
história efectiva dos homens”.
4. Um segundo traço, em meu entender ainda bastante desvalorizado, na obra de EL
e, contudo, indispensável contributo para a sua compreensão, é o uso da ironia, segundo
Lukács uma característica da prática ensaística em geral. Ironia que no caso de EL não é
incompatível com a sua visão trágica da existência (“trágica com algum optimismo para
suportar o mundo e se suportar a si mesmo”...), antes se constitui como uma defesa con-
tra o trágico e, ao mesmo tempo, a sua sobrevivência paradoxal. Ou seja, uma resolução
não trágica de situações trágicas. “A tragédia está na história, é inerente à história. Adoptar
a perspectiva ensaística não é ignorá-la. É tentar precariamente – sem isso cederíamos à
paixão totalitária – contê-la nos limites do humanamente aceitável” (Lourenço,1987:XII).
Muito sinteticamente, a ironia recuperando o seu sentido etimológico (suprema agu-
deza de espírito) e provocando um efeito de distanciação, manifesta-se na escrita en-
saística, em primeiro lugar, pelo uso do duplo sentido. Como aconselha de novo Lukács,
o ensaio deve ter dois títulos, prova da assumida incapacidade para poder desenvolver
directa e sistematicamente um pensamento sobre as coisas. Os exemplos não faltam na
obra de Lourenço. A começar no mais irónico (mesmo sem duplo título) O Fascismo Nun-
ca Existiu (1976), a continuar em O Labirinto da Saudade – Psicanálise Mítica do Destino
Português (1978), em Nós e A Europa – ou as Duas Razões (1988), em O Canto do Signo
(ou do Cisne...)– Existência e Literatura (1993), entre outros; e até nos mais recentes como
o enigmático As Saias de Elvira e Outros Ensaios (2006) ou o onírico Crónicas Quase Mar-
cianas (2016).
45 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 45 13/05/2024 14:55:54
Em segundo lugar, a ironia da estratégia dupla na relação com os temas, sempre oblí-
qua, indirecta, ou mesmo alegórica e metafórica. O chamado meta-discurso, ou discurso
sobredeterminado que, não falando do que julga/mos falar, se desloca constantemente,
dando origem a uma escrita entretecida de múltiplos fios labirínticos, em que as imagens
que os velam, são afinal a luz que os ilumina. Como escreve José Gil “nunca um ensaísta,
para escrever sobre o não-sentido e o Nada, deu a ver com tanta diversidade e profusão o
sentido de tudo” (Gil,1996:23).
Finalmente, a ironia da falsa conclusão, uma vez que toda a conclusão verdadeira se
revela impossível. O ensaio joga pois em dois tabuleiros: entre o discurso tautológico da
poesia e o discurso filosófico-literário, que acolhe “sistemas heterogéneos de apreensão
da vida a fim de os interrogar uns a partir dos outros e vice-versa, mas também a partir da
própria vida”. A heterodoxia volve-se assim em heterofonia, na feliz expressão de Patrick
Quillier. Uma espécie de composição de vozes dissonantes, de flutuações de pensamen-
to, cuja única possibilidade de resolução é o silêncio, ou seja, a ausência de conclusão. É
ainda P. Quillier que muito agudamente atribui um papel essencial no “dispositivo he-
terodoxo” de Lourenço ao uso constante da epígrafe. Quase sempre mais que uma no
mesmo texto, “espécie de diapasão cuja ressonância se estende a todo o texto”, mas que
ironicamente longe de procurar a harmonia, antes acentua o contraponto de ideias e o
movimento constante de as pensar a todas, “num entrelaçamento singular de pensa-
mentos, numa polifonia de palavras dirigidas com precisão mas não sem rubato (subtil
manipulação) por este chefe de coro experimentado que é EL.
5. Foi ainda Lukács quem definiu o ensaio como género intermédio entre a filosofia e
a literatura, palavras que quase parecem escritas a pensar na obra de EL. Não porque ele
habite o indefinido espaço intermédio, mas antes porque habita ambos tão intensamen-
te, que dele podemos dizer que a tão glosada troca da filosofia pela literatura não passa de
um artifício muito útil quer à obsessão classificativa dos críticos, quer à subliminar e irresis-
tível ironia do próprio autor. De outra forma, como ler passagens como “eu perdi a minha
Eurídice, a filosofia” ou “a história da minha decepção em relação à filosofia pode ser des-
crita também como a história da raposa e das uvas verdes”?... Na verdade, esse aparente
desvio, longe de significar um abandono da problemática filosófica da experiência trágica
da existência que atravessa toda a sua reflexão, em nome da literatura, ou mesmo um
relativo aligeiramento da densidade própria do discurso especificamente filosófico, antes
representa um aprofundamento e uma densificação de ambos, com base na convicção
de que são os domínos da criação artística, especialmente (mas não exclusivamente) lite-
rária, os melhores a traduzir o trágico, no que ele encerra de absolutamente individual e
46 //
único, irredutível a determinismos comuns e, muitas vezes até, contrariando-os. Não só o
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 46 13/05/2024 14:55:54
trágico existencial, mas também o trágico da criação. Como se a consciência dos enigmas
existenciais, dos terrorres e deslumbramentos da condição humana, preparassem o autor
para um contacto mais íntimo com a sua forma superlativa, a sua sintaxe mais perfeita:
os terrores e deslumbramentos da palavra. Como se a experiência da caoticidade e da
precariedade da vida desse passagem à experiência da caoticidade e precariedade da lin-
guagem. Como se a multiplicidade fragmentária da existência só pudesse ter tradução na
(im)possibilidade do discurso. Os milhares de páginas dedicadas ao fenómeno da criação
literária, desde as suas primeiras obras até ao seminal O Canto do Signo (1993), ilustram
essa progressiva consciência dos poderes e limites da palavra e, do mesmo passo, dos
equívocos que ameaçam a crítica literária em geral. Em seu lugar surge a sua metacrítica
(assim designada por se saber “quadratura impossível do círculo inexistente”) que contes-
ta a “pretensão à posse e à possibilidade de um critério justificativo de juízo valorante que
não é nulo por essa ausência, mas simplesmente injustificável”(Lourenço,1974:24). Injusti-
ficável e infundamentado, justamente pela inexistência de qualquer realidade mais funda
ou exterior à obra de arte, que possa fundamentar qualquer juízo sobre ela, uma vez que
ela se autojustifica e autofunda. A crítica literária clássica que se serve de critérios exterio-
res à própria obra para produzir juízos sobre ela, corre o inevitável risco de lhe permanecer
sempre exterior. Ao contrário, a desmedida ambição dessa nova crítica releva, exclusiva e
paradoxalmente, da consciência das suas limitações, porque afirmar o abismo e a ausên-
cia, é a única forma de os anular.
Crítica poética, crítica trágica, metacrítica... E. Prado Coelho chama-lhe antes, e com
feliz propriedade, crítica melancólica, por oposição ao que designa crítica fétiche, porque
resiste à sedução de “simulacros de apropriabilidade” que tenderiam a surgir, no fundo,
como esvaziados e cansativos exercícios sofísticos.
7. Apesar de incessantemente afirmada por críticos e estudiosos da mais variada pro-
veniência, parece, contudo, que raramente se tem sabido ( ou querido) retirar desta sua
ligação umbilical entre filosofia e literatura todas as consequências na avaliação das ver-
dadeiras linhas de força e dos horizontes da sua reflexão. Estamos de facto muito longe
dos procedimentos normalmente cometidos ao comentador, ou mesmo, num outro pla-
no de exigência, ao crítico. Recorrendo à célebre distinção de Roland Barthes, estamos
não perante um escrevente, mas perante um escritor, que se envolve por inteiro e sem
reservas nesse frente a frente sem vencedores nem vencidos, entre existência e literatura.
Esta relação entre existência e literatura (e aqui devemos ler linguagem) mostra que
estamos perante uma filosofia da linguagem entendida como matriz e fonte de todos os
outros sistemas simbólicos, raiz última e comum de tudo o que vivemos e pensamos. A
47 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 47 13/05/2024 14:55:54
linguagem apresenta assim uma dimensão ontológico– metamórfica enquanto activi-
dade que, ao relacionar-nos com o real, configura o próprio modo de ser do real. Na sua
forma analógica, simbólica, metafórica ou poética, ela é o único caminho para desvelar ou
dizer o real. Ou o que do real pode ser dito, porque a correspondência nunca se atingirá.
Na verdade, se por um lado, nome algum esgotará a realidade sem nome, por outro, é
sempre essa mesma realidade sem nome que nos faz falar, e falando, nos faz criar um
mundo onde uma modalidade ou outra de reconhecimento seja possível. Relação ori-
ginária e indeterminada, momento em que o “homem comparece diante de si mesmo
como realidade sem nome” (Lourenço,1993:39). Relação trágica, portanto, porque cons-
ciente “do abismo da existência e de tudo o que dela podemos enunciar, falhando-a”.
Optimista trágico, místico sem fé, ensaísta criador, super-português estrangeirado,
poeta do nosso pensamento, consciência crítica da nossa consciência, explorador, car-
tógrafo ou psicanalista do nosso destino comum, aedo ou corifeu, talvez a sua mais per-
feita definição resida nas palavras que escreveu, escrevendo-se, para um outro Eduardo
(Prado Coelho)– com o qual tanta coisa partilhou, a começar pelo nome ( o que de mais
nosso temos): “Toda a sua paixão irredenta e assumida pela obra alheia – todas as gotas
de beleza que compõem o colar da vida – poema, romance, quadro, sinfonia – não lhe fo-
ram mais que caminho para o seu próprio coração como ficção inesgotável de si mesmo“
(Lourenço,2016:197).
48 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 48 13/05/2024 14:55:54
Tempo Português
e Outros Tempos
49 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 49 13/05/2024 14:55:55
50 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 50 13/05/2024 14:55:55
Eduardo Lourenço – uma carta a Portugal
Margarida Calafate Ribeiro
Centro de Estudos Sociais
Universidade de Coimbra
Deste naufrágio de uma raça toda a gente se lembra, exceto os portugueses.
Das epopeias que perduram neste país tão folclórico de história nem uma pá-
gina o relembra. A História trágico-marítima é a dos portugueses devorados
pelo mar e pelos selvagens. Este espantoso silêncio esconde a aventura colo-
nial, a mais pura de toda a história. Tão pura que hesitamos chamá-la colonia-
lista. E, no entanto, ela é certamente uma entre outras, a primeira e a última
ainda de pé, sob a indiferença dos trópicos e o esquecimento do mundo. Este
esquecimento faz-nos pensar, mas explica-se. Portugal não foi o único país a
deixar-se esquecer desta maneira. No tempo das Grandes Descobertas a im-
portância cósmica desta aventura escondia aos olhos da Europa o colonialis-
mo nascente. Mais tarde, a mesma Europa teve também demasiado interesse
em esconder, em conjunto, este colonialismo.
Eduardo Lourenço6
Com alguma facilidade, mas também com seguro rigor podemos ler a obra de Eduar-
do Lourenço como uma longa carta a Portugal. É uma escrita e uma interrogação cons-
tantes: Portugal interroga Eduardo Lourenço e Eduardo Lourenço interroga Portugal. E o
ensaísta fá-lo a partir de alguns elementos constantes: a literatura, enquanto representa-
ção dialética da realidade de uma comunidade, e que é para o ensaísta o grande “arquivo
6 Este artigo resulta da investigação realizada no âmbito do projeto de investigação MAPS – Pós-memórias Eu-
ropeias: uma cartografia pós-colonial, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT – PTDC/LL-
T-OUT/7036/2020). O projeto está sediado no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra e é
coordenado por Margarida Calafate Ribeiro. Uma versão anterior deste artigo foi publicada na revista Seara Nova,
n. 1764, Outono 2023, https://searanova.publ.pt/2023/11/16/eduardo-lourenco-um-dialogo-com-portugal/
Eduardo Lourenço, “Colonialismo e boa consciência – o caso português”, in O Colonialismo como nosso impen-
51 //
sado, Lisboa: Gradiva, 2014 (Organização, prefácio e notas de Margarida Calafate Ribeiro e Roberto Vecchi), p. 347.
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 51 13/05/2024 14:55:55
da nação”; a história, e, em particular, a história de Portugal, desde a quase paradoxal fun-
dação da nação portuguesa marcada por uma “intrínseca fragilidade”, nas palavras do en-
saísta, à aventura marítima que tornou Portugal vanguarda da Europa, desde a excêntrica
perda do Brasil em 1822 ao momento do 25 de Abril de 1974; e, finalmente um terceiro
elemento, a experiência vivida, o seu tempo, o seu contemporâneo do Portugal salaza-
rista e do europeu do pós Segunda Guerra Mundial, a partir de alguém (ele próprio) que
está sempre dentro mas aparentemente fora de tudo. É esta posição que faz de Eduardo
Lourenço um ser absolutamente livre para pensar, ver e escrever a sua obra vastíssima,
escrita “à face do mundo”, para usar as palavras de Padre António Vieira, de que era leitor
ativo e circunspecto.
A literatura é a sua paixão e o centro orgânico do seu pensamento vem da análise da
literatura, o que oferece uma coerência e unicidades raras numa obra que pela sua diver-
sidade temática teria tudo para poder ser lida como dispersa e fragmentária. Mas não se
pense que se trata de um crítico literário, no sentido académico ou jornalístico do termo.
A sua forma escrita de comunicação é o ensaio, ou seja, aquela forma que melhor serve
um pensamento que se procura, pela vida e pela escrita, como lhe ensinou o seu mestre
Sílvio de Lima e, acima de todos, Montaigne.
O seu método é a heterodoxia, como aprendeu desde Coimbra enquanto aluno de filo-
sofia, vivenciando a sua juventude, ávida de conhecimento num país fascista e uma oposi-
ção marxista e de expressão literária e visual neo-realista. Por isso, também heterodoxia, um
saber simultaneamente “indisciplinado” e rigoroso, passe o só aparente paradoxo, exposto
em 1949 em Heterodoxia, e era a Europa em que se/ nos queria situar, era com a Europa
que queria dialogar a partir da vanguarda e da margem que era Portugal. Vanguarda por
Portugal ter sido a cabeça da Europa num momento pioneiro da história da Europa que se
lança na descoberta de outros mundos para si no século XVI; margem pela situação geo-
gráfica de extrema Europa em que se tornou também como história e, em particular no
momento histórico do desenvolvimento de Eduardo Lourenço como pessoa e pensador,
um país encerrado numa ditadura, pobre, longe dos movimentos do mundo e da Europa.
Os saberes ativados por Eduardo Lourenço para a reflexão sobre Portugal são múlti-
plos, bem como os seus autores, mas é clara a revisitação incessante daqueles que em-
preenderam com o Portugal que lhes foi contemporâneo um grande diálogo interpreta-
tivo – Luís de Camões, Vieira, Antero de Quental, Oliveira Martins, Eça de Queirós, Teófilo
Braga, Guerra Junqueiro, Teixeira de Pascoaes e depois Pessoa e os seus contemporâneos:
Miguel Torga, Vergílio Ferreira, os próprios neo-realistas, os presencistas, Cardoso Pires,
Maria Velho da Costa, António Lobo Antunes, Lídia Jorge, José Saramago, Gonçalo M. Ta-
vares e todos os poetas. Une-os a todos estes escritores, escritoras e poetas a forma como
52 //
através dos seus tempos discutirem e analisaram Portugal nas suas obras.
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 52 13/05/2024 14:55:55
Para Eduardo Lourenço e, na verdade para todos nós, a existência de um povo é intrin-
secamente histórica, ou seja, a realidade Portugal, França, Itália, Espanha declina-se a partir
de uma história comum, de muitas memórias e de vários mitos. Nesse sentido a identidade
é um atributo de uma existência histórica que muda e que se reelabora pelo contemporâ-
neo. É nesse sentido que falamos de identidade, uma reflexão traçada a partir de algumas
constantes, que produz imagens e mitos, ou seja, produz imagens da história. É assim que
Eduardo Lourenço utiliza o conceito de hiperidentidade. É antes de mais um conceito iró-
nico, que surge num contexto de enorme mutação em Portugal – queda da ditadura, fim
da Guerra Colonial, fim do império, democratização –, mas em que, apesar de tudo, parece
não haver dúvidas sobre o que é ser português, ou seja, Eduardo Lourenço não nos en-
contra problemas de identidade. Mas encontra sim problemas de identificação, ou seja, de
imagem. Esta reflexão percorre toda a sua obra das mais variadas formas, mas podemos
dizer que no ensaio “Portugal Identidade e Imagem”, Eduardo Lourenço realiza uma sínte-
se, no sentido em que é talvez o texto em que o ensaísta mais clara e sucintamente explica
a “questão” Portugal e a imagem da história. E a “questão” Portugal redonda também na
certeza que, desde 1958, o persegue: a de que não é possível compreender Portugal sem
compreender a sua dimensão imperial, ou seja, essa outra história de Portugal, sempre
presente, mas raramente nomeada e assumida, a partir da qual se ativa um dispositivo de
imagens da história, ou seja, de mitos. É na sua estadia no Brasil, como professor na Univer-
sidade da Baía, em 1958-59, onde essa história imperial e as suas heranças se tornam uma
evidência concreta no país que é o Brasil, que chega a esta conclusão:
“Curiosamente estamos nos anos 58-59 e esse é um momento em que no
mundo, em todos os continentes, se verificava o fim das descolonizações. E
evidentemente percebi que Portugal estava metido numa encruzilhada por
estar à beira de um precipício num ponto de vista da perda dos interesses co-
loniais, uma vez que Angola e Moçambique caminhavam para uma emanci-
pação inevitável. Mas em Portugal ninguém queria realmente saber disso. Foi
aqui no Brasil que, paradoxalmente, comecei a interessar-me por este tema
do império, da colonização, e no fundo foi aqui que nasceu a ideia de que não
se podia ter uma leitura da história portuguesa, da cultura portuguesa, sem
conhecer esta outra parte do que tinha sido o império português. Em última
análise, portanto, todo o arrière plan do Labirinto da Saudade tem a ver com
a minha estadia na Bahia […]”7
7 Eduardo Lourenço, https://www.eduardolourenco.com/biografia/1958-Brasil.html. In “A Miragem Brasileira” entre-
vista por Rui Moreira Leite, cf. Colóquio/Letras “Eduardo Lourenço – uma ideia do mundo”, nº171, maio/ agosto
53 //
2009, pp. 296 e sgs.
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 53 13/05/2024 14:55:55
Para quem teve o privilégio de passar tardes na sala da Biblioteca Nacional8 onde está
depositado o espólio de Eduardo Lourenço, tendo assim acesso a várias versões de conhe-
cidos textos, ou de versões iniciais de muitos textos fundamentais da obra de Eduardo Lou-
renço, é notória a sua preocupação, desde o final dos anos 50 do século passado, com o
problema colonial português. E, por isso, é para mim tão assinalável que numa versão, em
francês de um dos seus textos de reflexão sobre esta questão, posteriormente publicado
na revista Esprit, e intitulado O Labirinto da Saudade haja a sinalizável intenção de uma
modificação9. Indicado a lápis está uma outra palavra no lugar de saudade. Era o Labirinto
da Colonização. É que a questão colonial era, como bem nos explica Eduardo Lourenço
desde os seus textos iniciais sobre a questão colonial portuguesa, datados dos anos 1960,
um verdadeiro labirinto. E como frente a qualquer labirinto, real ou simbólico, a pergunta
imediata era: como sair daqui? Primeiro a partir de uma reflexão profunda sobre o que era o
colonialismo português na realidade e na imaginação da nação e, de seguida, avaliar o que
é que foi o colonialismo para o regime salazarista que o manteve até ao final caminhando
para a decisão mais radical de o /e de se manter, dando o início a uma resposta armada ao
longo de treze anos. Como é que estes dois temas – Salazarismo e colonialismo – a partir de
então ligados de uma forma indissociável se tornaram os dois impensados do regime e dos
portugueses, de acordo com Eduardo Lourenço?10 Em “Situação Africana e consciência na-
cional” escrito, como já sublinhado, entre 1961-63, portanto logo no início da guerra colonial
em Angola, o pensamento é claro, e o desafio está lançado.
“A nossa consciência nacional hipertrofiada, nosso refúgio durante séculos em
que a História nos deixou ser os “colonizadores inocentes” que nós somos, tor-
nou-se de repente nossa inimiga. E duplamente inimiga. Foi ela que nos cegou
para a visão de uma fragilidade de senhores de império, talvez não grande para
heróis de Quinhentos, mas terrível para os herdeiros moles da sua energia, ou
melhor, da sua clarividência, com raros amanhãs semelhantes aos que durante
8 Agradeço o olhar atento, cooperante e dialogante do organizador inicial de todo este arquivo, João Nuno Alçada
e a cumplicidade de investigação do meu colega Roberto Vecchi.
9 O artigo foi publicado num dossier intitulado “Le Portugal – aspects d’une démocratisation” na revista Esprit, em
janeiro de 1979 onde encontramos dois textos de Eduardo Lourenço: “Le Labyrinthe de la Saudade”, pp. 58 a 61 e
“Révolution avortée ou impossible”, pp. 26 a 32. O texto aqui publicado intitulava-se “Le Labyrinthe de la Saudade”,
mas no manuscrito original pode-se ler por baixo da palavra Saudade a anotação do autor “Colonização”. Seria
portanto de “Le Labyrinthe de la Colonisation”, 1979, mas foi publicado com o título original “Le Labyrinthe de la
Saudade”, como indicação em nota que se tratava de um excerto do texto “Psychanalyse mythique du destin por-
tugais”, de Labirinto da Saudade, Lisboa, Edição Dom Quixote, 1978.
10 Cf. Margarida Calafate Ribeiro, “Dois impensados” e Roberto Vecchi, “Impensado”, in Margarida Calafate Ribeiro e
54 //
Roberto Vecchi, Eduardo Lourenço – uma geopolítica do pensamento, Porto, Afrontamento, 2023, pp 89-122.
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 54 13/05/2024 14:55:55
séculos nos guardaram o Brasil e Angola. É ela que continua cegando-nos, sob a
máscara de último dever épico, impedindo soluções que uma consciência à al-
tura do que somos e podemos mais facilmente encontraria. Mas tal não admira,
pois essa consciência hipertrofiada representou e representa a expressão apenas
retocada de uma fuga diante de nós mesmos, que um Poder como o nosso é
incapaz de remediar no que precisa e tem remédio, por ser ele próprio a sua
acabada expressão política. O problema da colonização é o problema do País.
Mostrá-lo, tentar percorrer o labirinto da consciência portuguesa atual e, em par-
te, da dos cinco séculos de que é herdeira, é precisamente a não pouco ambicio-
sa pretensão destas considerações. De antemão a teríamos rejeitado se outros,
mais documentados e competentes, a tivessem tomado a sério como merece.” 11
Com compreender esta situação? Como chegamos aqui ? Quais são as imagens que
esta realidade esconde ou oculta, treslê ou relê?
Camões é um a caso sério para Eduardo Lourenço, primeiro pela sua genialidade, depois
pela narrativa que cria no género literário mais nobre, uma epopeia, na verdade a primeira
epopeia moderna europeia, construída a partir de um povo que desterritoraliza o centro
da epopeia do país natal, colocando-o no mar e fixando-o para sempre num vago Oriente,
que tudo ou nada contém. Mas Camões introduz nesta celebração a dúvida renascentista
em todo o seu poema12. No final de cada canto semeia a dúvida sobre o valor do que ele
próprio narra, faz um balanço, sobre o que se perde e o que se ganha: ama o conhecimento
humano adquirido no cruzamento dos mares, mas entristece com a violência e desumani-
zação que a aportagem nas novas terras traz aos navegantes; celebra as armas e as letras,
mas aponta a corrupção; espanta-se com o Outro com quem não comunica, mas é dele
que recebe as perguntas essenciais à sua própria identidade como fica patente na conversa
com o Rei de Melinde, nas costas africanas de Moçambique, que sagra um diálogo entre o
Ocidente e o Oriente e no qual Portugal (e a Europa que ali representava) se define:
– Os Portugueses somos do Ocidente,
Imos buscando as terras do Oriente. 13
11 Eduardo Lourenço, “Situação africana e consciência nacional”, in O Colonialismo como nosso impensado, Lisboa:
Gradiva, 2014 (Organização, prefácio e notas de Margarida Calafate Ribeiro e Roberto Vecchi), pp. 136-137.
12 Cf. Helder Macedo, Camões e a viagem iniciática, Lisboa: Abysmo, 2013; Fernando Gil, Helder Macedo, As Viagens
do Olhar – retrospeção, visão e profecia no Renascimento Português, Lisboa: Campo das Letras, 1998.
13 Luís de Camões, Canto I, 50, in Os Lusíadas, Lisboa: Instituto Camões, 1992. (Leitura, prefácio e notas de Álvaro Júlio
55 //
da Costa Pimpão; apresentação de Aníbal Pinto de Castro), p. 13, (1.a edição, 1572).
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 55 13/05/2024 14:55:56
Estes dois versos de Os Lusíadas resumem tudo – uma origem geográfica, uma reli-
gião, um poder, uma missão. É com Camões que Eduardo Lourenço dialoga sobre essa di-
mensão “compensatória” 14 que o império ofereceu à “pequena casa lusitana”, para sempre
descompensada e vertida em sucessivas crises. Praticamente desde o início do poema, o
poeta intuiu a “desproporção grandiosa entre o agente e a acção” 15 e, no final do poema,
face a tantas terras avistadas e conquistadas, torna-se quase visual a perceção de que a
grande epopeia que o poema celebra vai antropagizar a “pequena casa lusitana”, ou seja,
Portugal e, no limite, vai antropagizar a Europa, que Portugal no poema representa. Foi
assim no século XIX com a perda real do Brasil; foi assim com África, no século XX. Eduardo
Lourenço identifica os tempos a que se seguem estes momentos como “ressacas impe-
riais”, ressacas traumáticas que levam ao questionamento da identidade portuguesa e do
destino da nação. Assim foi no século XIX com Garrett e Herculano, assim foi com a Gera-
ção de 70, e no século XX, assim foi com a geração de Eduardo Lourenço.
Por isso, “Situação africana e consciência nacional”, escrito entre 1961-63, portanto pou-
co depois dos acontecimentos que conduziram à Guerra Colonial em Angola, mas publica-
do apenas depois do 25 de Abril de 1974, é um texto síntese de uma situação limite com a
espessura de séculos. No século XX português dos anos 60 é um texto equivalente a “Cau-
sas da Decadência dos Povos Peninsulares”, de Antero de Quental, na análise de fundo que
empreende da cultura e da política portuguesas, depois da queda do Brasil e nos alvores
do colonialismo moderno europeu que se desenhava em África. É a continuação deste
pesadelo que é analisado em este texto “Situação africana e consciência nacional” e são
estes os textos anteriores, que estão na génese de O Labirinto da Saudade e do conceito
de hiperidentidade.
Neles se regista, de forma irónica, que Portugal não tem, à maneira europeia, das Fran-
ças, Itálias, Alemanhas os Inglaterras, problemas de identidade, no sentido de ter várias
nações numa só que se identifica com o Estado. Mas mostram-nos bem que Portugal tem
problemas de identificação, ou seja, e como referi, de imagem. E O Labirinto da Saudade
é também o início dessa discussão na obra de Eduardo Lourenço, escrita face ao seu con-
temporâneo e do seu país, num particular momento de “aceleração da história”, que con-
juga o fim da ditadura, o fim do império e da guerra colonial, a descolonização e o encontro
de Portugal com a liberdade e a democracia. Os seus textos da época da revolução, publi-
cados na imprensa, analisam com grande lucidez e acutilância crítica o que é que de facto
14 A expressão é recorrente na obra de Eduardo Lourenço. Cf. o desenvolvimento da ideia em “Situação Africana e
Consciência Nacional”, em Eduardo Lourenço, O Colonialismo como nosso impensado, Lisboa: Gradiva, 2014 (Or-
ganização, prefácio e notas de Margarida Calafate Ribeiro e Roberto Vecchi), p. 134.
15 Eduardo Lourenço, O Colonialismo como nosso impensado, Lisboa: Gradiva, 2014 (Organização, prefácio e notas
56 //
de Margarida Calafate Ribeiro e Roberto Vecchi), p. 130.
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 56 13/05/2024 14:55:56
findava com o 25 de Abril e o que é que continuava, o que era recordado e o que era esque-
cido e a questão colonial permanecia como um enigma, um central não dito, um “segredo
público” para recorrer à expressão de Michel Taussig16. Afirma Eduardo Lourenço logo três
meses após a revolução de 25 de Abril, em Julho de 1974 num texto publicado no Diário de
Notícias: «é notório que uma parte da nossa classe política e a opinião com ela solidária (…)
age como se o “pesadelo africano” tivesse terminado na manhã de 25 de Abril»17.
O Labirinto da Saudade nasce destas reflexões e a definição de hiperidentidade a que
me referi e, no contexto em que aparece na obra de Eduardo Lourenço, é até de uma certa
confrontação para que o país se pudesse desembaraçar de uma história pátria que tinha sido
construída de forma acrítica, baseada em “descobertas” e heróis de uma narrativa infantilizada
ou ligada aos discursos do ditador Salazar em que era criada uma realidade paralela à que real-
mente Portugal vivia: a de um país pobre, na cauda da Europa, envolto numa história colonial
já fora do tempo provocando um atraso geral entre todas as populações que estavam sobre
a administração portuguesa. Os tempos finais dessa obsessão imperial foram permeados por
uma obsessão nacionalista em colaboração com um sistema racista na África Austral – a África
do Sul do Apartheid – em luta contra a libertação dos povos18. O seu fim foi a “maior tragédia
da nossa contemporaneidade”, nas palavras de Eduardo Lourenço, com o envolvimento de
gerações de jovens de um lado e de outro numa guerra – a nossa Guerra Colonial a Guerra de
Libertação em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau – que comprometeu as independências
das novas nações e levou à deslocação de milhares de pessoas.
A continuidade deste pesadelo na identidade e na intimidade portuguesa analisada
por Eduardo Lourenço logo em 1976 em “Situação africana e consciência nacional”, escri-
to, como referido em 1961-63 portanto logo após os acontecimentos que levaram à Guerra
Colonial em Angola, volta sucessivamente ao longo da sua obra em novos balanços refle-
xivos elaborados em ensaios de que destaco “Crise de identidade ou ressaca imperial” 19 e
“Do pesadelo azul à orgia identitária – trinta anos de política portuguesa”.20
16 Michael Taussig, Defacement: Public Secrecy and the Labor of the Negative, Stanford: Stanford University Press, 1999.
17 Eduardo Lourenço, O Colonialismo como nosso impensado, Lisboa: Gradiva, 2014 (Organização, prefácio e no-
tas de Margarida Calafate Ribeiro e Roberto Vecchi), p. 164. Publicado em O Fascismo Nunca Existiu, Lisboa:
Publicações Dom Quixote, 1976, pp. 77-89 e anteriormente em Diário de Notícias, 23 de Julho de 1974.
18 Cf. Maria Paula Meneses e Bruno Sena Martins, As Guerras de Libertação e os Sonhos Coloniais: alianças secretas,
mapas imaginados, Coimbra: Almedina, 2013.
19 Publicado inicialmente em Prelo, 1, outubro/ dezembro de 1983, pp. 15-22. Hoje disponível em Eduardo Lourenço,
O Colonialismo como nosso impensado, Lisboa: Gradiva, 2014 (Organização, prefácio e notas de Margarida Calafa-
te Ribeiro e Roberto Vecchi), pp. 273-284.
20 Publicado em Finisterra. Revista de Reflexão e Crítica, 35, setembro de 2000, pp. 7-16. Hoje disponível em Eduardo
Lourenço, O Colonialismo como nosso impensado, Lisboa: Gradiva, 2014 (Organização, prefácio e notas de Marga-
57 //
rida Calafate Ribeiro e Roberto Vecchi), pp. 285-297.
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 57 13/05/2024 14:55:56
Estes e muitos outros textos são já, e apesar de tudo, textos de alguma serenidade de
alguém que há muito tinha intuído que sem termos sido brasileiros, não seríamos os por-
tugueses que somos, da mesma forma que não seríamos os portugueses que somos hoje
sem termos sido moçambicanos, angolanos, guineenses, cabo-verdianos, são tomenses.
Ou seja, o tal mundo que o português criou na lógica analítica colonial e vertical de Gilber-
to Freire, que Eduardo Lourenço sempre questiona é, na análise do ensaísta subvertida e
centrada antes, no mundo que criou o português. Mas esta é uma conclusão a posteriori
de alguém que cedo percebeu que há muito as crises identitárias, políticas, económicas,
financeiras, são acima de tudo e sempre, crises culturais portuguesas, em que o grande
desafio visível ou paradoxalmente ausente, era a questão imperial, ou seja, esse Portugal
outro que sempre ultrapassou e compensou a “pequena casa portuguesa” que Camões
sempre viu ameaçada face à grandiosidade descoberta e conquistada.
O Labirinto da Saudade é portanto a primeira carta de Eduardo Lourenço a Portugal e
aos portugueses. A partir de então as cartas a Portugal sucedem-se à medida que Portu-
gal muda e, como é típico do género epistolar, a cronologia da escrita é central para esta
proposta de leitura de uma obra escrita sob a forma de cartas dirigidas a nós portugueses
nos nossos percursos, trilhos e margens.
Dez anos depois de O Labirinto da Saudade, Nós e a Europa ou as Duas Razões, de
1988, apresenta simultaneamente Portugal à Europa, e a sua complexa relação, mas re-
jeita a complexada relação com a Europa, mostrando que Portugal foi, ao longo da sua
história, o país mais europeu do mundo; Nós como Futuro, 1998, escrito na altura da Expo
98 seria uma outra carta sobre como Portugal reimagina a sua modernidade europeia,
com base na sua história marítima, sob o título “Oceanos: um património para o futuro”.
Significativamente, e também no seu sentido imperial (ou pós-imperial) europeu, Eduar-
do Lourenço chamou à Expo 98 “a última festa da Europa”.
No ano seguinte, 1999, surge uma nova carta, muito mais longa e sofisticada, com o
título Portugal como Destino, seguido de Mitologia da Saudade, ou seja, o que é o Por-
tugal pós-império.
2005 regista um livro-carta-síntese escrito após os momentos das comemorações dos
ditos “descobrimentos”, intitulado, A Morte de Colombo ou o fim do Ocidente como mito,
ou seja do Ocidente como projeto, na linha do que nos disse Edouard Glissant: “O Ociden-
te não é um ponto geográfico, é um projeto”21.
Poderíamos aqui ver cinco cartas longas a Portugal, e mais outras tantas ao longo da
obra do ensaísta escritas num “nós” tribal que compromete o ensaísta e nos converte a
todos em comunidade, e, por isso, sempre com cuidado e, sobretudo, com amor e lucidez.
58 //
21 Edouard,Glissant, Le Discours Antillais, Paris : Le Seuil, 1995, p. 12.
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 58 13/05/2024 14:55:56
Nesta lógica Do Colonialismo como nosso Impensado (2014) constitui uma nova propos-
ta epistolar que reúne todas as outras e que reforça o que ao longo das já citadas cartas se
define como a grande questão: Portugal, a questão colonial e as suas múltiplas heranças.
Quando eu e o Roberto Vecchi construímos com o Professor o que veio a ser o livro Do
Colonialismo como nosso Impensado, republicado recentemente numa edição revista e
aumentada, três imagens se colocaram diante de nós, imagens que de certa forma rea-
firmam tudo aquilo que vem sendo brevemente desenvolvido neste artigo: em primeiro,
o impacto da estadia no Brasil, a vivência num país sob a herança colonial portuguesa, os
contatos aí havidos, as publicações em Portugal Democrático e Portugal Livre e a escrita
do texto “O Brasil Caução do Colonialismo Português”. O império surgia assim como evi-
dência concreta no espaço do país Brasil, como herança e como ativo político, que aliás
Eduardo Lourenço reanalisa e de certa forma confirma, cinquenta anos depois, pela altura
das comemorações dos 500 anos do Brasil, em que a ausência nos textos comemorativos
da palavra “Descoberta”, centro da mitologia portuguesa, lhe mostra que o ponteiro da
História não bate na mesma hora para “descobridores” e “descobertos” e em que o Brasil
assume os 500 anos como seus, assumindo portanto como seu o tempo colonial, mas
rasurando contudo a sua inscrição índia anterior aos ditos 500 anos22;
mas ainda, e sempre em 1958, a segunda imagem é a da Europa, via França onde
um outro colonialismo, o de um país luz na democracia europeia se explodia na Guerra
da Argélia (1954-1962) e que o faz antever Angola, a “segunda Argélia”, nas palavras de
Franz Fanon, como surge em textos escritos na altura, mas só publicados depois de 25 de
Abril de 1974, em que se destaca “Situação Africana e Consciência Nacional”23; e refiro aqui
Frantz Fanon não apenas como citação, nem como teórico próximo de Eduardo Louren-
ço, mas para assinalar que a linguagem que Eduardo Lourenço utiliza nestes textos para
descrever o colonialismo, a sua violência pública e íntima e os seus efeitos prolongados
revelam uma proximidade de expressão com o psiquiatra e teórico da Martinica e depois
22 Cf. Eduardo Lourenço, “Quinhentos anos”, in O Colonialismo como nosso impensado, Lisboa: Gradiva, 2014 (Orga-
nização, prefácio e notas de Margarida Calafate Ribeiro e Roberto Vecchi), pp. 339-342.
23 Eduardo Lourenço, “Situação Africana e Consciência Nacional”, texto publicado em Cadernos Critério, 2, Venda
Nova/ Amadora, 1976. Em nota nesta publicação, o autor regista: «Estas reflexões fazem parte de um ensaio escrito
entre 1961 e 1963, e conservado inédito por motivos óbvios, dedicado ao problema do colonialismo português.».
Hoje disponível em Eduardo Lourenço, O Colonialismo como nosso impensado, Lisboa: Gradiva, 2014 (Organiza-
ção, prefácio e notas de Margarida Calafate Ribeiro e Roberto Vecchi), pp. 109-155. A opção dos organizadores foi
publicar neste capítulo os textos «Retrato (póstumo) do nosso colonialismo inocente I», anteriormente publicado
em Critério. Revista Mensal de Cultura, 2, dezembro de 1975, pp.8-11. «Retrato (póstumo) do nosso colonialismo
59 //
inocente II» foi publicado em Critério. Revista Mensal de Cultura, 3, janeiro de 1975, pp. 5-10.
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 59 13/05/2024 14:55:56
da Argélia, em expressões que definem o colonialismo como por exemplo, a “empresa
colossal de subordinação do corpo e alma alheia”24;
finalmente, uma terceira imagem, uma terceira parte de O Colonialismo como nosso
impensado que é dedicada às reflexões de Eduardo Lourenço sobre as heranças vivas des-
se ser imperial português hoje, em que se torna evidente o que teóricos do pensamento
pós-colonial, irão designar de colonialidade, ou seja, a permanência, no espaço público, na
política, na mentalidade do ethos colonial que fez da Europa o relógio do mundo e que
marca ainda um dos tempos, certamente melancólico 25, do nosso mundo contemporâneo.
Shakespeare, mais uma vez a grande literatura, fará Eduardo Lourenço produzir o pa-
rágrafo síntese sobre o momento longo do que foi o colonialismo moderno europeu na
história da humanidade, o seu final e dos seus prolongamentos e impactos hoje num
tempo que designamos, e bem, de pós-colonial, porque já não é o mesmo, na ordem
geopolítica do mundo, mas que reverbera ainda os seus efeitos sobre o nosso tempo po-
lítico e sobre nós, como sujeitos biográficos e culturais desse tempo, que é já um tempo
de heranças, e portanto de luto, como é o tempo de todos os herdeiros, de acordo com
Derrida 26. Referindo-se a nós portugueses de hoje, explica:
“…será longo o caminho a percorrer para que um dia existamos uns para os
outros fora do envenenado círculo de um mútuo e oposto ressentimento: o
das novas nações de terem sido colonizadas e o de Portugal de as “ter perdido”
como imaginário (e real) prolongamento seu.”
Para depois se abrir à Europa e à sua relação de poder com o mundo e, com a litera-
tura, concluir:
“Na aurora da aventura expansionista europeia um homem de génio pôde
imaginar a tragédia deste duplo ressentimento e oferecer à Europa conquista-
dora e mágica de Próspero a revolta brutal e futuramente justiceira do escravo
Caliban. Próspero perdeu o seu império, Caliban recuperou a sua humanidade
24 Eduardo Lourenço, O Colonialismo como nosso impensado, Lisboa: Gradiva, 2014 (Organização, prefácio e notas
de Margarida Calafate Ribeiro e Roberto Vecchi), p.123.
25 Referência a Paul Gilroy, Postcolonial Melancholia, Columbia University Press, 2006.
26 Jacques Derrida, Espectros de Marx. O estado da dívida, o trabalho de luto e a nova Internacional, Rio de Janeiro:
60 //
Dumaré, 1994, p. 79.
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 60 13/05/2024 14:55:56
servindo-se da magia de Próspero. Próspero desejaria que Caliban se lembras-
se da “educação”, da “ciência” (e porque não da “moral” e da “arte”?) com que o
mágico supremo o extraiu das “trevas coloniais”. Mas Caliban é o sem-memó-
ria, ou de uma memória-outra, a da longa humilhação do reino de Próspero,
da magia de Próspero, do fascínio de Próspero. Nós adivinhamos que rejeitará
Próspero, que um dia mesmo o assassinará. Para descobrir por sua própria
conta, liberto da opressiva tutela de Próspero, o preço doloroso mas vivificante
da sua magia. Tal é a lição da Tempestade: da de Shakespeare e da História.”27
Bibliografia
Lourenço, Eduardo (1958), «A França em questão ou o fim da liberdade como boa consciência»,
Jornal da Bahia, 28 e 30 de Outubro, Caderno 1, pp. 1-2. Acervo de Eduardo Lourenço, Dos-
sier França (AEL-DF), Biblioteca Nacional de Portugal, sob a direção de João Nuno Alçada.
Lourenço, Eduardo (1982), O Labirinto da Saudade, Lisboa: Dom Quixote (1.a edição, 1978).
Lourenço, Eduardo (1988), “Do Salazarismo como nosso impensado. Divagação anacrónica ou
ainda não”, in Semanário, 22 de Janeiro, pp. 54-56.
Lourenço, Eduardo (1990), Nós e a Europa ou as duas razões, 3.ª edição. Lisboa: Imprensa
Nacional Casa da Moeda.
Lourenço Eduardo (1999), Portugal como destino seguido de Mitologia da saudade, Lisboa:
Gradiva.
Lourenço, Eduardo (2005), Heterodoxia I, Lisboa: Gradiva.
Lourenço, Eduardo (2005), A Morte de Colombo – metamorfose e fim do Ocidente como mito,
Lisboa: Gradiva
27 Eduardo Lourenço, “Ressentimento e colonização ou o complexo de Caliban”, in Do Colonialismo como nosso
Impensado, Porto: Afrontamento, pp. 216-217. Note-se que Dominique-Octave Mannoni, psicanalista francês, pró-
ximo de Lacan, que passou dez anos em Madagáscar publicou Prospero and Caliban: The Psychology of Coloni-
zation, onde desenvolve a dimensão psicológica da relação colonizador-colonizado, atribuindo ao colonizador o
“complexo de Próspero”, caraterizado como alguém em fuga de um complexo. paterno, transferido em sentido
figurado para o colonizado; o colonizado é alguém dependente que acumula ressentimento. O livro foi criticado
por Frantz Fanon, mas teve impacto numa geração de encenadores. Dominique-Octave Mannoni, Psychologie
de la colonization, Seuil, 1950, posteriormente publicado em 1984 como Prospero et Caliban, e em 1997, como Le
raciste revisité. Aimé Césaire escreveu ele próprio a peça Une tempête, d’après « La Tempête de William Shakes-
61 //
peare: adaptation pour un théâtre nègre », Paris, 1969.
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 61 13/05/2024 14:55:56
Lourenço, Eduardo (2009) https://www.eduardolourenco.com/biografia/1958-Brasil.html. In “A
Miragem Brasileira” entrevista por Rui Moreira Leite, cf. Colóquio/Letras “Eduardo Lourenço
– uma ideia do mundo”, n.º 171, maio/ agosto, pp. 296 e sgs.
Lourenço, Eduardo (2014), Do colonialismo como nosso impensado, Margarida Calafate Ribei-
ro, Roberto Vecchi (org.). Lisboa: Gradiva.
Lourenço, Eduardo (2019), Antero Portugal como tragédia, Coordenação, introdução e notas
de Ana Maria Almeida Martins. Obras completas de Eduardo Lourenço. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian.
Outra bibliografia
Camões, Luís de (1992), Os Lusíadas, Lisboa: Instituto Camões, 1992. (Leitura, prefácio e notas
de Álvaro Júlio da Costa Pimpão; apresentação de Aníbal Pinto de Castro). (1.ª edição, 1572).
Derrida, Jacques (1994), Espectros de Marx. O estado da dívida, o trabalho de luto e a nova
Internacional, Rio de Janeiro: Dumaré, 1994. (tradução de Anamaria Skinner)
Gil, Fernando Gil, Macedo, Helder (1998), As Viagens do Olhar – retrospeção, visão e profecia
no Renascimento Português, Lisboa: Campo das Letras.
Gilroy, Paul (2006), Postcolonial Melancholia, Columbia University Press.
Glissant, Edouard(1995), Le Discours Antillais, Paris : Le Seuil.
Macedo, Helder (2013), Camões e a Viagem Iniciática, Lisboa: Abysmo.
Meneses, Maria Paula e Martins, Bruno Sena (2013) As Guerras de Libertação e os Sonhos Co-
loniais: alianças secretas, mapas imaginados, Coimbra: Almedina.
Ribeiro, Margarida Calafate, Vecchi, Roberto (2023) Eduardo Lourenço – uma geopolítica do
pensamento, Porto: Afrontamento.
Taussig, Michael (1999), Defacement: Public Secrecy and the Labor of the Negative, Stanford:
Stanford University Press.
62 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 62 13/05/2024 14:55:56
Eduardo Lourenço – as ideias fora
do lugar do colonialismo português
Nazir Ahmed Can
Universitat Autònoma de Barcelona
Serra Húnter Programme
No ensaio “As ideias fora do lugar”, publicado em 1973, Roberto Schwarz examina um
singular descompasso vivido na sociedade brasileira do século XIX: as ideias liberais –
como a liberdade do trabalho, a igualdade perante a lei e o universalismo – se dissemina-
vam com velocidade na Europa e desembarcavam com semelhante vigor no Brasil. Em
sua análise sobre este texto central para entendermos o Brasil da época de Machado de
Assis (e não só), Bernardo Ricupero mostra-nos que, embora incompreendida ainda hoje
por parte da intelectualidade do país, a análise de Roberto Schwarz é decisiva para com-
preendermos o embate desse conjunto ideológico com a escravidão, os seus defensores
e o seu sistema de impropriedades (Ricupero, 2008, p. 62). Nesse quadro, precisamente,
as pessoas que não eram escravas se relacionariam em todos os âmbitos (do comércio à
medicina) não apenas por via da força, mas também por meio do “favor”, categoria que
determinava a sua condição de homens livres (Ricupero, 2008, p. 60). Na síntese Roberto
Schwarz, recordemos, o “escravismo desmente as ideias liberais; mais insidiosamente o
favor, tão incompatível com elas quanto o primeiro, as absorve e desloca, originando um
padrão, particular” (Schwarz, 2007, p. 17). Assim, a professada universalidade dos princípios,
seguindo Schwarz e alguns analistas do seu ensaio, cai por terra com a prática do favor,
visto que, com ele, os interesses privados ganham centralidade. Abre-se o caminho, desse
modo, para uma autêntica “comédia ideológica” (Schwarz, 2007, p. 12; Ricupero, 2008, p.
60). No âmago da questão, como sempre, o desacordo entre a representação e o contexto
real, fenômeno muito comum em todas as nações, mas fundacional e particularmente
estruturante no caso brasileiro: “com método, atribui-se independência à dependência,
utilidade ao capricho, universalidade às exceções, mérito ao parentesco, igualdade ao pri-
vilégio, etc.” (Schwarz, 2007, p. 19; Ricupero, 2008, p. 60). As críticas que este texto recebeu,
discutidas de maneira rigorosa no texto de Bernardo Ricupero, não costumam tocar em
um ponto “externo”. Para Schwarz, importa lembrar, enquanto na Europa os ideais liberais
63 //
“correspondiam às aparências” (Schwarz, 2007, p. 12), encobrindo o essencial da exploração
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 63 13/05/2024 14:55:56
do trabalho, no Brasil o trabalho escravo e as relações de força eram normalizados e se re-
velavam sem subterfúgios (Schwarz, 2007, p. 12; Ricupero, 2008, p. 60). A ideia de “Europa”,
que atravessa o ensaio como um amplo arco comparativo relativamente ao Brasil, sinaliza,
mas não aprofunda, porque não era esse o seu objetivo, os diferentes pontos de partida
materiais e discursivos das nações imperiais . A república colonial francesa (Mouralis, 1999;
Bancel, Blanchard & Vergès, 2003) é, até mesmo pelo paradoxo que os termos da equação
engendram, um dos exemplos mais eloquentes do desvario imperial. Mas não é o único
nem o maior. Procuraremos, agora, a partir do mote – ainda atual – de Roberto Schwarz
e com o auxílio de Eduardo Lourenço, identificar e refletir sobre as ideias fora do lugar do
colonialismo português. O investimento que se segue é, naturalmente, bem mais modes-
to e não se apoia no mesmo método nem pretende atingir objetivos similares. Aproveita
apenas, e no máximo, o potencial metafórico do belo título de Roberto Schwarz.
Eduardo Lourenço não localiza na escravidão a expressão máxima da contradição por-
tuguesa, mas em algo que a abrange e a excede: o colonialismo. Do Colonialismo como
nosso Impensado, volume meticulosamente organizado há dez anos por Margarida Ca-
lafate Ribeiro e Roberto Vecchi e que em 2024 ganha, pela mão dos mesmos autores,
uma edição aumentada, permite-nos hoje observar a transversalidade do pensamento
de Eduardo Lourenço no que tange ao fato colonial. Os textos reunidos neste livro, a maio-
ria dos quais escritos entre os anos de 1960 e 1970, além do tratamento analítico que lhe é
conferido pelos organizadores do volume, reafirmam o ensaísta de São Pedro do Rio Seco
como o principal pensador português de seu tempo sobre o colonialismo. Privilegiando
o papel desempenhado pelo colonialismo português no quadro dos impérios europeus,
o livro permite-nos também observar o diálogo implícito entre Eduardo Lourenço e al-
guns dos principais nomes que, de outros pontos do mundo, ergueram a voz contra a
dominação imperial. As definições de Eduardo Lourenço, articulando ironia a uma boa
dose de impaciência, não raras vezes com o apoio do intertexto da literatura clássica e
sempre mobilizada por uma capacidade notável de expandir a metáfora, colocam o en-
saísta na vanguarda de um tempo que solicitava, de fato, uma nova leitura. O colonialismo
português é, para Eduardo Lourenço, uma “ficção monstruosa e sem-vergonha” (Louren-
ço, 2014, p. 123), “empresa colossal de subordinação do corpo e da alma alheia” (Louren-
ço, 2014, p. 123), que institui um “mecanismo infernal” (Lourenço, 2014, p. 123) a partir de
“mentiras cientificamente organizadas”, da “repugnante hipocrisia” e do “jogo criminoso”
(Lourenço, 2014, p. 45), elementos entrelaçados pelo mais profundo “primitivismo moral”
e pela “insensibilidade humana” (Lourenço, 2014, p. 46), expressão máxima de uma “má-fé
política visceral (Lourenço, 2014, p. 53).... O colonialismo português é ainda a “exploração
sistemática de terras e povos autóctones acompanhadas da tentativa mais radical ainda
da despossessão do seu ser profundo” (Lourenço, 2014, p. 66). Todas estas definições, até
64 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 64 13/05/2024 14:55:56
por sua vocação aforística, situam Eduardo Lourenço e Frantz Fanon, apenas para citar o
mais célebre intelectual contra-colonial e precursor dos estudos pós-coloniais, em uma
mesma constelação. Mas se a leitura desses dois pensadores sobre a violência colonial
converge em alguns momentos, Eduardo Lourenço, desde cedo também, demarca-se do
método e da visão de futuro de Fanon. Distância que mereceria uma análise mais detida,
que não caberá neste texto, ela deve-se possivelmente ao fato de ambos examinarem
o mesmo problema a partir de lugares, circunstâncias e experiências pessoais radical-
mente distintos. As diferenças entre ambos são, de resto, facilmente localizáveis. O que
surpreende, todavia, é a vizinhança de algumas definições quando a análise se centra no
papel desempenhado pelas potências coloniais em solo africano.
Transitando do geral para o particular com a mesma indisponibilidade para conces-
sões, Eduardo Lourenço identifica as singularidades do colonialismo português, gesto que
o coloca também em um lugar à parte. Com exceção dos intelectuais das antigas colônias
portuguesas, como Eduardo Mondlane, Amílcar Cabral ou Mário Pinto de Andrade, ape-
nas para citar três das mais importantes vozes africanas do seu tempo, a discussão à volta
das dinâmicas coloniais a uma escala global tende a não incluir os territórios de língua
portuguesa. Isso se dá, certamente, devido à pouca relevância internacional de Portugal
no século XX. Por outro lado, como se sabe, o trabalho e o legado de Gilberto Freyre con-
tribuíram para uma inusitada operação: os termos “singularidade” e “virtude” tornam-se
sinônimos quando em causa está a empresa colonial portuguesa. Na contramão destas
duas tendências, isto é, a do “colonialismo paralelo ou irrelevante” e a do “colonialismo vir-
tuoso ou sentimental”, Eduardo Lourenço observa algumas das mais aberrantes contra-
dições do império português. A primeira grande marca do império lusitano é, para ele, a
distância entre a realidade e o que dela se diz, situação dinamizada de maneira sagaz pelo
regime. Só nesses termos podemos entender como o sentido de exterioridade se torna
crucial para um regime fechado em si mesmo: “O que insinuamos é que enquanto portu-
gueses a situação africana é para nós um drama. Por mais que façamos não a podemos
ver de fora. Ora, é de fora, embora não o pareça, que o Regime a vê. Para ele, a situação é
ao mesmo tempo acidente e ocasião de epopeia. Por isso, tomar consciência dos fatores
desse drama é já de algum modo desarmá-lo, impedir que se converta em tragédia para
os atores nele implicados” (Lourenço, 2014, p. 121). Assim, se para Roberto Schwarz o de-
sacerto brasileiro configura uma comédia, para Eduardo Lourenço a situação portuguesa
transita do drama para a tragédia. E é “de fora”, precisamente, que se engendra a fraseolo-
gia que cava a distância entre “O ser ideal e o ser real da nação” (Lourenço, 2014, p. 127), a
“desproporção grandiosa entre o agente e a ação” (Lourenço, 2014, p. 130), o “desencontro
entre o presente e o passado” (Lourenço, 2014, p. 132), determinando, “como se o tempo
tivesse parado” (Lourenço, 2014, p. 133), “a excelente saúde que goza entre nós a mitologia
65 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 65 13/05/2024 14:55:56
colonialista, tão excelente que os seus termos em nada se alteraram desde o século XVI
até hoje” (Lourenço, 2014, p. 123-124). Estamos diante, portanto, de uma gramática fora de
lugar e, como sempre sucede nesses casos, deslocada também do tempo.
A reflexão de Eduardo Lourenço sobre o colonialismo e inclusive sobre o modo como a
descolonização foi digerida em Portugal confere também centralidade à ideia de “atraso”.
O atraso do império português revela-se não apenas pela duração do fenômeno imperial,
mas também pela inadequação entre o discurso de natureza arcaica e a realidade que
o abrigava. Fundada e dinamizada por materiais arquetípicos sem ancoragem no real, a
colonização portuguesa, para Lourenço, “conhecera melhores dias sob alguns reis” (Lou-
renço, 2014, p. 94). Articulando atraso e incoerência, a África portuguesa seria, para ele,
o destino de um “irrealista e catastrófico” (Lourenço, 2014, p. 85) projeto compensatório
da pequenez metropolitana (Lourenço, 2014, p. 134), a elaboração pífia de uma “aventu-
ra quixotesca” (Lourenço, 2014, p. 250) e “politicamente epidérmica” (Lourenço, 2014, p.
253), ancorada em “argumentos tão baixos” (Lourenço, 2014, p. 67) que faziam entrecruzar
“mística arcaica” e “delírio inconcebível” (Lourenço, 2014, p. 158). Seguindo a “mentalidade
única do seu Chefe” (Lourenço, 2014, p. 76), era mobilizada por um “analfabetismo có-
mico” (Lourenço, 2014, p. 50) e pelo “culto do milagrismo imbecil” (Lourenço, 2014, p. 50).
Tudo isso, para Eduardo Lourenço, fazia com que “entidades, instituições, personalidades,
interesses, no seu conjunto, constituíssem a sociedade burguesa e colonialista mais retró-
grada do mundo” (Lourenço, 2014, p. 158). Diretamente ligado à gestão das incongruên-
cias discursivas e à digestão do atraso, o esquecimento, esse parente próximo da mentira,
institui-se nos ensaios de Eduardo Lourenço como o eixo que faz, mesmo depois de Abril,
girar a roda colonial. A memória vem a ser um substituto do rabo que perdemos para
sempre, no feliz processo de evolução, irônica definição de Joseph Brodsky, citada por
António Cabrita (2016), que poderia resumir uma das grandes obsessões dos ensaios de
Eduardo Lourenço. Mais do que uma vez, de resto, o ensaísta definiu a nação colonizadora
como uma “ilha fora do tempo” (Lourenço, 2014, p. 326) e um “arquipélago de esqueci-
mento” (Lourenço, 2014, p. 345). Em causa está, em todos estes vereditos, a inconsistência
de um discurso acionado durante cinco séculos de uma missa/missão redentora afinal
tão desafinada. Em sua perspectiva, a situação da população portuguesa na metrópole, o
atraso material e epistemológico, o barbarismo e os milhões de “africanos não integrados”
(Lourenço, 2014, p. 72) seriam dados suficientes para desmentir a efabulação das “virtudes
civilizadoras” (Lourenço, 2014, p. 75).
A apologia multirracial de Gilberto Freyre, uma das últimas ideias fora do lugar do
regime, “tábua de salvação dos afogados” (Lourenço, 2014, p. 60), seria o signo definiti-
vo da fraqueza de um regime parado no tempo: “Para cúmulo, esse célebre sociólogo
cobre a fusão rácica com o manto do cristianismo como se fosse possível apresentar os
66 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 66 13/05/2024 14:55:56
paternalistas e duros senhores de escravos de que ele é descendente como samaritanos
do amor tropical” (Lourenço, 2014, p. 56). Não deixa nunca de surpreender a capacidade
de concisão de Eduardo Lourenço. Sempre mediada pela ironia, ela permite resolver em
três linhas uma equação que ainda hoje inspira acesos debates no mundo acadêmico.
Para ele, e também para o angolano Ruy Duarte de Carvalho, anos depois, era difícil de
digerir que Gilberto Freyre tenha dado, em fim de carreira, “prova de tanta falta de lucidez
quando se ocupou das razões e das feições coloniais portuguesas e foi visitar as colônias
que Portugal mantinha ainda, sem ter realizado pessoal, acadêmica e analiticamente que
tinha chegado, inexorável, o tempo das independências africanas” (Carvalho, 2008, p. 336).
O relato sobre os motivos e as características do colonialismo português, por um lado, e
sobre o tempo da enunciação, por outro, configuram um gesto duplamente fora do lugar
de Freyre e do regime que patrocinou a sua viagem aos “trópicos” africanos e asiáticos.
Visando o sociólogo brasileiro de maneira contundente em diversos textos, a análise de
Eduardo Lourenço sobre o fato colonial dá a dimensão do escândalo que constitui, entre
outros, Aventura e Rotina, obra de 1953 que ganhou uma segunda edição em 1980. Nessa
edição revista e atualizada, aliás, publicada em plena ditadura militar brasileira e seis anos
após a Revolução dos Cravos, Gilberto Freyre acrescenta algumas fotos de e com Salazar
para, nas legendas, reafirmar a sua admiração pelo antigo líder do regime português.
Eduardo Lourenço elege, pois, a contradição como o grande motor da nação coloni-
zadora e, para analisá-la, não apenas reage ao seu contemporâneo Freyre como também
localiza nos textos clássicos os seus interlocutores mais idôneos. Seu exame, como temos
visto, é desassombrado: convertendo o fa(r)do colonial em um improvisado e paroquial
certame da canção emitido em playback, apresenta um diagnóstico cortante sobre a
pequena nação que fabricou para si, com aferro e um insólito apego ao delírio, uma ima-
gem grandiosa. Em praticamente todos os seus textos sobre o problema colonial, Eduar-
do Lourenço faz entrecruzar dados estatísticos e o anacronismo discursivo do regime de
Salazar. Isto é, em um gesto diametralmente oposto ao de Gilberto Freyre, entrelaça as
dimensões quantitativa e qualitativa do problema. Para tal, faz-se servir, com reiterada
ironia, de termos como “fábula” e “mitologia”, “exemplaridade” e “inversão”. Não sem iro-
nia também, apoia-se, parece-nos, nos relatos de viagem de Heródoto. Quer dizer, para
examinar a mística arcaica e o discurso fora do lugar do regime, recua não apenas ao iní-
cio dos 500 anos de sua duração, como fez Freyre, mas a quase 500 anos antes de Cristo,
em particular à Grécia Antiga. Recorde-se que, em seus relatos de viagem, analisados de
maneira magistral por François Hartog em Le Miroir d’Hérodote (2001), Heródoto reflete
sobre a “thôma”, isto é, as maravilhas que se vão encontrando e que são classificadas em
função de sua variedade, raridade e proveniência. No quadro que apresenta, há algumas
tendências: 1) o indicador qualitativo acompanha sempre o indicador quantitativo das
67 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 67 13/05/2024 14:55:56
maravilhas (Hartog, 2001, p. 361). Isto é, são tão melhores quanto mais houver; 2) a quali-
dade intrínseca do lugar tem uma relação direta com a medida das maravilhas (Hartog,
2001, p. 361). Ou seja, quanto maiores forem, maior será também a singularidade do lu-
gar; 3) finalmente, e relacionado com a escala de valores que define o lugar: não há um
qualificativo puro para descrevê-lo, mas sim uma ordem de exposição, que vai do menos
ao mais extraordinário (Hartog, 2001, p. 361). As maravilhas descritas em seus relatos fun-
cionam, assim, como tradução da diferença entre o que existe “aqui” e o que existe “lá”
(Hartog, 2001, p. 357).
Se transferirmos este modelo para o tempo do regime salazarista, momento em que as
ideias fora do lugar atingem o seu mais elevado grau de paroxismo, e se estabelecermos
uma equivalência entre “maravilhas” e territórios dominados pelos “viajantes” do império,
veremos um quadro invertido: no que se refere ao primeiro ponto, que entrecruza quali-
dade e quantidade de maravilhas, o português não pode ser visto como o império de elei-
ção, pois detém muito menos territórios do que os impérios inglês e francês, fato que nem
o célebre slogan “Portugal não é um país pequeno” pode, naturalmente, mascarar. Além
disso, as circunstâncias sociais, econômicas e política na metrópole são, nos planos quali-
tativo e quantitativo, confrangedoras. Para Eduardo Lourenço, como vimos atrás, uma das
principais marcas do império português é a sua raiz compensatória, isto é, “necessidade
de pobre, num grau desconhecido de todas as outras formas de colonização” (Lourenço,
2014, p. 138); quanto ao segundo ponto, que relaciona qualidade e tamanho, o regime sa-
lazarista e os seus apoiantes, com Gilberto Freyre à cabeça, tendem a eleger Goa – cuja su-
perfície não alcança os 4 mil quilômetros – como modelo final de um colonialismo exem-
plar. Sobre a dimensão asiática do império português, a síntese de Lourenço é, uma vez
mais, afiada: “Império, mesmo com toda a ficção que isso comporta, só tivemos um: o do
Oriente, o da Índia e só delirámos, não só enquanto lá estivemos a sério, mas quando nele
estagnámos conservando-o vivo na sua função onírica. Há mais de cem anos que não fa-
zemos outra coisa que estar, revisitar, comemorar, sonhar não as Índias que houve, mas as
que não havia nem podia ter havido” (Lourenço, 2003, p. 30). Finalmente, no ponto 3, que
determina a escala de valorização das maravilhas, seguindo o princípio que vai da menos
à mais extraordinária, chama a atenção a escassez de referências a certos territórios, como
São Tomé e Príncipe, no discurso autolaudatório do regime. O predomínio de Goa, Angola
e Moçambique no século XX é avassalador, inclusive no principal manual orientalista do
regime, o já citado Aventura e Rotina. São Tomé e Príncipe ou Guiné Bissau não cabem,
por uma série de razões, no conteúdo “da grandeza arquétipica da nação colonizadora”
(Lourenço, 2014, p. 132). Após as independências, havia nestes territórios entre 98 e 99 por
cento de pessoas iletradas. Foi esse o legado “civilizacional” de séculos de dominação,
confirmando, uma vez mais, o desencontro entre as ideias veiculadas e o contexto real de
68 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 68 13/05/2024 14:55:56
enunciação dos defensores do “colonialismo brando”. Apesar dessa fragilidade insalvável,
ou devido a ela, o regime converte Portugal em uma nação “indispensável aos negros
e índios, quando o mais evidente é que são eles que nos são indispensáveis” (Lourenço,
2014, p. 72). A tendência para se afirmar como império “necessário” é, pela reiteração do
uso, inclusive em alguns discursos produzidos em tempos pós-coloniais, outra singulari-
dade da história portuguesa em África. A efabulação do império inverte, portanto, o qua-
dro de Heródoto. Eduardo Lourenço, sem contemporizar a mediocridade de uns ou o
engodo de outros, mostra que as ideias fora do lugar do regime poderiam ser destapadas
antes mesmo de Cristo: “Sociólogos hipócritas chamam a este fenómeno ‘aculturação’. Os
nossos clássicos eram mais honestos” (Lourenço, 2014, p. 67). Para o ensaísta, é evidente
que, no caso português, quanto mais irrelevante se apresenta no quadro geral dos impé-
rios, maior dedicação retórica será conferida ao seu colonialismo. Desde cedo se mostrou
consciente que, diante dessa tendência, todos nós “podemos situar a nossa fantasia em
múltiplos cenários ao mesmo tempo e nos devemos interrogar sobre se as diferentes nar-
rações do mundo são ou não são compatíveis entre si” (Carvalho, 2008, p. 117). Sabia ainda,
também como poucos, que “quem mói no áspero não fantasia” (Carvalho, 2008, p. 117). As
duas sínteses de Ruy Duarte de Carvalho, embora não projetadas para Eduardo Lourenço,
poderiam ilustrar com certa precisão a sua postura intelectual.
Regressando ao início deste texto, cabe então indagar: o que faz do colonialismo o
grande “impensado” português? No Portugal de Eduardo Lourenço, a categoria que per-
mite o fluxo das ideias fora do lugar, absorvendo-as e deslocando-as, e contribuindo para
o engendramento de um padrão particular, é o silêncio. A “máquina de silêncio” (Louren-
ço, 2014, p. 84), a “cortina de silêncio” (Lourenço, 2014, p. 157), o “irrespirável e criminoso
silêncio (Lourenço, 2014, p. 158), o “fantástico silêncio nacional” (Lourenço, 2014, p. 165), a
“intensa desmobilização verbal” (Lourenço, 2014, p. 176), a anormal “abstinência”, como
se entre nós nada tivesse ocorrido (Lourenço, 2014, p. 191), a “vigência imperturbável do
silêncio” (Lourenço, 2014, p. 265), a “aproblematização voluntária” (Lourenço, 2014, p. 267),
a “demissão voluntária” (Lourenço, 2014, p. 165), a “insólita ocultação” (Lourenço, 2014, p.
267) são expressões que pairam em sua análise sobre o colonialismo e as diversas eta-
pas do processo de descolonização. O silêncio português, portanto, desempenha o mes-
mo papel que o favor brasileiro, analisado por Roberto Schwarz: através dele se alcançam
fins sem a necessidade de lidar com os meios (Lourenço, 2014, p. 116). Para Lourenço, em
suma, o silêncio será “a clara manifestação da incapacidade geral de descer aos desvãos
da sua realidade colonial que, por natureza, é invisível, enquanto tal, para olhos metropoli-
tanos” (Lourenço, 2014, p. 116). A partir de um mote dado por Mark Twain, António Cabrita,
um dos grandes leitores de Eduardo Lourenço, relembra-nos também que “não nos liber-
tamos de um hábito atirando-o pela janela: é preciso fazê-lo descer a escada, degrau por
69 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 69 13/05/2024 14:55:57
degrau – e poderíamos citar um hábito como o silêncio” (Cabrita, 2020). Os dois ensaístas
portugueses alertam-nos, claro, para a impossibilidade de inscrição sob o silêncio. O silên-
cio é o chão do impensado. Ao recuar a Heródoto, Eduardo Lourenço parece querer nos
falar de todos esses séculos que se acumulam e se inscrevem no tempo e no lugar que
lhe couberam em sorte. Não sem uma boa dose de espanto, claro. Mas o espanto não o
paralisa. Pelo contrário. A partir dele, decide situar sua análise no impensado, esse “gran-
de embaraço” português. O embaraço, para Ruy Duarte de Carvalho, são “as moscas que
os cadáveres sempre atraem e tanto chocam a consciência urbana (...), o embaraço que
sucede o embaraço: o de dever encarar e ter em conta a permanência, a sedimentação,
a perpetuação de certos embaraços e a crise que a queda da sua justificação provoca. E
o impasse, com tendência a perpetuar-se também, do novo embaraço que se instala e
segue” (Carvalho, 2008, 349). Ao fazê-lo, ao dedicar tantas páginas ao grande embaraço,
abriu um caminho que paulatinamente tem vingado. Desde sua chegada, o estudo das
moscas e do pó colonial – essa poeira de outros tempos que se acumula em nossos es-
paços, produzindo formas insuspeitadas do já visto – tem recebido visitas de olhares de
diversas áreas do conhecimento.
Abalando com uma ironia melancólica o quadro mítico da expansão portuguesa no
mundo, soube ver, ainda como diria Ruy Duarte de Carvalho, “que o real se faz mesmo é
de repetições e simetrias, acasos, encontros e convergências, e que o que estão mesmo a
pedir é decifrar-lhes continuidades” (Carvalho, 2010, p. 19). Certamente, Eduardo Lourenço
– como Roberto Schwarz no Brasil, Ruy Duarte em Angola ou António Cabrita em Por-
tugal e Moçambique – preferiria não ter de se deter nos cúmulos e nos acúmulos do pó
colonial. Mas foi precisamente por não se ter contentado com mínimos que, de um lugar
distante, seu pensamento se universalizou . E faz hoje muita falta. Para Roberto Schwarz,
o paradoxo fundador do Brasil motivará “a espantosa visão de Machado de Assis” (Sch-
warz, 2007, p. 27). É Machado, também por isso, o grande pensador fora de lugar da jovem
nação. O mesmo pode ser dito, sem grande hesitação, sobre Eduardo Lourenço. Em um
tempo pouco propício para tal, foi dos raríssimos intelectuais sensíveis “à imagem de Por-
tugal no espelho dos outros” (Lourenço, 2014, p. 302). Quando a temática é o impensado
colonial, a sua obra evidencia o embate estelar, um dos maiores do século XX em nossa
língua, entre o intelectual e a sua terra. Em seus textos, Portugal e autor confundem-se
na desmesura. A nação pelo descompasso entre dimensão territorial diminuta e projeção
histórica arquetípica. O ensaísta pela profundidade e pela plasticidade de uma reflexão
que não se furta aos abismos. Aliás, se voltarmos a Heródoto, que pensou a história a partir
de uma específica articulação com a geografia, entenderemos por que motivo o “Egito é
uma dádiva do Nilo”. Do mesmo modo, não seria ousado afirmar que o pensamento por-
tuguês sobre o fato colonial é uma dádiva de Eduardo Lourenço.
70 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 70 13/05/2024 14:55:57
Bibliografia
Bancel, Nicolas; Blanchard, Pascal; Vergès, Françoise. La République coloniale: Essai sur une
utopie. Paris, Albin Michel, 2003.
Cabrita, António. “Exílios & Insílios”. hojemacau, 26-07-2020. Disponível em: https://hojemacau.
com.mo/2020/07/30/exilios-insilios/
Cabrita, António. “Um Diário Líquido 1”. Revista Caliban, 2016. Disponível em: https://revistaca-
liban.net/um-di%C3%A1rio-l%C3%ADquido-1-95b4fa62d6ee
Carvalho, Ruy Duarte de. a câmara, a escrita e a coisa dita... fitas, textos e palestras. Lisboa:
Cotovia, 2008.
Carvalho, Ruy Duarte de. Desmedida. Rio de Janeiro: Língua Geral, 2010.
Freyre, Gilberto. Aventura e Rotina: sugestões de uma viagem à procura das constantes por-
tuguesas de caráter e ação. Rio de Janeiro: José Olympio, 1953.
Hartog, François. Le Miroir d’Hérodote: essai sur la représentation de l’autre. Paris, Gallimard,
2001.
Lourenço, Eduardo. “Os girassóis do império”. In: Margarida Calafate Ribeiro & Ana Paula Fer-
reira (org.), Fantasmas e fantasias imperiais no Imaginário português contemporâneo,
Porto: Campo das Letras, 2003, pp. 29-41.
Lourenço, Eduardo. Do colonialismo como nosso impensado. Organização e prefácio de Mar-
garida Calafate Ribeiro e Roberto Vecchi. Lisboa, Gradiva, 2014.
Mouralis, Bernard. République et colonies, entre mémoire et histoire. Paris, Présence africaine,
1999.
Ribeiro, Margarida Calafate & Vecchi, Roberto. Eduardo Lourenço. Uma geopolítica do pensa-
mento. Porto, Afrontamento, 2023.
Ricupero, Bernardo, “Da formação à forma: ainda as ‘idéias fora do lugar’, Lua Nova: Revista de
Cultura e Política, 73, pp. 59-60, 2008.
Schwarz, Roberto, Ao vencedor as batatas. São Paulo, Editora 34, 2007.
71 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 71 13/05/2024 14:55:57
72 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 72 13/05/2024 14:55:57
O Tempo certo da desmitologização
ou as Cruzadas duvidosas da parasociologia
arbitrária do Mestre de Apipucos
Vincenzo Russo
Cátedra António Lobo Antunes
Università degli studi di Milano
Pensar o Império a partir do Brasil
Num texto inacabado, “O mito da Comunidade Luso-Brasileira” escrito provavel-
mente em 1959, podemos individuar um primeiro momento em que se dá um repen-
samento e um reposicionamento do Brasil dentro da mitologia colonialista portuguesa
que, como se sabe, se cruza com passagem biográfica de Eduardo Lourenço pela Uni-
versidade de Bahia no ano letivo de 1958-59. Essa passagem pelo Brasil começou, hoje, a
ser iluminada não só pelos testemunhos do próprio Eduardo Lourenço (a esse propósito
são significativas as entrevistas em apêndice ao volume IV das Obras Completas Tempo
Brasileiro: Fascínio e Miragem organizado por Maria de Lourdes Soares) mas também
por outros críticos e historiógrafos do pensamento lourenciano como João Thiago Lima
Pedroso, Miguel Real, e a própria Maria de Lourdes Soares. É sabido que foi nessa esta-
dia brasileira que se originou uma primeira e limiar reflexão sobre o colonialismo, quase
a confirmar que, nesse momento histórico de Salazarismo triunfante, o Brasil é o único
lugar de onde e a partir do qual é pensável a experiência colonial portuguesa: o Brasil,
funciona para Eduardo Lourenço já não como um decalque por copiar nos restos afri-
canos do Império mas como espelho interpretativo pelo qual se pode ler e finalmente
desconstruir todas as mitologias lusas&tropicalistas.
Foi aqui no Brasil que paradoxalmente comecei a interessar-me por este tema do im-
pério, da colonização, e no fundo foi aqui que nasceu a ideia de que não se podia ter uma
leitura da história portuguesa, da cultura portuguesa, sem conhecer esta outra parte do
73 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 73 13/05/2024 14:55:57
que tinha sido o império português. Em última análise, portanto, todo o arrière plan d’O
Labirinto da Saudade tem a ver com a minha estada na Bahia.
Se é verdade, como afirma Maria de Lourdes Soares (2018), que ao longo de mais de
70 anos (1945-2016), o Brasil se foi tornando um lugar central da imagiologia estudada por
Eduardo Lourenço, é também imprescindível constatar que esse lugar e esse tempo bra-
sileiros foram sempre interpretados em contraponto com o lugar e o tempo portugueses
até para libertar os dois discursos dos equívocos, dos silêncios, dos estereótipos de que
eles próprios foram portavozes.
A tal propósito é nossa intenção ler aqui alguns textos de Eduardo Lourenço sobre Gil-
berto Freyre, «o mestre de Apipucos» e o luso-tropicalismo (ou luso-tropicologia), escritos
na década de 60, que devem ser entendidos obviamente no contexto histórico no qual
foram produzidos como parte de um todo hermenêutico que contribui para entender
que a desconstrução da mitologia cultural portuguesa é, em Lourenço, sempre também
uma desconstrução da mitologia brasileira.
Identificamos sete textos que estão agora reunidos no já citado volume Tempo Brasi-
leiro: Fascínio e Miragem onde Eduardo Lourenço faz um ajuste de contas com a pseudo-
-ciência lusotropicalista de Gilberto Freyre:
1. o artigo Brasil – Caução do Colonialismo Português, publicado em 1960 na
revista Portugal Livre
2. o artigo A Propósito de Freyre (Gilberto) publicado in O Comércio do Porto
(11 de Julho de 1961) depois no livro Ocasionais I, (1950-1965), Regra do Jogo,
Lisboa, 1984.
3. Racismo e colonização (I), Manuscrito sem data, inacabado. Inédito.
Provavelmente de 1962 ou de 1963.
4. Racismo e colonização (II), Manuscrito sem data, inacabado. Inédito.
Provavelmente de 1962 ou de 1963.
5. O R. P. Freyre (Giberto) ou O Sociólogo Sem Máscara, Manuscrito sem data,
Inédito. Anotação Manuscrita sem data de Eduardo Lourenço: «Enviado ao TM
[O Tempo e o Modo] 3 Novembro de 1966», não publicado.
6. [Brasil e África: outro horizonte ou o processo do colonialismo português],
Manuscrito sem data, sem título, inacabado. Posterior a 1962.
7. O Brasil e a África ou a ilusão Materna dos Portugueses, Manuscrito sem
data, inacabado. Inédito. Provavelmente das mesma época do texto 6.
74 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 74 13/05/2024 14:55:57
A desmontagem das retóricas do lusotropicalismo é realizada por Eduardo Lourenço,
também graças a uma prosa contundente – que espantou Miguel Real pela força ico-
noclasta «[d]essa linguagem ríspida, não habitual em Eduardo Lourenço» – e finamente
irónica: a ironia de Lourenço é, a nosso ver, também fruto de ele ser um pensador por
reação, no sentido que ele reage às solicitações de um ensaio, de um artigo, de uma lei-
tura. Eduardo Lourenço pensa porque reage àquilo que ele julga serem provocações in-
telectuais ou teóricas. Talvez não fosse descabido associar nessa faceta, de raciocinador
por reação ao modus operandi de um outro contra-pensador como foi António Sérgio.
Podemos tecer pelo menos duas considerações preliminares acerca desses sete textos
de crítica lourenciana ao Gilberto Freyre:
a) A desconstrução do lusotropicalismo de que Eduardo Lourenço vai reali-
zando a partir de final de década de 50 pertence de direito a uma constelação
teórica que nos mesmos anos se estrutura dentro de um pensamento crítico
anticolonialista que vem de África como é o caso da desmontagem do uso do
lusutropicalismo elaborado pelo colonialismo português feita por pensadores
como Mário Pinto de Andrade (1955) ou Amílcar Cabral (2013, 1.ª edição 1960).
b) Existe uma dupla persistência: Eduardo Lourenço insiste e persiste nas críti-
cas ao Gilberto Freyre porque a ideologia luso-tropicalista – tal como foi apro-
veitada pelo Estado Novo – por muito que tenha sido considerada enterrada
ou por enterrar depois dos massacres da Guerra Colonial (Pidjiguití, Batepá,
Wiryamu, etc) é persistente no ideário cultural português e não só. A falacia
do lusotropicalismo continua a perdurar e Eduardo Lourenço não se cansa de
denunciar essas persistências.
Versões de uma mesma Mitologia: O Lusotropicalismo Desmontado
A mitologia brasileira, ainda que lida em contraponto com a mitologia portugue-
sa, tal como foi re-pensada por Eduardo Lourenço através da psicanalise histórica
não necessariamente nos restitui um Brasil homogêneo, único, efetivo como certas
leituras novecentistas brasileiras de cunho liberal ainda julgam que é possível tecer,
por excesso ou por defeito. Eduardo Lourenço não se compraz em comparar as duas
mitologias (que, em muitos casos, são apenas variantes de uma mitologia luso-bra-
sileira como demostra o discurso de Salazar) em nome das relações Brasil–Portugal
75 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 75 13/05/2024 14:55:57
privilegiando uma atitude crítica descomprometida que se situa às antípodas, quer
da simplista opção retórica-épica-sentimental do imaginário luso sobre o Brasil, quer
da adesão incondicionada ao discurso hiper-identitário brasileiro. O autor do Labirinto
da Saudade intercepta as ambiguidades, se não mesmo, as incongruências da mito-
logia brasileira tal como se foi construindo ao longo do século XX. Como dirá o próprio
Eduardo Lourenço, ao Brasil deve-se lealdade mais que olhares a partir de complexos
de superioridade ou de adulação, como alguns discursos portugueses se conotam.
O objetivo da nossa análise aqui é ver quais são os elementos que Eduardo Lourenço
individua, destaca e desmonta principalmente na auto-gnose brasileira (e na gnose «que
vêm de fora», como de resto é a interpretação do português, acidentalmente brasileiro,
que é e sempre foi Eduardo Lourenço) que se compõe das imagens in primis literárias
mas que também provêm do ensaísmo, da historiografia, da sociologia, do cinema: «Para
melhor situar e compreender nossos autores [da Literatura Brasileira], conheci um pouco
o discurso cultural que através de historiadores, sociólogos, ensaístas o Brasil fabrica sobre
si mesmo» (Lourenço, 2015, p. 190). Parece que desde os primeiros ensaios de exercícios
imagológicos, um fio vermelho interpretativo acompanhe a psicanálise de Eduardo Lou-
renço sobre a mitologia cultural brasileira que se explicita em toda uma constelação de
expressões como: “ressentimento”, “recalcamento”, “rasura”, “rejeição”, “rejeição implici-
ta”, ou até “auto-ocultamento”, “negação” ou “auto-negação”. Não estamos longe de uma
constelação lexical e conceitual freudiana.
Para interpretar a leitura lourenciana de Gilberto Freyre é necessário considerar a pars
destruens que pode ser sintetizada numa espécie de fúria iconoclasta contra o «vaidoso
mestre de Apipucos» , «o sociólogo paternalista e racista... » (Lourenço, 2018, p. 268), «o
inventor patusco e genial do luso-tropicalismo [...] tomado da santa cólera apostólico-fa-
zendeira» (p. 489), cuja obra, também por ser cooptada pelo regime de Salazar a partir da
década de 40, manifesta «o caos interno da metodologia de Gilberto Freyre, a sua pouca
ou nenhuma seriedade objectiva e o falso brilho de fórmulas feitas, remastigadas de livro
em livro com fatigante ênfase» (p. 349).
É tarefa impossível e vã seguir os meandros de uma parassociologia arbitrária, plena
de contradições gritantes, habituada a servir-se de dados ou exemplos fora dos contextos
próprios, pondo no mesmo plano factos separados por séculos, com uma liberdade toda
tropical, mas desencorajante para a melhor boa vontade do mundo.
Todavia, o que mais nos interessa nesse mapeamento crítico do textos de Eduardo
Lourenço é identificar como o filósofo português desmonte a metodologia freyriana e,
sobretudo, como saiba ler – em contraluz – as arbitrárias teorias sociológicas que fazem
do Brasil o paraíso da miscigenação.
76 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 76 13/05/2024 14:55:57
Eduardo Lourenço não admite apenas que a pseudociência da tropicologia funcione
come auto-ocultamento do Brasil como produto e filho da escravidão, filho da alienação
máxima a que a natureza humana pode ser obrigada, mas também que o Brasil não
compreendeu o seu próprio estatuto senão de maneira patológica.
Como não era possível esconder a situação real do negro – e impossível também para
os representantes da burguesia como Gilberto olhá-la de frente – um só recurso ficava –
idealizá-la. Toda a obra de Gilberto Freyre é uma idealização da condição do africano bra-
sileiro como se, por pôr os pés na terra paradisíaca, a sua condição de escravo se tivesse
sublimado.
Gilberto Freyre insistindo na consideração positiva do elemento africano (sobretudo
mestiço) escamoteia a origem histórica do colonialismo-esclavagismo que formou a so-
ciedade brasileira onde o racismo como processo estruturante é de todo silenciado ou
marginalizado. É interessante como Eduardo Lourenço chegue a comparar a obra en-
saística de Gilberto Freyre com um livro de 1969 do historiador e sociólogo José Honório
Rodrigues , Brasil e África: Outro Horizonte segundo o qual o há entre o Brasil e a África re-
lações profundas que se foram estratificando ao longo dos séculos em contraponto com
a atitude negativa da vida colonial portuguesa, atribuindo de facto um privilégio, senão
mesmo um primado, à vocação africana do Brasil. Segundo o pensador português, as
perspetivas de Freyre e de José Honório Rodrigues são os dois lados duma mesma meda-
lha que é a mitologia brasileira: um lado reacionário e um lado progressista de representar
a formação do Brasil.
J. H. Rodrigues esforça-se por mostrar que há entre Brasil e a África (a «nossa» sobretu-
do) relações profundas, o que colocaria o Brasil na situação moral e histórica de privilégio
e de interesse ao que concerne o mundo africano. Entenda-se enquanto mundo negro.
Acima de tudo – e cá ecnotramos as famosas e arbitrárias teorias de Gilberto – o Brasil é
o paraíso da miscigenação. Subtende isso que a miscigenação seja um ideal negro, uma
forma indiscutível de «compreeensão» do negro enquanto negro. É evidente que como
historicamente se processou, não é a miscigenação um ideal negro, mas a prova suprema
de alienação histórica e humana de uma raça mesmo se admitirmos que malgrado essa
origem negativa, a «stúcia da razão» ou simplesmente o bom senso dos homens, resultou
um «bem» – o que é aliás racismo mascarado pois significa que um mestiço é pensado no
horizonte branco. Toda a apologia miscigenante de Gilberto e seus adeptos banha nesta
forma subtil – tão pouco afinal – de exaltação do primado branco, quer dizer, de racismo.
Admitamos, contudo, que a intenção é boa – como é o caso do progressista J. H. Rodri-
gues – e deixemos de lado esta psicanalise de adoração mestiça de tão suspeitas raízes.
O que não admitiremos, por não ter justificação alguma, é o primado que J. H. Rodrigues
77 //
outorga ao Brasil em matéria de miscigenação e que para melhor sublinhar [...]
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 77 13/05/2024 14:55:57
A crítica de Eduardo Lourenço às posições de Gilberto Freyre constitui uma versão
ulterior de um esforço hermenêutico para entender a porosidade de certas representa-
ções culturais na mitologia portuguesa e na mitologia brasileira: as relações entre essas
duas mitologias, o seu o carácter indissolúvel e contrapontístico ajudam a entender não
só as tecnologia do colonialismo português mas também as suas complexas heranças
na cultura e na sociedade brasileira. A desconstrução crítica do lusotropicalismo e da
«’Ciência’ cem por cento gilbertiana, digna filha do seu humor ecológico e do seu génio
de tropicalista» que ao longo dos anos Eduardo Lourenço foi tecendo é mais uma con-
tribuição que o pensador português nos deixa para repensar o colonialismo português
como práxis e como mitologia.
Bibliografia
Mário Pinto de Andade, Qu’est ce que le Luso-tropicalismo in Presénce Africaine, n.º 4 outu-
bro/novembro, 1955.
Amílcar Cabral, «A verdade sobre as colonias africanas de Portugal», in Unidade e Luta. A Arma
da Teoria, volume I, textos coordenados por Mário de Andrade, Fundação Amílcar Cabral,
2013, pp. 63-73.
Cláudia Castelo, O modo Português de Estar no Mundo. O Lusotropicalismo e a ideologia co-
lonial portuguesa (1933-1961), Porto, Afrontamento, 1998.
João Tiago Lima, «Existência e ficção ou o Brasil como “personagem”» in Falar sempre de ou-
tra coisa. Ensaios sobre Eduardo Lourenço, Âncora Editora, Guarda, 2013, pp. 111-118.
Eduardo Lourenço, Do Brasil. Fascínio e Miragem, organização e prefácio de Maria de Lourdes
Soares, Gradiva, Lisboa, 2015.
Eduardo Lourenço, Tempo Brasileiro: Fascínio e Miragem. Obras completas IV, coordenação,
introdução e notícias bibliográficas de Maria de Lourdes Soares, Fundação Calouste Gul-
benkian, Lisboa, 2018.
Luiz Bernardo Péricas e Lincoln Secco (orgs.), Interpretes do Brasil. Clássicos, rebeldes e rene-
gados, Editora Boitempo, São Paulo, 2014.
Miguel Real, «Democracia e anti-colonialismo em Eduardo Lourenço: 1959-1963» in Metacrítica:
Revista de Filosofia n.º 02 (2003), pp. 58-79. Disponível também em www.recil.ulusofona.pt.
Maria de Lourdes Soares, «O lugar e o espaço-tempo do Brasil» in Eduardo Lourenço, Do Bra-
sil. Fascínio e Miragem, Gradiva, Lisboa, 2015, pp. 9-35.
Maria de Lourdes Soares, «A decisiva experiência de um ano» in Eduardo Lourenço, Tempo
Brasileiro: Fascínio e Miragem. Obras completas IV, Lisboa, Fundação Calouste Gulben-
78 //
kian, 2018, pp. 19-68.
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 78 13/05/2024 14:55:57
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 79 13/05/2024 14:55:58
80 //
ColecaoCEI2024_LeiturascomEduardoLourenço_9maio2024_FINAL.indd 80 13/05/2024 14:55:58
Você também pode gostar
- Iberografias Nº 47Documento681 páginasIberografias Nº 47Centro de Estudos Ibéricos100% (3)
- Iberografias Nº 47Documento681 páginasIberografias Nº 47Centro de Estudos Ibéricos100% (3)
- Revista Iberografias 18Documento445 páginasRevista Iberografias 18Centro de Estudos Ibéricos100% (2)
- Revista Iberografias 18Documento445 páginasRevista Iberografias 18Centro de Estudos Ibéricos100% (2)
- Iberografias 42Documento356 páginasIberografias 42Centro de Estudos Ibéricos100% (2)
- MReal A Morte de PortugalDocumento123 páginasMReal A Morte de PortugalXaarcaAinda não há avaliações
- Iberografias 36Documento265 páginasIberografias 36Centro de Estudos Ibéricos100% (1)
- A Casa SenhorialDocumento330 páginasA Casa SenhorialCinthia50% (2)
- Iberografias 36Documento265 páginasIberografias 36Centro de Estudos Ibéricos100% (1)
- A Década de 1930, Entre Memória e A História Da Historiografia BrasileiraDocumento8 páginasA Década de 1930, Entre Memória e A História Da Historiografia BrasileiraMarcos CalhauAinda não há avaliações
- Iberografias 16Documento433 páginasIberografias 16Centro de Estudos Ibéricos100% (1)
- Iberografias 41Documento520 páginasIberografias 41Centro de Estudos Ibéricos100% (1)
- Ed Especial Centenario Eduardo Lourenco DigitalDocumento248 páginasEd Especial Centenario Eduardo Lourenco DigitalCentro de Estudos IbéricosAinda não há avaliações
- Iberografias 8Documento185 páginasIberografias 8Centro de Estudos Ibéricos100% (2)
- Iberografias Nº9Documento140 páginasIberografias Nº9Centro de Estudos IbéricosAinda não há avaliações
- A Voz Dos Expatriados Das Serras Nas Planicies Amazonica - Geraldo Sa PeixotoDocumento32 páginasA Voz Dos Expatriados Das Serras Nas Planicies Amazonica - Geraldo Sa PeixotoAna Alice Magalhães Freitas100% (1)
- Iberografias Nº34Documento177 páginasIberografias Nº34Centro de Estudos Ibéricos100% (3)
- Iberografias 46Documento174 páginasIberografias 46Centro de Estudos Ibéricos100% (2)
- Iberografias Nº11Documento273 páginasIberografias Nº11Centro de Estudos IbéricosAinda não há avaliações
- Revista Iberografias 17Documento390 páginasRevista Iberografias 17Centro de Estudos IbéricosAinda não há avaliações
- Extratos da obra do historiador António Conde, “História concisa da vila de Loriga – Das origens à extinção do município”. Incluídos dados também pesquisados por António Conde mas que não inseriu na sua referida obra, e outros dados igualmente pesquisados por ele e cujos créditos também foram alvo de tentativa de roubo pelo Tosco Fariseu Alemão.Documento403 páginasExtratos da obra do historiador António Conde, “História concisa da vila de Loriga – Das origens à extinção do município”. Incluídos dados também pesquisados por António Conde mas que não inseriu na sua referida obra, e outros dados igualmente pesquisados por ele e cujos créditos também foram alvo de tentativa de roubo pelo Tosco Fariseu Alemão.Pinto da CruzAinda não há avaliações
- Iberografias 39Documento498 páginasIberografias 39Centro de Estudos Ibéricos100% (3)
- Iberografias Nº7Documento208 páginasIberografias Nº7Centro de Estudos Ibéricos100% (1)
- Revista - Iberografias 14Documento231 páginasRevista - Iberografias 14Centro de Estudos IbéricosAinda não há avaliações
- Iberografias Nº10Documento158 páginasIberografias Nº10Centro de Estudos IbéricosAinda não há avaliações
- Nº 48 Eduardo Lourenço: Um Tempo Brasileiro Breve, Mas DuradouroDocumento126 páginasNº 48 Eduardo Lourenço: Um Tempo Brasileiro Breve, Mas DuradouroCentro de Estudos Ibéricos100% (1)
- Nº 9 - Existência e Filosofia: O Ensaísmo de Eduardo LourençoDocumento280 páginasNº 9 - Existência e Filosofia: O Ensaísmo de Eduardo LourençoCentro de Estudos IbéricosAinda não há avaliações
- Leal - Etnografias PortuguesasDocumento270 páginasLeal - Etnografias PortuguesasMakemethekingAinda não há avaliações
- Iberografias Nº11Documento276 páginasIberografias Nº11Centro de Estudos Ibéricos100% (1)
- Jornal de Letras - 2020 - 04 - 29 JL PDFDocumento40 páginasJornal de Letras - 2020 - 04 - 29 JL PDFAntonio GilAinda não há avaliações
- Plenário Virtual - Minuta de Voto - 11/02/2022 00:00Documento8 páginasPlenário Virtual - Minuta de Voto - 11/02/2022 00:00Tacio Lorran SilvaAinda não há avaliações
- Urbano e Rural PDFDocumento17 páginasUrbano e Rural PDFVlamir do Nascimento SeabraAinda não há avaliações
- Iberografias 38Documento417 páginasIberografias 38Centro de Estudos Ibéricos100% (7)
- Jornal de Letras - #1301 (12 A 25 Agosto 2020)Documento42 páginasJornal de Letras - #1301 (12 A 25 Agosto 2020)Carlos TaveiraAinda não há avaliações
- SERRA Da ESTRELLA - Expedição Scientifica em 1881 - 132 Anos Depois...Documento86 páginasSERRA Da ESTRELLA - Expedição Scientifica em 1881 - 132 Anos Depois...Jose Rabaça GasparAinda não há avaliações
- Iberografias Nº33Documento345 páginasIberografias Nº33Centro de Estudos Ibéricos100% (6)
- DN - Contos Digitais - Um RomanceDocumento14 páginasDN - Contos Digitais - Um RomanceCarlos PanaoAinda não há avaliações
- AnaisABRAPLIP2017a PDFDocumento1.742 páginasAnaisABRAPLIP2017a PDFCarlos HenriqueAinda não há avaliações
- Historia: BrasilDocumento100 páginasHistoria: BrasilLudmilla Elyseu RochaAinda não há avaliações
- Ensaio Sobre o Imaginario Maritimo Dos PortuguesesDocumento81 páginasEnsaio Sobre o Imaginario Maritimo Dos PortuguesesCris PagotoAinda não há avaliações
- Olhos Nos Olhos - Fotografias de Monteiro GilDocumento28 páginasOlhos Nos Olhos - Fotografias de Monteiro GilCentro de Estudos IbéricosAinda não há avaliações
- Leituras de Eduardo Lourenço - Um Labirinto de Saudades, Um Legado Com FuturoDocumento226 páginasLeituras de Eduardo Lourenço - Um Labirinto de Saudades, Um Legado Com FuturoCentro de Estudos Ibéricos100% (1)
- Medievalista 29Documento436 páginasMedievalista 29Cristiana Nogueira100% (1)
- Pensar o Neolitico Antigo. Contributo Pa PDFDocumento397 páginasPensar o Neolitico Antigo. Contributo Pa PDFAntonio LeiteAinda não há avaliações
- SASSAKI - Acessibilidade PDFDocumento9 páginasSASSAKI - Acessibilidade PDFCreazioni ACEAinda não há avaliações
- Imaginar o Território: Uma Geografia Do OlharDocumento89 páginasImaginar o Território: Uma Geografia Do OlharCentro de Estudos Ibéricos100% (1)
- A República Nunca ExistiuDocumento60 páginasA República Nunca ExistiuDaniel FariaAinda não há avaliações
- Real Gazeta Do Alto Minho - N.º 24Documento68 páginasReal Gazeta Do Alto Minho - N.º 24José Aníbal Marinho GomesAinda não há avaliações
- 1307-Texto Do Artigo-4864-1-10-20171031Documento195 páginas1307-Texto Do Artigo-4864-1-10-20171031Danielle RamosAinda não há avaliações
- Real Gazeta Do Alto MinhoDocumento72 páginasReal Gazeta Do Alto MinhoJosé Aníbal Marinho GomesAinda não há avaliações
- V Iá Rio, Iloveni Dlrlgir-Se: Campos.Documento16 páginasV Iá Rio, Iloveni Dlrlgir-Se: Campos.Marcello MachadoAinda não há avaliações
- As Gravuras Rupestres Do Penedo Dos SinaDocumento270 páginasAs Gravuras Rupestres Do Penedo Dos SinaFátima CarvalhoAinda não há avaliações
- Iberografias 15Documento377 páginasIberografias 15Centro de Estudos Ibéricos100% (4)
- Revista Do Arquivo 11 28 10 20Documento221 páginasRevista Do Arquivo 11 28 10 20barbaraAinda não há avaliações
- Pedro Americo PDFDocumento297 páginasPedro Americo PDFClaudia SodreAinda não há avaliações
- Os Grafismos Rupestres Do Abrigo Do Posseidon: Desordem e Crono-Estilística Na Arte Rupestre Do Alto-Médio Rio São Francisco (MG)Documento188 páginasOs Grafismos Rupestres Do Abrigo Do Posseidon: Desordem e Crono-Estilística Na Arte Rupestre Do Alto-Médio Rio São Francisco (MG)Keimelion - revisão de textosAinda não há avaliações
- Jornal de Letras 2021 Setembro Edicao 271Documento20 páginasJornal de Letras 2021 Setembro Edicao 271Samilly AndradeAinda não há avaliações
- Cidades Mortas - Monteiro LobatoDocumento9 páginasCidades Mortas - Monteiro Lobatosupadupa244814Ainda não há avaliações
- O Saudosismo em PessoaDocumento1 páginaO Saudosismo em PessoamariaAinda não há avaliações
- Existência e Filosofia - O Ensaísmo de Eduardo LourençoDocumento275 páginasExistência e Filosofia - O Ensaísmo de Eduardo LourençoCentro de Estudos Ibéricos100% (3)
- Cultura 73Documento32 páginasCultura 73KarineAinda não há avaliações
- A Lei da Floresta: poder e política na Inglaterra medieval (séculos XI-XIII)No EverandA Lei da Floresta: poder e política na Inglaterra medieval (séculos XI-XIII)Ainda não há avaliações
- "O Esplendor Do Caos. Livros e Bibliotecas de Eduardo Lourenço" - Fotografias de Duarte Belo e Rui JacintoDocumento152 páginas"O Esplendor Do Caos. Livros e Bibliotecas de Eduardo Lourenço" - Fotografias de Duarte Belo e Rui JacintoCentro de Estudos IbéricosAinda não há avaliações
- A Biblioteca de Eduardo LourençoDocumento456 páginasA Biblioteca de Eduardo LourençoCentro de Estudos IbéricosAinda não há avaliações
- Revista Iberografias Nº 19Documento424 páginasRevista Iberografias Nº 19Centro de Estudos IbéricosAinda não há avaliações
- Nº 9 - Existência e Filosofia: O Ensaísmo de Eduardo LourençoDocumento280 páginasNº 9 - Existência e Filosofia: O Ensaísmo de Eduardo LourençoCentro de Estudos IbéricosAinda não há avaliações
- Nº 12 - Um Cruzamento de Fronteiras: o Discurso Dos Concelhos Da Guarda em CortesDocumento113 páginasNº 12 - Um Cruzamento de Fronteiras: o Discurso Dos Concelhos Da Guarda em CortesCentro de Estudos IbéricosAinda não há avaliações
- Fronteiras Da Esperança 2021Documento124 páginasFronteiras Da Esperança 2021Centro de Estudos IbéricosAinda não há avaliações
- Nº 48 Eduardo Lourenço: Um Tempo Brasileiro Breve, Mas DuradouroDocumento126 páginasNº 48 Eduardo Lourenço: Um Tempo Brasileiro Breve, Mas DuradouroCentro de Estudos Ibéricos100% (1)
- Iberografias 45Documento696 páginasIberografias 45Centro de Estudos Ibéricos50% (2)
- Revista Iberografias Nº 19Documento424 páginasRevista Iberografias Nº 19Centro de Estudos IbéricosAinda não há avaliações
- Fronteiras Da Esperança 2020Documento124 páginasFronteiras Da Esperança 2020Centro de Estudos IbéricosAinda não há avaliações
- Iberografias 46Documento174 páginasIberografias 46Centro de Estudos Ibéricos100% (2)
- Transversalidades 2022Documento268 páginasTransversalidades 2022Centro de Estudos IbéricosAinda não há avaliações
- Transversalidades 2021Documento344 páginasTransversalidades 2021Centro de Estudos Ibéricos100% (1)
- Iberografias 15Documento377 páginasIberografias 15Centro de Estudos Ibéricos100% (4)
- Território & Imagem. Textos de FronteiraDocumento120 páginasTerritório & Imagem. Textos de FronteiraCentro de Estudos IbéricosAinda não há avaliações
- Leituras de Eduardo Lourenço - Um Labirinto de Saudades, Um Legado Com FuturoDocumento226 páginasLeituras de Eduardo Lourenço - Um Labirinto de Saudades, Um Legado Com FuturoCentro de Estudos Ibéricos100% (1)
- Iberografias 43Documento472 páginasIberografias 43Centro de Estudos Ibéricos100% (3)
- Iberografias 40Documento514 páginasIberografias 40Centro de Estudos Ibéricos100% (4)
- 5 Encontro Imagem & Território - AgendaDocumento48 páginas5 Encontro Imagem & Território - AgendaCentro de Estudos Ibéricos100% (1)
- Revista Iberografias 17Documento390 páginasRevista Iberografias 17Centro de Estudos IbéricosAinda não há avaliações
- Transversalidades 2020Documento344 páginasTransversalidades 2020Centro de Estudos Ibéricos100% (6)
- Iberografias 41Documento520 páginasIberografias 41Centro de Estudos Ibéricos100% (1)
- Iberografias 37Documento241 páginasIberografias 37Centro de Estudos Ibéricos100% (2)
- Iberografias 38Documento417 páginasIberografias 38Centro de Estudos Ibéricos100% (7)
- Iberografias 16Documento433 páginasIberografias 16Centro de Estudos Ibéricos100% (1)
- Iberografias 39Documento498 páginasIberografias 39Centro de Estudos Ibéricos100% (3)
- Catálogo Transversalidades 2019Documento340 páginasCatálogo Transversalidades 2019Centro de Estudos Ibéricos80% (10)
- Fotografia Sem Fronteiras: Pessoas, Lugares, Outros OlharesDocumento100 páginasFotografia Sem Fronteiras: Pessoas, Lugares, Outros OlharesCentro de Estudos Ibéricos50% (2)
- (Lobisomem - O Apocalipse Livro de Tribo - UktenaDocumento118 páginas(Lobisomem - O Apocalipse Livro de Tribo - UktenaAlfredo José100% (3)
- Desafios para A Formação de Lideranças JovensDocumento2 páginasDesafios para A Formação de Lideranças JovensWladimir MeloAinda não há avaliações
- Livro - 10 - Sociologia Da Educação - Olhares para A Escola de Hoje - 2016 - 168pgs - WEBDocumento168 páginasLivro - 10 - Sociologia Da Educação - Olhares para A Escola de Hoje - 2016 - 168pgs - WEBLucas LučingerAinda não há avaliações
- ATPS Administracao Da Producao E OperacoesDocumento24 páginasATPS Administracao Da Producao E OperacoesReginaldo GomesAinda não há avaliações
- Oli Lago - Cidade CinzaDocumento564 páginasOli Lago - Cidade CinzaIury Sant'sAinda não há avaliações
- Ferramentas Na Prática Da APS - Acolhimento e Acesso AvançadoDocumento36 páginasFerramentas Na Prática Da APS - Acolhimento e Acesso AvançadoFabio LopesAinda não há avaliações
- WWW - Unlock PDF - Com JOHNHICKDocumento11 páginasWWW - Unlock PDF - Com JOHNHICKluis_violinosAinda não há avaliações
- Livro Matemática Financeira Cristiano JungDocumento70 páginasLivro Matemática Financeira Cristiano JungThiago R. Gomes100% (2)
- 5S Versão1Documento75 páginas5S Versão1E-Games E-GamesAinda não há avaliações
- Resumo P1 e P2 - Carolina ChapuisDocumento23 páginasResumo P1 e P2 - Carolina ChapuisPedro AbrãoAinda não há avaliações
- Maria Elvira Campos Et AlDocumento17 páginasMaria Elvira Campos Et Algeisyydias100% (1)
- Atividade de Pesquisa 01 - Projetos I - Julio Cesar de AraujoDocumento2 páginasAtividade de Pesquisa 01 - Projetos I - Julio Cesar de AraujoRosi JulioAinda não há avaliações
- Lei Do Equilibrio Entre Dar e ReceberDocumento45 páginasLei Do Equilibrio Entre Dar e ReceberMorgana Mattiello De Senna BaldinAinda não há avaliações
- Resumão Prova de Cão-1Documento92 páginasResumão Prova de Cão-1Lucas LeonardoAinda não há avaliações
- 2013 - Manhique, Ilídio FernandoDocumento40 páginas2013 - Manhique, Ilídio FernandoViriato Joao FaranguanaAinda não há avaliações
- Introdução A Ciência Da Informação - Gustavo Henrique de Araújo Freire e Isa Maria FreireDocumento128 páginasIntrodução A Ciência Da Informação - Gustavo Henrique de Araújo Freire e Isa Maria FreireAnna Paula de CarvalhoAinda não há avaliações
- Modelando Com PNL - GolfinhoDocumento11 páginasModelando Com PNL - GolfinhoVitor Ferreira ValenteAinda não há avaliações
- Material de Lingua PortuguesaDocumento48 páginasMaterial de Lingua PortuguesaEduardo Andrade100% (1)
- Formação de ConsultoresDocumento132 páginasFormação de ConsultoresRosângela LuzAinda não há avaliações
- Ebook Descomplicando o Emagrecimento Entrega MinimaDocumento88 páginasEbook Descomplicando o Emagrecimento Entrega MinimaDébora EvangelistaAinda não há avaliações
- BNCC Por Objeto Do Conhecimento 1Documento1 páginaBNCC Por Objeto Do Conhecimento 1leonardoolliveiraAinda não há avaliações
- DIANTE DO TEXTO A Leitura em João Cezar de Castro Rocha e Didi-Huberman PDFDocumento12 páginasDIANTE DO TEXTO A Leitura em João Cezar de Castro Rocha e Didi-Huberman PDFCleberAraújoCabralAinda não há avaliações
- Missional Jornada Devoção Missão PDFDocumento136 páginasMissional Jornada Devoção Missão PDFLuã SantosAinda não há avaliações
- Fadiga em PontesDocumento138 páginasFadiga em Pontesdpm1982Ainda não há avaliações
- 2010 Uel Port PDP Meire Orlando SerapiaoDocumento29 páginas2010 Uel Port PDP Meire Orlando SerapiaoTatiana GPAinda não há avaliações
- Apresentação STV Serviços 2021Documento8 páginasApresentação STV Serviços 2021VandersonAinda não há avaliações
- Luminotécnica Aplicada Ao Projeto - UnifatecieDocumento124 páginasLuminotécnica Aplicada Ao Projeto - UnifatecieanedddAinda não há avaliações
- Associações Livres e Pensamento Onírico de Vigília - de Antonino FerroDocumento15 páginasAssociações Livres e Pensamento Onírico de Vigília - de Antonino FerroGustavo de PaulaAinda não há avaliações
- The Meaning of Mariah Carey - Português PDFDocumento398 páginasThe Meaning of Mariah Carey - Português PDFminigardenAinda não há avaliações