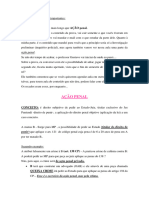Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Direito-Penal-I-Práticas Cristina Líbano Monteiro - Liliana Andrad
Enviado por
Cristiana SantosTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Direito-Penal-I-Práticas Cristina Líbano Monteiro - Liliana Andrad
Enviado por
Cristiana SantosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Direito Penal I
Aulas práticas: Cristina Líbano Monteiro
Bibliografia essencial do Dr. Figueiredo Dias até agora:
Sobre os fins das penas: pág. 43-64; 78-85.
Conceito material de crime: pág. 113-131.
Casos sobre a legalidade criminal
O governo quer penalizar o não pagamento de um imposto no próprio dia com uma pena de
multa, através de uma portaria do Ministro das Finanças. Parece correto?
O princípio da legalidade criminal declina-se em várias exigências: a lei penal deve ser
escrita, certa, estrita e prévia. O art 165º da CRP estabelece que é da exclusiva competência da AR
legislar sobre a definição dos crimes, penas e medidas de segurança, fundamentos e processo penal.
O juiz, no caso, deveria desaplicar a norma.
Há um violinista famoso e vai ter um concerto fulcral para a evolução na carreira. Há outro
violinista invejoso que não queria que aquele triunfasse e pensou em esconder-lhe o violino,
prejudicando-o no concerto. Quando o violinista famoso chegou ao quarto do hotel, estava lá o seu
violino. Isto será um furto? Art 203º CP. Não há aqui intenção de apropriação. Está previsto no art
208º o furto de uso de automóvel. O MP, num caso destes, pede ao tribunal que condene o autor do
furto pelo furto de uso de violino, por analogia. A questão é que não se pode punir um crime por
analogia – art 1º/3 CP. É proibida a analogia incriminatória, entre outas. Mas só não é permitida
quando for em desfavor do arguido.
O princípio da legalidade criminal também impede que a lei incriminatória surja depois do
facto praticado. A lei tem de ser prévia à conduta do agente.
Em momento X, o senhor A dispara sobre o senhor B com intenção de matar. No momento Z,
o senhor B faleceu. Por absurdo podemos supor que o homicídio não era punido no momento A. Mas
entrou em vigor no momento Y, antes de B morrer. A foi julgado depois da publicação da lei e da
morte da vítima.
O momento da prática do facto é o momento em que A atuou, devido ao princípio da
legalidade criminal: à data da prática do facto, não havia lei que incriminasse a sua conduta.
Liliana Andrade – 3º ano, turma única – ano letivo 2018/2019 2
Considerando que a lei incriminatória do homicídio já existia. Mas a L1 punia com prisão de
8 a 16 anos. E, depois do facto praticado, é publicada a L2 que pune com prisão de 16 a 25 anos.
Será aplicável a L1.
O grande princípio desta matéria é o princípio da irretroatividade da lei penal incriminadora
(o que não é sempre verdade). O princípio geral da aplicação geral da lei penal deverá ser aquele que
dita que a lei aplicável é a lei em vigor no momento da prática do facto. Se aplicássemos a L2, seria
uma lei com a qual ele não poderia contar na prática do facto.
E se a L2 estabelecer uma pena de 1 a 7 anos? É esta que se aplica. Além do princípio da
legalidade criminal, há uma segunda razão: no momento do julgamento de A, a sociedade entende
que basta aquela pena de prisão para o homicídio. Se basta, porque razão se haveria de aplicar uma
pena maior (a da L1)? O excedente da pena é, no momento do julgamento, inútil. Nº 3 do art 2º CP.
E se a L2 punir com 7 a 17 anos de prisão? Apenas no caso concreto é que se pode ver qual a
lei mais favorável.
Um crime de furto: L1 punia com uma pena de prisão até 3 anos. A furtou a B uma coisa. A
certa altura, a L2 estabelece que o furto deixa de ser punido. Nº 2 do art 2º CP.
Até ao ano 2000, a detenção para consumo e o consumo de droga era crime. O senhor A
detinha uma pequena quantidade para consumo. A Lei nº 30/2000 veio dizer que até uma
determinada quantidade, a detenção e consumo de droga passa a ser uma contraordenação, que tem
como sanção uma coima. A conduta não passou a ser indiferente para a sociedade. Ela é censurável,
só que de outra maneira. Américo Taipa de Carvalho, na sua obra “Sucessão de leis penais”: na Lei
das Contraordenações também há um princípio da legalidade contraordenacional, que impede a
aplicação retroativa de uma contraordenação. Assim, o sujeito seria absolvido. A proibição da
retroatividade das contraordenações tem sentido quando a conduta era lícita no momento da prática
do ato. Mesmo que não entrássemos por este caminho, o art 2º/4 dava-nos a solução, porque o
legislador não se refere a “leis penais” e apenas a “leis posteriores”.
Crime de homicídio. A L1 pune com 8 a 16 anos de prisão. A comete o homicídio. A L2 pune
com prisão de 3 a 6 anos. A L3 pune com 6 a 7 anos. E finalmente o senhor A é julgado. A L2 é
aquilo que se chama tecnicamente intermédia. Está em vigor num momento posterior à prática do
facto e em momento anterior ao julgamento. Onde a lei não distingue, o intérprete também não deve
distinguir: o art 2º/4 diz que é sempre aplicado regime concretamente mais favorável ao arguido.
Liliana Andrade – 3º ano, turma única – ano letivo 2018/2019 2
Há um caso que se reporta a um ano de seca em Portugal. O Parlamento aprovou uma lei que
dizia que a partir da data tal e enquanto durar a seca, quem encher piscinas com água publica será
punido com pena de prisão até 3 anos. Lei temporária ou de emergência, que fixa o seu próprio termo
de vigência. O facto de a lei ter deixado de vigorar não significa que o legislador tenha passado a
considerar que afinal aqueles bens a proteger não eram desvalores. O legislador não deixa de
entender que aquele comportamento era muito desvaloroso. O que acontece é que a lei tinha de
deixar de estar em vigor porque acabou o período em que terminou esse desvalor. O que mudou
foram as circunstâncias.
Caso em que há, dentro do período de emergência, uma sucessão de leis temporárias, em que
a LT2 diminui a consequência jurídica desse facto. Se não houve alteração das circunstâncias durante
a seca? Temos a LT1, o senhor A que encheu a piscina com água publica e uma LT2 que tinha uma
pena prevista concretamente mais favorável ao arguido. Qual é a lei que o juiz deve aplicar? O
legislador mudou a sua valoração sobre o facto. O que diz o nº 3 do art 2º é que ele não pode deixar
de ser punido por a lei temporária já ter esgotado o seu período de emergência. Aplica-se dentro do
período da lei temporária o critério geral do nº 4, em que se aplica a lei penal mais favorável ao
agente.
Se forem as circunstâncias que mudaram (por exemplo, choveu e diminui a intensidade da
seca), então não se aplica a LT2 ao facto praticado pelo senhor A na vigência da LT1. A LT2 não
aproveita ao senhor A.
Saber, quando ocorre um determinado crime, qual é o Estado tem jurisdição sobre ele. Qual é
o critério principal segundo o qual o facto pode ser julgado em Portugal?
O princípio fundamental, a conexão de um facto com o Estado, que deve determinar que o
facto seja julgado nesse Estado poderia ser o vínculo da nacionalidade do autor. O que significaria
que nós, fossemos nós onde fossemos, seríamos julgados pelos tribunais portugueses. Mas este
princípio levanta dificuldades. Desde logo, não é nada prático.
A maior parte dos países adotou o critério da territorialidade, segundo o qual o lugar da
prática do facto é o sítio onde se faz o julgamento, já que é aí que se fazem sentir as necessidades de
prevenção. É também mais fácil, em princípio, fazer o processo-crime, recolhes as provas, etc., no
sítio onde o crime foi cometido. Deste modo, por norma, não haverá conflitos de jurisdição nem
vazios de jurisdição (não ficam crimes por julgam por serem praticados “em terra de ninguém”).
Os factos praticados em Portugal são julgados pelos tribunais portugueses – art 4º.
Liliana Andrade – 3º ano, turma única – ano letivo 2018/2019 2
De acordo com o art 7º, vale o lugar da atuação e o lugar do resultado como critério de
determinação do lugar da prática do facto. A ideia é não haver conflitos negativos de jurisdição, que
não aconteça que os dois Estados considerem que não são competentes.
Tanto é praticado em Portugal o crime cuja ação tenha sido em PT e cujo resultado tenha sido
em PT. Nos casos de tentativa, o lugar da prática do ato será aquele onde o resultado se deveria ter
produzido – se PT, eram competentes os tribunais portugueses.
Quando o facto é praticado em Pt, Pt julga-se competente e entende como se deve punir
aquele crime. Mesmo que o facto já tenha sido julgado noutro Estado, PT não quer abrir mão desse
princípio da territorialidade. A pessoa pode ser julgada em Portugal também? Se ele tivesse sido
julgado em Espanha e tivesse sido aplicada uma pensão de 3 anos e, depois, em Portugal a pena
aplicada era de 2 anos de prisão. Portugal deixava-o ir. Mas e se a pena aplicada em PT era de 4 anos
de prisão? Significa que houve um crime praticado em PT que se tudo ficasse assim era menos
punido do que outro crime idêntico praticado em PT. Se fizermos o senhor A cumprir mais um ano,
não há injustiça, porque ele não vai cumprir nem mais um dia a mais do que cumpriria se tivesse sido
julgado, desde logo, em Portugal. A pena não pode ficar dependente de um julgamento prévio.
Aquele cumprimento de mais um ano em PT traduz o princípio do desconto, consagrado nos art 80º,
81º e 82º do CP. O art 82º refere-se expressamente ao desconto da pena cumprida no estrangeiro.
Portugal resolveu, ainda, considerar território português o facto de ser praticado num navio
ou aeronave portuguesa – princípio do pavilhão.
Casos sobre a validade espacial da lei penal
1. A, de nacionalidade portuguesa, viaja numa aeronave portuguesa com destino a Espanha.
Ao aterrar em Madrid, A, ainda a bordo, tem uma violenta discussão com outro
passageiro, de nacionalidade espanhola, acabando por agredi-lo, causando-lhe ofensas à
integridade física graves (art. 144º CP). Detido pelas autoridades, é julgado perante um
tribunal espanhol pelo crime cometido, sendo condenado na pena de 3 anos de prisão
efetiva. Ao fim de 1 ano, A evade-se da prisão espanhola e refugia-se em Coimbra.
a) Podem os tribunais portugueses julgar e eventualmente condenar A, de novo, pela prática
daquele facto? Responda à questão utilizando as referências legais e doutrinais
pertinentes.
A primeira questão que se coloca é a de saber se o crime foi praticado em território português,
nos termos do art. 7º do CP. A resposta não é evidente. Mas o princípio do pavilhão, consagrado no
art. 4º, al. b), diz que, para efeitos da aplicação da lei penal, o território português estende-se também
aos factos praticados a bordo de navios ou aeronaves portuguesas. À letra não há dúvida da aplicação
Liliana Andrade – 3º ano, turma única – ano letivo 2018/2019 2
do princípio do pavilhão. Mas a aeronave está em Madrid. O agente foi julgado em Espanha. O
princípio não reivindica para Portugal todos os crimes praticados a bordo de navios ou aeronaves
portuguesas. Entende-se que este princípio se aplica apenas nos casos em que o navio ou a aeronave
atravessa águas ou espaço aéreo internacional (espaços que não pertencem a nenhum país). Embora
tudo se tenha passado dentro do avião português, o caso não é abrangido pelo princípio do pavilhão.
Pelo princípio do pavilhão, o facto não foi praticado em Portugal. No art 5º estabelece outros
princípios que estabelecem conexões entre o facto praticado e o Estado Português, dentro dos quais o
princípio da nacionalidade ativa – al. e). Só que Portugal não tem grande interesse em julgar estes
casos, já que estabelece três requisitos exigentes. Quanto ao primeiro requisito, de o agente ser
encontrado em Portugal, verifica-se no nosso caso: ele está em Coimbra. Este requisito é
fundamental, pois se o Estado Português não extradita o nacional (só em casos excecionais), então
que o julgue (“aut dedere, aut iudicare”). Quanto ao segundo requisito, chamado requisito da “dupla
incriminação”, julga-se em Portugal se o facto punível pela legislação do Estado em que tiver sido
praticado. No caso, a ofensa à integridade física é crime em Espanha e crime em Portugal. Há uma
exceção: “salvo se nesse lugar não se exercer poder punitivo”, estando aqui salvaguardado aqueles
crimes praticados “em terra de ninguém”, em que não há poder punitivo. Quanto ao terceiro
requisito, “constituírem crime que admita extradição e esta não possa ser concedida”, é necessário
saber este crime de ofensa à integridade física grave admite extradição. Na Lei da Cooperação
judiciária internacional em matéria penal (nº 144/99), crime que admite extradição é qualquer um à
exceção da “infração de natureza política ou infração conexa, segundo as conceções do direito
português” e do “crime militar que não seja simultaneamente previsto na lei comum” – art 7º, nº 1,
al. a) e b) da LCJI. No nosso caso, o crime não tem natureza política ou militar – é uma ofensa à
integridade física. Assim, é um crime que admite extradição. Prevê o art. 5º, nº 1, al. e) que esta
extradição não possa ser concedida – requisitos no art. 33º, nº 3 da CRP. No caso, a extradição não
pode ser concedida (só pode nos casos de terrorismo e de criminalidade internacional organizada),
verificando-se, então, todos os requisitos da al. e).
Portugal pode então julgar este seu cidadão. Mas A já foi julgado em Espanha e foi
condenado a 3 anos de prisão efetiva. Ao fim de um ano, A fugiu da prisão e vem para Coimbra. O
que não impede que se julgue em Portugal. O princípio “ne bis in idem” não o proíbe. O art. 6º prevê
restrições à aplicação da lei portuguesa quando o facto é praticado fora do território nacional. Se ele
tivesse cumprido a pena até ao fim, Portugal não o poderia julgar. O que não aconteceu, porque o
agente evadiu-se da prisão espanhola. Assim, Portugal poderia julga-lo. No entanto, no julgamento
poderia ser aplicada a lei espanhola se esta for mais favorável ao agente que a lei portuguesa – nº 2
do art. 6º. É mesmo uma ideia de favorecimento do arguido.
Liliana Andrade – 3º ano, turma única – ano letivo 2018/2019 2
À pena que for aplicada, descontar-se-á a pena já cumprida – art. 80º, 81º e 82º. No caso
concreto, aplicar-se-á o art. 82º.
b) A resposta seria a mesma se A tivesse praticado o facto num corredor do aeroporto de
Barajas?
Era igual (devido à explicação do princípio do pavilhão e da nacionalidade ativa).
c) Estando em causa dois países membros da união europeia, de que outro modo poderia
resolver-se o problema?
Mandato de detenção europeu.
2. No dia 10 de janeiro de 2002, A, cidadão colombiano residente no Brasil, falsificou moeda
portuguesa (€), com a ajuda de B, empresário português, que lhe enviou tecnologia sofisticada, a
partir da sua residência em Coimbra.
Detido pelas autoridades brasileiras, A foi condenado a 10 anos de prisão, por sentença
transitada em julgado a 12 de fevereiro de 2004.
a) A 1 de Junho de 2005, A (colombiano) evadiu-se para Portugal, sendo detido. No decurso
do inquérito, B foi igualmente detido. Os dois foram julgados e condenados por um
tribunal português. Comente esta decisão.
A primeira questão é a de saber se o facto foi praticado em Portugal – art. 7º. Neste caso, há
um cidadão português que ajuda o cidadão colombiano a partir de Portugal, sendo comparticipante
do crime. Há uma conexão entre o facto cometido e o território português. Portugal é competente em
virtude do princípio da territorialidade – art. 4º, al. a).
Se B não tivesse atuado, Portugal poderia considerar-se competente porque foi violado um
interesse nacional. Os crimes de contrafação de moeda são crimes graves. Tanto que está previsto no
art. 5º, na al. a), que remete para o art. 262º do crime de contrafação de moeda, como princípio
subsidiário da aplicação da lei. Portugal tem jurisdição sobre o facto por força do art. 5º, nº 1, al. a),
princípio da proteção dos interesses nacionais.
Quanto ao facto do julgamento, aplicar-se-ia o mesmo raciocínio do caso anterior.
b) Suponha que, no decurso do processo, o defensor requereu a aplicação, pelo tribunal
português, da lei brasileira, com base na ideia de que ela se mostrava concretamente mais
favorável. Quid iuris? Justifique.
Liliana Andrade – 3º ano, turma única – ano letivo 2018/2019 2
Não se aplicaria a lei do Brasil, porque está em causa a defesa dos interesses nacionais –
exceção prevista no nº 3 do art. 6º.
3. A, português, casa com B, portuguesa, fixando residência em Condeixa. Em agosto de
2005, de férias no Irão, A maltrata habitualmente a mulher. Os pais de B denunciam o caso ao
Ministério Público.
Em julgamento, A defende-se dizendo que, no país onde praticou os factos, o que fez
considera-se um direito do marido sobre a mulher, nunca um crime.
Terá o tribunal português jurisdição sobre a conduta de A?
Este facto praticado por B é, em Portugal, um crime de violência doméstica.
Vamos experimentar se Portugal é competente em virtude do princípio da nacionalidade
ativa, isto é, em virtude da al. e) do art. 5º. Há aqui um problema que impede a verificação dos
requisitos: o da dupla incriminação. Porque no Irão não se pune aquele facto.
Assim devemos convocar a al. b) do nº 1 do art 5º. Evita-se, deste modo, que as pessoas vão
ao estrangeiro praticar factos que seriam considerados crimes em Portugal, mas não o são no país em
causa (ex.: do aborto, da eutanásia, etc.). É o princípio da nacionalidade dupla. Porque exige que
tanto o agente como a vítima sejam portugueses. O próprio art 6º, no nº 3 não permite que se aplica a
lei mais favorável do lugar onde foi praticado o crime no caso da al. b). Até porque se no lugar da
prática do facto, este não for punível, haveria um crime punido por ninguém.
Casos sobre causalidade (imputação objetiva do resultado à ação)
O problema é o de saber se a ação de determinada pessoa corresponde a um tipo legal de
crime, ou seja, se o resultado causado pela conduta é realmente imputável à conduta. A conduta é
típica em relação ao resultado?
Na história do pensamento penal, é natural que um adepto da escola clássica (mundo
perfeitamente naturalístico – a ação é a modificação do mundo exterior causada por uma vontade)
diga que a conduta de A deu origem à morte de B – a causalidade naturalística vê se o que A fez foi
uma condição sem a qual a morte de B não teria acontecido. Causa é toda a condição sem a qual o
resultado não se teria produzido. Deste ponto de vista, é quanto basta. Não é isto que se procura.
Procuramos mais do que uma causalidade física ou naturalística.
1. A e B, amigos de longa data, passeavam numa zona comercial do Porto quando, sem que
qualquer um deles se tivesse apercebido, C, artista de rua, munido de uma máscara de extraterrestre,
os surpreendeu e assustou.
Liliana Andrade – 3º ano, turma única – ano letivo 2018/2019 2
Em virtude do susto, A veio a falecer de ataque cardíaco. Provou-se que C atuara com o único
objetivo de «divertir os transeuntes» e que há cerca de cinco anos se dedicava a esta atividade, sem
que existissem registos de quaisquer incidentes.
a) Refira-se, fundadamente, à responsabilidade jurídico-penal de C.
A questão é a de saber se a morte de A é imputável à conduta de C.
O problema será tratado, em primeiro lugar, à luz da doutrina da conditio sine qua non. Esta
doutrina da causalidade naturalística diz que causa do resultado é a ação tal sem a qual não teria
ocorrido o resultado. O juiz faz um exercício de supressão mental: suprimindo a ação, o resultado
tinha ocorrido na mesma ou não. Porque ele procura a ação sem a qual o resultado não tinha
ocorrido. Também se chama doutrina das condições equivalentes. Apesar de parecer caricato, não
nos podemos esquecer que estamos no nível da tipicidade. É obvio que quando chegarmos ao
patamar da culpa, a pessoa não seria condenada.
Ainda assim, entendeu-se que esta doutrina não é suficientemente apurada para aquilo que o
direito penal quer saber. Desde logo, porque não consegue explicar os crimes por omissão.
De acordo com a teoria das condições equivalentes, a conduta de C foi causa da morte de A.
Avançou-se para a teoria da adequação. O juiz fará um juízo de prognose póstuma, em que
averiguará se o resultado daquela conduta era normal e previsível, segundo as regras da experiência
comum. Se entender que o resultado era provável, a imputação terá lugar. De acordo com esta
doutrina, não se imputava a conduta de C à morte de A.
b) Suponha agora que C sabia da gravíssima insuficiência cardíaca de A.
A doutrina da adequação importa-se com os conhecimentos do agente. Se C sabia, a
previsibilidade do resultado aumenta. Com esse dado, colocado dentro do juízo de prognose,
qualquer pessoa que o soubesse, tomaria previsível que um valente susto desse lugar à morte do
falecido. Assim, a conduta de C é causa da morte de A.
2. A arremessou um bocado de madeira contra o carro de B com intenção de lhe
danificar a viatura. De repente, uma inesperada fortíssima rajada de vento desviou o bocado de
madeira, que atingiu uma criança. Pode imputar-se a lesão da integridade física da criança à ação de
A?
Do ponto de vista da teoria das condições equivalentes, sim. Do ponto de vista da teoria da
adequação, não: porque a rajada de vento era inesperada. A única coisa pela qual A podia ser punido
era por uma tentativa de dano.
Liliana Andrade – 3º ano, turma única – ano letivo 2018/2019 2
3. A dispara contra B, com intenção de o matar.
a) Moribundo e abandonado na estrada, B é encontrado por C que, por compaixão, desfere
dois tiros certeiros, provocando-lhe a morte imediata. Quid iuris?
O resultado da morte de B é imputável a C. A dúvida põe-se em relação à conduta de A. Pela
teoria das condições equivalentes, o resultado é imputável a A. Pela teoria da adequação, a
previsibilidade tem de abranger todo o processo causal, do princípio até ao fim, ou seja, desde o tiro
até à morte. A intervenção de C não era previsível, pois não estava combinado com A. A doutrina da
adequação fala, nestes casos, da interrupção do nexo causal. Houve uma outra linha de risco, um
outro autor, que se interpôs entre a ação e o resultado e sem ser previsível.
b) Suponha agora que A e B viajavam num comboio e foi durante a viagem que A alvejou B.
Poucos km depois, estando B ainda moribundo, dá-se um descarrilamento e B morre no embate.
Quid iuris?
O resultado não é imputável à conduta de A.
4. A, cirurgião, com o consentimento do seu paciente, B, submete-o a uma pequena
intervenção que necessita, contudo, de anestesia geral. C, o anestesista de serviço, engana-se na
dosagem do produto anestésico, vindo B a morrer. Analisado o relatório da autópsia, prova-se que a
morte de B ocorreria igualmente caso a anestesia tivesse sido corretamente efetuada. Na verdade, em
virtude de uma raríssima enfermidade congénita — desconhecida até do próprio — a mais ínfima
quantidade de anestésico era absolutamente incompatível com o organismo de B.
Deve ou não imputar-se o resultado morte de B à conduta de C? Justifique.
Pela teoria da adequação, a morte de B é imputável a C, porque esta sobredose de anestesia
mataria qualquer um.
Mas há aqui a doutrina da conexão do risco, que complementa a doutrina da adequação. Há
riscos que têm de se correr. Andar de carro é um risco. Ser anestesiado é um risco. E criados pela
própria tecnologia. Se quiséssemos prescindir dos riscos, voltaríamos à Idade da Pedra. Tem de
haver riscos permitidos, ainda que com resultados negativos. Assim, impõem-se regras de cuidado.
A doutrina da conexão do risco impõe uns certos princípios de correção aos resultados
alcançados pela doutrina da adequação.
Se a doutrina da adequação não imputar o resultado à conduta, o caso morre aí. Mas se
imputar, podemos ainda avaliar o caso à luz da conexão do risco.
Liliana Andrade – 3º ano, turma única – ano letivo 2018/2019 2
A imputação está dependente de um duplo fator: primeiro, a ação do agente há-de ter criado
um risco não permitido ou aumentado um risco já existente; segundo, que esse risco não permitido
tenha conduzido à produção do resultado concreto.
O dado de que a vitima era absolutamente intolerante ao anestésico é posterior à prática do
facto. É verdade que o agente criou um risco proibido. E esse risco concretizou-se no resultado
morte. Mas, ainda que o agente não tivesse criado esse risco proibido, ainda que tivesse atuado
licitamente, o resultado dar-se-ia da mesma maneira. Havia outro risco concomitante, não evitável.
Num juízo ex ante, parecia que a morte se ficaria a dever exclusivamente à dose excessiva de
anestesia. Num juízo ex post, sabemos, com certeza, que a morte se daria na mesma, ainda que o
agente tivesse dado a dose indicada. Afinal, não foi por causa do risco proibido que ele morreu. Foi
pelo risco permitido. Então, fará sentido imputar o resultado à conduta?
A imputação está dependente de um duplo fator: primeiro, a ação do agente há-de ter criado
um risco não permitido ou aumentado um risco já existente; segundo, que esse risco não permitido
tenha conduzido à produção do resultado concreto. É o princípio do comportamento lícito
alternativo: se o agente se tivesse comportado licitamente, sabe-se depois que o resultado seria o
mesmo. Não deve imputar-se um resultado à conduta do agente porque, no fundo, era estar a dar o
primeiro passo para o punir e era inútil.
Assim, a morte do paciente não pode ser imputada ao anestesista. Claro que poderá ser alvo
de um processo disciplinar no Hospital.
É claro que se isto acontecer numa conduta dolosa, o agente podia ser punido por crime de
homicídio tentado. De facto, a ação do agente tem o seu desvalor inalterado, quer o resultado seja um
ou outro.
5. A matou B no aeroporto, quando este se preparava para embarcar. O avião em que B teria
viajado caiu, não tendo havido sobreviventes. B teria, pois, morrido, mesmo se A o não tivesse
matado. Quid iuris?
Trata-se do problema da causalidade hipotética ou virtual. Ele não morreria nas mesmas
circunstâncias e no mesmo tempo exato. Há um intervalo entre a conduta e o resultado que se
verificaria se ele não o tivesse matado.
Há quem considere que estas duas situações (a causalidade virtual e o caso anterior) são
diferentes. O comportamento lícito alternativo releva juridicamente. E, assim, a causa virtual ou
hipotética não releva nestes casos de crimes de ação.
Liliana Andrade – 3º ano, turma única – ano letivo 2018/2019 2
6. A conduzia o seu automóvel perto de uma casa de repouso. Nessa rua — e por causa dessa
instituição — estava colocado um sinal de trânsito proibindo buzinar. Ao ver um cão atravessar
vagarosamente a rua, à sua frente, A buzinou com força. Por azar, passava nesse momento por ali
uma septuagenária que caiu, ferindo-se com alguma gravidade, devido ao inesperado da buzinadela.
Deve imputar-se o resultado ofensa à integridade física à conduta de A?
Em termos de causalidade naturalística, o resultado era imputado à conduta de A. Se A não
tivesse buzinado, a idosa não teria caído devido ao susto.
Segundo a teoria da adequação, o resultado era previsível tendo em conta a conduta de A.
Mas estamos no âmbito da doutrina da conexão do risco. A pergunta é se A criou ou potenciou um
risco não permitido e se esse risco se concretizou no resultado típico. Quanto ao risco, é verdade que
A criou um risco não permitido (ao infringir o sinal de trânsito). O fundamento da norma é a não
perturbação das pessoas internadas na casa de repouso. Pretende evitar que elas sejam perturbadas.
Mas o resultado criado não é o resultado típico da norma. É o princípio do âmbito de proteção da
norma. Logo, não se imputa o resultado à conduta do agente.
7. A provoca a B um ligeiro ferimento. No centro de saúde dizem a B que deve vacinar-se
contra a tétano. B recusa e morre de tétano. Deve a morte de B imputar-se a A?
A imputação objetiva já não passava pelo crivo da adequação. Além disso, há uma
interposição da autorresponsabilidade do agente entre a conduta e o resultado.
8. A, para receber um prémio do seguro, pega fogo à sua casa. Um dos bombeiros chamados
para apagar o incêndio morre ao tentar salvar uma pessoa que estava na casa. Deve a morte do
bombeiro imputar-se a A?
Não deve imputar-se porque, neste caso, mesmo assim, há a imputação do resultado a um
âmbito de responsabilidade alheia. É o caso de heterocolocação em perigo livremente aceite ou
consentida, em que o bombeiro não cria o perigo, mas, com consciência do perigo, se deixa pôr em
risco por outrem, pela conduta de A. É da sua própria e livre vontade entrar no perigo criado por
outro. Então aquilo que lhe pudesse acontecer não é imputável a A. Isto tem só a ver com o âmbito
de proteção do tipo. É quase um risco inerente à profissão de bombeiro.
Fórmula geral da doutrina da conexão do risco: imputa-se o resultado à conduta quando esse agente
criar ou potenciar um risco não permitido sempre que seja esse risco a concretizar-se no resultado típico.
Casos sobre imputação subjetiva (erro)
Liliana Andrade – 3º ano, turma única – ano letivo 2018/2019 2
Visto o tipo objetivo, vamos ver o tipo subjetivo, que é essencialmente ou doloso ou
negligente. O dolo do tipo é a representação (elemento intelectual) e a vontade de realizar a conduta
típica (elemento volitivo). O elemento intelectual exige que o agente tenha conhecimento das
circunstâncias descritas no tipo objetivo (a factualidade típica, expressão de Eduardo Correia). O erro
dá-se quando não se preenche o elemento intelectual do tipo doloso.
1. A é ator de teatro e participa numa peça em que ocorre a prática de um homicídio na
pessoa de outra personagem, cujo desempenho cabe a B. Sabendo disso, C tira a arma que servia de
adereço e substitui-a por outra igual, mas verdadeira e carregada. Ignorando tal facto, durante a
representação A dispara sobre B, ocasionando a sua morte. Refira-se à responsabilidade jurídico-
penal de A.
Trata-se do tipo legal de homicídio. O que ele representa nem sequer crime é.
Faltando ao agente o conhecimento da totalidade das circunstâncias descritivas ou normativas
do facto, o dolo do tipo não pode afirmar-se. É o que diz o art. 16º, nº 1. Há uma divergência entre a
representação do agente e a proibição legal. É isto que se chama erro sobre a factualidade típica, que
exclui o dolo (mas pode haver lugar a punibilidade por negligência – 16º/3). O agente não tinha
qualquer projeto criminoso. Mas a sua conduta deu lugar ao resultado proibido. A expressão “exclui
o dolo” é uma maneira de dizer. Ele nem sequer existiu.
2. A, médico, receita a B um determinado medicamento, ignorando que B se encontra grávida.
O remédio, adequado ao tratamento de B, era, porém, abortivo, se tomado na fase inicial da gravidez.
O filho que B esperava veio efetivamente a morrer, como consequência da presença do tal químico
no sangue materno. Qual a responsabilidade jurídico-penal de A?
É a mesma solução do primeiro caso – erro sobre a factualidade típica do art 140º (aborto).
3. A decide matar B. Sabendo que este se desloca habitualmente num Nissan encarnado, com
a matrícula X, espera-o logo de manhã, à saída da garagem de sua casa. Ao ver o carro, A dispara
sobre o condutor. Horrorizado, descobre que afinal, naquele dia, era C, filho de B, que ia ao volante.
Quid iuris?
Já não é um erro sobre a factualidade típica. O tipo legal de crime em causa é o homicídio. O
agente representou e quis matar B. Há um crime projetado e doloso, mas não contra C, que foi a
vítima. Trata-se de um erro sobre a pessoa. Este erro é irrelevante. O crime continua a ser o de
Liliana Andrade – 3º ano, turma única – ano letivo 2018/2019 2
homicídio doloso. O homicídio projetado e o homicídio acontecido é valorado da mesma forma. Há
idêntica típica do objeto da ação.
E se C era filho de A? A projetou matar B. E afinal matou o seu próprio filho. A solução é a
mesma? Continua a ser um erro sobre a pessoa objeto da ação de matar. A pergunta a fazer é a de
saber se há identidade típica do objeto da ação. A conduta projetada entraria no art. 131º CP. A
conduta acontecida entraria no art. 132º CP. Há uma diferença de valoração da ordem jurídica entre
as das condutas. A doutrina maioritária entende que em casos destes, em que há de raiz um crime
projetado e, por uma circunstância eventual, o crime praticado é diferente do crime projetado, como
não há identidade típica do objeto, vamos ver como se pode analisar a conduta do agente. A tentou
matar B (representou e quis matar B). Isto é uma tentativa de homicídio simples (art. 131º). A isto
acresce um homicídio qualificado consumado por negligência (como nos diz o art. 16º, nº 3, para os
casos gerais do erro sobre a factualidade típica), previsto no art. 137º. O juiz, além de procurar saber
se o crime é punido por negligência (art. 13º), terá de averiguar se realmente o comportamento de A
foi negligente. É uma solução “concreta”, como diz Figueiredo Dias, que espelha o que realmente
aconteceu. Há quem lhe chame solução de concurso. Claro que esta solução é falível: basta que o
crime projetado não seja punido por tentativa ou que o crime praticado não seja punido por
negligência.
Há um problema que, por vezes, se pode sobrepor a este do erro sobre a pessoa. Aqui os
crimes projetado e praticado são fruto do mesmo crime por uma técnica de qualificação. Um crime
qualificado é um acréscimo de desvalor. No caso de o projeto criminoso do agente apontar para um
crime qualificado (art. 132º) e o crime praticado se concretizar num homicídio simples (art. 131º), ele
erra sobre o elemento qualificador. E neste caso, devido à estrutura dos crimes qualificados, fará
mais sentido puni-lo por homicídio simples consumado doloso, porque “quem quer o mais, quer o
menos”. Fará mais sentido que a solução de concurso.
a) Imagine agora que B ia efetivamente ao volante, mas que o tiro de A lhe saiu pouco
certeiro. O atingido não foi B, mas sim D, mulher de B, que ia sentada a seu lado. Quid iuris?
É um erro na execução. Não há, na verdade, nenhum erro intelectual. A ação adequada a
matar B não foi bem-sucedida, acabando por ser D a vítima. Aqui entra um fator importante da
casualidade. A ideia de Figueiredo Dias é dizer que não devemos agravar a punibilidade do A
quando, de facto, ter morrido outra pessoa se deve a uma casualidade. Aqui a solução é de concurso.
Tentativa de homicídio simples e, porventura, homicídio simples consumado negligente.
Liliana Andrade – 3º ano, turma única – ano letivo 2018/2019 2
b) Pense agora que o erro de pontaria de A teve como consequência, não a morte, mas
ferimentos graves em D?
Solução de concurso: tentativa de homicídio simples e, porventura, crime de ofensa à
integridade física consumado negligente.
c) E, por último, quid iuris se a bala pouco certeira de A matou apenas o cão de B, que ia
também dentro do carro.
A técnica é a mesma.
A queria matar B e queria que ele morresse afogado. E ele morre porque bateu com a cabeça
no pilar da ponte da qual foi atirado. O crime projetado era matar por afogamento; o crime praticado
foi matar por traumatismo. A lógica é que o erro não releva. Na fase da imputação do resultado à
conduta, o risco de se atirar uma pessoa de uma ponta abaixo implica vários resultados possíveis.
Além disso, o homicídio é um crime de execução livre.
Mas e se o CP tinha tipos diferentes para várias formas de matar? Nesse caso, havia
homicídios de execução vinculada, sendo que o erro relevava.
Há um caso ainda de “dolus generalis”. O agente projeta um crime, que se consuma sobre o
objeto projetado, mas por meio diferente. O agente consumou o crime com uma ação diferente da
projetada; ação essa prevista como meio de encobrimento do crime.
A queria matar B à paulada. Pensou também na maneira de encobrir o crime: meter o cadáver
num saco e atirá-lo ao rio. Aconteceu que B parecia morte, mas não estava. Morreu asfixiado. A ação
através da qual ele intencionava matar não foi consumada. E não existia dolo na ação que realmente
levou à morte. Mas, no seu todo, cumpriu-se tudo o que ele queria, daí que se diga que o dolo é
“geral”. O Dr. Figueiredo Dias diz que o risco que o agente criou e estava previsto foi criado e,
embora não como o agente o tenha pensado, acabou por consumar a ação. Não há nenhuma
interrupção de nexo causal. O erro não releva.
Há um último erro, previsto no art. 16º, nº 1, que exclui o dolo: erro sobre as proibições
legais. O agente representa e quer aquilo que está a fazer, só que não sabe que isso é um crime. Não
tem noção do caráter proibido da conduta. Do ponto de vista intelectual, ele representa toda a
factualidade típica. Só que no fim descobre que essa conduta era proibida criminalmente. Só que esse
erro não pode excluir o dolo, em princípio. O Dr. Figueiredo Dias que há certas proibições cujo
desconhecimento pode excluir o dolo. Na maior parte dos casos, basta o agente representar a conduta
Liliana Andrade – 3º ano, turma única – ano letivo 2018/2019 2
para imediatamente a sua consciência dos valores perceba que aquilo é crime. São crimes que, antes
de o ser, já o “eram”, no sentido em que são eticamente desvaliosas. Mas já há crimes (fruto da
neocriminalização) que o são em relação aos quais a comunidade ainda não interiorizou. Nesses
casos, mesmo que a pessoa não saiba que é crime, nunca poderia saber porque a sua consciência não
indicava nesse sentido. É crime matar o porco que não tenha certificado veterinário. Isto é um
exemplo, entre muitos, de que há crimes que não são daqueles que antes de o ser “já o eram”. Mas é
preciso uma averiguação concreta em cada caso. Nestes casos, é como se a proibição fosse também
um elemento da factualidade típica, uma afirmação ousada do Dr. Figueiredo Dias.
4. A, banqueiro, vem sendo repetidamente ameaçado de morte por um grupo terrorista. Uma
noite, sente que alguém rasteja pela erva do jardim, mesmo junto da parede da casa. Pensando que
chegara a hora do atentado, pega na arma e dispara um tiro certeiro na direção de quem assim se
aproximava. Afinal, veio a verificar que matara o seu próprio filho, que procurava entrar em casa
pela janela, para que o pai não se apercebesse de que chegava fora de horas. Quid iuris?
Liliana Andrade – 3º ano, turma única – ano letivo 2018/2019 2
Você também pode gostar
- DPCivil - Introdução Ao Processo Civil - Conceito e Princípios Gerais À Luz Do Novo Código - 2013 - José Lebre de Freitas - OCRDocumento130 páginasDPCivil - Introdução Ao Processo Civil - Conceito e Princípios Gerais À Luz Do Novo Código - 2013 - José Lebre de Freitas - OCRmspc_Ainda não há avaliações
- Caderno Direito PenalDocumento44 páginasCaderno Direito PenalCarol MesquitaAinda não há avaliações
- Mnemônico de Direito PenalDocumento6 páginasMnemônico de Direito PenalAlan FelixAinda não há avaliações
- Aulas Praticas Penal IIDocumento87 páginasAulas Praticas Penal IILuana CamiloAinda não há avaliações
- Calvão Da Silva J, Responsabilidade Civil Do Produtor e Protecção Do Consumidor em Portugal e Na UEDocumento45 páginasCalvão Da Silva J, Responsabilidade Civil Do Produtor e Protecção Do Consumidor em Portugal e Na UECristiana SantosAinda não há avaliações
- MODELO Exceção de Pré Executividade - Multa Ambiental - Dívida AtivaDocumento17 páginasMODELO Exceção de Pré Executividade - Multa Ambiental - Dívida AtivaGilfredo MacarioAinda não há avaliações
- Temas De Direito Penal E Processo PenalNo EverandTemas De Direito Penal E Processo PenalAinda não há avaliações
- Penal, Processo Penal e Contraordenações GeralDocumento6 páginasPenal, Processo Penal e Contraordenações GeralLadyyBruna100% (1)
- Conflito Entre Ressocialização e o Princípio Da Legalidade Na Execução Penal - Luis Carlos ValoisDocumento507 páginasConflito Entre Ressocialização e o Princípio Da Legalidade Na Execução Penal - Luis Carlos ValoisGiovanne AzevedoAinda não há avaliações
- Aplicação Da Lei No Espaço - JCL Tutoria - Prof. João Matos VianaDocumento7 páginasAplicação Da Lei No Espaço - JCL Tutoria - Prof. João Matos VianamateusAinda não há avaliações
- Direito Penal IIDocumento52 páginasDireito Penal IIKuake HDAinda não há avaliações
- Penal 3011Documento2 páginasPenal 3011Felipe RibeiroAinda não há avaliações
- Leonardo Schmitt de MARTINELLI - Lições Fundamentais de Direito Penal Parte GeralDocumento20 páginasLeonardo Schmitt de MARTINELLI - Lições Fundamentais de Direito Penal Parte GeralAna Clara SimõesAinda não há avaliações
- Direito PenalDocumento9 páginasDireito PenalTaís BarrosAinda não há avaliações
- Contravenções PenaisDocumento15 páginasContravenções PenaisJuliana CruzAinda não há avaliações
- D PenalDocumento76 páginasD PenalMarcos aurelio OliveiraAinda não há avaliações
- Lei Penal No TempoDocumento13 páginasLei Penal No TempoJacqueline Santos FernandesAinda não há avaliações
- TesesDocumento42 páginasTesesAlisson BarrosAinda não há avaliações
- Aplicação Da Lei Penal MilitarDocumento16 páginasAplicação Da Lei Penal MilitarKleiton SantosAinda não há avaliações
- Direito Pela ExercícioDocumento13 páginasDireito Pela ExercícioFabiana Direito UnibanAinda não há avaliações
- Av2 - Direito Penal. ResumoDocumento11 páginasAv2 - Direito Penal. ResumoMessias Freire0% (1)
- Resumo - 2609415 Erico de Barros Palazzo - 100267785 Direito Penal Parte Geral 2019 Aula 15 L 1600427668Documento6 páginasResumo - 2609415 Erico de Barros Palazzo - 100267785 Direito Penal Parte Geral 2019 Aula 15 L 1600427668Priscylla Monteiro OliveiraAinda não há avaliações
- Direito Penal Parte Geral Evandro Guedes 1 EncontroDocumento13 páginasDireito Penal Parte Geral Evandro Guedes 1 EncontroIvaldoBezerraAinda não há avaliações
- 1 - Penal - Aplicação Da Lei Penal 1 A 12Documento12 páginas1 - Penal - Aplicação Da Lei Penal 1 A 12Hassan Gabriel Rodrigues HarbAinda não há avaliações
- Aplicacao Da Lei Penal Militar Grifado 51dbDocumento13 páginasAplicacao Da Lei Penal Militar Grifado 51dbMarcos DavidAinda não há avaliações
- Comentários À Lei de Contravenções Penais - Parte GeralDocumento10 páginasComentários À Lei de Contravenções Penais - Parte GeralRaimundo Lima dos Santos JuniorAinda não há avaliações
- Artigos 2, 3 3 4 Do CPDocumento4 páginasArtigos 2, 3 3 4 Do CPM Sc. Claudio Luis HayasakiAinda não há avaliações
- Aula 03 Lei PenalDocumento53 páginasAula 03 Lei PenalUsuario4812Ainda não há avaliações
- Entada PENALDocumento56 páginasEntada PENALAline MendoncinhaAinda não há avaliações
- Aula 03 Lei PenalDocumento29 páginasAula 03 Lei PenallaislavorpagelAinda não há avaliações
- Aulas - Direito Penal IDocumento11 páginasAulas - Direito Penal IRuan FernandesAinda não há avaliações
- Aula 1 - Curso Popular - Aplicação Da Lei No Tempo e No Espaço - 19.08.16Documento43 páginasAula 1 - Curso Popular - Aplicação Da Lei No Tempo e No Espaço - 19.08.16claralque12Ainda não há avaliações
- Aula 9 Conceito de Norma e Lei PenalDocumento3 páginasAula 9 Conceito de Norma e Lei PenalcabessauropobreAinda não há avaliações
- Direito Penal - Aplicação Da Lei PenalDocumento7 páginasDireito Penal - Aplicação Da Lei PenalLuan Gonçalves MatosAinda não há avaliações
- Resumo Lei Penal No Tempo, EspacoDocumento3 páginasResumo Lei Penal No Tempo, EspacoAna Flavia TraginoAinda não há avaliações
- Questoes de Direito PenalDocumento579 páginasQuestoes de Direito PenalEmanuelle MartinsAinda não há avaliações
- Direito PenalDocumento7 páginasDireito PenalLeonAinda não há avaliações
- b00509f1-081e-4923-a804-75b693bd6c08 (1)Documento4 páginasb00509f1-081e-4923-a804-75b693bd6c08 (1)Juliacpc45Ainda não há avaliações
- Trabalho Direito Penal 13.07.22Documento7 páginasTrabalho Direito Penal 13.07.22Lucas RangelAinda não há avaliações
- Teoria Do Crime - Lei Penal No Tempo e No EspaçoDocumento18 páginasTeoria Do Crime - Lei Penal No Tempo e No EspaçoJOAO PAULO DE OLIVEIRA FERNANDESAinda não há avaliações
- Direito Penal - Alexandre SalimDocumento62 páginasDireito Penal - Alexandre SalimLuis de OxaguianAinda não há avaliações
- Direito Penal AulasDocumento2 páginasDireito Penal Aulasisamafalda2018Ainda não há avaliações
- Teoria Geral Da Investigação e PeríciaDocumento10 páginasTeoria Geral Da Investigação e PeríciaAna Carolina CordovilAinda não há avaliações
- Questão de Direito Penal Pra o SiteDocumento491 páginasQuestão de Direito Penal Pra o SiteEmanuelle MartinsAinda não há avaliações
- Casos PraticosDocumento12 páginasCasos PraticosJoana GomesAinda não há avaliações
- Penal Paulo SumarivaDocumento22 páginasPenal Paulo SumarivamarceloAinda não há avaliações
- Exercícios Comentados 2Documento29 páginasExercícios Comentados 2Ksss SumiyaAinda não há avaliações
- Apostila de Penal ParteDocumento130 páginasApostila de Penal ParteCícero FilhoAinda não há avaliações
- Aplicação Da Lei PenalDocumento18 páginasAplicação Da Lei PenalgabriellaAinda não há avaliações
- Resumo Direito PenalDocumento9 páginasResumo Direito PenalLouise VerônicaAinda não há avaliações
- Teoria Da Norma Penal: Abolitio Criminis, Lei Temporária e Excepcional e Tempo Do CrimeDocumento8 páginasTeoria Da Norma Penal: Abolitio Criminis, Lei Temporária e Excepcional e Tempo Do Crimeacriattivadesign.meryAinda não há avaliações
- 2020.2 - Investigação Forense e Perícia CriminalDocumento11 páginas2020.2 - Investigação Forense e Perícia CriminalAna Carolina CordovilAinda não há avaliações
- 1 - Fichamento para Estudo - Penal 01 - Aplicação Da Lei Penal No Tempo e No EspaçoDocumento18 páginas1 - Fichamento para Estudo - Penal 01 - Aplicação Da Lei Penal No Tempo e No EspaçoLarissa FelixAinda não há avaliações
- Roteiro de Aula - Intensivo I - D. Penal - Cleber Masson - Aula 5Documento11 páginasRoteiro de Aula - Intensivo I - D. Penal - Cleber Masson - Aula 5bizuferoz10Ainda não há avaliações
- Prova Questoes Art 1 Ao 7 CPDocumento6 páginasProva Questoes Art 1 Ao 7 CPOrione PereiraAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido - Primeira Unidade de Penal IDocumento8 páginasEstudo Dirigido - Primeira Unidade de Penal IThatyana Costa Souza SantosAinda não há avaliações
- Direito Penal - Aula 03Documento12 páginasDireito Penal - Aula 03Ana Cláudia BarrosAinda não há avaliações
- Artigo 1 Ao 14 Penal PDFDocumento4 páginasArtigo 1 Ao 14 Penal PDFBruna AnjosAinda não há avaliações
- Resumo - Ação PenalDocumento12 páginasResumo - Ação PenalThaís VolpiAinda não há avaliações
- Trabalho de Penal - TerritorialidadeDocumento10 páginasTrabalho de Penal - TerritorialidadeDavid EmilianoAinda não há avaliações
- TRIBUNAIS - Aplicacao Da Lei PenalDocumento10 páginasTRIBUNAIS - Aplicacao Da Lei PenalohanaAinda não há avaliações
- Direito Penal - Parte GeralDocumento8 páginasDireito Penal - Parte GeralJoao GabrielAinda não há avaliações
- Pacote Anticrime: Comentários à Lei n. 13.964/2019No EverandPacote Anticrime: Comentários à Lei n. 13.964/2019Ainda não há avaliações
- Sebenta de Trabalho DavideDocumento170 páginasSebenta de Trabalho DavideCarolina NunesAinda não há avaliações
- Sebenta de Trabalho DavideDocumento170 páginasSebenta de Trabalho DavideCarolina NunesAinda não há avaliações
- Dani Trabalho MANUALDocumento180 páginasDani Trabalho MANUALCristiana SantosAinda não há avaliações
- Descomplicando O Direito Administrativo: Carlos José Teixeira de ToledoDocumento177 páginasDescomplicando O Direito Administrativo: Carlos José Teixeira de ToledoRaquel MatosAinda não há avaliações
- MÓDULO DE DIREITO ADMINISTRATIVO II EaD ISGECOFDocumento89 páginasMÓDULO DE DIREITO ADMINISTRATIVO II EaD ISGECOFRogerio Albino Canae100% (1)
- Dissertação - Lisboa - Regulamento AdministrativoDocumento86 páginasDissertação - Lisboa - Regulamento AdministrativoArthur PinelAinda não há avaliações
- Direito Administrativo, Noções PreliminaresDocumento26 páginasDireito Administrativo, Noções PreliminaresRafael KistAinda não há avaliações
- A Impropriedade Do Pedido de Condenação Na DenúnciaDocumento16 páginasA Impropriedade Do Pedido de Condenação Na DenúnciaFrancisco Bissoli FilhoAinda não há avaliações
- Processo Penal JalecoDocumento122 páginasProcesso Penal JalecoJoana SilvaAinda não há avaliações
- Roteiro de Aula - MP e Mag - D. Penal - Cleber Masson - Aula 1Documento9 páginasRoteiro de Aula - MP e Mag - D. Penal - Cleber Masson - Aula 1Tiago CabralAinda não há avaliações
- Aula 01Documento113 páginasAula 01kelvinAinda não há avaliações
- Resumos de Direito Administrativo I - PortugualDocumento183 páginasResumos de Direito Administrativo I - PortugualValeria SitoeAinda não há avaliações
- Auditor Fiscal de Receitas Estaduais Cbasicos 2013 Tipo 1Documento19 páginasAuditor Fiscal de Receitas Estaduais Cbasicos 2013 Tipo 1Nizete CostaAinda não há avaliações
- Aula 03Documento81 páginasAula 03MarcChagallAinda não há avaliações
- Apostila de Direito Penal CompletaDocumento90 páginasApostila de Direito Penal CompletaAna Paula MachadoAinda não há avaliações
- Princípio Da Legalidade Tributária - Mapa MentalDocumento4 páginasPrincípio Da Legalidade Tributária - Mapa MentalHigor FragaAinda não há avaliações
- 4 Princípios OrçamentáriosDocumento23 páginas4 Princípios OrçamentáriosKaio César SantosAinda não há avaliações
- Atividade 5 I DireitoDocumento4 páginasAtividade 5 I DireitoLucas PeixotoAinda não há avaliações
- Monografia RPAS PMES - Final - Ricardo Miranda PinheiroDocumento142 páginasMonografia RPAS PMES - Final - Ricardo Miranda PinheiroPablo AngelyAinda não há avaliações
- Resume de Direito Penal para Os AlunosDocumento7 páginasResume de Direito Penal para Os AlunosNilton BanzeAinda não há avaliações
- Pmal - Apostila - Direito AdministrativoDocumento50 páginasPmal - Apostila - Direito AdministrativoKarina RodriguesAinda não há avaliações
- Caderno de Direito Penal - Parte Geral - Conquistando A TogaDocumento223 páginasCaderno de Direito Penal - Parte Geral - Conquistando A TogaJefferson Ribeiro dos SantosAinda não há avaliações
- Enunciados Do Crps e Decisões Da JRPSDocumento238 páginasEnunciados Do Crps e Decisões Da JRPSMarcos AndradeAinda não há avaliações
- Princípio Da Legalidade Mafalda MalóDocumento10 páginasPrincípio Da Legalidade Mafalda MalóDuarte BastosAinda não há avaliações
- Ibrain José Das Mercês Rocha - Execução de Débitos de Pequeno ValorDocumento6 páginasIbrain José Das Mercês Rocha - Execução de Débitos de Pequeno ValorVinicius Naves AraújoAinda não há avaliações
- Direito Administrativo Sebenta Prática FDUP 2.º SemestreDocumento98 páginasDireito Administrativo Sebenta Prática FDUP 2.º SemestreLista A CC2Ainda não há avaliações
- Trabalho Da AV1Documento3 páginasTrabalho Da AV1Trindade MariaAinda não há avaliações
- Penal AngolanoDocumento59 páginasPenal AngolanoPeiroteo Junior SangoAinda não há avaliações
- Carjuridicasdirconstitucionalcap 5 Parte 1Documento113 páginasCarjuridicasdirconstitucionalcap 5 Parte 1Thiago SilvaAinda não há avaliações
- Apontamento Do Direito Fiscal - 2 - Parte - Das FontesDocumento14 páginasApontamento Do Direito Fiscal - 2 - Parte - Das FontesEduardo ValenteAinda não há avaliações