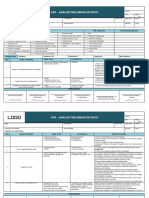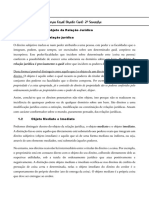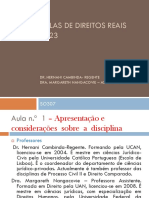Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Teoria Geral Do Direito Civil II
Enviado por
dannycostinhaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Teoria Geral Do Direito Civil II
Enviado por
dannycostinhaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II
II – Teoria Geral do Objeto da Relação Jurídica
CAPÍTULO I
O objeto é aquilo sobre que recaem os poderes do titular do direito (do sujeito
ativo da Relação Jurídica). Logo, o objeto da relação jurídica é o objeto de direitos
subjetivos, é todo o quid, todo o ente, todo o bem sobre que podem recair direitos
subjetivos.
Assim, objeto de um direito e conteúdo de um direito são conceitos bastante
distintos – conteúdo é o conjunto dos poderes ou faculdades que o direito subjetivo
comporta -. (por exemplo, no que ao direito de propriedade sobre o carro A diz respeito,
tem-se que o objeto será o carro A e o conteúdo do direito são os poderes de usar, dispor,
fruir).
Questão doutrinal: Direitos potestativos têm objeto? O curso responde
negativamente, relembrando, no entanto, que estes têm necessariamente conteúdo. Uma
vez que os direitos potestativos são direitos a uma modificação jurídica (constituição,
modificação ou extinção de Relação Jurídica), no máximo poderíamos pretender que para
os direitos potestativos modificativos ou extintivos o objeto fosse a própria relação
jurídica modificada ou extinta. No entanto, para os constitutivos a situação torna-se bem
diferente, pelo que o curso opta pela resposta – como já foi referido – negativa.
Autores há que dizem que o objeto dos direitos potestativos seria o
comportamento do sujeito ativo destinado a produzir efeitos na esfera de outrem, outros
que dizem ser o objeto o próprio efeito jurídico.
Assim, são possíveis objetos de relações jurídicas: as pessoas, certas
manifestações ou modos de ser físicos ou morais das pessoas, prestações, direitos
subjetivos e as coisas (corpóreas ou incorpóreas).
DISTINÇÃO:
Objeto mediato e objeto imediato da relação jurídica:
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
O objeto imediato pressupõe aquilo que está diretamente submetido aos poderes
ideais que integram um direito subjetivo e o objeto mediato engloba aquilo que só de uma
forma mediata ou indireta – id est, através de um elemento mediador -, está submetido
aos poderes ideais que integram um direito subjetivo.
No entanto, esta distinção nem sempre se verifica – por exemplo, nos direitos reais
não há um intermediário entre o titular do direito e a coisa, pelo que o proprietário, o
usufrutuário, etc, está em contacto direto com o objeto do seu direito.
Esta distinção verifica-se nas obrigações (direitos de crédito) de prestação de coisa
certa e determinada – o credor só tem direito à coisa através de prestação do devedor
(assim, o objeto imediato será a prestação do devedor e o objeto mediato, a coisa).
Assim, são possíveis objetos de relações jurídicas: as pessoas, certas
manifestações ou modos de ser físicos ou morais das pessoas, prestações, direitos
subjetivos e as coisas (corpóreas ou incorpóreas).
CAPÍTULO II – AS COISAS E O PATRIMÓNIO
NOÇÃO JURÍDICA DE COISA:
Interessa fundamentalmente num estudo jurídico caracterizar a noção jurídica de
coisa.
Num sentido corrente e amplo, coisa é tudo o que pode ser pensado, ainda que não
tenha existência real e presente. Num sentido físico, coisa é tudo o que tem existência
corpórea.
Quanto ao sentido jurídico de coisa, há que considerar o artigo 202.º do Código
Civil “Diz-se coisa tudo aquilo que pode ser objeto de relações jurídicas”. No entanto,
não pode considera-se rigorosa tal definição - embora as coisas sejam o “tipo” mais
corrente de objeto de relações jurídicas, nem tudo o que é suscetível de ser objeto de
relações jurídicas será uma coisa em sentido jurídico -.
Conjugando todas as ideias precedentes podemos definir as coisas em sentido
jurídico como os bens (ou os entes) de caráter estático, desprovidos de personalidade e
não integradores do conteúdo necessário desta, suscetíveis de constituírem objeto de
relações jurídicas. Para que as coisas possam, portanto, ser objeto de relações jurídicas
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
têm de apresentar (1) existência autónoma; (2) possibilidade de apropriação exclusiva por
alguém (contrariamente à luz solar, por exemplo); (3) aptidão para satisfazer necessidades
humanas. Não é, assim, necessário serem bens de natureza corpórea, permutáveis ou
efetivamente apropriados.
NOÇÃO DE PATRIMÓNIO:
Na linguagem dos juristas, a palavra património conhece várias aceções:
• Património global: Conjunto de relações jurídicas, ativas e passivas (direitos e
obrigações) avaliáveis em dinheiro de que uma pessoa é titular. Não se trata do
conjunto de imóveis, móveis, créditos ou outros direitos patrimoniais, mas sim do
conjunto de relações jurídicas. Algumas qualidades do sujeito que se projetam nos
resultados patrimoniais da sua vida não integram o seu património (por exemplo,
o caso da força de trabalho). Só fazem parte do património as relações jurídicas
suscetíveis de avaliação pecuniária;
• Património bruto ou ilíquido: Conjunto de direitos avaliáveis em dinheiro,
pertencentes a uma pessoa, abstraindo, portanto, das obrigações. É esta a noção
que reveste maior interesse jurídico, dado ser esta a noção relevante para o
domínio institucional da responsabilidade civil, em que se pode falar na principal
função jurídica do património: a garantia dos credores.
• Património líquido: Num sentido mais restrito, pode designar-se como o saldo
patrimonial – relações jurídicas ativas ou direitos, menos as obrigações ou
relações jurídicas passivas -. Trata-se de um valor puramente económico, pois,
como já foi dito, o sentido jurídico da noção de património é fundamentalmente o
correspondente ao conceito de património bruto (conceito relevante para efeitos
de responsabilidade civil);
• Património autónomo ou separado: Quando existe uma massa de relações
patrimoniais, pertencentes ao mesmo sujeito do património geral, com um
tratamento jurídico particular. Património que só responde por dívidas próprias.
As dívidas pelas quais só o património autónomo responde, sem responder por
quaisquer outras, são as dívidas relacionadas com a função especifica ou a
afetação especial desse património. O caso mais nítido e claro de património
autónomo no direito privado português é o da herança, id est, relações jurídicas
patrimoniais que, por força da morte de um indivíduo, passam da titularidade deste
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
para os herdeiros e legatários. Assim sendo, a responsabilidade do herdeiro pelas
dívidas da herança não excede o valor dos bens herdados;
• Património coletivo: Na hipótese anterior, existem, na titularidade do mesmo
sujeito, duas ou mais massas patrimoniais autónomas ou separadas. Já no que à
figura do património coletivo diz respeito, esta apresenta-se-nos quando,
inversamente, um único património tem vários sujeitos (duas ou mais pessoas que
possuem, cada uma, o seu património, que às duas pertence globalmente) – o
património coletivo pertence em bloco, globalmente, ao conjunto de pessoas
correspondentes. Por exemplo, o caso da comunhão conjugal (art. 1696.º CC), que
se distingue da propriedade em comum;
III – TEORIA GERAL DO FACTO JURÍDICO
TÍTULO I – DOS FACTOS JURÍDICOS EM GERAL
CAPÍTULO I – CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO
Noção de facto jurídico: Facto jurídico +e todo o ato humano ou acontecimento natural
juridicamente relevante, sendo que essa relevância jurídica se traduz, principalmente
senão mesmo necessariamente, na produção de efeitos.
Classificação dos factos jurídicos:
Factos voluntários e factos jurídicos involuntários (ou naturais): Os factos voluntários
ou atos jurídicos resultam da vontade enquanto elemento juridicamente relevante, são
manifestação e uma vontade, ações humanas tratadas pelo direito enquanto manifestações
de vontade. Os factos jurídicos involuntários são estranhos a qualquer processo volitivo,
sendo que ou resultam da ordem natural ou porque a sua eventual voluntariedade não tem
relevância jurídica.
Atos lícitos e ilícitos: Os factos jurídicos voluntários constituir-se-ão enquanto atos
ilícitos quando se afigurarem contrários à ordem jurídica e por ela reprovados, importando
uma sanção para o seu autor (infrator de uma norma jurídica). Por seu turno, os atos lícitos
são conformes à ordem jurídica e por ela consentidos.
Negócios jurídicos e simples atos jurídicos: Segundo outra classificação de caráter
fundamental, os fatos voluntários poderão ser negócios jurídicos e simples atos jurídicos.
Apesar de estarmos na esfera dos fatos voluntários, nem sempre os efeitos jurídicos
respetivos são produzidos por terem sido queridos e na medida em que o foram. Esta
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
distinção assentará precisamente no critério da relação que intercede entre a vontade das
partes dirigida a um resultado e os efeitos jurídicos produzidos.
Os negócios jurídicos são fatos voluntários, cujo núcleo é constituído por uma ou
mais declarações de vontade, a que o ordenamento jurídico atribui efeitos jurídicos
concordantes com o conteúdo da vontade das partes, tal como este é objetivamente
apercebido. Produzem-se efeitos ex voluntate e não apenas ex lege, dado que os negócios
jurídicos são, como já foi dito, atos jurídicos constituídos por uma ou mais declarações
de vontade, dirigidos à realização de certos efeitos práticos, com intenção de os alcançar
sob tutela do direito.
Já os simples atos jurídicos são fatos voluntários cujos efeitos se produzem mesmo
que não tenham sido previstos ou queridos pelos seus autores (embora muitas vezes haja
concordância entre a vontade destes e os referidos efeitos). Os efeitos dos simples atos
jurídicos (ou atos jurídicos stricto sensu), produzem-se, diz-se comummente, ex lege e
não ex voluntate. Dentro dos simples atos jurídicos é usual fazer-se a distinção entre quase
negócios jurídicos - traduzem-se na manifestação exterior de uma vontade -, (caso da
interpelação do devedor) e atos reais ou operações jurídicas – traduzem-se na efetivação
ou realização de um resultado material ou factual a que a lei liga determinados efeitos
jurídicos (caso da acessão industrial) -.
CAPÍTULO II – AQUISIÇÃO, MODIFICAÇÃO E EXTINÇÃO DE RELAÇÕES
JURÍDICAS
Os factos jurídicos desencadeiam determinados efeitos. Esses efeitos jurídicos
consistem fundamentalmente numa aquisição, numa modificação ou numa extinção de
relações jurídicas.
Conceito e modalidade de aquisição de direitos. Aquisição originária e aquisição
derivada. Modalidades da aquisição derivada.
Um direito é adquirido por uma pessoa quando esta se torna titular dele. Aquisição
de direitos é, pois, a ligação de um direito a uma pessoa.
Constituição de direitos e aquisição de direitos: Não coincidem as noções de
aquisição de direitos e de constituição de direitos. Aquisição de direitos é, então, a
ligação de um direito a uma pessoa – direito é adquirido por uma pessoa quando esta se
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
torna titular dele-. Já a constituição de um direito é o seu surgimento, é a criação de um
direito que não existia anteriormente. Toda a constituição de um direito implica, portanto
a sua aquisição, dado não existirem direitos sem sujeito mas nem toda a aquisição de
direitos tem lugar em casos de surgimento ex novo de um direito.
AQUISIÇÃO:
Aquisição originária e aquisição derivada: Na aquisição originária o direito
adquirido não depende da existência de um direito anterior, que poderá até não existir;
quando existe um direito anterior, o direito não foi adquirido por causa desse, e sim apesar
desse (usucapião, por exemplo) – não existe qualquer ligação causal entre a perda ou a
diminuição de um direito e a aquisição. Na aquisição derivada, o direito adquirido funda-
se ou filia-se na existência de um direito na titularidade de outra pessoa; a existência
anterior desse direito e a sua extinção ou limitação é que geram a aquisição do direito
pelo novo titular, é que são a causa dessa aquisição – aquisição enquanto consequência
imediata da extinção subjetiva ou da limitação de um direito anterior.
• Aquisição translativa, constitutiva e restitutiva: O direito adquirido, na
aquisição derivada e não já na aquisição originária, depende na sua
existência, extensão e natureza do direito pré-existente. Na aquisição
derivada translativa, o direito adquirido é o mesmo que já pertencia
ao anterior titular – assim, sucede se um indivíduo adquire o domínio
de um prédio por compra-; Na aquisição derivada constitutiva, o
direito adquirido filia-se num direito (mais amplo) do anterior titular,
forma-se à custa dele, limitando-o ou comprimindo-o, mas não
preexiste como entidade autónoma e específica na esfera jurídica dessa
pessoa – é o caso de o proprietário de um prédio constituir uma
servidão, por exemplo -. Em sede desta anterior distinção, afigura-se
importante, também, a distinção entre cessão da posição contratual e
subcontrato – a primeira é uma aquisição derivada translativa da
posição contratual, id est, da relação contratual ou obrigacional
complexa emergente do contrato; a segunda é uma aquisição derivada
constitutiva, pois um contratante concede a outro a possibilidade usar
a posição contratual que para o primeiro resulte de um contrato
principal, ao qual este último continua ligado. Na aquisição derivada
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
restitutiva, sucede quando o titular de um direito real limitado se
demite dele, unilateral ou contratualmente, recuperando assim o
proprietário a plenitude dos seus poderes (em virtude da conhecida
elasticidade expansiva do direito de propriedade) – aquisição que repõe
as coisas no estado anterior à constituição do direito real que se
extingue -.
Aquisição derivada e sucessão: A sucessão é o subingresso de uma pessoa na
titularidade de todas as relações jurídicas ou de determinada/s relações jurídicas de
outrem. Rigorosamente, coincide a sucessão apenas com a aquisição derivada translativa,
pois só nesta última é que o direito adquirido é o mesmo do anterior titular.
Importância da distinção entre aquisição derivada e aquisição derivada: Na
aquisição originária, a extensão do direito adquirido depende apenas do facto ou título
aquisitivo. Neste sentido diz-se, quanto à usucapião, tantum possessum quantu
praescriptam. Na aquisição derivada, a extensão do direito do adquirente depende do
conteúdo do cato aquisitivo, mas depende, ainda, da amplitude do direito do transmitente,
não podendo, em regra, ser maior do que a amplitude deste direito: nemo plus juris
ad alium transfere potest quam ipse haberet. Este princípio caracterizador da aquisição
derivada comporta, todavia, exceções: assim, em certas hipóteses, o adquirente, não
obstante a aquisição ser derivada, pode obter um direito que não pertencia ao transmitente
ou é mais amplo do que aqueles que pertenciam ao transmitente.
As exceções à regra nemo plus iuris funcionam como proteção do terceiro
adquirente a non domino. Exceções:
Institutos de registo predial, do registo de automóveis e registos similares:
Devem ser registados os atos inerentes a bens imóveis e a alguns bens móveis (ou por
escritura pública ou por documento particular autenticado). O registo não é um meio de
aquisição de direitos nem precisa de o ser, dado que o ato de que resulte a aquisição de
direitos é plenamente eficaz inter partes, o que quer dizer que mesmo na falta de registo
há aquisição de direitos.
Assim, o registo não dá direitos, apenas os conserva, isto é, não pretende assegurar a
existência efetiva do direito da pessoa a favor de quem está registado o bem, mas só que,
a ter ele existido, ainda se conserva. A consequência da falta de registo é a ineficácia do
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
ato em relação a terceiros. Mas o que são terceiros (adquirentes) para efeitos de registo
predial? Para Manuel de Andrade são “as pessoas que do mesmo autor ou
transmitente adquiram direitos incompatíveis (total ou parcialmente) sobre o
mesmo objeto”. Por fim, note-se que, segundo a nova redação do artigo 5.º/4 do
Código do Registo Predial, “terceiros, para efeitos de registo, são aqueles que
tenham adquirido de um autor comum direitos incompatíveis entre si”.
“A transmite a B e B não registou. A transmite a C e C regista.” – Neste caso, A
celebra um contrato de compra e venda com B, de um imóvel “y”, porém B não efetiva o
devido registo. Mais tarde, A, que já não é proprietário (dado que o negócio é válido e
eficaz inter partes), violando o princípio nemo plus juris, vende o mesmo em a C e C faz
o registo do imóvel. Temos que, apesar de o negócio celebrado entre A e B ter validade
e eficácia inter partes e de, segundo o princípio nemo plus iuris, não se poder adquirir um
direito se ele não existe na titularidade do transmitente, não há eficácia em relação a
terceiros se não houver registo, pelo que prevalece a venda a C.
A, uma vez que cometeu um ato ilícito (não tendo legitimidade para vender o bem
“y” – vendeu um bem alheio), pode ser responsabilizado por tal, nomeadamente através
de uma indemnização a B (artigo 892.º Código Civil). No entanto, B não registou e,
relembra-se, o registo, apesar de não dar direitos, conserva-os -, sendo que a falta de
legitimidade é o único vício que o registo cobre. Assim sendo, C é terceiro para efeitos
de registo e beneficia da exceção ao princípio nemo plus iuris.
Nota: Para o curso, contrariamente a outra doutrina (nomeadamente a preconizada
pela Escola de Lisboa) e C se encontrasse de má-fé e/ou se tivesse adquirido o bem y a
título gratuito, esta exceção manter-se-ia dado que a própria lei não efetiva nenhuma
distinção entre terceiros de boa-fé para efeitos de registo ou efeitos de má-fé; aquilo que
é adquirido a título gratuito tem tantas expetativas dignas de tutela como o adquirente a
título oneroso.
Da eventual inoponibilidade das nulidades e anulabilidades a terceiro de boa-fé:
Por força do princípio nemo plus juris, se A transmitiu, por negócio nulo ou anulável,
um prédio a B e este, por sua vez, o transmitiu a C, declarado nulo ou anulado o primeiro
ato, o segundo seria também nulo e, consequentemente, C devia restituir o prédio – isto
porque as nulidades e as anulações operam em face de terceiros e não só em face da
contraparte (operam in rem e não apenas in personam).
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
No entanto, estabelece-se no artigo 291.º Código Civil (diferentemente à solução do
Código de 1867) um regime de inoponibilidade a terceiros de boa fé, adquirentes a título
oneroso, das nulidades e anulações de negócios respeitantes a imóveis ou móveis
sujeitos a registo, desde que a ação tendente a declaração de nulidade ou à anulação não
seja proposta e registada dentro dos três anos posteriores à conclusão do negócio (ou seja,
os direitos do terceiro de boa fé só são sacrificados na hipótese do negócio ser invalidado
nos três anos subsequentes à sua realização. Assim sendo, deve (1) tratar-se de bens
imóveis ou móveis sujeitos a registo; (2) estar-se perante um terceiro de boa-fé, a boa-fé
entendida como desconhecimento, sem culpa, da causa da invalidade; (3) observar-
se a onerosidade da aquisição e seu registo; (4) ter decorrido três anos sobre o negócio.
É uma solução semelhante à que se estabelece no artigo 243.º para a simulação, como
se verá de seguida, embora conferindo uma proteção menos completa ao terceiro de boa-
fé: Para os efeitos do artigo 291.º, é considerado de boa-fé o terceiro adquirente que,
no momento da aquisição, desconhecia, sem culpa, o vício do negócio nulo ou
anulável.
Da inoponibilidade da simulação a terceiros de boa-fé:
(Volta a repetir-se tudo de novo no capítulo da simulação - divergência intencional)
Sabemos que os negócios simulados são nulos e, como tal, não produzem quaisquer
efeitos.
Exemplo: A vende um prédio a B, que regista, e pouco depois o doa a C, que também
regista. A pretender arguir a nulidade do primeiro negócio, por motivo de simulação. Quid
iuris?
Ora, neste caso, se o simulado adquirente de um prédio vender ou doar, por acto
verdadeiro, o mesmo prédio a um terceiro e este ignorar a simulação, o terceiro adquire
validamente esse objeto – artigo 243.º Código Civil (Já não se verifica o pressuposto do
artigo. 291.º, previsto para a generalidade dos casos, mas sim o artigo 243.º, previsto
especialmente para as situações de simulação).
Assim, dado que o vendedor ou doador (B) tinha adquirido a propriedade por ato
simulado e, portanto, um ato nulo, o que era de esperar é que o terceiro (C) não pudesse
adquirir de quem não era, efetivamente, proprietário. No entanto, o terceiro adquire, pela
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
proteção prevista no artigo 243.º, de quem não era proprietário, ao invés do que prescreve
o princípio nemo plus iuris.
Assim sendo, a inoponibilidade da simulação não depende dos requisitos do artigo
291.º, afigurando-se, em confronto com esse regime geral da inoponibilidade das
nulidades e anulabilidades, enquanto um regime especial da inoponibilidade da
simulação a terceiros de boa-fé.
Este regime especial, previsto no art. 243.º, dispensa alguns dos requisitos previstos
no regime geral do artigo 291.º - sendo, por isso, aquele mais exigente que este último -.
Assim sendo, inclui aquisições a título oneroso ou gratuito – “quaisquer terceiros de boa-
fé” -, não exige o registo da aquisição, é aplicável também a aquisições de bens móveis
não sujeitos a registo, dispensa o decurso do prazo de três anos referido no artigo 291.º/3
e protege, também, os terceiros que, embora culposamente, desconheciam a simulação
(exige-se que o terceiro esteja de boa-fé, mesmo que essa boa-fé seja uma “boa-fé”
negligente, isto é, mesmo que o terceiro, dadas as circunstâncias, deva conhecer da
existência do vício, mas não conheça).
O conceito de boa fé é enunciado no n.2 do artigo 243.º, consistindo, conforme o
ensinamento geral da doutrina, na ignorância da simulação ao tempo em que se
adquiriram os respetivos direitos. MANUEL DE ANDRADE diz mesmo que não
basta, para haver má-fé, a cognoscibilidade da simulação ou a suspeita da sua existência,
contrariando, em parte, o n.º2 do artigo 243.º, considerando que a cognoscibilidade ou
suspeita da existência da simulação são pecados veniais em face da má-fé dos
simuladores.
No n.º3 do artigo 243.º estabelece-se uma presunção juris et de jure de má-fé, em
desfavor do terceiro que adquiriu o seu direito depois do registo da ação de simulação.
MODIFICAÇÃO DE DIREITOS:
Tem lugar quando, alterado ou mudado um elemento de um direito, permanece a
identidade do referido direito, apesar da vicissitude ocorrida – o ordenamento jurídico
continua a tratar o direito como se não tivesse tido lugar a alteração (o direito é o mesmo
e não um direito novo).
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
Modificação subjetiva vs modificação objetiva: A modificação do direito é uma
modificação subjetiva se tem lugar uma substituição do respetivo titular, permanecendo
a identidade objetiva do direito (tem lugar uma sucessão no direito – é o que verifica, por
exemplo, com a cessão de créditos – art. 577.º CCivil), ou a multiplicação dos sujeitos
por adjunção (por exemplo, assunção cumulativa de dívida – art. 595.º CCivil).
A modificação do direito será uma modificação objetiva se mudar o conteúdo ou
o objeto do direito, permanecendo este idêntico. Muda o conteúdo se, por exemplo, é
concedida pelo credor ao devedor uma prorrogação do prazo para o cumprimento, muda
o objeto se, por exemplo, não cumprindo o devedor culposamente a obrigação, o seu dever
de prestar é substituído por um dever de indemnizar.
EXTINÇÃO DE DIREITOS: Tem lugar quando um direito deixa de existir na esfera
jurídica de uma pessoa. Quebra-se a relação de pertinência entre um direito e a pessoa do
seu titular.
Extinção subjetiva VS extinção objetiva: A extinção subjetiva ou perda de direitos
sucede quando o direito sobrevive em si, apenas mudando a pessoa do seu titular – o
direito muda de titularidade, extinguiu-se para aquele sujeito, mas subsiste na esfera
jurídica de outrem. A extinção de direitos será uma extinção objetiva, se o direito
desaparece, deixando de existir para o seu titular ou para qualquer outra pessoa – nesta
hipótese, não há sucessão, transmissão ou aquisição derivada translativa de direitos -. É
o que acontece, por exemplo, se há destruição do objeto de direito.
As considerações expostas acerca da extinção de direitos são válidas, mutatis
mutandis (com as devidas alterações), para a extinção de deveres jurídicos, sobretudo
obrigações.
Uma forma particular de extinção de direitos é a correspondente aos institutos da
prescrição (artigos 300.º e ss) e da caducidade (artigos 328.º e seguintes):
o Se o titular de um direito não o exercer durante certo tempo fixado na lei,
extingue-se esse direito – o direito prescreveu ou caducou.
A prescrição que importará nesta sede, claro está, será a prescrição extintiva ou
negativa (diferente da prescrição aquisitiva ou positiva, através da qual se adquirem
direitos reais).
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
Prescrição VS caducidade: A prescrição e a caducidade, apesar de acarretarem ambas a
extinção de direitos quando estes não são exercidos durante certo tempo, distinguem-se
uma da outra. Segundo o critério tradicional/clássico, a prescrição aplica-se aos direitos
subjetivos propriamente ditos enquanto a caducidade visará os direitos potestativos. No
entanto, a nossa lei seguiu um critério formal¸ afirmando que quando um direito deva ser
exercido durante certo prazo se aplicam as regras da caducidade, salvo se a lei se referir
expressamente à prescrição (art. 298.º/2).
Em termos de regime, admitem-se várias diferenças de regimes entre a prescrição
e a caducidade, devendo-se isto à diversidade dos fundamentos que subjazem a um e a
outro instituto. Embora a prescrição – tal como a caducidade – vise satisfazer a
necessidade social de segurança jurídica e certeza dos direitos (e, assim, proteger o
interesse do sujeito passivo), essa proteção é dispensada, atendendo também ao
desinteresse, à inércia do titular do direito. Na caducidade, porém, só o aspeto objetivo
da certeza e segurança é tomado em conta (o que explica, por exemplo, que a caducidade
seja apreciada oficiosamente pelo tribunal, ao contrário da prescrição que tem de ser
invocada, art. 330.º e 333.º). De referir, por último, que o prazo ordinário da prescrição é
de 20 anos (art. 309.º), prevendo a lei, para certas hipóteses, prazos mais curtos.
TÍTULO II – DO NEGÓCIO JURÍDICO E DO SIMPLES ATO JURÍDICO
SUBTÍTULO I – CONCEITO, ELEMENTOS E CLASSIFICAÇÕES
Capítulo I – Conceito e Elementos
Negócios jurídicos: São atos jurídicos constituídos por uma ou mais declarações
de vontade, dirigidas à realização de certos efeitos práticos, com intenção de os alcançar,
sob tutela do direito, determinando o ordenamento jurídico a produção dos efeitos
jurídicos conformes à intenção manifestada pelo declarante ou declarantes. Estamos
perante o instrumento principal de realização do princípio da autonomia privada.
Teorias quanto à relação entre a vontade exteriorizada na declaração
negocial e os efeitos jurídicos do negócio:
o Teoria dos efeitos jurídicos: Para esta doutrina, os efeitos jurídicos
produzidos, tal como a lei os determina, são totalmente correspondentes
ao conteúdo da vontade das partes. Afirma-se que a vontade das partes
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
se dirige à produção de certos e precisos efeitos jurídicos (sendo que
mesmo os efeitos que derivam de normas supletivas – normas que podem
ser afastadas pela vontade das partes mas que vigoram se as partes nada
disserem a respeito – resultam de uma vontade tácita das partes). No
entanto, apontam-se a esta teoria várias críticas, nomeadamente que, se
assim fosse, só os juristas completamente informados sobre o
ordenamento poderiam celebrar negócios, as restantes pessoas não teriam
uma noção exata de todos os efeitos que o ordenamento jurídico atribui às
suas declarações de vontade;
o Teoria dos efeitos práticos: Segundo esta teoria, as partes apenas querem
ver realizados certos efeitos práticos, em via de regra de caráter económico
ou social, sem caráter ilícito. Tecem-se, a este respeito, várias críticas
nomeadamente a de que, contrariamente ao que esta teoria preconiza, os
negócios jurídicos distinguem-se de outros acordos de vontade sem
enquadramento jurídico (como os acordos morais, de cortesia, etc);
o Teoria dos efeitos prático-jurídicos (CURSO): Afigura-se-nos a teoria
adotada pelo curso, o ponto de vista correto. Os autores dos negócios
jurídicos visam certos resultados práticos ou materiais e querem realizá-
los por via jurídica mas existe, também, uma vontade de efeitos jurídicos,
na medida em que se pretende alcançar efeitos práticos sob a alçada da
ordem jurídica, de forma a poderem fazer valer os seus direitos caso não
vejam satisfeitas as suas legítimas exigências. A vontade dirigida a efeitos
práticos não é a única nem é a decisiva – decisiva é a vontade de os efeitos
práticos queridos serem juridicamente vinculativos, a vontade de se
gerarem efeitos jurídicos correspondentes aos efeitos práticos.
▪ Negócios de pura obsequiosidade VS negócios jurídicos: Por falta
de intenção de efeitos jurídicos nos termos descritos anteriormente,
os negócios de pura obsequiosidade são promessas da vida social,
às quais é estranho o intuito de criar, modificar ou extinguir um
vínculo jurídico (p.ex., convite para jantar).
▪ Negócios jurídicos VS gentlemen’s agreements: A falta de vontade
de efeitos jurídicos permite distinguir estes dois conceitos. O
último reporta-se a combinações sobre matéria que é normalmente
objeto de negócios jurídicos mas que estão desprovidas de intenção
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
de efeitos jurídicos, excecionalmente (por exemplo, um
empréstimo de honra).
ELEMENTOS DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS:
o Elementos essenciais: Comunga o curso da sistematização tradicional que
considera elementos essenciais de todo e qualquer negócio jurídico os
requisitos ou condições gerais de validade de qualquer negócio. São eles
a capacidade das partes (e a legitimidade quando a sua falta implique
invalidade e não apenas ineficácia), a declaração de vontade sem
anomalias e a idoneidade do objeto. Também pode falar-se em elementos
essenciais de cada negócio típico, ou seja, as cláusulas que distinguem um
certo tipo negocial dos restantes tipos (uma venda de uma doação, por
exemplo);
o Elementos naturais: Efeitos negociais derivados de disposições legais
supletivas – jus dispositivum;
o Elementos acidentais: São as cláusulas acessórias dos negócios jurídicos
– estipulações que não caraterizam o tipo negocial em abstrato, mas se
tornam imprescindíveis para que o negócio concreto produza os efeitos a
que elas tendem (cláusulas de juros, por exemplo)
CAPÍTULO II – CLASSIFICAÇÕES DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS:
Negócios jurídicos unilaterais VS negócios jurídicos bilaterais (contratos): O
critério classificativo é o do número e modo de articulação das declarações integradoras
do negócio.
Nos negócios unilaterais, há uma só declaração de vontade ou várias declarações,
mas paralelas, formando um só grupo. Se olharmos os autores das declarações,
constataremos haver um só lado, uma só parte (o caso do testamento). Importa dizer que
a eficácia do negócio unilateral não carece da concordância de outrem; vigora o princípio
da tipicidade (art. 457.º CCivil);
Nos contratos ou negócios bilaterais há duas ou mais declarações de vontade,
de conteúdo oposto, mas convergente, ajustando-se na comum pretensão de produzir
resultado jurídico unitário, embora com um significado para cada parte. Há, assim, a
oferta ou a proposta e a aceitação, que se conciliam num consenso (é o caso
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
paradigmático da compra e venda). Note-se, portanto, que não são integrados por dois
negócios unilaterais, antes, cada uma das declarações (proposta e aceitação) é emitida em
vista do acordo.
• Contratos unilaterais e contratos bilaterais/sinalagmáticos: Em sede de
contratos, uma importante distinção que se faz é esta. Os contratos
unilaterais geram obrigações apenas para uma das partes (doação, por
exemplo); os contratos bilaterais geram obrigações para ambas as
partes, obrigações ligadas entre si por um nexo de causalidade ou
correspetividade (compra e venda, por exemplo). Esta distinção
reflete-se na exceção de ao cumprimento do contrato (art. 428.º CCivil)
que é exclusiva dos contratos bilaterais.
o Contratos bilaterais imperfeitos: Os autores referem também
esta categoria. Nestes, há inicialmente apenas obrigações para
uma das partes, surgindo eventualmente mais tarde obrigações
para a outra parte, em virtude do cumprimento das primeiras e
em dados termos. Nestes contratos não há lugar a condição
resolutiva tácita (faculdade de resolução com fundamento em
inadimplemento ou mora) nem a exceção de não cumprimento
do contrato (art. 428.º CCivil) – por exemplo, o mandato;
Negócios entre vivos e negócios mortis causa: Os negócios entre vivos destinam-se a
produzir efeitos em vida das partes, já os segundos destinam-se só a produzir efeitos
depois da morte da respetiva parte ou de alguma delas (por exemplo, o testamento, À
primeira categoria pertencem quase todos os negócios jurídicos e a sua disciplina tem
grande importância. Os negócios da segunda categoria são negócios fora do comércio
jurídico.
Negócios consensuais ou não solenes e negócios formais ou solenes: Os negócios formais
ou solenes são aqueles para os quais a lei prescreve a necessidade da observância de
determinada forma, o acatamento de determinado formalismo ou de determinadas
solenidades. Os negócios consensuais ou não solenes são os que podem ser celebrados
por quaisquer meios declarativos aptos a exteriorizar a vontade negocial, porque a lei não
impõe uma determinada roupagem exterior para o negócio. Quando o negócio é formal,
as partes não o podem realizar por todo e qualquer comportamento declarativo, isto é, a
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
declaração negocial deve realizar-se através de certo tipo de comportamento declarativo
imposto pela lei (normalmente, o formalismo exigido é apenas para certos negócios
jurídicos e é uniforme, traduzindo-se praticamente na exigência de documento escrito).
Assim, note-se que, nesta sede, o princípio geral do CCivil de 1966 em matéria de
formalismo negocial é o princípio da liberdade declarativa ou liberdade de forma
(artigo 219.º Civil). Quando, nos casos excecionais em que a lei prescrever uma certa
forma (embora sejam casos excecionais são numerosos e frequentes), e a forma não for
observada a declaração negocial é nula (art. 220.º CCivil).
Negócios consensuais e negócios reais: Os negócios reais são aqueles negócios em que
se exige, além das declarações de vontade das partes, formalizadas ou não, a prática
anterior ou simultânea de um certo ato material (depósito, comodato, mútuo e penhor).
Negócios obrigacionais, reais, familiares e sucessórios: O critério desta classificação diz
respeito à natureza da relação jurídica constituída, modificada ou extinta pelo negócio e
a sua importância resulta da diversa extensão reconhecida à liberdade contratual (art.
405.º CCivil) em cada uma das categorias. Assim, no domínio dos negócios
obrigacionais, vigora o princípio da liberdade contratual quanto aos contratos e o
princípio da tipicidade quanto aos negócios unilaterais. Em sede de negócios reais, fala-
se deles nesta classificação no sentido de negócios com eficácia real, isto é, negócios reais
quanto aos efeitos (negócios reais quoad effectum); diversamente, como já vimos, na
dicotomia negócios consensuais/reais, os negócios reais são aqueles negócios em que se
exige, além das declarações de vontade das partes, formalizadas ou não, a prática anterior
ou simultânea de um certo ato material, ou seja, são reais quanto à sua constituição –
negócios reais quoad cosntitutionem -, por exemplo, o comodato, o mútuo, o penhor, o
depósito, etc. Relativamente aos negócios familiares, tem-se uma distinção entre
negócios familiares pessoais (a liberdade contratual está praticamente excluída, os
interessados celebram ou deixam de celebrar o negócio, não podendo fixar livremente o
conteúdo nem podendo celebrar conteúdos diferentes dos previstos na lei) e negócios
familiares patrimoniais, (convenções antenupciais) onde existe liberdade de convenção
com alguma largueza. Por último, tem-se que, quanto aos negócios sucessórios o
princípio da liberdade contratual conhece importantes restrições, algumas até resultantes
de normas imperativas do direito das sucessões.
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
Negócios patrimoniais e negócios pessoais: O critério distintivo é o da natureza da relação
jurídica a que o negócio se refere. A importância da distinção revela-se, também, quanto
à amplitude do princípio da liberdade contratual. Os negócios pessoais são negócios fora
do comércio jurídico, id est, negócios cuja disciplina, quanto a problemas como o da
interpretação do negócio jurídico, não tem que atender às expetativas dos declaratários e
aos interesses gerais da contratação, mas apenas à vontade real, psicológica, do
declarante. Na disciplina dos negócios patrimoniais, isto são negócios do comércio
jurídico, a vontade manifestada triunfa sobre a vontade real, por exigência de tutela da
confiança do declaratário e dos interesses da contratação.
Negócios causais e negócios abstratos: Critério desta classificação é o da relevância, para
os efeitos do negócio, da sua função económica ou social típica ou da relação jurídica que
constituiu a sua causa. Os negócios abstratos são os negócios em que estas não relevam,
por poderem preencher uma multiplicidade de funções e os efeitos do negócio são
separados da sua causa (por exemplo, negócios cambiários como o saque de um cheque).
No entanto, tem-se que a generalidade dos negócios jurídicos são negócios causais,
isto é, o direito não isola o seu conteúdo da respetiva causa.
Negócios onerosos e negócios gratuitos: A importância da distinção manifesta-se em
várias matérias tais como a proteção do terceiro adquirente de boa fé a non domino, por
força da declaração de nulidade ou anulação de um negócio. O critério subjacente à
distinção passa pelo conteúdo e a finalidade do negócio. Assim, os negócios onerosos
pressupõem atribuições patrimoniais de ambas as partes, existindo, segundo a perspetiva
das partes, um nexo ou uma relação de correspetividade entre as referidas atribuições
patrimoniais (normalmente traduzidas em prestações ou ato material) – as partes estão de
acordo que a vantagem que cada uma visa obter é contrabalançada por um sacrifício que
está numa relação de causalidade com aquela vantagem (mesmo que uma parte saiba que
o que dá vale muito mais ou muito menos que o que recebe – falta de equivalência objetiva
das atribuições patrimoniais) – por exemplo o arrendamento. Por outro lado, os negócios
gratuitos caracterizam-se pela intervenção de uma intenção liberal – assim: uma parte
tem a intenção, devidamente manifestada, de efetuar uma atribuição patrimonial a favor
da outra sem contrapartida ou correspetivo; a outra parte, logicamente, procede com
vontade de receber essa vantagem sem um sacrifício correspondente – cria-se uma
vantagem patrimonial para um dos sujeitos sem nenhum equivalente (por exemplo, o
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
depósito ou o mandato). Por vezes, as partes celebram um contrato misto, recorrendo a
um tipo de negócio oneroso, mas fixando o seu conteúdo com intenção liberal.
Atente-se que é possível a existência de contratos unilaterais onerosos – nestes
não há uma correspetividade entre duas obrigações, porque só há obrigações para um dos
lados (visto que são contratos reais) mas sim entre duas atribuições patrimoniais que
consistem (1) numa prestação contemporânea da formação do negócio (p.ex., a entrega
de uma soma em dinheiro para ser utilizada); (2) e numa obrigação (a de restituir o capital
e pagar os juros).
Dentro dos contratos onerosos é, ainda, possível falar-se em contratos comutativos
(“normais”) e contratos aleatórios (nestes últimos, as partes submetem-se a uma
possibilidade de ganhar ou perder): podendo, por exemplo, haver uma só prestação,
dependendo de um facto incerto a determinação de quem a realizará (aposta) ou haver
duas prestações certas quanto à sua existência mas incertas quanto ao seu quantum. São
exemplos de contratos aleatórios os contratos de jogo e os contratos de aposta (artigo
1245.º CCivil) que se distinguem segundo critérios de distinção diversos entre eles,
nomeadamente os motivos ou fim prosseguido pelos contraentes (diversão ou lucro), a
participação ou falta de participação das partes na questão em disputa, etc.
Também os negócios parciários são uma subespécie dos negócios onerosos:
caracterizam-se pelo facto de uma pessoa prometer certa prestação à contraparte, em troca
de uma qualquer participação nos proventos que a contraparte obtenha por força daquela
prestação (certas formas de sociedade, por exemplo).
Negócios de mera administração e negócios de disposição: A utilidade da
distinção revela-se na restrição dos poderes de gestão patrimonial dos administradores de
bens alheios e/ou próprios aos atos de mera administração e assenta nos riscos
patrimoniais em que assentam os negócios jurídicos. No que aos negócios de mera
administração ou ordinária administração diz respeito, são negócios correspondentes a
uma gestão comedida e limitada, donde estão afastados os atos arriscados, suscetíveis de
proporcionar grandes lucros, mas também de causar prejuízos elevados – são os atos
correspondentes a uma atuação prudente, dirigida a manter o património e a aproveitar as
suas virtualidades normais de desenvolvimento, mas alheia à tentação de “grandes voos”
que comportem riscos de “grandes quedas”. A lei qualifica , ela própria, certos negócios
jurídicos como atos de administração ordinária (art. 1204.º). Ao invés, atos de disposição
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
são os que, dizendo respeito à gestão do património administrado, afetam a sua
substância, alteram a forma ou a composição do capital administrado, atingem o fundo, o
casco, a raiz dos bens – são atos que ultrapassam aqueles parâmetros de atuação
correspondente a uma gestão de prudência e comedimento, sem riscos. São exemplos
disso, artigos 1889.º CCivil, 1937.º e 1938.º Civil.
SUBTÍTULO II – ELEMENTOS ESSENCIAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO
Capítulo I – Capacidade e legitimidade
São requisitos de validade dos negócios jurídicos a capacidade e a legitimidade.
Como já sabemos, a capacidade traduz-se num modo de ser ou qualidade do sujeito em
si, podendo falar-se em capacidade negocial de gozo ou capacidade jurídica negocial
(suscetibilidade de ser titular de direitos e obrigações derivados de negócios jurídicos) de
capacidade negocial de exercício (idoneidade para atuar juridicamente, exercendo ou
adquirindo direitos, cumprindo ou assumindo obrigações, por atividade própria ou através
de um representante voluntário). A legitimidade, já o sabemos também, é uma relação
entre o sujeito e o conteúdo do ato (contrapõe-se-lhe a ilegitimidade – a falta dessa relação
de tal modo que o sujeito não pode com a sua vontade afetar esse direito ou essa
obrigação).
Capítulo II – A declaração negocial
O CCivil regula a declaração negocial nos artigos 217.º e seguintes. Trata-se de
um verdadeiro elemento do negócio, uma realidade constitutiva da estrutura do negócio.
A sua falta conduzirá, portanto, à inexistência material do negócio.
Conceito de declaração negocial: Comportamento que, exteriormente observado,
cria a aparência de exteriorização de um certo conteúdo de vontade negocial,
caracterizando, depois, a vontade negocial como a intenção de realizar certos efeitos
práticos, com ânimo de que sejam juridicamente tutelados e vinculantes. A nota essencial
da declaração negocial será, então, não o elemento interior (a vontade real, efetiva,
psicológica) mas o elemento exterior (o comportamento declarativo). O comportamento
externo, em que se traduz a declaração, manifestará normalmente uma vontade, formada
sem anomalias e coincidente com o sentido exteriormente captado daquele
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
comportamento – a declaração pretende ser o instrumento de exteriorização da vontade
psicológica do declarante.
O direito civil conhece hoje um estádio de evolução que põe na primeira linha a
proteção das expetativas dos declaratários e do comércio jurídico, dando prevalência à
aparência e à exigência de cognoscibilidade, em detrimento da vontade real e psicológica.
Assim, não faz mais sentido definir o negócio jurídico, nos termos tradicionais,
como declaração ou manifestação de vontade – tal definição não capta a essência do
fenómeno negocial, pois faz crer numa omnipotência da vontade individual no campo da
autonomia privada. O Código Civil não toma partido, diretamente, nesta questão
dogmática no entanto é manifesto o intuito do legislador de se não comprometer com as
conceções voluntarísticas, pois não emprega a expressão declaração de vontade mas sim
declaração negocial. Também através de determinadas soluções expressas no Código
Civil (por exemplo, uma vez provada uma divergência entre sentido objetivo da
declaração e a vontade psicológica, o negócio não é nulo mas apenas anulável e só se se
verificarem certos requisitos de transparência exterior do vício – art. 247.º Código Civil),
se demonstra que a essência do negócio não está numa intenção psicológica mas num
comportamento objetivo, exterior, social (o que não se confunde com um formalismo
ritual).
No entanto, existem, à luz das soluções dispensadas pelo ordenamento jurídico,
uma série de problemas decisivos para o efeito de determinar o conceito de declaração
negocial: são o da divergência da vontade e a declaração, o dos vícios da vontade, o da
interpretação da declaração negocial, etc. Tais problemas têm subjacente um conflito
entre os interesses do declarante, por um lado, e os interesses do declaratário e do
comércio jurídico, por outro (veremos mais de seguida)
Elementos constitutivos normais da declaração negocial:
Numa declaração negocial distinguem-se normalmente os seguintes elementos:
(1) a declaração propriamente dita (elemento externo), consiste no comportamento
declarativo; (2) A vontade (elemento interno), consiste no querer, na realidade volitiva
que normalmente existirá e coincidirá com o sentido objetivo da declaração.
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
O elemento interno, vontade real, pode decompor-se analiticamente em três
subelementos:
• A vontade de ação: consciência e intenção do comportamento
declarativo – falta a vontade de ação, por exemplo, quando uma pessoa
faz um gesto por ato reflexo ou de distração e, sem se aperceber do
fato, esse gesto aparece como uma declaração negocial, ou, pode faltar
igualmente, no caso da coação ou violência absoluta (coação física);
• A vontade de declaração: consciência e vontade do declarante de que
o seu comportamento produza efeitos negociais no campo do direito –
pode faltar a vontade da declaração quando, por exemplo, alguém
subscreve um contrato, julgando assinar uma carta de felicitações;
• A vontade negocial: consiste na vontade de celebrar um negócio
jurídico de conteúdo coincidente com o significado exterior da
declaração – é a vontade efetiva, nos termos da teoria dos efeitos
prático-jurídicos, correspondente ao negócio concreto que apareceu
exteriormente declarado. Pode haver um desvio na vontade negocial, é
o caso de o declarante ter atribuído aos termos da declaração um
sentido diverso do sentido que é exteriormente captado (uma pessoa
quer comprar a Quinta do Mosteiro e decide comprar a Quinta da
Capela por julgar erradamente que a Quinta do Mosteiro se chama
Quinta da Capela).
Em suma, constatámos poder verificar-se uma falta de vontade de ação (ou
um desvio, por exemplo, o declarante quer escrever Quinta do Mosteiro e, por
lapso, engana-se a escrever e escreve Quinta da Capela), uma falta de vontade de
declaração e um desvio na vontade negocial.
Declaração negocial expressa e declaração negocial tácita: Os negócios
realizam uma ampla autonomia privada – quanto ao conteúdo vigora o princípio
da liberdade negocial (art. 405.º CCivil) e quanto à forma o princípio da liberdade
declarativa (artigos 217.º “possibilidade de declarações negociais expressas e
tácitas” e 219.º CCivil “liberdade de forma”). No entanto, por vezes, a lei exige
que a declaração seja expressa (por exemplo, art. 413.º/1 CCivil); outras vezes, a
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
lei tem o cuidado de frisar que um certo negócio pode ter lugar por declaração
tácita (art. 288.º/3 CCivil), o que, aliás, já resultaria do art. 217.º. Daí a
necessidade de definir o critério diferenciador dos dois tipos de declarações, esse
critério está consagrado na lei, no artigo 217.º CCivil e é proposto pela teoria
subjetiva. A declaração é expressa quando for feita por palavras, escrito ou
quaisquer outros meios diretos, frontais, imediatos de expressão da vontade e é
tácita quando do seu conteúdo direto se infere um outro conteúdo, isto é, quando
se destina a um certo fim, mas implica e torna cognoscível um autorregulamento
sobre outro ponto – em via oblíqua, imediata e literal (basta que a formulação legal
resulte dê lugar com toda a probabilidade à dedução, não se exigindo que a
dedução seja forçosa ou necessária,, no sentido do autorregulamento tacitamente
expresso). A declaração tácita pode ter como facto concludente uma declaração
expressa, exteriorizando diretamente outro conteúdo negocial.
A possibilidade de um negócio formal ser realizado através de declaração
tácita está expressamente reconhecida pelo artigo 217.º/2 CCivil.
Em conformidade com o critério da interpretação dos negócios jurídicos
consagrado pelo CCivil (art. 236.º CCivil), deve entender-se que a conclud~encia
de um comportamento em certo sentido não exige a consciência subjetiva por
parte do seu autor desse significado implícito, bastando que, de fora,
coerentemente ele possa ser deduzido do comportamento do declarante.
O valor do silêncio como meio declarativo:
Desde já, atente-se que uma declaração negocial compreende, como já vimos, dois
comportamentos: um externo (a declaração propriamente dita, que consiste num
comportamento declarativo) e um interno (que é a vontade, que deverá coincidir com o
sentido objetivo atribuído à declaração). Por outro lado, a declaração pode ser expressa
(art. 957.º e 731.º CCivil), quando é feita por palavras, escrito ou quaisquer outros
instrumentos respeitantes à manifestação de vontade, e é tácita quando do seu conteúdo
direto se infere um outro (por exemplo, art. 2056.º CCivil).
De facto, será importante não confundir silêncio e declaração tácita, porque
enquanto na declaração tácita ocorre uma manifestação de vontade, ainda que de modo
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
indireto, lateral ou imediato, no silêncio encontramos ausência de manifestação de
vontade, uma total inércia (embora possa haver conteúdo volitivo).
Trata-se de saber se o silêncio entendido não apenas como um “nada dizer” mas
como um “nada fazer”, uma total omissão, se pode considerar um facto concludente (uma
declaração tácita) no sentido de aceitação de propostas negociais. Quando estamos
perante casos de silêncio eloquente, isto é, casos em que o calar pode ser uma forma de
declaração como o falar ou o escrever?
O Código Civil trata diretamente esta problemática, dispondo no art. 218.º CCivil
que o silêncio não vale enquanto terceira modalidade de manifestação declarativa (as
outras duas são, pois, a declaração expressa e a declaração tácita), só lhe cabendo tal
significado havendo norma legal, ou convenção das partes nesse sentido, bem como na
hipótese de um uso prevalente em certo círculo social (lei, uso ou convenção).
O curso entende, também, ser esta a solução mais razoável já que não teria sentido
fazer valer o preceito “quem cala consente”, tão comum no Direito Canónico. O silêncio
per se é perfeitamente insignificante e irrelevante, sem querer dizer sim nem não.
Afasta-se, igualmente, a ideia de que o silêncio possa valer como declaração
quando quem pratica o silêncio estava em condições de poder e dever responder (até
porque muitas vezes seria objetivamente impossível de precisar quando é que alguém
podia e devia falar). Se alguém tinha o dever de falar, não deve concluir-se do silêncio
um certo sentido negocial, mas apenas a verificação de um incumprimento do dever de
falar, suscetível de fazer incorrer o silenciante na obrigação de reparar os danos causados
a outrem pela frustração da confiança deste último em receber uma resposta – dano da
confiança.
Concluindo, o silêncio não tem qualquer valor como declaração negocial - em
princípio, não é eloquente -, só o tendo quando a lei, convenção negocial ou o uso lho
atribuam.
Declaração negocial presumida VS declaração negocial ficta:
A declaração negocial presumida tem lugar quando a lei liga a determinado
comportamento o significado de exprimir uma vontade negocial, em certo sentido
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
(podendo ilidir-se tal presunção mediante prova em contrário, presunção tantum juris) –
exemplo, disposições testamentárias a uma generalidade de pessoas.
A declaração negocial ficta tem lugar sempre que a um comportamento seja
atribuído um significado legal tipicizado, sem admissão de prova em contrário (presunção
juris et de jure) – exemplos, renovação do arrendamento por falta de denúncia no tempo
e na forma convencionados.
Forma da declaração negocial:
A questão em causa remete-nos, prima facie, para a consideração do problema do
formalismo negocial e respetivas vantagens e desvantagens.
De entre as vantagens inerentes à exigência de forma da declaração negocial,
destaca-se o facto de permitir uma maior reflexão das partes, evitando a celebração dos
contratos por impulso ou sem a ponderação exigível, ao mesmo tempo que proporciona
uma formulação mais precisa e completa do conteúdo negocial. Acresce, ainda, que o
formalismo, qua tale, se articula melhor, quer com as exigências de segurança e certeza
no domínio dos negócios jurídicos, quer com a inerente necessidade de publicidade dos
negócios jurídicos em geral.
Estas vantagens pagam-se, porém pelo preço de dois inconvenientes principais
que têm que ver com a inevitável menor celeridade do tráfego jurídico, bem como
eventuais injustiças que possam advir da desvinculação de umas partes do negócio, com
fundamento num mero vício de forma.
O art. 219.º do Código Civil consagrou o princípio da liberdade de forma da
declaração negocial, estatuindo que a validade desta “(…) não depende da observância
de forma legal, salvo quando a lei o exigir”. Considerando, quanto a certos negócios,
prevalecerem as vantagens sobre os inconvenientes, admitiu, porém, numerosas e
importantes exceções ao princípio da liberdade de forma da declaração negocial através
de normas excecionais que exigem determinada forma.
E quando é que a lei exige esse mesmo formalismo?
Antes de mais importa distinguir, de entre os negócios formais, aqueles para os
quais a lei exige documento autêntico (artigos 369.º e seguintes), que é aquele exarado
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
com as formalidades legais, pelas autoridades públicas, nos limites da sua competência,
ou, dentro do círculo de atividades que lhe foi atribuído, pelo notário ou outro oficial
público provido de fé pública, sendo documentos particulares todos os restantes (artigos
373.º e seguintes), podendo estes, todavia, ser autenticados (art. 363.º/2,3).
O formalismo exigível para um certo negócio pode ser imposto por lei (forma
legal) ou resultar de uma estipulação ou negócio jurídico das partes (forma convencional),
como acontece quando durante as negociações prévias as partes convencionam que os
negócios futuros deverão revestir determinada forma. O problema da legitimidade da
forma convencional é debatido na doutrina, mas o Código resolveu-o no sentido da
admissibilidade e eficácia dos negócios determinativos da forma (art. 223.º) – forma
convencional -, sendo óbvio, porém, que os particulares não podem afastar, por acordo,
as normas legais que exigem requisitos formais para certos atos, pois essas normas são
normas imperativas, podendo exigir determinados requisitos para um ato pertencente a
um tipo negocial que a lei regula como não formal ou que a lei sujeita a um formalismo
menos solene.
Tem-se, ainda, que o negócio dirigido à fixação de uma forma especial para
ulterior negócio não está sujeito a formalidades – o pacto sobre a forma cairá dentro de
campo de aplicação do princípio da liberdade de forma (art. 219.º CCivil).
No que diz respeito à forma legal, problema amplamente discutido na doutrina foi
o de saber quais as cláusulas ou estipulações negociais a que a forma legal é aplicável, ou
seja, abrangerá apenas as cláusulas essenciais do negócio jurídico ou também as
estipulações acessórias, típicas ou atípicas? MANUEL DE ANDRADE defendeu que a forma
seria aplicável não só às cláusulas essenciais, mas também às acessórias, mesmo que
atípicas, independentemente de serem contemporâneas ou posteriores ao negócio, tendo
sido este o entendimento do Código Civil no art. 221.º, sob pena de nulidade do negócio
jurídico, se essas estipulações acessórias não revestirem a forma exigida pela lei para o
ato. Admitem-se , contudo, algumas limitações a esta regra, ao reconhecer-se a validade
de estipulações verbais anteriores ao documento exigido para a declaração negocial ou
contemporâneas dele, desde que se tratem de cláusulas acessórias que não sejam
abrangidas pela razão de ser da exigência do documento e que se prove que correspondem
à vontade das partes. Da coordenação do antigo 221.º com artigo 394.º resulta que as
estipulações adicionais não formalizadas anteriores ou contemporâneas do documento,
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
não abrangidas pela razão determinante da forma, só produzirão efeitos se tiver lugar a
confissão ou se forem provadas por documento.
Quanto aos pactos modificativos (adicionais ou contrários a cláusulas, acessórias
ou essenciais constantes do documento) e aos pactos extintivos, o art. 221.º/2 dispensa-os
da forma legal prescrita para a declaração, se as razões da exigência especial da lei não
lhes forem aplicáveis.
Consequências da inobservância da forma:
Antes de avançarmos para as consequências da inobservância da forma no nosso
direito, importa fazer uma pequena, mas importante, alusão à diferença de tratamento
jurídico entre as formalidades ad substantiam e as formalidades ad probationem, sendo
que, enquanto que as primeiras são absolutamente insubstituíveis por outro género de
prova (a sua falta leva à nulidade do negócio), já a não observância das segundas pode
ser suprida por outros meios de prova (como a confissão).
Avançando para as consequências da inobservância da forma no nosso direito,
comecemos pela inobservância de forma legal.
Em conformidade com a orientação da generalidade das legislações e com os
motivos de interesse público que determinam as exigências legais de forma, o Código
Civil liga à inobservância da forma legal a nulidade, e não a mera anulabilidade. Uma
vez declarado nulo o negócio, para prevenir resultados injustos, deverá ser restituído tudo
o que tiver sido prestado em consequência do negócio viciado, podendo a prova da
prestação, para o efeito desta obrigação de restituir, ser feita por qualquer dos meios de
prova admitidos em geral pela lei – É o que resulta do artigo 289.º (efeito da declaração
da nulidade), em estreita articulação com o disposto para o regime do enriquecimento
sem causa, dos artigos 473.º e seguintes, de aplicação subsidiária).
A nulidade deixará de ser a sanção para inobservância da forma legal sempre que,
em casos particulares, a lei determine outra consequência (art. 220.º CCivil).
Pode suscitar-se, a este propósito, o problema de saber se o nosso direito, nalguns
casos, não considerará certas formalidades como simplesmente probatórias ou ad
probationem, isto são, formalidades cuja inobservância pode ser suprida por outros meios
de prova. Encontramos a resposta no artigo 364.º CCivil: Aí se reafirma no n.º1 o
princípio geral, segundo o qual os documentos autênticos, autenticados ou documentos
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
particulares são formalidades ad substantiam – absolutamente insubstituíveis por outro
género de prova. No n.º2 estatui-se que o documento pode ser substituído por confissão
expressa, se resultar claramente da lei que o documento foi exigido apenas para prova da
declaração. Ou seja, serão ad probatitionem quaisquer documentos (autênticos ou
particulares) nos casos excecionais em que resultar claramente da lei que a finalidade tida
em vista ao ser formulada certa exigência de forma foi apenas a de obter prova segura
acerca do ato e não qualquer das outras finalidades possíveis do formalismo negocial (por
exemplo, obrigar as partes a refletir sobre as consequências do ato). Nestes casos
excecionais admite-se, como meio de suprimento da falta do documento, a confissão
expressa.
Na doutrina nacional e estrageira tem-se posto, também,, o problema de saber se
a possibilidade de invocação da nulidade por vício de forma não pode ser excluída por
aplicação da cláusula geral da boa fé ou do abuso do direito, entre nós sancionada no
artigo 334.º. MANUEL DE ANDRADE defendeu, ainda que de forma algo reservada, a
solução da improcedência/incoerência da arguição da nulidade, quando esta revista as
caraterísticas do abuso de direito (como sucederia nas situações em que a nulidade
provém de fato culposo e consciente de um dos contraentes, vindo este, posteriormente,
a proceder à invocação do vício de forma para se desvincular do negócio). Também VAZ
SERRA acaba por comungar desta solução preconizada por M. Andrade. Contrariamente,
outros autores, nomeadamente LARENZ, desconsideram a possibilidade do instituto do
abuso do direito poder limitar a eficácia das normas imperativas, como as que exigem
uma determinada formalidade para o negócio jurídico (admitindo, quanto muito, a
obrigação de indemnizar a outra parte pelo interesse contratual lesado).
MOTA PINTO adverte, assim, que, em regra, na grande maioria dos casos, a não
observância das exigências de forma dará lugar à nulidade do negócio jurídico, sob pena
de uma solução contrária vir colocar em causa a segurança do comércio jurídico e o
próprio interesse público. Todavia, tal não pode significar que tais regras, imperativas
decerto, sejam aplicadas fazendo-se tábua rasa de princípios verdadeiramente
estruturantes do nosso ordenamento jurídico, como é o princípio da boa-fé, que subjaz ao
Instituto de abuso do direito. Assim, o intérprete tem legitimidade de, nos casos
excecionais do artigo 334.º CCivil, afastar a aplicação daquelas normas, em obediência
ao princípio da boa-fé e à própria realização da justiça. Metodologicamente, poderemos
falar aqui de uma verdadeira redução teleológica dos preceitos relativos à forma, levando
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
o intérprete a excluir da previsão legal casos que formalmente estejam abrangidos por
em, mas materialmente não estão.
Há que ter em conta, todavia, que a solução com base no abuso de direito poderá
não ser viável ou adequada, pois a exigência legal de forma serve também interesses
públicos pelo que a nulidade pode ser declarada oficiosamente pelo tribunal. Nesses
casos, restará ao lesado exigir o ressarcimento dos danos sofridos, com fundamento em
responsabilidade pré-contratual da outra parte.
No que à inobservância da forma convencional diz respeito, rege a este respeito
o artigo 223.º, pelo que a resposta ao problema posto, claro está, deve ser pedida, em
primeiro lugar, à vontade das partes. O artigo 223.º limita-se a estabelecer presunções
que, como todas as presunções legais, são em princípio meramente relativas ou tantum
juris (art.350.º). Se a forma especial foi estipulada antes da conclusão do negócio,
consagra-se uma presunção de essencialidade, id est, presume-se que, sem a observância
da forma, o negócio é ineficaz. Se a forma foi convencionada após o negócio ou
simultaneamente com ele, presume-se (havendo fundamento para admitir que as partes
se quiseram vincular desde logo) que as partes não quiseram substituir o negócio, mas
sim consolidá-lo. Por exemplo, entre comerciantes convencionou-se passar a escrito a
estipulação verbal já acordada para pôr as cosias em ordem, antes disso já havia
vinculação e o documento convencionado tem significado meramente declaratório, sendo
que a falta dele não afetou nem a validade nem a eficácia do negócio já celebrado.
Perfeição da declaração negocial: A declaração negocial com um destinatário ganha
eficácia logo que chegue ao seu poder ou é dele conhecida e as declarações não reptícias
ganham eficácia logo que a vontade se manifesta na forma adequada. (artigo 224.º/1).
Daqui decorre que, para os contratos, a lei opta pela doutrina da receção quanto ao
momento da sua conclusão: o contrato está perfeito quando a declaração de aceitação
foi levada à proximidade do destinatário de tal modo que, em circunstâncias normais, este
possa conhecê-la.
DIVISÃO II – INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
1.º Interpretação:
Relembra-se que no nosso ordenamento jurídico civil está plenamente consagrado
o princípio da liberdade declarativa, ou seja, regra geral. o declarante dispõe de todos os
meios para se fazer entender, para manifestar a sua vontade e, desta feita, produzir efeitos
jurídicos.
Para o curso, como já se viu, o conceito de declaração de vontade negocial é um
conceito de pendor tendencialmente objetivista da declaração negocial, no qual se atribui
tom especial não a um elemento interior (vontade real, efetiva, psicológica), mas sim a
um elemento exterior (o comportamento declarativo).
Relembra-se, também, que, de acordo com a epígrafe do artigo 217.º CCivil, a
declaração negocial pode ser expressa (quando é feita por palavras, escrito ou quaisquer
outros meios claramente direitos e imediatos de expressão da vontade) ou tácita (quando
do seu conteúdo direto se deduz um outro, ainda que não seja peremptório que essa
dedução tenha ocorrência necessária, mas sim que ela possa ter lugar com grande
probabilidade, uma vez atentos os usos e o contexto sociocultural.
NOÇÃO DE INTERPRETAÇÃO:
O negócio jurídico, como qualquer outra manifestação do espírito humano,
postula uma interpretação, interpretação essa que, como nas leis, visa evidenciar um
conteúdo normativo (um conjunto de comandos) que vai pautar a conduta de algumas
pessoas (neste caso, a conduta das respetivas partes).
Assim, a interpretação dos negócios jurídicos é a atividade dirigida a fixar o
sentido e o alcance decisivo dos negócios, segundo as respetivas declarações
integradoras. Trata-se de determinar o conteúdo das declarações de vontade e os efeitos
que o negócio visa produzir, em conformidade com tais declarações, e virá a produzir, se
não houver qualquer motivo de invalidade. A teoria da interpretação hoje vê alguns dos
seus resultados convertidos em verdadeiras normas jurídicas como é o caso dos artigos
236.º e seguintes. Atente-se que para haver uma declaração a interpretar é necessário
estarmos perante um ato ou conduta voluntária, controlável pela vontade, pelo que não
são declarações negociais manifestações feitas durante o sono, em narcose ou em
situações que excluam toda a direção consciente da vontade bem como a coação absoluta.
A teoria da interpretação visa dar resposta a duas importantes questões: a primeira é a de
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
saber qual o tipo de sentido negocial decisivo e a segundo a de saber quais os
elementos/meios que o intérprete deve tomar em conta em busca do tal sentido negocial
relevante.
Deste modo, a teoria da interpretação dos negócios jurídicos tem dado lugar à
formulação de conceções opostas, bastando que se conheça das duas mais importantes:
as posições subjetivistas e as posições objetivistas.
Para as posições subjetivistas, o intérprete deve buscar, através de todos os meios
adequados, a vontade real do declarante. O negócio será entendido subjetivamente, isto
é, como foi querido/intentado pelo autor da declaração.
Para as posições objetivistas, o intérprete não vai sondar ou descortinar a vontade
efetiva do declarante, mas sim, como refere MOTA PINTO um sentido exteriorizado ou
cognoscível de certos elementos objetivos. O objeto da interpretação não é a vontade mas
a declaração como ato significante – interpretação normativa e não interpretação
psicológica. De entre as doutrinas objetivistas merece referência e acolhimento pelo
curso, a teoria da impressão do destinatário, mediante a qual uma declaração deve valer
com o sentido que um destinatário razoável, colocado na posição concreta do real
declaratário, lhe atribuiria; para tal, considera-se o real declaratário nas condições
concretas em que se encontra, tomando-se em linha de conta os elementos que ele
conheceu efetivamente e aduzindo outros que uma pessoa razoável (normalmente
esclarecida, zelosa e com algum destreza) teria conhecido, e admite-se que o destinatário
raciocinará em determinada circunstância como o teria feito um declaratário razoável.
A noção de que a declaração vale com o sentido que um declaratário normal,
colocado na posição do real declaratário, possa percecionar do comportamento do
declarante – artigo 236.º/1 CCivil, segue, em certa medida, a tese defendida por MANUEL
DE ANDRADE. É esta, como já referi, a posição preferível para o curso, por dar tutela
plena à legítima confiança da pessoa em face de quem é emitida a declaração, sendo
também largamente mais favorável à facilidade, à rapidez e à segurança da vida jurídico-
negocial. O Código Civil define, portanto, o tipo de sentido negocial decisivo para a
interpretação nos termos desta posição objetivista – artigo 236.º/1 CCivil.
Realmente, é fundamental que, perante uma declaração de vontade, o destinatário
(que se admite estar apto a aceitar a declaração) se esforce para se inteirar do seu
significado. Porém, qual o quantum do esforço exigível? MANUEL DE ANDRADE, - a fim
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
de evitar adotar uma fasquia demasiado subjetiva e variável com as circunstâncias ou
mesmo uma fasquia fixa e, portanto, tremendamente injusta -, acredita que a posição a
seguir será, notoriamente, a de uma fasquia objetivamente variável, segundo a qual se
construirá, normativamente, em casa caso, a figura do destinatário normal.
Atente-se que, seguindo esta vertente defendida por Manuel de Andrade, podem
ser forjadas regras não explícitas diretamente na nossa lei tais como a de uma
interpretação de boa fé consagrada nos Códigos alemão e italiano ou a necessidade
de atender à globalidade do contrato, à totalidade do comportamento das partes, à
particularização das expressões gerais, ao princípio da conservação dos atos e à
primazia do fim do contrato. Por conseguinte, um declaratário normal, enquanto figura
normativamente fixada, responderia a todas estas exigências.
Em nossa opinião, a posição a adotar, sem grandes dúvidas, e que, de mais a mais,
encontra consolidação legal no Código Civil, é a tese objetivista pura. De facto, segundo
o artigo 236.º/1, a “declaração vale com o sentido que um declaratário normal, colocado
na posição do real declaratário, possa deduzir do comportamento do declarante”.
De todo o modo, deve ter-se em conta, no entanto, uma limitação que, partilhando
a o opinião de LARENZ E FERRER CORREIA, o art. 236.º encontra na sua parte final
(“…salvo se este não puder razoavelmente contar com ele”.), já que o sentido
correspondente à impressão do destinatário só tem validade se puder ser imputável ao
declarante, caso contrário a sanção parece ser a nulidade do negócio). A Escola de Lisboa
critica esta posição alarmista de LARENZ, afirmando que o princípio da imputabilidade do
significado da interpretação deve valer para ambas as partes.
O artigo 236.º/2, sem prejuízo do artigo 236.º/1, estabelece que sempre que o
declaratário conheça a vontade real do declarante, é de acordo com essa vontade que
vale a declaração emitida – assim, o sentido querido realmente pelo declarante releva se
o declaratário conhecer este sentido, mesmo quando a formulação seja ambígua: a
ambiguidade ou até inexatidão da expressão externa não impedem a relevância da
vontade real, se o destinatário a conheceu. Houve coincidência de sentidos, entre o
sentido querido e o sentido compreendido, pelo que este é o sentido decisivo.
A interpretação abrange também o problema de saber se há ou não uma
declaração negocial. Tem-se que há quando assim se concluir do ponto de vista de um
declaratário normal colocado na posição do declaratário real. Tem-se que não há
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
declaração negocial se falta a vontade ação – art. 246.º. A mesma disposição legal
considera que não se produz qualquer efeito se falta a consciência da declaração.
A doutrina alemã discute muito a questão de saber se se exige, para que uma
declaração negocial exista juridicamente, a consciência da declaração ou basta a
imputabilidade de declaração: o que revelará, claro está, uma vez que se se exigir a
consciência da declaração, o declarante pode invocar a invalidade do negócio, faltando
esta; se não for necessária a consciência da declaração, bastando a imputabilidade desta
ao declarante, o declarante só pode arguir a anulabilidade se se verificarem os
pressupostos de relevância do erro na declaração.
Entre nós, existe norma própria, pelo que a falta de consciência da declaração
releva sempre nos termos do artigo 246.º “A declaração não produz qualquer efeito, se o
declarante não tiver consciência de fazer uma declaração negocial ou for coagido pela
força física a emiti-la; mas se a falta de consciência da declaração foi devida a culpa,
fica o declarante obrigado a indemnizar o declaratário” – O declarante não está sujeito
ao regime mais rigoroso de invocação do erro na declaração (artigo 247.º).
Quando a interpretação leve a um resultado duvidoso, o problema deve ser
resolvido nos termos do artigo 237.º: Nos negócios gratuitos, prevalece o sentido da
declaração menos gravoso para o disponente e nos negócios onerosos, o que conduzir ao
maior equilíbrio das prestações. Se, mesmo assim, a dúvida a que se chegar for insanável,
a declaração será ineficaz por aplicação analógica do artigo 224.º/3 CCivil.
DESVIOS:
A doutrina preferível quanto ao problema da interpretação dos negócios jurídicos
sofre desvios quanto a certos negócios. Esses desvios podem traduzir-se num maior
objetivismo ou num maior subjetivismo.
O maior subjetivismo é o que sucede nos negócios solenes ou formais. Quanto a
estes, o sentido correspondente à doutrina geral não pode valer se não tiver um mínimo
de correspondência, embora imperfeita, no texto do respetivo documento – artigo
238.º/1. Qual a consequência da inexistência de uma expressão (ainda que imperfeita) da
impressão do destinatário no texto do documento? O artigo 238.º deixa a questão em
aberto, no entanto parece preferível a solução para qual já se inclinava Manuel de
Andrade: a consequência será a nulidade do negócio. Tal justifica-se dado que o problema
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
de inexistência de uma expressão da impressão destinatário no texto do documento é, no
fundo, um vício de forma: o sentido obtido no plano da interpretação não está formalizado
e, como sabemos, a sanção correspondente ao vício de forma é, como sabemos, a nulidade
(art.220.º CCivil).
Todavia, admite-se que um sentido não traduzido no respeito documento possa
valer desde que, cumulativamente, este corresponda à vontade real e concordante das
partes e não se oponha às razões determinantes da forma do negócio (por exemplo, razões
de certeza ou segurança, estando em causa interesses de terceiros).
O maior subjetivismo, por sua vez, aplica-se ao caso das disposições
testamentárias. Nesta sede, consagra-se, quanto à interpretação das disposições
testamentárias, o sentido subjetivo, com o limite do contexto do testamento (art. 2187.º/1
CCivil). Com efeito, o significado decisivo é o que o testador quis dizer, desde que se
possa averiguar. Um critério normativo de interpretação aponta aqui, diversamente dos
negócios entre vivos, para a vontade psicológica do testador: não há que tomar em
consideração as possibilidades de conhecimento de um destinatário como critério
interpretativo (embora depois da morte o testamento se torne conhecido dos interessados).
O testador não contrai, porém, um vínculo em que outros se fiem – pode modificar ou
revogar o testamento até à sua morte, pelo que não está vinculado de forma alguma. Não
se dá, então, nenhuma relevância a expectativas de outrem.
Assim, e na pesquisa por essa vontade do testador, por aquilo que o testador quis
dizer, é admitido o recurso à chamada prova complementar, isto é, elementos estranhos
aos termos do testamento. Esta possibilidade é expressamente conferida pelo artigo
2187.º/2, recorrendo-se a todas as circunstâncias aptas a permitir concluir qual o
sentido da vontade real do testador, e não só àquelas que possam ser conhecidas de
determinadas pessoas.
LIMITE: Exige-se, contudo, que a vontade do testador tenha um mínimo de
correspondência, ainda que imperfeita, no contexto (art. 2187.º/2 CCivil). Esta limitação
é uma manifestação do caráter solene do negócio testamentário… Mas a questão é: qual
o exato âmbito de aplicação deste limite objetivo? A lei não dá qualquer indicação precisa
quanto à relação entre intenção do testador e o contexto do documento, limitando-se a
estatuir que não surtirá qualquer efeito a vontade do testador que não tenha no
contexto um mínimo de correspondência, ainda que imperfeitamente expressa. Assim
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
sendo, continuando a aceitar-se as ideias de MANUEL DE ANDRADE, tem-se que o sentido
subjetivo valerá se o testador usou termos numa aceção pessoal, mas deu a entender isso
mesmo no testamento ou usava habitualmente esses termos nessa aceção anómala.
Já aquele sentido subjetivo não valerá, em princípio, se o testador usou termos
numa aceção extravagante, que estava fora dos seus próprios hábitos de linguagem ou
incorreu em erro na declaração. Nesta hipótese, a nulidade justifica-se pelas razões que
estão ligadas às exigências de forma nos testamentos. Tem-se, quanto a este último caso
de erro na declaração, que o erro na declaração não pode ser corrigido por via
interpretativa, de maneira a dar relevância à vontade real do testador. Embora provado o
erro na declaração e a própria vontade real, o testamento será nulo.
Por último, mas não menos importante, dizer que o princípio subjetivista em
matéria de interpretação do testamento se justifica, também, através de considerações de
respeito semirreligioso pela vontade dos mortos e de conveniência social transcendente
em que essa mesma vontade seja cumprida, para além do facto do testamento (um negócio
fora do comércio jurídico) ter permanecido estranho à evolução conhecida, sobretudo no
séc. XX, do subjetivismo para o objetivismo.
2. Integração
Qual a regulamentação das questões não previstas pelas partes, ao proverem à
elaboração do ordenamento negocial das suas relações?
O critério a utilizar-se para o efeito de realizar a integração dos negócios jurídicos
lacunosos é enunciado no artigo 239.º CCivil, ressalvando-se a hipótese de existir
disposição especial.
Na falta de disposição supletiva que possa aplicar-se, o artigo 239.º CCivil remete
para a vontade hipotética ou conjetural das partes. Assim, o Código Civil considera que
a integração deve ser determinada para cada negócio e não genericamente. Deste modo,
considerar-se-ão as circunstâncias que deram ao contrato concretamente celebrado
individualidade e não as caraterísticas gerais, de tipo contratual.
A integração, então, para além das normas supletivas, é necessária nos casos em
que o contrato não está plena e completamente tipicizado ou se afasta dos tipificados em
pontos que a regulamentação legal não se adapta ao contrato.
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
No entanto, estabelece-se que o juiz se deverá afastar da vontade hipotética das
partes quando a solução que estas teriam estipulado contrariar os ditames da boa-fé –
nestes casos, a declaração deverá ser integrada de acordo com as referidas exigências de
boa-fé (de acordo com o que corresponda à justiça contratual, ao que as partes devem
querer agora e não ao que deveriam ter querido). No que às normas supletivas diz respeito,
estas poderão nem sequer se aplicar, em casos excecionais, por contrariarem o comando
da boa fé - solução que encontra fundamento na cláusula geral do artigo 334.º.
Atente-se que as disposições supletivas não deixam de se aplicar mesmo quando
se alegar que as partes, se tivessem pensado no ponto respetivo, as teriam excluído,
solução esta que é de aplaudir, afirma o curso.
O problema da prioridade do direito supletivo ou da vontade hipotética tem de
resolver-se, salvo casos muito excecionais, dando prioridade ao direito supletivo (no
entanto situações extremas há que justificam a aplicação do artigo 334.º, invocando o
abuso do direito que se quer exercer através da norma supletiva contrária à vontade
hipotética das partes).
A integração negocial conhece limites: devemos considerar o que um contraente
honesto e razoável há-de admitir como exigido pelo contrato – não pode, portanto,
proceder-se na integração como se se estivesse a aplicar uma norma estranha ao contrato.
Designadamente, não pode a integração conduzir a uma ampliação do objeto negocial que
foi pretendido pelas partes.
DIVISÃO III – A DIVERGÊNCIA ENTRE A VONTADE E A
DECLARAÇÃO
Formas possíveis de divergência:
Normalmente o elemento interno (vontade) e o elemento externo da declaração
negocial (declaração propriamente dita) coincidirão. Nestes casos, tendo a vontade se
formado sobre uma motivação conforme com a liberdade e com a realidade, há uma
autodeterminação de efeitos jurídicos pelo autor da declaração.
Pode, contudo, verificar-se, por causas diversas, uma divergência entre esses dois
elementos da declaração negocial. Este dissídio ou divergência entre a vontade real e a
declaração pode ser intencional ou não intencional. Estamos perante uma divergência
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
intencional quando o declarante emite, consciente e livremente, uma declaração com um
sentido objetivo diverso da sua vontade real (quando a divergência é voluntária). Estamos
perante uma divergência não intencional quando o dissídio em apreço é involuntário, dado
que o declarante ou não se apercebe da divergência ou porque é forçado irresistivelmente
a emitir uma declaração divergente do seu real intento.
A divergência intencional pode apresentar-se sob uma de três formas principais:
A simulação, a reserva mental e as declarações não sérias.
A divergência não intencional pode consistir no erro obstáculo, na falta de
consciência da declaração e na coação física (ou violência absoluta).
Existindo uma divergência entre a vontade real e o sentido objetivo da declaração
levantam-se dois problemas. O primeiro é o de saber se o negócio jurídico valerá, apesar
disso, com o sentido correspondente à vontade real (problema de interpretação dos
negócios jurídicos, mais concretamente de fixação do sentido e alcance com que o
negócio deve valer, problema de relevância positiva da vontade real). O segundo é o
problema de saber se o dissídio entre aquilo que foi querido e aquilo que foi declarado
originará a invalidade do negócio (se não aderirmos a uma posição que atribui
exclusivamente relevância à vontade real, isto é, se optarmos por um sentido mais
objetivo então teremos o problema de relevância negativa da divergência entre a vontade
e a declaração, isto é, o problema de saber se a declaração virá a ficar desprovida de
efeitos ou não em virtude não coincidir com a vontade real).
Para determinarmos a solução mais razoável do problema da divergência da
vontade importa desenhar o esquema dos interesses em jogo. Por um lado, tem-se que o
declarante reclama, em nome da autonomia da vontade, a mais ampla possibilidade de
anulação do negócio. O interesse desta vai apontar, portanto, para uma não vinculação
deste ao sentido objetivo da declaração, não coincidente com a sua vontade real e,
consequentemente, aponta para a invalidade do negócio. No entanto, e como à
autodeterminação corresponde a autorresponsabilidade, o interesse do declaratário
aponta, em nome da tutela da confiança, para a irrelevância da divergência entre aquilo
que foi querido e aquilo que foi declarado, reclamando a proteção das suas legítimas
expetativas, assentes no desconhecimento da divergência. Ao lado dos interesses do
declarante e do declaratário, concorrem os interesses privados daqueles terceiros que
do declarante ou declaratário derivam direitos ou relativamente a eles os adquiram
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
(subadquirentes, credores, etc). Para além destes interesses individuais relevam também
os interesses gerais do comércio jurídico, a reclamarem um regime que assegure a
segurança, a fluência e a celeridade da contratação. A validade do negócio e a produção
dos efeitos correspondentes ao sentido objetivo da declaração são as soluções mais
favoráveis a estes interesses gerais.
No direito civil moderno várias teorias foram formuladas em vista da solução do
problema em epígrafe. Vamos expô-las por ordem cronológica:
• Teoria da vontade – propugna a invalidade do negócio desde que se verifique uma
divergência entre a vontade e a declaração e sem necessidade de mais requisitos;
• Teoria da “culpa in contrahendo” – parte da teoria da vontade, mas acrescenta-
lhe a obrigação de indemnizar a cargo do declarante, se houve dolo ou culpa do
declarante na divergência entre a vontade e a declaração e se houve boa fé por
parte do declaratário, uma vez anulado o negócio. Visa repor o declaratário,
lesado com a invalidade, na situação em que estaria se não tivesse chegado a
concluir o negócio;
• Teoria da responsabilidade – Assenta na mesma ideia da teoria anterior, com a
simples diferença de, em caso de dolo ou culpa do declarante, e estando de boa fé
o declaratário, o negócio ser válido;
• Teoria da declaração – enquanto a teoria da vontade arranca da consideração de
que a essência do negócio está apenas na vontade do declarante, a teoria da
declaração, embora de modo diverso, dá relevo fundamental à declaração (ao que
foi exteriormente manifestado). Comporta diversas modalidades:
o A modalidade primitiva e extrema – se a forma ritual foi observada,
produzem-se efeitos, mesmo que não tenham sido queridos;
o As modalidades modernas e atenuadas, em particular a doutrina da
confiança – a divergência entre a vontade real e o sentido objetivo da
declaração (o que um declaratário objetivo lhe atribuiria) só produz a
invalidade do negócio se for conhecida ou cognoscível do declaratário.
Não é possível a opção rígida por um dos lados da dicotomia (teoria da vontade –
teoria da declaração) ou por qualquer outra das teorias enunciadas. Proceder desse modo
seria um regresso ao conceitualismo. Assim, não serão idênticas as soluções específicas
de cada uma das várias formas de divergência entre o “querido” e o “declarado”, pelo que
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
a apreciação do problema passará, em tese geral, apenas pela tentativa de formulação de
uma diretriz sobre o sentido que presidirá à solução do problema posto por cada uma das
possíveis variantes da divergência entre vontade e declaração.
Poderá, no entanto, proclamar-se a opção pelas modernas modalidades da
doutrina da declaração, mais precisamente pela doutrina da confiança com a limitação
atrás referida (correspondente à doutrina da aparência eficaz). No entanto, esta doutrina
terá valor meramente tendencial. É, para o curso, a solução mais justa e mais conforme
aos interesses gerais do tráfico, relevando a proteção da confiança e dos interesses do
tráfico e, também, relevando se o declarante ou declaratário não passíveis de juízos de
censura.
SIMULAÇÃO:
O declarante emite uma declaração não coincidente com a sua vontade real, por
força de um conluio (acordo realizado com o objetivo de prejudicar outrem) com o
declaratário, com a intenção de enganar terceiros. Por exemplo, A finge vender um prédio
a B, por conluio a este, a fim de prejudicar os seus credores.
Assim sendo, diz-se que um negócio é simulado quando “… por acordo entre
declarante e declaratário, e no intuito de enganar terceiros, houver divergência entre a
declaração negocial e a vontade real do declaratário” – artigo 240.º/1 CCivil. Mais
detalhadamente, verifica-se que o art.º 240.º, n.º1 do Código Civil exige a verificação de
três requisitos para que o negócio possa ser considerado como celebrado sob simulação:
(1) Um acordo entre o declarante e o declaratário (acordo simulatório);
(2) No sentido ou com a intencionalidade de uma divergência entre a declaração e a
vontade das partes;
(3) Com o intuito de enganar terceiros.
Por conseguinte, estes elementos devem ser invocados e provados por quem
pretenda fazer valer-se da simulação ou de aspetos do seu regime.
Como entende Mota Pinto, a simulação conhece quatro tipos ou modalidades:
inocente, quando existe apenas o objetivo de enganar terceiros sem real consciência em
prejudicá-los, sendo raras (por exemplo, doações simuladas com o objetivo de
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
ostentação); fraudulenta, quando existe o intuito pleno de prejudicar terceiros ilicitamente
ou de “contornar qualquer norma da lei” (por exemplo, a venda fantástica, isto é, a venda
efetuada pelo devedor a um comprador fictício para prejudicar os seus credores);
absoluta, que é o caso da venda fantástica também, as partes fingem celebrar um negócio
jurídico, embora não pretendam, objetivamente, qualquer negócio, ou seja, existe o
negócio simulado e nada mais; relativa, quando as partes fingem realizar um determinado
negócio quando, na realidade, pretendem um outro negócio jurídico de sentido
completamente oposto – nestas situações, por detrás do negócio simulado, há um negócio
dissimulado/oculto (por exemplo, por detrás da venda de um carro, as partes escondem
uma doação do mesmo objeto entre os mesmos sujeitos).
A distinção entre a simulação absoluta e a simulação relativa tem a importância
derivada de esta última gerar um problema solucionado pelo artigo 241.º/2. Assim,
enquanto o negócio simulado é nulo, e na simulação absoluta não se põe mais nenhum
problema, na simulação relativa surge o problema do tratamento a dar ao negócio
dissimulado que fica a descoberto com a nulidade do negócio simulado. Este negócio
dissimulado só será válido se tiver sido observada a forma exigida pela lei.
SIMULAÇÃO ABSOLUTA - Efeitos da simulação absoluta:
A simulação absoluta importa a nulidade do negócio simulado, como se vê pelo
artigo 240.º, n.2 CCivil. Nenhuma outra solução seria razoável, pois não há que ter em
linha de conta quaisquer expetativas do declaratário – afinal de contas, este também
interveio no “pactum simulationis”. Só os interesses de terceiros de boa fé que tenham
confiado na validade do negócio simulado exigem ponderação, mas o tratamento desses
interesses de terceiros de boa fé não exige mais do que a inoponibilidade da nulidade –
não indo ao ponto de reclamar para a situação a forma menos grave de invalidade: a
anulabilidade.
No que diz respeito à legitimidade para arguir a simulação, vem cristalizado no
artigo 286.º CCivil, para o qual remete o artigo 242.º, que pode qualquer interessado
invocar a nulidade e o tribunal pode declará-la oficiosamente. Assim, reconhece-se aos
próprios simuladores a legitimidade para arguir a nulidade do ato simulado, mesmo que
a simulação seja fraudulenta.
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
A simulação pode ser deduzida tanto por via da ação como por via da exceção
(dado que quaisquer nulidades ou anulabilidade, pelo art. 287.º/2 pode ser deduzidas por
ambas as vias).
Como todas as nulidades, a invalidade dos negócios simulados pode ser arguida a
todo o tempo (art. 286.º), quer o negócio não esteja cumprido quer tenha tido lugar o
cumprimento.
Nota: Sabemos que apesar de não existir um prazo de caducidade para a ação
tendente à declaração de nulidade, na hipótese da nulidade, os efeitos práticos da
invalidade, mais concretamente a restituição de qualquer objeto alienado, são precludidos
pelos efeitos da usucapião. No entanto, no caso particular da simulação não poderá, em
regra, haver lugar para a usucapião uma vez que o simulado adquirente é possuidor em
nome alheio (ou detentor precário – artigo 1253.º, al.c) CCivil), não podendo adquirir por
meio de negócio simulado (salvo se se achar invertido o título da posse – artigo 1290.º
CCivil).
SIMULAÇÃO RELATIVA:
Modalidades da simulação relativa:
A simulação relativa manifesta-se em espécies diversas consoante o elemento do
negócio dissimulado a que se refere. Podem ser simulados o sujeitos do negócio jurídico
(mais frequentemente um apenas) – é o que se pretende com a interposição fictícia de
pessoas (por exemplo, A vende a B e B vende a C, mas para pagar apenas um sisa os três
sujeitos concordam em documentar na escritura pública apenas uma venda de A a C).
Não se deve, contudo, confundir a interposição fictícia com a interposição real – naquela
primeira há um conluio entre os dois sujeitos reais da operação e o interposto, sendo que
o interposto é um simples “homem de palha”; na interposição real, o interposto atua em
nome próprio mas no interesse e por conta de outrem, por orça de um acordo entre ele e
um só dos sujeitos, não havendo um conluio entre os três sujeitos, por exemplo: A está
interessado em comprar certos bens de B, mas, sabendo que este não lhos venderia
diretamente, acorda com C no sentido de este comprar a B e depois lhos vender).
Já a simulação objetiva, que também toma o nome de simulação sobre o conteúdo
do negócio, pode ser: ou simulação sobre a natureza do negócio (se o negócio simulado
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
resulta de uma alteração do tipo negocial correspondente ao negócio oculto, v.g. se se
finge uma venda mas se quer uma doação); ou simulação de valor (é, maior parte das
vezes, simulação de preço na compra e venda, fingindo-se um preço diferente do real).
EFEITOS DA SIMULAÇÃO RELATIVA:
O negócio fictício ou simulado está ferido de nulidade, tal como na simulação
absoluta (art. 240.º, n.º2).
A simulação relativa põe, ainda, um problema específico que não surgia no caso
de simulação absoluta. Quid iuris, quanto ao negócio disfarçado ou dissimulado? A este
propósito, o art. 241.º, n.º1 Código Civil, dispõe de uma regra da maior importância,
segundo a qual a simulação não prejudica a validade do negócio dissimulado, ou seja, o
negócio real ou dissimulado será objeto do tratamento jurídico que lhe caberia se tivesse
sido concluído sem dissimulação (art. 241.º CCivil). Destarte, o negócio real/dissimulado
pode ser plenamente válido e eficaz ou, por outro lado, inválido – tudo isto dependerá das
consequências que teriam tido lugar se o negócio dissimulado tivesse sido abertamente
concluído -.
Nota quanto à simulação em prejuízo da Fazenda Nacional: Até ao Código de
Seabra, em sede casos de simulação sobre a natureza do negócio, de que resultasse um
prejuízo para o fisco, o negócio dissimulado era nulo de nulidade relativa. O artigo 162.º
do Código de Seabra vem, porém, alterar o regime anterior, aplicando, também para estes
casos, a doutrina geral da simulação relativa: ou seja, o negócio dissimulado não era
afetado na sua validade pela própria lei fiscal, permanecendo válido e eficaz se tal for o
regime que à face da lei civil lhe cabe, claro está. Sucedia, apenas, que para além das
multas em que incorriam os simuladores, o imposto liquidado seria o correspondente ao
preço do negócio que tinha sido realmente celebrado (portanto, ao preço ou natureza do
negócio dissimulado). Atualmente, há que ter em linha de conta o disposto no artigo 39.º
da LGT, segundo o qual, em caso de simulação, a tributação recai sobre o negócio real e
não sobre o negócio simulado, dependendo, porém, a tributação de negócio real que
conste de documento autêntico, de declaração judicial a declarar a sua nulidade. Este
artigo 39.º não sanciona o negócio com qualquer nulidade.
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
Efeitos da simulação quanto aos negócios formais: Os problemas suscitados pela
aplicação da doutrina geral da simulação relativa aos negócios formais encontra a sua
resposta no n.º2 do artigo 241.º. Aí estatui-se que “se, porém, o negócio dissimulado for
de natureza formal, só é válido se tiver sido observada a forma exigida pela lei”.
Assim sendo, se não se cumprirem no negócio simulado, os requisitos de forma
exigidos para o negócio dissimulado, este último é nulo por vício de forma, mesmo que
se tenham observado as formalidades exigidas para o negócio simulado ou aparente.
(assim sendo, a doação de móveis disfarçada de venda verbal sem tradição da coisa, isto
é, sem a entrega real da coisa para efeitos da transmissão da sua posse ou propriedade, é
nula). Para a validade do negócio real/dissimulado torna-se necessária, portanto, a
observância do formalismo que a lei exige para ele, mesmo que essa forma não seja
suficiente para o negócio simulado ou aparente – a favor desta ideia, extrai-se um
argumento a silentio do art. 241.º/2 -.
Deste modo e seguindo esta linha de raciocínio, haverá um negócio totalmente
válido no caso de as partes fazerem constar das declarações que integram o núcleo
essencial do negócio uma contradeclaração – um escrito de reserva ou ressalva – com
os requisitos formais exigidos para esse negócio.
Mas e se não existir uma contradeclaração mas é certo que o formalismo exigido
para o negócio dissimulado foi observado, embora do documento conste o negócio
simulado e não o negócio dissimulado? O legislador procura responder a esta mesma
questão com o artigo 241.º/2 afirmando que se deve procurar saber se o negócio
dissimulado observou a forma exigida pela lei. No entanto a doutrina diverge,
especialmente no que diz respeito à dissimulação de uma doação de imóveis sob uma
venda, e vice-versa: (1) Maior parte entende que o negócio dissimulado é nulo por vício
de forma se não existir uma contradeclaração com a forma legalmente exigida; (2) Outros
autores consideram ser a venda ou a doação ocultas válidas formalmente, apesar de
apenas constarem do documento autêntico a doação ou a venda aparentes, respetivamente
dispensando, assim, a existência de uma contradeclaração formalmente bastante.
Do artigo 241.º/2 parece resultar a solução da nulidade do negócio dissimulado
quando o formalismo/ as solenidades exigidas para o negócio dissimulado até foi
observado, no entanto do documento consta o negócio simulado e o não o negócio
dissimulado, tal como preconizava BELEZA DOS SANTOS, solução reconhecida pelo
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
Assento de 23 de Julho de 1952. Repudia esta solução, então, a solução sustentada por
MANUEL DE ANDRADE, segundo a qual o negócio dissimulado não deveria ser nulo se as
razões que estivessem na base da exigência da sua forma ficassem satisfeitas com a
observância das solenidades próprias do negócio simulado.
A favor da consagração no Código Civil da solução da nulidade do negócio
dissimulado parece invocar-se um argumento tirado dos trabalhos preparatórios, um
argumento literal a silentio (a lei estabelece que o negócio dissimulad só é válido se for
observada a forma exigida e nada diz para as hipóteses de as razões do formalismo do
negócio dissimulado serem cumpridas com a observância das solenidades do negócio
simulado), mas, sobretudo, um argumento racional, extraído da ratio dos preceitos que
exigem uma certa forma para o negócio dissimulado (a finalidade do art. 241.º/2
dificilmente se verá alcançada com a simples observância das solenidades do negócio
simulado).
Assim se conclui: em sede de simulação relativa, o negócio simulado é nulo por
simulação; o negócio dissimulado é nulo por vício da forma.
A doutrina exposta vale quer para a simulação objetiva quer para a simulação
subjetiva. Apenas no que diz respeito à simulação de preço, quer o preço seja maior, quer
o preço seja menor, não há nenhum obstáculo de natureza formal para que a venda seja
eficaz, pelo preço efetivamente convencionado entre as partes.
Restrições á arguição da simulação pelos próprios simuladores: Existem?
O Código Civil Português atual dá aso a algumas polémicas e debates de opiniões.
Uma dessas problemáticas é, justamente, a legitimidade para arguir a simulação, que vem
cristalizada no art. 242.º do Código Civil, e que nos merecerá alguma atenção.
O artigo 242.º/1 atribui legitimidade aos próprios simuladores para a arguição da
nulidade, mesmo que a simulação seja fraudulenta – trata-se da solução que, pelo menos
desde o Assento de 10 de Maio de 1950, estava já consagrada no nosso sistema jurídico.
No entanto, advirta-se que esta possibilidade de a nulidade ser invocada pelos
próprios simuladores entre si sofre uma apreciável restrição indireta por força do artigo
394.º/2. Com efeito, o artigo 394.º/2 do Código Civil preceitua que os simuladores,
aquando da arguição da simulação, estão impedidos de prova-la por meios de
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
testemunhas. Neste sentido, lendo atentamente estes preceitos, concluímos que os
simuladores vêem a prova da simulação praticamente restringida à prova documental
(contradeclarações ou outros documentos) e à confissão, não sendo admissível o recurso
à prova testemunhal (art. 394.º), à prova por presunções judiciais (art. 351.º) ou à prova
pericial/prova de inspeção.
Note-se, no entanto, que a interpretação da lei ao deve ser tomada à letra, pelo que
é de aceitar que, caso a simulação já tenha sido tornada verosímil por um começo de prova
por escrito, a prova testemunhal poderá, excecionalmente, ter lugar.
Simulação e terceiros:
O conceito de terceiros, para efeitos de invocação da simulação, é, normalmente,
definido de forma a abranger quaisquer pessoas, titulares de uma relação, jurídica ou
praticamente afetada pelo negócio simulado e que não sejam os próprios simuladores ou
os seus herdeiros (depois da morte do de cujus).
Arguição da simulação por terceiros interessados na nulidade do negócio
simulado:
A nulidade do negócio simulado pode, como todas as nulidades, ser invocada por
qualquer interessado e declarada ex officio pelo tribunal (artigo 286.º, ressalvado no
artigo 242.º/1).
Poderiam suscitar-se dúvidas quanto à legitimidade dos herdeiros legitimários
para arguir a nulidade proveniente de simulação, em vida do simulador. É importante,
desde logo, entender aquilo que levou os projetistas do Código Civil de 1966 a destaca-
los dos restantes herdeiros. A razão prende-se, desde logo, com o facto de que, se a estes
herdeiros não fosse permitido arguir a nulidade do ato simulado em causa em vida do
autor de sucessão, os seus direitos atinentes à herança legitimária poderiam estar sob sério
risco.
É, então, neste sentido que o Código Civil permite que os herdeiros legitimários
intervenham nos atos simulados do autor da sucessão, em vida deste, mas somente nos
casos em que os atos forem práticos com a “intenção de os prejudicar” – art. 242.º/2/in
fine. Atente-se, no entanto, que esta disposição legal não será de todo incoerente, claro
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
está, com a (eventual) arguição dos atos simulados, por herdeiros legitimários já depois
da morte do simular alienante (agora de cujus).
O art. 242.º/2 referida não deve ser aplicada por analogia à hipótese de o ato
simulado, embora sendo fonte de graves prejuízos, não ter sido praticado com o intuito
de lesar os herdeiros legítimos.
Também a questão da Fazenda Nacional (estado) e preferentes tem relevo em
sede de arguição da simulação por terceiros com interesse na nulidade do negócio
simulado. Estes são interessados em arguir a simulação, podendo invocar a nulidade dos
atos simulados que lhe tenham causado prejuízo, por exemplo, as simulações de preço.
Liquidam-se depois os impostos e exerce-se a preferência com referência ao negócio real.
Por último, mas não menos importante, merece especial atenção o caso dos
credores – os terceiros aqui em causa são os credores do simulado alienante. Estes têm
enorme importância no estudo da simulação, já que são os principais interessados em
demonstrar o vício de um ato, que motivou uma aparente saída de um bem do património
do seu devedor (para que possam, obviamente, fazer valer o seu crédito sobre esse
património). A dúvida que se coloca na nossa doutrina era o problema de saber se para
que o credor pudesse arguir a simulação, seria indispensável a insolvência do devedor
(simulado alienante) ao tempo da ação destinada à declaração de nulidade. A doutrina
tradicional tendia para exigir esse requisito, mas MANUEL DE ANDRADE entendia que esta
solução não era razoável, afirmando que os credores podiam arguir a nulidade, desde que
tivessem nisso “algum outro interesse sério”. Esta solução deve considerar-se consagrada
no atual Código Civil, mesmo pelo próprio art. 286.º onde se pode ler “qualquer
interessado”. Para além disso, existe uma norma, o artigo 605.º, que reconhece aos
credores legitimidade para invocar a nulidade de atos praticados pelo devedor, quer
anteriores, quer posteriores à constituição do crédito, desde que tenham interesse na
declaração da nulidade.
Arguição da simulação contra terceiros interessados na validade do negócio
jurídico:
Entendidas e desbravadas estas discussões preliminares, relativas à arguição da
simulação pelos próprios simuladores e por terceiros, resta analisar a questão atinente à
inoponibilidade da simulação a terceiros de boa-fé.
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
Como se sabe, o regime geral dos efeitos face a terceiros encontra-se cristalizado
no art. 289.º CCivil (oponibilidade a terceiros). Este artigo preceitua que, sendo declarada
a nulidade ou anulabilidade de um negócio, tais efeitos se produzem, de imediato, na
esfera de terceiros.
No campo da inoponibilidade das nulidades e das anulabilidades a terceiros de
boa-fé temos que, à parte do art. 291.º, o legislador entendeu ser relevante estabelecer um
regime específico para os casos de simulação, que se encontra justamente previsto no art.
243.º CCivil. De acordo com esta norma, a simulação é inoponível a quaisquer terceiros
de boa fé, quer derivem os seus direitos de um ato oneroso, quer derivem de um ato
gratuito. A tutela de terceiros vem ser, agora, claramente mais cuidada e vigorosa,
dispensado alguns requisitos previstos no regime geral de inoponibilidades do art. 291.º
(inclui aquisições a título oneroso ou gratuito, não exige o registo da aquisição, é aplicável
também a aquisições de bens móveis não sujeitos a registo, dispensa o decurso do prazo
de três anos referido no art. 291.º/3 e protege terceiros que, embora culposamente,
desconheciam a simulação).
Aquilo que é fundamental é debruçarmo-nos sobre a questão da boa-fé e a sua
correlação com um terceiro que quer arguir o vício da simulação para obter a nulidade do
mesmo. Com efeito, a noção de boa-fé de que depende a inoponibilidade a terceiros
encontra-se redigida no art. 243.º/2, consistindo na ignorância da simulação ao tempo em
que se adquiriram os respetivo direitos – há boa-fé se o terceiro, no momento em que o
seu direito se constitui, desconhecia a existência da simulação. Não basta, para haver má
fé, a cognoscibilidade da simulação ou a suspeita ou dúvida sobre a sua existência – estas
são, como se exprimia MANUEL DE ANDRADE pecados veniais em face da má fé dos
simuladores. Por oposição, no n.º3 do artigo 243.º afirma-se que estará de má fé “ o
terceiro que adquiriu o direito posteriormente ao registo da ação da simulação, quando
a este haja lugar”.
Outra questão também ela muito importante tem que ver com o facto de a natureza
especial da inoponibilidade, a terceiros de boa fé, da nulidade proveniente de simulação
parecer, segundo a sua letra, aplicável apenas à arguição pelo simulador. Tal interpretação
do artigo 243.º/1 é controvertida no entanto, apesar das justificadas dúvidas que a questão
suscita, no entanto tendemos a considerar que a proteção conferida pelo artigo 243.º se
restringe ás situações em que a nulidade da simulação é invocada pelos simuladores ou
por quem ocupe a sua posição (nomeadamente, os herdeiros, salvo quando intervenham
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
como terceiros). Além da letra da lei, tem-se que esta proteção especial só se constitui
como justificada precisamente quando for invocada pelos simuladores, que
intencionalmente criaram a situação que agora pretendem destruir. Assim sendo, nos
outros casos em que a nulidade seja invocada por terceiros parece que a proteção do
terceiro adquirente só deverá proceder nos termos gerais do artigo 291.º - deixa de se
justificar a proteção especial do artigo 243.º. Esta situação, vem, claramente restringir,
ainda mais, o âmbito do artigo 243.º!
Uma outra dúvida reside em saber se o art. 243.º afetará apenas as pessoas a quem
o negócio simulado prejudica ou, a contario, também atenderá àqueles que beneficiem
da sua validade. O artigo 243.º/1 não faz qualquer restrição, ao contrário do que era
proposto no anteprojeto respetivo, ou seja, um intérprete estritamente agarrado à letra da
lei concluiria que a nulidade resultante da simulação era oponível a quaisquer terceiros
(mesmo os que, com isso, conseguiriam um lugar de evitarem um prejuízo). No entanto,
o curso, atentando no elemento racional do preceito legal, conclui de forma diferente. O
art. 243.º tem como premissa fundamental evitar situações de injustiça traduzidas na
circunstância de uma invalidação de ato simulado poder atentar contra direitos adquiridos
por terceiros, com fundada convicção na sua bondade. O mesmo será dizer que, visando
este preceito proteger a confiança dos terceiros, a solução mais acertada é a que impede
que a invocação da simulação possa causar prejuízos, contudo, já não terão abrigo legal
os casos em que o terceiro saia somente beneficiado da validade do negócio simulado.
(Assim, feita uma venda por 100 e tendo-se declarado simuladamente um preço de 30,
um preferente não pode invocar a sua qualidade de terceiro de boa fé, para preferir pelo
preço declarado - 30, sendo-lhe oponível a nulidade do negócio simulado, preferindo-se
pelo preço real - 100).
Por outro lado, é importante deixar bem claro que o fato do negócio simulado ser
inoponível a terceiro de boa fé, não significa que ele deixe de ser nulo ipso sensu.
Prova da simulação:
A prova do acordo simulatório e do negócio dissimulado por terceiros é livre,
podendo ser feita por qualquer dos meios admitidos na lei: confissão, documentos,
testemunhas, presunções… A lei não estabelece nenhuma restrição.
Quanto à prova da simulação pelos próprios simuladores, a lei estabelece, quando
o negócio simulado conste de documento autêntico ou particular, a importante restrição
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
constante do artigo 394.º/2, já do nosso conhecimento: não é admissível o recurso a prova
testemunhal e, consequentemente, estão também excluídas as presunções judiciais (artigo
351.º).
Outras figuras de divergência intencional…
➢ Reserva mental: O declarante emite uma declaração não coincidente com
a sua vontade real, sem qualquer conluio com o declaratário, visando precisamente
enganar este. Por exemplo, A declara a B fazer-lhe uma doação ou um empréstimo, sem
que na realidade tenha essa intenção, pois visa apenas dissuadir B do suicídio, que este,
em virtude da sua situação económica, afirma ter em mente.
O artigo 244.º/1 define reserva mental em conformidade com a lição comum dos
tradistas. São duas as not
as que definem o conceito: (1) emissão de uma declaração contrária à vontade real;
(2) intuito de enganar o declaratário.
Note-se ser escassa a probabilidade prática da reserva mental como vício específico
dos negócios jurídicos.
A reserva mental conhece várias modalidades: inocente ou fraudulenta; conhecida ou
desconhecida; absoluta ou relativa; unilateral ou bilateral.
No que diz respeito aos efeitos, tem-se que os mesmo são determinados pelo n.º2 do
artigo 244.º onde se estatui a irrelevância da reserva mental, exceto se for conhecida do
declaratário. Assim sendo, a declaração negocial emitida pelo declarante, com a reserva
de não querer o que declara, reserva essa ocultada ao declaratário, não é, em princípio,
nula. Trata-se de uma solução condizente com a exigência elementar de justiça e de
segurança: não se poderia conceber que a confiança na exteriorização de uma vontade
pudesse ser afetada se o declarante invocasse, para se desvincular, uma vontade oculta
contrária e a provasse sem margem para dúvidas (por exemplo, através de testemunhas).
Deixará, todavia, de assim ser, se o declaratário tiver conhecimento da reserva, sendo,
nestes casos, o negócio nulo (aliás como sucede na simulação), uma vez que desaparecem
as razões que justificam a exigência de justiça e segurança (se o declaratário conheceu a
reserva, não há confiança que mereça tutela).
Por outro lado, se há dois declaratários, qualquer deles, que não conheça a reserva,
pode invocar a sua irrelevância.
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
Será, também, reserva mental a hipótese de alguém, conscientemente, emitir uma
declaração com vários sentidos, a outra parte compreender apenas num certo sentido,
enquanto o declarante se reservou, ainda que ocultamente, só a fazer valer noutro sentido.
Tem-se que não basta, para a relevância da reserva, isto é, para que ela afete o negócio
tornando-o nulo, que o declaratário tenha a cognoscibilidade da reserva: é necessário que
tenha efetivo conhecimento da mesma. No entanto, por vezes, preconizam-se soluções
especiais para a reserva mental inocente (com o mero objetivo de enganar o declaratário):
assim, nestes casos, basta a simples cognoscibilidade do vício, para fundamentar a
validade, quando o reservante/declarante tenha procedido com ânimo de trazer vantagem
ao declaratário ou, até, nem será precisa a cognoscibilidade, apenas respondendo o
declarante pelo interesse negativo. O Código Civil não consagra esta solução,
estabelecendo, sem exceção, que só o conhecimento efetivo da reserva será motivo de
nulidade – nem sequer se excetua expressamente o caso de ter havido uma boa intenção,
como, p.e., tranquilizar um moribundo.
Atente-se que a rigidez de toda esta doutrina geral e abstrata, deverá, todavia, ser
atenuada, nalguns casos, por aplicação da cláusula geral do artigo 334.º - abuso do direito
-. Excederá, assim, muitas vezes os próprios limites impostos pela boa-fé, a pretensão do
declaratário no sentido de validar uma declaração que o respetivo autor emitiu, com
reserva mental, para trazer vantagem ao declaratário (por exemplo, para dissuadir o
declaratário de se suicidar ou de cometer um ato patrimonialmente ruinoso).
➢ Declaração não sérias: O declarante emite uma declaração não coincidente com
a sua vontade real, mas sem intuito de enganar qualquer pessoa (declaratário ou terceiros):
O autor da declaração está convencido de que o declaratário se apercebe do caráter não
sério da declaração. Assim, este conceito, inferido do artigo 245.º CCivil, prima pela
seguinte nota fundamental: a divergência entre a vontade e a declaração, embora
intencional, não visa enganar ninguém, pois procede-se na expetativa de que a falta de
seriedade não passe despercebida.
Quanto às modalidades, pode tratar-se de declarações jocosas, didáticas, cénicas,
publicitárias, etc. Tenha-se em atenção, no entanto, que a graça malévola (situações em
que a declaração emitida com uma intenção jocosa ou trocista, é feita na expetativa de
que a outra parte se deixe enganar) é reserva mental e não declaração não séria.
No que diz respeito aos efeitos, tem-se que, em princípio, a declaração carece de
qualquer efeito (artigo 245.º). Aliás, se o declaratário conhecia a falta de seriedade da
declaração ou ela era exteriormente percetível, parece nem chegar a haver uma verdadeira
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
declaração negocial – é o caso das declarações cénicas, didáticas ou em jogos de
sociedade.
No art. 245.º/2, no entanto, prevêem-se casos marginais: aqueles em que a
declaração foi feita em circunstâncias que induzem o declaratário a aceitar
justificadamente a sua seriedade, sobretudo nas declarações jocosas (graça pesada) e,
eventualmente, publicitárias. Continua a declaração a carecer de qualquer efeito,
sancionando-se a mesma solução, no entanto, tutela-se o interesse do declaratário, pela
responsabilidade do declarante pelo chamado interesse negativo ou interesse da confiança
(responsabilidade pré-negocial).
DIVERGÊNCIA NÃO INTENCIONAL
Como já vimos, estamos perante uma divergência não intencional quando o dissídio
em apreço é involuntário, involuntário porque o declarante não se apercebe da divergência
ou porque é forçado irresistivelmente a emitir uma declaração divergente do seu real
intento.
➢ Coação física ou coação absoluta: Na coação física ou absoluta o coagido tem a
liberdade de ação totalmente excluída. Já na coação moral ou relativa, a liberdade está
cercada, mas não excluída. Quanto aos efeitos, o Código Civil prevê no art. 246.º, a
hipótese de o declarante ser coagido pela força física a emitir a declaração. Abrangem-se,
portanto, as situações em que o declarante é reduzido à condição de puro autómato (as
restantes, em que a liberdade está cercada mas não excluída, remetem para o artigo 255.º
“Coação Moral”. Assim, são exemplos de coação física a hipótese de uma votação por
levantados e sentados, quando alguém é forçado irresistivelmente a levantar-se.
A coação física importa, nos termos do artigo 246.º, a ineficácia da declaração
negocial (a declaração não produz qualquer efeito). Não fala, portanto, de nulidade, sendo
discutível a qualificação como nulidade ou, antes, como inexistência, parecendo esta
última mais exata. Não há qualquer dever de indemnização, a cargo do declarante.
➢ Falta de consciência da declaração: O declarante emite uma declaração, sem
sequer ter a consciência de fazer uma declaração negocial, podendo até faltar
completamente a vontade agir. Por outras palavras, a falta de consciência da declaração
consiste na falta de vontade (consiste na falta do querer, da realidade volitiva que
normalmente existirá e coincidirá com o sentido objetivo da declaração) ou na falta de
vontade de ação (quando falta a consciência e a intenção do comportamento declarativo)
ou falta, pelo menos, a consciência da declaração.
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
Estas hipóteses são abrangidas pelo art. 246.º, onde se estatui que o negócio não
produz qualquer efeito, mesmo que a falta de consciência seja conhecida ou cognoscível
do declaratário – trata-se de um caso de nulidade. Excetuam-se as situações de falta de
vontade de ação, em que parece estar-se perante um caso de verdadeira inexistência da
declaração, dado que, quando falta a vontade de ação, não há um comportamento humano
consciente, há um comportamento inconsciente.
Assim sendo, mesmo que se verifique a imputabilidade da falta de consciência da
declaração ao autor do comportamento, o negócio não produz efeitos.
Temos, assim, que os interesses do autor do comportamento são tutelados em
primeira linha, em detrimento do interesse na proteção da confiança do declaratário. Se o
declarante for, porém culpado da falta de consciência da declaração (se lhe for imputável
essa falta), o declaratário tem direito a ser indemnizado do dano coberto pela chamada
responsabilidade pré-negocial.
➢ Erro na declaração ou erro-obstáculo: No erro obstáculo, há uma
divergência inconsciente entre a vontade e a declaração, mas há um comportamento
declarativo do errante, diferindo, portanto, das declarações sob o nome de outrem, onde
não há qualquer comportamento por parte do sujeito a quem a declaração é atribuída (se
A se faz passar por B, falsificando a assinatura de B, o documento não foi emitido por B
mas sim por A). Assim, o declarante emite a declaração divergente da vontade real, sem
ter consciência dessa falta de coincidência. É o caso que se nos apresenta quando o
declarante incorre num lapsos linguae, isto é, através de um erro cometido por distração
ao falar; num lapsos calami, isto é, através de um erro que escapa a quem escreve – erro
ortográfico -, ou quando o declarante está equivocado sobre o verdadeiro nome de um
objeto, dando-lhe uma denominação que, na realidade, corresponde a outro objeto.
No que diz respeito às causas e efeitos quando estamos perante erro sobre o
conteúdo da declaração, ou seja, erros através de lapsos linguae ou lapsus calami – erro
ortográfico -, ou por atribuição às palavras de um significado diverso do seu sentido
objetivo, temos o seguinte: o princípio geral regulador destas hipóteses consta do artigo
247.º, exigindo-se a anulação do negócio nos casos em que o declaratário conhecesse ou
não devesse ignorar a essencialidade, para o declarante, do elemento sobre que incidiu o
erro. Assim, embora a solução pareça criticável por sacrificar demasiadamente os
interesses do declaratário e do comércio jurídico, não se vai mais longe e se exige a
cognoscibilidade do erro (o reconhecimento ou reconhecibilidade do erro), bastando que
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
seja reconhecível a essencialidade do elemento sobre que o declarante errou. No entanto,
tem-se que, nos casos em que a aplicação do artigo 247.º lese, com extrema injustiça, os
interesses do declaratário, só se poderá obstar à anulação por força do princípio do artigo
334.º, invocando-se o abuso do direito de anular.
Conhecem-se algumas hipóteses particulares que merecem tratamento
especial. Desde logo:
i. Se o declaratário se apercebeu do dissídio entre a vontade real e a declarada e
se conheceu a vontade real do declarante, o negócio valerá de acordo com a vontade real
(art. 236.º/2);
ii. Se o declaratário conheceu, ou devia ter conhecido, o próprio erro, o regime
aplicável continua a ser a anulabilidade;
iii. Se o declaratário aceitar o negócio como o declarante queria, a anulabilidade
fundada em erro não procede (art. 248.º), ou seja, o negócio, tal como na hipótese
primeira, valerá de acordo com a vontade real;
iv. Em caso de erro de cálculo ou erro de escrita, não tem lugar a anulabilidade
do negócio, mas apenas a sua retificação (art. 249.º);
v. Se o declaratário compreendeu um terceiro sentido que não coincide nem com o
querido pelo declarante nem com o declarado, tem-se que o negócio, apesar do art. 247.º
poder não permitir a anulabilidade, deve ser anulado, pois nada justifica fazê-lo valer com
um sentido objetivo em que nenhuma das partes confiou. Por exemplo, se o contrato
consta de um documento, assinado por ambas as partes, onde o preço está objetivamente
cifrado em dólares dos Estados Unidos, o vendedor entendo-o em dólares canadianos e o
comprador em dólares de Hong Kong, nada justifica fazer valer o negócio com um sentido
objetivo, o preço em dólares americanos, em que nem A nem B confiaram). Esta solução
corresponde à teoria da aparência eficaz, que deve ser admitida, aqui, como um corretivo
da teoria da confiança. Relembre-se que a doutrina da aparência eficaz visa atingir os
fins visados com a teoria da confiança sem exceder esses fins, não fazendo valer a
declaração no sentido objetivo, a não ser que o destinatário confie efetivamente nesse
sentido. Assim, aqui se espelha, concluindo, um tratamento especial, o da anulabilidade
sem a exigência dos requisitos do artigo 247.
➢ Erro na transmissão da declaração: Hipótese prevista no artigo 250.º,
que a disciplina nos mesmos termos do erro-obstáculo. Assim, esta modalidade de
divergência não intencional não tem qualquer relevância autónoma – desencadeará o
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
efeito anulatório apenas nos termos do artigo 247.º. Atente-se porém ao disposto no n.º2
do artigo 250.º, admitindo-se a anulação sempre que o intermediário emita
intencionalmente (como dolo) uma declaração diversa da vontade do dominus negotii
(“senhor do negócio”).
Resumindo, o declarante suporta o risco de transmissão defeituosa, de uma
deturpação ocorrida enquanto a declaração não chega à esfera do declarante. No entanto,
já uma adulteração dolosa deve, porém, considerar-se como extravasando o círculo
normal de riscos a cargo do declarante.
DIVISÃO IV – VÍCIOS DA VONTADE
Algumas noções gerais…
Vícios da vontade: Perturbações do processo formativo da vontade, operando de tal modo
que a vontade, embora concorde com a declaração, é determinada por motivos anómalos
e valorados, pelo direito, como sendo ilegítimos. A vontade não se formou de um modo
julgado normal e são.
Entre nós, os vícios da vontade com relevância autónoma são o erro-vício, o dolo,
a coação moral, a incapacidade acidental (art. 257.º); igualmente o estado de necessidade,
previsto e regulado, ao lado de outras circunstâncias subjetivas, no artigo 282.º,
O regime da lesão no novo Código Civil: O Código de 1867 deixou de considerar a lesão
(grave desequilíbrio entre as prestações, nos contratos onerosos comutativos) motivo
autónomo de invalidade dos negócios jurídicos, só implicando a lesão anulabilidade do
negócio quando envolvesse erro, dolo ou coação. No Código de 1966, a lesão, agora sob
a designação de usura, disciplinada no artigo 282.º, como fundamento de anulação ou
modificação dos negócios, não consiste apenas, como consistia no antigo direito, numa
certa desproporção de prestações mas sim, igualmente, numa exploração da situação da
outra parte, em casos em que terá havido uma adulteração do modo de sã formação da
vontade. Com efeito, emprega-se, para definir a figura, a liberdade de apreciação judicial,
cujos elementos subjetivos passarão, por um lado, pela aferição da presença ou não de
uma situação de necessidade, inexperiência, ligeireza, etc; e, por outro, pela avaliação do
grau de exploração dessas situações.
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
Vícios redibitórios (vícios ocultos do objeto negocial): O Código de Seabra não
considerava os vícios redibitórios um vício autónomo dos negócios: só ocorreria
invalidade quando concorressem os requisitos gerais do erro. O Código Civil atual não se
refere, nas disposições gerais, aos vícios redibitórios como fundamento autónomo de
invalidade. Há, porém, normas que se referem a essa hipótese na regulamentação de
alguns contratos especiais.
Qualificação da invalidade proveniente de erro-vício, dolo, coação moral ou incapacidade
acidental: Trata-se de uma anulabilidade. Erro vício (arts. 251.º e 252.º); dolo (art. 254.º);
coação moral (art. 256.º); incapacidade acidental (art. 257.º). Relembrem-se as
caraterísticas da anulabilidade, em face dos artigos 287.º e 288.º: (1) Só pode ser invocada
pelo errante, pelo enganado, pelo coato ou pelo incapaz (“pessoas em cujo interesse a lei
estabelece”), sendo óbvio que a ação da anulação se transmite aos herdeiros da pessoa
com legitimidade; (2) Só pode ser invocada dentro do ano subsequente à cessação do
vício que lhe serve de fundamento (art. 287.º, n.º1, in fine). Pode, porém, ser invocada a
todo o tempo se o negócio não estiver cumprido, quer por via de ação quer por via de
exceção (art. 287.º/2); (3) Pode ser sanada por confirmação da pessoa a quem pertencer o
direito de anulação.
No caso de erro sobre os motivos que recaia sobre as circunstâncias que
constituem a base negocial (art. 252.º/2), surge a questão de saber se terá a anulabilidade,
tal como nas outras modalidades do erro-vício, ou se haverá lugar para uma faculdade de
resolução, tal como nos casos de alteração superveniente das circunstâncias. O curso
inclina-se para a hipótese da anulabilidade, dado que nos casos de erro sobre os motivos,
diversamente da alteração superveniente das circunstâncias vigentes ao tempo do
negócio, o estado de coisas erradamente figurado é anterior ou contemporâneo do
negócio. Trata-se ed um vício que inquinou a própria formação do negócio e não, como
sucede na alteração superveniente das circunstâncias, de uma vicissitude surgida no
decurso da sua execução.
Assim sendo, a remissão que é feita no artigo 252.º/2 para o artigo 437.º tem apenas
o sentido de indicar os pressupostos ou requisitos necessários para a relevância do erro
sobre as circunstâncias que constituam a base do negócio e não a forma que revesta essa
mesma relevância (anulabilidade ou resolução?).
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
➢ O erro como vício da vontade:
Noção: estamos perante um caso de vício na formação de vontade, ou seja, uma
perturbação no seu processo formativo, em que a vontade, embora seja concordante com
a declaração negocial, é determinada por motivações anómalas e entendidas pelo direito
como sendo ilegítimas. De facto, múltiplos vícios podem perturbar o processo de
formação da vontade. Nesta situação, o vício é o erro, que se consubstancia numa
representação inexata, num conhecimento lacunoso ou insuficiente ou mesmo na total
ignorância de uma qualquer circunstância de facto ou de direito que foi determinante na
decisão de efetuar o negócio (passada ou presente à celebração do negócio). O mesmo
será dizer que estamos perante um erro-vício, quando aquele que efetua o negócio, se
estivesse esclarecido ou elucidado acerca de determinada circunstância ou se tivesse
conhecimento total da realidade que a mesma arrastaria, nem sequer o teria celebrado ou,
pelo menos, não com a mesma pessoa, objeto ou tipo negocial. Trata-se, manifestamente,
de um erro condicionante da vontade e da sua condução na decisão contratual, daí que a
doutrina alemão lhe tenha atribuído o nome erro-motivo.
Confronto com figuras próximas:
Neste momento podemos distinguir erro-vício de erro na declaração. O erro vício
é um vício da vontade e o segundo uma divergência entre vontade e a declaração. De
outro modo, o erro vício é um erro na formação da vontade e o erro-obstáculo ou erro na
declaração é um erro na formulação da vontade. Se A compra um prédio porque julga que
esse prédio tem 15 apartamentos, mas na verdade ele só tem 10, estamos perante um erro-
vício – não há divergência entre a vontade de comprar aquele prédio e o que se declarou,
simplesmente ele não teria querido o que quis se conhecesse a realidade, tendo sido
decisiva para a vontade comprar aquele prédio a presentação inexata de que o prédio tinha
15 apartamentos.
Também uma figura próxima do erro-vício é a figura designada por
pressuposição. (ver final dos apontamentos) Podemos caracterizar a pressuposição como
a convicção por parte do declarante, decisiva para a sua vontade de efetuar o negócio, de
que certa circunstância se verificará no futuro ou de que se manterá um certo estado de
coisas. Assim sendo, nos termos do artigo 437.º, a alteração anormal das circunstâncias
pressupostas constitui fundamento de resolução ou de modificação do contrato, quando a
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
manutenção do conteúdo contratual contrarie a boa-fé e não esteja coberta pelos riscos
próprios do contrato.
Como já dissemos no início deste capítulo sobre os vícios da vontade, a
pressuposição refere-se ao futuro (faltará quando houver uma alteração superveniente das
circunstâncias) e o erro refere-se ao presente ou ao passado. Por outras palavras, o erro
consiste na ignorância ou na falsa representação, relativas a circunstâncias passadas ou
contemporâneas do momento de celebração do negócio, mas a pressuposição consiste na
representação inexata de um acontecimento ou realidade futura que se não vêm a
verificar.
Modalidades: Com a substituição do Código Seabra pelo Código Civil vigente, podem
referir-se três modalidades do erro: erro sobre a pessoa do declaratário (erro sobre a
identidade, que será quase sempre um erro-obstáculo, e erro sobre as qualidades); erro
sobre o objeto do negócio (pode incidir sobre o objeto mediato, isto é, sobre a identidade
ou qualidades do objeto negocial, ou sobre o objeto imediato, e aqui tomará o nome de
erro sobre a natureza do negócio; erro sobre os motivos não referentes à pessoa do
declaratário nem ao objeto do negócio – art. 252.º CCivil -, corresponde ao erro acerca
da causa de direito ou de fato ou, ainda, ao erro sobre a pessoa de terceiro.
O problema da exclusão prévia da anulação por erro: A anulação por erro parece
poder ser excluída por acordo contratual prévio relativamente à deteção do erro. Apesar
de este problema e de esta conclusão não serem pacíficos na generalidade da doutrina,
estamos perante matéria de caráter dispositivo, não se vendo razão para a subtrair à
disponibilidade das partes.
Condições gerais de relevância do erro-vício como motivo de anulabilidade:
A nível geral, para ser fundamento de pretensão anulatória, o erro-vício tem de
obedecer a alguns requisitos de relevância.
MANUEL DE ANDRADE, considera ser relevante apenas o erro dito essencial, ou
seja, aquele que levou o errante a consolidar e finalizar o negócio em sim mesmo e não
apenas nos termos em que foi concluído. O erro foi causa da celebração do negócio e não
apenas dos seus termos. Se o errante soubesse do erro, provavelmente o negócio nem teria
sido realizado, seria de outro tipo ou implicaria outro objeto ou pessoa negocial. Por
oposição à essencialidade destaca-se a incidentalidade. Assim, temos que erro incidental
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
é o erro sem o qual o errante, embora noutros termos, sempre celebraria o mesmo negócio,
mantendo-se o mesmo tipo negocial, objeto e sujeitos. O erro incidental, para o curso,
não será, todavia, irrelevante: deverá fazer-se valer nos termos em que teria sido
concluído sem o erro (para este efeito, deverá aplicar-se analogicamente o art. 911.º do
Código Civil). Quando estes termos em que teria sido concluído o negócio não puderem
ser ajuizados com segurança ou, pelo menos, com bastante probabilidade e, ainda, quando
se prove que a outra parte não teria acolhido esses termos, terá lugar a anulabilidade em
sede de erro incidental (art. 292.º). Com efeito o erro, para relevar, deve atingir os motivos
determinantes da vontade (art. 251.º e 252.º).
O segundo requisito geral que fundamenta a pretensão anulatória de um contrato
envolvo num erro-vício é a propriedade. Um erro é próprio quando incide sobre uma
circunstância que não seja a verificação de qualquer elemento legal ou formal do negócio.
Assim, o erro será impróprio quando, por exemplo, versar sobre os requisitos legais de
forma negocial (nestes casos, o fundamento da invalidade não é o erro em si, mas o
requisito legal cuja deficiência, ignorada pelo errante, vicia o negócio, pelo que o tipo de
invalidade passará pelo vício de forma, a ilicitude do objeto negocial, a incapacidade,
etc).
Durante a vigência do Código de Seabra discutia-se, ainda, a verificação de um
terceiro e quarto requisitos, que não têm contemplação do nosso Código Civil atual.
Referimo-nos à noção de escusabilidade e individualidade. Para Cabral de Moncada e
Galvão Telles, um contrato motivado por situação de erro só seria anulável caso ocorresse
ausência de culpa do errante (escusabilidade). Por outro lado, acrescentam que o erro
deveria ser sempre exclusivo do errante, ou seja, individual e singular (individualidade)
– tal solução interpretava à letra o artigo 664.º do Código de Seabra, artigo que não
encontra correspondência em parte alguma no atual Código Civil -.
Condições especiais de relevância do erro-vício como motivo de anulabilidade: Aos
requisitos gerais de relevância do erro (essencialidade e propriedade, nos termos
expostos), devem acrescer certos requisitos especiais, que variam com as diversas
modalidades do erro-vício. Há que distinguir, assim, três modalidades, em conformidade
com os novos dados legais: o erro sobre os motivos, o erro sobre a pessoa do declaratário
e o erro sobre o objeto do negócio. Assim, tem-se:
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
Erro sobre os motivos: Nesta categoria, inserem-se os casos em que o erro não se
refere nem à pessoa do declaratário nem ao objeto do negócio. Corresponde, esta noção
de erro sobre os motivos, ao erro acerca da causa (erro de direito ou erro de facto) – por
exemplo, um funcionário que arrenda ou compra um andar num prédio numa cidade por
crer, erradamente, ter sido transferido para lá. Para casos deste tipo, para além de o erro
ter que recair sobre os motivos determinantes da vontade, deverá também haver um
acordo por ambas as partes que reconheça a essencialidade do erro. Por acordo
subentende-se uma cláusula, expressa ou não, que ressalve a ideia de que a validade do
negócio depende da circunstância sobre que recai o erro. Esta cláusula é totalmente
coerente com a segurança das partes na liberdade de contratar, visto que seria irrazoável
anular o negócio apenas com base na convicção, conhecimento ou simples
cognoscibilidade da contraparte do erro em causa – tal daria lugar a enormes litígios e
querelas. Assim, este n.º1 do art. 252.º vem excluir a relevância do erro sobre os motivos,
para além do condicionalismo lá prescrito.
A grande particularidade do regime do erro-vício, no que toca ao requisito especial
exigido para procedência de um requerimento de anulação de negócio jurídico, ocorre,
mais concretamente, no caso de erros sobre a base negocial. Assim sendo, na 2.º parte do
artigo 252.º estabelece-se um regime especial para certos casos de erro sobre os motivos:
nestes casos, haverá lugar à anulabilidade, nos mesmos termos em que, nos artigos 437.º
e 439.º, se dispõe acerca da resolução por alteração das circunstâncias vigentes no
momento em que o negócio foi concluído, isto é, “desde que a exigência das obrigações
assumidas afete gravemente os princípios da boa fé e não esteja coberta pelos riscos
próprios do contrato”. Mas em que hipóteses se poderá afirmar que o erro incide sobre a
base negocial? São hipóteses do tipo daquelas em que a não verificação da pressuposição
releva, isto é, são casos em que a contraparte aceitaria ou, segundo a boa-fé, deveria
aceitar um condicionamento do negócio à verificação da circunstância sobre que incidiu
o erro, se este condicionamento lhe tivesse sido proposto pelo errante – isto porque houve
representação comum de ambas as partes da existência de certa circunstância,
circunstância sobre a qual as partes edificaram, de um modo essencial, a sua vontade
negocial.
O Código Civil fala em erro sobre os motivos, dado que a terminologia erro
acerca da causa pode ser equívoca, dado que a palavra causa tem no vocabulário jurídico
um sentido técnico e um sentido comum. Não se estabelece, também, qualquer distinção
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
entre erro de direito sobre os motivos determinantes e erro de facto (cabe a ambas as
modalidades o mesmo regime).
Como já foi referido várias vezes, volta-se, mais uma vez, à questão de saber qual
o sentido que se pode retirar da remissão do artigo 252.º/2 para os artigos 437.º e 439.º
(resolução ou modificação do contrato por alteração das circunstâncias). Relembra-se
que para Mota Pinto, Menezes Cordeiro e Oliveira Ascensão, entre outros, o erro sobre a
base negocial arrastará, incomensuravelmente, a anulabilidade do negócio, pelo que a
hipótese prevista no artigo 252.º/2 deverá considerar-se um “vício genético”. Assim, a
remissão para o regime desses artigos serve apenas para indicar os requisitos especiais de
anulabilidade, também aplicáveis no caso de erros sobre a base negocial. Estes requisitos
são três: haver uma alteração anormal das circunstâncias; que a exigência do
cumprimento das obrigações assumidas pelo lesado afete gravemente os princípios da
boa-fé; que o cumprimento das respetivas obrigações a ele impostas não esteja coberta
pelos riscos próprios do contrato. Assim, a remissão destaca apenas os pressupostos da
relevância e não a resolução diretamente disposta no artigo 437.º/1. Na verdade, estando
um contrato em processo de execução, não seria coreto atingi-lo no passado e na sua
totalidade, dado que as partes poderiam ter realizado enormes investimentos na
expetativa/garantia do seu cumprimento. Assim, no erro sobre a base do negócio há que
aplicar-se o regime comum do erro: a anulabilidade, ainda que sujeita à observância dos
requisitos do arts. 437.º e 439.º CCivil. (ou seja, no erro sobre a base negocial, para saber
se a anulabilidade poderá ou não ter lugar, há-que averiguar-se da existência no erro do
requisito da essencialidade, da propriedade mas também dos requisitos dos artigos 437.º
e 439.º CCivil).
Erro sobre o objeto do negócio: Está previsto no artigo 251.º, quer na hipótese de
erro sobre a identidade (na medida em que seja um erro-vício e não um erro na
declaração), quer na do erro sobre as qualidades do objeto do negócio. O negócio será
anulável nos termos previstos no artigo 247.º para o erro-obstáculo, isto é, “desde que o
declaratário conhecesse ou não devesse ignorar a essencialidade, para o declarante, do
elemento sobre que incidiu o erro” (a este propósito, o curso, à semelhança do
preconizado em sede de erro na declaração, entende que fosse mais razoável ter-se
exigido o conhecimento ou a cognoscibilidade do erro.
A lei não faz qualquer delimitação das qualidades do objeto, cuja suposição errada
integre a hipótese do artigo 247.º, falando, apenas, de “erro que atinja os motivos
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
determinantes da vontade quando se refira ao objeto do negócio”. É, todavia, necessária
uma delimitação (não faria sentido, por exemplo, que se pudesse anular um negócio com
fundamento no desconhecimento de um preço mais barato noutro local).
O artigo 251.º abrange, igualmente o chamado erro sobre a natureza do negócio,
pois esta versa sobre os efeitos do negócio, sobre o seu conteúdo – ou seja, sobre o seu
objeto imediato.
Erro sobre a pessoa do declaratário: Abrange, igualmente, o erro sobre a
identidade e o erro sobre as qualidades da pessoa do declaratário. Está também previsto
no artigo 251.º CCivil, cabendo-lhe, portanto, o regime correspondente ao erro na
declaração.
Aplicação da coisa a fim diferente do declarado: Hipótese polémica é a de num
contrato de compra e venda se declarar o destino a dar à coisa vendida mas o comprador
vem mais tarde a dar-lhe um destino diferente do declarado. O curso entende que, nestes
casos, não há nenhum erro, em sentido técnico-jurídico.
É certo que o comprador não vem a dar à coisa adquirida o destino que declarara
dar-lhe, destino esse pode ter sido decisivo para o vendedor, de tal modo que se este
soubesse que o comprador viria a dar à coisa outro destino, ele não teria contratado. No
entanto, o vendedor não incorreu em erro algum – o comprador é que não agiu de
acordo com aquilo que o vendedor esperava dele. Mas não se desconhece a realidade nem
se faz dela uma falsa ou deficiente representação – e só nesse caso é que poderia haver
erro, só nesse caso a vontade estaria viciada.
Assim sendo, e como as coisas se passaram como passaram, poderá dizer-se que
se “erra”, sim, quanto ao futuro, não sendo isso um erro em sentido próprio, mas sim uma
falha na previsão, uma falsa ou deficiente previsão, cujo enquadramento adequado é,
trazendo mais uma vez a alteração das circunstâncias supervenientes à colação, o artigo
437.º CCivil. Deste modo, uma deficiente previsão do evoluir das circunstâncias revela
se e na medida em que se verificarem os requisitos do artigo 437.º (não é um caso de erro
nem tem autonomia em face desta norma).
Em suma e por outras palavras: o erro-vício consiste no desconhecimento ou numa
falsa representação da realidade; se, pelo contrário, a falsa representação se reportar ao
futuro, é a previsão que falha ou o quadro de acontecimentos pressupostos que não se
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
verifica ou evolui em termos diferentes do previsto, caso em que será de recorrer ao
instituto da alteração das circunstâncias e apurar se essa falsa representação reúne os
pressupostos que este instituto requer para relevar juridicamente.
Erro haverá, sim, se o vendedor se enganar quanto ao sentido da declaração do
comprador, que nunca pensou, por hipótese, dar-lhe o destino que o vendedor julgara.
Assim como também poderá haver dolo do comprador se este procedeu com intenção de
enganar a outra parte quando emitiu aquela declaração.
A situação poder-se-á, ainda, enquadrar no âmbito do não cumprimento do
contrato, se o destino declarado constituir uma obrigação do comprador (o que retira, no
fundo, ao problema a sua especificidade, porque deixa de ser um problema respeitante ao
fim do contrato para passar a ser uma questão relativa ao não cumprimento). No entanto,
nesta linha, naturalmente, a via mais adequada para proteger o interesse do vendedor será
a inclusão de uma condição ou uma cláusula resolutiva, que lhe permita reaver o prédio
caso o comprador não lhe dê o destino acordado.
Ter-se-á de considerar, todavia, para a completa compreensão do problema, que
as partes estão vinculadas não apenas às obrigações que expressa ou tacitamente hajam
assumido, mas também a todas aquelas que sejam de incluir na relação obrigacional
emergente do contrato celebrado, à luz da boa-fé e do fim contratual. Revestem, nesta
sede, particular importância os deveres laterais ou deveres acessórias de conduta, que
recaem sobre qualquer das partes.
Como quer que seja, para se concluir, insiste-se, ainda, que se afigura de capital
importância determinar, à partida, o sentido da declaração sobre o destino do bem, o que
assumirá, também, relevo em sede de interpretação e integração do negócio (artigos
236.º e 239.º).
➢ O dolo: A noção de dolo consta do n.º1 do artigo 253.º. Trata-se de um
erro determinado por um certo comportamento da outra parte. Indique-se que só
estaremos perante um caso de dolo, quando se verificar uma intenção de alguém em
manter ou sugerir o erro de outrem (o autor de declaração negocial), empregando, para
esse efeito, determinados artifícios (dolo positivo) ou quando haja lugar a dissimulação
pelo declaratário ou por terceiro de erro do declarante (dolo omissivo).
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
Modalidades: No direito atual prevêem-se cinco modalidades de dolo. (1) dolo positivo
ou dolo negativo, cuja distinção já foi acima caracterizada e consta do artigo 253.º Nesta
sede, tem-se que o dolo negativo não existe em todos os casos de silêncio perante o erro
em que versa o declarante – a omissão do esclarecimento só constituirá dolo ilícito quando
exista um dever de elucidar, por força da lei ou de estipulação negocial ou das conceções
dominantes no comércio jurídico – 2.º parte, artigo 253.º/2; (2) dolo essencial e dolo
incidental, sendo que no dolo essencial, tal como no erro essencial, o enganado foi
induzido pelo dolo de tal forma, que, sem a presença deste último, provavelmente o
negócio não teria sido efetuado de todo. Já no dolo incidental, o enganado foi somente
objeto de influência ou sugestão na sua decisão, pelo que o negócio, caso o dolo não se
verificasse, teria toda a probabilidade de vir a ser realizado, embora noutros termos. O
dolo incidental não conduz, desde logo, necessariamente, à anulação, nos termos já
indicados a propósito do erro; (3) dolo bom e dolo mau (bonus e malus), só o dolo mau
constituirá fundamento de anulabilidade e de responsabilidade, ou seja, o dolo bom –
simples artifícios considerados usuais e legítimos segundo as conceções dominantes no
comércio jurídico (art. 253.º/2) – não será punível; (4) dolo proveniente de declaratário
e dolo proveniente de terceiro: são exigidas certas condições suplementares para a
relevância do dolo de terceiro, que devem acrescer às do dolo do declaratário, e o seu
efeito é mais restrito. Assim, existirá não apenas dolo de terceiro mas também dolo do
declaratário, se este for cúmplice daquele ou conhecer a atuação de terceiros – art. 254.º/2;
(5) dolo inocente e dolo fraudulento, sendo que no dolo inocente há mero intuito
enganatório e no dolo fraudulento há o intuito ou a consciência de prejudicar. Esta
distinção não tem grande relevo prático, dado que ambos implicam os mesmos efeitos.
Condições de relevância do dolo como motivo de anulação: Ora, tal como preceitua o
artigo 254.º/1 CCivil, ao dolo corresponde, via de regra, o regime da anulabilidade. Em
todo o caso, tal não será o seu único efeito, pois haverá, inclusivamente, lugar à
responsabilidade pré-negocial daquele que pratica o dolo, na medida em que motivou a
invalidade do negócio durante o seu período de formação, atentando contra todos os
princípios de boa-fé exigidos e exigíveis no tráfico jurídico.
Por outro lado, uma caraterística primordial do dolo, que, aliás, o distingue, no
domínio dos vícios da vontade, do erro (em situações de culpa), é, justamente, o facto do
autor da declaração não ser tido como responsável, já que é visto como “vítima”, ou,
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
segundo alguns autores, como “alvo” de um comportamento atentatório das regras básicas
da boa-fé.
Deste modo, a responsabilidade daquele que pratica o dolo terá que ser protetora
do tráfico jurídico, daí ser uma responsabilidade pelo interesse contratual negativo,
segundo a qual, o enganado terá dito a repor, tanto quanto possível, a situação,
talqualmente ela figurava antes do dolo, sendo, paralelamente, indemnizado pelos dano
sofridos, por força de ter acreditado na validade do negócio e na boa fé dos seus
intervenientes.
De acordo com a maioria das opiniões doutrinárias e jurisprudência civilística, na
qual se insere o curso, a relevância do dolo do declaratório enquanto motivo de anulação
depende de quatro requisitos:
i. Devemos estar perante um dolus malus (artigo 253.º Código Civil);
ii. Deve ser um dolo determinante, isto é, a relevância do dolo dependerá de uma
causalidade dupla ou simultânea – é imperativo que o dolo seja condicionante
do erro da declaração e que o erro seja condicionante ou essencial do negócio,
por corolário;
iii. O autor do dolo deve ter firme intenção de prejudicar ou manter em erro o
enganado (artigo 253.º, n.º1 do Código Civil);
iv. O negócio será anulável mesmo em casos de dolo bilateral, ou seja, ao
contrário do que exigem algumas legislações e a própria tradição jurídica, não
é necessário que o dolo seja unilateral.
Em casos de dolo proveniente de terceiro, o artigo 254.º/2 estipula a verificação
de mais um dos seguintes pressupostos, para que o dolo releve enquanto motivo de
anulação:
i. Se o declaratário conheceu ou lhe foi cognoscível o dolo de terceiro, o negócio
será totalmente anulável. Desde logo, neste caso, haverá dolo negativo do
próprio declaratário, se ele tiver conhecido efetivamente os artifícios de
terceiro. A lei estabelece, assim, a hipótese de anulabilidade, mesmo para a
simples cognoscibilidade do declaratário;
ii. Se o declaratário não conheceu, nem devia conhecer o dolo de terceiro, mas
este último beneficiou, por meio de cláusula a seu favor, de algum direito, a
anulação será restrita a essa cláusula – invalidade parcial. Por exemplo, se A
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
doou a B com encargo de prestação a favor de C, o doador (A) poderá invalidar
o negócio na parte respeitante a C, no caso de ter havido dolo da parte deste,
ou de ele conhecer, ou dever ter conhecido o dolo. Já será, porém, anulável
todo o negócio se o declaratário (B) conheceu ou devia ter conhecido o dolo
de terceiro.
Mas qual o fundamento jurídico, afinal, para a anulabilidade do dolo? O fundamento
da anulabilidade por dolo não consiste numa ideia de reparar o prejuízo sofrido pelo
engando (o próprio dolo inocente releva), mas na adulteração/alteração da vontade do
deceptus (parte lesada), tal como sucede no erro simples. (Claro está que “um ano após a
cessação do vício” equivale a um ano após ter tomado conhecimento dos artifícios)
A reparação do prejuízo causado é visada sim com a responsabilidade civil que
impende sobre o deceptor, e não com a anulabilidade. Por conseguinte, o decetor incorre
em responsabilidade pelo dano da confiança ou interesse contratual negativo.
Para o curso, na ótica de Mota Pinto, desta responsabilidade decorre a obrigação
de indemnização da parte lesada (deceptus), que constitui uma consequência do dolo
absolutamente independente da anulabilidade, verificando-se mesmo em casos em que
não são cumpridos os requisitos necessários para fundamentar e proceder a pretensão
anulatório ou, semelhantemente, em situações em que o direito de anular esteja impedido
por questões de prazos (por exemplo, caducidade). Esta noção encontra a sua explicação,
não só através do previsto nos artigos 227.º e 498.º, mas também no artigo 253.º CCivil.
Confronto entre as condições de relevância do dolo e as do erro: Por último, mas não
menos importante, afigura-se de relevo notar que as condições de relevância do dolo são
menos exigentes que as do erro sobre os motivos, dado que não se exige para o dolo o
estreito condicionamento imposto pelo artigo 252.º. Já os requisitos especiais do erro
sobre a pessoa do declaratário ou sobre o objeto do negócio, porém, não constituem uma
exigência mais gravosa para o errante que pretende anular o negócio do que a
representada pelos requisitos do conceito de dolo: aqueles primeiros exigem o
conhecimento ou cognoscibilidade, pela outra parte, da essencialidade do elemento sobre
que incidiu o erro, mas, para a relevância do erro provocado por dolo, exige-se mesmo a
intenção ou consciência de induzir ou manter em erro a contraparte.
Carla Relva Pinto 2016/2017
TGDC II - ANTÓNIO PINTO MONTEIRO
O dolo, por outro lado, é um facto ilícito que origina uma responsabilidade pré-
negocial do deceptor (autor do dolo) a favor do deceptus (parte lesada), enquanto o
errante, pelo meno
Carla Relva Pinto 2016/2017
Você também pode gostar
- Direitos reais e limitações à propriedadeDocumento20 páginasDireitos reais e limitações à propriedadeArôldo BatistaAinda não há avaliações
- Relacao JuridicaDocumento10 páginasRelacao JuridicaLacerda Sale100% (1)
- DIREITO DAS COISAS: PROPRIEDADE, DIREITOS REAIS E PESSOAISDocumento227 páginasDIREITO DAS COISAS: PROPRIEDADE, DIREITOS REAIS E PESSOAISVanessa DoddeAinda não há avaliações
- Análise de riscos para solda elétricaDocumento5 páginasAnálise de riscos para solda elétricaDaniel Oliveira100% (1)
- Teoria Geral do Objeto da Relação JurídicaDocumento149 páginasTeoria Geral do Objeto da Relação JurídicaÍtalo Rodrigues LopesAinda não há avaliações
- TGDCII Sebenta Mota PintoDocumento52 páginasTGDCII Sebenta Mota PintodannycostinhaAinda não há avaliações
- TGDCII Sebenta Daniel DavidDocumento62 páginasTGDCII Sebenta Daniel DaviddannycostinhaAinda não há avaliações
- Teoria Direito Civil IIDocumento65 páginasTeoria Direito Civil IIMiguel BarbosaAinda não há avaliações
- TGDC IiDocumento31 páginasTGDC Iimjcpm1899Ainda não há avaliações
- Apontamentos de Teoria Geral Do Direito Civil II 1 PDFDocumento146 páginasApontamentos de Teoria Geral Do Direito Civil II 1 PDFMarlla TembeAinda não há avaliações
- TGDC Ii - ApontamentosDocumento18 páginasTGDC Ii - ApontamentosMaria SaraivaAinda não há avaliações
- Do Direito Das CoisasDocumento10 páginasDo Direito Das CoisasRildo Clemente Rodrigues MalveiraAinda não há avaliações
- Direitos Reais emDocumento8 páginasDireitos Reais emFamília MatosAinda não há avaliações
- Direito Civil: Princípios e Teoria GeralDocumento5 páginasDireito Civil: Princípios e Teoria GeralAndreia BaiorteAinda não há avaliações
- TGDC - Teóricas 2º Semestre CC2 2018-19Documento56 páginasTGDC - Teóricas 2º Semestre CC2 2018-19npAinda não há avaliações
- Direito Civil IIDocumento4 páginasDireito Civil II24 CRAJUBARAinda não há avaliações
- Conceitos de ativo e passivo na contabilidadeDocumento12 páginasConceitos de ativo e passivo na contabilidadeAlmirante MakinaAinda não há avaliações
- Trabalho de CoisasssDocumento11 páginasTrabalho de CoisasssMoranguinho DoceAinda não há avaliações
- 6 Aula de Direito Civil - Dos Bens 2Documento9 páginas6 Aula de Direito Civil - Dos Bens 2Vitoria Camile dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- Sebenta Teoria Geral Do Direito Civil II 2014/2015Documento65 páginasSebenta Teoria Geral Do Direito Civil II 2014/2015aksahfkh100% (1)
- Direito Objetivo e Direitos SubjetivosDocumento35 páginasDireito Objetivo e Direitos SubjetivosDélia MedeirosAinda não há avaliações
- FUNDAMENTOS DE DIREITO - A Relação JurídicaDocumento34 páginasFUNDAMENTOS DE DIREITO - A Relação JurídicaInêsAinda não há avaliações
- Teoria da Relação Jurídica ObrigacionalDocumento5 páginasTeoria da Relação Jurídica ObrigacionalsamuelsmelocAinda não há avaliações
- Direito Civil - Parte Geral - Unidade 5 para TurmaDocumento34 páginasDireito Civil - Parte Geral - Unidade 5 para TurmaLarah OliveiraAinda não há avaliações
- Da Relação JurídicaDocumento22 páginasDa Relação JurídicaJacques MiguelAinda não há avaliações
- Direito real e pessoalDocumento2 páginasDireito real e pessoalOrlando MartinsAinda não há avaliações
- Direito Civil: fundamentos e principais disciplinasDocumento6 páginasDireito Civil: fundamentos e principais disciplinasRodrigoAinda não há avaliações
- TGDC II Maria Carlota PintoDocumento122 páginasTGDC II Maria Carlota Pintomcarlotapinto2013Ainda não há avaliações
- Relação Jurídica e A Capacidade JurídicaDocumento9 páginasRelação Jurídica e A Capacidade JurídicaCristovão Samuel Menga0% (1)
- TGDC 1 FerqDocumento23 páginasTGDC 1 FerqCarolina OliveiraAinda não há avaliações
- Teoricas DRDocumento108 páginasTeoricas DRLuis MazurAinda não há avaliações
- Direitos Reais: Teoria EcléticaDocumento90 páginasDireitos Reais: Teoria Ecléticaarmando emilioAinda não há avaliações
- Apostila Direito Das CoisasDocumento112 páginasApostila Direito Das CoisasArthur Ferreira MendesAinda não há avaliações
- Direito Patrimonial e PessoalDocumento2 páginasDireito Patrimonial e PessoalSimoni Brum de SousaAinda não há avaliações
- Direito das ObrigaçõesDocumento40 páginasDireito das ObrigaçõesMatheus CutrimAinda não há avaliações
- Aulas de Direitos Reais - 2022Documento90 páginasAulas de Direitos Reais - 2022KarinaAinda não há avaliações
- AULAS DR UCAN SOBRE DIREITOS REAISDocumento114 páginasAULAS DR UCAN SOBRE DIREITOS REAISJéssica TomásAinda não há avaliações
- Resumo 2º SemestreDocumento60 páginasResumo 2º SemestreJoana MoreiraAinda não há avaliações
- 1 AulaDocumento5 páginas1 AulaKarol SousaAinda não há avaliações
- Introdução Ao Estudo Do DireitoDocumento61 páginasIntrodução Ao Estudo Do DireitogomachainocencioAinda não há avaliações
- Dos Direitos Reais - Da Introdução Ao Estudo Dos Direitos ReaisDocumento20 páginasDos Direitos Reais - Da Introdução Ao Estudo Dos Direitos ReaisErick SilvaAinda não há avaliações
- CJG JB DIREITO Apontamentos 10. Classe Relação Jurídica (Estrutura e Elementos)Documento4 páginasCJG JB DIREITO Apontamentos 10. Classe Relação Jurídica (Estrutura e Elementos)Carlos de Jesus 146Ainda não há avaliações
- Sebenta DR Teóricas 2018-19Documento106 páginasSebenta DR Teóricas 2018-19Marcolino OliveiraAinda não há avaliações
- Aulas de Direitos Reais - 2023Documento90 páginasAulas de Direitos Reais - 2023Rosaria HoranAinda não há avaliações
- A relação jurÃ_dica -IEDDocumento10 páginasA relação jurÃ_dica -IEDLiedson MonteiroAinda não há avaliações
- Direito Das CoisasDocumento277 páginasDireito Das CoisasMário100% (8)
- Relação - Jurídica 1Documento12 páginasRelação - Jurídica 1Abdul Momade BuanaAinda não há avaliações
- Coisas e Negócio Jurídico - TGDC IIDocumento29 páginasCoisas e Negócio Jurídico - TGDC IIAndré JuliãoAinda não há avaliações
- Apontamentos D.P.S.JDocumento12 páginasApontamentos D.P.S.JCatarina FigueiredoAinda não há avaliações
- Direito Civil Parte GeralDocumento32 páginasDireito Civil Parte GeralfmalzoniAinda não há avaliações
- Direito Obrigações 40Documento40 páginasDireito Obrigações 40Margarida CostaAinda não há avaliações
- Direitos de personalidade e relações jurídicasDocumento23 páginasDireitos de personalidade e relações jurídicassimao finoAinda não há avaliações
- AULA de Revisão para N1. CIVIL IV (1)Documento52 páginasAULA de Revisão para N1. CIVIL IV (1)luizavitoriattAinda não há avaliações
- DC I - TeóricasDocumento55 páginasDC I - TeóricasFrancisca DiasAinda não há avaliações
- Introdução Ao Direito Das Obrigações - Aula 1 2Documento61 páginasIntrodução Ao Direito Das Obrigações - Aula 1 2ZXZID100% (1)
- Direitos Reais: conceitos e classificaçãoDocumento43 páginasDireitos Reais: conceitos e classificaçãoefcoutoAinda não há avaliações
- Modelo Apresentação IFMGDocumento36 páginasModelo Apresentação IFMGDênis AurélioAinda não há avaliações
- Ponto 4Documento6 páginasPonto 4Anderson CandeiaAinda não há avaliações
- Direito Civil III: Introdução às ObrigaçõesDocumento54 páginasDireito Civil III: Introdução às ObrigaçõesselmaAinda não há avaliações
- Aula Baseada Na Obra Do Prof. Rafael de MenezesDocumento12 páginasAula Baseada Na Obra Do Prof. Rafael de MenezesPedroAinda não há avaliações
- Usucapião como matéria de defesa: exceção de domínioNo EverandUsucapião como matéria de defesa: exceção de domínioAinda não há avaliações
- Computação I - Python Laboratório 1 funçõesDocumento2 páginasComputação I - Python Laboratório 1 funçõesFabricioAinda não há avaliações
- O Narcisismo No Contexto Da Maternidade: Algumas Evidências EmpíricasDocumento8 páginasO Narcisismo No Contexto Da Maternidade: Algumas Evidências EmpíricasPaulo ConnorAinda não há avaliações
- Geometria Analitica NotasDocumento46 páginasGeometria Analitica NotasJosé XavierAinda não há avaliações
- Educação Mira AlfassaDocumento22 páginasEducação Mira AlfassaTamara Prado100% (1)
- Projeto Alimentação SaúdavelDocumento3 páginasProjeto Alimentação SaúdavelPriscila NascimentoAinda não há avaliações
- Dimensionamento de Um Moto-RedutorDocumento27 páginasDimensionamento de Um Moto-RedutorTaynan SilvaAinda não há avaliações
- Kant - Exercício de AprendizagemDocumento17 páginasKant - Exercício de AprendizagemGeraldo NatanaelAinda não há avaliações
- Como amar a si mesmo e encontrar o amor verdadeiroDocumento244 páginasComo amar a si mesmo e encontrar o amor verdadeiroRafhaAinda não há avaliações
- Livro PAISAGEMDocumento258 páginasLivro PAISAGEMCamilla Rodrigues100% (1)
- Ode marítimaDocumento1 páginaOde marítimaCassandra VérasAinda não há avaliações
- O Bloqueio Nos 7 SegmentosDocumento7 páginasO Bloqueio Nos 7 SegmentosEscarroAinda não há avaliações
- Resumos Dos Artigos GiovannaDocumento9 páginasResumos Dos Artigos GiovannaGiovanna Guezin GarciaAinda não há avaliações
- Relatorio ProjetoDocumento34 páginasRelatorio ProjetoIgnez De LucenaAinda não há avaliações
- Oficina de PizzaDocumento5 páginasOficina de PizzaHudson FreitasAinda não há avaliações
- Protocolo de EndodontiaDocumento17 páginasProtocolo de EndodontiaMauricio DiasAinda não há avaliações
- A telegrafia de Avital RonellDocumento13 páginasA telegrafia de Avital RonellEllen Maria100% (1)
- Guia do ombro: anatomia, biomecânica e patologiaDocumento149 páginasGuia do ombro: anatomia, biomecânica e patologiaRoberto Carvalho100% (3)
- Introdução ao Parnasianismo brasileiroDocumento8 páginasIntrodução ao Parnasianismo brasileiroAna Carolina MoreiraAinda não há avaliações
- Tratamento de efluentes rurais com Círculo de BananeirasDocumento6 páginasTratamento de efluentes rurais com Círculo de BananeirasEveraldo Borges da CostaAinda não há avaliações
- Lista 6Documento2 páginasLista 6Raquel Reis MartellotiAinda não há avaliações
- Aula 1 - Introdução As Doenças Crônicas - A Realidade Do BrasilDocumento10 páginasAula 1 - Introdução As Doenças Crônicas - A Realidade Do BrasilVitor Silva LimaAinda não há avaliações
- A EJA e seus desafios históricos e atuaisDocumento8 páginasA EJA e seus desafios históricos e atuaisMariane Fernandes100% (1)
- Recuperação de BiologiaDocumento3 páginasRecuperação de BiologiaANDRE PENNYCOOKAinda não há avaliações
- Amazônia Azul e seus impactosDocumento26 páginasAmazônia Azul e seus impactosMeiko H.Ainda não há avaliações
- Cristãos Vinde TodosDocumento2 páginasCristãos Vinde TodosTereza J PereiraAinda não há avaliações
- Detox Diet GuideDocumento26 páginasDetox Diet GuideMarcelo MirandaAinda não há avaliações
- Caderno Dos EsportesDocumento1 páginaCaderno Dos EsportesRonald RegisAinda não há avaliações
- Apostila - Setembro 2021 - PolíticaDocumento3 páginasApostila - Setembro 2021 - PolíticaFranz LeehartAinda não há avaliações
- Lazarillo de TormesDocumento30 páginasLazarillo de TormesBeatriz VasconcelosAinda não há avaliações