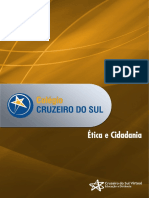Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Perda e Aquisicao Da Posse II PDF
Perda e Aquisicao Da Posse II PDF
Enviado por
Iury MarcosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Você também pode gostar
- Patuá Quimbanda Chama DinheiroDocumento9 páginasPatuá Quimbanda Chama DinheiroTeixeira Neto100% (10)
- RESUMO Teoria Simplificada Da PosseDocumento6 páginasRESUMO Teoria Simplificada Da PosseFelipe Sant AnnaAinda não há avaliações
- Curso de Redacao Forense e Tecnicas de Peticao InicialDocumento67 páginasCurso de Redacao Forense e Tecnicas de Peticao InicialRac A BruxaAinda não há avaliações
- FILOSOFIA - Introdução À Filosofia, Uma Perspectiva Cristã - Norman GeislerDocumento14 páginasFILOSOFIA - Introdução À Filosofia, Uma Perspectiva Cristã - Norman GeislerMary Auxi100% (1)
- Teoria Simplificada Da PosseDocumento11 páginasTeoria Simplificada Da PosseLuciano MeloAinda não há avaliações
- E Book Tema 4 PDFDocumento11 páginasE Book Tema 4 PDFJessyca FilizzolaAinda não há avaliações
- Resenha Teoria Simplificada Da PosseDocumento10 páginasResenha Teoria Simplificada Da PosseWyslla Odenillo PassosAinda não há avaliações
- Artigo Direitos ReaisDocumento16 páginasArtigo Direitos ReaisErick SilvaAinda não há avaliações
- Vicissitudes Dos Direitos ReaisDocumento6 páginasVicissitudes Dos Direitos ReaisLésia Da Lúcia CassuateAinda não há avaliações
- Da PosseDocumento8 páginasDa PossecontatoAinda não há avaliações
- Lendro Antonio Pamplona - Principio Quieta Non MovereDocumento19 páginasLendro Antonio Pamplona - Principio Quieta Non MoverePatrícia ArrudaAinda não há avaliações
- Embargos de TerceiroDocumento10 páginasEmbargos de Terceiroaluisius dpAinda não há avaliações
- Artigo DireitoDocumento10 páginasArtigo Direitonicole DrescherAinda não há avaliações
- Direito Civil 3Documento9 páginasDireito Civil 3Carlos Gustavo Monteiro CherriAinda não há avaliações
- PosseDocumento49 páginasPosseMarcos EfizioAinda não há avaliações
- Resenha - Teoria Simplificada Da PosseDocumento10 páginasResenha - Teoria Simplificada Da PosseRenato ColenAinda não há avaliações
- Aula 2 - PosseDocumento10 páginasAula 2 - PosseRafael RotundoAinda não há avaliações
- Da PosseDocumento20 páginasDa PosseLeandro MeloAinda não há avaliações
- Direitos Reais - LeiteDocumento50 páginasDireitos Reais - LeiteJoao GabrielAinda não há avaliações
- Trabalho de Curso de DireitoDocumento12 páginasTrabalho de Curso de DireitoUttal Papäricado MfgAinda não há avaliações
- Exercício Jurídico PDFDocumento76 páginasExercício Jurídico PDFpauloAinda não há avaliações
- Direito Civil Iv - Reais - TrabalhoDocumento15 páginasDireito Civil Iv - Reais - TrabalhomatheusAinda não há avaliações
- Direito Das Coisas - POSSEDocumento13 páginasDireito Das Coisas - POSSELuis Matheus HollebenAinda não há avaliações
- Especies de Aquisição de PosseDocumento7 páginasEspecies de Aquisição de PosseChristianno CohinAinda não há avaliações
- Rewrwer YutrhgfdaDocumento26 páginasRewrwer Yutrhgfdavictor marianoAinda não há avaliações
- Direitos Reais - Capitulo I - DA POSSEDocumento26 páginasDireitos Reais - Capitulo I - DA POSSEmgcorvoAinda não há avaliações
- Direito Civil Direito Das CoisasDocumento28 páginasDireito Civil Direito Das CoisasGossler TonyAinda não há avaliações
- Questões Respondidas Direitos Reais PDFDocumento4 páginasQuestões Respondidas Direitos Reais PDFdalbraskia45Ainda não há avaliações
- Nota Arbitral 25.878.980.2022. Árbitro CÉSAR AUGUSTO VENANCIO DA SILVA 2022Documento21 páginasNota Arbitral 25.878.980.2022. Árbitro CÉSAR AUGUSTO VENANCIO DA SILVA 2022COMISSÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA JUSTIÇA Arbitral100% (1)
- Direito Das Coisas (Reias)Documento11 páginasDireito Das Coisas (Reias)ANTONIO CAMILOAinda não há avaliações
- Direito Das Coisas. Aula 04. Classificação Da PosseDocumento14 páginasDireito Das Coisas. Aula 04. Classificação Da PosseDiana MachadoAinda não há avaliações
- Resumos de Teoria Geral Do Direito Civil IiDocumento18 páginasResumos de Teoria Geral Do Direito Civil IiCatalina MunteanuAinda não há avaliações
- TRABALHO Sobre Açoes PossessoriasDocumento9 páginasTRABALHO Sobre Açoes PossessoriasVitoria RanielyAinda não há avaliações
- So de Compra e VendaDocumento5 páginasSo de Compra e VendadaniloulaAinda não há avaliações
- Direito Das Coisas Aula 2Documento22 páginasDireito Das Coisas Aula 2Hugo OliveiraAinda não há avaliações
- Noçoes Relevantes de Direito Das Coisas 1Documento39 páginasNoçoes Relevantes de Direito Das Coisas 1AnaAinda não há avaliações
- IntroduçãoDocumento11 páginasIntroduçãoSherry Chelsea LoteAinda não há avaliações
- Teoria Simplificada Da PosseDocumento9 páginasTeoria Simplificada Da Possecarla10jhsAinda não há avaliações
- Direitos Civil Aplicado, Direitos Reais e PropriredadeDocumento13 páginasDireitos Civil Aplicado, Direitos Reais e Propriredadeadv.matheusmaAinda não há avaliações
- Caderno Direitos Reais CompletoDocumento65 páginasCaderno Direitos Reais CompletoCamilla GerardeAinda não há avaliações
- Aquisição, Modificação, Manutenção e Extinção Dos DireitosDocumento10 páginasAquisição, Modificação, Manutenção e Extinção Dos DireitosDeymes CachoeiraAinda não há avaliações
- Resumo de Direito CivilDocumento9 páginasResumo de Direito CivilKellen De SouzaAinda não há avaliações
- Curso Direito Disciplina TGP e MASCDocumento3 páginasCurso Direito Disciplina TGP e MASCLarissa AndradeAinda não há avaliações
- Ação Possessória PDFDocumento6 páginasAção Possessória PDFJuliaAinda não há avaliações
- Ação Possessória PDFDocumento6 páginasAção Possessória PDFJuliaAinda não há avaliações
- Tema 1 - CoisasDocumento11 páginasTema 1 - CoisasAnderson CarvalhoAinda não há avaliações
- THEODORO JÚNIOR - Ações Possessórias - FichamentoDocumento7 páginasTHEODORO JÚNIOR - Ações Possessórias - FichamentoleoniamedeirosAinda não há avaliações
- PosseDocumento30 páginasPosseGuilherme GaldinoAinda não há avaliações
- Humberto Theodoro Jr. - Curso de Direito Processual Civil - Volume III, 52 EdiçãoDocumento4 páginasHumberto Theodoro Jr. - Curso de Direito Processual Civil - Volume III, 52 EdiçãoemilyquimasAinda não há avaliações
- Trabalho UsucapiãoDocumento39 páginasTrabalho UsucapiãoDenis PedrosoAinda não há avaliações
- Ii Unidade Civil IiDocumento12 páginasIi Unidade Civil IiGeovane PedreiraAinda não há avaliações
- Usucapião Capa NovaDocumento20 páginasUsucapião Capa NovaMeiry SallesAinda não há avaliações
- PosseDocumento10 páginasPosseAruanan Arruda100% (1)
- Caracteres Da PosseDocumento3 páginasCaracteres Da PosseJosé AvelinoAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido de Direito Civil - CoisasDocumento4 páginasEstudo Dirigido de Direito Civil - CoisasRe_RenzAinda não há avaliações
- Direito Penal - Crimes Contra o PatrimônioDocumento22 páginasDireito Penal - Crimes Contra o PatrimônioYohanAinda não há avaliações
- Detencao e Sua Conversao em Posse PDFDocumento7 páginasDetencao e Sua Conversao em Posse PDFLiza LopesAinda não há avaliações
- Dirieito Civil Reais PDFDocumento14 páginasDirieito Civil Reais PDFEwerson ReisAinda não há avaliações
- Ações Possesórias - Procedimento Especial - ExplicacaoDocumento8 páginasAções Possesórias - Procedimento Especial - ExplicacaoMaira PrudenteAinda não há avaliações
- DIREITO CIVIL VI - Direito Das Coisas - Classificação Da PosseDocumento23 páginasDIREITO CIVIL VI - Direito Das Coisas - Classificação Da PosseAna Beatriz MeloAinda não há avaliações
- Apostila 2Documento128 páginasApostila 2glaucomaiaAinda não há avaliações
- Slides - Filosofia e Etica - PNAP2Documento35 páginasSlides - Filosofia e Etica - PNAP2Wildson Justiniano PintoAinda não há avaliações
- Acao Indenizatoria Tourinho e Godinho BrasiliaDocumento19 páginasAcao Indenizatoria Tourinho e Godinho Brasiliacanal do Pedro e do ruan AbmaelAinda não há avaliações
- Apol 1 - Ética Das Religiões - 2Documento4 páginasApol 1 - Ética Das Religiões - 2Altares de UmbandaAinda não há avaliações
- Determinismo e Responsabilidade Moral em StrawsonDocumento56 páginasDeterminismo e Responsabilidade Moral em StrawsonRodrigo LuzAinda não há avaliações
- Como Cheguei À Verdade (Maria de Oliveira)Documento97 páginasComo Cheguei À Verdade (Maria de Oliveira)Ronald Santos100% (2)
- Criminologia Escola Classica e PositivaDocumento22 páginasCriminologia Escola Classica e PositivaLetícia MottaAinda não há avaliações
- Campo de Investigação Da ÉticaDocumento3 páginasCampo de Investigação Da ÉticaIgor LopesAinda não há avaliações
- Philosophia Elementar Racional e Moral - José Soriano de SouzaDocumento578 páginasPhilosophia Elementar Racional e Moral - José Soriano de Souzarenan18mcg100% (1)
- Revista TRT9 (Dano Existencial)Documento206 páginasRevista TRT9 (Dano Existencial)RubensBordinhãoNetoAinda não há avaliações
- Resenha Crítica Do Livro Há Um Significado Neste Texto de Kevin J. VanhoozerDocumento14 páginasResenha Crítica Do Livro Há Um Significado Neste Texto de Kevin J. VanhoozerRagner Esperandio SeifertAinda não há avaliações
- Teorico Etica e Cidadania Unidade IDocumento20 páginasTeorico Etica e Cidadania Unidade IWagner NunesAinda não há avaliações
- Psicopatologia E Exames Psicológicos: Módulo deDocumento239 páginasPsicopatologia E Exames Psicológicos: Módulo deJoicy LopesAinda não há avaliações
- Caderno - Curso de Combate Ao AbusoDocumento54 páginasCaderno - Curso de Combate Ao AbusowederAinda não há avaliações
- Autoconfrontacao 13Documento3 páginasAutoconfrontacao 13Alexander VasconcelosAinda não há avaliações
- Dez Principios Conservadores Russel Kirk TraducaoDocumento6 páginasDez Principios Conservadores Russel Kirk Traducaoapi-3797113100% (1)
- São Tomás de Aquino Extra - Livro de Vocabulário e Referências de Tomás de Aquino PDFDocumento64 páginasSão Tomás de Aquino Extra - Livro de Vocabulário e Referências de Tomás de Aquino PDFRodrigoFelipeSilveira100% (1)
- CP1-Liberdade e Responsabilidade Democráticas - Tema 1 Conceitos-ChaveDocumento16 páginasCP1-Liberdade e Responsabilidade Democráticas - Tema 1 Conceitos-ChaveFlorbela Antunes Fernandes100% (2)
- Textos Que Falam Sobre Santidade e PurezaDocumento1 páginaTextos Que Falam Sobre Santidade e PurezaDaniel TeixeiraAinda não há avaliações
- TCC II Saúde Mental No TrabalhoDocumento44 páginasTCC II Saúde Mental No TrabalhoGiuliana Fagotti100% (1)
- William James - A Vontade de Crer Edit PDFDocumento52 páginasWilliam James - A Vontade de Crer Edit PDFPierre De Freitas Bittencourt100% (2)
- Resenha Do Livro A Criança e o Número - Constance KamiiDocumento6 páginasResenha Do Livro A Criança e o Número - Constance Kamiianabia.143522Ainda não há avaliações
- Rousseau - O Contrato SocialDocumento15 páginasRousseau - O Contrato SocialGabriel HenriqueAinda não há avaliações
- Aparelho Psiquico PersonalidadeDocumento41 páginasAparelho Psiquico PersonalidadeIngrid Nascimento VianaAinda não há avaliações
- Curso de Formação de DoutrinadoresDocumento65 páginasCurso de Formação de DoutrinadoreskelymariaAinda não há avaliações
- Ética Social E Profissional: ResumoDocumento10 páginasÉtica Social E Profissional: ResumoNhawas ErnestoAinda não há avaliações
- Atividade de n1Documento9 páginasAtividade de n1Veronica M. NevesAinda não há avaliações
- Texto - A Maquinaria EscolarDocumento17 páginasTexto - A Maquinaria EscolarLuciane EngelAinda não há avaliações
Perda e Aquisicao Da Posse II PDF
Perda e Aquisicao Da Posse II PDF
Enviado por
Iury MarcosTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Perda e Aquisicao Da Posse II PDF
Perda e Aquisicao Da Posse II PDF
Enviado por
Iury MarcosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
SUMRIO
1 INTRODUO...................................................................................................................03 2 DAS POSSES.......................................................................................................................04 2.1 Aquisio e perda da posse..............................................................................................04 2.2 Aquisio originria da posse..........................................................................................06 2.3 Aquisio derivada da posse............................................................................................07 3 PERDA DA POSSE DAS COISAS....................................................................................10 3.1 Perda da posse dos direitos..............................................................................................14 3.2 Concluso..........................................................................................................................15 4 JURISPRUDNCIA...........................................................................................................17 5 DOUTRINA.........................................................................................................................20
1 INTRODUO
A posse e os direitos possessrios esto devidamente regulamentados no CCB, art. 486 a 523, no Livro II, Direito das Coisas, Ttulo I, DA POSSE, onde se trata da prpria posse e sua classificao, da sua aquisio, de seus efeitos, de sua perda e da proteo possessria; no CPC, as disposies sobre as aes possessrias constam dos art. 920 a 932, fazendo parte do Livro IV, Procedimentos Especiais, Ttulo I, Procedimentos Especiais de Jurisdio Contenciosa, Captulo V, AES POSSESSRIAS e na Lei 9.099/95, no art. 3, IV. Ora, sabemos que a posse, que "o exerccio, pleno ou no, de algum dos poderes inerentes ao domnio ", , antes de tudo, um fato e se comprova, principalmente, pela prova testemunhal, que tem, nos litgios dela derivados, grande importncia, sobrelevando, geralmente, as demais provas. Nas paginas seguintes, vamos fazer um rpido anlise, luz do Cdigo Civil Brasileiro vigente, sobre a perda e a aquisio da posse. Desta forma, estaremos nos aprofundando no estudo de posse para principalmente utilizar esta base para poder defender o instituto da posse.
2 DAS POSSES
2.1 Aquisio e perda da posse Como meio de facilitar nosso estudo, dividimos e classificamos os modos de adquirir a posse em originrios e derivados. Os primeiros traduzem um estado de fato da pessoa, em relao coisa, oriundo de assenhoreamento autnomo, sem a participao de um ato de vontade de outro possuidor antecedente. Os segundos, derivados, pressupem a existncia de uma posse anterior, transmitida ou transferida ao adquirente, ou, noutros termos, incidem numa coisa que passa sujeio de outra pessoa, por fora de um ttulo jurdico. Quanto a quem pode adquirir a posse (subjetivamente considerada), o art 494 C.C. nos elenca as possibilidades. Vejamos a seguir cada uma delas com um sucinto anlise: Art. 494. A posse pode ser adquirida: I - Pela prpria pessoa que a pretende. II - Por seu representante, ou procurador. III - Por terceiro sem mandato, dependendo de ratificao. IV - Pelo constituto possessrio. I - Pela prpria pessoa que a pretende. Como o prprio inciso aclara, a posse pode ser adquirida pela prpria pessoa que a pretende sempre quando se encontra no gozo de sua capacidade. Neste caso, o agente, praticando por si mesmo o ato gerador da relao jurdica possessria, institui a visibilidade do domnio, tornando-se ipso facto possuidor. Procede adprehensio fsica da coisa, acompanhada da inteno animus de possu-la, constitudo este elemento anmico em incorporao da vontade na relao com a coisa. II - Por seu representante, ou procurador. Seguindo a hiptese elencada no inciso I, porm no caso em que o agente no dispe do gozo de sua capacidade civil, considerado incapaz, a posse poder ser adquirida por seu representante o procurador. Neste caso, porm na aquisio por via de representante ou de
procurador, a situao reveste-se de uma certa sutileza, uma vez que o ato aquisitivo praticado por uma pessoa, que age numa oxtensiva exteriorizao de procedimento normal do proprietrio, e, no entanto, o seu comportamento ir repercurtir na esfera jurdica alheia, constituindo-se o direito em favor do representante ou mandante. Essa aquisio poder obedecer a dois esquemas: No primeiro, o representante, legal ou convencional, adquire a posse pessoalmente, e transmite-a em seguida ao representado; desloca-se de um para o outro, ex vi da relao jurdica vigorante, a condio de possuidor. No segundo, o representante exterioriza um procedimento, mas a affectio tenendi do representado; a vontade deste o elemento integrante do fenmeno aquisitivo, que o completa, realizando a conjuno necessria dos elementos corpus e animus. Uma observao ocorre, para hiptese do representante legal do incapaz que no pode exprimir a sua vontade, pelo fato mesmo de o ser. Nestes casos ento, o representado (menor, louco portanto sem poder emitir manifestao volitiva), justamente por via do seu representante (pai, tutor, curador) se entende que a vontade deste representante a do prprio representado, assim sendo ocorre ento a aquisio da posse por via de representante. Destaca-se, entretanto, que a vontade, na aquisio da posse, simplesmente natural e no aquela revestida dos atributos necessrios constituio de um negcio jurdico. Da, ser possvel, tanto ao incapaz realiz-la por si, sem manifestao de vontade negocial, como ao seu representante adquirir a posse em seu nome.
III - Por terceiro sem mandato, dependendo de ratificao. Este inciso elenca a possibilidade da aquisio da posse por terceiro, sem mandato porm sujeitando necessidade da ratificao. Neste caso, para que algum adquira a posse por intermdio de outrem, no se faz mister constitua formalmente um procurador, bastando que lhes d esta incumbncia, ou que entre eles exista um vnculo jurdico. Assim que o jardineiro que vai buscar as plantas, ou a domstica que recebe a caixa de vinho adquirem a posse alieno nomine, para o patro e em nome deste, embora dele no sejam mandatrios. Se se adquire a posse por intermdio de um gestor de negcios, o seu momento inicial ser o da ratificao. IV - Pelo constituto possessrio (ver nas pginas seguintes nas formas de aquisio derivada o item com constituto
possessria) 2.2 Aquisio originria da posse CAPTULO II DA AQUISIO DA POSSE Art. 493. Adquire-se a posse: I - Pela apreenso da coisa, ou pelo exerccio do direito. II - Pelo fato de se dispor da coisa, ou do direito. III - Por qualquer dos modos de aquisio em geral. Pargrafo nico. aplicvel aquisio da posse o disposto neste Cdigo, artigos 81 a 85. Nota-se que aqui, no art. 493 do C.C. est representada as FORMAS de aquisio da posse. Vamos a seguir fazer um rpido anlise de cada uma das possibilidades elencadas no citado artigo. I - Pela apreenso da coisa, ou pelo exerccio do direito. Inicialmente, vamos a uma breve definio. Sabemos que a apreenso da coisa a apropriao dela, realizada por ato unilateral do adquirente, desde que subordinada a certos requisitos, que enquadram o fato material na sistemtica jurdica da teoria possessria. Assim sendo, deve-se ressaltar que nem toda apreenso induz posse, da mesma forma que nem sempre a posse exige apreenso. Dentro da teoria de Savigny a apreenso todo fato gerador da possibilidade imediata de dispor da coisa, e de excluir dela a ao de terceiro. Porm, j na doutrina de Jhering, toda circunstncia material que traduz a exteriorizao do domnio (corpus) aliada affectio tenendi (animus), compondo a conduta do adquirente num comportamento normal de proprietrio. s vezes a apreenso exige uma conduta mais evidente do que o mero contato fsico, reclamando o deslocamento da prpria coisa, como no caso do tesouro oculto no prdio, que requer o fenmeno jurdico da inveno. Outras vezes, a apreenso dispensa o contato externo, como no caso das crias de animais, cuja posse adquirida independentemente de um contato fsico ou de um fato material. J a hiptese presente na segunda parte do inciso I, se refere ao exerccio do direito. Um claro exemplo desta situao o do locatrio que passa a ter a posse da coisa locada quando assume o exerccio deste direito. Podemos afirmar que o exerccio do direito, que objetivado na sua utilizao ou funo, a manifestao externa de quem efetiva uma conduta ut dominus, e
equivale apreenso da coisa. No basta porm, a mera aptido abstrata para ser sujeito da relao jurdica, mas, indispensvel a realizao do poder que ele exprime. Igualmente, no o exerccio de qualquer direito que constitui modo originrio de aquisio da posse, porm daqueles direitos que podem ser objeto da relao possessria (servido, uso etc.). II - Pelo fato de se dispor da coisa, ou do direito. Neste caso, compreende-se pelo simples fato do possuidor poder dispor da coisa ou do direito, induz compreender que o mesmo exterioriza ter adquirido a posse pois que dela pode dipor livremente. Seguindo a idia do exerccio do direito, est a disposio do direito. Aparentemente, h contradio entre a disposio do direito e a aquisio da posse, pois que aquela faz pensar antes em uma demisso do que em imisso. Mas, o que se quer salientar que, na idia de disposio abutere est contida uma faculdade inerente ao domnio (ius utendi, fruendi et abutendi), e, pois, a disposio uma atitude de conduta normal do proprietrio.Ressalva-se porm que em qualquer caso, a coisa ou o direito ho de ser suscetveis de apossamento. As que esto fora de comrcio _ res extra commercium _ por fora da lei no podem ser objeto de posse, ainda que apropriadas (apreenso), porque a ningum lcito exercer sobre elas a affectio tenendi. Aos direitos de crdito, por escaparem ao alcance da posse (v. n. 285, supra), no se estende a aquisio pelo exerccio ou pela disposio. 2.3 Aquisio derivada da posse III - Por qualquer dos modos de aquisio em geral. Pargrafo nico. aplicvel aquisio da posse o disposto neste Cdigo, artigos 81 a 85. Ora, neste caso, so os modos de aquisio em geral (art. 81 a 85 C.C. ATOS JURDICOS). Sejam eles atos inter-vivos (compra e venda, doao, em pagamento etc.) ou causa-mortis (herana, legado). Destaca-se ainda para a aquisio da posse atravs dos atos jurdicos, deve-se observar os preceitos relativos a capacidade do agente e objeto lcito. Quanto a forma livre, exigindo-se apenas que a aquisio no se reiscinda dos vios da violncia, clandestinidade ou precaridade. Estes atos podem ser classificados como modo de Aquisio derivada, pois ocorre quando uma pessoa recebe a posse de uma coisa, ela transmitida por outro possuidor. Esta
aquisio diz-se tambm por ato bilateral, em contraposio originria, que se perfaz unilateralmente. De modo geral, como modelo de aquisio derivada, o ato mais frequente a tradio. Na sua acepo mais pura, ela se manifesta por um ato material de entrega da coisa, ou a sua transferncia de mo a mo, passando do antigo ao novo possuidor. Para tal, no necessria uma declarao de vontadeem sentido tcnico, bastando a inteno do tradens e do accipiens convergindo no mesmo fim, como na hiptese do menor entregar ao menor. Mas nem sempre a tradio se completa com tal simplicidade, ora porque o objeto, pelo seu volume ou pela sua fixao, no se compadece com o deslocamento -loco movere-, ora porque no h necessidade da remoo. Em qualquer caso, entretanto, pode haver traditio de aspectos variados. Afora a tradio real, no pressuposto da transposio ou remoo da coisa, e sua passagem de mo a mo de manu in manum translatio possessionis, conhece o direito a tradio simblica, a traditio longa manu, e ainda a traditio brevi manu. Basta ao possuidor de uma casa fazer a entrega de suas chaves a outrem para que se considere transmitida a posse do prptrio imvel (tradio simblica). Lembra-se ainda, que no necessrio, igualmente, e s vezes nem possvel mesmo, que o adquirente ponha a mo na prpria coisa, como uma fazenda de grande extenso, que no pode percorrer inteira, para considerar-se imitido na sua posse. Contentava-se o Direito Romano com a sua exibio in conspectu posita e tambm o direito moderno satisfaz-se em que seja colocada disposio do accipiens. Se ningum a detm, efetua-se a tradio de longa mo traditio longa manu. A tradio, como modalidade de aquisio derivada, abrange qualquer dessas modalidades, e no apenas a tradio real. Outra forma de aquisio derivada, o Constituto possessrio que uma tcnica proveniente dos Romanos que, muito apegados aos critrios formais, preferiam contornar a rigidez dos princpios a com eles transigir. Quando uma pessoa tinha a posse de uma coisa, e, por ttulo legtimo, a transferia a outrem, no requeria o direito que materialmente se entregasse, porm contentava-se com o fato de que o transmitente, por ato de vontade, deixasse de possuir para si mesmo, e passasse a possuir em nome do adquirente, e para este: Quod meo nomine possideo, possum alieno nomine possidere; nec enim muto mihi causam possessionis, sed desino possidero et alium possessorem ministerio meo facio. O alienante conserva a coisa em seu poder, mas, por fora de uma clusula do contrato de alienao, passa qualidade do possuidor alteno nomine, possuidor para outra pessoa. Esta, ento, por fora da clusula constituti, adquire a posse convencionalmente. O constituto possessrio em
consequencia, um modo derivado de aquisio e, to frequentemente usado no trato dos negcios, que se emprega como frmula tabelioa, inserta mecanicamente em toda escritura translativa da propriedade. Em qualquer caso de tradio convencional (tradio simblica, traditio brevi manu, constituto possessrio) requisito a validade da declarao de vontade; a conveno nula no transmite a posse. 16042082 JCCB.494 JCCB.494.IV CIVIL POSSE CONSTITUTO POSSESSRIO AQUISIO FICTCIA (CC, ART. 494 IV) REINTEGRAO DE POSSE CABIMENTO COMODATO VERBAL NOTIFICAO ESCOAMENTO DO PRAZO ESBULHO ALUGUEL, TAXAS E IMPOSTOS SOBRE O IMVEL DEVIDOS RECURSO PROVIDO I A aquisio da posse se da tambm pela clusula constituti inserida em escritura pblica de compra-e-venda de imvel, o que autoriza o manejo dos interditos possessrios pelo adquirente, mesmo que nunca tenha exercido atos de posse direta sobre o bem. II O esbulho se caracteriza a partir do momento em que o ocupante do imvel se nega a atender ao chamado da denncia do contrato de comodato, permanecendo no imvel aps notificado. III Ao ocupante do imvel, que se nega a desocup-lo aps a denncia do comodato, pode ser exigido, a ttulo de indenizao, o pagamento de aluguis relativos ao perodo, bem como de encargos que recaiam sobre o mesmo, sem prejuzo de outras verbas a que fizer jus. (STJ REsp 143707 RJ 4 T. Rel. Min. Slvio de Figueiredo Teixeira DJU 02.03.1998 p. 102) 32030803 JCCB.493 JCCB.493.IV DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO CIVIL IMVEL ALIENADO POR ESCRITURA PBLICA. CONSTITUTO POSSESSRIO. AO CONTRA O DETENTOR. BENFEITORIAS. DIREITO INDENIZAO OU DE RETENO. INOCORRNCIA. CONSTRUO EM TERRENO ALHEIO. DEVOLUO DO IMVEL COM DESFAZIMENTO DAS CONSTRUES. AO PROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO I Comete esbulho possessrio aquele que se recusa a demitir-se de sua posse, alegando haver adquirido o imvel de outrem, diante de posse adquirida pelo constituto possessrio (Cdigo Civil, art. 493, IV). Estando diante de uma posse adquirida pelo constituto possessrio, porque o imvel foi alienado por escritura pblica, com imisso na posse e clusula constitu, cabe ao possessria contra terceiro que o ocupa, sem relao jurdica com o adquirente e que se ope transferncia da posse, cometendo, assim, esbulho. II As construes s devem ser indenizadas se elas aproveitarem ao proprietrio do solo. No seria justo nem jurdico obrigar o proprietrio do terreno, que o teve invadido por outrem, a aceitar as construes no teis para ele e ainda ter
que ressarcir o antigo possuidor. (TJDF AC 4759298 (Reg. 98) 3 T.Cv. Rel. Des. Nvio Gonalves DJU 05.08.1998) Como forma de aquisio da posse atravs de ato jurdico de causa mortis, citamos o exemplo quando a posse passa aos herdeiros no momento da abertura da sucesso, neste caso a posse adquire-se, ope legis, e sem necessidade de que haja qualquer ato seu (Cd. Civil art. 1572). Na transmisso mortis causa, ficando o herdeiro no lugar do defunto, continua a mesma posse, que era a deste, com os mesmos vcios e as mesmas qualidades, como efeito direto da transmisso hereditria. O sucessor universal continua de direito a posse de seu antecessor (Cdigo Civil, art. 496). Quando, porm, a aquisio ocorre a ttulo singular (compra e venda, doao, dao em pagamento, constituio de dote), o adquirente, recebendo embora uma posse de outrem, comea a sua como estado de fato novo. Permite-lhe a lei, entretanto, unir sua posse a do seu antecessor (Cd. Civil, art. 496, segundo membro). Ele no um continuador na posse antiga, mas constitui para si uma posse nova. Como o tempo fator importante no desenvolvimento dos seus efeitos, pode haver convenincia, para o possuidor adquirente, em adicionar o tempo de sua posse ao daquele que fez a sua transmisso, estendendo-a por um tempo pretrito, anterior ao ato aquisitivo. uma faculdade e no uma consequncia necessria da aquisio derivada. um poder conferido ao accipiens e no uma imposio, um direito e no uma obrigao. O adquirente, unindo a sua posse do antecessor, realiza a acesso de uma outra. Mas se o accipiens (seja comprador, seja locatrio) est de m f no momento da aquisio, no lhe ser lcito invocar a boa f do antecessor, para qualificar a prpria posse.
10
3 PERDA DA POSSE DAS COISAS CAPTULO IV DA PERDA DA POSSE Art. 520. Perde-se a posse das coisas: I - Pelo abandono. II - Pela tradio. III - Pela perda, ou destruio delas, ou por serem postas fora do comrcio. (Redao dada ao inciso Dec. Leg. n 3.725, de 15.01.1919) IV - Pela posse de outrem, ainda contra a vontade do possuidor, se este no foi manutenido, ou reintegrado em tempo competente. V - Pelo constituto possessrio. Pargrafo nico. Perde-se a posse dos direitos, em se tornando impossvel exerc-los, ou no se exercendo por tempo que baste para prescreverem. A teoria da perda da posse est fundamentalmente estruturada na decorrncia da aplicao dos princpios que integram a sua composio doutrinria. Sendo a posse a visibilidade da propriedade, perde-a o possuidor que no guarda a conduta, em relao coisa, anloga, do proprietrio. Sendo os dois elementos corpus e animus essenciais posse, dar-se- a perda corpore et animo, ou ento solo corpore ou solo animo, conforme desaparea um deles.Tornou-se hoje ocioso indagar em cada caso, se a perda ocorreu muma ou noutra hiptese. O que tem relevncia positivar a causa da perda, ou a circunstncia ftica, em virtude da qual se perde a posse. Perde se a posse das coisas: I - Pelo abandono. Perde-se a posse atravs do Abandono que caracteriza a perda da coisa corpore et animo, de vez que, por ele, o possuidor se despoja dela, voluntariamente, demitindo de si o estado de fato que reflete a conduta normal do proprietrio. H desaparecimento da condio de assenhoreamento, acompanhado da inteno contrria situao possessria. O elemento animus nem sempre fcil de se apurar e comprovar na ausncia de declarao expressa do que abdica. Um locatrio desocupa a casa onde morava; o proprietrio de apartamento na zona de praia deixa-o fechado e sem utilizao durante os meses de
11
inverno: aparentemente, so duas condutas iguais, porque em ambas o possuidor deixa a coisa sem utilizao; mas diferem em que, no primeiro caso, a inteno de abandono com renncia posse decorre do rompimento da cadeia de atos que implicam na conduta anloga do proprietrio neglecta atque omissa custodia; no segundo, o no uso uma forma de exercer o direito, porque, pela sua finalidade natural, a casa de praia no usada no inverno. Desta forma, fica ento diferenciado que a coisa perdida ou esquecida no a mesma coisa que a coisa abandonada, pois nesse caso, necessrio a vontade do agente em expulsar a coisa da esfera do seu patrimnio. Contudo, lembra-se ainda que pode perder-se a posse por abandono do representante, da mesma forma, e pelos mesmos motivos, que por via de representante se adquire. Mas somente se reputa perdida, em verdade, se o possuidor, ciente da infidelidade do mandatrio, ou preposto, abstm-se de reav-la, ou repelido ao tentar faz-lo. II - Pela tradio. Outra forma da perda da posse a Tradio A traditio , tambm, uma perda da posse corpore et animo, ou somente animo, conforme o caso. Como j foi visto, um meio aquisitivo, seja real (ocorre efetivamente) ou simblica (atravs de um terceiro), seja brevi manu ou longa manu. E como ao do tradens a causa acquisitionis, esta mesma ao gera a demisso da posse, e sua consequente perda. uma perda por transferncia, porque simultaneamente adquire-a o accipiens, e nisto difere do abandono, em que se consigna unilateralmente a renncia, sem a correlata imisso de algum na posse da couisa derelicta. Vale lembrar que equivalente a uma tradio, para os imveis, a inscrio do ttulo no registro respectivo, que tem o mesmo efeito translatcio da posse. Assim sendo, o apontamento principal que ento para haver a Tradens necessrio a inteno das duas partes, a de quem recebe a posse e a de quem perde a posse. III - Pela perda, ou destruio delas, ou por serem postas fora do comrcio. (Redao dada ao inciso Dec. Leg. n 3.725, de 15.01.1919) Tambm perde-se a posse pela perda da prpria coisa, e consequente subtrao sua ao senhorio da pessoa. Mas preciso ressalvar que nem sempre pelo fato de se achar ela fora daquela dominao, automaticamente haja privao de sua posse. Perdida a coisa, nem sempre se acha desapossado o titular. Tendo em vista a sua destinao econmica, que
12
sobreleva na doutrina de Jhering, a diligncia do possuidor para recuper-la e o seu interesse em reave-la mantm viva a rela!o jurdica da posse, no obstante faltar o contato material com o objeto. A prpria inao transitria no incompatvel com a posse, como no exemplo daquele que perde a sua carteira dentro de sua prpria casa e, nem pelo fato de omitir-se na sua procura imediata, infere-se que tenha deixado de ser possuidor dela. A razo est em que, se a posse se no adquire solo animo, o princpio de tutela jurdica admite que se conserve solo animo, desde que coexistam a vontade de mant-la e o fato de continuar a coisa disposio do possuidor como, alis, j o concebia o Direito Romano: Sed si solo animo possideas, licet alius in fundo sit, adhuc tamen possides. Para que se d, neste caso, a perda da posse, cumpre esteja perdida a coisa, efetivamente, que por no envidar o possuidor recuper-la quer por Ter outra pessoa adquirindo a sua posse. Considera-se, ainda, perdido o objeto, quando se acha em lugar inacessvel, como a jia que cai no fundo do mar: sabe-se onde est, mas no se alcana para retirar. Pela destruio. Aclara-se que a destruio da coisa ou seu Perecimento, so expresses equivalentes e pode ocorreer em trs circunstncias: Perecendo o objeto, extingui-se o direito, conforme j ficou visto (v. n. 81, supra, vol. I), seja quando: a) Quando a coisa perde as qualidades essenciais sua utilizao, ou seja, desaparece na sua substncia (morte do animal, incndio da casa), seja, como se d, por exemplo, com o trecho de praia, antes usado e construdo, mas depois submerso permanentemente. Destruio existe, ainda, b) Quando se confunde de maneira a no poder mais distinguir-se, ou seja, na transformao que desfigura a coisa, impossibilitando a sua distino em relao a outra, como se d nos casos de confuso, comisso, adjuno, avulso. Pode ocorrer por ato voluntrio ou acidental. c) Quando fica em lugar de onde no pode ser retirada, ou seja,. quando se acha em lugar inacessvel, como a jia que cai no fundo do mar: sabe-se onde est, mas no se alcana para retirar. Porm, aclara-se que em todos esses casos, d-se solo corpore a perda da posse. Mas a sua danificao no implica em perda, pois que, prejudicada embora, ou economicamente aviltada, a coisa preenche a sua destinao, permitindo que a posse sobreviva ao fato danoso. E ainda motivo de perda da posse a Coisa fora do comrcio- Perde-se, ainda, a posse se a coisa posta fora do comrcio.Visto no ser possvel que o ato aquisitivo tenha por objeto as res extra commercium, aquelas que antes eram assenhoreadas deixam de ser hbeis
13
posse em consequncia do ato que as retira da dominao particular,rompendo-se a relao possessria. Mas isto nem sempre, pois que a inalienabilidade frequentemente compatvel com a cesso de uso ou posse alheia. IV - Pela posse de outrem, ainda contra a vontade do possuidor, se este no foi manutenido, ou reintegrado em tempo competente. Perde-se ainda a posse pela Posse de outrem Neste caso, ocorre a perda solo corpore, o esbulho por terceiro, que passa, contra a vontade do outro, a possuir a coisa. Como j observamos anteriormente, da essncia da posse a exclusividade. Portanto, a tomada de posse por um importa, necessariamente, na sua perda pelo anterior. No tem, alis, outro alcance seno readquirir a posse perdida o interdito recuperandae possessionis. V - Pelo constituto possessrio. Outra forma da perda da posse o Constituto possessorio Importa na perda da posse solo animo, uma vez que o possuidor, por via da clusula constituti, altera a relao jurdica, e, mudando o elemento intencional (animus), passa a possuir nomine alieno, aquilo que possua para si mesmo.A sua conduta, em relao coisa, materialmente no se altera, conservando-a corpore; mas a affectio tenendi extingue-se em relao a ele prprio, e nasce em nome do adquirente: eis porque o constituto possessorio modo de perder a posse, solo animo. 3.1 Perda da posse dos direitos Pargrafo nico. Perde-se a posse dos direitos, em se tornando impossvel exerc-los, ou no se exercendo por tempo que baste para prescreverem. Nesse pargrafo do art. 520 do C.C. , claramente a lei traduz, numa s frmula, a perda da posse dos direitos, sendo a impossibilidade de seu exerccio, e a prescrio. Impossibilidade de exerccio Perde-se a posse dos direitos, quando se impossibilita para o titular a fruio e utilizao dos seus efeitos. A hiptese equivale de perda da coisa, em lugar inacessvel: o possuidor no tem mais a faculdade de se conduzir, ut dominus gessisse, e sofre ento a perda da posse. Aclara-se ainda que esta impossibilidade pode provir de obstculo levantado por outrem, que se oponha sobrevivncia da posse, ou pode nascer
14
de um fato natural. Porm, ter sempre o mesmo efeito. Pela prescrio por no exercer por tempo que baste. Ora, todos sabemos que a ao do tempo, que tem efeitos vrios nas relaes jurdicas, opera a sua extino, quando aliada inrcia do sujeito. E, sendo a posse um direito, est subordinada a esta consequncia: no exercida pelo tempo previsto, acarreta a perda para o titular. Porm, no se extingue, automaticamente, pelo no uso, porque, se a propriedade no perece pelo fato de deixar o dominus de usar a coisa, pois que o no uso pode ser mesmo a forma de exerccio querida pelo proprietrio, tambm a posse, como visibilidade do domnio, no se perde para o possuidor. necessrio, que, ao no uso, corresponda uma situao contrria por parte de algum. Quem tem a quase-posse de uma servido de caminho no a perde pelo s fato de deixar de transitar ali, pelo lapso de ano e dia. Mas perde-a em razo de levantar o proprietrio do prdio serviente uma cerca barrando o trfego do possuidor. Na primeira hiptese, ocorreu to-somente a ausncia de utilizao, incua para a relao jurdica, pois que no necessrio a que as servido se mantenha viva, estar o possuidor a transitar permanentemente pela estrada. Mas no segundo, j que se erigiu contra a existncia da posse uma situao contrria, a inrcia do titular importar necessariamente na prescrio do direito, e perda consequente da posse. Pode ainda, a posse perder-se pelo abandono, pela tradio ou pelo constituto possessorio. Pois como vimos anteriormente sendo eles meios de aquisio da posse, conseqentemente so tambm meio de perda. Ora se um individua esta transferindo a posse para outro, naturalmente um esta adquirindo a posse e o outro esta perdendo a mesma. O mesmo caso ocorre com o fato de a posse poder perder-se por ato de representate. Mas, se no tiver ele poderes para a renncia ou abandono, o possuidor pode reaver a coisa e recuperar a posse. 3.2 Concluso indubitvel e louvvel- a necessidade do estudo do perda e aquisio da posse, pois somente conhecendo de maneira profunda as formas de aquisio e perda da posse, poder fazer um bom uso do proteo possessria atravs de sua aes de manuteno e de esbulho. Um exemplo claro disto o abandono da coisa, agora que nos aprofundamos no assunto, podemos caracterizar que se o abandono for involuntrio e injusto (perda, extravio, furto) cabe ao possuidor reaver a coisa e obter a posse novamente. Mas se o abandono, posto que involuntrio, for legtimo (sentena judicial, desapropriao, requisio) descabe a ao
15
de reintegrao, restando ao desapossado o ressarcimento do dano, quando couber. Desta forma, como citado no exemplo acima, existem muitos outros situaes que somente podem ser resolvidas e compreendidas juridicamente a partir do momento que se tenha muita propriedade no tema de perda e aquisio da posse.
16
4 JURISPRUDNCIA
Ferreira Leite J. 07.06.2000) 50014055 JCPC.535 NO-COMPROVAO DA AQUISIO DA REA DE 1.080 M PELA EMBARGADA POSSE INJUSTA CARACTERIZADA REA DE 1.080 M APROXIMADAMENTE 72% (SETENTA E DOIS) MAIOR QUE O IMVEL EM LITGIO FORMA DIFERENTE DA DO IMVEL PRETENDIDO AUSNCIA DE CONFRONTANTE CABIMENTO AO REIVINDICATRIA DECLARATRIOS PELOS EMBARGANTES EMBARGOS PROVIDOS ANULAO
ACRDO PROFERIDO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROCEDENTE AO REIVINDICATRIA CONDENAO DA EMBARGADA A RESTITUIR O IMVEL EM LITGIO AOS EMBARGANTES INDENIZAO POR PERDAS E DANOS PLEITEADA PELOS EMBARGANTES IMPROCEDNCIA PEDIDO DE ANULAO DAS ESCRITURAS PBLICAS DA REA DE 1.080 M AUSNCIA DE PROVAS IMPROCEDNCIA RECURSO DE APELAO INTERPOSTO POR LITISDENUNCIADO TOTAL PROVIMENTO EMBARGOS DE DECLARAO PROVIDOS A contradio de que trata o artigo 535 do Cdigo de Processo Civil a que afeta a inteireza lgica do acrdo. a que representa uma quebra no silogismo entre as premissas e a concluso a que chegou o rgo julgador. A contradio para efeito de embargos declaratrios deve existir entre duas afirmativas constantes do aresto que se chocam entre si, podendo-se impingir efeitos modificativos ao acrdo nos embargos de declarao. Estando perfeitamente comprovada a individuao do imvel reivindicado pela embargante e sua aquisio perfeitamente comprovada nos autos, caracterizada est a posse injusta da embargada, cabendo quela o direito de propor a ao reivindicatria, visando obter o bem de quem injustamente ou ilegitimamente o detenha. (TJMT EDcl Classe II 17 (oposto nos autos do recurso de Apelao Cvel Classe II 20 N 22.927) Capital 2 C.Cv. Rel. Des. Odiles Freitas Souza J. 32036238 DIREITO CIVIL DIREITO PROCESSUAL CIVIL RESCISO CONTRATUAL LEASING FINANCEIRO CONTRATO COMPLEXO JULGAMENTO EXTRA PETITA (MULTA) RESTITUIO DAS PARCELAS PAGAS
17
IMPERTINNCIA DO PEDIDO MENSALIDADES QUE SE REVESTEM DO CARTER DE ALUGUERES a condenao em perdas e danos prefixadas, em 10% do valor do contrato, sem que tal conste do pedido inicial, importa em ser decotado o decisum nesta parte, configurando, in casu, julgamento extra petita Traduz ntida impertinncia a pretenso de devoluo das parcelas pagas, em razo do contrato de leasing, quanto ao valor residual garantido VRG Eis que como componentes do preo para a aquisio do bem pretendido representam, isto sim, contraprestao financeira pactuada, com carter de alugueres, a consubstanciar o valor das mensalidades de arrendamento mercantil com promessa de compra e venda do veculo, a qual s se tornar definitiva mediante manifesta vontade de aquisio desta pela arrendatria, cumpridas todas as obrigaes assumidas Desfeito o contrato de leasing o procedimento de reintegrao de posse do veculo h que se dirigir em face o possuidor do bem ou quem o tenha em seu poder, eventualmente, em nome do arrendatrio. (TJDF AC 4337396 (Reg. 66) 5 T.Cv. Rel. Des. Dcio Vieira DJU 11.11.1998) 805402 AO POSSESSRIA ATOS DE MERA PERMISSO OU TOLERNCIA PERDAS E DANOS FALTA DE PROVA Ex vi do art. 497 do Cnon Processual, os atos de mera permisso ou tolerncia no induzem posse, uma vez que qualquer desses dois vcios um obstculo sua aquisio. Aquele que tem apenas autorizao para ocupar um imvel no exerce sobre ele um poder prprio, mas to-somente o poder de fato de outra pessoa. " sabido que as perdas e danos, para serem impostas, devem ficar cumpridamente demonstradas na fase cognitiva, porquanto na fase executria liquida-se o seu quantum" (JC 69/250). (TJSC AC 88.063200-7 Caador Rel. Des. Vanderlei Romer C.C.Esp. J. 09.10.1996) 1026260 1. REINTEGRAO DE POSSE. Ao possessria, remdio previsto para afastar a aquisio da posse de forma arbitrria. O adquirente de imvel, mediante contrato de compra e venda, no poder entrar na posse direta do bem de forma arbitrria. Para tanto, h remdio jurdico processual, que e a ao de imisso de posse. O fato posse do vendedor, que no se confunde com o direito a posse, merece ser respeitado e a ao de reintegrao de posse e o meio instrumental para resguarda-lo. No e suficiente a indenizao por perdas e danos a simples Alegao da ocorrncia dos fatos danosos. H necessidade de adequada especificao, bem como a prova da efetiva ocorrncia e sua extenso. Apelo provido em parte. (TARS AC 195.013.305 3 CCiv. Rel. Juiz Aldo Ayres Torres J. 12.04.1995)
18
1022849 REINTEGRAO DE POSSE. ESBULHO. POSSE DO VECULO. POSSE INJUSTA. PROTEO POSSESSRIA. Reintegrao de posse. Aquisio negocial da posse de veculo, sem complementao do registro no DETRAN. Apreenso pela autoridade policial e entrega ao primitivo vendedor, constando este como proprietrio nos documentos. Recusa deste em devolver ao possuidor despojado, sob a alegao de remanescer crdito (no em relao ao possuidor, mas a quem lhe vendeu), alm de dividas tributarias. Esbulho caracterizado. Provimento, para a entrega do bem, com perdas e danos. (TARS AC 193.211.786 9 CCiv. Rel. Juiz Breno Moreira Mussi J. 16.12.1993)
19
5 DOUTRINA
DIREITO DE PROPRIEDADE - A DEFESA DA POSSE PELA VIA JUDICIAL E PELA FORA PRPRIA DO POSSUIDOR: UMA REFLEXO JURDICA SOBRE A VIOLNCIA NO CAMPO - Humberto Theodoro Jnior (Publicada na RJ n 238 - AGO/97, pg. 5) Humberto Theodoro Jnior Professor Titular da Faculdade de Direito da UFMG Des. aposentado do TJMG Doutor em direito. Advogado Nota: Inserido conforme originais remetidos pelo autor. Sumrio: 1 - Estranho sinal dos tempos. 2 - A tutela da posse no Estado Democrtico de Direito. 3 - A razo de ser da enrgica tutela legal posse. 4 - A legtima defesa da posse e o desforo imediato. 5 - A postura jurisprudencial diante da violncia. 6 - Concluses. 1 - ESTRANHO SINAL DOS TEMPOS Abre-se a Carta Magna brasileira e encontram-se as clarssimas e categricas declaraes: a) Garante-se a todos a inviolabilidade do direito " segurana e propriedade" (art. 5, caput); b) "Ningum ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa seno em virtude de lei" (art. 5, II); c) " garantido o direito de propriedade" (art. 5, XXII); d) "A lei no excluir da apreciao do Poder Judicirio leso ou ameaa a direito" (art. 5, XXXV); e) "Ningum ser processado nem sentenciado seno pela autoridade competente" (art. 5, LIII);
20
f) "Ningum ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal" (art. 5, LIV). Diante de um quadro de garantias fundamentais que inclua declaraes como estas, merece a Repblica brasileira, realmente, a qualificao de "Estado Democrtico de Direito" (CF, art. 1). No entanto, raro o dia em que no se v em manchete dos jornais e em destaque nos telejornais a notcia de ruidosas invases de propriedades rurais nos mais diversos Estados da Federao, sem que os proprietrios encontrem proteo dos rgos encarregados da segurana pblica, no obstante os esbulhos sejam sempre anunciados com grande antecedncia e sempre realizados luz do dia. Em seguida, os esbulhados correm Justia que quase sempre lhes defere, de pronto, o mandado reintegratrio de posse, sem, contudo, lograr execuo porque sistematicamente o Governo no pe disponibilidade do Judicirio a fora pblica indispensvel. A administrao, em lugar de atuar harmonicamente com o Poder Judicirio, na manuteno do imprio da ordem jurdica, prefere comparecer ao processo, por meio do INCRA, para tumultu-lo com esdrxulos pedidos de assistncia aos invasores, forando, dessa maneira, a suspenso da execuo do mandado liminar, graas ao expediente da transferncia do feito para a Justia Federal. Com isto o tempo vai passando e os invasores consolidam suas posies nos imveis usurpados, tornando definitiva a arbitrria expulso dos proprietrios, consumada ao arrepio do direito, transformando em tbula rasa a garantia fundamental do direito de propriedade, do devido processo legal e de todo elenco das solenes declaraes com que a Carta Magna configurou o Estado Democrtico de Direito. Triste sinal dos tempos! Que vir depois de to gritante menoscabo ao imprio da lei e aos direitos que a Constituio pretendeu proclamar como fundamentais? Dir-se- que tambm a Constituio assegurou a Reforma Agrria como medida necessria para realizar a justia social no campo. Mas, no foi pela fora e arbitrariedade dos prprios interessados que se programou sua implantao e, sim, por meio do devido processo legal e com a adequada e justa composio do equivalente econmico a que fazem jus os atuais proprietrios. Com a atual complacncia da Administrao diante da baderna implantada pelos responsveis pelo movimento daqueles que se intitulam "sem terras", o imprio da lei vai sendo aceleradamente substitudo, no conflito do campo, pela barbrie, pela violncia e pelo caos.
21
O certo que para as pessoas de bem prevalece a convico de que "ningum deseja que os conflitos sociais entre proprietrios e trabalhadores sem terra que invadem reas rurais se transformem em confrontos violentos e sanguinrios, mas no compete ao Poder Judicirio encontrar solues para o assentamento e fixao de famlias pobres e miserveis, cuja atribuio em tudo e por tudo debitvel ao Poder Executivo" (TJPR, Rec. Nec. 13.404-3, ac. 17.08.1993, RT, 706/147). Ao Judicirio compete, constitucionalmente, tutelar os direitos subjetivos violados ou ameaados, tornando concreta a vontade da lei. Enquanto ao Executivo toca administrar o bem comum, engendrando e pondo em prtica planos capazes de retirar as garantias fundamentais do nvel de simples retrica para torn-las viva realidade no seio da sociedade a que a Constituio as endereou. Nenhum nem outro pode isoladamente cumprir a vontade global do Estado Democrtico de Direito. Ambos tm de atuar harmonicamente, como prev a Constituio (art. 2), para que, cada um cumprindo a parcela de soberania que lhe toca, possa, no todo, a vontade geral da ordem jurdica realizar-se plenamente. De pouco vale ao legislativo traar as normas que a sociedade reputa ideais para a manuteno da paz e ao desenvolvimento geral da nao, se o Judicirio no definir, quando necessrio, com a devida presteza, os conflitos gerados durante a atuao da ordem legal. E de nada vale, a pronta atuao do Judicirio se a vontade soberana traduzida na sentena no encontrar realizao prtica em atos executivos que somente a Administrao tem meios e condies de implementar. Sbia, portanto, a norma constitucional que impe a independncia dos trs poderes do Estado Democrtico de Direito, ao mesmo tempo que deles exige uma indispensvel harmonia (art. 2). 2 - A TUTELA DA POSSE NO ESTADO DEMOCRTICO DE DIREITO A CF, em mais de uma oportunidade, consagrou o carter fundamental da proteo que o Estado deve proporcionar "inviolabilidade do direito vida, liberdade, igualdade, segurana e propriedade" (Prembulo, art. 5, caput e incisos, do art. 150, etc.). Fiel a esse desiderato, o CC assegura ao proprietrio "o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reav-los do poder de quem quer que injustamente os possua" (art. 524). Para o possuidor em geral, seja proprietrio ou no, o mesmo Cdigo outorga-lhe ampla e enrgica tutela contra ameaas, turbaes e esbulhos, abrindo-lhe acesso a duas vias de defesa:
22
a) a dos interditos possessrios de manuteno, reintegrao e proibio (arts. 499 e 500 do CC, que se conjugam com os arts. 920 a 933 do CPC); e b) a da autodefesa, que consiste na autorizao legal a que o possuidor use a "prpria fora" para repelir o esbulho ou a turbao, "contanto que o faa logo", ou seja, na atualidade da injusta agresso praticada pelo turbador ou esbulhador (CC, art. 502). Esse mecanismo de pronta e eficaz tutela da posse no uma criao do direito positivo atual do Brasil. Corresponde a uma tradio imemorial que se confunde com as prprias origens da civilizao. Na mais remota antigidade romana, a proteo posse j se fazia por meio de interditos do pretor, que estabeleciam, de imediato, antes do contraditrio, o status quo ante, fazendo cessar, de pronto, o esbulho ou a turbao. Assim continuou sendo durante a Idade Mdia e assim prevalece nos Tempos Modernos, em todas as naes do Mundo civilizado. Assim tem sido no Brasil, desde a Colnia at a atual Repblica, solenemente proclamada como configuradora de um "Estado Democrtico de Direito" pela Carta de 1988. 3 - A RAZO DE SER DA ENRGICA TUTELA LEGAL POSSE O Direito tem como aspirao mxima a implantao de um sistema de convivncia que assegure a paz social. E esta jamais seria alcanvel num ambiente onde os bens dos indivduos estivessem constantemente expostos ao esbulho e turbao de estranhos. Da explicar Pontes de Miranda que: "O princpio do status quo, ou princpio da conservao do fctico, considerado como imprescindvel paz jurdica, como paz fctica, exige que cada um respeite as situaes jurdicas e a posse dos outros. Quieta non movere! As relaes de posse existentes, quer tenham elas sujeitos passivos totais, quer tambm tenham sujeitos passivos individuais, ho de conservar-se como so, exceto se o titular delas as mudar, ou a sentena determinar que se mudem. Ningum pode, sem ofender o princpio, que , logicamente, de vida social, antes de ser de vida jurdica, transformar ou extinguir relaes de posse, cujo titular outro" (Tratado de Direito Privado, 2 ed., Rio, Borsoi, t. 10, 1.109, p. 282). A imediata proteo posse esbulhada ou turbada, mesmo sem indagao de deter, ou no, o possuidor a titularidade do domnio, se explica pela constatao de que "toute violence, en effet, este contraire au droit, et c'est contre cette illgalit qu'est dirig l'interdit'
23
(SAVIGNY, Trait de la Possession en Droit Romain, 4 ed., Paris, 1893, 2, p. 6/7). "La protection possessoire est, dans le fond, une mesure de police civile: elle tend, en premier lieu, assurer la paix publique" (HENRI DE PAGE, Trait lmentaire de Droit Civil Belge, Bruxelles, E. Bruyelant, 1941, t. V, 2 parte, n 827, p. 724). O nosso insupervel Clvis Bevilaqua, na apresentao do projeto que se converteu no atual CCB, ressalva esse carter bsico da proteo legal posse: "O Cdigo concede a proteo possessria, dizem os motivos, a fim de conservar a paz jurdica, sem distinguir se a posse repousa sobre uma relao jurdica real ou obrigacional, nem se possui como proprietrio ou no..." (apud MOREIRA ALVES, Posse, Rio, Forense, 1985, v. I, n 59, p. 357). A razo de ser da tutela interdital imediata ao possuidor contra os atos de ameaa, esbulho ou turbao ao fato da posse, sem mesmo indagar de sua origem jurdica, est em que, segundo Kohler, "ao lado da ordem jurdica, existe a ordem da paz, que, por muitos anos, tem-se confundido, no obstante o direito ser movimento e a paz tranqilidade. A essa ordem da paz pertence a posse, instituto social, que no se regula pelos princpios do direito individualista. A posse no instituto individual, social; no instituto de ordem jurdica e sim da ordem da paz. Mas a ordem jurdica protege a ordem da paz, dando ao contra a turbao e a privao da posse" (CLVIS BEVILAQUA, Direito das coisas, 4 ed., RJ, Forense, 1956, vol. I, 7, p. 28). "No Estado de Direito" - lembrava Ronaldo Cunha Campos - "a ordem pblica, a paz social, o respeito soberania do Estado, so interesses pblicos bsicos, de cuja tutela cuida precipuamente o poder judicirio. A posse a situao de fato e uma componente da estabilidade social. Se a posse muda de titular, tal mudana no pode resultar em desequilbrio social, em perturbao da ordem. Impe-se que a passagem da posse de um para outro titular se d sem quebra da harmonia social, e.g., pelo contrato, pela sucesso. Quando a disputa pela posse se acende urge que cesse atravs do processo e no pelo exerccio da justia privada. Esta ltima produz a ruptura da paz social e viola a soberania do Estado; representa a usurpao de um de seus poderes. Neste sentido Carnelutti (Sistema del diritto processuale civile, Ed. Cedam, vol. I, n 73, p. 208/209)" (RONALDO CUNHA CAMPOS, "O Artigo 923 do CPC", "Julgados do TAMG", vol. 8, p. 14). Por isso conclui o jurista mineiro: "Destarte, no entendemos o juzo possessrio apenas sob o ngulo da tutela da posse ou da propriedade. Nele vemos principalmente o interesse estatal na represso do esbulho...", visto este como "manifestao de ruptura do equilbrio social e como ameaa ordem
24
jurdica" (Ob. cit., loc. cit.). 4 - A LEGTIMA DEFESA DA POSSE E O DESFORO IMEDIATO Sempre que a lei assegura ao titular de uma situao jurdica a no ingerncia violenta de outrem, fica ao mesmo tempo assegurado vtima da ofensa ao bem tutelado "o emprego da fora" em reao violncia do agressor. Em conseqncia essa repulsa da fora prpria ao agressor da regra da no-violncia, "no entra no mundo jurdico como ato ilcito, desde que se contenha nos limites que a lei pressups" (PONTES DE MIRANDA, ob. cit., 1.110, p. 283). Na verdade, o art. 502 prev duas situaes de reao privada do possuidor contra aquele que lhe agride a posse: a) A primeira aquela em que, antes da perda da posse, a vtima repele, com fora prpria, o agressor. Nesse caso que PONTES DE MIRANDA admite a configurao jurdica da legtima defesa da posse (ob. cit., 1.110, p. 283). Corresponde apenas s hipteses de turbao da posse. b) A segunda aquela em que o possuidor chega a perder a posse, e emprega fora prpria para recuper-la "logo em seguida". Aqui j no se pode tecnicamente qualificar a reao como exerccio de "legtima defesa", mas, sim, de desforo imediato, que pressupe esbulho consumado (PONTES DE MIRANDA, ob. cit., 1.111, p. 284). Nesse sentido, o parg. nico do art. 505 faz referncia tanto a "atos de defesa" como a "atos de desforo". Todos eles, porm, so legtimos e se subordinam aos mesmos requisitos ou seja: devero a auto defesa e o desforo ser praticados "mediante emprego de meios estritamente necessrios", seja para "manter-se na posse", seja para "restituir-se nela" (CC, art. 502, parg. nico). Ho, pois, de conjugar-se: a) a atualidade da agresso, ou sua recente consumao; e b) a moderao da repulsa, que nunca pode ir alm dos atos indispensveis manuteno ou restituio da posse. "Assim sendo, se a assistncia do Estado revelar-se tardia ou no puder ser
25
oportunamente invocada, o possuidor poder reagir para manter-se na posse molestada, evitando excessos, segundo o princpio do moderamen inculpatae tutelae, ou seja, da moderao da legtima defesa (MARIA HELENA DINIZ, CC Anotado, SP, Saraiva, 1995, p. 385). Tambm, quando se trata de desforo para recuperar, de pronto o objeto esbulhado, o possuidor "dever agir pessoalmente, embora possa receber auxlio de amigos ou serviais, empregando meios necessrios, inclusive armas, para recuperar a posse perdida. Todavia, essa reao dever ser imediata" (MARIA HELENA DINIZ, ob. cit., loc. cit.). A violncia da repulsa ao atentado posse, quando comportar-se dentro de aludidos padres, elimina qualquer resqucio de ilicitude na reao do possuidor. Com efeito, proclama o art. 160, I, do CC: "No constituem atos ilcitos os praticados em legtima defesa ou no exerccio regular de um direito reconhecido". justamente por isso que nos pretrios prevalece a tese de que: "No comete infrao penal, sequer em tese, a vtima de ameaa ou esbulho de sua posse que, sem exceder o indispensvel manuteno ou restituio, a recupera por sua prpria fora e autoridade. O "desforo imediato" e a "resistncia" so formas de legtima defesa da posse, que no se limita repulsa da violncia, mas autoriza at a obteno da restituio da posse pela prpria fora" (TJSP, Rec. 120.406, Rel. Des. ALVES BRAGA, RT 461/341). 5 - A POSTURA JURISPRUDENCIAL DIANTE DA VIOLNCIA NA CRISE SOCIAL NO CAMPO Os Tribunais brasileiros no tm se recusado a cumprir a tarefa que lhes toca na tutela jurisdicional do direito de propriedade e na preservao do imprio da lei, da ordem pblica e da segurana do convvio social. Eis um aresto recente do TAMG, onde o tema da violncia no campo foi muito bem analisado: "Evidentemente que ningum pode deixar de lamentar a grave situao social reinante no Pas. Mas, sua reverso no pode ser feita com o sacrifcio da ordem jurdica, cuja proteo cabe ao Judicirio. Alm disso, a excluso social fato social, econmico e poltico, mas no jurdico, motivo por que no excepciona o excludo da igualdade de todos perante a lei.
26
Assim, o fenmeno econmico e social da excluso no d ao excludo o direito de exercer arbitrariamente suas prprias razes, nem o de invadir, desapossar, roubar ou matar. No Estado de Direito ningum est acima da lei. Portanto, a excluso social, que se lamenta, no assegura aos excludos a impunidade face s conseqncias legais dos atos que praticam" (AI 226.647-7, da Comarca de Arax, Rel. Juiz LAURO BRACARENSE, ac. 28.11.1996). Em outro aresto, o mesmo Colendo Tribunal assentou, tambm, com muita propriedade, o seguinte: "A inteno dos apelantes, de invadir as terras era pblica. A ameaa concreta posse dos apelados se caracterizou, autorizando a procedncia da ao. A reforma agrria prevista pela Constituio e a execuo de uma poltica rural dever do Governo. Nada autoriza, porm, no Estado Democrtico de Direito, que a propriedade privada seja turbada ou esbulhada para, mediante atos de fora e fatos consumados, se precipitar aquela reforma. Com a Constituio de 1988, diversas reformas infra constitucionais foram previstas dentro de seu conjunto programtico. Eu tenho a convico, sem desejar estabelecer uma ordem de prioridade rgida, de que as duas mais importantes normas previstas pela Constituio eram as do CDC, que veio com a L. 8.078/90 e a Lei de Poltica Agrcola. A omisso reiterada do Congresso Nacional e, sobretudo, do Presidente da Repblica, na conduo de uma lei eficaz, de um processo legislativo que estabelea a poltica agrcola prevista pela Constituio, esta omisso indesculpvel no autoriza, entretanto, que sejam utilizados mtodos atrasados, selvagens, como os que esto, no momento, causando grande preocupao ao Pas neste j to divulgado "Movimento dos Sem Terra" (TAMG, Ap. 221.495-0, ac. 16.04.1996, Rel. Juiz ALMEIDA MELO). "A propriedade" - prossegue o lcido decisrio - "tem funo social, entretanto, a funo social da propriedade no pode ser extrada pela violncia ou pelo sangue. O Estado deve aparelhar a legislao e aparelhar a execuo do Governo dos mtodos e dos instrumentos que se faam necessrios, mas no compatvel com os princpios fundamentais da Constituio, entre os quais esto a dignidade da pessoa humana e o trabalho como valor social, que se usem recursos medievais como aqueles que tm feito causar espcie aos foros de civilizao de nosso Estado, que o retorno a uma poca de selvageria". Enfim, o acrdo manteve a tutela possessria outorgada aos proprietrios ameaados de invaso em suas terras no conturbado municpio de Iturama, ressaltando que: "A deciso recorrida foi prudente, pois a indiscutvel necessidade da reforma agrria no aceita como
27
justificativa para a violncia, a arbitrariedade e a negao do prprio Direito" (TAMG, ac. cit.). No Estado de So Paulo, onde, no momento, a violncia recrudesce pelo ostensivo posicionamento dos "sem terra" em torno de um programa voltado para um crescente volume de invases, na regio do Pontal do Paranapanema, a Justia de 1 grau, com o respaldo do TJ, d curso a ao penal contra os mentores do brbaro projeto, enquadrando-os como responsveis, entre outros, pelo crime de formao de quadrilha e sujeitando-os a priso preventiva. No Estado do Paran, sucessivos mandados de reintegrao de posse foram prontamente expedidos contra os esbulhos praticados pelos "sem terra". Diante da sistemtica recusa do Governo de dar execuo a tais mandados houve at decretao de interveno federal no Estado. E como conseqncia dos atos intencionalmente omissos da Administrao estadual, o TJ daquele Estado acolheu ao indenizatria promovida pelos proprietrios vtimas das invases, nos termos seguintes: "No tendo o Estado do Paran, como lhe competia, cumprido deciso judicial, fato que ensejou pedido de interveno federal acolhido pelo TJ e remetido Suprema Corte, deve ser responsabilizado civilmente a reparar os danos e prejuzos decorrentes de sua injustificvel omisso... Descumprindo o Estado do Paran deciso judicial inatacada, propiciou a que os invasores da propriedade alheia causassem os prejuzos j constatados, pelos quais tem o dever jurdico de responder civilmente" (TJPR, Rec. Nec. 13.404-3, ac. 17.08.1993, Rel. Des. OTO LUIZ SPONHOLZ, RT, 706/147). O quadro esboado evidencia que no tem cabido ao Judicirio o papel de desintegrador da ordem jurdica vigente. 6 CONCLUSES I - O Estado Democrtico de Direito implantado pela atual Constituio tutela a segurana, a vida e a propriedade privada, com valores integrantes dos chamados direitos fundamentais; II - O retardamento ou a lentido no cumprimento do programa de reforma agrria, no pode servir de justificativa para atos de violncia e arbitrariedade contra proprietrios rurais e seu patrimnio; III - Qualquer que seja o pretexto para esbulhar a propriedade alheia, se o agente no encontra justificativa no direito, importa na prtica de ato ilcito, delituoso tanto na esfera civil como
28
penal; IV - Contra essas agresses posse, justificadas ou no pela luta pela reforma agrria, compete Justia assegurar aos proprietrios esbulhados a pronta tutela dos interditos possessrios; V - Se a Polcia do Estado no cumpre o dever de manter, preventivamente, a segurana das propriedades rurais, e se os proprietrios sofrem pessoalmente os efeitos da turbao ou esbulho, assiste-lhes o direito legtima defesa ou ao desforo imediato, usando, com moderao, a fora prpria, para repelir a turbao em marcha, ou para recuperar a posse usurpada, desde que a reao privada se d dentro dos parmetros traados pelo art. 502, parg. nico, do CC; VI - Evidentemente no esse o caminho que as pessoas civilizadas e patriotas esperam prevalecer na atual crise agrria brasileira. Os responsveis pelo Governo devem, todavia, ponderar a gravidade da conjuntura que poder incendiar o campo, caso, por sua omisso, tenham os proprietrios de lanar mo dos direitos de auto defesa que em todos os quadrantes do mundo civilizado so previstos como ltima modalidade de tutela da posse violentamente esbulhada ou turbada.
29
EMERSON LEAL CACAZU
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Universidade do Vale do Itaja UNIVALI Centro de Educao Balnerio Cambori Balnerio Cambori
30
2002
Você também pode gostar
- Patuá Quimbanda Chama DinheiroDocumento9 páginasPatuá Quimbanda Chama DinheiroTeixeira Neto100% (10)
- RESUMO Teoria Simplificada Da PosseDocumento6 páginasRESUMO Teoria Simplificada Da PosseFelipe Sant AnnaAinda não há avaliações
- Curso de Redacao Forense e Tecnicas de Peticao InicialDocumento67 páginasCurso de Redacao Forense e Tecnicas de Peticao InicialRac A BruxaAinda não há avaliações
- FILOSOFIA - Introdução À Filosofia, Uma Perspectiva Cristã - Norman GeislerDocumento14 páginasFILOSOFIA - Introdução À Filosofia, Uma Perspectiva Cristã - Norman GeislerMary Auxi100% (1)
- Teoria Simplificada Da PosseDocumento11 páginasTeoria Simplificada Da PosseLuciano MeloAinda não há avaliações
- E Book Tema 4 PDFDocumento11 páginasE Book Tema 4 PDFJessyca FilizzolaAinda não há avaliações
- Resenha Teoria Simplificada Da PosseDocumento10 páginasResenha Teoria Simplificada Da PosseWyslla Odenillo PassosAinda não há avaliações
- Artigo Direitos ReaisDocumento16 páginasArtigo Direitos ReaisErick SilvaAinda não há avaliações
- Vicissitudes Dos Direitos ReaisDocumento6 páginasVicissitudes Dos Direitos ReaisLésia Da Lúcia CassuateAinda não há avaliações
- Da PosseDocumento8 páginasDa PossecontatoAinda não há avaliações
- Lendro Antonio Pamplona - Principio Quieta Non MovereDocumento19 páginasLendro Antonio Pamplona - Principio Quieta Non MoverePatrícia ArrudaAinda não há avaliações
- Embargos de TerceiroDocumento10 páginasEmbargos de Terceiroaluisius dpAinda não há avaliações
- Artigo DireitoDocumento10 páginasArtigo Direitonicole DrescherAinda não há avaliações
- Direito Civil 3Documento9 páginasDireito Civil 3Carlos Gustavo Monteiro CherriAinda não há avaliações
- PosseDocumento49 páginasPosseMarcos EfizioAinda não há avaliações
- Resenha - Teoria Simplificada Da PosseDocumento10 páginasResenha - Teoria Simplificada Da PosseRenato ColenAinda não há avaliações
- Aula 2 - PosseDocumento10 páginasAula 2 - PosseRafael RotundoAinda não há avaliações
- Da PosseDocumento20 páginasDa PosseLeandro MeloAinda não há avaliações
- Direitos Reais - LeiteDocumento50 páginasDireitos Reais - LeiteJoao GabrielAinda não há avaliações
- Trabalho de Curso de DireitoDocumento12 páginasTrabalho de Curso de DireitoUttal Papäricado MfgAinda não há avaliações
- Exercício Jurídico PDFDocumento76 páginasExercício Jurídico PDFpauloAinda não há avaliações
- Direito Civil Iv - Reais - TrabalhoDocumento15 páginasDireito Civil Iv - Reais - TrabalhomatheusAinda não há avaliações
- Direito Das Coisas - POSSEDocumento13 páginasDireito Das Coisas - POSSELuis Matheus HollebenAinda não há avaliações
- Especies de Aquisição de PosseDocumento7 páginasEspecies de Aquisição de PosseChristianno CohinAinda não há avaliações
- Rewrwer YutrhgfdaDocumento26 páginasRewrwer Yutrhgfdavictor marianoAinda não há avaliações
- Direitos Reais - Capitulo I - DA POSSEDocumento26 páginasDireitos Reais - Capitulo I - DA POSSEmgcorvoAinda não há avaliações
- Direito Civil Direito Das CoisasDocumento28 páginasDireito Civil Direito Das CoisasGossler TonyAinda não há avaliações
- Questões Respondidas Direitos Reais PDFDocumento4 páginasQuestões Respondidas Direitos Reais PDFdalbraskia45Ainda não há avaliações
- Nota Arbitral 25.878.980.2022. Árbitro CÉSAR AUGUSTO VENANCIO DA SILVA 2022Documento21 páginasNota Arbitral 25.878.980.2022. Árbitro CÉSAR AUGUSTO VENANCIO DA SILVA 2022COMISSÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA JUSTIÇA Arbitral100% (1)
- Direito Das Coisas (Reias)Documento11 páginasDireito Das Coisas (Reias)ANTONIO CAMILOAinda não há avaliações
- Direito Das Coisas. Aula 04. Classificação Da PosseDocumento14 páginasDireito Das Coisas. Aula 04. Classificação Da PosseDiana MachadoAinda não há avaliações
- Resumos de Teoria Geral Do Direito Civil IiDocumento18 páginasResumos de Teoria Geral Do Direito Civil IiCatalina MunteanuAinda não há avaliações
- TRABALHO Sobre Açoes PossessoriasDocumento9 páginasTRABALHO Sobre Açoes PossessoriasVitoria RanielyAinda não há avaliações
- So de Compra e VendaDocumento5 páginasSo de Compra e VendadaniloulaAinda não há avaliações
- Direito Das Coisas Aula 2Documento22 páginasDireito Das Coisas Aula 2Hugo OliveiraAinda não há avaliações
- Noçoes Relevantes de Direito Das Coisas 1Documento39 páginasNoçoes Relevantes de Direito Das Coisas 1AnaAinda não há avaliações
- IntroduçãoDocumento11 páginasIntroduçãoSherry Chelsea LoteAinda não há avaliações
- Teoria Simplificada Da PosseDocumento9 páginasTeoria Simplificada Da Possecarla10jhsAinda não há avaliações
- Direitos Civil Aplicado, Direitos Reais e PropriredadeDocumento13 páginasDireitos Civil Aplicado, Direitos Reais e Propriredadeadv.matheusmaAinda não há avaliações
- Caderno Direitos Reais CompletoDocumento65 páginasCaderno Direitos Reais CompletoCamilla GerardeAinda não há avaliações
- Aquisição, Modificação, Manutenção e Extinção Dos DireitosDocumento10 páginasAquisição, Modificação, Manutenção e Extinção Dos DireitosDeymes CachoeiraAinda não há avaliações
- Resumo de Direito CivilDocumento9 páginasResumo de Direito CivilKellen De SouzaAinda não há avaliações
- Curso Direito Disciplina TGP e MASCDocumento3 páginasCurso Direito Disciplina TGP e MASCLarissa AndradeAinda não há avaliações
- Ação Possessória PDFDocumento6 páginasAção Possessória PDFJuliaAinda não há avaliações
- Ação Possessória PDFDocumento6 páginasAção Possessória PDFJuliaAinda não há avaliações
- Tema 1 - CoisasDocumento11 páginasTema 1 - CoisasAnderson CarvalhoAinda não há avaliações
- THEODORO JÚNIOR - Ações Possessórias - FichamentoDocumento7 páginasTHEODORO JÚNIOR - Ações Possessórias - FichamentoleoniamedeirosAinda não há avaliações
- PosseDocumento30 páginasPosseGuilherme GaldinoAinda não há avaliações
- Humberto Theodoro Jr. - Curso de Direito Processual Civil - Volume III, 52 EdiçãoDocumento4 páginasHumberto Theodoro Jr. - Curso de Direito Processual Civil - Volume III, 52 EdiçãoemilyquimasAinda não há avaliações
- Trabalho UsucapiãoDocumento39 páginasTrabalho UsucapiãoDenis PedrosoAinda não há avaliações
- Ii Unidade Civil IiDocumento12 páginasIi Unidade Civil IiGeovane PedreiraAinda não há avaliações
- Usucapião Capa NovaDocumento20 páginasUsucapião Capa NovaMeiry SallesAinda não há avaliações
- PosseDocumento10 páginasPosseAruanan Arruda100% (1)
- Caracteres Da PosseDocumento3 páginasCaracteres Da PosseJosé AvelinoAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido de Direito Civil - CoisasDocumento4 páginasEstudo Dirigido de Direito Civil - CoisasRe_RenzAinda não há avaliações
- Direito Penal - Crimes Contra o PatrimônioDocumento22 páginasDireito Penal - Crimes Contra o PatrimônioYohanAinda não há avaliações
- Detencao e Sua Conversao em Posse PDFDocumento7 páginasDetencao e Sua Conversao em Posse PDFLiza LopesAinda não há avaliações
- Dirieito Civil Reais PDFDocumento14 páginasDirieito Civil Reais PDFEwerson ReisAinda não há avaliações
- Ações Possesórias - Procedimento Especial - ExplicacaoDocumento8 páginasAções Possesórias - Procedimento Especial - ExplicacaoMaira PrudenteAinda não há avaliações
- DIREITO CIVIL VI - Direito Das Coisas - Classificação Da PosseDocumento23 páginasDIREITO CIVIL VI - Direito Das Coisas - Classificação Da PosseAna Beatriz MeloAinda não há avaliações
- Apostila 2Documento128 páginasApostila 2glaucomaiaAinda não há avaliações
- Slides - Filosofia e Etica - PNAP2Documento35 páginasSlides - Filosofia e Etica - PNAP2Wildson Justiniano PintoAinda não há avaliações
- Acao Indenizatoria Tourinho e Godinho BrasiliaDocumento19 páginasAcao Indenizatoria Tourinho e Godinho Brasiliacanal do Pedro e do ruan AbmaelAinda não há avaliações
- Apol 1 - Ética Das Religiões - 2Documento4 páginasApol 1 - Ética Das Religiões - 2Altares de UmbandaAinda não há avaliações
- Determinismo e Responsabilidade Moral em StrawsonDocumento56 páginasDeterminismo e Responsabilidade Moral em StrawsonRodrigo LuzAinda não há avaliações
- Como Cheguei À Verdade (Maria de Oliveira)Documento97 páginasComo Cheguei À Verdade (Maria de Oliveira)Ronald Santos100% (2)
- Criminologia Escola Classica e PositivaDocumento22 páginasCriminologia Escola Classica e PositivaLetícia MottaAinda não há avaliações
- Campo de Investigação Da ÉticaDocumento3 páginasCampo de Investigação Da ÉticaIgor LopesAinda não há avaliações
- Philosophia Elementar Racional e Moral - José Soriano de SouzaDocumento578 páginasPhilosophia Elementar Racional e Moral - José Soriano de Souzarenan18mcg100% (1)
- Revista TRT9 (Dano Existencial)Documento206 páginasRevista TRT9 (Dano Existencial)RubensBordinhãoNetoAinda não há avaliações
- Resenha Crítica Do Livro Há Um Significado Neste Texto de Kevin J. VanhoozerDocumento14 páginasResenha Crítica Do Livro Há Um Significado Neste Texto de Kevin J. VanhoozerRagner Esperandio SeifertAinda não há avaliações
- Teorico Etica e Cidadania Unidade IDocumento20 páginasTeorico Etica e Cidadania Unidade IWagner NunesAinda não há avaliações
- Psicopatologia E Exames Psicológicos: Módulo deDocumento239 páginasPsicopatologia E Exames Psicológicos: Módulo deJoicy LopesAinda não há avaliações
- Caderno - Curso de Combate Ao AbusoDocumento54 páginasCaderno - Curso de Combate Ao AbusowederAinda não há avaliações
- Autoconfrontacao 13Documento3 páginasAutoconfrontacao 13Alexander VasconcelosAinda não há avaliações
- Dez Principios Conservadores Russel Kirk TraducaoDocumento6 páginasDez Principios Conservadores Russel Kirk Traducaoapi-3797113100% (1)
- São Tomás de Aquino Extra - Livro de Vocabulário e Referências de Tomás de Aquino PDFDocumento64 páginasSão Tomás de Aquino Extra - Livro de Vocabulário e Referências de Tomás de Aquino PDFRodrigoFelipeSilveira100% (1)
- CP1-Liberdade e Responsabilidade Democráticas - Tema 1 Conceitos-ChaveDocumento16 páginasCP1-Liberdade e Responsabilidade Democráticas - Tema 1 Conceitos-ChaveFlorbela Antunes Fernandes100% (2)
- Textos Que Falam Sobre Santidade e PurezaDocumento1 páginaTextos Que Falam Sobre Santidade e PurezaDaniel TeixeiraAinda não há avaliações
- TCC II Saúde Mental No TrabalhoDocumento44 páginasTCC II Saúde Mental No TrabalhoGiuliana Fagotti100% (1)
- William James - A Vontade de Crer Edit PDFDocumento52 páginasWilliam James - A Vontade de Crer Edit PDFPierre De Freitas Bittencourt100% (2)
- Resenha Do Livro A Criança e o Número - Constance KamiiDocumento6 páginasResenha Do Livro A Criança e o Número - Constance Kamiianabia.143522Ainda não há avaliações
- Rousseau - O Contrato SocialDocumento15 páginasRousseau - O Contrato SocialGabriel HenriqueAinda não há avaliações
- Aparelho Psiquico PersonalidadeDocumento41 páginasAparelho Psiquico PersonalidadeIngrid Nascimento VianaAinda não há avaliações
- Curso de Formação de DoutrinadoresDocumento65 páginasCurso de Formação de DoutrinadoreskelymariaAinda não há avaliações
- Ética Social E Profissional: ResumoDocumento10 páginasÉtica Social E Profissional: ResumoNhawas ErnestoAinda não há avaliações
- Atividade de n1Documento9 páginasAtividade de n1Veronica M. NevesAinda não há avaliações
- Texto - A Maquinaria EscolarDocumento17 páginasTexto - A Maquinaria EscolarLuciane EngelAinda não há avaliações