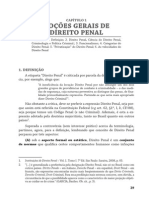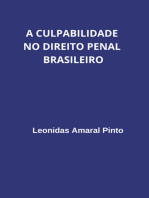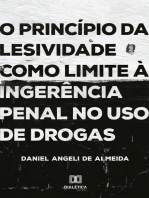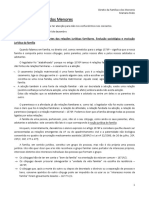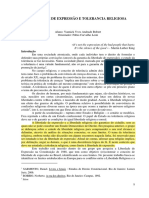Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
DP I - Rita Nina
Enviado por
Rosário QueirósTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
DP I - Rita Nina
Enviado por
Rosário QueirósDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Direito Penal I
Parte I
Introdução
1.- O direito penal em sentido formal
1.1- O conceito de direito penal
Direito penal pode definir-se como o conjunto de normas jurídicas que
ligam a certos comportamentos humanos, os crimes, determinadas
consequências jurídicas privativas deste ramo de direito. Sendo a mais
importante dessas consequências, a pena, a qual apenas pode ser aplicada ao
agente do crime que tenha atuado com culpa. Ao lado da pena, o direito penal
prevê ainda outras consequências jurídicas, tais como as medidas de
segurança, as quais não supõem a culpa do agente, mas a sua perigosidade.
O que deixamos formalmente definido, a cima, constitui o direito penal em
sentido objetivo, deste costuma-se distinguir o direito penal em sentido subjetivo
– ius puniendi -, como poder punitivo do Estado resultante da sua soberania
competência para considerar, como crimes certos comportamentos humanos e
ligar-lhes certas sanções específicas. Deste modo, podemos afirmar que, o direito
objetivo é expressão ou emanação do poder punitivo do Estado.
2.- O âmbito do direito penal
2.1- Direito penal substantivo, direito penal executivo e direito
processual penal
Quando na linguagem jurídica atual se fala em “direito penal”,
normalmente está se apenas a referir ao direito penal material, contudo refere-se
por vezes à existência de um direito penal amplo ou de um ordenamento
jurídico-penal que abrange também o direito penal processual e o direito penal de
execução de penas e medidas de segurança.
Direito penal substantivo- visa a definição dos pressupostos do crime e
das suas concretas formas de aparecimento; e a determinação das
consequências ou efeito que à verificação de tais pressupostos se ligam
2018/2019 Rita Nina- FDUC 1
(penas e medidas de segurança), bem como das formas de conexão entre
aqueles pressupostos e estas consequências.
Direito Processual Penal- cabe a regulamentação jurídica dos modos de
realização prática do poder punitivo, nomeadamente através da
investigação e da valoração judicial do crime acusado.
Direito Penal Executivo- pertence a regulamentação jurídica da efetiva
execução da pena e/ou medida de segurança decretada na condenação
proferida no processo penal.
2.2- A parte geral do direito penal e as suas componentes
O direito penal em sentido estrito é composto por:
A. Parte geral- na qual se definem os pressupostos de aplicação da lei penal,
os elementos constitutivos do conceito de crime e as consequências gerais
que da realização de um crime, total ou parcial derivam: as penas e as
medidas de segurança. A doutrina da parte geral divide-se em dois
tratamentos fundamentais:
a. O primeiro trata dos fundamentos gerais de todo o direito penal,
considerando a determinação do lugar do direito penal no sistema
jurídico, a função do direito penal e os seus limites, fontes e âmbito
de vigência, temporal e espacial.
b. Construção dogmática do conceito do facto punível/doutrina
geral do crime, considerando os elementos constitutivos desse
direito.
B. Parte especial- na qual se estabelecem os crimes singulares (homicídio,
violação sexual, furto, abuso de confiança, etc.), e as consequências
jurídicas que estão ligadas consequentemente à prática desses crimes.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 2
I- O comportamento criminal e a sua definição: o
conceito material de crime.
1.- O conteúdo material do conceito de crime
1.1- A perspetiva positivista-legalista: do conceito “formal” ao
“conceito material”
O problema de saber o que é o crime (conceito material), é um problema de
legitimação da intervenção de penal, dos fundamentos legitimadores, isto é
saber quais são as fontes de onde provém a legitimidade para considerar certos
comportamentos humanos como crimes e aplicar aos infratores sanções de
espécie particular. Há uma resposta evidente- crime é aquilo que está no código
penal. Esta conceção correspondia o conceito de material de crime ao conceito
formal – seria unicamente, a circunstância de o legislador ter ameaçado a prática
de um facto com uma pena criminal, que transformava aquele facto em
comportamento criminal. Há aqui uma referência ao princípio da legalidade penal,
ou seja, é crime aquilo que está escrito na lei.
Porém, há cada vez mais crimes que estão em legislação extravagante, ou
em diplomas que não são essencialmente penais. Uma tal conceção é,
atualmente, inútil e inaceitável, isto porque, quando se pergunta o que é um
crime, procura-se uma resposta, antes de tudo, à questão da legitimação
material do direito penal.
Além disso, esta conceção não permite ligar a questão do conceito material
de crime ao problema, em que aquela verdadeiramente se insere – função e
limites do direito penal. A pergunta pelo conceito material de crime apenas
terá sentido, se esta se encontrar atrás do direito penal legislado. O conceito
material de crime é assim, previamente dado ao legislador e constitui-se um
padrão crítico tanto do direito vigente, como do direito a constituir.
Se esta perspetiva satisfez durante muito tempo, a verdade é que, já nesta
altura, a partir do século do iluminismo, se deu a necessidade de encontrar um
conceito de crime fora do direito penal legislado, e no fundo, começou aqui a
busca de um conceito de bem, de valor jurídico capaz de funcionar como padrão
crítico da legislação que existe e da legislação do futuro. Como se pode
2018/2019 Rita Nina- FDUC 3
concretizar um bem jurídico? O caminho para solucionar esta interrogação é
através da dogmática de penal. Mas também surgiu na criminologia.
Os estudos da criminologia são fundamentais para a compreensão do
direito penal, é necessário nos percebermos da experiência do crime. Quando é
que o crime acontece na sociedade, o que é que a sociedade entende por crime? -
é isto que a criminologia estuda. Esta é uma área que pode ser vista como ciência
criminal, onde também entra outro domínio importante que aparece hoje muito
ligado à dogmática penal, sendo esta a política criminal – que soluções é que o
estado deve encontrar para lutar contra o crime? Quando o legislador penal
decide criminalizar um determinado comportamento, está a tomar uma decisão
baseada numa certa orientação política (política criminal). Orientação esta que é
de proteção, defesa da sociedade e outras finalidades.
Portanto está aqui em causa a criminologia, direito penal, direito
penitenciário, política criminal, como áreas da ciência global criminal. Em que
medida a definição do que é crime deve receber os contributos e influências
destas outras áreas? Que influência é que se deve dar? Deve haver influência
entre estas áreas? O direito penal, a dogmática penal deve ser absolutamente
estranha à influência criminológica? O direito penal deve ser uma dogmática
pura (sem influências)? Se a resposta é uma afirmativa estamos muito perto de
justificarmos o positivismo, um puro legalismo. É neste sentido que, houve
autores que afirmaram que o direito penal é uma barreira intransponível da
política criminal. O direito penal não resistiu a manter esta posição de realidade
social.
Tornam estas funções do conceito de crime (e por aí próprio do direito
penal), se tornam inalcançáveis perante um conceito de crime como este. Assim
torna-se necessário procurar outras teorias.
Teoria sociológicas- perspetiva positivista-sociológica
Entretanto houve outras tentativas de definir o que é crime. Apareceram
teorias sociológicas do crime, em que nas quais, o que seria importante era
encontrar, através da multiplicidade das manifestações legais do crime, aquilo
que em termos de objetividade e universalidade pudesse ser considerado crime,
à luz da realidade social.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 4
Estas teorias procuraram fugir da ideia de que crime é aquilo que está na
lei, para procurar um crime natural. Historicamente a primeira teoria que se
desenvolveu foi a teoria de delito natural (Garofalo). O próprio nome é sugestivo,
dado que é um crime que existiria na sociedade independente das circunstâncias,
de exigências que existiria numa dada época ou de determinadas conceções de
uma dada sociedade. O delito natural resultaria da violação de sentimentos,
sentimentos estes fundamentais altruísticos, tais como a piedade (constituía o
sentimento geral violado pelos crimes contra as pessoas) ou a probidade
(constituía o sentimento violado contra o património). Assim se construiu a
noção de delito natural, a qual seria igual sensivelmente, para todos os povos,
que teriam como denominador comum, o facto de possuírem na sua base uma
conduta socialmente danosa.
Convém ainda mencionar, que a ideia de Garofalo de construção de um
“delito natural” merece ainda a nossa atenção para outro ponto de vista, ainda
hoje relevante: o de chamar a atenção para a circunstância de coexistirem:
Crimes cujas condutas são axiologicamente relevantes, porque lhes
preexiste uma valoração negativa do ponto de vista social, moral ou
cultural, antes de serem considerados como crime pelo legislador –
delicta naturaliter proba/ delicta in se; Garofale entendia que apenas este
grupo se devia considerar como crime.
Crimes cujo comportamento é constituído em ilícito, apenas pela sua
proibição pela lei, uma vez que as suas condutas são consideradas
axiologicamente neutras – delicta mere prohibita.
Qual é a vantagem de falarmos destas teorias sociológicas? Ainda hoje nós
nos servimos desta classificação. Quando se faz apelo a estes sentimentos
fundamentais da sociedade, no fundo eu estou a recorrer a algo que me vai dizer
o que é crime antes de o legislador penal criminalizar determinada conduta.
Além disso, foi com ela, que pela primeira vez se estabeleceu um conceito pré-
legal de crime.
A tentativa de definir materialmente o crime como unidade de sentido
sociológico, autónoma e anterior à qualificação jurídica-penal legal, passou a
constituir uma ideia base adquirida pela dogmática do direito penal. Ainda hoje,
uma parte da doutrina italiana, considera que o direito penal se encontra na
2018/2019 Rita Nina- FDUC 5
ofensividade ou no dano social causado às sociedades. Assim sendo os valores
fundamentais à vida em sociedade, permitem-nos através das ofensas aos
mesmos, preconizar uma tentativa de classificação e definição daquilo que pode
ser e deve ser crime- teorias de ofensividade- doutrina do Faria da Costa.
Encontramos, igualmente a conceção, porventura prevalente no pensamento
anglo-americano de ver no crime em sentido material, a expressão de um
princípio do dano, que Stuart Mill, considerava como fundamental da
criminalização e da consequente limitação do poder estadual.
Apesar de estas conceções serem algo louváveis, elas acabam por não ser as
mais corretas na determinação do conceito material crime:
Este conceito daquilo que é crime é capaz de ser demasiado vago, critica-
se a sua imprecisão. Não se foi capaz de determinar com precisão, no que
é que ao certo, consistiria em a ofensividade ou a danosidade sociais
determinantes da “essência de crime”.
Além disso, estas conceções revelam-se demasiado largas, para se
alcançar os limites da criminalização. A verdade é que, mesmo que se
possa concordar que todo o crime se traduz num comportamento
determinante de uma danosidade ou ofensividade social, nem toda aquela
danosidade deve legitimamente constituir crime.
o Por exemplo, o comportamento em geral (“chamar nomes”) está a
ofender as pessoas, a sua honra, contudo, em geral, não é crime
(sem conta com a injúria). Portanto só há criminalização quando se
provoca danos sociais, ou mesmo que cause, pode não configurar
necessariamente crime. Por exemplo a injúria é um
comportamento muito difícil de determinar o que é aceitável ou
que é um atentado à honra, aliás este crime está em vias de
extinção, ou de descriminalização.
A perspetiva moral (ético)-social
Uma outra via de compreensão daquilo que é crime, está relacionado com a
violação de valores ético-sociais elementares ou fundamentais. Esta
perspetiva dizia-nos que “a tarefa central do direito residira em assegurar a
validade dos valores ético-sociais positivos da ação” (Wezel); e que são so
2018/2019 Rita Nina- FDUC 6
“valores fundamentais de ordem social, consubstanciados em normas-ético
sociais, que ao direito penal cabe tutelar” (Jeschek).
Mas estes valores ético-sociais não servem para delimitar aquilo que é
direito penal. O autor que formulou esta teoria foi complementado por outros.
Estes valores mínimos correspondem aos valores que qualquer sociedade quer
ou pretende defender. Desta forma, o problema está no facto de esta conceção, se
basear numa atitude que está presente, de forma geral, no espírito das pessoas,
para quem o direito penal constituiria a tradução, das noções de pecado e de
castigo, vigentes na ordem religiosa, ou de imoralidade, e de censura da
consciência, vigentes na ordem moral.
Deste modo, obviamente que tal perspetiva não pode obter, na ordem
jurídica-penal, aceitação. Não é função do direito penal tutelar a virtude ou a
moral. Ademais, nem os seus instrumentos de que se serve para a sua atuação
(penas e medidas de segurança criminais), se revelam adequados, para fazer
valer no corpo social as normas de virtude e da moralidade. Nem ainda, por
outro lado, se encontram credenciados os tribunais e os magistrados, para a
aplicação do direito num tal sentido – as instâncias que se revelam adequadas
para tal são, unicamente, a “divindade” e a consciência.
Uma conceção deste teor é absolutamente inadequada, à estrutura e
exigências das sociedades democráticas e pluralistas dos nossos dias, pois uma
tal conceção não se adequa, de forma alguma, ao pluralismo ético-social das
sociedades contemporâneas, onde, em maior ou em menor medida, coexistem
zonas de consenso com zonas de conflito.
A perspetiva racional- função da tutela subsidiária de bens jurídicos
dotados de dignidade penal
A controvérsia acabada de referir, conduziu à introdução, nesta temática,
de uma perspetiva que se apelidou de Teoria teleológico-funcional e racional
– doutrina de Figueiredo Dias. Teleológico-funcional na medida em que, será a
função do direito penal que vai determinar aquilo que se deve incriminar. As
perspetivas políticas criminais são importante para definir o que é crime, e isso
está presente nesta doutrina. Aquilo que é crime, é aquilo que é funcional à
realização das finalidades do direito penal. É aquilo que serve de função do
2018/2019 Rita Nina- FDUC 7
direito penal. É uma função preventiva. O direito penal já não é visto como
uma barreira intransponível da política criminal, mas sim determinado no
seu conteúdo através da função que se pede ao direito penal que se
cumpra. Neste horizonte de compreensão o que se pede ao direito penal,
não é a realização de valores transcendentes, mas sim a realização de paz e
defesa na sociedade. E isso faz-se limitando os direitos numa medida
proporcional àqueles direitos que são infringidos. Sendo assim, ela é
racional, na medida em que o conceito material de crime, vem resultar da
função atribuída ao direito penal, de tutela subsidiária (ou de ultima
ratio) de bens jurídicos dotados de dignidade penal (bens jurídicos
penais) – bens jurídicos cuja lesão se revela digna e necessitada de pena.
Todavia, importa esclarecer uma séria de problemas e questões levantados
neste âmbito.
Evolução da noção de bem jurídico
Relativamente à noção de bem jurídico, há hoje, cum consenso
relativamente ao seu núcleo essencial. Antecipando desde já, a conclusão das
considerações seguintes, pode definir-se como bem jurídico: a expressão de um
interesse, da pessoa ou da comunidade, na manutenção ou integridade de um
certo estado, objeto ou bem em si mesmo socialmente relevante e por isso
juridicamente reconhecido como valioso.
O autor que pela primeira vez, apelou a esta noção foi Birnbaum, sendo que
visava com ela abranger um conjunto de substratos, de conteúdo iminentemente
liberal, que oferecessem base suficiente à punibilidade de comportamentos que
os ofendessem, tendo a noção assim um caráter individualista, identificador dos
bens jurídicos com os interesses primordiais do indivíduo (vida, corpo, liberdade e
património). Sendo que após esta compreensão deu-se facilmente a identificação
tendencial da noção de bem jurídico com os direitos subjetivos fundamentais da
pessoa individual.
Na segunda metade do século XX, houve uma importante viragem na
compreensão do conceito, dado o aparecimento do chamado conceito
metodológico, do bem jurídico de raiz exasperadamente normativista. Este
entendia o bem jurídico como meras fórmulas interpretativas dos tipos legais de
2018/2019 Rita Nina- FDUC 8
crime, capazes de resumir compreensivamente o seu conteúdo e de exprimir o
“sentido e fim dos preceitos penais singulares”.
Todavia, esta compreensão do nem jurídico deve hoje, ser rejeitada. Isto
porque, a atribuição ao bem jurídico de uma função puramente hermenêutica,
significaria, o seu esvaziamento de conteúdo e a sua transformação num conceito
legal-formal que nada adianta à fórmula da interpretação teleológica da norma.
Perderia assim, todo o seu interesse para a determinação do conceito material de
crime.
Uma conceção teleológica-funcional e racional do bem jurídico, exige dele,
que obedeça a uma série mínima de condições. O conceito de bem jurídico deve
traduzir:
1º Um conteúdo material- uma certa “corporização” para que se possa
configurar como indicador útil do conceito material de crime;
2º Padrão crítico- de normas constituídas ou a constituir, porque apenas
assim, é que ele pode ter a pretensão de se constituir como um critério
legitimador do processo de criminalização e de descriminalização – nesta
ascensão ele nasce como uma noção transcendente;
3º Deve ser político-criminalmente orientado- e nesta medida, intra-
sistemático relativamente ao sistema social e, mais concretamente ao
sistema jurídico-constitucional.
Posto isto, o problema é determinar, de que forma é que o conceito pode
obedecer a todas estas exigências e, ao mesmo tempo, tornar-se útil na tarefa da
aplicação prática de direito penal.
Bem jurídico, sistema social e sistema jurídico constitucional
Uma resposta passível ao problema acabado de formular é pedida
diretamente à teoria da sociedade, seja sob a forma de teoria crítica ou da
teoria do sistema social. Por exemplo, houve autores que afirmaram que, toda a
análise da questão tem de entrar em conformidade com o sistema social com
uma comunidade legitimado pela Lei Fundamental.
Assim, Augusto Silva Dias, levou a cabo uma tentativa de traduzir
diretamente categorias da teoria social em termos de validade/legitimação
jurídico-penal. Fazendo assentar esta nos seguintes pressupostos essenciais: o
2018/2019 Rita Nina- FDUC 9
“mundo da vida” por contraposição à “função” de um lado, a “interação
comunicativa” ligada ao “reconhecimento pessoal recíproco” do outro. O que
conduziria a definir bem jurídico como objeto de valor que exprime o
reconhecimento intersubjetivo e cuja proteção a comunidade considera essencial
para a realização individual do cidadão participante – este seria o domínio dos
delicta in se. Ficariam de fora todos os delicta mera prohibita, que não
pertenceriam ao mundo da vida e da experiência prática, mas revelam
unicamente razão de ser sistemática e contemplam lesões de meros interesses
funcionais.
Uma construção deste teor revela, os perigos de recurso direto a uma
teoria da sociedade para definição imediata dos termos de validade/legitimação
jurídico-penal. Uma tal construção acaba por retirar à CRP, ou pelo menos
minimiza de forma inadmissível, o papel diretor que lhe cabe materialmente da
ordem legal dos bens jurídicos-penais. Ademais não se encontra uma razão para
rescrever todo o direito penal positivo, extraindo dele a totalidade das infrações
sistémico-funcionais (Silva Dias- delicta mera prohibita) só por o serem.
A crítica que se deve dirigir-se a este conjunto de conceções é
principalmente a da sua insuficiência para os efeitos práticos da aplicação do
direito. Um apelo direito a este sistema torna impossível a concretização ao bem
jurídico. Tal apenas acontecer, quando se toma em conta, que os bens do sistema
social transformam e se concretizam em bens jurídicos dignos de tutela penal
através da “ordenação” axiológica jurídico-constitucional.
Assim, deve-se concluir que um bem jurídico político-criminalmente
tutelável existe ali, onde se encontre refletido num valor jurídico-
constitucionalmente reconhecido, em nome do sistema social total, e que desta
forma se pode afirmar, que preexiste ao ordenamento jurídico-penal. Isto
significa que entre a ordem axiológica jurídico-constitucional e a ordem legal dos
bens jurídicos verifica-se uma relação de mútua referência – relação de analogia
material que se fundará numa correspondência de sentido e de fins. Esta
correspondência, deriva da ordem jurídico-constitucional de constituir o
quadro obrigatório de referência e, ao mesmo tempo, o critério da atividade
punitiva do Estado. É nesta aceção que os bens jurídicos protegidos pelo
direito penal, devem considerar-se como concretizações dos valores
2018/2019 Rita Nina- FDUC 10
constitucionais expressa ou implicitamente ligados aos direitos e deveres
fundamentais e à ordenação social, política e económica. É por esta via que os
bens jurídicos se transformam em bens jurídicos-penais.
A forma de relacionamento entre a ordem axiológica constitucional e a
ordem legal dos bens jurídicos dignos de tutela penal, permite-nos realizar uma
distinção importante, sendo que a diferença radica essencialmente no diferente
âmbito de relacionamento do bem jurídico com a ordenação axiológica
constitucional:
Direito penal clássico/direito penal de justiça/direito penal
primário- encontra-se nos códigos penais.
o Os crimes do direito penal primário relacionam em último termo,
direta ou indiretamente, com a ordenação jurídico-constitucional
relativa a DLG das pessoas. Esta radica na zona autónoma do
Estado de proteção da esfera de atuação especificamente pessoal.
Direito penal administrativo/direito penal extravagante/direito
penal secundário- contido em leis avulsas.
o Os crimes de direito secundário relacionam-se essencialmente com
a ordenação jurídico-constitucional relativa a direitos sociais e à
organização económica – ex.: direito penal económico. Esta radica
na zona autónoma do Estado de proteção da esfera da atuação
social.
Em conclusão podemos afirmar que:
1. A tarefa exclusiva do direito penal como preservação das condições futuras da
livre realização da personalidade de cada um, poderá continuar a ser
favorecida no seu essencial. Sendo que a esta conclusão nos conduz a:
1.1. Relativamente à questão da legitimação do direito de punir estadual,
esta provém da exigência de que o Estado, apenas deve tomar, de cada
pessoa o mínimo dos seus direitos e liberdades que se revele
indispensável para o funcionamento da comunidade. A esta conduz
ainda:
2018/2019 Rita Nina- FDUC 11
1.1.1. Regra do Estado de direito democrático – o Estado apenas pode
interferir nos DLG de cada um, para assegurar os DLG de outros ou
da comunidade enquanto tal.
1.1.1.1. Caráter pluralista e laico do direito, que vincula a que o
Estado apenas possa utilizar meios punitivos próprios para
tutela de bens de grande importância da pessoa e comunidade e
nunca para o reforço de ordenações axiológicas transcendentes.
É tudo isto, que o 18º/2 CRP pretende dizer ao falar das restrições aos DLG.
E também o que o artg.40º estatui relativamente à proteção de bens jurídicos.
Podemos apontas diversas observações, que na verdade se tratam de
consequências, desta orientação:
Puras violações morais não conformam como tais a lesão de um autêntico
bem jurídico e não podem, por isso, integrar o conceito material de crime.
Exemplo paradigmático, trata-se da evolução do direito penal sexual. Este
deixou de ser considerado como um direito tutelar da “honestidade” ou
dos bons costumes (onde caberia a punibilidade de práticas sexuais que à
luz da moralidade social eram considerados “anormais”), para se tornar
num direito tutelar de um bem jurídico perfeitamente definido – bem
jurídico da liberdade e autodeterminação da pessoa na esfera sexual.
Proposições meramente ideológicas não conformam, igualmente,
autênticos bens jurídicos. Ex.: pôr em causa a pureza da raça, propagar
doutrina contrárias a uma certa religião, não pode constituir
legitimamente objeto de criminalização.
A violação de valores de mera ordenação social não deve constituir
também, por igual motivo, sendo estes subordinados a uma politica
estatal e por isso de tom claramente jurídico-administrativo.
Deve-se ainda sublinhar que, se a função do direito penal de tutela
subsidiária de bens jurídicos penais, se revela jurídico-constitucionalmente
credenciada (18º/2 CRP), então qualquer norma que não seja suscetível de se
discernir um bem jurídico penal claramente definido, terá como consequência a
sua nulidade por ser materialmente constitucional. Assim, uma das
consequências mais importantes desta orientação prende-se com o seu interesse
normativo-prático.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 12
Relativamente à jurisprudência do TC, não podemos afirmar que ele tenha
assumido uma posição clara, de saber se são inconstitucionais todas as
incriminações das quais não possa com razoável segurança afirmar-se que elas
se destinam à proteção de um bem jurídico-penal. Há decisões em que tal é
possível, duvidar deste entendimento, contudo existem outras onde esta
conceção está com bastante clareza.
O critério da necessidade ou da “carência” da tutela penal
A CRP consagra uma série de direitos fundamentais, sendo que estes se
tratam de direitos fundamentais clássicos e, a partir da história dos DF surgiram
os direitos sociais (prestação positiva por parte do estado) – ação positiva do
estado. Estes direitos também merecem proteção por parte do direito penal. Por
exemplo, há cada vez mais criminalizações no direito do trabalho. Esta ligação do
direito penal ao direito constitucional pode ser vista como um interposto que dá
alguma segurança à incriminação de comportamentos por parte do legislador
penal.
Esta legitimação constitucional do direito penal está só na consagração dos
DF? Os limites também se encontram na CRP? O artg.18º/2 da CRP é
fundamental, sendo considerado um princípio jurídico constitucional com
influência que determina o princípio político criminal, que por sua vez, orienta a
definição daquilo que é crime. Esta racionalidade vem de que, nós temos que
encontrar aquilo que é o valor suscetível de ser protegido no direito penal.
Isto porque, há que ter em atenção que, se na conceção teleológica-
funcional e racional vimos que não pode haver criminalização onde não se divise
a tutela de um bem jurídico penal, já o inverso não é o mesmo – sempre que
existe um bem jurídico digno de tutela penal, aí deve ter lugar a intervenção
correspondente. Como tal tem de se acrescentar outro critério que torne a
criminalização legítima,
Critério este que está implícito também no artg.18º, sendo este o critério da
proporcionalidade- o princípio político criminal da necessidade. Neste âmbito
o princípio da necessidade é equivalente ao princípio da carência de pena. Para
nós encontrarmos o crime não basta a dignidade penal, é necessário haver uma
carência de punição. O que é este juízo? É um juízo feito pelo legislador e é um
2018/2019 Rita Nina- FDUC 13
juízo sobre a não suficiência e a não atuação de todos os outros meios para
salvaguardar aquele valor constitucional. Isto independentemente de qualquer
ideologia, porque o direito penal não pode servir qualquer ideologia, pois se tal
fosse assim, estaria a privar os DF.
Desta forma, nesta aceção, o direito penal tem o princípio da ratio da
subsidiariedade de direito penal – também se traduz na ideia da
fragmentariedade. O direito penal constitui a última ratio da política social e a
sua intervenção é de natureza definitivamente subsidiária. Esta limitação da
intervenção penal deriva do princípio da proporcionalidade em sentido amplo,
que faz parte dos princípios inerentes do Estado de Direito. Uma vez que o
direito penal utiliza os meios mais oneroso para os direitos e liberdades das
pessoas, ele apenas pode intervir nos casos em que todos os outros meios da
política social se revelem insuficientes/inadequados. Quando tal não aconteça
aquela intervenção será acusada de contrariedade ao princípio da
proporcionalidade, sob forma de violação dos princípios da subsidiariedade e da
proibição do excesso. Ex.: inadequação das sanções penais para a prevenção de
determinados ilícitos, nomeadamente, sempre que a criminalização de certos
comportamentos seja fator de prática de muitas mais violações do que as que se
revela suscetível de evitar – consumo de drogas e álcool.
O direito penal não protege tudo, ou seja, ele é fragmentado no sentido de
que “protege ali, protege acolá”. Ex.: hoje em dia assistimos a um
desenvolvimento tecnológico acelerado, o que nos trouxe novos direitos,
portanto as novas incriminações têm de responder à proteção de valores que não
estão relacionados com as pessoas individuais. Um dos exemplos mais
significativos é o crime de manipulação de mercado- radicando na proteção de
confiança; outro exemplo é o crime ambiental que interessa às gerações futuras e
a vida na terra.
Cabe dizer, que este critério em princípio, caberá ao legislador ordinário
utilizar, e que apenas em casos gritantes é que poderá ser jurídico-
constitucionalmente sindicado.
O princípio da não-intervenção moderada e movimento da descriminalização
A restrição da função do direito penal à tutela de bens jurídicos-penais, por
um lado, e o caráter subsidiário desta tutela conduzem à justificação de uma
2018/2019 Rita Nina- FDUC 14
proposição político-criminal fundamental: para um domínio eficaz do fenómeno
da criminalidade, o Estado deve intervir o menos possível; e apenas deve intervir
na medida requerida pelo asseguramento das condições essenciais do
funcionamento da sociedade. A esta proposição dá-se o nome de princípio da
não-intervenção moderada. A este respeito convém destacar duas implicações:
No âmbito deste conceito, temos de eliminar todos os comportamentos
que não acarretam lesão ou perigo de lesão para bens jurídicos
claramente definidos; ou que mesmo que a acarretam, possam
razoavelmente ser contidos ou controlado por meios não penais. Esta
implicação está na base do movimento da descriminalização.
Os processos novos de criminalização – neocriminalização-, só devem
ser aceites, onde novos fenómenos sociais (antes inexistentes, ou sem
grande importância), revelem a emergência de novos bens jurídicos para
cuja proteção se revela indispensável, fazer intervir a tutela penal.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 15
II- Função do Direito Penal
O direito penal é a racionalização da resolução dos conflitos, uma
construção abstrata racionalizada e dogmática. É uma construção em que tanto
podemos ter apenas um agressor e uma vítima, como podemos ter vários
intervenientes. É, por isso, muito complexo e difícil.
A função do direito penal
Qual a sua finalidade? Vamos começar por pensar em crimes. Os crimes
têm de ser punidos. Então queremos saber qual a finalidade das penas, que se
inscrevem na categoria das consequências, aliadas às medidas de segurança. As
medidas de segurança (a privação da liberdade, por excelência) são aplicadas às
pessoas que cometem crimes, mas que são consideradas inabilitadas.
Então qual a função do direito penal? Aplicar penas.
Esta função engloba-se em duas grandes teorias:
1. Absolutas – retribuição
2. Relativas – prevenção
1. Finalidades e legitimação da pena
A função do direito penal no sistema dos meios de controlo social e na OJ
total apreende-se não só da natureza do seu objeto (facto ou comportamento
criminoso- crime), como também da especificidade das consequências jurídicas
que àquele se ligam- as penas e as medidas de segurança.
O problema das finalidades da pena criminal é um bastante antigo, tendo
já sido bastante discutido em várias vertentes. A razão de um interesse tão
grande prende-se como o facto de que esta questão constitui a questão do
destino do direito penal e o seu paradigma, dado que as finalidades da pena
estão ligadas a questões fulcrais da legitimação, fundamentação e função da
intervenção penal estatal.
Assim, a resposta a este problema é reconduzida a duas teorias:
A. Teorias Absolutas (ligadas essencialmente às doutrinas da retribuição
ou expiação) - a pena como instrumento de retribuição
2018/2019 Rita Nina- FDUC 16
Para este grupo de teorias, a essência da pena reside na retribuição,
expiação, reparação ou compensação do mal do crime e é nesta essência que
a pena se esgota. Contudo, a pena pode ainda assumir determinados efeitos
reflexos socialmente relevantes (intimidação da generalidade das pessoas,
neutralização dos delinquentes, ressocialização), sendo que esses efeitos não se
contendem com a essência da pena, nem sequer são suscetíveis de a modificar.
Isto porque, a essência e natureza da pena é a justa paga do mal que com o crime
se realizou (função do facto que no passado se cometeu). Desta forma, a medida
concreta da pena apenas vai ser encontrada em função da correspondência
entre a pena e o facto.
Segundo esta teoria, as outras teorias que entendem que o facto seja um
mero ensejo de aplicação, falham completamente ao lado da natureza e essência
da teoria, porque apenas deste modo é que se corresponde, à dignidade histórica
que a pena desde sempre teve: castigo ou expiação do mal de um crime.
Relativamente ao fundamento desta doutrina, este centrou-se durante
muito tempo na forma como deveria ser determinada a compensação ou a
igualação a operar entre o mal da pena e o mal do crime, que gerou muita
controvérsia e discussão. Porém, hoje podemos afirmar que a controvérsia
terminou, entendendo-se que a compensação de que a retribuição se nutre,
apenas pode ser função da ilicitude do facto e da culpa do agente. Este
fundamento é explicado por:
Desde logo por esta doutrina se reivindicar das exigências da Justiça,
sendo que essas implicam que cada pessoa seja tratada segundo a sua
culpa.
O que está em causa é tratar o homem segundo a sua dignidade e
liberdade pessoais, então isso conduz diretamente ao princípio da culpa
como máxima de todo o direito penal humano. Segundo este princípio,
não pode haver pena sem culpa e a medida da pena não pode em nenhum
caso ultrapassar a medida da culpa.
o Importante mencionar que isto não significa que a toda a culpa,
supõe pena, apenas vai supor pena, aquela que acarrete a
necessidade de pena. Neste plano, podemos afirmar que a culpa é
pressuposto e limite da pena, mas não o seu fundamento.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 17
É aqui que reside o mérito destas doutrinas, pois a concepção retributiva
erigiu o princípio da culpa como o princípio absoluto de toda a aplicação da
pena e, deste modo, levantou um veto incondicional à aplicação da pena criminal
que viole a dignidade da pessoa.
Esta doutrina, porém, deve ser recusada, sendo ela passível de diversas
críticas:
1) Desde logo, ela não é verdadeiramente uma teoria dos fins da pena. O que
ela visa é a consideração da pena como uma entidade independente dos
seus fins.
2) Ela é inadequada à legitimação, fundamento e ao sentido da
intervenção penal. O Estado apenas pode furtar a cada pessoa o mínimo
indispensável de DLG, para assegurar os direitos dos outros e, com estes o
da comunidade. Para o cumprimento disto, a retribuição ou a
compensação do mal acabam por constituir meios ilegítimos. O Estado
democrático não se pode afirmar, como uma entidade sancionatória do
pecado e vício, mas sim como uma entidade que se limita a proteger os
bens jurídicos. Desta forma, ele não pode servir-se de uma pena que está
dissociada de fins, como a pena da teoria absoluta.
3) Esta doutrina afirma que uma pena retributiva esgota o seu sentido no
mal que faz sofrer ao delinquente como compensação do crime. Ou seja,
ela é uma doutrina social-negativa, por acaba por se revelar estranha a
qualquer tentativa de socialização do delinquente e de restauração da paz
jurídica da comunidade afetada pelo crime. Esta doutrina acaba por não
querer nada com uma atuação preventiva no fenómeno da criminalidade.
B. Teorias relativas- a pena como instrumento de prevenção
Estas teorias, por seu lado, são teorias de fins. Elas também reconhecem
que na sua essência está o mal que a pessoa sofre. Contudo, sendo a pena um
instrumento político criminal destinada a atuar no mundo, ela não pode
solenemente basear-se apenas naquela característica. Para que a pena
verdadeiramente se justifique, a pena tem de usar esse mal para alcançar a
finalidade de toda a política criminal- a prevenção criminal. Só deste modo é
2018/2019 Rita Nina- FDUC 18
que a pena (instrumento) é que se vai verdadeiramente adequar à função do
direito penal de tutela subsidiária de bens jurídicos.
A crítica geral que se faz a esta teoria, é mais proveniente de adeptos das
teorias absolutas, que afirmam que ao se aplicar penas a seres humanos em
nome de fins utilitários ou pragmáticos que se pretendem alcançar no contexto
social, elas estariam a transformar a pessoa humano num objeto, já que dela se
serviriam para finalidades heterónomas, e nesta medida se violava a sua
eminente dignidade.
Será que esta crítica tem um real fundamento? Não, simplesmente pelo o
facto de que se dessemos razão á crítica então, teríamos de concluir pela
ilegitimidade total de todos os instrumentos destinados a atuar no campo social
e a realizar finalidades socialmente úteis. A verdade é que para o funcionamento
da sociedade, cada pessoa tem de prescindir de direitos que lhe assistem, em
determinada medida, e que lhe são conferidos em nome da sua iminente
dignidade. Em consequência, a questão da preservação da dignidade da pessoa é
estranha às questões das finalidades da pena, devendo ser por isso, resolvida
independentemente dela.
Poderá agora perguntar-se se a aplicação da pena não se tem que fazer em
termos que respeitem àquela dignidade. A resposta é necessariamente
afirmativa, contudo este é um problema que não diz respeitos aos fins da penas
mas sim aos seus limites, que irão impor certas condições da sua aplicação.
Agora que já vimos as considerações gerais das teorias relativas, temos de
as analisar em dois grupos de doutrinas:
a) Doutrina da prevenção geral
O denominador comum das teorias da prevenção geral radica na concepção
da pena como um instrumento político-criminal destinado a atuar sobre a
generalidade dos membros da comunidade, afastando-os da prática de crimes
graves através da ameaça penal estatuída pela lei, da realidade da sua aplicação
e da efetividade da sua execução.
Esta atuação estatual assume, porém, uma dupla perspetiva:
Prevenção geral negativa ou de intimação- a pena é concebida como
uma forma estatalmente acolhida de intimidação das outras pessoas
2018/2019 Rita Nina- FDUC 19
através do sofrimento que com ela se inflige ao delinquente, e cujo receio
as irá conduzirá a não cometer factos puníveis.
Prevenção geral positiva ou de integração- a pena é concebida como
uma forma de que o Estado se serve para manter e reforçar a confiança da
comunidade, na validade e força de vigência das suas normas de tutela de
bens jurídicos, e assim no ordenamento jurídico-penal. A pena é assim
vista como um instrumento para revelar a toda a comunidade, a
inquebrantabilidade da ordem jurídica. Estando presentes
determinados efeitos nesta prevenção:
o Efeito de confiança;
o Efeito de aprendizagem- resultante da demonstração dos custos do
facto punível;
o Efeito de integração verdadeira e própria- resolução do conflito
social suscitado pelo crime;
O ponto de partida das doutrinas de prevenção geral é prezável, logo
pelo o facto de que ele corresponde à função do direito penal de tutela
subsidiária dos bens jurídicos. Assim, compreende-se que do ponto de vista
desta teoria, se exija da pena uma atuação preventiva sobre a generalidade dos
membros da comunidade, seja no momento da sua ameaça abstrata, seja no da
sua concreta aplicação, seja no da sua efetiva execução.
Importante mencionar que o argumento da crescente criminalidade não
tem força argumentativa neste âmbito, dado que é indiscutível que uma tal
finalidade acaba por se cumprir em relação à maioria da população e caso este
argumento tivesse alguma razão, ele apenas poria em causa a efetividade da pena
e não a sua finalidade.
Relativamente às críticas desta doutrina, a que mais se aponta em relação a
ela, é a que já falamos nas teorias relativas. Embora esta, como já vimos, tratar-se
de uma teoria improcedente, ela aponta uma fragilidade teórica e prática desta
doutrina quando considerada no seu cariz negativo (intimidação da
generalidade dos cidadãos):
Quer porque, não é possível determinar o quantum de pena necessária
para alcançar tal efeito;
2018/2019 Rita Nina- FDUC 20
Quer porque, se não se erradicar logo o crime, haverá uma maior
tendência para a próxima vez se aplicar uma pena mais severa e mais
desumana, podendo chegar ao ponto de o direito penal se transformar
num direito penal do terror completamente desproporcional.
Este argumento, contudo, já não será procedente se a prevenção se
perspetivar na sua vertente positiva (com o objetivo da restauração da paz
jurídica):
Este critério irá permitir que se encontre uma pena (moldura punitivo)
que, à partida, será uma pena justa e adequada à culpa do delinquente.
A medida concreta da pena a aplicar a um delinquente, sendo embora
fruto de considerações de prevenção geral positiva, deve ter limites
inultrapassáveis ditados pela culpa, que se inscrevem na vertente do
Estado liberal democrático e que se erguem justamente em nome da
inviolável dignidade pessoal.
b) A doutrina da prevenção especial ou individual
As doutrinas da prevenção especial ou individual têm como denominador
em comum, a ideia de que a pena é um instrumento de atuação preventiva sobre
a pessoa do delinquente com o fim de evitar que, no futuro, ele cometa novos
crimes. Neste sentido fala-se de uma finalidade de prevenção de reincidência.
Surge no entanto, divergências no que toca a de que forma é que a pena deve
cumprir a sua finalidade. Qual a finalidade da pena na teoria da prevenção
especial?
Prevenção especial negativa ou de neutralização:
o Para alguns entendeu-se que a correção dos delinquente seria uma
utopia e como tal, a prevenção especial apenas se poderia dirigir à
sua intimidação individual, de modo a que ele não cometesse mais
crimes.
o Para outros a prevenção especial pretendia alcançar um efeito de
pura defesa social através da separação ou segregação do
delinquente, procurando-se então obter a neutralização da sua
perigosidade social.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 21
No outro extremo estão aqueles autores que consideram que a finalidade
a alcançar a reforma interior (moral) do delinquente, lograda através
da sua adesão íntima aos valores que conformam a OJ. Bem como aqueles
outros que consideravam, que a finalidade estava no tratamento das
tendências individuais que conduziam ao crime (como se trata um
doente).
Com efeito, o que se deve tratar relativamente ao efeito da prevenção
especial, é criar condições necessárias para que ele possa no futuro
continuar a vida sem cometer crimes. Sendo que esta concepção tem
muito mais respeito pelo delinquente e pelo seu modo de ver a vida e o
mundo. É assim que podemos afirmar que a finalidade preventivo-
especial da pena se traduz na prevenção da reincidência. Portanto todas
as teorias preventivas especiais acabam por se reconduzir no propósito
de reinserção social do delinquente, como tal são consideradas como
doutrinas da prevenção especial positiva ou de socialização.
O pensamento da prevenção especial, nomeadamente quando se assume
como prevenção especial positiva, é indispensável. Este revela uma particular
sinfonia com a função do direito penal, dado que a única tutela que se
pretende é a tutela de prevenção de reincidência. Acresce ainda a isto que, o
Estado apenas se afigura como uma instância legitimadora para aplicar ao
delinquente uma pena, quando esse mal possa ser completado com um caráter
social-positivo; e mesmo nos casos em que a socialização se revele inalcançável,
basta que os interesses da generalidade prevaleçam sobre o mal que a pena faz
sofrer ao delinquente (defesa social). Além disso o Estado tem ainda o dever de
auxiliar os membros da comunidade colocado em situações de necessidade e
carência social, oferecendo-lhes os meios necessários à sua (re)inserção social.
A teoria da prevenção individual configura-se assim, uma componente
irrenunciável das finalidades da pena. Contudo este pensamento não se deixa
de debater com algumas dificuldades, que quando não ultrapassadas, podem
levar a sua condenação. Em que sentido? Sabemos que, este pensamento tem
diversas formas e cujo sentido fundamental não é unívoco.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 22
Hoje nós recusamos a acepção de prevenção especial no sentido de
correção ou emenda moral do delinquente, tal como o do paradigma médico ou
clínico da prevenção especial (sempre que seja um tratamento coativo), dado
que essa seria uma tarefa que violaria a liberdade de autodeterminação do
delinquente e assim princípios constitucionais imperativos, como o da dignidade
pessoal. Assim concluímos que, apenas o conteúdo mínimo de socialização,
(prevenção de reincidência) é que poderia ser aceite num direito penal de um
Estado de Direito.
Nota: Mesmo nesta acepção que vimos como aceite, ela não se pode
assumir como finalidade única da pena. Repare-se que se assim fosse, a
pena deveria durar pelo o tempo que ainda persistisse a perigosidade de
o delinquente repetir o crime. Isto poderia levar à solução desequilibrada
de se aplicarem a pequenos delitos (ex.: burla, crime que algumas pessoas
têm uma especial tendência) penas de segurança perpétuas.
Por fim, o pensamento da prevenção individual positiva depara-se com
dificuldades nos casos em que uma socialização se mostra desnecessária.
Nesta situação também concluímos que este pensamento não pode ser tido como
finalidade única de pena, sendo que nos casos em que o delinquente não se
mostre carente de socialização, a solução é uma prevenção especial negativa de
pura defesa social. No entanto tais casos são muito menos frequentes do que
aquilo que certa doutrina supõe, especialmente nos crimes económicos,
nomeadamente nos de “colarinho branco” a alegação de que estes indivíduos
não carecem de socialização deve ser contra-argumentado, dado que estes
crimes como fraude fiscal, atuações ilícitas sobre o mercado, também revelam
em si um defeito de socialização do agente e que implica para o Estado o dever
de pôr à sua disposição os meios para prevenir a sua reincidência.
A “concertação agente-vítima” e a reparação de danos
Atualmente, refere-se cada vez mais, a possível concertação entre o agente
e vitima através reparação dos danos (morais e patrimoniais) causados pelo
crime, como uma nova e autónoma finalidade da pena.
O direito português confere a todo este pensamento um relevo bastante
particular: ele considera a reparação do dano como condição de legitimidade de
2018/2019 Rita Nina- FDUC 23
aplicação de certas “penas de substituição) (artg.51º-1) ou como condição da
“dispensa de pena” (artg.74º-1 b)), para além de admitir ao lesado que este peça
a reparação de danos civis no próprio processo penal (artg.71º ess e 82º-A do
CPP).
Temos de ter em consideração que esta concertação agente-vítima apenas
pode ter o sentido de contributo para o restabelecimento da confiança e da paz
jurídica abaladas pelo crime. Caso contrário, poderíamos estar a correr o risco de
que o sancionamento penal ficasse em rigor, numa larga e inadmissível
disponibilidade da vítima ou do agente. Sendo assim, esta nunca será uma
finalidade geral da pena.
C. Teorias mistas ou unificadoras
Nas últimas décadas, as teorias sobe as finalidades da pena têm radicado
mais em tentativas de combinar as doutrinas atrás referenciadas. Contudo,
temos de considerar com alguma autonomia, dois grupos de teorias mistas ou
unificadoras, consoante estas estejam mais centradas na ideia retributiva ou
unificadora.
1) Teorias em que reentra ainda a ideia de retribuição
Trata-se de uma pena retributiva, no seio da qual procura dar-se
realização a pontos de vista de prevenção, especial e geral (pena preventiva
através de justa retribuição). Está presente a concepção da pena, segundo a sua
essência (e nesta acepção primariamente), como retribuição da culpa e
subsidiariamente como instrumento de intimidação da generalidade e, na
medida do possível, da ressocialização do agente.
Esta concepção pode de algum modo ligar-se à teoria diacrónica dos fins da
pena, no momento da sua ameaça abstrata a pena seria, antes de tudo
instrumento da prevenção geral; já no momento da sua aplicação, ela surgeria
especialmente na sua veste retributiva; por fim, na sua veste executiva, ela
visaria predominantemente fins de prevenção especial.
Contudo este grupo de teorias unificadoras, relativamente aos fins das
penas, é inaceitável. Isto porque a ideia retributiva, está a chamar para as
finalidades da pena um vetor, que como já se referiu, não deve ser tomado em
consideração neste contexto: a retribuição ou compensação da culpa não é nem
2018/2019 Rita Nina- FDUC 24
deve ser, uma finalidade de pena. Isto porque ao considerarmos a ideia de
retribuição como “absoluta”, ela acaba sempre por ganhar predominância sobre
as outras ideias. Haverá ainda que sublinhar que quando se misturam doutrinas
absolutas com doutrinas relativas, fica definitivamente sem se saber qual o ponto
de partida para se encontrar o fundamento teorético e a razão de legitimação da
intervenção penal. Estas doutrinas são na verdade, irremediavelmente diversas e
provêm de concepções básicas demasiado diferentes.
2) Teorias da prevenção integral
O ponto de partida destas teorias, é o de que a unificação das finalidades
da pena só pode ocorrer através da prevenção geral e especial, com
exclusão de qualquer ressonância retributiva ou compensatória. Assim, tentou-
se atingir a concordância possível das ideias de prevenção especial e geral, ou
seja, a sua otimização à custa de mútua compressão, de modo a atribuir a cada
uma a máxima incidência na prossecução de um ideal de prevenção integral.
Também esta concepção deve ser globalmente recusada, dado que pelo o
facto de se negar à concepção retributiva legitimidade para entrar na
composição das finalidades da pena, elas acabam por concluir pela recusa do
pensamento da culpa e do seu princípio como limite do problema.
Consequentemente, fazem perder à intervenção penal o seu pressuposto e o seu
limite irrenunciável- o respeito pela dignidade da pessoa humana. Com esta
perda acaba por falhar também a própria questão das finalidades da pena
(preventivas).
Já a concepção de Roxin, não sofre da mesma crítica: ele concorda com o
ponto de vista defendido- a pena serve exclusivamente para finalidades de
prevenção geral e especial, contudo não se pode negar que a culpa é pressuposto
da pena e limite inultrapassável da sua medida. Desta forma, mesmo que se
renuncie à intervenção retributiva, não se poderá abandonar o pensamento e o
princípio da culpa na construção do facto punível e na legitimação da
intervenção penal.
Só que Roxin, também afirma que, a medida da culpa é dada não por um
ponto exato da escala penal, mas sim por uma moldura penal. E em princípio
será dentro desta, que o juiz deverá fixar a medida concreta da pena. O problema
é que com a construção de uma moldura penal, traz de novo a ideia de
2018/2019 Rita Nina- FDUC 25
compensação da culpa, a ideia mestra da retribuição, que reivindica o seu
regresso ao problema das finalidades da pena, degradando os próprios
propósitos preventivos, que deveriam ser únicos para meros corretores da
fundamental correspondência entre culpa e pena, minimizando-se assim o papel
principal que deveria caber à prevenção geral.
1.2- Finalidades e limites das penas criminais
A natureza exclusivamente preventiva das finalidades da pena
A base da solução aqui referida para o problema dos fins da pena, reside no
facto de que estas apenas podem ter natureza preventiva, não natureza
retributiva. O direito penal e o seu exercício pelo Estado fundamentam-se na
necessidade estatal de subtrair à disponibilidade de cada pessoa o mínimo, dos
seus DLG indispensável:
ao funcionamento da sociedade e à preservação de bens sociais;
e a permitir a realização mais livre possível da personalidade de cada
indivíduo enquanto membro da comunidade;
Se assim é, então também a pena criminal, só pode perseguir a realização
daquela finalidade, prevenindo a prática de futuros crimes.
Desta concepção básica, resulta que à pena devem-se assinalar tanto
finalidades de prevenção geral como de prevenção especial, sendo que umas
e outras devem coexistir e combinar-se da melhor forma e até ao limite possível,
dado que umas e outras têm o mesmo propósito- prevenir a prática de futuros
crimes. E nos casos em que as finalidades entrarem em conflito? A doutrina mais
recente veio afirmar que o problema do conflito das penas é o problema da
determinação da medida da pena e vice-versa.
Ponto de partida: as exigências da prevenção geral positiva ou de
integração
Primordialmente, a finalidade visada pela pena há de ser a tutela
necessária dos bens jurídico-penais no caso concreto (esta tutela não é
entendida numa perspetiva retrospetiva pela necessidade de tutela de confiança
e das expectativas da comunidade na manutenção da vigência da norma violada).
Podemos então assim afirmar que, uma finalidade primária da pena é o
2018/2019 Rita Nina- FDUC 26
restabelecimento da paz jurídica comunitária abalada pelo crime. Finalidade esta
que se cobre com a ideia de prevenção geral positiva ou prevenção de
integração e, que dá por sua vez, conteúdo ao princípio da necessidade da pena
(18º-2 CRP).
Afirmar então que, a prevenção geral e positiva ou de integração, constitui a
finalidade primordial da pena e ponto de partida para a resolução de eventuais
conflitos entre as diferentes finalidades preventivas traduz exatamente a
convicção de que existe uma medida ótima de tutela de bens jurídicos e das
expectativas comunitárias que a pena pretende alcançar. Medida esta que não
pode ser excedida, nomeadamente por exigências de prevenção especial,
derivadas de uma particular perigosidade do delinquente.
Contudo é verdade que esta medida ótima não fornece ao juiz um quantum
exato da pena, mas também sabemos que existem outros pontos ótimos em que
aquela tutela é efetiva e consistente e onde a pena concreta se pode situar, sem
que perca a sua função primordial de tutela dos bens jurídicos.
Podemos assim concluir que a prevenção geral positiva, fornece uma
moldura de prevenção dentro de cujos limites se podem e devem atuar
considerações de prevenção especial (e não a culpa como se tradicionalmente se
pensava- moldura de culpa). Fica assim esclarecida a questão a propósito da
prevenção geral na doutrina dos fins das penas- será que é lícito uma elevação da
pena por razões de prevenção geral negativa/intimidação? Esta questão fica
esvaziada de conteúdo, dado que a intimidação da generalidade, apesar de ser
um efeito a considerar dentro da moldura positiva, não constitui uma
finalidade autónoma da pena, podendo surgir apenas como um efeito lateral
da necessidade da tutela de bens jurídicos.
Ponto de chegada: as exigências da prevenção especial, nomeadamente da
prevenção especial positiva ou da socialização
Dentro da moldura ou dos limites consentidos pela prevenção geral
positiva ou de integração, devem atuar, pontos de vista de prevenção especial,
sendo que eles irão determinar, em última instância, a medida da pena. Isto
significa que releva neste contexto qualquer uma das funções que o pensamento
da prevenção especial realiza: seja a função positiva de socialização, seja
2018/2019 Rita Nina- FDUC 27
qualquer uma das funções negativas subordinadas e advertência individual ou de
segurança.
A medida de necessidade de socialização do agente é, no entanto, o
critério principal das exigências de prevenção especial, constituindo hoje o vetor
mais importante daquele pensamento. Contudo, ele apenas entrará em jogo se o
agente se revelar carente de socialização. Se tal carência não se verificar, tudo se
resumirá, em termos de prevenção especial em conferir à pena uma função de
suficiente advertência.
4.- A culpa como pressuposto e limite da pena
A retribuição, como se sabe, não tem grande influencia em matéria de
finalidades de pena, porém, já se pode dizer que foi graças a ela, que se pôs em
evidência, a essencialidade do princípio da culpa e do seu significado para o
problema das finalidades da pena. Segundo aquele princípio: “não há pena sem
culpa e a medida da pena não pode em caso algum ultrapassar a medida da
culpa”. A verdadeira função da culpa no sistema punitivo, reside numa
proibição de excesso. A culpa não é fundamento da pena, mas constituir o seu
pressuposto necessário e limite inultrapassável.
A função da culpa, é assim, por outras palavras, a de estabelecer o máximo
de pena ainda compatível com as exigências de preservação da dignidade da
pessoa e de garantia do livre desenvolvimento da sua personalidade nos quadros
próprios do Estado de Direito Democrático.
A verdade é que podem surgir conflitos bastante frequentes, entre a culpa
e a prevenção especial, seja negativa ou mesmo positiva, bem como entre a
culpa e a prevenção geral de intimidação. As razões de diminuição da culpa,
são em princípio, compreensíveis e aceitáveis e determinam que, no caso
concreto, as exigências de tutela de bens jurídicos e de estabilização das normas
sejam menores, isto porque, não seria aceitável que a tutela dos bens jurídicos
venha a situar-se acima daquilo que a culpa permitia.
Assim conclui-se, que toda a pena que responda adequadamente às
exigências preventivas e não exceda a medida da culpa é uma pena justa.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 28
5.- Em conclusão
Resumo da teoria penal defendida:
Toda a pena serve finalidades exclusivas da prevenção, geral e
especial;
A pena concreta é limitada, no seu máximo inultrapassável, pela medida
de culpa;
Dentro deste limite máximo ela é determinada no interior de uma
moldura prevenção geral e de integração, cujo limite superior é oferecido
pelo ponto ótimo de tutela dos bens jurídicos e cujo limite inferior é
constituído pelas exigências mínimas de defesa do ordenamento jurídico.
Dentro desta moldura de prevenção geral de integração a medida da pena
é encontrada em função de exigências de prevenção especial, em regra
positiva ou de socialização, excecionalmente negativa de intimidação ou
de segurança individuais.
A função da pena é proteger os valores essenciais à vida em comunidade,
proteger os bens jurídicos essenciais e que, por isso, chamamos de bens jurídico-
penais. A pena serve para integrar todos no respeito por estes valores.
E que valores temos ao nível do Código Penal? Quais são protegidos? Há
que ter a noção que estes mudam de acordo com a conceção política da época. O
Art.40º CP - consagra uma teoria da função do direito penal que vai ao encontro
de uma teoria preventiva geral e especial, que não é qualquer uma delas (nem
neutralização, nem indemnizatória / nem é positiva, nem negativa). Visa a
proteção do bem jurídico e a reintegração do agente na sociedade. O 40º/2 diz
que em caso algum a pena pode ultrapassar a medida da culpa. O CP expressa-se,
portanto, sobre a função do direito penal. Mas podemos afirmar que isso é uma
opção do legislador. É o problema da legitimação, o que é que legitima que isto
seja assim. É uma legitimação constitucional! O modelo constitucional legitima
este tipo de direito penal, que o legislador ordinário vazou no Art.40º. Assume
assim o princípio da legalidade penal.
Há outro artigo fundamental para esta legitimação: o art.18º CRP,
particularmente o 18º/2. A lei só pode restringir DLG nos casos expressamente
previstos na CRP, devendo as restrições limitar ao necessário para salvaguardar
outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. Há que haver
2018/2019 Rita Nina- FDUC 29
proporcionalidade em sentido amplo, ligada à função preventiva da pena (a pena
vem proteger o bem jurídico).
“O direito penal é uma amarga necessidade nas sociedades”
III- Limites do direito penal
Da função do direito penal, por um lado, e da específica natureza das
sanções criminais, por outro, derivam os limites materiais do próprio direito
penal. Mas estes limites por vezes deparam-se com graves dificuldades na sua
distinção, o que deriva sobretudo da circunstância de também em outros ramos
do direito, o legislador se servir de “penas”, que, todavia, assumem um caráter
não criminal. Vamos então agora prosseguir com a distinção entre direito penal e
direito de mera contraordenação social, relevante neste contexto.
1.- Direito penal e direito de mera ordenação social
Infração Sanções Legislativa Competência
processual
Direito Crime Penas e MS AR (165º/1 (MP) Tribunal
Penal (privação da c) CRP)
liberdade)
Direito de Contraordenação Coima Regime Administração
mera (exclusivamente geral AR (tribunal)
ordenação pecuniária) Tipificação
social AR
O próprio direito publico também abrange um conjunto de ramos jurídicos
em que o Estado tem poderes de punir. E os ramos em tal acontece, integra o
chamado direito público sancionatório, sendo que esse integra desde logo o
direito penal. E no direito penal, o que está em causa é o relacionamento dos
cidadãos uns com os outros, ou as relações entre os particulares e o poder público.
Esta característica própria do direito penal também é própria do direito
de mera ordenação social- abrange comportamento em que o estado vai punir
alguém por algo que fez na sua vida privada. O direito de mera ordenação social
2018/2019 Rita Nina- FDUC 30
abrange ainda outro ramo de direito, o chamado direito disciplinar- o estado
também exerce o poder punitivo sobre os particulares, mas que estes estejam
numa relação especial com o estado (funcionários públicos).
O direito de mera ordenação social também tem outras designações como
direito das contraordenações ou direito contraordenacional. Este direito surgiu a
partir do direito penal. Assim tem muitas coisas em comum com o direito penal,
como por exemplo, dirige-se a comportamentos que são impostos ou proibidos e
ameaçam-se esses com consequências, castigando-se algo que foi feito- ex.:
alguém deixa de prestar auxilio a alguém que está num estado grave, neste caso
o estado impõe que se preste auxilio, e se tal pessoa não o fizer pode sofrer
consequências.
1.1- Notas características do direito das contraordenações:
É um direito relativamente recente, surgindo em 1969, mas rapidamente
ganhou alguma extensão. Está praticamente em todos os domínios da vida social
(ex.: banca, consumo, seguros, ambiente, urbanismo, etc.). Visa contrabalançar
aquela natureza de ultima ratio de direito penal.
Há vários tópicos em que a diferença entre o Direito Penal e o direito das
contraordenações é marcante:
Em qualquer direito sancionatório há dois polos essenciais: a infração e a
sanção. No direito penal a infração designa-se crime, no direito das
contraordenações a infração designa-se contraordenação.
Porquê este nome próprio do direito das contraordenações? Pretendeu-se
diferenciar do direito penal, houve um esforço de autonomização de um
novo ramo de direito sancionatório para que este fosse distinto do direito
penal. O legislador por razões de segurança jurídica, adotou o critério
formal de distinção- artg.1º do regime geral das contraordenações
contraordenação é o facto ilícito punível com coima.
Quando estamos perante uma lei que associa a uma certa conduta, uma
pena de prisão estamos perante um crime; agora se associa a uma
determina conduta uma coima, estamos perante uma contraordenação
o Ex.: conduzir sob o efeito de álcool até antes de 1,2 é uma
contraordenação, mas se passar do limite já é crime.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 31
O regime jurídico para cada um dos casos é distinto – outro pólo
diferenciador é relativo às sanções.
o No Direito penal, as sanções são as penas e as medidas de
segurança – ameaça de privação de liberdade. Ex.: quem comete
homicídio está sujeito a uma pena de prisão de 16 anos. Contudo
mesmo nos casos em que a pena seja uma multa, há uma ameaça
de privação de liberdade pois quem não pagar a multa pode ser
preso. As penas criminais têm sempre a privação de liberdade
como pano de fundo.
o No direito das contraordenações, as sanções são designadas
coimas. A coima distingue-se das penas criminais em função da
questão da liberdade das pessoas. Enquanto que as penas criminais
levam sempre uma ameaça de privação de liberdade, a coima
nunca leva em si uma ameaça de privação de liberdade, por isso se
diz que, a coima é uma sanção exclusivamente pecuniária
porque dela nunca pode resultar a privação de liberdade. Ao
contrário do que acontece com a multa nas penas criminais, se
alguém não pagar a coima, isso não acarreta pena de prisão (a
própria constituição proíbe isso- artg.27º CRP).
Aquilo que caracteriza o direito das contraordenações é uma larga
autonomia do regime jurídico face ao DP. Existe toda uma série de aspetos que
distingue aqueles dois. É este interesse de criar um direito sancionatório com
soluções diferentes que está na base da criação do direito das contraordenações.
Em matéria penal há uma certa competência atribuída à AR (165º/1 c))
para toda a matéria penal e processual penal, portanto só a AR é que pode
legislar em matéria penal. Já no direito das contraordenações é diferente
(165º/1 b)) - só reserva a competência para legislar no que respeita ao
regime geral da ordenação social, portanto no que diz respeito à criação
de novas infrações, desde que elas fiquem no âmbito definido pelo regime
geral, já existe uma competência concorrente (governo e AR). O
processo legislativo é muito mais simples no âmbito das
contraordenações do que no criminal, o que permite a sua expansão. Esta
diferenciação do regime decorre da própria CRP.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 32
Outro aspeto importante da distinção prende-se com a competência
processual, ou seja, por exemplo o código penal prevê um determinado
crime e se uma pessoa é apanhada em flagrante, vai-se abrir um processo.
Só apenas o Estado é que tem competência para abrir este processo. Uma
característica fundamental do processo penal é o princípio da reserva do
juiz – só o tribunal é que tem competência para responsabilizar alguém
criminalmente. Os tribunais penais apenas julgam, no âmbito do processo
penal, os casos levados pelo MP – o MP acusa e os tribunais julgam. Esta
diferenciação de papéis é por razões de imparcialidade- artg.32º/5-
separação de funções de quem julga e acusa.
No processo das contraordenações é diferente. Em regra, quem tem
competência para promover o processo, investigando, julgando e
decidindo é a Administração. Esta é a diferença basilar entre o direito
penal e o direito contraordenacional. O facto de que a competência para
decidir pertencer à AP e não ao tribunal repercute-se de forma
substancial, nas garantias da pessoa de que é alvo o processo. A pessoa do
processo criminal tem muito mais garantias do que uma pessoa do
processo contraordenacional. Além disto, o processo contraordenacional
caracteriza-se por uma concentração de funções. É por causa disto que
houve a necessidade de criar um ramo sancionatório que pudesse ser da
competência administrativa, de forma a aliviar o encargo dos tribunais.
Quando se ameaça alguém de uma sanção leve as garantias podem ser
menos fortes, enquanto se estivermos perante uma ameaça mais grave,
naturalmente que as garantias terão que ser maiores.
Ao nível processual as diferenças como vimos são substanciais. Mas
também ao nível substantivo existem sérias diferenças. O que é que justifica
que os crimes e as contraordenações sejam tratados de forma diferente? Toda a
discussão das últimas décadas é justamente para justificar esta diferença. São
tratados de maneira diferente pois estamos a falar de coisas diferentes. Ex.:
discutiu-se a possibilidade se alguém poderia ser obrigado a entregar
documentos que a incriminassem – princípio da proibição da autoincriminação.
Isto no direito penal não poderia ser, por causa deste princípio, mas no direito
das contraordenações já pode.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 33
1.2 - Evolução do direito das contraordenações
Relativamente ao regime geral das contraordenações, as contraordenações
estão previstas em leis avulsas.
O direito das contraordenações surgiu no final da década de 70 e foi
aprovado por um governo, em que fazia parte o doutor Eduardo Correia, sendo
que este foi um grande impulsionador deste direito. O direito das
contraordenações está muito ligado à Escola de Penal de Coimbra.
Fundamentalmente o que foi feito, foi trazer para Portugal o modelo
legislativo alemão, já que o direito das contraordenações surgiu na Alemanha
para resolver o problema que surgiu na 2ª GM, sendo que no pós-guerra sentiu-
se necessidade de abolir várias infrações penais. Na altura ocorreu o chamado
fenómeno da híper-criminalização, sendo que o legislador, ao abrigo de um
Estado social, deixou-se levar pelo aparato das sanções criminais ao serviços dos
mais variados fins da política social. Obviamente que tal não podia subsistir à luz
da política criminal, como tal, a consequência foi a da distinção entre as condutas
relevantes à luz da valoração de caráter ético-social. Assim surgiram as
contraordenações, que no seu conjunto formaram o direito de mera ordenação
social. Deste modo, extraiu-se do direito penal uma série de infrações que se
entendiam que não se deviam entregar nesse âmbito, de modo a purificar o
direito penal.
Para justificar a criação deste direito, era preciso encontrar razões
substanciais que justificassem essa diferença de tratamento e, foi neste contexto
que surgiu o chamado pensamento qualitativo- surgiram as teses qualitativas e
as teses quantitativas.
I. Teses qualitativas
Nas teses qualitativas defendia-se uma natureza material, substancial,
sendo que era justamente essa natureza que justificava a diferença de
tratamento. Foi com base no tratamento qualitativo, que se veio então defender a
diferença material entre os dois direitos que permitem então, as diferenças de
tratamento. No direito penal estão em causa bens jurídicos vitais para a
comunidade, enquanto que no direito contraordenacional, estão em causa
interesses administrativos, isto é, relação entre particulares e a AP. O direito das
2018/2019 Rita Nina- FDUC 34
contraordenações preocupa-se com a pura ordenação social, enquanto que o
direito penal tem uma carga ética e axiológica maior. Visto que, estamos a falar
de interesses distintos, há uma diferença fundamental, pois no direito das
contraordenações temos um individuo que ajuda o estado, já no DP o indivíduo é
“preguiçoso”, há uma censura maior, ele é censurado por aquilo que ele é – culpa
ética. No direito contraordenacional, a censura serve para ele ser chamado à
ordem (por ele não ter cumprido com os seus deveres).
Foi com este quadro de pensamento que o direito das contraordenações foi
criado e, na altura foi associado ao incumprimento de deveres. Este pensamento
inicial foi rapidamente ultrapassado. Na Alemanha, chegou-se à conclusão que
este pensamento não fazia sentido, pois o direito das contraordenações também
protege terceiros, a comunidade. Rapidamente na doutrina alemã se implantou
uma ideia dominante- pensamento quantitativo, em que o DP refere-se às
infrações mais graves enquanto que as contraordenações seriam aquelas menos
graves.
II. Teses quantitativas
No início da década de 60, estava-se a preparar uma reforma ao DP
português, e uma das peças fundamentais dessa reforma era arranjar um novo
ramo sancionatório, sendo que a reforma de Eduardo Correia acabou for ficar
arrumada por ser demasiado liberal para os tempos de ditadura.
Após o 25 de Abril, dá-se a grande reforma penal português. É neste
contexto que aparece o direito das contraordenações, para purificar o DP, de
forma a que o DP se dirigisse às violações mais graves. Só em 1982 é que é foi
formado um novo regime geral das contraordenações. Ponto importante a
mencionar é que não faz qualquer sentido haver uma categoria penal das
contravenções: ou um comportamento possui um comportamento possui
dignidade penal e constitui crime, ou não a possui e deve ser descriminalizado e
passar a ser meramente uma contraordenação. Portanto, assim se entende o
comportamento do legislador português, quando este revogou em 2006, as
normas relativas a contravenções, pondo termo à situação político-
criminalmente inadmissível, de terem continuado entre nós a vigorar até 2006
normas penais e processuais penais relativas a contravenções.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 35
O direito das contraordenações que temos hoje é principalmente fruto da
época da grande reforma penal após o 25 de Abril. No início este direito foi visto
com muita desconfiança, por isso foi necessário mostrar o porquê da sua
necessidade. Assim, Figueiredo Dias veio trazer um novo pensamento
fundamental para a compreensão deste direito, sendo que, o direito das
contraordenações é substancialmente distinto do DP. O TC foi confrontado
inúmeras vezes com objeções de inconstitucionalidade, e como tal, ele analisou
várias vezes este regime. Nesses acórdãos o que o TC fez foi exprimir a mesma
posição do Figueiredo Dias.
1.3 Fundamentos e sentido de autonomização do direito de mera
ordenação social
Figueiredo Dias diz-nos que a diferença é basicamente material, sendo que
elas se distinguem na medida em que no DP tendencialmente lidamos com
condutas eticamente relevantes (critério ético-social), são condutas que em si
mesmas são valiosas, por exemplo: não é preciso haver uma lei que proíba
roubar, para as pessoas saberem que roubar é errado. Por sua vez, no direito das
contraordenações, tendencialmente lidamos com condutas axiológico-
socialmente neutras, que por razões de ordem social, é necessário regular e é
através da intervenção do legislador que elas adquirem uma maior densidade
ética, já é visto como algo valioso. Ex.: alguém que permanece parado no
semáforo vermelho, se não houvesse alguma lei a proibir este tipo de
comportamento, este não teria valor social. Este é o critério decisivo que está na
base do princípio normativo fundamentador da distinção material entre o
ilícito penal e ilícito de mera ordenação social.
A censura penal é uma censura ética, segundo Figueiredo Dias, a pessoa
é censurada por aquilo que é. O facto de matar alguém mostra o que é. Quando é
sancionada criminalmente o estado está a mostrar que esta tem um carácter
desconforme com a sociedade. Agora, aquele que estaciona o carro em fora de
mão, mostra um descuido.
Também falta referir a natureza da sanção, sendo que como sabemos, a
sanção das contraordenações trata-se da coima, sendo uma sanção
exclusivamente patrimonial, que claramente se diferencia na sua essência e
2018/2019 Rita Nina- FDUC 36
finalidades, da pena criminal. Em todo o caso, a coima não se liga à personalidade
do agente e à sua atitude interna, mas sim serve como uma especial advertência
ou reprimenda. Deste modo, pode se afirmar que as finalidades da coima são em
larga medida estranhas a sentidos positivos de prevenção, nomeadamente de
prevenção especial de socialização. Por isso é que, a falta de pagamento da
coima, nunca poderia originar, a sua conversão em prisão subsdiária.
O direito das contraordenações cresceu, no sentido de que tem vindo a
crescer a figura das grandes contraordenações, podendo ser punidas com coimas
até 5 milhões de euros ou até 10% do volume de negócios de uma empresa. Aliás,
até foi criado um tribunal especial para as contraordenações. Porque é que isto
aconteceu? Após a década de 80, 90, houve uma alteração de paradigma com a
privatização e a liberalização das empresas (banca, luz, gás, etc). O direito das
contraordenações, atualmente tem um papel económico privilegiado. Mesmo em
sectores que não sejam económicos, assiste-se a um maior papel no quotidiano
dos cidadãos. Ex.: em práticas discriminatórias como alguém recusar uma
consulta com base na raça da pessoa (constitui contraordenação e não crime).
Temos atualmente um modelo misto (qualitativo/quantitativo) - há
condutas que de facto são contraordenação, não têm legitimidade penal. Assim,
apesar de não ter dignidade penal que justifique (qualitativa), existe uma
diferença quantitativa (em termos de valor a pagar de coimas). No penal é
possível restringir a liberdade, o que não ocorre nas contraordenações e é nisto
que reside a diferença material.
2.- Direito penal e direito disciplinar
O direito penal e as respetivas sanções conformam o domínio que de um
ponto de vista, aproxima-se do direito penal e das penas criminais. Os
comportamentos integrantes do ilícito disciplinar, ao contrário do que acontece
nas contraordenações, não se podem dizer que sejam axiologicamente neutros.
A essência do ilícito disciplinar e das medidas disciplinar encontram a sua
justificação no sentido que o serviço público assume nos quadros do Estado de
direito Democrático. O serviço público é hoje perspetivado pelo cumprimento de
uma função própria e insubstituível no processo dinâmico de integração das
2018/2019 Rita Nina- FDUC 37
funções específicas do Estado, estritamente subordinado ao princípio da
legalidade da Administração. Ou seja, o agente administrativo tem uma série de
deveres especiais, no sentido de que, a relação de serviço jurídico-pública é uma
relação de dever que serve o interesse público em nome da integridade e da
confiança. Será pela violação daquela relação de dever que, o agente comete um
ilícito disciplinar, e como tal fica sujeito a medidas disciplinar.
Quais são os critérios de distinção? O ilícito disciplinar, desde logo, é um
ilícito interno, exclusivamente virado para o serviço, que se pode constituir
quando ainda não se tenha verificado uma verdadeira lesão ou um abalo para a
Administração. Já o ilícito penal, relativamente aos crimes cometidos no
exercício das funções públicas, este constitui-se apenas quando se verifica uma
lesão ou perigo de lesão para aquela autoridade. Em segundo lugar, é indiscutível
que muitas violações dos deveres de serviço não assumem a gravidade suficiente
para serem ameaçadas com penais criminais, enquanto que já para outras a pena
criminal se revela necessária – nesta aceção também aqui as razões de
quantidade são suscetíveis de se tornar em razões de qualidade.
Contudo, há que admitir a hipótese de a medida disciplinar ser cumulável
com a pena criminal. Desde logo, não existe nenhum princípio que o proíba, o
princípio ne bis in idem é limitado à proibição de a pessoa ser julgada mais do
que uma vez por um crime (29º/5 CRP).
3.- Direito penal e direito processual
Sanções de ordenação processual, são medidas aplicadas a
comportamentos que violam a ordenação legal-formal de um processo ou
representam um abuso intolerável de poderes ou de situações processuais.
Assim, e no que respeita ao processo penal, podem ser aplicadas tais sanções a
quem por exemplo, regularmente convocado ou notificado, falte
injustificadamente a ato processual; a um perito substituído que o juiz considere
que violou grosseiramente os deveres que lhe competiam.
Às sanções processuais em questão, são em princípio estranhas, finalidades
de prevenção positiva, geral ou especial. O que fica, por isso, é simplesmente uma
ameaça, uma intimidação que esgota a sua finalidade, na observância das
formalidades legais do processo. Por outro lado, desempenha aqui papel
2018/2019 Rita Nina- FDUC 38
indisfarçável o princípio da subsidiariedade: trata-se nestas infrações, em si
mesmo consideradas, de ilícitos para sancionamento dos quais as sanções penais
não se revelam nem adequadas, nem necessárias.
4.- Direito penal e direito privado
Uma distinção de caráter geral, entre o ilícito civil e o ilícito penal não
apresenta particular relevo nas nossas preocupações.
Por sua vez, interesse tem em operar a distinção entre as penas criminais
e as penas privadas. Todas as sanções não criminais até agora, têm em comum
com as sanções criminais, o facto de, serem sanções jurídico-públicas, nas
quais o sancionado se apresenta perante o poder sancionatório numa relação de
subordinação. Diferentemente, o direito privado conhece sanções, baseadas
numa relação paritária, sendo estas as sanções privadas, fundadas na
submissão voluntária dos interessados do poder sancionatório (exemplo:
cláusula penal).
2018/2019 Rita Nina- FDUC 39
IV- A lei penal (o princípio da legalidade criminal) e
a sua aplicação no tempo e no espaço
1.- O princípio da legalidade criminal
1.1- O princípio nullum crimen nulla poena sine lege
O princípio do Estado de direito conduz, a que a proteção dos DLG, seja
levada a cabo não apenas através do direito penal, mas também perante o direito
penal. Neste âmbito vigora o princípio da legalidade criminal nullum crimen
nulla poena sine lege – não há crime nem pena sem lei prévia, escrita, estrita e
certa. Um comportamento só pode ser classificado como crime, um agente só
pode ser sancionado com uma pena, com base na lei. Se não houver lei, por mais
chocante que seja o comportamento não pode haver sanção criminal.
Este princípio é de tal modo importante que está consagrado no
artg.29º/1 CRP e está consagrado também no código penal no artg. 1º. Este é um
princípio que visa proteger o cidadão face ao Estado, ele está consagrado no
capítulo das DLG e também como DF, pretendo então proteger o cidadão perante
o poder punitivo do Estado. O que ele procura assegurar é que o poder punitivo
do estado não seja exercido de forma arbitrária e que ele haja do modo mais
racional. Antigamente as pessoas eram castigadas com base em costume sem que
houvesse normas que dissessem o que era ou não permitido, havia abusos de
poder punitivo. Progressivamente o princípio da legalidade criminal foi
instituído nos mais variados países e nos mais diversos tratados, sendo que foi
elevado aos mais diversos patamares, inclusive aos Direitos do Homem. Ex.: no
estado nazi, este princípio não existia. É um princípio que o cidadão pode valer-
se nas suas discussões com o estado.
Nullum crime sine lege, sendo que, por mais socialmente reprovável que um
comportamento seja, este apenas configura crime, quando o legislador o
considerar como tal. Esquecimento, lacunas, deficiências de regulamentação
acabam então por funcionar sempre contra o legislador e a favor da liberdade,
por mais evidente que se revele ter sido a intenção daquele de abranger na
punibilidade também outros comportamentos. A lei penal constitui a “magna
Charta do criminoso” (Liszt).
2018/2019 Rita Nina- FDUC 40
Exemplo ilustrativo: caso ocorrido nas Filipinas, em que o cidadão que a
partir desse país difundiu o vírus informático “I love you”, deixando danos
irreparáveis no mundo inteiro, tendo escapado impune devido à
inexistência de um qualquer tipo legal de crime na OJ do seu país que
previsse e punisse tal conduta.
A fórmula, “não há crime sem lei” é complementada, por sua vez, pela nulla
poena sine lege – não há sanção criminal, pena ou medida de segurança sem lei.
Desde logo, este princípio tem expressão e consagração jurídico-constitucional e
legal (29º/3 CRP). Este princípio veda ao juiz, a criação de instrumentos
sancionatórios criminais que não se encontrem estritamente previstos na lei
anterior.
Enquanto que há princípios que estão sujeitos a transações e a exercícios
de concordância pratica, este princípio é absoluto. Compreende-se que o âmbito
de aplicação do princípio se circunscreve apenas àquelas normas penais que
sejam prejudiciais para o quadro da intervenção penal. O princípio da legalidade
só vale quando esteja em causa o fundamento da responsabilidade penal. Se pelo
o contrário, estiver em causa atenuar ou excluir a responsabilidade criminal (a
favor do individuo), já não há razão para invocar o princípio.
Qual é a razão de ser do princípio? Radica no estado de direito e a título de
segurança jurídica, contudo há certos fundamentos externos (ligados à conceção
fundamental do estado) e outros fundamentos internos (natureza
especificamente jurídico-penal), que importa analisar.
Fundamentos externos:
Princípio Liberal- qualquer restrição de DF tem de se basear numa lei. A
criminalização do comportamento implica uma limitação de direitos
fundamentais, e como tal esta tem de estar ligada a uma lei geral, abstrata
e anterior (18º/2/3 CRP).
Princípio democrático e Princípio da separação dos poderes- só o povo,
através dos seus representantes tem legitimidade democrática para
decidir aquilo que é proibido sob ameaça de pena.
Fundamentos internos:
Princípio da culpa e na própria finalidade das sanções criminais. De
acordo com o princípio da culpa só pode ser punido com a pena, aquele
2018/2019 Rita Nina- FDUC 41
que, foi censurado por algo que tenha feito. Ninguém pode ser punido por
algo que não fez. Não são todos os casos em que a lei até permite que
certa pessoa seja responsável por uma determinada conduta praticada
por outra pessoa. Isto porque, se pressupõe que aquilo que aconteceu
representa uma expressão da sua vontade. Só se pode censurar alguém se
essa coisa tiver sido anteriormente prevista. As próprias finalidades das
sanções criminais só fazem sentido se houver uma lei prévia específica.
No julgamento dos casos penais, também o tribunal não pode aplicar uma
sanção que não esteja prevista. Quer a infração quer o crime têm de estar
previstas na lei- artg.29º CRP.
O princípio da legalidade assume consequências ou efeitos em 5 planos
diferentes: no plano do âmbito ou da extensão, no plano da fonte, no plano da
determinabilidade, no plano da proibição da analogia e no plano da proibição da
retroatividade. Cada um deles será agora considerado pormenorizadamente, em
relação aos subprincípios.
Este princípio conhece vários subprincípios:
Princípio da lei escrita
Princípio da lei certa
Princípio da lei estrita
Princípio da lei prévia
A. Princípio da lei escrita- o plano da fonte
De acordo com o princípio da lei escrita, só pode classificar-se como nome
penal aquele que resulta de uma lei foral e nessa medida proibisse o costume
como fonte incriminatória. Não se pode incriminar com base no “usus”. Toda a lei
penal é da competência da AR, assim na generalidade das leis penais são
aprovadas no seio da AR. O governo tem competência na medida em que consiga
autorização por parte da AR, mas é cada vez mais raro. Daqui resulta que só a AR
tem competência para incriminar comportamentos. Nas situações em que a AR
discrimina um comportamento ou que atenua a punição, o governo não pode agir
de forma contrária, não por força do princípio da legalidade, mas sim por força
do princípio da separação de poderes, visto que a AR é o órgão supremo em
matéria criminal.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 42
Outro problema é de saber se a exigência de legalidade no plano da fonte
deve apenas abranger a lei penal strictu sensu ou também a lei extrapenal, na
medida em que esta venha a ser chamada à fundamentação ou à agravação da
responsabilidade criminal. Muitas vezes, a lei penal serve-se de procedimentos
de reenvio para esta fundamentação ou agravação para outros OJ (civil,
administrativo, fiscal, etc.), sendo que nestes ordenamentos não vale um
princípio de legalidade equivalente ao que aqui se considera, e por conseguinte, o
Governo e a Administração têm competência geral para legislar. Também nas
normais penais em branco, não se considera o respeito pelo princípio da
legalidade, já que estas, devem constar de lei formal e como tal não se afigura
razões teológicas decisivas para considerar o princípio. Isto também vale para os
regulamentos comunitários, sendo estes direitamente aplicáveis na nossa
ordem, são chamados para preencherem, por remissão, o “espaço em branco” de
uma norma penal interna. Já relativamente às diretivas comunitárias e decisões-
quadro, visto que estas carecem sempre de transposição, vai caber sempre o
princípio da legalidade.
B. Princípio da lei certa- plano da determinabilidade
O Princípio da lei certa diz-nos que a lei penal deve ser precisa, ela impõe-se
assim ao legislador, por questões de segurança jurídica, de modo a que os
cidadãos possam ficar bem cientes daquilo que possam fazer. E neste sentido,
não poderão admitir-se leis de conteúdo vago e indeterminado. Ou seja, importa
que a descrição da matéria proibida e de todos os outros requisitos de que
dependa em concreto uma punição, seja levada até um ponto em que se tornem
objetivamente determináveis os comportamentos proibidos e sancionados.
Para que uma norma penal cumpra o princípio da determinabilidade, não é
necessário que o legislador utilize uma linguagem que seja percetível para a
maioria das pessoas. O que ele tem de fazer é tipificar uma determinada conduta,
em que claramente seja percetível aquilo que é proibido. Isto porque é frequente
que se use termos técnicos, os indivíduos apenas têm de entender aquilo que é
claramente proibido- ex.: abuso de confiança, qualquer pessoa sabe que não
pode abusar daquilo que lhe é entregue por ser confiado.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 43
Caso 1- (inspirado no acórdão nº397/2012) (ver os casos que ele mandou) A
Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira aprovou a seguinte
norma:
1.- Quem anunciar ou publicitar, vender ou ceder por qualquer forma,
substâncias psicoativas é punido com pena de prisão até 3 anos.
2.- Consideram-se substâncias psicoativas todas as substâncias de origem
natural ou sintética, em qualquer estado físico ou de um produto, planta
cogumelo, ou parte dela contendo substância, com ação direta ou indireta sobre
o sistema nervoso central, sem indicação específica para uso humano e cujo
fabrico ou introdução no comércio não seja regulado por disposições próprias.
Pronuncie-se sobre a validade constitucional destas normas.
Resolução 1- A assembleia legislativa da Madeira aplicou a norma x. A
questão que se coloca é de saber se uma norma destas é constitucionalmente
admissível à luz do principio da legalidade criminal. Ao lermos o acórdão, vemos
que se trata de normas aprovadas pela ALR, em que se densificaram não crimes,
mas sim contraordenações e o TC apreciou o problema à luz do princípio do
Estado de direito (2º CRP) e não à luz do principio da legalidade criminal (29º/1
CRP). Quando alguém alega que algo é inconstitucional temos sempre de
justificar pela violação de uma norma da CRP. Isto porque, o TC tem a tendência
para distinguir o direito penal do direito de mera ordenação social e de afastar
princípio penais de princípios de mera ordenação social.
No nosso caso prático, coloca-se de uma perspetiva penal que é tipificado
um crime e põe-se em 2 planos:
Primeiramente, dizemos que aquele comportamento é punido por uma
pena criminal e como tal isso é considerado um crime, sendo este o nosso caso.
Isto leva-nos para o princípio da legalidade criminal, dado que, este princípio
prevê que não há crime nem há pena sem lei e a questão é saber se esta lei é
conforme com isto. Temos uma lei regional, e é importante saber se a ALR da
Madeira tem competência para tipificar crimes, o que não é o caso devido ao
disposto no 165º (reserva da AR). O princípio da legalidade criminal tem o 1º
corolário da lei escrita e em primeiro lugar, resulta dele a proibição da tipificação
de crimes com base no costume. A responsabilização criminal por um certo facto,
tem de decorrer de uma norma geral e abstrata e essa norma legal tem de ser
2018/2019 Rita Nina- FDUC 44
emanada pela AR por força do artigo 165º/1 c) CRP. Significa isto que a AR tem
uma reserva relativa nesta competência e por isso em regra, apenas a AR é que
pode tipificar crimes e legislar em matéria processual penal (a ideia de que
apenas os representantes do povo é que têm legitimidade democrática e como tal
apenas eles é que podem legislar nesta matéria, ainda por cima, por estar em
causa DF das pessoas, desta forma tem de ser o parlamento). As ALR não têm
competência legislativa em matéria penal. Esta era uma das razões pela das quais
aquela norma x seria inconstitucional.
Lei escrita
O Governo também legisla em matéria penal se receber autorização da AR
para o efeito. Se ele legislar sem uma autorização válida, essa norma penal será
inconstitucional. Nos últimos 10 anos, a generalidade das revisões penais, são
aprovadas pela AR e muitas vezes elas são impulsionadas pelo governo através
de propostas de lei à AR e é a AR que as aprova. Isto tem acontecido porque
durante algum tempo, era o governo que legislava através de autorizações, mas
muitas dessas autorizações constavam de vícios que depois se remetiam para o
TC traduzindo-se num processo complicado e moroso, assim por razões de
segurança jurídica os governos passaram a tramitar o processo legislativo na AR
deste tipo de propostas.
Uma questão problemática é de saber se o governo tem legitimidade para
descriminalizar condutas antes tipificadas como crime pela AR. O princípio da
legalidade criminal obsta a uma ação legislativa desta natureza? Imaginemos que
temos uma norma da AR que criminaliza o casamento de homossexuais e o
governo como não concorda, ele vem revogar este crime, será que o princípio se
opõe a isto? O âmbito da proteção do princípio apenas vale naquilo que diz
respeito à fundamentação, ele vale para a proteção do cidadão e como tal ele não
pode ser invocado contra a proteção do cidadão. Esta ação do governo não é
proibida pelo princípio, mas tem se vindo a entender que, por força das relações
de equilíbrio de poder entre a AR e o governo, não pode o governo revogar uma
norma penal aprovada pela AR descriminalizando um comportamento antes
tipificado pela AR, por força de outras normas constitucionais, como o principio
da separação de poderes (e não pelo princípio da legalidade criminal).
Lei certa
2018/2019 Rita Nina- FDUC 45
Uma outra exigência é a Lei certa, uma lei determinada e precisa, que
permita aos seus destinatários conhecer aquilo que se pode fazer ou não sob
ameaça de pena. O princípio impõe que a lei penal seja precisa por razões de
segurança jurídica de modo a que os cidadãos saibam com aquilo que possam
contar. Leis imprecisas, vagas e genéricas, além de não cumprirem a função de
orientação dos comportamentos, uma lei vaga abre a porta ao arbítrio do estado
e perante isto torna-se difícil a sua interpretação, ou seja, aquilo que é crime e
aquilo que não é. Para evitar abusos do poder político do estado, as leis penais
devem ser certas e precisas. Ex.: caso do BdC que ficou detido vários dias sem
ser interrogado estes abusos ocorrem muitas vezes, sendo que o MP e os
juízes por vezes caiem na tentação de maximizar esta discricionariedade, daí que
sejam necessárias as leis serem precisas.
Para que uma norma penal cumpra o princípio da determinabilidade, não é
necessário que o legislador utilize uma linguagem que seja percetível para a
maioria das pessoas. O que ele tem de fazer é tipificar uma determinada conduta,
em que claramente seja percetível aquilo que é proibido. Isto porque é frequente
que se use termos técnicos, os indivíduos apenas têm de entender aquilo que é
claramente proibido- ex.: abuso de confiança, qualquer pessoa sabe que não
pode abusar daquilo que lhe é entregue por ser confiado. O seu conteúdo tem de
ser percetível.
No caso 1, estava em causa uma norma que concretizava o que era
substâncias psicoativas. Será que uma formulação deste tipo era consoante com
o princípio da liberdade criminal. Será que perante uma norma destas fica claro
quais as drogas que se podem vender? O que o TC veio a entender é que esta
norma não era constitucionalmente admissível, pois era demasiado ambígua e
não era suficientemente densa para que fosse entendido quais as substâncias é
que são proibidas de comercialização e publicidade (ex.: álcool, nicotina, são
substâncias que têm efeitos sobre o sistema nervoso central e estas são lícitas).
Apenas através de uma tabela que explicasse de forma precisa quais as
substâncias que o legislador tinha em vista, é que ficaria cumprida a exigência de
determinabilidade. Não havendo tabela, acabou por se censurar
constitucionalmente aquela lei.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 46
C. Princípio da lei escrita- proibição da analogia
Toma-se neste contexto o conceito de analogia como aplicação de uma
regra jurídica a um caso concreto não regulado pela lei, através de um
argumento de semelhança substancial com os casos regulados (analogia legis).
Isto em direito penal, tem de ser proibido por força do sentido do princípio da
legalidade, sempre que funcione contra o agente e vise servir a fundamentação
ou agravação da sua responsabilidade. Isto porque, senão fosse assim seria
quebrada a ideia de segurança jurídica que o princípio da legalidade criminal
visa proteger e, seria violado o princípio da separação dos poderes, visto que se a
analogia fosse permitida, na prática seriam os tribunais a “criar” as normas
penais e não o legislador (por analogia). Isto vale para o direito penal, mas
também se tem entendendo que do ponto de vista constitucional, também vale
para o direito processual penal.
A proibição da analogia, pressupõe a resolução do problema dos limites da
interpretação admissíveis em direito penal. É importantíssimo sabermos o que
pertence ainda à interpretação permitida e o que pertence já à analogia proibida
em direito penal pelo princípio da legalidade.
O critério de distinção teleológica e funcionalmente imposto pelo
conteúdo e sentido do princípio é o seguinte: o legislador penal é obrigado a
exprimir-se através de palavras, as quais, as mais das vezes, apresentam-se como
polissémicas. Daí que o texto legal se torne carente de interpretação, oferecendo
as palavras que o compõem, segundo o seu sentido comum e literal, um quadro
de significações dentro do qual o aplicador da lei se pode mover sem ultrapassar
os limites da interpretação. Caso o aplicador vá fora deste quadro,
independentemente do argumento que utilizar, ele estará no âmbito da analogia
proibida. Assim, este quadro, constitui um limite da interpretação admissível
em direito penal.
Exemplo: um caso muito discutido foi o de saber se a energia elétrica
poderia considerar-se uma “coisa móvel” para efeito de crime de furto.
Em Portugal, a jurisprudência respondeu afirmativamente a essa questão.
Assim, a doutrina aqui defendida trata-se da posição teleológica e
funcionalmente imposta pelo conteúdo de sentido próprio do princípio da
legalidade.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 47
D. Princípio da lei prévia- proibição da retroatividade
O plano em que, o princípio da legalidade criminal levanta mais problemas,
trata-se do da “aplicação da lei penal no tempo”. A lei penal, que fundamenta ou
agrava a responsabilidade penal apenas pode se aplicar para a frente, não se
pode aplicar retroativamente. Por força do princípio da legalidade criminal
não pode punir-se criminalmente o comportamento que não era crime na altura
em que foi praticado o ato, nem aplicar uma pena mais grave do que aquela
prevista na altura, dado que a norma penal apenas vale para o futuro. A norma
penal que previu o facto deve ser anterior ao facto e as sanções também deverão
ser anteriores- artg.1º CP. Temos aqui, uma proibição da retroatividade da lei
penal incriminadora.
Através deste princípio, se satisfaz uma exigência constitucional e legal de
que, apenas seja punido o facto descrito e declarado passível de pena por lei
anterior ao momento da prática do facto – sendo este uma das traves mestras de
qualquer Estado de direito.
Caso 2- Em 2018, A foi submetido a julgamento sob a acusação de, no ano 2014,
ter guardado no seu computador 3 vídeos pornográficos envolvendo crianças
menores de 10 anos, sendo-lhe imputada a prática do crime previsto no n.º 4 do
art.176.º do CP, na redação então vigente, introduzida pela Lei n.º 59/2007
(“Quem adquirir ou detiver os materiais previstos na alínea b) do n.º 1”). Em
julgamento apurou-se que, afinal, os vídeos não estavam gravados no referido
computador, tendo-se antes provado que A a eles acedia através de streaming.
1.- Em alegações, o Ministério Público pugnou pela condenação de A,
argumentando que, do ponto de vista da necessidade de proteção dos menores, é
indiferente se as imagens são visualizadas a partir de um ficheiro guardado no
computador ou através de um site na internet.
2. Mais argumentou que, fosse como fosse, a conduta de A é actualmente punível
nos termos do n.º 5 do art. 176.º do CP, na redacção introduzida pela Lei n.º
130/2015.Quid juris?
Artigo 176.º (Pornografia de menores):
CP 2007: 4 - Quem adquirir ou detiver os materiais previstos na alínea b) do n.º 1
é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa. [Lei 59/2007]
2018/2019 Rita Nina- FDUC 48
CP 2015: 5 - Quem, intencionalmente, adquirir, detiver, aceder, obtiver ou
facilitar o acesso, através de sistema informático ou qualquer outro meio aos
materiais referidos na alínea b) do n.º 1 é punido com pena de prisão até 2 anos.
[Lei 103/2015]
Resolução 2- A partir de 2015 passou a consagrar o 176º/5.
O que está em causa é ver através da internet, vídeos pornográficos de
menores. Em 2018, provou-se que ele viu em streaming. Será que ele pode ser
condenado por um vídeo de pornografia de menores? O MP, veio dizer logo que
materialmente não há uma diferença se ele viu em streaming ou não, ou se
guardou ou não, dado que o menor é que é o prejudicado, na sua intimidade,
imagem e liberdade sexual. Em 2007, tipificou como crime a aquisição e
detenção de material pornográfico de menores, em 2014 ele viu esses filmes
pornográficos de menores. Será que em 2018, ele pode ser punido por aquilo que
fez em 2014?
O MP no fundo pretende é lançar mão de uma analogia. Neste caso prático,
esta situação é materialmente equivalente, análoga a que está prevista na lei,
segundo o argumento do MP. Este argumento violaria o princípio da legalidade
criminal. Na lei penal, proíbe-se a analogia no direito penal, por força deste
princípio, que tenha o sentido com o propósito de agravar a responsabilidade
penal (corolário da lei estrita). Não se pode punir um comportamento que não
tinha cobertura legal.
Lei estrita
Aqui está em causa, a interpretação da lei penal ou a analogia? Tudo
dependerá dos sentidos possíveis, das palavras usadas pelo legislador. Quando
perante uma certa nota penal, ela deve ser interpretada, e tem que se procurar o
sentido possível das palavras que o legislador empregou. Há certas palavras que
podem ter vários sentidos, ex.: discute-se muito a expressão de coisa, se no crime
de furto ela tem de ter natureza corpórea (ex.: eletricidade). Tem de se apurar o
sentido possível. Se as palavras admitirem um determinado sentido, ainda
estamos dentro da interpretação. Mas há casos, que por mais ginástica que se
faça o caso não cabe lá e como tal, o caso não se pode aplicar. No nosso caso a lei
falava em adquirir e ver não significa deter nem adquirir. Como tal apenas com
2018/2019 Rita Nina- FDUC 49
uma analogia é que se poderia meter esse caso no âmbito daquela norma, e em
consequência não cabe no tipo legal.
Havia uma lacuna neste caso, dado que com o passar do tempo, as pessoas
deixaram de guardar os vídeos e viam através do streaming. Sendo assim havia
uma lacuna, sendo que esta nunca poderia ser solucionada com uma analogia,
por mais horroroso que o crime seja. Isto porque, senão fosse assim seria
quebrada a ideia de segurança jurídica que o principio da legalidade criminal
queria proteger e seria violado o principio da separação dos poderes, visto que
se a analogia fosse permitida, na pratica seriam os tribunais a “criar” as normas
penais e não o legislador (por analogia). Isto vale para o direito penal, mas
também se tem entendendo que do ponto de vista constitucional, também vale
para o direito processual penal.
A proibição da analogia (artg.1º/3) mais uma vez, tem um sentido do
âmbito de aplicação do princípio da legalidade criminal. Este principio vale
quando a analogia quando se pretende afirmar ou agravar a responsabilidade
penal. Coloca-se a questão de se é apenas proibida quando é contra o agente. há
casos em que se pode recorrer à analogia em benefício do agente, em que fará
sentido, e que se identifica uma lacuna, e, portanto, recorremos à analogia dado
que o resultado será bom para o agente. O Dt FG vai no sentido de que esta
analogia a favor do agente não é proibida no direito penal, pelo principio da
legalidade criminal (pois não entra no seu âmbito de aplicação). A questão é
muito controvertida, e mais à frente quando estudarmos a legitima defesa,
vemos que a questão pode ser mais complicada, poderá haver um conflito entre
pessoas pois o afastar da ilicitude, pode implicar punir uma pessoa.
Lei prévia
No caso 2, ainda temos de saber o ato corolário da lei prévia. A lei penal,
que fundamenta ou agrava a responsabilidade penal apenas pode se aplicar para
a frente, não se pode aplicar retroativamente. Por força do princípio da
legalidade criminal não pode punir-se criminalmente o comportamento que não
era crime na altura em que foi praticado o ato, dado que a norma penal apenas
vale para o futuro. A norma penal que previu o facto deve ser anterior ao facto e
as sanções também deverão ser anteriores- artg.1º CP. Temos aqui, uma
proibição da retroatividade da lei penal incriminadora.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 50
Desta forma, o argumento do MP seria improcedente, porque a norma
penal não se poderia aplicar a algo que ocorreu anterior à norma, por mais
chocante que o crime seja porque não havia censura dirigida ao tempo em que
ele atuou. Portanto, ele não pode sofrer uma punição penal pelo seu
comportamento.
Neste sentido, a lei penal apenas vale para o futuro e a relevância criminal
de um comportamento deve ser aferida à luz da lei em vigor ao tempo em que o
facto foi praticado- artg.2º/1 CP. Para se saber se um certo facto é crime ou não
temos de saber se a legislação estava vigente no tempo da ocorrência deste facto.
Contudo, há uma certa tendência, na prática judiciária de ir à lei penal atual a ver
está lá de facto a lei, assim o trabalho do juiz que trabalha em penal, é de ir
verificar ao código em vigor em 2009, para ver se a norma estava em vigor ou
não (site da DGL). No caso penal mais importante da história portuguesa, no caso
marquês, em que o Sócrates foi acusado de corrupção e o MP em vez de
enquadrar os factos da corrupção na lei em vigor ao tempo em que ocorreu os
factos, foi à lei atual, ou seja, o MP imputou um crime diferente do que aquele
que deveria efetivamente imputar, ao Sócrates em virtude desse lapso.
No nosso caso, o agente não poderia ser punido, nem pela norma que
estava em vigor no tempo em que ele atuou nem pela norma que apenas entrou
em vigor após ele ter praticado o ato.
Determinação do tempus delicti
Para a atuação do princípio da irretroatividade, é necessário determinar o
momento da prática do facto. O que em muitos casos levanta várias dúvidas:
quer porque o facto se pode analisar numa ação ou também numa omissão; quer
porque nele se compreende a conduta e o resultado, etc. Para obviar a estas
dificuldades, o artg.3º dispõe que o momento da prática do ato decisivo é a
conduta e não o resultado. O que se justifica à luz da função e do sentido do
princípio da legalidade, porque é no momento em que o agente atua que releva a
função tutelar dos DLG da pessoa, que constitui a razão de ser daquele princípio.
A segunda conclusão a retirar daquela regulamentação é de que vale
também para todos os comparticipantes daquele facto criminoso
(autores/cúmplices) – todos são credores da proteção e garantia que o princípio
da legalidade oferece.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 51
Temos um problema especial, constituído por todos aqueles crimes em que
a conduta se prolonga no tempo, sendo que, uma parte ocorre na vigência da lei
antiga, e outra na vigência da lei nova, tendo como exemplo os crimes
duradouros como o sequestro (158º CP). A melhor doutrina, de acordo com
Figueiredo Dias, parece ser a de qualquer agravação na lei ocorrida antes do
término da consumação apenas pode valer para aqueles elementos típicos de
comportamento verificados após o momento da modificação legislativa. Esta
solução também se defende para o crime continuado.
Caso 3- Em agosto de 2007, Ana disparou sobre o marido B, com intenção de o
matar. Na sequência de o disparo, B foi levado para o hospital, vindo a falecer no
dia 20 de setembro de 2007. Pode Ana ser punida por um crime de homicídio
qualificado (passou a ser, antes era considerado homicídio simples), com base na
alínea b) do 132º/2 CP, sendo a pena entre 12 a 25 anos, introduzida pela Lei
nº59/20087, entrada em vigor a 15/09/2007?
Resolução 3- Em 2007 com a revisão do CP, o legislador entendeu que o
comportamento de matar o cônjuge estava sujeito a uma censura especial, daí
passar a ser homicídio qualificado. Muitas vezes o legislador utiliza esta técnica,
crime base- homicídio, sendo que pode agravar- homicídio qualificado, em que a
agravação decorre de uma maior sensibilidade e culpabilidade. Se formos ao
132º, está lá a expressão “entre outras”, isto pode admitir recurso à analogia,
mas houver certos cuidados por força de respeitar a determinabilidade, até
porque estamos perante um crime com uma pena que pode ir a 25 anos.
Quando a senhora disparou, o crime não levava uma maior
censurabilidade, mas quando o senhor morreu já levava. A norma em que se
prevê o critério de resolução deste problema, é o artg.3º, que se refere ao
momento da prática do facto. Esta norma esclarece qual é o momento da
prática do facto, ela tem de ser conjugada com o artg.2º/1- o facto considera-se
praticado no momento em que ele atuou independentemente do resultado.
Assim, considera-se a prática do facto em agosto de 2007, sendo irrelevante a
norma que entrou em setembro de 2007, sendo que esta lei que veio a agravar a
responsabilidade não será aplicada a este facto. É no momento da conduta que a
norma está a incidir sobre a sua atuação, a sua decisão. É nesse momento que ele
2018/2019 Rita Nina- FDUC 52
deve ser censurado por aquilo que fez, daí que a medida da censura diga respeito
somente a esse momento.
Isto também se reporta à própria lógica do princípio da legalidade criminal,
visto que este visa proteger o cidadão contra condutas persecutórias do estado.
Caso contrário, abria o risco de o Estado criminalizar esse comportamento de
permeio, para de certo modo conseguir punir alguém, ou seja, se fosse possível
ao estado punir o comportamento punir o agente em função do resultado que
fosse previsível, querendo perseguir um certo grupo de pessoas, bastaria
tipificar esse comportamento nesse permeio o que iria contra o principio.
Não podemos excluir a possibilidade de situações em que no momento da
conduta o facto não era punível, mas no momento da consumação o ato já era.
Por exemplo, o aborto negligente não é punível, mas se enquanto que ocorreu a
intervenção e sem querer o médico realizou o aborto e, entretanto, tivesse
entrado a lei em vigor que punisse o aborto negligente, essa não se aplicava
porque a prática do ato tinha sido anterior à lei.
Nos casos em que há um certo prolongamento dos factos no tempo, como
por exemplo de violência doméstica, e que o agente foi ao longo do tempo foi
mantendo este comportamento abusivo, e que no meio entra em vigor uma nova
lei que agrava a pena, há uma parte do comportamento que é anterior àquela lei.
Pode a nova lei aplicar-se a todo o comportamento? Há uma tendência, para
dizer que sim, no fundo o objetivo é unificar o crime. Considera-se que a lei nova
pode aplicar-se ao comportamento no todo, contudo existem autores que não
entendem isto, pois isto põe em causa a proibição da retroatividade do princípio
da legalidade criminal.
Âmbito da aplicação da proibição
Tal como vimos suceder na proibição da aplicação da analogia, também a
proibição da retroatividade, funciona apenas a favor do agente, e não contra ele.
Por isso a proibição vale relativamente a todos os elementos de punibilidade, à
limitação das causas de justificação, de exclusão, ou de diminuição de culpa e às
consequências jurídicas do crime, qualquer que seja a sua espécie.
Pode-se pôr a questão se submetida à proibição da retroatividade está
apenas a lei ou também a jurisprudência. Será que, se deve admitir que uma
2018/2019 Rita Nina- FDUC 53
corrente de aplicação jurisprudencial definida e estabilizada possa ser alterada
contra o agente?
Exemplo real: mudança de entendimento jurisprudencial quanto à taxa de
álcool no sangue de 1,3 para 1,1 para efeitos de condução sob o efeito de
álcool.
A aplicação da nova corrente jurisprudencial, não constitui propriamente
uma violação do princípio da legalidade. Mas como também conclui Nuno
Brandão, num estudo recente, não deixa de pôr em causa valores que lhe estão
associados, pela frustração das expectativas quanto à irrelevância penal da
conduta, formadas com base numa interpretação judicial. O que se alterou foi o
conhecimento da teleologia e da funcionalidade de uma norma jurídica. Todavia,
devem os tribunais ser extremamente cuidadosos na modificação de uma
corrente jurisprudencial contra o agente, mostrando-se em tais circunstâncias
mais exigentes no respeito pelo círculo máximo de significações que imputem ao
texto da lei. Convém mencionar, que o cidadão nesta situação não se encontra
totalmente desprotegido: pode amparar-se numa falta de consciência do ilícito
não censurável, que determinará a exclusão da culpa, e consequentemente,
também a punição.
Princípio da aplicação da lei mais favorável
A consequência teórica e praticamente mais importante deste princípio,
consubstancia-se no princípio da aplicação da lei mais favorável. Esta
consequência é de tal modo significativa, que não tem apenas expressão ao nível
da lei ordinária (artg.2º/4 CP), mas também expressão constitucional –
artg.29º/4 2ª parte. Com isto, o princípio ganhou um relevo jurídico adequado ao
seu significado para a salvaguarda dos DLG das pessoas. Contudo, a sua fixação
no texto constitucional também trouxe alguns problemas que importa
considerar:
1. Descriminalização
A primeira situação e a mais radical, será quando uma lei posterior à
prática do facto deixe de considerar este como crime. Esta situação cabe em
rigor dentro do princípio da aplicação da lei mais favorável, e não exigiria uma
consagração expressa. Contudo, o CP no 2º/2, traduz a ideia de a eficácia do
princípio ser tão forte que, quando se analise uma descriminalização direta do
2018/2019 Rita Nina- FDUC 54
facto, ela impõe-se, no que toca à execução e aos seus efeitos penais, mesmo no
caso de a sentença condenatória ter já transitado em julgado – compreende-se
pois, se a conceção do julgador se alterou até ao ponto de deixar de reputar
jurídico-penalmente relevante um comportamento, não tem qualquer sentido
político-criminal manter os efeitos de uma conceção ultrapassada.
Esta regulamentação já deu origem a numerosas dúvidas, sendo um grande
exemplo dela, os casos em que uma determinada conduta deixa de ser crime e
passa a constituir contraordenação. Trata-se de uma problemática com grande
relevo prático, e que foi convocada perante a doutrina e jurisprudência
portuguesa na opção legislativa relativa ao consumo de estupefacientes.
Há quem defenda que nestes casos, o facto deixa de ter relevância
jurídica, não podendo ser objeto de punição penal, nem
contraordenacional. Isto porque, o facto não poder ser objeto de punição
penal dado que, o legislador alterou a natureza jurídica do facto neste
âmbito, sendo a nova lei é claramente mais favorável, então no direito
penal esse facto não pode ser punido como crime. Mas também não
poderá ser punido no direito contraordenacional dado que, na altura o
facto não era considerado uma contraordenação. Assim, o facto deixa de
ser punível.
Mas o que se deve perguntar neste âmbito é, se a proteção do cidadão
perante o poder punitivo estadual e a tutela das expectativas, são
substancialmente postas em causa com uma eventual punição
contraordenacional nestas circunstâncias. A resposta parece ser
negativa, pois no momento da prática do facto não existiam razões para
que o agente pudesse ficar impune. Este entendimento leva a que se
entenda que, o facto é punível como contraordenação (nossa posição).
Caso contrário afirma-se que o facto deixa de ter relevância jurídica, e vai-
se buscar o princípio da legalidade para uma matéria materialmente
distinta, o que não faz sentido.
o Na prática, o legislador ciente desta discussão doutrinal, estabelece
por vezes, uma norma provisória através da qual se mantém os
factos como crime (regime transitório). Quando esta não existe,
arquiva-se o processo.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 55
Temos também casos, em que a lei nova mantém a incriminação de uma
conduta concreta, embora sob um novo ponto de vista político-criminal,
podendo ele mesmo traduzir uma modificação do bem jurídico protegido. Por
exemplo, o crime de violação era perspetivado até 1995, como crime contra os
fundamentos ético-sociais da vida social, sendo que a Reforma de 1995 passou
corretamente a perspetivá-lo como crime contra a liberdade e autodeterminação
sexual da vítima e consequentemente como um crime contra a pessoa. Houve
então uma modificação do próprio bem jurídico protegido, no entanto a
continuidade da punibilidade das condutas de violação não é minimamente
afetada – seria inadmissível que, com esta reforma, fossem descriminalizados os
crimes de violação praticados anteriormente à norma.
Caso 4- Em 2012, A foi condenado em pena de prisão de 2 anos pelo facto de,
em 2010, aquando de um interrogatório a que foi sujeito na qualidade de arguido
num inquérito criminal, ter mentido sobre os seus antecedentes criminais
(artg.359º/1 CP). A lei nº20/2012 alterou o 141º/3 CPP, eliminando a obrigação
de prestação de declarações sobre os antecedentes criminais no âmbito do
interrogatório judicial do arguido detido. Que consequência daí terá advindo
para a execução da pena de prisão aplicada a A que se encontrava em curso?
Resolução 4- Durante o inquérito, a pessoa que é investigada, é chamada
ao processo para ser interrogado. Até 2013, a lei previa que o arguido durante o
inquérito tinha o dever de responder acerca dos seus antecedentes criminais e,
se a pessoa faltasse à verdade, incorria da prática de um crime. As pessoas
perante um interrogatório sentem-se desconfortáveis e acabam por mentir
muito, então acabava muitas vezes por se acrescentar este processo ao pelo qual
já estavam a ser interrogadas. O legislador em 2013, decidiu acabar com isto e
entendeu que a partir desse ano deixava de se poder perguntar isto dos
antecedentes criminais e ele deixava de estar obrigado a responder.
O nosso caso temos alguém que mentiu sobre os antecedentes criminais em
2010, e foi condenado por esse crime com uma pena de prisão de 2 anos (na
prática isto não seria concebível). Em 2013, deixou de ser obrigatória responder
a estas questões. Que consequência é que isto tem para a pena de prisão do A?
2018/2019 Rita Nina- FDUC 56
Estamos perante uma questão de descriminalização, ou seja, uma lei que revoga
um crime:
Às vezes, a descriminalização é óbvia, no sentido que está expresso que a
norma x é revogada;
Mas por vezes, ela pode não ser tão manifesta, podendo ocorrer por
modificação pela lei (nosso caso). Temos de perguntar se este indivíduo
que em 2010, como mentiu no interrogatório na altura cometeu um
crime, se esse mesmo comportamento atualmente seria um crime. A
resposta seria não, então estamos perante uma descriminalização.
Às vezes opera-se também através da, previsão legal de uma certa
circunstância que exclui a responsabilidade penal. Ex.: artg.142º/1 e) CP-
veio prever a chamada interrupção voluntária da gravidez, em que até a
esse momento se uma mulher nas primeiras 10 semanas fizesse um
aborto esse facto constituiria um crime. Com esta nova norma, o aborto
pela vontade da mulher não é crime, está justificado (exclusão de
ilicitude). Operou-se uma descriminalização do aborto nas primeiras 10
semanas.
Quando é aprovada uma nova lei que descriminaliza um certo
comportamento, que consequências é que daí advêm para os factos anteriores a
essa lei? A CRP estabelece no artg.29º/4 que a nova lei por ser mais favorável ao
agente, deve ser aplicada retroativamente (aos factos anteriores). Neste caso, a
lei de 2013, foi aplicar-se a um facto que ocorreu em 2012. Porque é que a
constituição exige esta eficácia retroativa? Prende-se com razões do princípio da
necessidade, não se trata de uma exceção ao princípio da legalidade. Aqui é em
benefício do agente, assim não faz sentido falar do princípio da legalidade
criminal. Mas já faz sentido falar do princípio da aplicação retroativa da lei penal
mais favorável (29º/4), em que de acordo com este, uma nova lei mais favorável
ao agente deve ser aplicada aos factos anteriores, nomeadamente com situação
de descriminalização, mas também no caso de situações de pura atenuação da
pena. O fundamento desta aplicação retroativa é o princípio da necessidade,
que é inerente ao princípio do estado de direito, no fundo a ideia é de que a
proteção do bem jurídico já não exige uma proteção tão gravosa, então é
2018/2019 Rita Nina- FDUC 57
desnecessário manter o mesmo tratamento dos factos anteriores, por isso a nova
lei deve-se aplicar retroativamente (ideia de desnecessidade).
A questão que se põe é, se se deve aplicar retroativamente, quais as
implicações e quando é que se deve fazer essa aplicação. No fundo, deve
comparar-se o regime legal global no tempo em que o agente atuou e o regime
global atual, e será o novo regime legal aplicado ao passado se for concretamente
mais favorável, isto é, se aplicado ao caso se o agente ficar numa situação melhor
do que se fosse aplicado o regime anterior. O que se tem de fazer é uma
comparação entre as consequências da aplicação global dos regimes, ou seja, a
comparação tem de ser sempre feita por blocos. Não pode pegar-se em partes e
criar regimes que não existem.
Se o novo regime for mais benéfico para o agente então ele deve ser
aplicado retroativamente, e ele deve ser aplicado por decisão oficiosa do tribunal
(não tem que aguardar o pedido do arguido). As consequências são as que
constam do artg.2º CP, sendo que no nº2 temos uma referência aos casos de
descriminalização e no nº4 aos casos de atenuação. Em qualquer uma das
hipóteses, a nova lei pode entrar em vigor em diferentes estádios processuais:
Descriminalização:
o Supondo que o agente mentiu em 2010 e o sistema judiciário só se
apercebeu em 2014, num caso desses se ainda não há processo
aberto não se vai abrir;
o Agora, já se o processo, entretanto foi aberto e em decurso do
processo, que a lei nova entra em vigor descriminalizando o
comportamento o processo deve ser encerrado. A nova lei aplica-
se imediatamente implicando a absolvição do arguido.
o A lei pode entrar em vigor já depois do processo findar com o
trânsito em julgado (qualidade de uma decisão que implica a sua
definitividade, a decisão já não é suscetível de recurso ordinário, já
que apenas pode haver a execução após este transito em julgado),
estando a pena para ser cumprida ou em cumprimento. Quando
isto ocorre, a pena que foi aplicada deve ser declarada extinta e a
execução deveria cessar. Algo de parecido acontece naqueles casos
em que ocorre a atenuação da pena.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 58
Atenuação da pena- esta pode ter várias formas (ex.: alargada a
aplicabilidade da pena mais favorável; em 2017 passou a ser efetiva a
aplicação da pena de 2 anos em casa com vigilância eletrónica; diminuição
da pena). No artg.2º/4, está estabelecido que quando uma nova lei entra
em vigor ela vai se aplicar retroativamente, e a questão é saber se:
o o processo ainda está em curso- ela deve ser aplicada de imediato.
Isto vale quer para o tribunal de 1ª instância, quer para o recurso
(mesmo que ela apenas entre em vigor quando o processo estiver
em recurso).
o O caso mais problemático, é daqueles em que a condenação já
transitou em julgado e a questão que se pôs durante muito tempo
era a de se saber se a aplicação do regime mais favorável também
se aplicava nestes casos. Durante muito tempo o CP não admitia
neste caso, sendo que havia então uma diferença entre a
descriminalização e a atenuação de pena. Em 2007, o artg.2º/4 foi
alterado de maneira a que o caso julgado não constituía uma
barreira à aplicação da lei nova mais favorável, de modo que
quando em transito em julgado e encontrando se em decurso a
execução de uma pena e se se verificar que a lei é concretamente
mais favorável então a nova lei deverá ser aplicada mesmo após o
transito ter julgado.
Atualmente não há diferenças entre os casos de descriminalização e de
atenuação à luz do princípio do caso julgado (não impede a aplicação retroativa
mais favorável).
2. Hipóteses de atenuação da consequência jurídica
Para os casos em que a lei atenua as consequências que ao facto se ligam
(pena, medida de segurança, ou efeitos penais do facto), também neste caso, a lei
mais favorável deve ser retroativamente aplicável, todavia, com ressalvo dos
casos julgados(artg.2º/4). Há quem entenda que esta restrição seria
inconstitucional, por não estar prevista no 29º/4 CP. Todavia, nós não
partilhamos desta opinião:
2018/2019 Rita Nina- FDUC 59
A lei fundamental tem de ser submetida a uma cláusula de razoabilidade,
na sua interpretação – não seria razoável que, a totalidade de
condenações penais cuja execução ou cujos efeitos se mantêm, tivesse de
ser reformada todas as vezes que uma lei nova, viesse atenuar uma
consequência.
Não compete à lei constitucional regular as condições de aplicação dos
seus comandos, antes pelo o contrário, lhe compete deixar ao legislador
ordinário o seu próprio âmbito de atuação.
A conformidade com o artg.29º/4 CRP da ressalva dos casos julgados no
artg.2º/4 CP não significa que a mesma não possa ser eliminada ou restringida
fruto de uma nova opção legislativa alteração do artg.2º/4 proposta no
Anteprojeto de 2007, em que a ressalva dos casos julgados é substituída por
outra. Desta proposta não resulta uma imposição de reabertura do processo para
nova determinação da pena concreta no quadro da nova moldura penal aplicável,
mas somente um limite à execução da pena concreta aplicada na condenação
transitada em julgado, que coincide com o limite máximo da pena aplicável pela
lei nova mais favorável. Em todo o caso, de acordo com a nova redação proposta
para o 2º/4 CP, resulta que a ressalva dos casos julgados apenas é afastada em
caso de execução de pena principal e já não de uma pena de substituição, uma
vez que é apenas possível avaliar se o tempo de execução corresponde à pena
máxima aplicável pela lei posterior se ambas forem da mesma espécie.
3. Leis intermédias
O princípio da lei mais favorável vale ainda para o que a doutrina apelida
de leis intermédias, isto é leis que entraram em vigor posteriormente à prática
do facto, mas que já não vigoram no tempo de apreciação judicial deste – esta
solução é totalmente abarcada pelo 29º/4 2ª parte CRP e 2º/4 CP, e justifica-se
teleológica e funcionalmente porque com a vigência da lei mais favorável o
agente ganhou uma posição jurídica que deve ficar a coberto da proibição da
retroatividade da lei mais grave posterior. Sendo assim, aquela lei será aplicada
num momento em que já não está em vigor – leis ultrativa.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 60
Exemplo: a punição vigente no momento do delito foi substituída por uma
menos grave, mas esta antes da sentença, foi revogada por entretanto se
considerar demasiado leve.
Caso 5- Em janeiro de 2017, transitou em julgado a condenação de A em pena
de prisão de 4 anos pela prática de crime cometido em 2014, nessa data punível
com pena de prisão até 5 anos. A começou a cumprir aquela pena em Fevereiro
de 2017.
1. A partir de Setembro de 2017 o crime cometido por A passou a ser
punível com pena de prisão até 3 anos: em que data deverá A ser
libertado?
2. Suponha que em Setembro de 2018 o crime em questão voltou a ser
punido com pena de prisão até 5 anos: em que data A deverá ser
libertado.
Resolução 5-
1.- Seria expectável que ele saísse da prisão em fevereiro de 2021 (4 anos).
Mas, sucedeu que, saiu uma lei em setembro de 2017 que reduziu o limite
máximo da pena de 5 para 3 anos e a questão que se coloca é de que se esta
limitação terá algum impacto na execução da pena que se encontra em curso.
Em geral no DP sabemos que há um princípio geral- princípio da legalidade
criminal. Mas o que nós temos aqui em aplicação é o princípio da
retroatividade da lei penal mais favorável, e a norma que se aplicaria seria o
artg.2º/4 CP que concretiza o do artg.29º/4- é sempre aplicado o regime
considerado mais favorável, que neste caso seria o regime que consagrava a pena
máxima de 3 anos ao invés de 5 anos.
A nova lei deveria ser aplicada imediatamente no decurso do processo,
caso ela tivesse saído ainda durante o processo. Neste caso, já ele foi condenado
e está já a cumprir a sentença quando entra a nova lei, portanto será que a nova
lei vale também para esta situação? O artigo 2º/4 foi alterado de modo a que p
transito em julgado não fosse limite neste âmbito, assim a partir de 2017, de
acordo com a nova redação o facto de ter ocorrido o transito em julgado não
impede que a nova lei se aplique retroativamente. O que significa a aplicação
retroativa? A lei 2 vai se aplicar a um facto que ocorreu anterior à sua entrada
em vigor.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 61
O FD defende esta rejeição do trânsito em julgado como limite à aplicação
da lei retroativa, afirmando que não existe qualquer inconstitucionalidade.
Assim, o senhor vai ser libertado não em 2021, mas em 2020 (aplicação da
nova lei), isto porque a pena máxima ficou estabelecida em 3 anos, assim quando
se atingir este limite de 3 anos a execução da pena há de cessar.
2. Agora em setembro de 2018, entrou em vigor uma nova lei que aumentou
novamente a pena máxima. Então quando é que o individuo poderá sair da
prisão? O facto de após a lei mais favorável, novas leis, se estas forem de
conteúdo mais desfavorável estas não deverão ser aplicadas. A partir do
momento em que temos uma nova lei em vigor mais favorável, esse individuo
adquiriu uma certa expectativa de essa lei ser aplicada, por isso novas leis mais
desfavoráveis não serão aplicadas. Assim, sempre que temos várias leis
posteriores, apenas será aplicada mais favorável.
A lei que será aplicada será ultrativa dado que ela será aplicada em
fevereiro de 2020, num momento em que ela já não está em vigor, ultratividade é
mesmo isso, quando uma lei é chamada a ser aplicada apesar de já não estar em
vigor; a lei foi retroativa no momento da aplicação quando esta ainda estava em
vigor (fevereiro de 2018), mas em 2020 está já não estará em vigor visto que foi
revogada a favor da 3ª lei, sendo esta mais desfavorável e por isso não aplicável
ao nosso caso. O problema é relativo a cada momento em que a lei é aplicada,
dado que a lei vai ser suscitada quando já está morta.
4. Leis temporárias
Uma exceção ao princípio da aplicação da lei mais favorável está
consagrada no artg.2º/3 para as chamadas leis temporárias. Devem-se
considerar, leis temporárias: aquelas que a priori, são editadas pelo legislador
para um tempo determinado:
Seja porque este período é desde logo apontado pelo legislador em
termos de calendário ou em função da verificação ou cessação de um
determinado evento – ex.: duração de um estado de sítio ou de um estado
de guerra (leis temporárias em sentido estrito);
2018/2019 Rita Nina- FDUC 62
Seja porque aquele período se torna reconhecível em função de certas
circunstâncias temporais (leis temporárias em sentido amplo)
As leis temporárias cessam automaticamente a sua vigência, uma vez
decorrido o tempo para qual ela foi editada. A razão que justifica o afastamento
do princípio da aplicação da lei mais favorável, reside no facto de, a modificação
legal se operar em função, não de uma alteração de uma conceção legislativa,
mas unicamente da alteração de circunstâncias fácticas que deram base à lei. Não
existem por isso expectativas que mereçam ser tuteladas.
Deve, contudo, ser reforçada a necessidade de uma interpretação
rigorosa daquilo que constitui uma lei temporária, sendo que, em caso de
dúvida, deve-se fazer valer as regras da proibição da retroatividade e da
aplicação da lei mais favorável.
Ex.: se o legislador disser que face à situação económica passa a ser
proibido a transferência de dinheiro para o estrangeiro – nos casos em
que alguém cometeu neste período o facto proibido, o artg.2º/3 veio dizer
que nestas situações especiais a punição mantém-se.
2.- Âmbito da validade espacial da lei penal
O sistema de aplicação da lei penal no espaço e os seus princípios
Trata-se da questão de saber a que partes é que a lei penal portuguesa se
aplica, em que circunstâncias é que estas normas são aplicadas. É uma questão
processual muito relevante, dado que é da aplicabilidade da lei penal portuguesa
a um certo caso que decorre também a questão de como se processa o caso, ou
seja, a possibilidade de o sistema judiciário português de poder processar
determinado facto. Servindo o seguinte exemplo: se um senhor da China que
maltrate a sua mulher, sendo que nenhum deles saiu do seu pais, a lei penal
português obviamente não se vai aplicar a este facto.
O artg.33º/4 do CP, diz que os tribunais portugueses são competentes para
conhecer de um crime quando a lei penal portuguesa é aplicada. Ainda agora esta
questão foi suscitada num tribunal, por causa da lavagem de dinheiro em Angola.
O problema da aplicação da lei penal portuguesa no espaço tem esta dimensão
2018/2019 Rita Nina- FDUC 63
substantiva, e depois tem uma repercussão processual (se pode ou não abrir
um processo em Portugal de um facto ocorrido no estrangeiro).
A conformação do sistema estadual de aplicação da lei penal no espaço
baseia-se em diversos princípios e num certo modelo de combinação. Estes
princípios não assumem todos, igual hierarquia, antes existindo um princípio
base e princípios acessórios ou complementares.
2.1- Princípio da territorialidade
O princípio base do nosso sistema trata-se do princípio da territorialidade,
estando consagrado no artg.4º a), da aplicação da lei penal portuguesa no espaço.
Prevê-se que, se um facto penalmente relevante for praticado no território
português, a lei penal portuguesa é aplicada; quando o facto criminoso tem uma
conexão com o território português, em princípio a lei penal é aplicada, sendo
que este princípio vale na generalidade dos países.
Os Estados aplicam a sua lei penal aos factos praticados no seu território e
abstêm-se de aplicar quando não ocorre no seu território (princípio da
territorialidade), isto prende-se com questões de:
Jurídico-internacionais e de política estadual- sendo esta a via que
facilitará mais a harmonia internacional e o respeito pela não ingerência
em assuntos de um Estado estrangeiro. Aliás a generalidade dos países
têm consagrado o princípio da territorialidade, ao invés do princípio da
nacionalidade, sendo a opção que faz mais sentido nos dias de hoje, em
que a política criminal tende a universalizar-se, e ao consagrar o princípio
da nacionalidade como princípio base, tal iria redundar numa aplicação
internacional disfuncional.
Jurídico-penais e de política criminal- vai ser na sede do delito que
mais se irá sentir a necessidade de punição e de cumprimento das suas
finalidades, nomeadamente de prevenção geral positiva. É a comunidade
onde o facto teve lugar, que viu a sua paz jurídica perturbada.
Razões processuais- É também no lugar onde o crime foi cometido, onde
se encontram as provas do crime, onde correrá melhor a sua investigação
de modo a que se possa obter uma decisão judicial justa.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 64
Esta ideia da territorialidade Trata-se de uma regra que atualmente se
mostra muito iludida, porque cada vez mais temos crimes transnacionais e
grande parte do crime é praticado por meios intangíveis (informática, por
exemplo hackers). Este princípio enfrenta grandes dificuldades, já que há casos
com soluções complicadas.
Relativamente a este princípio, importa analisar o problema da “sede do
delito”. Para a determinação do local do delito, o artigo 7º CP, cumulou os dois
critérios (conduta e resultado), no sentido daquilo que doutrinalmente corre
como solução mista ou plurilateral. Esta decisão é teleológica e
funcionalmente fundada, dada a circunstância de diversos países poderem
assumir critérios diferentes e daí advirem insuportáveis lacunas de punibilidade,
que uma política criminal minimamente concertada não poderia admitir.
Artigo 7º CP-
“1- O facto considera-se praticado tanto no lugar em que, total ou
parcialmente, e sob qualquer forma de comparticipação, o agente atuou, ou, no
caso de omissão, devia ter atuado, como naquele em que o resultado típico ou o
resultado não compreendido no tipo de crime se tiver produzido.
2 - No caso de tentativa, o facto considera-se igualmente praticado no
lugar em que, de acordo com a representação do agente, o resultado se deveria
ter produzido”.
A revisão da CP de 1998, veio aditar ao artg.7º duas conexões importantes,
sendo a primeira – local onde se produziu o “resultado não compreendido no
tipo de crime”, diz respeito:
“crimes tipicamente formais mas substancialmente materiais”, que
atingem a consumação típica sem que todavia se tenha verificado ainda a
lesão que, em última análise, a lei quer evitar (tutela antecipada do bem
jurídico).
o Ex.: Fraude na obtenção de crédito- consuma-se com a prática de
conduta fraudulenta, independentemente da obtenção do crédito.
“crimes de atentado” ou de “empreendimento” - embora pressupõem um
resultado que transcende a factualidade típica, consomem-se no estádio
de tentativa.
“crimes agravados pelo resultado”.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 65
Colocou-se dúvidas, relativamente à expressão “condições objetivas de
punibilidade”, ou seja, a maneira como era entendida a expressão do resultado.
Chegou-se à conclusão que não se poderia ver na decisão judicial um resultado
não compreendido num tipo de crime. Mas por exemplo, a lei portuguesa já seria
competente para conhecer do crime de embriaguez e intoxicação se a
autocolocação em estado de inimputabilidade se der no estrangeiro e a condição
objetiva de punibilidade (prática de um facto ilícito típico) ocorrer em Portugal.
A segunda conexão importante, foi adicionada pelo nº2 do artg.7º, sendo
que agora, o local do facto é também, em caso de tentativa, o local onde o
resultado deveria ocorrer segundo a representação do agente. A solução é
semelhante à da lei alemã, sendo que a nossa é mais restrita pois limita a
competência para os caos em que a infração configura já uma tentativa, não
abrangendo também os casos em que o agente apenas praticou atos
preparatórios.
Exemplo: estrangeiro envia para Portugal uma bomba, com o objetivo de
matar uma determinada pessoa. A bomba acaba por ser desarmadilhada
pelas autoridades estrangeiras. Pode-se aplicar a lei penal, já que estamos
perante uma tentativa de homicídio e o local onde a bomba supostamente
iria explodir, era em Portugal.
Problemas particulares
Apesar de a solução plurilateral parecer bastante clara, encontramos
alguns problemas. Nomeadamente, os crimes continuados (artg.30º/2 CP), em
que uma pluralidade real de factos (que podem ser cometidos em países
diferentes) é juridicamente considerada como unidade normativa. Na linha da
teleologia e da funcionalidade da solução plurilateral, está a solução de que deve
nestes casos, considerar-se bastante que um dos factos se encontre abrangido
pelo princípio da territorialidade.
Aquele que também se encontra coberto pelas razões apresentadas é o caso
da comparticipação (que tenha lugar em Portugal sob qualquer forma) num
facto praticado no estrangeiro; bem como a hipótese inversa de o facto se
verificar em Portugal, mas a comparticipação ter lugar no estrangeiro – a
2018/2019 Rita Nina- FDUC 66
qualquer destas hipóteses é aplicado a lei penal portuguesa em nome do
princípio da territorialidade. Como igualmente vale no caso da omissão.
A solução mais duvidosa é para os casos dos delitos itinerantes ou de
trânsito – ex.: um pacote contendo droga é enviado pelo navio na Colômbia,
descarregado em Portugal, onde parte de comboio para a Holanda. Uma certa
doutrina entende que, qualquer das OJ contactadas se torna aplicável em nome
do princípio. E mais uma vez a solução é político-criminalmente conveniente.
“Critério do pavilhão”
O princípio da territorialidade sofre um alargamento que se contém no
artg.4º b) e equipara com os factos cometidos em território português, os que
tenham lugar a bordo de navios ou aeronaves portuguesas. Fala-se a este
propósito de um critério de pavilhão, justificado pela consideração tradicional de
que aqueles navios ou aeronaves são ainda, pelo menos para efeitos normativos,
“território português”. Todavia, parece entender-se que sempre que o navio ou
aeronave estejam surtos em porto ou aeroporto de pais diferente do pavilhão,
isso não retira competência à lei do lugar em nome do princípio base da
territorialidade.
Acresce que, o DL 254/2003, prevê nos seus artigos 3º e 4º, uma extensão
da competência penal portuguesa, que passa a poder aplicar-se contra crimes
contra a vida, integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade e a
autodeterminação sexual, a honra ou a propriedade, que sejam praticado a bordo
da aeronave alugada a um operador que tenha a sua sede em território
português; ou tratando-se de uma aeronave estrangeira que não se encontre
nessas situações, se o local de aterragem seguinte à prática do ato for em
território português e o comandante da aeronave, entregar o presumível infrator
às autoridades portuguesas. Esta extensão, assente na conjugação do critério
formal do pavilhão e de um critério material (limitação a certos crimes), deriva
da tendência moderna de expansão de jurisdição penais para uma prevenção e
uma repressão eficazes dos crimes internacionais. De qualquer forma, trata-se de
uma conexão de competência que se revela subsidiária relativamente à conexão
material.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 67
Caso 6- A, camionista espanhol, fez uma paragem em Valença do Minho. Aí
envolveu-se numa discussão com B, português, que lhe disparou vários tiros,
com intenção de o matar. Levado em ambulância para o hospital de
Vigo, A acabou por falecer nessa cidade espanhola. Pode B ser punido pela lei
penal portuguesa?
Resolução 6- Temos alguém que foi alvo de um disparo em Portugal e foi
morrer em Espanha. A lei penal portuguesa aplica-se a este caso e, também qual
a base legal, o princípio que justifica a aplicação da lei penal portuguesa.
Temos o princípio da territorialidade, mas existem outros princípios
sendo estes complementares, que justificam a aplicação da lei penal portuguesa.
A questão é que, a lei penal portuguesa vai em certa medida depender da
aplicação dos tribunais portuguesas, assim é diferente saber se a lei se aplica
com base na territorialidade ou com base noutro princípio. Sendo o princípio da
territorialidade o princípio básico, se o facto for praticado em Portugal, a solução
é mais fácil dado que Portugal terá a prioridade; mas já se for praticado noutro
pais, mas com o envolvimento de um nacional, a força da lei desse pais será mais
forte nesse caso. Assim, neste último caso se fosse com base no princípio da
territorialidade, o caso seria julgado no pais onde ocorreu; mas perante o
princípio da extraterritorialidade o caso já poderia ser julgado em Portugal, se o
pais entregasse esse mesmo.
No nosso caso, tem que se ligar o artg.4º com o artg.7º, pois o artg.7º diz-
nos que, vale aqui o critério que abrange o lugar que o agente atuou e o local
onde o resultado se reproduziu. O facto considera-se praticado tanto no local
onde o agente atuou como no local onde o resultado se praticou. No que diz
respeito à aplicação da lei penal no espaço, dá-se valor às duas situações, para
evitar lacunas.
Neste caso, podia considerar-se que o facto foi praticado em Portugal, de
acordo com o artg7º e tendo sido praticado no território português então a lei
penal portuguesa poderia seria aplicada com o princípio da
territorialidade, de onde os tribunais portugueses podiam processar o agente
do crime. Mas também a lei penal espanhola, poderia ser aplicada dado que
os dois critérios têm o mesmo valor. Na prática, seria basicamente “quem
chegasse primeiro”.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 68
Caso 7- A, francês, enviou à sua ex-mulher, B, portuguesa, residente em
Barcelos, um pacote postal armadilhado, com intenção de a matar. B recebeu o
correio e ao abri-lo nada aconteceu, porque o engenho não funcionou.
Poderia A ser punido pela lei penal portuguesa?
Resolução 7- Temos um caso em que alguém atuou em França e como tal
de acordo com o artg.7º não temos nem uma ação nem um resultado em
Portugal, como tal a questão é de saber se quanto aos crimes tentados quando a
ação não for em Portugal se podem ser aqui intentados. O critério do artg.7º não
vale para estes casos.
Porém, quando se trata de tentativas, se o agente atuou em território
português aplica-se o 7º/1; se ele atuou no estrangeiro, haverá possibilidade de
o facto também ser considerado em Portugal se o resultado pretendido pelo
agente teria sido em Portugal, nesta situação a lei penal portuguesa seria
aplicada por força do 7º/2 + artg.4º a).
Imaginemos que neste caso, o individuo em vez de matar a ex-mulher, ele
sabia que ela estava em França, mas ele enganou-se a escrever o endereço e a
carta foi para França, nesses casos poderá haver problemas dado que a intenção
dele era o resultado ser produzido em Portugal e não em França. Há uma
iniciativa europeia, chamada procurador europeu para tomar uma decisão
nestes casos.
2.2- Princípios complementares
Há situações em que, o facto é praticado no estrangeiro e pode se pôr o
problema da aplicação da nossa lei. Se não existe qualquer conexão de
territorialidade, então não será aplicado por força do princípio da
territorialidade, mas sim com base num dos outros princípios complementares,
nomeadamente alguma das normas constantes no artg.5º que consagra vários
princípios complementares e, por via deles a lei penal portuguesa, poderá ser
aplicada a factos cometidos no estrangeiro.
Já vimos que, o princípio base é o da territorialidade e como tal quando o
crime não é cometido no nosso território em princípio a nossa lei não se aplica.
Só que às vezes, os países ficam com a “batata quente”, porque o crime é
2018/2019 Rita Nina- FDUC 69
cometido no estrangeiro, mas o agente é encontrado em Portugal. Em regra,
nestes casos a lei penal portuguesa não se aplica e por se existe convenções,
vários instrumentos de direito internacional que regulam a extradição de
pessoas suspeitas de crimes de uns países para outros. Se um crime é cometido
no estrangeiro, será nesse pais que ele deverá ser perseguido criminalmente
nesse pais.
Mas pode acontecer, que esse pais não consiga perseguir criminalmente
esse individuo dado que ele não está nesse pais, nesses casos recorre-se à
extradição, através de instrumentos de cooperação judiciária internacional,
sendo a extradição um deles – estado entrega um sujeito agente de um crime a
outro estado. Também temos outros instrumentos, onde esta entrega é muito
mais fácil, que é através do mandado de detenção europeu, que permite que
um estado europeu poderá requerer a um estado a entrega de um suspeito que é
visado no processo penal. Entre os países da união vale este regime jurídico de
cooperação entre os estados, que é o mandado de detenção. Deste modo, quando
o Estado tem uma pessoa perigosa que é querida noutro estado, o que muitas
vezes sucede, é o estado onde o crime sucedeu que vai pedir ao estado que tem o
sujeito que o extradite.
Os Estados, na maioria das vezes gostam de cooperar e costumam
extraditar. Mas há situações em que a lei, não admite a extradição por os mais
variados motivos, então vale aí o principio do direito internacional- Dedere aut
Punire (“ou entregas ou punes”), em que os estados, nestes casos, tem que punir
o indivíduo, tem que ele próprio assumir a responsabilidade de punir a pessoa
que se recusou a entregar, caso contrário, o crime ficaria impune e as pessoas
poderiam ir sempre a esse país por pensarem que aí que nada aconteceria nem
iria ocorrer a extradição. Em regra, os estados não extraditando, procedem ao
julgamento do individuo.
Foram previstos vários princípios extraterritoriais, que complementam o
da territorialidade, e através dos quais a leis penal pode-se aplicar, mesmo a
factos cometidos fora do território (5º):
Princípio da nacionalidade (ativa e passiva) - e) + d) + g) nº1;
Princípio da proteção de interesses nacionais- a) nº1;
2018/2019 Rita Nina- FDUC 70
Princípio da universalidade- c) + d) nº1 e em algumas outras leis como do
artg.8º da lei 52/2003 (combate ao terrorismo) e artg.5º da lei 31/2004;
Princípio supletivo da administração subsidiaria da lei penal- f) nº1;
A. Princípio da nacionalidade
Cumpre desde logo dizer que a complementaridade do princípio da
nacionalidade relativamente ao princípio da territorialidade, não significa que se
pretende, por meio dele, obviar a todo e qualquer crime que possa ser cometido
por um português fora do seu país. Apenas se reconhecesse, que existem casos
em que, se estes, apenas se repousassem no princípio da territorialidade,
poderiam abrir-se lacunas indesejáveis.
Existe uma máxima no direito internacional, de não extradição dos
nacionais, sendo que como já dissemos, nesse caso segue-se o princípio dedere
aut punire (o estado nacional vai puni-los ao invés de extraditar). Isto
corresponde ao conteúdo tradicional do princípio da nacionalidade, que de
acordo com o fundamento e a teleologia que lhe foram apontados, surge como
princípio da personalidade ativa – o agente é um português.
Fala-se também hoje de um princípio da personalidade passiva, para
efeitos da aplicação da lei penal portuguesa a factos cometidos no estrangeiro
por estrangeiros contra portugueses. A lógica deste não se trata da mesma da
personalidade ativa logicamente, dado que, o que é relevante é a nacionalidade
da vítima e não do agente. O que oferece fundamento ao princípio da
personalidade passiva é a necessidade, sentida pelo Estado, de proteger cidadãos
nacionais – exigência de proteção de nacionais perante factos contra ele
cometidos por estrangeiros, no estrangeiro e, neste sentido, a proteção de
interesses nacionais. Sendo assim, o princípio da personalidade passiva possui
um fundamento e uma teleologia que o identificam com o princípio da defesa de
interesses nacionais, sob a forma de proteção pessoal daqueles interesses.
Nota: Daí que há quem faça, a consideração teórica de tal princípio junto do
princípio da defesa de interesses nacionais. Mas também há quem não o faz, já
que o CP o considera junto do princípio da nacionalidade e além disso as
condições que a lei submete a este princípio são iguais às da personalidade ativa
e diferentes da proteção de interesses nacionais.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 71
O princípio da nacionalidade encontra-se consagrado, na vertente positiva
e passiva, no artg.5º e), d) e g) CP.
De acordo com ele, a lei penal português é aplicável a factos cometidos fora
do território nacional, por portugueses (personalidade ativa) ou por estrangeiros
contra portugueses (personalidade passiva), sob um tríplice de condições:
(português para efeitos de causa é todo aquele que como tal deva ser
considerado, no momento de facto e segundo as normas da lei da nacionalidade)
Que o agente seja encontrado em Portugal
A primeira condição explica-se, quanto ao princípio da personalidade ativa,
por nela se concretizar a razão que lhe dá fundamento: a não extradição de
nacionais; e quanto ao princípio da personalidade passiva, por nele se tratar se
tratar de uma extensão do princípio da nacionalidade justificada por razões de
índole especial.
Tem-se muitas vezes apontado, na nossa doutrina, essa condição como
exemplo de condição objetiva de punibilidade. Dogmaticamente, porém, ela nada
possui de comum com o fundamento e a teleologia das verdadeiras condições
objetivas de punibilidade, antes constitui sim uma condição de aplicação no
espaço da lei penal portuguesa. Resta é saber se esta condição justifica
totalmente, na medida em que ela condiciona a proteção penal que o Estado
pode oferecer aos seus nacionais, isto é, a amplitude do princípio da
personalidade passiva.
Que o facto também seja punível pela legislação do lugar em que tiver
sido praticado
É a condição materialmente mais importante de aplicação do princípio da
nacionalidade. Uma tal exigência, é político-criminalmente justificada e
teleologicamente plena de sentido. Não é em regra razoável estar a submeter ao
poder punitivo alguém que praticou um facto, num lugar onde esse não é
considerado penalmente relevante e onde, por isso, não se fazem sentir
quaisquer exigências preventivas – exigência da dupla intimidação.
Já relativamente, ao fundamento da personalidade passiva, a exigência
torna-se menos clara, já que, o que está aí em causa é um propósito de proteção
de interesses.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 72
Que o facto constitua crime que admite extradição e esta não pode ser
concedida
Trata-se aqui claramente de uma reafirmação da conceção do legislador,
segundo a qual o princípio da territorialidade deve, no contexto nacional e
internacional, constituir o princípio base, e o princípio da nacionalidade o
princípio complementar. Se a extradição fosse jurídica e facticiamente possível
ela deveria ser concedida e o princípio pessoal deveria regredir.
Se estiver em causa o princípio da nacionalidade ativa, a extradição apenas
é possível no regime previsto no 33º/3 CRP e no 32º/2 da lei 144/99 (lei de
cooperação judiciária internacional em matéria penal). Com efeito, a LC 1/97,
introduziu no nosso sistema jurídico a possibilidade de extradição de
nacionais, até então absolutamente proibida pela Constituição, de modo a dar
cumprimento à regra imposta do 7º/1 da Convenção relativa à extradição de
Estados membros da EU assinada em 96’. Desta forma, o atual artg.33º/3 CRP
apenas permite a extradição de nacionais caso se verifiquem os seguintes
requisitos:
Existência de reciprocidade de tratamento por parte do Estado
requerente;
Consagração dessa reciprocidade em convenção internacional;
Tratar-se de casos de terrorismo ou de criminalidade internacional
organizada;
Consagração de garantias de um processo justo e equitativo pela OJ do
Estado requerente;
Crime que admite extradição, é qualquer um, à exceção da “infração de
natureza política ou infração conexa a infração política segundo as conexões do
estado português” e do “crime militar que não seja simultaneamente previsto na
lei comum”, segundo o artg.7º/1 a) e b). Porém a própria lei, retira a natureza
política um extenso leque de crimes (ex.: genocídio), independentemente da
motivação, além disso a Convenção de extradição da EU exclui expressamente a
natureza política do crime como fundamento de recusa da extradição. Dada a
natureza de prevalência das normas internacionais sobre a lei ordinária interna,
uma eventual natureza política não permitirá ao Estado recusar a extradição.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 73
Se o crime é, pela natureza passível de extradição, mesmo assim ela pode
não ser concedida, seja porque:
Não foi requerida;
Por efeito das normas, substantivas e adjetivas, em matéria de extradição.
Algumas das quais se inscrevem logo no texto constitucional:
o A que proíbe a extradição de nacionais fora dos casos previsto
(33º/3);
o A que impede a extradição por motivos políticos (33º/4);
o As que vedam a extradição por crimes a que correspondam certas
reações criminais segundo o direito do estado requerente:
Pena de morte
Pena que resulte numa lesão irreversível da integridade
física (33º/4)
Pena perpétua ou de duração indefinida (33º/5)
No que diz respeito às duas primeiras, elas cessam se o Estado
requerente comutar essas penas ou medidas, ou se aceitar a
conversão das mesmas por um tribunal português. A terceira
proibição cessa, para além destes casos se existirem condições de
reciprocidade estabelecidas em convenção internacional e se o
Estado der garantias que essa pena ou medida não será executada.
A prevalência da extradição sobre a competência da lei portuguesa em
razão da nacionalidade vale também, para o mandato europeu, sendo que a
competência extraterritorial da lei portuguesa em virtude da nacionalidade só
deve exercer-se na ausência de um pedido de entrega formulado por um EM.
Esta regra, contudo, não é absolutamente rígida – o artg.12º/1 b) da Lei 65/2003
admite a possibilidade de recusa de entrega com fundamento na pendência em
Portugal de um procedimento penal, pelos mesmos factos, contra a pessoa
procurada.
Este raciocínio também se aplica ao pedido de entrega formulado pelos
Tribunais Internacionais, para a ex-jugoslávia e para o Ruanda. Porém, o mesmo
não sucede com o TPI, dado que o tribunal apenas pode admitir o caso se a
jurisdição competente não puder ou não quiser julgar o caso.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 74
Caso 8- R, cidadão brasileiro, mas também com nacionalidade portuguesa
originária, foi acusado pelo Ministério Público brasileiro da prática de vários
crimes de corrupção e de organização criminosa cometidos no Brasil.
Encontrando-se R em Portugal, o Estado brasileiro requereu a sua extradição ao
Estado português. Considerando que o Portugal não extradita cidadãos
portugueses de origem, poderá R ser julgado em Portugal de acordo com a lei
penal portuguesa?
Resolução 8- O artg.7º/1 estabelece que basta que o crime seja praticado
parcialmente em Portugal para que a nossa lei penal seja aplicada (ex.: tráfico de
droga); isto também se passa quando a pessoa é cúmplice de crime e não o
agente principal.
Em regra, Portugal não extradita portugueses, por causa de um princípio
previsto na CRP no artg.33º/3, Portugal abdicou do princípio da proibição
absoluta de extradição de cidadão portugueses, a partir de 1997 isto foi alterada
a permitir a extradição de portugueses nos casos que a constituição permitisse.
Atualmente, não há uma proibição inderrogável da extradição de cidadãos
nacionais.
A questão no nosso caso é se Portugal podia extraditar ou não o senhor.
Este foi o 1º caso em que o Brasil tentou trazer um brasileiro para lá através da
cooperação judiciária. O próprio estado brasileiro foi posto em causa, porque o
senhor defendeu que o processo no brasileiro não seria equitativo e que as
prisões não teriam condições, etc. Este caso acabou na não extradição porque o
senhor, era português naturalizado conseguiu por força da alteração da lei
portuguesa de nacionalidade, fosse reconhecido como português originário (no
decurso do processo de extradição). Isto colocou um problema, porque Portugal
só extraditava brasileiros se estes extraditassem brasileiros para Portugal
(princípio da reciprocidade) e, a constituição brasileira não permite a
extradição de brasileiros originários. Portanto neste caso não havia
reciprocidade e por isso foi travada a extradição do senhor.
Portugal pode julgar este cidadão pelos crimes de corrupção que ele terá
cometido no Brasil? O fator de conexão dele com Portugal é a nacionalidade e
como tal há de ser a nacionalidade a via pela qual a lei pena portuguesa será
aplicada- artg.5º/1 e) – princípio da nacionalidade, quer na sua forma ativa
2018/2019 Rita Nina- FDUC 75
(crimes cometidos no estrangeiro por portugueses); na sua forma passiva
(crimes cometidos no estrangeiro contra portugueses). Os fundamentos de
intervenção são distintos, porque quando o estado português tiver a
contingência de aplicar a lei penal com base na pessoa ser portuguesa, ele
assume o encargo de punir porque não pode extraditar. Nos casos em que ele
não pode extraditar, e o crime é cometido no estrangeiro, não será pela proibição
de extraditar que ele vai deixar de punir, o que há é a proteção do nacional
português, e como tal ele decide aplicar a lei penal e por isso entende-se que o
principio da nacionalidade passiva é uma manifestação de interesses nacionais.
Esta consideração conjunta dos princípios da nacionalidade ativa e passiva
tem a ver com o facto de a lei sujeitar a aplicabilidade da lei portuguesa aos
mesmos requisitos.
Este senhor cometeu um crime no estrangeiro, isto não é suficiente para
que a lei penal portuguesa se aplica. Temos por isso os vários pressupostos da
artg.5º aliena e):
Que o agente se encontre em Portugal- o pressuposto verifica-se no nosso
caso;
É necessário que os crimes sejam também puníveis pela legislação do
lugar onde foram praticados- só pode, punir-se um português por um
crime cometido no estrangeiro ou punir-se no estrangeiro por um crime
que foi cometido contra um português, se no sitio onde o crime se deu, se
nesse local o facto também é dado como crime (exigência de dupla
intimidação). Só não será assim, naqueles casos onde o sítio onde se
estão, onde é um “estado sem lei”;
Se um português, pratica um facto no Brasil que é crime lá e em Portugal e
se esse português se encontra em Portugal, então temos vários
pressupostos reunidos da nacionalidade ativa. Se ele tiver de ser
extraditado, Portugal não pode aplicar a sua lei; mas se ele n poder ser
extraditado, Portugal pode e dever aplicar a sua lei.
Esta proibição de extradição pode decorrer de várias razões: de ser
aplicada a pena de morte para aquele crime; pena perpétua, e por crimes por
razões políticas; prevê penas cruéis; por ser português originário etc., presentes
na CRP. Entre nós, há um tratamento doutrinário e jurisprudencial muito
2018/2019 Rita Nina- FDUC 76
substancial quanto à questão para países que aplicam a pena de morte e pena
perpétua. Houve uma circunstância história particular, em que na altura em que
Macau pertencia a Portugal, muitas vezes havia processos de pessoas que
cometiam crimes na China e se refugiavam em Portugal e depois requeriam a
Portugal que elas não fossem extraditadas (isto porque a China previa penas de
morte). Naqueles casos que Portugal não extradite, pode-se aplicar a lei penal
portuguesa.
Caso 9- A, portuguesa, vive no Dubai com o seu marido, B, saudita. Encontrando-
se ambos em Portugal, em férias, A apresentou denúncia contra B por crimes de
maus tratos, violação e homicídio na forma tentada sofridos durante a sua
convivência no Dubai. Poderá B ser punido pela lei penal portuguesa?
Resolução 9- Aqui temos vários crimes cometidos no estrangeiro (Dubai),
por um estrangeiro contra uma cidadã portuguesa. Aqui a questão é se Portugal
pode aplicar a sua lei penal, porque está uma cidadã portuguesa envolvida (se ela
não fosse portuguesa, a lei de certeza que não seria aplicada), para proteção da
individua. Para que tal aconteça é necessário que:
o agente se encontre em Portugal
que o facto seja crime no pais onde foi cometido
que Portugal não extradite esse individuo,
Se ele não for extraditado então Portugal pode aplicar a sua lei penal. Há
casos, em que a proteção do cidadão portuguesa é reclamada porque naquele
país o agente não é punido. Se a extradição não é concedida porque lá não é
punível ou porque não foi pedida, então haverá a aplicação da lei portuguesa.
Extensão do princípio da nacionalidade
Por fim, apenas falta falar do artg.5º/1 d) que estende o princípio da
nacionalidade, sendo que, a lei penal portuguesa é ainda aplicável a factos
cometidos fora do território nacional, contra portugueses, por portugueses que
viveram habitualmente em Portugal ao tempo da sua prática e aqui foram
encontrados. Esta extensão foi justificada com a consideração de que era
imperativo, impedir a impunidade nestes casos, dado que o português se dirigiu
2018/2019 Rita Nina- FDUC 77
ao estrangeiro para cometer um facto que nesse país era lícito, mas que segundo
a nossa legislação configurava crime.
Foi feito de maneira a punir as mulheres que se dirigiam a outro país para
abortarem (onde era considerado lícito).
Nestes casos argumentou-se, que o agente havia adquirido um verdadeiro
“direito à impunidade” através de uma fraude penal. Tal lacuna deveria ser
preenchida. Contudo parece duvidoso poder-se argumentar com uma fraude à
lei, que não tem qualquer tradução no texto legal. A sua única justificação,
prender-se-ia apenas, segundo Figueiredo Dias, na fidelidade do agente e da
vítima aos princípios fundamentais de uma comunidade a que pertencem e onde
o agente habitualmente vive.
Caso 10- B padece de uma grave, dolorosa e incurável doença e deseja que lhe
ponham termo à sua vida. A pedido de B, C contacta uma clínica holandesa que,
ao abrigo da legislação do seu país, pratica homicídios de pessoas nas condições
em que B se encontra, a pedido delas. C trata de tudo o que se revela necessário a
que B seja morto na referida clínica e transporta B até lá. B é morto por um
médico holandês, tal como desejava. Pode C responder criminalmente em
Portugal, de acordo com a lei penal portuguesa, pelo seu auxílio à morte dada
a B?
Resolução 10- Temos um caso de eutanásia, em que uma pessoa
gravemente doente pretende pôr fim à sua vida, pedindo a um terceiro que o
ajude (C). A questão que se coloca é se C pode ser punido por causa do seu
auxílio na morte de B, visto que em Portugal isto configura crime. Poderia se
aplicar a lei penal portuguesa?
Neste caso, não há nada que nos indique que eles são portugueses, isto
porque à partida seriamos encaminhados para a alínea b) “contra portugueses
por portugueses”. A aplicabilidade da lei penal portuguesa estava dependente de
vários pressupostos:
Ambos serem portugueses;
Ambos residirem habitualmente em Portugal;
Temos um caso de nacionalidade ativa e passiva, o que é que diferencia
estas situações das normas situações de nacionalidade em termos da
2018/2019 Rita Nina- FDUC 78
aplicabilidade da lei penal? Em regra, que seja de nacionalidade passiva ou ativa,
que ser seja um crime feito ou contra um português, só pode punir-se por um
facto cometido no estrangeiro por um português se nesse lugar o facto for
punível como crime. À luz da exigência da dupla incriminação não se pode
punir um português por um crime que no local praticado não seja crime.
Artg.5º/1- Nas hipóteses da alínea b) o legislador estabeleceu a
aplicabilidade da lei portuguesa, , sendo as pessoas puníveis se forem
portugueses e residentes em Portugal. Tradicionalmente o fundamento desta
norma era para o aborto em Espanha, o que se queria era a punição das
mulheres portuguesas por praticarem abortos em Espanha.
Se Portugal não extraditar então haverá, base para aplicar a lei penal
portuguesa, com base no princípio subsidiário do 5º/1 f)), ora quando isso
aconteça deverá ter-se em conta o julgamento que já se teve no estrangeiro:
Se ele ainda não foi julgado no estrangeiro pode ser julgado cá (5º/1),
sem nenhuma restrição;
Se ele já foi julgado no estrangeiro (passado o trânsito em julgado), então
não pode ser julgado outra vez. A lei penal portuguesa servirá apenas em
sede de execução da pena. Só poderá aplicar-se a lei penal portuguesa se
ele ainda não tiver comprido a pena no estrangeiro, se ele já cumpriu a
pena no estrangeiro, essa será subtraída à pena que terá que cumprir cá.
O artg.6º/2, prevê a possibilidade de se num caso em que o crime é
cometido no estrangeiro, o agente está em Portugal e pode ser julgado pela nossa
lei penal, caso se chegue à conclusão que a lei penal do pais onde ele cometeu o
crime é mais favorável, será essa a aplicada – os nossos tribunais intervêm mas a
lei que é aplicada é a estrangeira. Só não será assim se estiver em causa
interesses nacionais (5º/1 a) e b)), justamente pelo o interesse de proteção dos
interesses nacionais que não é atendido pela lei estrangeira.
B. O princípio da defesa dos interesses nacionais
Trata-se da específica proteção que deve ser concedida a bens jurídicos
portugueses, independentemente da nacionalidade do agente, de os crimes
terem sido cometidos no estrangeiro e mesmo do que a seu respeito disponha a
lei do lugar. Sucede que, apesar dos esforços de aproximação e cooperação entre
2018/2019 Rita Nina- FDUC 79
as diversas leis nacionais, pode compreender-se que muitas delas não punam
factos exclusivamente dirigidos à lesão de bens jurídicos de outro país – é o que
sucede com a maior parte dos crimes contra o estado, onde a área de tutela típica
cobre apenas os interesses do estado português.
Assim, os estados nacionais vêem-se na necessidade de fazer intervir a
proteção penal dos seus interesses específicos perante factos cometidos no
estrangeiro, mas diretamente dirigidos à lesão de bens jurídicos nacionais. O
fundamento para isto prende-se com a ideia de que o agente estabeleceu a
relação com a ordem-jurídica penal portuguesa, ao dirigir o seu facto contra
interesses especificamente portugueses. Além disso, o Estado em cujo o
território o crime foi praticado, pode não se encontrar em condições de
perseguir os infratores, ou pode mesmo não ter a vontade de o fazer.
As hipóteses tradicionalmente integrantes deste princípio, têm a ver com a
defesa de bens ditos nacionais, pela sua substância, sendo esta que torna o bem
em interesse nacional. Por isso se fala hoje, a respeito desta vertente do
princípio, de um princípio de proteção real. A lei faz uma enumeração taxativa
dos tipos de factos, em relação aos quais este princípio vale – artg.5º/1 a) como
por exemplo a burla informática.
Convém mencionar que, o princípio da proteção real prefere ao princípio
da personalidade ativa quando ambos são convocados no mesmo caso.
C. Princípio da universalidade
Visa permitir a aplicação da lei penal portuguesa a factos cometidos no
estrangeiro que atentem contra bens jurídicos carecidos de proteção
internacional, ou que, o Estado português se obrigou a proteger. Trata-se do
reconhecimento do caráter supranacional de certos bens jurídicos e que, por
conseguinte, apelam a sua proteção a nível mundial. Deste modo podemos
apontar como fundamento “a solidariedade do mundo cultural face ao delito” e a
“luta contra a delinquência internacional perigosa”.
Ordena-se então, a proteção de bens jurídicos que carecem de proteção
internacional, como por exemplo: escravidão, tráfico de pessoas, rapto, etc. A
aplicação penal submete, todavia, a estas hipóteses duas condições:
Que o agente seja encontrado em Portugal;
2018/2019 Rita Nina- FDUC 80
Que não possa ser extraditado (a extradição foi requerida, mas não pode
ser concedida).
Relativamente aos bens jurídicos que Portugal se obrigou a proteger, não
há quaisquer requisitos gerais de que dependa a aplicação do princípio. Pode é
existir, nos concretos tratados e convenções em que aquele se plasme. Casos
exemplares da aplicação do princípio com fonte em direito internacional
convencional são os da luta internacional contra o terrorismo, pirataria aérea,
tráfico de droga, etc.
D. Princípio da administração supletiva da justiça penal
Ao se introduzir o 5º/1 e), veio se a colmatar uma lacuna importante: antes
um cidadão estrangeiro, tendo praticado um crime, normalmente grave, viesse
buscar refúgio em Portugal, onde por um lado, não poderia ser julgado por
ausência de uma conexão relevante com a lei portuguesa e de, não podia ser
extraditado, dadas as proibições de extraditar.
Assim este princípio veio combater esta situação, sendo que,
diferentemente do que sucede com os princípios anteriores, este não se trata de
mais um poder de conexão, mas sim de uma verdadeira supletividade na
administração da justiça – atuação do juiz nacional em vez do juiz estrangeiro.
Quais as condições para se aplicar o princípio?
Agente seja encontrado em Portugal;
A sua extradição haja sido requerida;
O facto constitua crime que admita extradição e esta não possa ser
concedida;
2.3- Condições gerais da aplicação da lei penal portuguesa a factos
cometidos no estrangeiro
O caráter meramente complementar dos princípios de aplicação
extraterritorial, revela-se exemplarmente na circunstância de em todos os casos
a aplicação apenas ter lugar “quando o agente não tiver sido julgado no país da
prática do facto ou se houver subtraído ao cumprimento total ou parcial da
condenação” – artg.6º/1. Trata-se antes de mais, de respeitar o princípio
jurídico-constitucional ne bis in idem, segundo o qual ninguém pode ser julgado
mais do que uma vez pela prática do mesmo crime (29º/5 CRP). Além disto,
2018/2019 Rita Nina- FDUC 81
trata-se também de traduzir a ideia segundo a qual o critério da territorialidade
deve, segundo a nossa constituição político-criminal, constituir o princípio
prioritário e todos os outros assumirem a veste de princípios complementares,
ou então, de supletivos.
Prova definitiva do caráter subsidiário dos princípios da
extraterritorialidade é que, o facto deva ser julgado pelos tribunais portugueses
“segundo a lei do país em que tiver sido praticado sempre que esta seja
concretamente mais favorável ao delinquente” (6º/2). Trata-se de uma
verdadeira aplicação da lei penal estrangeira pelo tribunal português. Solução
esta que encontra o seu fundamento primário no princípio da aplicação do
regime concretamente mais favorável, constitui em último termo uma
decorrência da ideia segundo a qual a aplicabilidade da lei portuguesa é
subsidiária.
Dois problemas suscitam-se neste contexto. O primeiro é o de saber se
certas categorias de crimes não devem ser radicalmente afastadas do âmbito de
aplicação deste princípio. A lei portuguesa, acabou por se deixar convencer pelo
bom fundamento da exclusão, que estendeu a todos os crimes aos quais a lei
portuguesa é aplicável em nome do princípio da defesa dos interesses
nacionais (6º/3).
O segundo problema, é o de saber como se devem resolver as dificuldades
práticas que possam surgir no que respeita à assimulação das sanções previstas
por esta. O sistema português não admite a pena de morte nem a pena perpétua,
mas nestes casos não se viria qualquer dificuldade, dado que esta não seria a lei
mais favorável. Também relativamente às penas inferiores não se aporia grandes
problemas, dado que o CP português, consagra um grande leque de penas
substitutivas da pena de prisão. Em todo o caso, pelo menos no plano teórico, era
necessário resolver esta questão, e ficou então decidido que o CP contivesse uma
cláusula geral de conversão da pena estrangeira naquela que mais se
aproximasse do sistema nacional – 6º/2 2ª parte.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 82
Parte II
A Doutrina Geral do Crime
I- A construção da doutrina do crime (do facto punível)
Princípio hoje indiscutivelmente aceite em matéria de dogmática-jurídico
penal e de construção do conceito de crime é de que todo o direito penal é
direito penal de facto, não direito penal do agente. E num duplo sentido:
Toda a regulamentação jurídico-penal liga a punibilidade a tipos de factos
singulares e à sua natureza, não a tipos de agentes e às características da
sua personalidade;
As sanções aplicadas ao agente constituem consequências daqueles factos
singulares e neles se fundamentam. Não se tratam de formas de reação
contra uma determinada personalidade.
A partir desta aceção, podemos dizer que, a construção dogmática do
conceito de crime é, em última análise, a construção do facto punível.
O facto, e apenas ele, constitui, nesta aceção, o fundamento e o limite
dogmático do conceito geral de crime. Quando se refere ao conceito de facto,
refere-se ao facto punível ou ao facto criminoso. A tentativa de apreensão
deste conceito ocorreu quase sempre, na se de um procedimento metódico
categorial-classificatório, através do qual, se toma como sua base um conceito
geral (conceito de ação). Compreende-se o conceito de crime, através de uma
compreensão unitária, por meio de uma consideração sucessiva dos seus
elementos constitutivos, através de uma compreensão lógico-sistemática, a
permitir que uma realidade unitária seja contemplada a partir de diversos
pontos de vista. Assim chega-se à compreensão do facto (e, portanto, de todo e
qualquer crime) como conjunto de 5 elementos:
Ação, sendo esta depois qualificada como:
o Típica
o Ilícita
o Culposa
o Punível
Estes tratam-se dos elementos constitutivos do conceito de facto ou do
conceito de crime e do respetivo sistema dogmático-sistemático. O que se
2018/2019 Rita Nina- FDUC 83
encontra são os elementos específicos de cada crime em particular.
Existem elementos essenciais que se supõe serem conhecidos das
pessoas.
Categorial classificatório - vamos repartir; decompor o crime em
categorias, classificando cama uma delas de maneira a verificar se
estamos ou não perante um crime. Se uma dessas categorias não se
preencher, pode haver lugar a recurso.
O que encontramos é um modelo teórico, abstrato que visa uniformizar com
categorias de caráter geral o tratamento dos casos penais e de maneira a que os
crimes tenham certos elementos comuns e que possam ser compreendidos e que
a lei penal passe a ser aplicada com algum grau de uniformidade.
Com o propósito de compreender a doutrina geral do facto punível,
distinguir-se-ão três grandes períodos ou fases de evolução desta doutrina:
Conceção clássica- de notória influência naturalista e juspositivista;
Conceção neoclássica- cujos fundamentos se encontram no normativismo
jurídico de raiz neokantiana;
Conceção finalista- orientada por uma conceção ôntica ou regional-
ontológica do direito, ligada à fenomenologia e a uma filosofia material
dos valores.
Deve-se ter em mente que, cada uma das teorias tentou superar a anterior, e
nenhuma delas se consegui afastar completamente das outras, continuando hoje
vivos os pensamentos das três conceções (Jeschek).
1.- Conceção clássica
A conceção clássica, assenta numa visão do jurídico decisivamente
influenciada pela Escola Moderna e, de forma geral, em perspetiva político-
criminal, pelo naturalismo positivista que caracterizou o monismo científico
próprio do pensamento da 2ª metade do século XIX. Assim, também o direito
teria como ideal a exatidão científica própria das ciências da natureza e a ele
deveria incondicionalmente submeter-se. Do mesmo modo, o sistema do facto
punível também haveria de ser constituído por realidades mensuráveis e
empiricamente comprováveis, pertencessem eles à factidade objetiva do mundo
exterior (objetiva) ou antes a processos psíquicos externos (subjetivos).
2018/2019 Rita Nina- FDUC 84
Deste modo a conceção ficava próxima de uma bipartição do conceito de
crime, que agrupava os seus elementos constitutivos na vertente objetiva (ação
típica e ilícita) e na vertente subjetiva (ação culposa). Esta conceção ainda se
encontra hoje na doutrina francesa dominante.
Aqui, procurava-se explicar tudo o que acontecia natureza da mesma
maneira que se pretendia explicar a ação humana. Verdadeiramente, acaba com
a ideia de liberdade humana - determinalismo. Toda a ação é o efeito que parte de
alguma causa.
Ação- movimento culpório. A ação é unicamente um processo causal,
ligado a uma vontade causalmente, que se inicia com um movimento
voluntário, determinante da modificação do mundo exterior.
Tipicidade - uma ação típica é uma descrição de uma conduta na lei
penal. O tipo apenas indicia a ilicitude. Trata-se de uma descrição
puramente externo-objetiva da realização da ação, completamente
estranha a valores e sentidos. Em princípio, será um desvalor para o
direito penal, mas apenas em princípio.
Ilicitude- Ação típica ilícita se não interviesse nenhuma causa de
justificação, isto é, situação que a título excecional, tornasse a ação típica
em ação lícita, aceite ou permitida pelo direito. Aqui já se pode afirmar
que a conduta é desvalorosa. O código contém causas de exclusão da
ilicitude - ex: estado de necessidade. Mas ainda não é crime.
Até aqui, todas as categorias eram objetivas. Agora, introduz-se uma nota
subjetiva:
Culpa- conceito psicológico de culpa. Traduz-se num nexo psicológico
entre o agente e o seu facto (daí que esta doutrina tenha ficado conhecida
como conceção psicológica da culpa), suscetível de legitimar a imputação
do facto ao agente de:
o Dolo- conhecimento e vontade de realização do facto.
o Negligência- deficiente tensão de vontade impeditiva de prever
corretamente a realização do facto. Nesta doutrina, não se
considera a negligência inconsciente - ela não cabe na noção
clássica de culpa.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 85
Deixamos de considerar o facto em si mesmo, vamos relacionar o mundo
exterior com as intenções das pessoas.
E com isto, se teria logrado a apreensão perfeita e completa do conceito
de crime.
1.1- Apreciação crítica
A partir de certo momento entendeu-se que o sistema naturalista-
positivista do crime, assim delineado, não podia prevalecer.
1. Ao vermos o conceito de ação, como um movimento corpóreo e ao exigir
uma modificação do mundo exterior, restringe de forma inadmissível a
base de toda a construção. Exemplo: a ação no crime de injúria, consistiria
na emissão de ondas sonoras dirigidas ao aparelho auditivo do recetor.
2. Também ao reduzir a tipicidade, a uma operação lógico-formal de
subsunção, esquecendo as unidades de sentido social que vivem nos tipos,
levaria a que nós igualássemos, o ato do cirurgião que salva a vida de
alguém, com o do faquista que, esventra a sua vítima.
3. Como também, ao reduzir a ilicitude, à ausência de uma causa de
justificação, acaba por constituir uma compreensão inexata do juízo de
contrariedade à OJ.
4. Por fim, a conceção psicológica da culpa, esquece que também o
inimputável, pode agir como dolo ou negligência, e que na negligência,
pelo menos na inconsciente, onde não há previsão do resultado, não
existe qualquer nexo psicológico entre o agente e o facto, existindo antes a
ausência desse – ex.: o faroleiro que adormece e não dá o sinal devido.
Além disto, existem circunstâncias em que se deve excluir a culpa,
nomeadamente em situações de falta de consciência do ilícito ou da
inexigibilidade de outro comportamento.
É verdade que temos de reconhecer mérito a esta conceção,
nomeadamente, por com ela ter se feito, pela primeira vez, um sistema do crime
assente numa rigorosa metódica categorial-classificatória, dotado de uma grande
simplicidade e clareza. Todavia, esta apresentava grandes insuficiências: o
direito em geral não participa no monismo metodológico das ciências naturais,
2018/2019 Rita Nina- FDUC 86
ele trata com realidades que excedem a experiência psicofísica; além disso o
pensamento jurídico não se esgota em operações de pura lógica-formal.
Neste sistema, tem-se apenas uma avaliação objetivista, positivista dos
factos. Não há lugar a qualquer tipo de valoração. Ausência de sentido social da
ação.
Assim, estava na altura de o sistema clássico ser superado por uma nova
conceção.
2.- Conceção neoclássica
O sistema neoclássico funda-se essencialmente na filosofia dos valores de
origem neokantiana. Os autores desta fazem uma crítica ao sistema clássico
anterior, dizendo que o puro naturalismo não se identifica totalmente com a
realidade social/psicológica. As coisas não se passam na sociedade da mesma
maneira que se passam na natureza - não faz sentido classificar a ação de uma
maneira tão objetiva; é necessária uma valoração. A ação é feita sempre em
relação a um valor. Estamos no plano da valoração.
Ação – Não se pode dizer que esta conceção tenha traduzido um novo
conceito de ação. Descontados os exageros naturalistas, agora
substituídos pela ideia de “relevância social”, a ação continuou a ser
concebida, no seu essencial, como comportamento humano causalmente
determinante de uma modificação do mundo exterior ligada à vontade do
agente.
Tipicidade - Consiste em juízos de valor das ações humanas, não as
descrevendo apenas formalmente e externamente. Vê-se materialmente
como uma unidade de sentido socialmente danoso, como um
comportamento lesivo de bens juridicamente protegidos. Fazem uma
junção do ilícito típico. Estamos a fazer a valoração da base objetiva do
facto.
Ilicitude - corresponde a um aglomerado de elementos objetivos e
subjetivos, indispensável para, a partir dele se concluir pela
contrariedade material de facto à OJ.
Isto é apenas a valoração do facto exterior (e objetivo) ao sujeito. Tem
de se tratar de um facto socialmente danoso. Não existe ainda nenhum elemento
interior ao sujeito. Ou seja, ainda estamos no âmbito do objetivismo - continua-se
2018/2019 Rita Nina- FDUC 87
a tratar de um facto objetivo. Ainda não existe um sentido pessoal da ação. Ao
contrário do que acontecia na escola clássica, aqui, não existem apenas
elementos descritivos, mas também normativos. Admite-se aqui, a título
excecional, alguns elementos subjetivos do ilícito típico.
Culpa – (conceção normativa de culpa) aqui sim, vamos debruçar-nos
sobre o interior do agente. É uma culpa psicológico-normativa, pois o que
interessa a este sistema é a valoração - agora, de um ponto de vista
individual. O comportamento tem de ser suscetível de censura. A culpa
agora vista como um juízo de censura, diversifica-se nos seus elementos
constitutivos:
o A imputabilidade como capacidade do agente de avaliar a ilicitude
do facto e de se determinar por essa avaliação;
o O dolo ou a negligência como forma ou graus de culpa;
2.1- Apreciação crítica
É sobretudo no que respeita, à construção do sistema do facto punível que
se fez mais críticas a esta conceção.
1. Apesar de já ser uma ação de valoração, na sua estrutura, não se deixou
de considerar a ação como uma ação causal - relação causa-efeito. Ou
seja, objetivismo. Ao fim ao cabo, não se tem em conta a dimensão
subjetiva/individualista do facto ilícito. Isso revela-se, por exemplo, na
hipótese da tentativa, em que não acontece qualquer ofensa ao bem
jurídico.
A crítica acabava por estar no fundo, no conceito mecânico-causalista
da ação, que por efeito, acabava por esquecer que não é aí que reside a
essência do ser humano, de tal modo, que quase todos os erros desta
construção, teriam ali a sua origem.
2. Apesar de ter sido introduzido elementos subjetivos, continuava a haver
uma visão puramente objetiva do ilícito, que esqueceria a carga ético-
pessoal e não poderia por isso, servir para caracterizar a contrariedade da
ação à OJ. Se o ilícito é sobretudo um resultado nocivo do bem jurídico, ao
fim ao cabo, não se tem em conta a dimensão subjetiva do facto ilícito, isso
revela-se, por exemplo, na hipótese de tentativa, em que não acontece
2018/2019 Rita Nina- FDUC 88
qualquer ofensa ao bem jurídico. Para sabermos o que é o ilícito típico
temos de ir ao interior do sujeito. A ideia de ilícito objetivo faz perder a
noção do ilícito como comportamento humano.
3. Por outro lado, a culpa, que os autores neoclássicos entendem como um
juízo de censura (culpa normativa), compreendia também o nexo
psicológico entre o agente e o seu facto. Isto quer dizer que só no patamar
dogmático da culpa é que se distinguiria o crime doloso do crime
negligente, temos de normativizar a categoria da culpa.
No fundo, o principal problema do conceito neoclássico de crime acaba por
estar na falta de compreensão de que, a ação humana só pode ser compreendida
na obra de uma pessoa, para um normativista, é indiferente que um incêndio
tenha sido causado de propósito por alguém ou se foi causado sem querer. O
problema foi não se ter normativizado o suficiente e não ter visto, não ter
percebido que uma obra humana nunca é só o que está fora do sujeito, há de ser
uma junção daquilo com o que consta no interior do ser humano.
O facto ilícito não pode ser apenas uma situação de dano, ou bem jurídico. O
facto ilícito é sempre um comportamento humano. Ex.: num terramoto, o
direito penal não tem nada a ver com isso, agora imagine-se que nesse cenário,
alguém aproveita da situação para matar outra pessoa, mesmo que não chegue
efetivamente a matar ninguém, o direito penal claro que vai reagir nesta situação
(reage, pois, é um comportamento humano contrário à conduta). Como é que o
direito penal procura evitar estas lesões? Através de normas de conduta, sendo
que para aí em diante, as pessoas não pratiquem ações que levem à morte de
alguém.
3.- Conceção Finalista
Após a tragédia da II GM ficou claro que o normativismo das orientações
jurídicas da raiz neokantiana não oferecia garantia bastante de justiça dos
conteúdos das normas validamente editadas. É então que se assiste à
substituição definitiva do Estado de direito formal pelo Estado de direito
material. A Hans Wezel pertence o mérito de ter transposto para o direito penal,
todo este património ideológico sobre o Jurídico e o seu modo.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 89
Ação- a ação humana é uma exteriorização da intencionalidade do
sentido. Como tem elementos subjetivos, para além dos objetivos, tem um
sentido próprio, socialmente apreensível. Desta conceção de ação,
resultaria o inteiro sistema do facto e do crime. A verdadeira essência
da ação humana foi encontrada por Wezel, na verificação de que o homem
dirige finalisticamente os processos causais naturais em direção a fins
mentalmente antecipados, escolhendo para o efeito os meios
correspondentes: toda a ação humana é assim supradeterminação final de
um processo causal.
Tipicidade- continua a ser um tipo descritivo, só que o tipo de Wezel diz
que, na sua própria ação já há o elemento subjetivo (o dolo, como
elemento essencial) então o dolo já está inserido na tipicidade e também
no ilícito. O tipo é sempre constituído poe uma vertente objetiva (os
elementos descritivos do agente, da conduta e do circunstancialismo) e
por uma vertente subjetiva (o dolo ou a eventual negligência).
o Assim resta saber se a ação é dolosa. Os finalistas reconhecem uma
bipartição, o tipo subjetivo e o tipo objetivo (descrição da conduta
na sua objetividade). Assim, há tipos dolosos e tipos negligentes.
Ilicitude- o ilícito na verdade é a análise de causas de justificação, há
ações que não são ilícitas porque são socialmente adequadas (ex.: ação de
um cirurgião, apesar de estar a cortar o corpo de uma pessoa, ele tem a
finalidade de a curar). Temos de ver se é exigível ao agente um
comportamento conforma ao direito, e se ele não está em erro censurável
sobre a ilicitude. O que Wezel disse é que há um desvalor do ilícito
olhando para o comportamento do agente, fazendo o julgamento desse
comportamento, não se olhando para a cara concreta do homem.
Culpa- continua a estar na base o nexo psicológico. Agora olha para a cara
concreta da pessoa que cumpriu aquele facto (ex.: condições psíquicas).
Junta-se o desvalor pessoal subjetivo. A culpa vem confirmar aquele
sentido doloso ou negligente. É ver se a pessoa tinha condições de atua
com o direito, mas não o fez. Se não censurar não há crime.
Neste contexto, a tentativa já é desvaliosa, o núcleo essencial é a ação,
mesmo que não haja sucesso na pretensão. Ser doloso ou ser negligente, é
2018/2019 Rita Nina- FDUC 90
diferente, qualquer pessoa percebe que o desvalor de uma morte querida é
maior do que o desvalor de uma morte sem querer. Temos de pôr o desvalor da
ação em 1º lugar, e isto não deve ficar apenas para culpa, mas sim também no
próprio desvalor do ilícito. O que sobretudo se transportou da neoclássica, para
esta categoria foi o juízo de valores que era o que faltava.
Este novo paradigma, tira o melhor que se pode tirar, independentemente
da ação final, mas o que mais se retira daqui é a ideia do ilícito pessoal, portanto
a partir daqui constrói-se o novo paradigma neológico funcional. Todas as
categorias dogmáticas vão estar todas tuteladas pelos valores jurídico-criminais.
3.1- Apreciação crítica
Esta conceção também não pode ser aceita no seu todo. Segundo ela, tudo
residiria só em determinar as estruturas lógico-formais ínsitas nos conceitos
utilizados pelo legislador, e a partir delas deduzir a regulamentação ou a solução
aplicável ao caso. Isto acabava por não ser muito diferente do que repetir os
erros do direito natural clássico, ao preencher os conceitos do direito positivo
com os conteúdos considerados normativamente mais corretos, para em seguida,
deduzir do corpo natural e os apresentar como vinculantes e livres de discussão.
1. Do ponto de vista normativo, a conceção da ação é hoje considerada,
como insuscetível de oferecer uma base unitária a todo o ser humano que
releva para o direito penal. A supradeterminação final de um processo
causal é tão estranha a sentidos e valores como o conceito causal de ação
que a conceção finalista pretendeu ultrapassar.
2. Relativamente à conceção do ilícito, as aquisições da doutrina finalista
apresentam-se ainda hoje cheias de valor e mesmo reforçadas por toda a
discussão dogmática que suscitaram.
3. Já a conceção da culpa, dá campo a amplo criticismo. A afirmação de que
a culpa é um mero juízo de (des)valor, expurgado de todo o objeto de
valoração e reduzida à pura valoração do objeto, não é compatível com a
função político-criminal que o princípio da culpa deve exercer no sistema.
Uma tal função da culpa vai ficar reduzida a muito pouco, se apenas se
traduzir, num “puro juízo existente na cabeça do juiz”.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 91
a. Se o princípio da culpa é tão essencial no sistema do direito penal,
e se as sanções penais para o mesmo tipo de crime são
distinguidas em função do dolo e negligência, então o dolo e a
negligência têm de ter significado como graus, formas ou tipos de
culpa – em todo o caso, como matéria de culpa.
4.- Conceção teleológica-funcional e racional
Trata-se de um sistema emergente, comandado pela convicção de que a
construção do conceito de facto punível deve apresentar-se como teleológico-
funcional e racional, possuindo a partir daqui os seus próprios postulados e
determinando os seus específicos desenvolvimentos comandados pela convicção
de que aquele sistema e os seus conceitos integrantes são formados pelas
valorações fundadas em proposições político-criminais imanentes ao quadro
axiológico e às finalidades jurídico-constitucionais.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 92
II- Os tipos incriminadores
O crime é analisado e composto em várias categorias cada qual com o seu
conteúdo essas são comuns a todos os crimes.
Segundo um sistema categorial-classificatório, o que encontramos é um
modelo teórico, abstrato que visa uniformizar com categorias de caráter geral o
tratamento dos casos penais e de maneira a que os crimes tenham certos
elementos comuns e que possam ser compreendidos e que a lei penal passe a ser
aplicada com algum grau de uniformidade (razões que se prendem com o
principio de igualdade, segurança jurídica, etc). Este sistema vale quer para o
homicídio quer para o crime mais baixo, a forma de definir as categorias de
crime é similar para todos os crimes, aquela chave de compreensão de conteúdo
de crimes, para que todos tenham uma linguagem comum, de modo a que se fale
dos fenómenos criminais de modo uniforme.
Segundo um sistema deste tipo temos três categorias:
A.- Tipicidade
C
B.- Ilicitude
C.- Culpa
B
Para Figueiredo Dias, o que está em primeiro lugar é a ilicitude, a
tipicidade é no fundo tipificadora do juízo de ilicitude e por isso eles devem ser
edificados numa categoria só do tipo ilícito. No entanto a maior parte dos
autores entende que, a tipicidade em si mesma tem alguma densidade, alguma
razão de ser em ser autonomizada. Para o direito penal, matar uma mosca ou
matar um homem em legitima defesa, é a mesma coisa, mas os defensores da
tipicidade dizem que há alguma diferença.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 93
Tipo ilícito:
Tipo incriminador
o tipo objetivo ilícito dado nesta aula (sujeitos, conduta, bem
jurídica)
o tipo subjetivo ilícito (dolo)
Tipo justificador- causas de exclusão de ilicitude
Assim, para Figueiredo Dias, sendo esta a doutrina que nós seguimos, tanto
os tipos incriminadores, como os tipos justificadores concorrem na
concretização de um sentido de ilicitude material de que se reveste uma
determinada conduta. Conduta há que interceder entre uns e outros
determinadas diferenças de sentido e conteúdo. Começaremos então pelo estudo
do tipo incriminador.
A. Tipo incriminador (corresponde à tipicidade)
1.1.- Questões gerais
Determinações conceituais
Importa clarificarmos a pluralidade de sentidos que na dogmática de penal
se utiliza a categoria do tipo.
i. Tipo de garantia/Tipo legal de crime- conjunto de elementos, exigido pelo
29º CRP e pelo artg.1º do CP, que a lei tem de referir para que se cumpra o
princípio não há crime, nem pena sem lei. Trata-se de um conjunto de
elementos que se distribuem por categorias da ilicitude, da culpa e da
punibilidade.
ii. Tipo de erro- conjunto de elementos de que se torna necessário ao agente
conhecer para que possa afirmar-se o dolo do tipo, dolo do facto ou “dolo
natural”. Este tipo não se confunde com o tipo descrito a cima, neste
fazem parte os pressupostos de uma causa de justificação ou de exclusão
de culpa; bem como as proibições cujo conhecimento seja razoavelmente
indispensável para que o agente tome consciência da ilicitude do facto
(artg.16º/1/2).
iii. Tipo ilícito- É a figura sistemática de que a doutrina penal se serve para
exprimir um sentido de ilicitude, individualizando uma espécie de
2018/2019 Rita Nina- FDUC 94
delito, e assim cumprindo a função de dar a conhecer ao destinatário que
tal espécie de comportamento é proibida pelo ordenamento jurídico.
a. Sem prejuízo de, na questão do relacionamento entre a tipicidade e
a ilicitude, se dar primazia à categoria da ilicitude, constituindo a
tipicidade apenas a concretização de um sentido de ilicitude de
uma espécie de delito.
Desvalor de ação e desvalor de resultado
Após as investigações dogmáticas de Wezel tornou-se corrente a distinção
entre:
Desvalor de ação- compreende-se o conjunto de elementos subjetivos
que conformam o tipo ilícito (subjetivo) e o tipo de culpa, nomeadamente,
a finalidade delituosa, a atitude interna do agente que ao facto preside e a
parte do comportamento que exprime faticamente este conjunto de
elementos.
o Ex.: revela-se na tentativa de crime.
o O desvalor da ação foi enfatizado pelo finalismo, se a finalidade do
atuar constitui o elemento essencial da ação, então, ela tem de ter
ao mesmo título momento integrante do tipo e do ilícito – ilícito
pessoal.
Desvalor de resultado- compreende-se a criação de um estado
juridicamente desaprovado e, assim, o conjunto de elementos objetivos
do tipo ilícito que perfeccionam a figura do delito.
o Ex.: revela-se no resultado do crime consumado.
o A tentativa de ensaiar a construção da doutrina do crime a partir
do desvalor de ação foi encabeçada, como se sabe, pelos adeptos
da doutrina clássica, em que o ilícito seria caracterizado
essencialmente por elementos objetivos.
A constituição de um tipo ilícito exige, por regra, tanto um desvalor do
resultado como um desvalor da ação; sem prejuízo dos casos em que, havendo
um desvalor do resultado de uma certa forma predomina sobre o desvalor da
ação (ex.: crimes de negligência), ou, em que, inversamente o desvalor da ação
predomina sobre o desvalor do resultado (ex.: casos de tentativa).
2018/2019 Rita Nina- FDUC 95
Elementos descritivos e normativos
Para a concretização da ilicitude que neles vive, os tipos incriminadores
servem-se de elementos de dupla natureza:
Elementos descritivos- elementos que são apreensíveis através de uma
atividade sensorial, isto é, alimentos que se referem apenas aquelas
realidades materiais que fazem parte do mundo exterior e por isso podem
ser conhecidas, captadas de forma imediata, sem necessidade de
valoração. Ex: pessoa (131º CP); mulher grávida (140º CP).
Elementos normativos- apenas podem ser representados e pensados
sob a lógica pressuposição de uma norma ou de um valor. São elementos
que não são sensorialmente percetíveis, podendo ser apenas,
espiritualmente compreensíveis ou avaliáveis. Ex.: caráter alheio da coisa
(artg.204º).
Tipos abertos, elementos valorativos e adequação social
Fica a dever-se a Wezel, a construção dos tipos abertos. Tratam-se de tipos
em que os elementos definidores da espécie de delito teriam que ser
completados, para determinação da matéria proibida, por uma valoração
autónoma levada a cabo pelo aplicador, valoração que deste modo, se
encontraria fora do tipo e constituiria assim uma regra de ilicitude.
Este seria o caso mais evidente dos tipos omissivos impróprios e mesmo
dos tipos negligente; mas também de muitos outros tipos dolosos de ação,
onde a determinação típica não se torna possível sem uma completação a
matéria probida.
A sua consideração dogmática, teve como efeito, chamar a atenção para
elementos típicos que, possuindo, embora uma base fáctica individualizável,
todavia se revelam como juízos de valor geral ou elementos valorativos
globais – juízo de valor global sobre a ilicitude da conduta. Ex.: Não será punível
a coação, se a utilização do meio para atingir o fim visado não for censurável.
Wezel, acentuou também que todos os tipos incriminadores tinham de ser
interpretados como contendo uma clausula implícita restritiva de inadequação
social, a qual conduziria a excluir a excluir o tipo de ilícito todas as ações que
não caem fora da ordenação ético-social da comunidade.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 96
1.2.- A construção do tipo incriminador
Para alguns factos da vida, terem relevância no direito penal, têm que estar
tipificados. Se o facto, à partida é o facto atípico (não tem expressão em nenhum
tipo legal de crime), é um facto que não releva em direito penal. A primeira
questão que temos de ver segundo o esquema, ou seja, começando pela base, é
vermos se um facto é crime. Por exemplo, matar outra pessoa é um facto típico
de homicídio, tendo interesse para o direito penal. Temos uma primeira triagem
dos incontáveis comportamentos da vida, que a esmagadora maioria deles não
tem relevância penal, sendo que não estando previstos em nenhum tipo legal de
crime são factos atípicos. Pode acontecer, contudo que facto seja atípico para um
certo crime, mas já será típico para outro crime – ex.: pontapear uma certa
pessoa- típico do crime de agressão física; atípico do crime de homicídio. Quando
um facto é típico de um crime, é específico desse crime. Em qualquer processo
quando se pergunta pela tipicidade, esta corresponde a um certo tipo legal de
crime de aplicação naquele caso, e um certo facto pode ser típico para mais do
que um crime. Para vermos se um facto é atípico, terá que passar por uma série
de testes, nomeadamente o do tipo incriminador.
Este sobretudo, é formado por uma dimensão objetiva e uma dimensão
subjetiva. Fala-se num tipo objetivo e um tipo subjetivo, sendo este modelo
partilhado pela generalidade da doutrina penal (origem alemã). Entende que os
crimes devem perspetivar-se a parir de quatro pontos de vista que podem ser
analisados sobre quatro modalidades, consoante o caráter ativo ou omissivo e
carácter doloso ou negligente:
Crimes dolosos de omissão
Crimes dolosos de ação
Crimes negligentes de omissão
Crimes negligentes de ação
No tipo subjetivo, encontramos os crimes dolosos (pelo menos pelo
dolo), e os crimes negligentes (crime é composto pela negligencia).
Tendo em atenção a dimensão objetiva e subjetiva temos o ilícito
pessoal. E é sobre este prisma que os tipos legais são analisados, que o caso é
analisado. É uma chave de interpretação comum a todos os crimes. Nos crimes
2018/2019 Rita Nina- FDUC 97
em especial, há esta decomposição classificatória dos vários estratos, assim tem
de haver uniformização de resolução dos problemas.
Por outro lado, qualquer tipo legal de crime deve descrever a conduta em
que o crime se consubstancia e referir-se a um certo valor jurídico. Se formos ao
CP, vemos que o tipo legal é composto pelo tipo incriminador, que, começa por
dizer que, pode ser agente do crime qualquer pessoa, por exemplo: o crime de
homicídio é o ato de matar outra pessoa (elementos objetivos). Aqui está
presente um bem jurídico- uma pessoa.
a) Tipo objetivo ilícito
Todos os tipos incriminadores devem na sua revelação objetiva, precisar
quem pode ser autor do respetivo crime; qual a conduta em que este se
consubstancia; e na medida do possível, dar indicação explícita ou implícita dos
bens jurídicos tutelados. Encontramos então também as 3 vertentes do tipo
objetivo:
Autor- todos os crimes devem precisar, de forma clara, quem pode ser
autor desse facto criminoso. Aqui distingue-se entre:
o Crimes comuns - o autor pode ser qualquer pessoa (generalidade
dos crimes). Não está certo dizer que os crimes comuns podem ser
praticados por qualquer pessoa, mas sim que o autor pode ser
qualquer pessoa, pois no plano do agente há uma distinção entre
autor e cúmplices (participantes).
o Crimes específicos – a lei leva a cabo nesta matéria uma
especialização, no sentido de que, certos crimes só podem ser
cometidos por determinadas pessoas, às quais pertence uma
certa qualidade ou porque recai sobre elas um dever especial.
Ex.: crime de corrupção que está no 273ºCP em que apenas
funcionários podem ser autores de um crime de corrupção.
Ex.: Se um professor receber um suborno para passar um aluno
isto trata-se de uma corrupção, se for um de uma escola pública
estamos perante uma corrupção passiva já que ele é um
funcionário; por sua vez, se for da privada já não poderá ser
corrupção passiva.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 98
Por vezes refere-se ao estatuto, outras ao dever, por exemplo, no
artg.224º quem gerir o património contra os interesses do
particular comete o crime da infidelidade do património (autor-
quem gere o património e apenas ele).
Crimes específicos podem ser:
Crimes específicos próprios/puros- aqueles em que o dever
integra a fundamentação da ilicitude penal. Ex.: crime da
prevaricação do 370º, em que se não for levada a cabo por
um advogado ou solicitador não constitui crime.
Crimes específicos impróprios/impuros- a qualidade do autor
ou o dever que sobre ele impede, não serve para
fundamentar a responsabilidade, mas unicamente para a
agravar. Ex.: 278ºCP- invasão de domicílio por funcionário.
Crê-se que, em todos os crimes específicos, o que é mesmo decisivo
é o dever especial que recai sobre o autor, não a posição do autor
de onde este dever resulta. Assim, pode haver crimes específicos
que se limitam a descrever a situação de onde resulta o dever
especial (artg.200º - incrimina a omissão de auxílio) ou a
descrever o próprio dever especial.
Também é de referir que, no campo dos crimes específicos, na
maior parte dos casos a tipicização do autor é feita pela atribuição
a este de um dever especial, casos há em que ela é levada a cabo
através de um relacionamento interpessoal (por estar casado, por
exemplo).
A distinção entre crimes comuns e crimes específicos assume um maior
relevo prático, sobretudo na matéria da comparticipação, nomeadamente em
sede de distinção de autoria e cumplicidade, bem como da comunicabilidade
entre os comparticipantes de certas qualidades ou relações especiais do agente.
Assim, tem interesse referir os crimes de mão própria, em que, o preceito legal
apenas pretende abranger os autores imediatos, ficando excluída a possibilidade
da autoria mediata.
Em regra, o autor dos crimes é uma pessoa física, que o direito penal foi
sempre construindo. Nas últimas décadas, tem se consagrado (artg.11ºCP), salvo
2018/2019 Rita Nina- FDUC 99
disposto em contrário, que as pessoas singulares são as suscetíveis de
responsabilidade criminal. Contudo existe um largo desvio a esta regra, de
acordo com o qual, certos crimes podem ser cometidos por entes coletivos-
responsabilidade penal das pessoas coletivas. O direito penal estuda esta
possibilidade e, durante muitos séculos perdurou a ideia de que apenas as
pessoas físicas é que podem cometer crimes, por definição as pessoas coletivas
não seriam agentes. Se um crime fosse cometido por uma pessoa coletiva, apenas
haveria crime atribuído à pessoa individual. Esta limitação da responsabilidade
criminal às pessoas físicas, era sustentável através de dois argumentos
dogmáticos:
Incapacidade de ação- só há crime se houver ação ou omissão. Pessoas
coletivas nunca poderiam agir por eles próprios, mas sempre e apenas
através de pessoas físicas. Se não temos alguém a agir, não podemos ter
alguém a cometer crimes.
Incapacidade de culpa- apenas há crime se a ação poder ser censurada. A
culpa é entendida como um juízo de censura ético-pessoal, com fundamento
na liberdade do homem, e como tal é própria das pessoas singilares. Por
outro lado, a pessoa coletiva é incapaz de culpa, já que a pessoa coletiva é
desprovida de alma, de espírito.
A partir dos anos 70, começou-se a disseminar a ideia de que as pessoas
coletivas podiam praticar crimes conforme os seus interesses. Percebeu-se que
grande parte dos chamados crimes económicos, eram praticados na órbita das
empresas, era uma forma de criminalidade empresarial. Começou-se cada vez
mais a discutir a imputabilidade das empresas, sendo que muitas das vezes, era
muito difícil apurar responsabilidade individuais concretas, dado que as
empresas se organizam hierarquicamente, o trabalho era maioritariamente feito
em equipa, e a produção de prova acabava por ser uma tarefa quase impossível,
em virtude da extrema dispersão do poder decisório. A organização das
empresas dificultava a aferição e a imputação de responsabilidades individuais,
então o modo de prevenir isto, foi o de admitir a possibilidade de as empresas
também poderem ser punidas. Punidas através da aplicação de multas, perdas
acessórias de acesso a serviços públicos, etc.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 100
Deste movimento político criminal, desde a década de 80, que se começou a
admitir a responsabilidade criminal das pessoas coletivas.
Em 2007, numa alteração no CP, foi alargado a responsabilidade penal das
pessoas coletivas a um conjunto significativo de crimes, como o arg.11º/2 CP-
alargou a responsabilidade para o “direito penal clássico”.
Quando um determinado crime é cometido ele pode ter em regra uma pessoa
individual, mas também podemos ter como autor uma pessoa coletiva (apenas
para determinados crimes). Ex.: no caso de Pedrógão, foram várias pessoas
acusadas de homicídio negligente, mas não as empresas. Contudo, há outros
crimes em que se prevê, por exemplo, corrupção ativa.
Há um problema difícil neste âmbito que é, o de saber em que termos, é que,
o facto criminoso cabe à pessoa coletiva:
O chamado modelo da hetero-responsabilidade em que a pessoa
coletiva responde em função do facto criminoso praticado por uma pessoa
individual que seja levado a cabo em seu interesse. Ex.: para um suborno
entregue ao funcionário publico, é necessário que haja alguma ligação
àquela empresa. Hetero-responsabilidade porque a empresa responde
por algo feito por alguém que está a si ligado.
O modelo da auto-responsabilidade, no fundo o que se censura é
sobretudo por não se ter estruturado de uma forma que prevenisse e que
se entenda a prática de crimes. O que está em causa é a censura que se
dirige à empresa relativamente à sua organização, dado que ela tem o
dever de se estruturar de uma forma que não seja propícia à prática de
crimes.
A questão relativa a estes modelos está regulada no 11º/2 CP, relativas ao
nexo de imputação. Quando o facto criminoso é praticado por quem ocupe uma
posição de liderança ou de chefia na PC, entende-se que é a própria PC que
age, a PC age através destes órgãos. Há casos em que, a PC também pode
responder criminalmente mesmo que não seja praticado por quem esteja numa
posição de liderança- 11º/2 b) nesta 2ª vertente, a PC responde, por alguém
que integra a sua estrutura se esse facto tiver sido propiciado pela falta de
vigilância ou de controlo. Ex.: funcionário do Benfica subornou determinadas
pessoas, a SAD do Benfica pode responder pelas ações desse individuo se
2018/2019 Rita Nina- FDUC 101
ocupava ou uma posição de liderança, ou se esse comportamento foi propiciado
pela falta de vigilância e controlo.
Conduta- o tipo legal deve também descrever a chamada conduta típica,
isto é, o comportamento que pode ofender nos termos em que o crime se
materializa.
É neste plano que temos o conceito de ação, sendo que a conduta
corresponde a uma ação ou omissão. A categoria da ação está inserida no próprio
tipo objetivo e tem uma função iminentemente negativa de exclusão
comportamentos jurídicos-penalmente irrelevantes, isto porque, há certo
tipo de situações que não se podem classificar como ações criminais. Há
determinadas situações, que não assumem relevo no ponto de vista penal, sendo
classificadas como não ações:
Caso do pensamento ou os sonhos (o simples pensar não é punível);
Também não são ações para efeitos penais, aquelas formas de agir que
não sejam determinadas pela vontade ou que sejam inconscientes – não
pode ser classificado como típico pois não há uma ação.
o Ex.: sonambulismo, hipnose.
Atos reflexos ou automáticos, há certos movimentos instintivos que
quando estes agridem um bem jurídico não são consideradas ações de
relevo do ponto de vista penal, dado que não foram verdadeiramente
reinadas pela vontade.
o Ex.: polícia foi confrontado pelos assaltantes e o carro dos
assaltantes entrou em choque e o polícia disparou contra os
assaltantes e matou um deles- MP arquivou o caso pois nem
sequer considerou que havia ação, dado que ele agiu por puro
instinto.
o Ex.: alguém que perdeu o controlo do carro e entrou em colisão
com outro veículo, por ter tido uma reação instantânea, por causa
de um inseto que lhe entrou no olho.
No âmbito da tipicidade podemos ter: uma conduta de natureza ativa
(fazer) ou se tem uma natureza omissiva (não fazer). Em certos casos é fácil
fazer esta distinção, por exemplo se A matou B este é um crime de natureza ativa.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 102
Porém há situações, em que não é nada claro que a conduta tem um caráter ativo
ou omissivo: desligar a máquina de ventilação no hospital (ação ou omissão por
não prestar o dever de assistência).
Dentro do quadro da conduta, relativamente aos crimes por ação, há uma
diferenciação muito importante:
Crimes de resultado- são crimes cuja consumação pressupõe a produção
de um resultado, isto é, de uma alteração externa espácio-temporalmente
distinta de uma conduta. Não é suficiente que o agente atue, mas sim é
preciso que dessa conduta resulte uma consequência. Se o agente age, mas
o resultado não produz uma consequência temos apenas uma tentativa-
ex.: apenas há crime de homicídio consumado quando a ação homicida
resulta na morte de uma pessoa. Nestes crimes também é necessário a
imputação do resultado à conduta. Entre a conduta e o resultado que
ocorreu é necessário que haja um nexo.
o Ex.: A dispara sobre o B, mas também ao mesmo tempo C também
dispara, se quem mata foi o C, A não poderá ser responsabilizado
dado que não nexo de imputação (homicídio).
Crimes de mera atividade- o tipo incriminador se preenche, através do
simples agir que por si só origina o facto típico, ex.: invasão de domicílio.
É esse agir que implica a consumação do facto.
É depois, no fundo, a mesma distinção que se leva a cabo quando se
distinguem crimes formais (a cuja tipicidade é indiferente a realização do
resultado) e crimes materiais (a cuja tipicidade interessa o resultado).
O relevo prático-normativo desta distinção, prende-se mais com o facto, de
apenas os segundos suscitam a questão da imputação objetiva do resultado à
ação – quais os requisitos necessários para que um determinado evento seja
considerado como produzido por uma dada ação.
Nos vários crimes de omissão temos:
Crimes de omissão própria- crimes de mera omissão, no caso
paradigmático, de o médico recusar perante o dever de agir.
Crimes de omissão imprópria- são os crimes de resultado (pressupõem
necessariamente um resultado, uma consequência) cometidos por
2018/2019 Rita Nina- FDUC 103
omissão. Artg.10º/1/2- normas de poder decisivo nos casos de omissão
imprópria.
Ainda no plano da conduta, temos outra classificação, que diz respeito à
existência ou não, da exigência de se praticar ou não o facto – crime de
execução livre ou crime de execução vinculada:
Crimes de execução livre- não se exige para que se consuma uma certa
forma de execução dos factos. Ex.: homicídio, não se exige um processo
típico de matar para que se configure crime de homicídio.
Crime de execução vinculada- a consumação do facto apenas poderá ser
designada se esta for feita de determinada forma, o legislador estreita o
modo a certas modalidades. Ex.: 217ºCP- na burla, o que está em causa é
provocar o engano na outra pessoa e através disso prejudica-se o
património dela.
Ainda há outra distinção neste plano:
Crimes de execução instantânea- cuja consumação se dá imediatamente
e se esgota logo ali.
o Ex.: crime de ofensa à integridade física, ainda que o ofendido fique
com lesões para o resto da vida
Crimes duradouros- cuja execução típica se prolonga no tempo por
vontade do próprio agente, o crime vai-se consumando. Ex.: sequestro.
Caso 11- Ana, delegada de informação médica, da empresa farmacêutica x S.A,
na Madeira, atuando com a sua única e exclusiva iniciativa prometeu aos médicos
Bruno e Carlos que repartiria com eles uma parte do bónus, previsto para o caso
de as vendas de um certo medicamento atingirem um determinado valor. Para
tanto, bastaria que os médicos prescrevessem esse medicamento em detrimento
de medicamentos similares da concorrência, quando fosse clinicamente indicado.
Bruno, médico de um hospital publico integrado no SNS e o Carlos médico de
clínica privada, aderiram à proposta e passaram a dar preferência ao
medicamento da empresa x. Quem poderá corresponder pela corrupção do ato
lícito (373º/2 e 374º/2)?
Resolução 11- Os tipos legais são os que estão previstos no 373º/2 e o
374º/2, e temos de ver neste caso quem vai responder por este caso.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 104
As normas seriam da corrupção para ato lícito e da corrupção passiva.
Facto típico
Tipo incriminador:
Tipo objetivo de um certo crime:
a) Autor-
Em 1º lugar, o tipo objetivo deve definir quem é o autor e quem pode ser o
autor, sendo que nos crimes comuns pode ser qualquer pessoa, enquanto que
nos crimes específicos tem de ser pessoas especificada em função de um certo
estatuto ou dever.
Para a corrupção passiva- o tipo legal de crime especifica como autor
pessoas que tenham o estatuto de funcionários- 386º define quem é funcionário
para efeitos penais.
Ana- Não pode ser autor deste crime, porque não é funcionaria pública,
ela é trabalhadora de uma empresa privada.
Bruno- médico de um funcionário público já pode. Só ele é que podia
responder por este crime, sendo que a Ana e o Carlos ficavam logo
afastados deste crime.
Carlos- médico de uma clínica privada, não pode ser autor já que não é
funcionário.
Para a corrupção ativa- crime comum- qualquer pessoa pode ser autor
deste crime. Neste caso, poderia configurar como autor deste crime a Ana, Bruno,
Carlos e a sociedade x. A questão da imputação deste crime estava aberta para
todos. Visto isto:
b) Conduta-
Para a corrupção passiva- a conduta de bruno era própria para este crime
dado que o artigo tipifica como crime, a aceitação para si ou terceiros a vantagem
patrimonial ou a sua promessa, e tal se confere, visto que a delegada lhe
prometeu uma parte do bonus e ele aceitou.
Para a corrupção ativa- dar ou prometer a funcionário a vantagem
patrimonial ou não patrimonial:
Ana prometeu vantagem patrimonial a 1 funcionário, porque apenas o
Bruno é que era funcionário, sendo que ela cometeu este crime apenas em
relação a Bruno, já não em relação a Carlos.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 105
Bruno e Carlos não prometerem nem deram nada, assim este crime não se
aplicava a eles.
Empresa x- nos termos do 11º poderia eventualmente responder por
este crime.
Há crimes específicos impróprios em que a titularidade do dever, em que
um certo estatuto é um fundamento da ilicitude, mas a qualidade do autor agrava
a ilicitude. Nesses casos, em que esse crime pode também ser cometido por
qualquer pessoa, são assim estes designados.
Em matéria de autonomia, este caso suscita um problema de
responsabilidade penal em relação à pessoa coletiva (insere-se na categoria
do autor). Isto porque, Ana trabalhava para uma empresa, e sendo assim o MP
dirigirá a investigação não só para a pessoa que poderá ter cometido crime, mas
também irá tentar averiguar se a pessoa coletiva para com quem a pessoa
trabalha também cometeu crime. Isto devido ao artg.11º, que diz que as pessoas
coletivas podem responder a alguns crimes.
Se nada for determinado pela lei, a regra é de que, apenas as pessoas
singulares é que podem cometer crimes. No entanto, há muitos crimes que
podem ser praticados por pessoas coletivas, nomeadamente os do 11º e os
previstos em legislação avulsa. A pessoa coletiva apenas responderá
criminalmente se o crime estiver previsto na lei, por exemplo nos incêndios de
Pedrógão, o MP acusou várias pessoas individuais, mas não acusou as empresas
envolvidas pois os crimes pelo os quais acusou (homicídio) não estavam
previstos para pessoas coletivas. Assim, no artg.11º/2 ou em certos casos de
legislação avulsa, estão previstos os casos em que a pessoa coletiva pode ser
responsabilizada.
No nosso caso, poderia a empresa responder pela prática de crime de
corrupção pelo comportamento da Ana? Temos de ir ao 11º/2 ver se está
incluído o crime praticado pela Ana, e vemos que o 374º/2 está previsto no
11º/2. O crime de corrupção estando englobando, as pessoas coletivas podem
responder criminalmente pela corrupção.
A questão que se põe de seguida é se estão verificados os pressupostos da
responsabilização da pessoa coletiva, especialmente se o nexo de imputação da
pessoa coletiva (11º/2 a) + b)) está verificado. Nessas duas alíneas, prevê-se
2018/2019 Rita Nina- FDUC 106
duas vias alternativas de imputação do facto à pessoa coletiva. Quando se
verifica que um certo crime foi realizado no seu interesse e no seu nome, pode ou
não a pessoa coletiva responder perante esse crime, dependendo se os
pressupostos estão verificados ou não. Se o facto for praticado por alguém de
uma posição de liderança, então esse facto deve ser imputado à pessoa
coletiva– ex.: administrador da empresa corrompe o funcionário, então é alguém
que obviamente tem uma posição de liderança, por isso a empresa também vai
responder.
No presente caso, segundo o 11º/4, Ana sendo uma delegada de
informação médica não faz parte dos órgãos sociais da empresa, (por exemplo
um administrador ou um gerente), e também não é alguém que assuma controlo
sobre a empresa. Por isso não é suscitável de responsabilizar a empresa nos
termos do 11º/2 a). Contudo, temos outra via, sendo que a alínea b), impõe
naqueles casos em que o crime é cometido por um simples trabalhador, o facto
de a pessoa não ter uma posição de liderança, não significa que a pessoa coletiva
fique desligada do crime, porque pode acontecer que o crime tenha sido
praticado em virtude de uma falha de supervisão, pois quem lidera a empresa
tenha a função de organizar a empresa de modo tal que evite a prática de factos
ilícitos. Temos de averiguar se a empresa adotou uma forma de funcionamento
que permitia impedir atos ilícitos, se tal aconteceu então a pessoa coletiva não
responde; se viesse a verificar que o crime de corrupção de um sem controlo de
quem comanda a empresa, então aí a empresa pode responder. É neste contexto
que se vem distinguir a institucionalização de mecanismos de prevenção e de
controlo de riscos.
Bem jurídico- todos os tipos legais de crimes, para que se possam
classificar como materialmente legítimos, deverão desempenhar a função
de bens jurídicos.
O que é um bem jurídico? É definido como a expressão de um interesse, da
pessoa, ou da comunidade, na manutenção ou integridade de um certo estado,
objeto ou bem em si mesmo, socialmente relevante e por isso juridicamente
reconhecido como valioso. É importante não confundir o bem jurídico com o
objeto da ação: C mata D – o corpo de D é o objeto da ação, e a vida humana é o
2018/2019 Rita Nina- FDUC 107
bem jurídico lesado. Ao nível do tipo objetivo ilícito o objeto da ação aparece
como manifestação real desta noção abstrata, é a realidade que se projeta a
partir daquela ideia genérica e que é ameaçada ou lesada com a prática da
conduta típica.
A referência ao bem jurídico é também um elemento que integra o tipo
incriminador, e há que perceber qual foi a intenção do legislador ao prever
aquela conduta que descreve como crime - qual o bem jurídico que o tipo
incriminador visa proteger? Além de se identificar qual o bem jurídico, tem que
se ver qual a relação entre a conduta e o bem jurídico a que o legislador quis
fazer referência (que tipo de ofensa é que ele pretende proibir). Não basta
identificar o bem jurídico, é fundamental a compreensão do tipo incriminador e
perceber qual foi a ofensa que ele quis proibir.
Temos diversos tipos de ofensas, sendo que, em relação à forma como o bem
jurídico é posto em causa pela atuação do agente, podemos ter:
Crime de dano- o bem jurídico é lesado. São aqueles crimes cuja
consumação implica a lesão do bem jurídico (ofensas mais graves).
o Ex.: homicídio, quando se tira a vida a alguém; ofensa à integridade
física, quando se lesa a integridade física do outro. O legislador, no
fundo, aguarda pelo o dano para punir o agente, quando o bem já
está destruído.
Crime de perigo- o bem jurídico não chega a ser posto em causa
diretamente, sendo apenas ameaçado. Há situações em que o legislador
entende que tem de se dar uma maior importância ao bem jurídico, que se
justifica uma proteção mais forte desse interesse, e assim não se limita às
condutas que lesam, mas antecipa também aquelas que ponham o bem
jurídico em perigo.
Há toda uma tendência para ampliar os crimes de perigo, de modo a criar
novos crimes que reforçam proteção do bem jurídico. Isto porque, muitas
vezes é muito difícil demonstrar aquele nexo de imputação entre a
conduta e a vontade. Na maioria das vezes é difícil provar que o resultado
veio da conduta, e por isso, o legislador proíbe determinadas condutas
que são perigosas para o bem jurídico.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 108
Ex.: uma empresa portuguesa estava a desenvolver um tratamento,
por um ensaio clínico e houve algumas pessoas que sofreram dano
físico e pôs-se a questão de se aquelas mortes e danos físicos foram
provocadas pelo tratamento.
O legislador ao estabelecer os crimes de perigo, quis apenas estabelecer
um conjunto de regras em que, apenas tinha que se provar que, se estava
a pôr em perigo aquele bem jurídico.
o Crimes de perigo concreto- o perigo faz parte do tipo, isto é, o tipo
apenas é preenchido quando o bem jurídico tenha efetivamente
sido posto em causa. Ex.: condução perigosa – 291º; crime de
exposição ou abandono – 138º.
o Crime de perigo abstrato- o perigo não é elemento do tipo, mas
simples motivo da proibição. O crime não integra o tipo
incriminador, ou seja, proíbe-se o comportamento dado que ele é
simplesmente perigoso. Neste tipo de crimes são tipificados certos
comportamentos em nome da perigosidade típica para um bem
jurídico, mas sem que ela necessite de ser comprovada no caso
concreto: há uma espécie de presunção inelidível de perigo, e por
isso, a conduta do agente é punida independentemente de ter
criado ou não um perigo efetivo para o bem jurídico. Ex.: condução
embriagado.
Tem sido questionada também entre nós a
constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato pelo o
facto de, poderem constituir uma tutela demasiado
avançada de um bem jurídico, pondo em sério risco, quer o
princípio da legalidade, quer o princípio da culpa. A doutrina
maioritária e o TC pronunciam-se todavia, com razão, pela
sua não inconstitucionalidade quando visarem a proteção
de bens jurídicos de grande importância, quando for
possível identificar claramente o bem jurídico tutelado e a
conduta típica for descrita de uma forma tanto quanto
possível minuciosa.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 109
Em certos casos, não é nada claro qual é que é o bem jurídico, e a forma de
ofensa que ele visa punir. A condenação é muito mais simples no crime abstrato
do que na concreta. Ex.: 152º- maus tratos- que tipos de maus tratos são estes, o
que é que se exige? Integridade física ou mental? É necessário que se comprove a
lesão física?
Quando se vê o crime abstrato, já não é necessário provar a lesão, isto
porque, pune-se em função da perigosidade daquele determinado
comportamento, então por exemplo, relativamente ao crime de violência
doméstica, apenas é necessário provar o comportamento e não o dano, devido à,
perigosidade do comportamento em relação à mulher/homem.
Os crimes de perigo abstrato representam uma intervenção penal muito
antecipada, e isto pode levar a pôr em causa a ratio do direito penal, tendo este
entendimento surgido aquando da discussão da constitucionalidade destes
crimes. Neste âmbito surgiu posições que entendiam que, não se deveria punir
condutas que configuravam a prática de um crime de perigo abstrato, quando se
provasse que na realidade, não se chegou a pôr em perigo o bem jurídico; ou que,
o agente tomou as medidas necessárias para que o bem não fosse colocado em
perigo – doutrina de crimes de perigo-abstrato concreto. Contudo, do que
verdadeiramente se trata, substancialmente, é de crimes de aptidão – apenas
relevam condutas apropriadas ou aptas a desencadear o perigo proibido no caso
de espécie. Neste caso, o perigo converte-se em parte integrante do tipo e não
num mero motivo de incriminação.
Criminalidade de massa própria da “sociedade do risco”
Por fim, temos os crimes cumulativos- crimes relativos a bens jurídicos
coletivos em que, o facto em si mesmo, a conduta em si mesma, é inócua para o
bem jurídico (não faz mal ao bem jurídico), mas se não se proibisse, tal resultaria
um dano para o bem jurídico, devida às várias condutas repetidas. A questão é
que estas condutas apenas se tornam relevantes atenta a frequência devastadora
e quantidade inumerável com que condutas destas são elevadas a cavo.
Ex.: se alguém circular uma nota falsa, isso em si não causa dano, mas se
toda a gente começar a fazer isso, tal já causará danos muito grandes. Ex.: 279º/2
a) - produtos que fazem mal à camada de ozono.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 110
Caso 12- Em viagem de finalistas, universitários viajaram à República
Dominicana, e num avião da TAP, durante a noite, André, enquanto dormia, ao
sonhar com a sua ex-namorada, Beatriz, que também seguia no avião com o seu
novo namorado, César, gritou: “Beatriz és uma devassa, esta vai ser a tua última
viagem. E não penses que o teu novo amiguinho escapa! Hão-de morrer os dois!”.
Afirmações que foram ouvidas por todo o avião. Beatriz e César passaram as
férias em permanente sobressalto e regressados a Portugal apresentaram queixa
contra André por crime ameaça (art.153.º). Poderá André responder
criminalmente pelo que disse?
Resolução 12- o tipo legal de crime é o crime de ameaça (53º). O outro
elemento que temos de observar é a conduta, em que temos de verificar se
houve uma conduta e se esta integra a previsão incriminatória de um certo tipo
legal de crime. Para que uma certa conduta possa dizer-se que é típica legal de
crime ela tem de corresponder a uma certa previsão legal. O facto típico apenas
pode ser afirmado se a ação do agente corresponder àquilo que se chama de
conduta típica. A conduta em questão tem de possuir certas qualidades.
a) autor
Quanto ao autor, classificamos este crime como crime comum, pois pode
ser qualquer pessoa, daí estarmos perante este crime.
b) conduta
Aquilo que foi dito pelo ex-namorado parece corresponder à previsão típica
do crime de ameaça, e a questão é, poderá ser configurada como uma conduta
típica de ameaça? Ele disse o que disse durante o sonho, e este é um daqueles
casos em que não se pode dizer que há uma ação, o conceito de conduta típica
pressupõe que se possa afirmar a existência de uma ação e ação neste contexto
assume um relevo negativo da exclusão da tipicidade de condutas que não seja
governadas pela vontade. O agente deve atuar por força da sua vontade, pois só
havendo vontade é que o ato pode ser considerado como obra daquela pessoa. E
neste sentido, excluem-se condutas desprovidas do domínio da vontade
(estado de inconsciência, em que aí não se atua tipicamente). Tal como atos
praticados por alguém que está a dormir (sonambulismo) também não tem
significado típico; também se excluem comportamentos em que claramente o
indivíduo não tem controlo sobre aquilo que está a fazer atrás, ex.: alguém num
2018/2019 Rita Nina- FDUC 111
ataque epilético e magoa alguém. Também exclui-se aquilo que se faz por atos
reflexos, em que por vezes as pessoas têm reações automáticas que não
conseguem controlar e que podem magoar terceiros (ex.: pessoa que espirra).
Nessa medida ainda que estes atos lesem um bem jurídico, não são
tipicamente problemas, que é o caso deste caso prático, dado que a pessoa
estando a dormir não praticou uma ação típica.
Neste domínio da conduta, podemos ter crimes de mera atividade, ou
crimes de resultado.
Os crimes de mera atividade são aqueles cuja consumação se processa
através do simples agir, independentemente de haver consequências ou não, por
exemplo: o crime de violação, violar nos termos do 164º, esse ato em si mesmo já
constitui crime não sendo necessário advir qualquer consequência. Há outros
crimes cuja consumação além de pressupor a razão de uma certa conduta,
também pressupõe ainda que dessa conduta decorra uma consequência, um
resultado que se diferencie do tempo e do espaço daquela conduta – crimes de
resultado. Ex.: só há crime de homicídio que se houver morte (consumação-
consequência do ato). Para os crimes de resultado, é necessário que se
estabeleça um nexo entre a conduta e o resultado, é necessário que se comprove
que aquele resultado foi consequência daquela conduta.
c) bem jurídico
A propósito do bem jurídico vamos analisar o caso prático nº13.
O tipo incriminador do tipo objetivo, só será legitimo se referir a proteção
de um bem jurídico, e esse bem jurídico também influirá também no modo como.
Há formas distintas de proteção do bem jurídico, e essa proteção pode ser mais
ou menos rigorosa, e da intencionalidade decorrerá o modo como o legislador
tipifica a incriminação. A este propósito cabe a classificação dos crimes em
função da ameaça, da ofensa ao bem jurídico que é inerente à realização da
conduta. Há certas condutas que representam um ataque muito forte à vida, são
as condutas mais graves (ex.: crime de homicídio doloso, em que se prevê uma
conduta que acarreta a destruição de uma vida humana, como tal a pena é
especialmente grave).
Há outros casos em que nos deparamos com condutas, que põem uma vida
em risco, mas não ao ponto de destruí-la ex.: condutor que entra em contramão
2018/2019 Rita Nina- FDUC 112
na auto estrada, o simples facto de ele pôr em perigo a vida de outra pessoa, já é
em si tão desvalioso que justifica que seja punido. Esses casos em que o
legislador tipifica um certo comportamento em virtude do perigo que ela
provoca, já representa uma antecipação da proteção da vida. Claro que neste
caso o crime não é punido tão severamente, e por isso a pena para um crime
desses é uma pena muito mais baixa (ex.: 91º). Mas temos casos em que a
colocação a alguém em perigo de vida, como o crime de abandono que já têm
uma pena maior.
Há crimes que implicam a lesão do bem jurídicos, sendo esses designados
por crimes de dano. Quando falamos em bens jurídicos, referimo-nos a um
interesse/valor abstratamente considerado, sendo que o objeto de ação é outro.
Nos crimes de dano, são aqueles cuja consumação pressupõe a lesão do bem
jurídico e representam os casos de ofensa mais oferta.
Em certos casos o legislador adianta a barreira de proteção relativamente a
comportamentos que colocam em perigo bem jurídicos, em que nestes casos o
perigo faz parte do tipo- crimes de tipo concreto. É o caso por exemplo do
291º/1; 138º; 277º - em todos estes crimes o legislador prevê uma certa conduta
e pune essa conduta se ela criar perigo- o perigo faz parte do tipo. Quando a
previsão do tipo legal incorpora o perigo.
Mas há casos, em que o legislador vai ainda mais longe relativamente à
proteção, e adianta ainda mais a barreira de proteção do bem jurídico, em que há
condutas em si mesmas são vistas como perigosas e são proibidas em função da
sua perigosidade. Aí o perigo é o fundamento da proibição – crime de perigo
abstrato. Ela é de tal forma perigosa e o bem jurídico há de ser de tal modo
relevante, que se vai justificar proibir o comportamento – ex.: 232º condução
embriagada, em que basta que alguém conduza com uma taxa superior a 1,2 para
que seja crime porque entende-se que a conduta em si mesma é perigosa, para si
para os outros, propriedade alheia, etc. Só conduzir embriagado já é crime, aqui o
perigo não faz parte do tipo, basta que o agente atue daquela maneira perigosa
para ser punido. A necessidade de proteger o bem jurídico de condutas
perigosas, justifica que elas sejam assim tipificadas. Esta é a proteção mais forte
que se dá ao bem jurídico. Mas também se suscita duvidas relativamente à sua
legitimidade penal, em que tem que haver muita cautela na tipificação de crimes
2018/2019 Rita Nina- FDUC 113
de perigo abstratos, sendo apenas possível quando estejamos perante uma
perigosidade efetiva e bens jurídicos de grande valor. A tendência atual será cada
vez mais, para ultrapassar dificuldades probatórias, de criar este tipo de crimes,
pois a prova de lesão por vezes é difícil.
O bem jurídico além de fundamentar o grau de ofensa, ele desempenha
também uma função interpretativa. Na interpretação do tipo incriminador no
sentido típico da interpretação, é muito importante perceber qual o tipo de
ofensa ao bem jurídico que o legislador pretende cautelar, o que é fundamental
para verificar se uma certa situação da vida constitui crime.
Caso 13- António, jovem recém-licenciado, funcionário público no começo de
carreira e ainda em parte economicamente dependente dos seus pais, foi
colocado numa repartição pública que dista a largas dezenas de quilómetros da
casa onde com eles vive. Por causa dessas funções que aí passará a exercer, pede
aos pais que lhe ofereçam um automóvel. Os pais, que até então se vinham
mostrando relutantes em dar-lhe a viatura que aquele há muito lhes pedia,
acabam por ceder ao seu desejo, o que não teria sucedido se o filho não tivesse
sido colocado no referido posto. Poderão António e os pais responder pela
prática dos crimes de recebimento e de oferta indevidos de vantagem (art.
372.º/1/2 do CP)?
Resolução 13- O legislador quando criminaliza um certo comportamento,
fá-lo, pois, está a proteger um certo valor- bens jurídicos
c) bens jurídicos
Os pais, porque ele exerce funções naquele sítio, decidem dar um carro ao
António. Eles cometem algum crime? O 372º, tipifica como crime o funcionário
no exercício das suas funções, ou por causa delas solicite uma vantagem
patrimonial para si; quem der ao funcionário vantagem patrimonial pelo
exercício das suas funções ou por causa delas.
Contudo, não tem lógica material que na esfera da vida privada deles, isto
possa configurar crime sendo que aquela situação encaixa formalmente no
crime. Há situações que embora aparentemente pareçam encaixar-se dentro da
lei, não estão no espírito da lei penal.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 114
O que está em causa no crime de corrupção, vale para aqueles casos “fazes
isto e eu dou-te aquilo”, ou seja num exercício da função em geral – casos do euro
2016 das viagens, que cria um ambiente de simpatia, aquele secretário de estado
terá que prestar um favor em troca, ou seja, pode condicionar o processo
decisório. É para dissuadir este ambiente de simpatia de facilidade, que a norma
foi pensada. O bem jurídico em causa é a necessidade de proteger o exercício de
funções públicas, de modo a que este não seja influenciado dada a confiança que
as pessoas depositam na função pública.
Ora obviamente que os pais darem o carro ao António, não foi dado de
modo a favorecer os pais no futuro, apesar de aparentemente aquela conduta
cair na letra da lei, o bem jurídico que se pretende proteger não é minimamente
posto em causa pela oferta do caso.
O bem jurídico serve assim para distanciar condutas que até se
poderiam encaixar na norma, mas distinguem-se porque não o ofendem.
Esta classificação que nos fizemos está subordinada a bens jurídicos
individuais, sendo que no âmbito dos bens jurídicos supraindividuais há uma
tendência para conceber a estrutura típicas dos crimes em questão de acordo
com os quadros cumulativos. Ex.: crimes ambientais. A ideia é que uma conduta
em si mesma, não tem ofensividade para o bem jurídico, por exemplo, se eu
falsificar 20 notas, isso é irrelevante para a estabilização monetária. E, todavia,
pune-se a falsificação de moeda, devido ao risco de repetição – acumulação de
possíveis condutas justifica a sua punição. Nesse caso fala-se na cumulação de
tipos cumulativos, crimes de cumulação.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 115
1.3- Imputação objetiva do resultado à ação – nexo de imputação
(teorias)
Quando é que eu posso dizer que o resultado previsto no tipo legal pode
imputar-se à conduta prevista no tipo legal? Já sabemos que os crimes podem ser
formais (mera atividade ou inatividade, por exemplo invasão de domicílio, já um
homicídio exige um resultado, a mera conduta não basta) ou materiais (exige-se
à conduta que se siga um resultado). O resultado imputa-se à conduta quando
esta seja causa do resultado – ex.: uma pessoa é responsabilizada pela morte de
alguém quando a sua conduta matou a pessoa.
Como se determina o nexo de imputação? Quais são os critérios?
I. Teoria das condições ou conditio sine qua non
Um primeiro grau de exigência mínima do relacionamento do
comportamento humano com o aparecimento do resultado, prende-se com a
pura causalidade: a ação, há-de pelo menos, ter sido causa do resultado. A
premissa básica desta teoria é a de que a causa de um resultado é toda a
condição sem a qual o resultado não teria tido lugar (fórmula da conditio sine qua
non).
Segundo esta teoria, que surgiu em meados do século XIX, se suprimir a
conduta, o resultado desaparece. Isto porque, considerava-se que, para apurar as
condições que deram causa a um certo resultado deveria o juiz suprimir
mentalmente cada uma delas. Contudo, este critério tem problemas:
Este critério não nos diz o que é ser causa. Por exemplo, A mata B, se A
não tivesse disparado sobre B, B não teria morrido. Se A não tivesse
nascido, B não teria morrido. Se os pais de A não se tivessem conhecido, A
não teria nascido e B não teria morrido, ou seja, os pais de A também
seriam causa da morte de B. Em suma, Adão e Eva seriam
responsabilizados por todos os crimes. Estamos perante um problema
“regresso a infinito”.
Outra grande crítica que se faz a este propósito, é que o critério da
“supressão mental”, apenas se revela prestável em determinados casos,
mas não noutros, nomeadamente:
o Se esta teoria nos diz que se suprimindo a conduta, o resultado
desaparece, logo, se o senhor não disparar a arma, o B ia morrer na
2018/2019 Rita Nina- FDUC 116
mesma, mas por força de outra causa – efeito verdugo /
causalidade virtual – B ia morrer inevitavelmente.
o Por exemplo, A envenena a bebida que está no copo de B, e C,
desconhecendo o que A fez, envenena a sopa de B. B bebe a bebida
e come a sopa e morre. Quem causou o resultado? Se o critério for
esta teoria, suprimindo a conduta de A, o resultado não
desaparece, logo, A não seria a causa. Se suprimirmos a conduta de
C, também o resultado não teria desaparecido, ou seja, C também
não seria causa. Deste modo, ninguém seria causa da morte de B,
ambos apenas seriam punidos por tentativa – dupla
causalidade/causalidade alternativa.
Além destas hipóteses este critério também encontra dificuldades noutras
situações, nomeadamente, no seio da “sociedade em risco”, em hipóteses
como, o atentado ao ambiente, manipulação genética, etc. Como
igualmente existirão dificuldades em determinar a responsabilidade de
uma equipa cirúrgica.
Deste modo, conclui-se que, esta teoria é inútil hoje em dia, precisamente
porque já traz pressuposto aquilo que com ela se deveria determinar.
II. Teoria das condições conformes às leis naturais
Perante estas críticas, a teoria das condições equivalente foi objeto de uma
“reconstrução”, que passou pelo abandono do critério da “supressão mental” e
pela substituição pelo critério da condição conforme às leis naturais.
Esta teoria segue o apelo às leis da experiência, que nos permite afirmar
que o resultado é causado por uma conduta, se essa conduta for a explicação
científica daquele resultado. Também esta teoria é criticada:
Segundo a ciência, não há uma responsabilidade a 100%, para haver
responsabilidade a 100% tínhamos de fazer a experiência até ao fim dos
tempos e verificar que o resultado seria sempre o mesmo. Isto para o
direito não é concebível.
Assim, podemos dizer que o defeito principal da teoria das condições
equivalente, se trata da exagerada extensão que confere ao objeto da valoração
jurídica. Importa, pois analisar a próxima teoria.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 117
III. Teoria da causalidade adequada ou a adequação
Tornou-se predominante na doutrina e na literatura portuguesa. Esta
teoria consiste numa valoração dos factos. A teoria da adequação pretendeu
traduzir o critério segundo o qual, a imputação penal não pode ir nunca além da
capacidade geral do homem de dirigir e dominar os processos causais. O resultado
será imputável à conduta se, segundo as leis da experiência, for normal e
previsível que a essa conduta se siga aquele resultado. Uma conduta é adequada
a causar um resultado quando, segundo o que é normal acontecer, essa conduta
origina o resultado. A conduta não será adequada se o resultado for anormal ou
imprevisível.
Como se aufere a causalidade adequada? Não podemos auferir a
causalidade adequada a posteriori, mas segundo um juízo de prognose
póstuma – é póstuma porque tudo já aconteceu e, é prognose porque o juiz vai
ter de se colocar mentalmente no momento em que a conduta foi realizada e,
sabendo o que o agente sabia ou que podia saber, se seria normal e previsível
que àquela conduta se seguisse aquele resultado. Se a resposta for sim, a conduta
é causa adequada do resultado.
Por exemplo, A faz uma facada ligeira na mão de B e B morre. Não é
normal e previsível que um corte na mão origine a morte de alguém, a não
ser que haja uma circunstância especial, ou seja, perante este contexto,
temos de saber se A conhecia dessa circunstância especial.
Dentro desta teoria, há quem a conhece mais subjetivamente
(considerando o que o agente conhecia) ou quem a entenda mais objetivamente
(desconsiderando o que o agente conhecia). Contudo Figueiredo Dias é da
opinião que, além de deverem ser levados os respetivos conhecimentos
correspondentes às regras de experiência comum, devem também ser tidos em
conta, os especiais conhecimentos do agente. Ex.: no exemplo a cima, se A
soubesse que B era hemofílico, aí já se lhe poderia imputar a morte dele.
Também esta teoria tem problemas:
É normal e previsível que num dia chuva acentuada haja lençóis de água
na estrada e se perca o controlo do carro e atropele alguém? Este
resultado é imputado à conduta? De acordo com esta teoria, sim.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 118
Outro exemplo, estão dois trabalhadores numa obra e ia cair uma viga, um
deles vê e empurra o outro para o salvar, causando-lhe um hematoma.
Não parece razoável condenar aquela pessoa a um crime de integridade
física quando apenas o quis salvar.
Na maioria dos casos a intervenção de um terceiro não é normal e
previsível. Isto é, a intervenção de terceiro, por norma, interrompe o nexo de
causalidade, assim o nexo de causalidade- A tenta matar B (mete veneno) e
entretanto chega C e dispara um tiro a B, C teve uma intervenção anormal e
imprevisível assim interrompeu o nexo de causalidade, sendo o crime de A
apenas uma tentativa, não tendo consumação.
Ex.: uma ambulância foi buscar o A que estava gravemente ferido, sendo
que apanhou muito transito até ao hospital (3 horas de engarrafamento).
Havia uma interrupção do nexo de causalidade? Dado que, o tempo
normal para a ambulância chegar lá seria de 15 minutos e a pessoa seria
salva. Haveria interrupção de nexo de causalidade se o engarrafamento de
3 horas fosse anormal e imprevisível. Na causalidade temos de atender
sempre às circunstâncias e se elas são previsíveis de ocorrerem ou não,
dado que se forem imprevisíveis há a interrupção do nexo de causalidade.
Esta doutrina preponderante em Portugal, tem um fundamento legal, sendo
que, apesar de ela não estar expressamente consagrada, parece que temos um
artigo que indicia que esta seja a doutrina que seguimos – artg.10º CP
“omissão”, imaginemos que uma mãe ou pai deixa de alimentar uma criança e ela
morre, será isto homicídio? Sim, só que não é por ação, mas sim por omissão.
Este artigo 10º compara as ações com as omissões. O que esta norma faz é uma
equiparação da ação à omissão, mas para preencher um facto típico, este pode
ser preenchido por uma ação adequada a evitá-la ou uma omissão de uma ação
adequada a evitá-la – o que significa que o CP adotou como critério básico da
imputação objetiva, a teoria da adequação.
IV. Teoria da conexão de risco
Segundo a teoria da causalidade adequada, seriamos obrigados a afirmar o
nexo de causalidade por ser normal e previsível, como por exemplo, o
medicamento ter efeitos secundários. Todavia, o resultado poderá não ser
2018/2019 Rita Nina- FDUC 119
imputado à conduta, já que, por exemplo, a pessoa quando compra o
medicamente aceita os efeitos secundários. Há resultados que precisam de ser
corrigidos, pois apesar de a conduta causar resultados, não vamos imputar esses
à conduta. O critério usado neste contexto é a conexão de risco – o resultado
apenas deve ser imputado à ação quando esta, tenha criado (ou aumentado) o
risco proibido para o bem jurídico protegido e, esse risco se tenha
materializado no resultado tipo.
1. O resultado apenas pode ser imputado à conduta, se esse cria ou
aumenta o risco proibido- O que é este risco proibido? O problema
começa neste âmbito, por determinar, o âmbito ou o círculo dos riscos
que, neste sentido, devem-se considerar juridicamente desaprovados e,
neste sentido, proibidos.
Deve-se excluir da imputação:
a. Sempre que o risco criado seja aceitável ou permitido pela OJ, ou
porque a conduta diminuiu ou atenuou, o perigo que já envolvia o
bem jurídico, sendo assim o risco criado é aquele permitido. Ex.: o
risco proibido de dar um encontrão a alguém diminuiu o perigo
que resultava da queda da viga.
i. Seria previsível que daquele empurrão resultasse lesões
para a pessoa que sofreu esse, e como tal, segundo a teoria
da adequação, estes ser-lhe-iam imputáveis. Como tal, deve
preferir-se a solução da teoria da conexão de risco, que
nega a imputação porque a conduta diminuiu o perigo.
ii. É verdade que, mesmo pela teoria da adequação, a
responsabilidade penal seria excluída depois pelas causas
de exclusão da ilicitude. Porém, isso significaria aceitar que
o agente com a sua ação, realizou uma lesão típica do bem
jurídico, quando na realidade resultou dela uma melhoria
de situação do bem jurídico em perigo.
b. Deve-se também ser excluída a imputação quando o resultado
produziu uma ação que não ultrapassou o limite do risco
juridicamente permitido. Ou seja, é também, o risco que nós
aceitamos, aquelas atividades que podem ocorrer na nossa vida
2018/2019 Rita Nina- FDUC 120
social, como por exemplo: consumo de medicamentos; circulação
rodoviária. São riscos tolerados pela própria sociedade. Daí
resultar que o direito penal, não pode, dada a sua natureza de
ultima ratio, sancionar comportamentos que tenham produzido a
lesão de bens jurídicos em virtude da materialização de riscos que
são tolerados de forma geral.
i. Exemplo: A conduziu com total respeito pelas regras
rodoviárias, mas num dia intenso de chuva, perdeu o
controlo do carro por causa de um lençol de água e com isso
embateu com B, que morreu. Pode o resultado ser imputado
a A? A teoria da adequação responder-nos-ia que sim,
contudo, é claramente preferível excluir a imputação pelo o
facto de a conduta de A se ter mantido dentro do risco
permitido.
Dentro do risco permitido mantém o chamado risco geral da vida,
desde que ele se possa considerar, normal. Os riscos gerais da vida
são socialmente adequados e não cabem por isso na criação de um
risco não permitido. Ex.: caso do médico que receita a um doente,
um antibiótico e este vem a morrer de choque anafilático, sendo
que o médico fez os testes necessários para saber se o doente
poderia ou não tomar esse medicamento.
c. Figueiredo Dias, fala ainda de outro tipo de casos, que seriam os
casos em que o resultado se verificava em consequência da co-
atuação da vítima ou de terceira, ex.: a pessoa sabendo que a outra
é transportadora do vírus da sida, e mesmo assim tendo relações
sexuais desprotegidas com ela – este tipo, faz parte das nossas
escolhas, o estado não pode limitar este tipo de escolhas, faz parte
do nosso próprio arbítrio.
Também a potenciação de um risco que, já tinha sido criado, também
consubstancia um risco proibido, se o agente ao atuar aumenta o risco, e
este se materializar no resultado, podendo esse mesmo pode ser
imputado. Ex.: matar um paciente já moribundo. A questão da potenciação
2018/2019 Rita Nina- FDUC 121
de um risco suscita várias dificuldades, mas que respeitam mais à questão
que vamos ver de seguida.
2. E se o risco se materializar no resultado típico (o resultado previsto no
tipo legal de crime). Assim não basta a comprovação de que o agente
produziu ou potenciou o risco não permitido, mas sim também,
determinar se esse risco foi aquele que se materializou ou concretizou no
resultado.
Esta questão acaba por constituir uma tarefa de alta dificuldade em certos
casos, nomeadamente nos de concurso de riscos.
a. Surge aqui a questão dos comportamentos lícitos alternativos-
(não confundir com a causalidade virtual), são aquelas situações
em que se o agente tivesse tomado uma conduta conforme o
direito, isso não impediria o resultado. Os casos ficaram
conhecidos como aquelas situações em que o agente criou o
próprio risco que se materializou no resultado típico, mas prova-se
que mesmo que ele tivesse agido licitamente isso não impediria o
risco, o risco seria sempre concretizado:
i. Caso real, na Alemanha, em que o A tinha uma empresa de
pincéis de barbear, sendo que adquiriu como matéria prima
para os fazer, pelos de cabra chinesa, e esta matéria tinha
de ser desinfetada. Só que, aquele pelo era muito resistente
ao tratamento previsto àquelas situações então o A deixou
de tratar a matéria prima. As senhoras que faziam os
pincéis (do pelo de cabra) morreram, mas se ele tivesse
feito o tratamento previsto o resultado era exatamente o
mesmo pois o pelo era demasiado resistente. Neste caso, ele
cometeu um crime consumado de homicídio? O
comportamento ilícito alternativo diz apenas respeito
àqueles casos em que o resultado se manteria se ele tivesse
tomado o comportamento conforme com a lei, isto quer
dizer, que aquela norma não tinha qualquer efeito, pois
mesmo que ele cumprisse com a norma ela não impediria o
2018/2019 Rita Nina- FDUC 122
resultado. Então como se faria para responsabilizar o
agente?
Nestes casos, como o direito não é capaz de impedir o resultado, o
resultado não deve ser imputado ao agente, seja porque não se
torna possível aqui imputar uma verdadeira potenciação do risco
já autonomamente instalado, seja porque, não se pode dizer
verdadeiramente que o comportamento do agente criou um risco
não permitido – dado que tanto a conduta lícita como a ilícita
produziriam o mesmo resultado, a imputação traduzir-se-ia na
punição da violação de um dever cujo cumprimento teria sido
inútil, o que violaria o princípio de igualdade.
ii. Outro exemplo que podemos avançar é o caso dos incêndios
do ano passado, em que, uma das questões que se colocou
era se, as empresas que estavam responsáveis por limpar as
bermas e não o fizeram, podiam ser responsabilizadas
criminalmente. As circunstâncias em que o incêndio se deu
teve, uma conjugação de vários fatores que não era normal,
assim basta que se prove que a força do incêndio era
suficiente para provocar o mesmo resultado mesmo que as
bermas estivessem perfeitamente limpas (comportamento
lícito alternativo), para o resultado aí não ser imputável à
conduta.
b. Diferentes são os casos em que não se demonstra também com o
comportamento lícito o resultado típico teria tido lugar
seguramente, mas apenas se demonstra que era provável/possível
que tal acontecesse. Relativamente a este ponto, se o juiz ficar na
dúvida após a apresentação de todas as provas, a dúvida deverá
favorecer o arguido, excluindo a imputação.
Vamos agora supor que há uma norma que diz que não podemos avançar
no sinal de vermelho e essa pessoa atravessa à mesma, e uma pessoa por acaso
atravessa-se à frente daquele carro com o intuito de se suicidar- O risco proibido
não se materializa nesse caso, já que esta proibição é para evitar perigos na
estrada, não para evitar suicídios - problema do âmbito da norma.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 123
Para que a conexão de risco se dê como estabelecida, temos de fundar a
imputação de um resultado da seguinte forma – é preciso que o perigo que se
concretizou no resultado, seja um dos quais em vista, a ação foi proibida, ou
seja, um daqueles que corresponde ao fim da proteção da norma de cuidado. Se o
perigo que se materializou não é um daqueles que a norma quis evitar então não
há imputação. Ex.: imaginem que o A fez uma manobra de ultrapassagem a B, a
mais de 50 km no sítio onde não se podia andar a mais de 30 km, e em
consequência disso, a pessoa que ia ao lado de A morreu. O risco que se
materializou não é o risco que se pretende prevenir com aquela proibição, pois o
risco que se pretendia prevenir é o das pessoas que passam na passadeira se
magoarem, que não foi o caso que aconteceu. Assim, o resultado não pode ser
imputável à conduta (âmbito da proteção da norma- ver se o risco que se
materializou foi um dos riscos que se pretendia evitar).
Figueiredo Dias, faz ainda alusão aos casos da hetero e auto colocação em
risco:
Auto colocação em risco- A e B apostam que conseguem andar em
contramão na autoestrada por 15 minutos, em virtude disso A sofreu
perigosa sofre lesões físicas graves.
Hetero colocação em risco- alguém se não se coloca dolosamente em
perigo, mas com a consciência do perigo, se deixa pôr em risco por
outrem. Ex.: A e B agora vão no mesmo carro, só que B vai conduzir e A vai
no lugar do pendura, sendo que A instiga o B a andar em contramão,
relativamente a B é uma hetero-colocação em risco.
Tratam-se de critérios de correção à teoria da causalidade adequada, apesar
de esta teoria continuar a ser a utilizada no nosso Ordenamento.
Distinção entre comportamentos lícitos alternativos e causalidade virtual
Distinguimos o comportamento lícito alternativo da causalidade
virtual pois, na causalidade virtual, o que está em casa, é o resultado produzido
por uma ação de terceiro ou de um acontecimento natural (independente do
agente). Ex.: se A não tivesse explodido o avião para matar C, o avião teria se
despenhado à mesma por falta de combustível. Na causalidade virtual o que
comparamos é o comportamento do terceiro e não o comportamento de um
2018/2019 Rita Nina- FDUC 124
agente (comportamento lícito alternativo). Na causalidade virtual, não há a
exclusão da ilicitude do comportamento, visto que foi ele mesmo que
produziu o resultado (mesmo que o resultado também iria ser produzido por um
terceiro), caso contrário poderia haver aso a argumentos como “todos
eventualmente morremos”, dado que se não fosse produzido pelo agente teria
sido produzido por uma circunstância alheia. Lá por ser muito previsível que
uma pessoa venha a morrer, tal não pode justificar homicídio.
Por exemplo, está a discutir-se se uma morte assistida por
acompanhamento médico, se tal deve realmente ser punido, porque atualmente
é punível, mas com uma pena inferior ao homicídio (3 anos). Isto porque
tecnicamente não podemos dispor da vida do outro, e o que está em causa é se a
vida do outro em determinadas situações pode ser disponível.
Deve-se conferir algum relevo jurídico-penal à casualidade virtual? A
doutrina dominante responde que não, pois mesmo à luz da subsidiariedade do
direito penal, continua a não ter sentido abandonar-se o bem jurídico à agressão
do agente só porque aquele já não pode, em definitivo, ser salvo.
Caso 14- No dia 17 de Julho de 2009, no Hospital de Santa Maria, de Lisboa, o
farmacêutico Hugo e a técnica de farmácia Sónia administraram a 6 doentes
injeções intraoculares de uma substância que não foi possível determinar.
Depois de receberem essas injeções, esses 6 doentes ficaram total ou
parcialmente cegos. Em julgamento, não se logrou estabelecer uma conexão
entre as injeções administradas e a cegueira dos doentes. Poderão Hugo e Sónia
ser condenados pela prática dos crimes de ofensa à integridade física grave
negligente (artigo 148.º/1/3 do CP) de que estavam acusados?
Resolução 14-
Crimes de resultado, tratam-se de crimes cuja consumação não é apenas
uma conduta típica, mas também a produção de um resultado. Para que a
tipicidade possa ser atribuída, é necessário que se estabeleça uma conexão entre
a conduta e o resultado. Sem essa conexão o crime não se pode considerar
consumado e daí a necessidade de perceber, se, se pode atribuir a um resultado
uma certa conduta. E esta matéria, tendo vários degraus, sendo que, para que o
2018/2019 Rita Nina- FDUC 125
resultado possa atribuir-se a uma conduta é necessário: que antes de mais, essa
conduta tenha sido a causa desse resultado.
Se for possível estabelecer a causalidade, terá que se ver se, se pode
normativamente atribuir aquele resultado àquela conduta- limites de
imputação. Nem sempre que haja conexão vai haver a imputação.
No presente caso, houve vários doentes que receberem injeções dadas por
estas duas pessoas, sendo que seis doentes ficaram cegos. O MP acusou os dois
na prática de 6 crimes de ofensa à integridade física grave. O tribunal não
conseguiu apurar que substância foi dada. E também não foi possível apurar se
entre aquelas injeções e a cegueira havia alguma relação causal. Podem aqueles
dois clínicos serem responsabilizados por ofensa à integridade física negligente
grave?
Neste caso o tribunal não conseguiu apurar nem a substância, nem a causa
de cegueira das pessoas, e o que é certo é que, o tribunal não podia condenar
dado que, faltava um elemento basilar mínimo: elemento da causalidade. Só
poderia haver imputação se, entre as injeções e a cegueira fosse possível concluir
que havia uma conexão. Neste caso como não houve demonstração de
causalidade, não poderia haver condenação.
A imputação objetiva é um juízo que assenta, desde logo, em 1º lugar, na
verificação de um nexo causal e, depois, noutros graus, temos o grau da
imputação de um âmbito normativo de redução, de limitação das muitas causas
que intervieram para a produção do resultado, em que só algumas, é que
poderão, efetivamente, imputar o resultado normativamente. O caso do hospital
de Santa Maria colocava a questão no plano da causalidade- para se apurar a
existência ou não de um nexo causal, vale a chamada teoria das condições
equivalentes. Esta teoria defende que a verificação de um certo resultado, é
consequência da acumulação de um grande número de circunstâncias, todas elas
relevantes para que aquele resultado fosse produzido naquelas concretas
condições. Qualquer resultado é o produto de um sem número de circunstâncias
da vida que levaram à produção daquele evento. Por exemplo: se alguém dispara
sobre outra pessoa, é a circunstância de A ter disparado sobre B que causou a
morte, mas o vendedor da pistola também concorreu para que aquilo ocorresse,
também o motorista do táxi que deslocou A até ao lugar do crime, deu azo a que
2018/2019 Rita Nina- FDUC 126
aquilo acontecesse, também os pais de A, que o geraram, levaram que A
disparasse sobre B. Assim, segundo esta teoria, há todo um conjunto de
circunstâncias que dão causa a um resultado.
Mas a pergunta que se põe é: quando é que uma conduta pode levar a um
resultado? E durante muito tempo se deu ânimo a uma fórmula que é a fórmula
da conditio sine qua non – para se saber se uma certa conduta foi a causa de um
certo resultado, haveria que representar aquela situação, pensar aquela situação,
suprimindo aquela conduta, de modo a averiguar se sem aquela conduta, aquele
resultado se teria verificado ou não (“a condição sem a qual não”). Por exemplo:
se A não disparasse sobre B, B ainda seria vivo? Sim, portanto, o disparo foi a
causa da morte de B. Assim, elimina-se esta conduta e pergunta-se se esta
condição não tivesse ocorrido, se o resultado se teria ou não produzido. Se não,
aquela condição é causal, se sim, o resultado ocorreria na mesma e, portanto, a
condição não é causal. Esta teoria da conditio sine qua non suscita algumas
dúvidas e problemas, nomeadamente:
Casos como este caso do Hospital de Santa Maria, em que o farmacêutico
Hugo e a técnica Sónia introduziram injeções a pacientes e eles ficaram
cegos. Assim, eis o que acontecia se utilizássemos a teoria da conditio sine
qua non: teríamos de perguntar- se aqueles dois técnicos não tivessem
introduzido aquela injeção aos pacientes, eles agora tinham a sua visão
intacta? E, neste caso, não se sabe a resposta. Assim, naqueles casos em
que a relação causal é de facto duvidosa e tem de ser apurada, a conditio
sine qua non não dá uma resposta.
E, por estas variadas razões é uma fórmula que tem de ser abandonada,
sendo que, atualmente, prevalece a chamada fórmula da condição conforme as
leis naturais, segundo a qual, a ação é causa de um evento quando esse evento
está ligado àquela ação de acordo com as leis da natureza. Assim, a ação é causa
do evento quando entre um e outro há uma ligação que corresponde às leis da
natureza. Deste modo, é preciso demonstrar cientificamente que existe
realmente uma ligação, um vínculo cientificamente explicável entre uma certa
ação e um certo resultado. Se for possível estabelecer esse vínculo, se for
possível explicar e demonstrar que entre uma coisa e outra há uma conexão,
então, a ação poderá dizer-se causa do resultado- coisa que neste caso não se
2018/2019 Rita Nina- FDUC 127
conseguiu, segundo o resultado do acórdão. Não se conseguindo apurar este
vínculo, então, não se pode afirmar a existência de uma ligação causal- e assim
não pode o resultado ser imputado à conduta.
Assim, no nosso caso, se não foi possível estabelecer aquela conexão entre
uma coisa e outra (ação dos dois farmacêuticos e a cegueira dos doentes), então,
falta o elemento base da imputação objetiva, que é a causalidade. Assim,
tratando-se de um crime de ofensa à integridade física e um crime de resultado,
não poderiam aqueles 2 agentes responder por aquele crime na forma
consumada, sendo absolvidos. Neste caso, os dois arguidos foram absolvidos (e
bem) por não se ter estabelecido o vínculo causal entre aquilo que eles fizeram e
aquilo que aconteceu, de maneira que este problema, postas as coisas nestes
termos, resolvia-se no plano da causalidade- não há relação causal, por isso, não
há imputação do resultado à conduta e eles não podem ser, consequentemente,
responsabilizados.
Claro que, nestas situações, (este é um dos problemas mais difíceis da
doutrina penal prática), é evidente que a ciência frequentemente não consegue
explicar por A + B qual foi a cadeia causal e, todavia, há coincidências: houve
centenas de mulheres que tomaram um medicamento X e vieram a ter filhos com
malformações. Por vezes, uma questão muito relevante que aqui se discute e tem
vindo a ser aceite pelos tribunais é, a de, saber se pode ou não admitir-se a
afirmação da causalidade naqueles casos em que não é possível explicar
cientificamente o mecanismo causal, em que não se pode explicar de que forma
aquela ação deu lugar àquele resultado mas há evidências estatísticas fortes e
consistentes que levam a que seja altamente provável que só pode ter sido
aquela circunstância a dar causa àquele resultado. V
Vem se admitindo (embora seja uma questão muito controvertida) o
emprego de métodos estatísticos para afirmar o nexo causal, mesmo quando não
há possibilidade de se explicar cientificamente, demonstrar cientificamente o
modo como uma certa ação produziu um certo resultado. Por exemplo: há um
caso recente que envolveu uma empresa de farmacêuticos e houve um ensaio
clínico em França em que vários doentes que estavam a experimentar
medicamento novo e foram sofrendo lesões (em diferentes fases do ensaio) e
numa das fases, já depois de algumas pessoas terem passado nos testes, houve
2018/2019 Rita Nina- FDUC 128
um senhor que foi de emergência para o hospital e veio a morrer passados 3 dias
e os outros doentes sofreram lesões graves. Assim, teve que se abrir um processo
para se averiguar se aquela morte e aquelas lesões derivaram da administração
daquele medicamento. Até hoje, ainda não se conseguiu explicar o mecanismo
que poderá ter provocado ou não aquelas lesões e a morte (sendo que só havia 6
participantes, um morreu e os outros 5 sofreram lesões). Assim, agora há a
tendência para aceitar que pode haver esta probabilidade a assumir a
causalidade.
De facto, se for possível estabelecer o nexo causal, então, é dada uma 1ª
condição de imputação do resultado à conduta: a condição 1ª, condição mínima
de imputação do resultado à conduta é a existência de uma ligação causal, mas
este pressuposto é insuficiente- não basta a causalidade, é preciso mais que isso.
É preciso ter restrições à causalidade natural, que se processam no plano do
juízo normativo, ou seja, enquanto que a causalidade propriamente dita tem uma
espécie de sinal positivo, que liga a conduta ao evento, aquilo que vamos ver de
seguida já tem uma função de restrição, introduzindo filtros normativos.
Dentro daquelas inúmeras condições que contribuíram para a produção daquele
resultado, só algumas delas é que faz sentido dizer que efetivamente tiveram um
crivo determinante para a produção do resultado e essa seleção faz-se através de
filtros. O primeiro filtro (que é o segundo grau da imputação) é referido como
a teoria da adequação – esta teoria da causalidade adequada ou da adequação
foi desenvolvida na Alemanha e encontra consagração no art.10º CP- “quando um
tipo legal de crime compreender um certo resultado, o facto abrange não só a ação
adequada a produzi-lo como a omissão da ação adequada a evitá-lo, salvo se outra
for a intenção da lei”.
O que é que determina esta teoria?
Caso 15-(Ac. do STJ de de 21-04-1994, Proc. 046105) A empurrou
deliberadamente B. Na sequência deste empurrão, B teve um enfarte do
miocárdio e morreu. A desconhecia a doença cardíaca de B. Preencheu A, com a
sua conduta, o tipo objetivo de ilícito do crime de homicídio (131.º do CP)?
Resolução 15: A empurrou deliberadamente B e, na sequência deste
empurrão, B teve um ataque cardíaco e morreu. Põe-se o problema de saber se A
2018/2019 Rita Nina- FDUC 129
pode ou não responder pelo crime de homicídio. O certo é que, neste caso, se
demonstrou que foi por causa do empurrão de A que B morreu. Há aqui um nexo
de causalidade entre a conduta de A e a morte de B.
Temos aqui um nexo causal- 1º pressuposto. Mas, a questão aqui é a de
saber se a morte de B, neste cenário, pode ou não ser imputada à conduta de A.
Assim, naqueles casos em que não é previsível de que daquela conduta ia
resultar aquele resultado, pode ou não ser o resultado imputado à conduta? A
resposta é não. A teoria da adequação visa, de certo modo, corresponder àquilo
que seria determinável pelo agente, aquilo que ainda estaria no domínio do seu
poder de controlo, sendo que era preciso verificar, segundo esta teoria, se aquele
resultado concreto que ocorreu é uma consequência normal, previsível, natural
daquele tipo de conduta. Como é evidente, não é normal, se alguém empurrar
uma pessoa, que a outra pessoa morra. Assim, quando o resultado aparece como
uma consequência de verificação rara, excecional, imprevisível e improvável,
então, a teoria da adequação determina o afastamento da imputação.
Seguindo esta teoria, quando um resultado seja uma consequência
anormal, rara, excecional de uma certa ação, então, esse resultado não pode ser
objetivamente imputado a essa conduta. De acordo com esta teoria da
adequação, o juiz deve fazer aquilo que se chama um juízo de prognose
póstuma. No dia 5 de janeiro de 1992, A empurrou B e B morreu. Em 1994, o
que é que o juiz deve fazer? Um juízo de prognose póstuma. Porque é que é
póstuma? Porque é feito depois do facto- a posteriori, depois do facto. O nexo
causal é avaliado ex post, depois do agente atuar. Mas isso é no plano da
causalidade. No plano da adequação, o juízo é ex ante, no momento em que o
agente atuou.
Assim, para sabermos se foi aquele empurrão que matou B, é preciso fazer
uma autópsia – ver se há ou não o nexo causal. Assim, o juiz tem de se deslocar
mentalmente para o momento em que A atuou- no momento em que A empurrou
B. E tem de se situar como se um expectador e perguntar: “se A empurrar B, é
normal que B morra?” e o juiz vai dizer naturalmente que não, não havendo
adequação. Assim, o juiz tem de recuar ao momento em que o agente atuou, mas
tem de procurar avaliar o que poderá acontecer se A atuar de uma certa
maneira- neste caso, A empurrou B. Agora imaginemos que A disparou sobre B- o
2018/2019 Rita Nina- FDUC 130
juiz aqui já ia considerar que era provável que B morresse, já há juízo de
adequação. Se no plano objetivo, se estiver perante uma consequência
imprevisível, então, o resultado não seria imputado à conduta. Este é o cerne da
teoria da adequação.
Há, em todo o caso, uma questão aqui muito relevante: neste caso, tem de se
dar como provado que o agente A desconhecia a doença cardíaca de B- além das
regras da experiência comum do juízo de prognose póstuma, o julgador deverá
trazer à sua ponderação os conhecimentos específicos, especiais do agente
porque aí, de certo modo, já se acondiciona a previsibilidade. Assim, se o agente
soubesse que B tinha uma doença cardíaca, então, já seria de admitir a
previsibilidade da morte de B e, por isso, poderia haver imputação. Há aqui uma
certa conceção no plano subjetivo relacionada com os conhecimentos específicos
do agente- esses conhecimentos devem ser levados ao juízo de adequação.
Uma outra questão importante neste domínio é a da chamada interrupção
do nexo causal, que corresponde àquelas situações de intromissão de terceiros
num certo curso causal. Ou seja, quando se apure que uma certa conduta deu
causa a um certo resultado, mas entre a conduta do agente e o resultado ocorrido
há outras condições relevantes para a produção do resultado, põe-se o problema
de saber se a intromissão do terceiro no processo causal já em curso é ou não
suscetível de afetar a afirmação de adequação do juiz. Por exemplo: A agride B de
tal maneira que B foi parar ao hospital com muitas lesões e, porque no hospital B
contraiu uma infeção, B acabou por morrer. Aquela conduta (a agressão de A)
levou causalmente à morte de B. Mas, se se verificar que essa infeção adveio de
uma falta de cuidado da administração do hospital, então, há aqui uma
intromissão nesta cadeia causal que não é normal e, como tal, quebra-se a
relação causal. Não há aqui imputação do resultado à conduta.
Outro exemplo: caso em que alguém deixa uma arma num certo sítio,
escondida, sendo que depois uma pessoa a encontra a mata outra pessoa. Este
contributo causal pode ser imputado à pessoa que lá colocou a arma? Depende.
Por exemplo: se aquela pessoa colocou lá a arma estrategicamente para que uma
certa pessoa que ela já conhecia matasse outra, então, sim. Nestas situações, em
que há uma intromissão de um terceiro, tem de se ver se essa intromissão é ou
2018/2019 Rita Nina- FDUC 131
não provável, previsível. Se for previsível, então, não há quebra do nexo causal-
mas se for imprevisível, quebra-se o nexo de imputação.
No entanto, a teoria da causalidade adequada admite a imputação em casos
em que, porventura, a imputação não parece muito acertada. Vejamos o seguinte
caso:
Caso 16- A e B estão a conversar animadamente na beira da estrada. Em certo
momento, A distrai-se e não repara num automóvel que, desgovernado, vai na
sua direção. Nesse mesmo instante, B empurra A e salva-o de uma morte certa.
Devido ao forte empurrão sofrido, A caiu e partiu uma clavícula, o que lhe causou
30 dias de doença e lhe impediram de cumprir certos compromissos
importantes. Por isso, A apresentou queixa contra B pela prática de crime de
ofensa à integridade física (art. 143.º, n.º 1, do CP). Quid iuris?
Resolução 16:
A questão aqui põe-se no quadro do crime de ofensa à integridade física
dolosa (art.143º CP). Assim, aquele que deu o empurrão poderá ser autor deste
crime? Temos de atender ao princípio da legalidade criminal (tem de estar
tudo na lei). Assim, olhamos para a norma e temos de verificar qual é o conteúdo
do crime de ofensa à integridade física:
Este é um crime comum, sendo que qualquer pessoa pode ser autor
deste crime, logo, à partida, B pode ser autor.
Qual é a conduta típica? Ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa-
crime de resultado que, além de uma conduta de ofensa pressupõe
mesmo uma lesão- este crime só é consumado quando da conduta
ofensiva derive uma lesão corporal ou psíquica. Nesta situação, no âmbito
deste crime, é preciso averiguar se houve uma conduta que atentasse
contra o corpo ou a saúde de outra pessoa, se houve uma lesão e se a
lesão pode ser imputada à conduta. Assim, neste caso, o que é que temos?
Temos ou não uma conduta própria deste crime? Sim, o empurrar
alguém é uma conduta ofensiva da integridade física. É uma
conduta típica de ofensa à integridade física.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 132
Temos uma lesão? Sim, temos uma lesão corporal, que é o
resultado. A questão que se põe é a de saber se esta lesão corporal,
se a clavícula partida pode ou não ser imputada ao empurrão dado
por B.
O que é que temos de verificar? Temos de ver se há uma ligação
causal entre a ação de B e a lesão de A e aqui consideramos que
sim, uma vez que no enunciado é dito que é em virtude do
empurrão de B, que A partiu a clavícula.
O que é que é preciso mais para que haja imputação do resultado à conduta?
É necessária uma relação de adequação entre a conduta praticada e o resultado
ocorrido – ou seja, aquele resultado, para que se possa imputar à conduta deve
surgir como uma consequência previsível à luz das regras da experiência comum
de condutas daquela natureza. Nesse caso, parece que a conduta de B foi
adequada a produzir aquele resultado – é um resultado normal, previsível, tendo
em conta a conduta de B. De acordo com as regras da experiência comum, este
resultado pode provar-se como provável. Assim, há aqui uma relação de
adequação entre a conduta e o resultado, de maneira que, de acordo com a teoria
da adequação, B podia responder tipicamente por ofensa à integridade física de
A - facto típico objetivo.
No entanto, há aqui alguma coisa que parece que não bate certo- é verdade
que B empurrou A, mas para salvar a sua vida. E a questão que se coloca é: isto
não deverá ser tido em conta? Claro que sim! Há casos em que a teoria da
adequação conduz à afirmação de um nexo de imputação e que claramente leva a
soluções insatisfatórias, não fazendo jus ao significado de um facto típico. Esta
teoria não responde devidamente ao problema e permite a afirmação da
tipicidade em situações em que a conduta não tem um significado social valioso,
como é este caso, uma vez que B só empurrou A para o salvar e parece absurdo
admitir que isto é um crime de ofensa à integridade física. Assim, para olhar de
uma outra perspetiva para esta matéria, surgiu uma outra teoria no âmbito da
imputação objetiva que é a chamada teoria da conexão do risco (defendida
pelo Dr. Figueiredo Dias).
A verdade é que muitos casos podem e devem ser resolvidos fazendo apelo
a uma outra teoria que se liga sobretudo à ideia de desvalor da ação e da
2018/2019 Rita Nina- FDUC 133
conceção do facto e que tem a ver com a ideia do risco. Esta teoria tem 2
premissas fundamentais. Suposta a relação de causalidade entre a conduta e o
resultado, admitindo que ela efetivamente existe, de todo o modo, o resultado só
será imputado à conduta sobre 2 premissas essenciais e cumulativas:
1. Em primeiro lugar, é preciso verificar se com a sua conduta, o agente
criou ou potenciou ou incrementou um risco proibido de lesão
daquele bem jurídico. Se não o fez, então, fica afastada a imputação;
2. Cumulativamente, se se tiver concluído que o agente criou ou potenciou o
risco proibido de produção do resultado é necessário verificar se foi
esse concreto risco que se materializou na produção do resultado
ocorrido, que levou à produção daquele resultado que ocorreu.
Se estas duas condições estiverem verificadas, então, o resultado é imputado
à conduta. Se alguma delas não estiver verificada, então, o resultado não é
imputado à conduta.
Assim, B empurrou A, o que é que podemos dizer? B diminuiu o risco que
impendia sobre A- situação de redução do risco. B salvou A da morte certa.
Assim, não criou nem potenciou um risco proibido, antes pelo contrário. Nessa
medida, ele não pode responder por aquele facto- não há imputação objetiva.
Esta tipologia de casos é uma das situações que se inscrevem no 1º patamar da
criação ou potenciação do risco.
Caso 17- A é um condutor exemplar e mantém o seu veículo num perfeito
estado de conservação e manutenção. No decurso de uma viagem que fazia,
irrompeu uma grande tempestade. Dadas as condições climatéricas, A conduzia
com o máximo cuidado, circulando a uma velocidade muito moderada e
guardando as distâncias devidas. Não obstante, devido a uma grande acumulação
de água na estrada, o seu carro entrou em aquaplaning e despistou-se, colhendo
mortalmente outro condutor, B. Poderá A responder criminalmente pela morte
de B?
Resolução 17:
Temos de ir ver o art.137º CP- A podia ser autor deste crime negligente?
Para que haja consumação deste crime é necessário que haja a morte de um
terceiro. Neste caso, temos uma ação homicida, temos um resultado (morte de B)
2018/2019 Rita Nina- FDUC 134
e temos, no plano da conduta, uma relação causal entre a ação de A e a morte de
B. Foi o facto de A conduzir o automóvel naquelas condições e o facto de ter
chocado com B que provocou a morte de B- também seria previsível num
contexto destes que da ação do agente possa resultar esta consequência- por
isso, a teoria da adequação tinha dificuldade em afastar a imputação do resultado
à conduta.
Assim, mais uma vez, temos de recorrer à teoria da conexão do risco. Seria
ou não de imputar este resultado a esta conduta? O que está aqui em causa é
saber se A criou ou potenciou o risco proibido. Esta conceção é fundamental para
enquadrar um sem número de atividades humanas que podem gerar
consequências muito danosas, mas que ninguém quer prescindir delas. Como é
evidente, conduzir um automóvel é uma atividade em si mesma perigosa, sendo
indispensável o transporte de automóveis. Há muitas atividades humanas que
comportam riscos, mas que são imprescindíveis no quotidiano de todos nós e daí
que o direito penal se tenha de adaptar a esta realidade contemporânea e
adequar os seus quadros normativos para que seja conforme a esta realidade.
Assim, esta teoria visa que o direito penal só seja chamado a intervir nestes
casos em que há fatalidades, ou seja, naquelas situações em que se verifique que
o agente não tomou as precauções devidas, que ultrapassou os limiares do risco
permitido. Assim, o DP só intervém neste domínio de atividades perigosas,
mesmo quando delas não resultem fatalidades, se se verificar que o agente
ultrapassou, não observou as regras definidas para que a sua atividade se
mantivesse dentro dos limites próprios do risco permitido- por isso é que se fala
aqui em risco permitido e em risco proibido, porque estamos a falar de
atividades que em si mesmas são perigosas, mas que a sociedade estimula, mas
penas sob certas condições (por exemplo: quem quiser conduzir, tem de tirar a
carta de condução)- para que esta atividade perigosa se desenvolva dentro das
margens do risco que é permitido.
Quando o agente não cumpre as regras, então, ele ultrapassa o risco
permitido e entra no risco proibido e, então, nesse caso, já está verificada a 1ª
condição da teoria da conexão do risco. Por outro lado, se o agente fez
exatamente aquilo que a OJ esperava que ele fizesse, mas, mesmo assim, por
azar, acontece uma fatalidade como neste caso, ele não vai responder pelas
2018/2019 Rita Nina- FDUC 135
consequências desse ato, sendo injusto que ele respondesse e sendo impróprio
afirmar que estaria aqui em causa um facto típico.
Assim, tem sempre de se averiguar se ele efetivamente cumpriu as normas
do setor que está em causa ou se as ultrapassou, criando ou potenciando o risco
proibido. Por exemplo: se aqui disséssemos que estava tempo de tempestade e o
agente ia a alta velocidade na estrada, aí já, tínhamos o risco proibido- esta
atividade foi desenvolvida violando as regras do risco permitido. Assim, esta
ideia vale em geral- muitas vezes, a caracterização da existência ou não de um
risco proibido faz-se através das normas de cada setor.
No nosso caso, uma vez que o agente não criou um risco proibido (ele atuou
dentro dos limites do risco permitido) - não está verificada a 1ª condição de
imputação do resultado à conduta e, como tal, aquela morte não lhe pode ser
imputada. Ele não poderia responder por homicídio negligente logo no plano da
imputação do resultado à conduta.
Naqueles casos em que se verifica que o agente criou ou incrementou o
risco proibido, ainda é necessário verificar se foi esse risco que se
materializou no resultado produzido, se foi essa perigosidade que o
legislador procurou conter que se concretizou naquele evento. Quando se
possa concluir que não foi esse o perigo que se materializou, então, há uma
exclusão da imputação do resultado à conduta. Por exemplo: fala-se a este
propósito numa certa tipologia de casos que são os casos de fim/finalidade de
proteção da norma- tem de se atender, para saber se o risco proibido criado se
materializou ou não naquele resultado, à norma que foi violada. No âmbito da
finalidade de proteção da norma, o que está em causa? Para que se diga que há
um risco proibido, temos de ter uma violação da norma de cuidado- por exemplo,
conduzir bêbedo é crime. O agente violou uma regra estadal e criou o risco
proibido.
A questão está em saber se, havendo um acidente, se foi esse o risco que se
materializou naquele resultado. Vamos supor que o mesmo indivíduo que estava
bêbedo adormece ao volante, se despista e mata uma pessoa. Este risco
materializa-se neste resultado? Podemos dizer que foi o agente que potenciou o
perigo e que esse perigo se materializou no resultado. Mas imaginemos agora
que ele conduzia naquelas condições de embriaguez e atropelou uma criança que
2018/2019 Rita Nina- FDUC 136
se fez à estrada de forma repentina, sendo que qualquer pessoa (mesmo que
sóbria) a teria atropelado- era este o perigo que se materializava?
Provavelmente não, porque se nem um condutor sóbrio teria evitado aquele
acidente, logo se entende que a finalidade da norma não era a materialização
daquele resultado.
Outro exemplo: para evitar o ruído num hospital, existe uma norma que
manda os condutores circular a 50 km/hora para não incomodar os doentes. Mas
se um agente circular a 60km/h e tiver um acidente, essa não era a finalidade
que se materializou e que era visada inicialmente por esta norma.
Outra tipologia de casos que entra nesta segunda premissa da teoria da
conexão do risco:
Comportamento lícito alternativo—refere-se àquelas situações em que
o agente de facto criou o risco proibido, mas verifica-se que mesmo que
ele tivesse atuado de acordo com a norma de cuidado, o resultado ter-se-
ia produzido na mesma com alto grau de probabilidade. Isto vale para
aquelas situações em que o agente infringiu uma norma de cuidado, criou
um risco proibido, mas se conclui que mesmo que ele tivesse atuado
conforme ao direito, seria altamente provável ou até seguro que o
resultado se produziria em condições similares. Nessas situações, chega-
se à conclusão de que, quando assim é, não é certo que tenha sido aquele
perigo que ele potenciou que se materializou no resultado e, então, o
resultado não pode ser imputado à conduta.
o Por exemplo: um condutor que passa muito próximo de um ciclista
que vai embriagado e há um acidente ou caso dos pincéis do pelo
de cabra (exemplo referido nas aulas teóricas)!!! Também o caso
de Pedrogão, em que se vai decidir no processo- a concessionária
da estrada está acusada de homicídio negligente porque se diz que
não fez a limpeza da estrada e isso contribuiu para que as pessoas
tenham ficado presas o meio do fogo e tenham morrido. Assim, a
defesa terá de provar que mesmo que se eles tivesssem limpo a
estrada, provavelmente, as pessoas teriam morrido na mesma- se
isto for provado, então, não foi este perigo que se materializou no
resultado e, assim sendo, o resultado não será imputado à conduta.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 137
1.4- Regime penal das pessoas coletivas
Há responsabilidade de pessoas coletivas por alguns crimes definidas no
CP. Há especificidades de imputação de um crime ao ente coletivo, porque, por
definição, ele não tem capacidade de reagir. Quem age pela pessoa coletiva, são
os administradores, funcionários, etc. Deste modo, a pessoa coletiva é
responsável pelos factos coletivas feitos em seu nome e interesse, por quem em
si, tem uma posição de liderança (artg.11º/2 CP) (Como é que vamos imputar
um facto à PC?). O CP estabelece no nº4 o que é uma posição de liderança.
Se um facto for feito, num contexto de uma empresa, ela responde por ele?
Desde já, se for um homicídio ela não responde, porém em alguns países esta
hipótese está prevista apenas para casos de hospitais (erro na operação), pois
neste caso como estamos perante trabalhos de equipa, não se sabe bem quem
responsabilizar, então responsabiliza-se o hospital. Se houver uma acusação de
MP de um crime de homicídio, relativamente aos incêndios de Pedrógão, não
poderia haver responsabilidade das PC.
1º Em primeiro lugar, temos de ver se o crime pertence ao catálogo (11º/1);
2º Em segundo lugar, vemos se o crime foi cometido no seu interesse e por
fim, se:
a. por uma posição de liderança;
b. ou se foi cometido por ter havido falhas no dever de vigilância e
controlo na empresa.
Este modelo chama-se de Modelo de hetero-responsabilidade (nosso
modelo).
Já um modelo de auto-responsabilidade é quando a PC por ela não se ter
prevenido, não se ter organizado e não ter criado mecanismos de modo a ter
prevenido isto, ela é responsabilizada (compliancy).
2018/2019 Rita Nina- FDUC 138
b) tipo subjetivo de ilícito
É o tipo subjetivo que agora nos cumpre analisar, um tipo que por
consequente, o elemento irrenunciável se trata do dolo.
Nos crimes dolosos, a tipicidade subjetiva é formada, desde logo, pelo
dolo. Mas, em certos crimes, além do dolo, o tipo subjetivo é integrado
ainda por elementos subjetivos especiais ou específicos- nomeadamente
intenções específicas, que acrescem ao dolo. Às vezes, é esse elemento
específico subjetivo que dá substrato à ilicitude, é aí que está a ilicitude material-
por exemplo- crime de furto. O tipo objetivo do furto é subtrair uma coisa móvel
alheia (art 203º CP). Assim, se eu pego numa caneta que não é minha e a levo
comigo ou a ponho noutro sítio, estou a subtrair uma coisa móvel alheia e não
cometi nenhum crime, apenas cometi um crime se atuar com uma intenção
específica de apropriação.
Outro exemplo: crime de financiamento do terrorismo- consiste em
fornecer fundos a um terceiro com intenção de que eles sejam usados num
atentado terrorista. É esta intenção que dá a coloração criminosa ao facto. Muitas
vezes, o próprio facto não tem mal nenhum, mas sim a sua intenção é que
comporta um desvalor criminoso.
Estrutura do dolo
A doutrina dominante conceitualiza o dolo, como conhecimento e vontade
de realização do tipo objetivo ilícito. Importa por isso, ver como ele se decompõe,
qual a sua estrutura. O artg.13º determina que, “só é punível o facto praticado
com dolo ou, nos casos especialmente previstos na lei, com negligência”.
Ora, o dolo é o elemento subjetivo central do tipo de ilícito, dos crimes
dolosos e está previsto legalmente no art 14º CP. Neste artigo, temos definidos 3
tipos de dolo. Desde a escola finalista que o dolo é perspetivado como um
elemento do tipo de ilícito, como um elemento típico. Quando não está fora de
culpa, releva logo no plano da ilicitude típica. Na conceção que aqui se adota
(proposta por Figueiredo Dias), o dolo é um componente do crime com uma
natureza complexa e é composto por 3 elementos: dois que integram o tipo
subjetivo e um que integra a culpa.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 139
No plano do tipo, o dolo é formado por 2 elementos- este é o dolo do tipo,
dolo legal, dolo do facto e é composto por um elemento intelectual e por um
elemento volitivo:
Elemento intelectual- para que exista dolo é necessário que o agente
represente a factualidade típica. É preciso que ele tenha uma perceção, na
sua esfera cognitiva, dos factos do tipo objetivo- sem essa representação,
não há dolo;
Elemento volitivo- além disto, só há dolo se o agente atuar com a vontade
de realizar esta factualidade típica, querendo realizar a factualidade
típica.
Mas, para além destes 2 elementos no plano do tipo, surge, no plano da
culpa, um 3º elemento, que extravasa o tipo de ilícito e que nos aparece no
plano da culpa, que é o chamado elemento emocional. Este corresponde a uma
atitude de hostilidade ou inimizade do agente em relação ao bem jurídico.
Esta forma dolosa é a forma mais grave de realização do facto criminoso.
Temos o dolo por negligência e o dolo corresponde à forma mais intensa de
ofensa ao bem jurídico e, por isso, em regra, o facto só é punível se for praticado
com dolo, nos termos do art.13º CP. Assim, para que um agente seja punido por
negligência, tem de haver uma norma que o preveja. Daí que, muitas vezes, se
não houver dolo, não há punição- a maior parte dos crimes são punidos por
forma dolosa. Mesmo que o crime seja punível por negligência, a pena
abstratamente aplicada à negligência é sempre mais leve do que a pena aplicada
ao crime doloso e, por isso, não é nada irrelevante se o agente atuou com dolo ou
com neglicência- pode fazer toda a diferença ao nível da pena. Quando o Estado
pune alguém por ter praticado um crime de forma dolosa, está a dirigir-lhe uma
censura particularmente forte, está a reprová-lo por ter atuado de forma
deliberada ou voluntária contra o bem jurídico.
Por exemplo: aquele que mata outra pessoa, sabendo o que está a fazer e
querendo fazê-lo, naturalmente vai sofrer uma censura muito mais forte do que
aquele que mata por descuido, por desleixo. Assim, a censura que é própria do
dolo é uma censura mais gravosa, uma vez que o Estado está a censurar aquela
pessoa por se ter posto contra a ordem jurídica penal e, por isso, vai ser
sancionado mais gravemente.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 140
E é justamente por isto, por causa da censura dolosa ser mais forte e, de
atingir a pessoa não só pelo o que ela fez, mas também pelo o que ela revela ser,
que vai até ao âmbito da personalidade, que esta censura pressupõe que se
verifique que aquela pessoa sabia bem o que estava a fazer e quis fazer aquilo
que fez. É preciso que se demonstre, que se consiga apurar que a pessoa admitia
como possível que ia suceder o que efetivamente sucedeu e quis atuar dessa
maneira, mesmo sabendo. E é por isso que o dolo tem de ter estas duas
componentes. Faltando uma destas componentes, não há dolo porque não vai ser
possível ao Estado puni-lo por dolo e o dolo vai ser afastado.
I. Momento intelectual do dolo
Do que neste elemento verdadeiramente se trata é da necessidade, que o
agente conheça, saiba, represente corretamente ou tenha consciência das
circunstâncias de facto que preenchem um tipo de ilícito objetivo- 16º/1 CP. O
que com este elemento se pretende é que ao atuar, o agente conheça tudo o
quanto é necessário a uma correta orientação da sua consciência ética para o
desvalor jurídico que concretamente se liga à ação intentada, para o seu caráter
ilícito – tudo isto é indispensável para afirmar que o agente detém, ao nível da
sua consciência intencional ou psicológica, conhecimento necessário, para que a
sua consciência ética consiga resolver corretamente o problema da ilicitude.
Só quando todos os elementos de fato estão presentes na consciência
psicológica do agente, é que se, poderá vir a afirmar que ele se decidiu pela
prática do ilícito e deve responder por uma atitude contrária ou indiferente ao
bem jurídico lesado pela conduta.
Para que se possa censurar alguém desta maneira, é preciso que se
verifique que aquele agente sabia o que estava a fazer, que aquele facto típico que
ele praticou foi praticado por ele com consciência, de maneira a que tem de
haver uma congruência no âmbito do dolo entre o tipo objetivo e o tipo
subjetivo, nomeadamente entre o tipo objetivo e o dolo.
O conhecimento das circunstâncias de facto
De acordo com isto, exige-se antes de mais, o conhecimento da totalidade
dos elementos constitutivos do respetivo tipo ilícito objetivo, da factualidade
típica (tipo objetivo).
2018/2019 Rita Nina- FDUC 141
Se o tipo ilícito é o portador de um sentido de ilicitude, então compreende-
se que a factualidade típica que o agente tem de representar constitua o
agregado de factos já valorados, em função daquele sentido de ilicitude. O que é
isto quer dizer? Não basta o conhecimento dos meros factos, torna-se
indispensável a apreensão do seu significado correspondente ao tipo. Tal
exigência não coloca dificuldades relativamente aos elementos descritivos, mas
já assim não sucede com os elementos normativos – qual é o grau e as
características do conhecimento que neste âmbito deve ser exigido para a
afirmação do dolo do tipo? Fala-se aqui, no que diz respeito à forma de
representação e perceção destes elementos normativos, daquilo que se designa
por uma avaliação paralela na esfera do leigo - para que se diga que o agente
representou um certo elemento normativo, não é necessário que ele tenha uma
compreensão jurídica ou jurídico-penal do significado normativo desse
elemento. Basta que esta pessoa tenha uma perceção de leigo, de pessoa comum,
de modo a aperceber aquilo que lhe está a acontecer. Por exemplo, o art.203º CP,
que se refere ao crime de furto, fala em “coisa móvel alheia”. A natureza móvel de
uma coisa e o caráter alheio de uma coisa são elementos normativos.
Mas, há elementos normativos como “animal de companhia” em que as
coisas estão longe de ser lineares- há certos elementos normativos em que a
perceção do significado jurídico-penal que releva naquele facto só se adquire se
se tomar conhecimento dos próprios critérios de valoração e enquanto assim
seja, quando não seja claro pela simples apreciação sensorial e uma apreciação
valorativa, então, temos aqui um erro relevante.
Há casos em que a compreensão, por não ser acessível a qualquer um, gera
alguns problemas: para que se afirme o dolo, é necessário que o agente conheça
o critério normativo, o critério da valoração. Por exemplo: toda a gente sabe
que se pegar no cão que é do vizinho e o maltratar, é óbvio que o cão é um animal
de companhia. E, portanto, se o agente maltrata este animal, está a cometer um
crime de maltratos dos animais de companhia. Mas agora imaginemos que é um
coelho-será um animal de companhia? Só depois de os tribunais afinarem o
critério é que se pode saber. Vamos supor que os tribunais já definiram que o
coelho é um animal de companhia, mas que o agente não sabia, porque não fazia
2018/2019 Rita Nina- FDUC 142
ideia de qual era o critério de valoração – casos em que o simples conhecimento
não é suficiente para o comum dos mortais perceber o desvalor.
Por exemplo: um jovem pede á avó que plante uma planta que afinal é
cannabis, mas a senhora não sabia, porque desconhecia a cannabis. Assim,
é preciso saber o critério normativo que permita aceder à compreensão
do facto, porque nem tudo é imediatamente percetível e só quando se
possa afirmar que o agente teve uma compreensão efetiva do desvalor
daquele facto, é que se pode dizer que há dolo. Faltando este elemento,
então, o dolo é excluído. O art.16º/1 CP diz respeito precisamente à falta
de conhecimento do elemento do tipo, seja ele normativo ou descritivo.
Ele prevê que o erro sobre elementos de facto ou de direito de um tipo de
crime exclui o dolo- estamos perante o chamado erro sobre a
factualidade típica.
O conhecimento requerido pelo dolo exige a sua atuação na consciência
psicológica ou intencional no momento da ação. Não basta a mera possibilidade
de representação de facto, requer-se que o agente represente a totalidade da
factualidade típica e a atualize de forma efetiva.
Quando se mostra que o agente atuou em erro, importa saber sobre que
erro estamos a falar.
1) Erro sobre a factualidade típica
Faltando ao agente conhecimento, nos termos em que acabamos de o
explicar, da totalidade das circunstâncias, de facto ou de direito, descritivas ou
normativas, do facto, o dolo não se pode afirmar. Fala-se do erro sobre o tipo
incriminador/sobre a factualidade típica, no artg.16º/1, que dispõe que
havendo um erro sobre o tipo objetivo ilícito há exclusão do dolo.
O termo “erro” não é tomado apenas no sentido de uma representação
errada, mas também integra os casos de representação errada., que pode
abranger elementos descritivos e elementos normativos (cuja compreensão
apenas se alcance): tanto erra sobre a factualidade típica do crime de aborto a
mulher que, usando um medicamento que atua como abortivo, não sabe que está
grávida; com a mulher que está grave mas acha que o medicamento não vai fazer
2018/2019 Rita Nina- FDUC 143
nada. Em segundo lugar, quando se diz que “exclui-se o dolo”, tal significa, que o
dolo do tipo não chega a constituir-se quando faltam os seus pressupostos.
Contudo, com a exclusão do dolo, mesmo assim pode haver, o
preenchimento de um tipo ilícito negligente. Por exemplo, um condutor
automóvel a conduzir à noite, não repara num homem bêbado estendido no meio
da estrada e atropela-o mortalmente – não age como o dolo do tipo homicídio,
mas possivelmente o seu desconhecimento poderá reconduzir ao tipo ilícito de
homicídio negligente (137º). Isto é expressamente ressalvado pelo artg.16º/3:
Se o respetivo comportamento for expressamente previsto na lei como
crime negligente;
Se a negligência se tiver efetivamente verificado nesse caso.
A previsão do decurso do acontecimento
Nos crimes de resultado, tanto a ação como o resultado, são circunstâncias
de facto pertencentes ao tipo objetivo de ilícito que, tal como, têm que ser
levados, nos termos descritos à consciência intencional do agente. A questão que
se põe é de saber em que termos é que se torna necessário, o conhecimento pelo
o agente da conexão entre o resultado e a ação, isto é o risco por ele criado e
vazado no resultado que fundamenta a imputação objetiva.
2) Erro sobre o processo causal
Um caso específico de erro, é chamado o erro causal em que o agente leva
a cabo um determinado plano, mas o resultado produz-se, mas de um modo
diferente do que aquilo que ele projetou. Ex.: A quer matar B atirando-o da
maneira que ele caindo ao rio morria, só que na queda B parte a cabeça e morre
não por afogamento, mas sim por causa de um traumatismo craniano – ele
conseguiu matar B mas de uma maneira diferente daquele projetava. Coloca-se a
questão de se saber se este desvio tem uma relevância na exclusão do dolo.
Para vermos isso temos de distinguir dois tipos de crimes, a doutrina
maioritária estabelece diferenciações consoante o crime se trata de execução
livre ou vinculada:
Execução livre- não particulariza o processo causal, o agente é livre
independentemente do modo com que ela é levada a cabo (ele não
particulariza o modo de matar por exemplo). Neste tipo de casos, a pessoa
2018/2019 Rita Nina- FDUC 144
normalmente tem noção do tipo de riscos que a conduta acarreta, e todos
estes riscos são inerentes à conduta que ele vai praticar, assim ele ao
realizar o crime de outra forma não excluiu o dolo porque representa-se
o risco à mesma (a pessoa morrer).
Execução vinculada- o legislador circunscreve a relevância típica a certas
maneiras específicas de alcançar o resultado. Quando o legislador, edifica
o crime segundo esta estrutura, então se, o agente se engana quanto ao
processo causal há a exclusão do dolo.
o Ex.: o dono de um stand de automóveis vai à Alemanha e traz um
conjunto de carros para vender em Portugal, sendo que ele quando
chega cá altera o conta quilómetros, isto é um caso de burla. Vamos
supor agora que o dono do stand convence o vendedor que o conta
quilómetros é aquele e por ter tão poucos vende-o a um preço
mais alto a um cliente – quanto ao vendedor vai haver a exclusão
de culpa já que ele desconhecia, mas o dono do stand já vai ser
responsabilizado visto que ele sabia da alteração do conta
quilómetros.
3) Dolus generalis
Outra espécie particular são os casos “Dolus generalis”, em que são
situações, em que, o agente deseja um certo resultado e planeia que o resultado
se processe de certa maneira. Só que, sem que ele se aperceba, o resultado não se
produz à primeira e só vem a produzir-se depois, num segundo momento, no
contexto em que ele já achava que o resultado já estava verificado.
Ex.: alguém que dispara sobre outra pessoa com a intenção de a matar, e
pensa que a vitima está morta, sendo que, ela verdadeiramente não está, ela só
morre quando a pessoa a enterra (sufocamento) – quando ele atuou com a
intenção de a matar (disparou) ele não a matou, foi só quando ele n tinha essa
intenção é que a matou (enterramento), será que isso exclui o dolo?
Há uma boa parte da doutrina que entende que o dolo abrange toda a
situação.
Contudo, existe uma outra parte da doutrina, nomeadamente Figueiredo
Dias, que tem outro entendimento. Ele entende que se terá de recorrer à
doutrina da conexão do risco objetiva:
2018/2019 Rita Nina- FDUC 145
o Se de facto, aquilo que levou efetivamente à morte, fosse uma
contingência do crime, ou seja, se o risco que se concretizou no
resultado podia reconduzir-se ao quadro de riscos criados pela 1ª
ação, então o agente deve responder a título de crime doloso
consumado (Ex.: sujeito que está junto ao rio dispara um tiro com
intenção de matar o outro sendo que este cai e a causa de morte é
afogamento – contingência).
o Naqueles casos em que ele não conseguiu, ou seja, aquilo que levou
à morte não era uma contingência do crime, será um crime doloso
tentado, acrescido eventualmente por crime negligente
consumado – ex.: sujeito que dispara sobre o outro e achando que
o matou enterra-o (ele morre pelo enterramento).
4) Erro na execução
Um outro caso de erro é nos trazido pelos casos, em que por erro de
execução, vem a ser atingido objeto diferente daquele que estava no propósito
do agente. Ex: A dispara um tiro pretendendo acertar numa garrafa de vidro, mas
acaba por atingir uma pessoa, ferindo-a mortalmente. Aqui, o resultado ao qual
se referia a vontade de realização do facto não se verifica, mas sim um outro. A
ação falha o seu alvo a apresenta por isso estrutura de tentativa. A produção do
outro resultado, que tanto podia não ter lugar como ser de outra gravidade, só
pode eventualmente conformar crime negligente. A punição deve por isso, ter
lugar por tentativa ou por concurso desta com crime negligente. Esta é a
chamada teoria da concretização (doutrina dominante).
5) Erro na formação da vontade
Há que distinguir estes casos do erra na execução. Com efeito, neste caso, o
agente encontra-se em erro quanto à identidade da pessoa ou objeto que
pretende atingir. Não existe qualquer erro na execução, mas sim na formação da
vontade – ex.: A pensa que o passante é o seu inimigo mortal (B) e dispara sobre
ele, mas na verdade o passante era C e não B, como tal, A disparou sobre um
estranho.
Sempre que o objeto concretamente atingido seja tipicamente idêntico ao
projetado, como o exemplo acima, o erro sobre o objeto ou a pessoa é irrelevante,
2018/2019 Rita Nina- FDUC 146
uma vez que, a lei proíbe a lesão, não de um determinado objeto ou individuo,
mas sim de todo e qualquer objeto ou pessoa compreendidos no tipo de ilícito.
Se o agente erra também, todavia, sobre as qualidades tipicamente
relevantes do objeto por ele atingido, então há que ficar apenas na
responsabilidade por tentativa, ou eventualmente, na combinação de tentativa
com uma responsabilidade por negligência:
Ex.: E caçando ilegalmente na floresta, vê um vulto e dispara sobre ele
pensando que era um anima, quando na verdade se tratava de uma
criança que vem mais tarde a falecer.
6) Erro sobre as proibições legais e Erro sobre a ilicitude
Há uma outra espécie de erro que está prevista no artg.16º/1 2ª parte
chamado erro sobre as proibições legais. A questão é que estamos perante
situações em que há uma dissonância entre a valoração da OJ penal e a valoração
que o agente faz. São casos estes em que, o agente representa de forma perfeita e
completa os elementos tipos do facto (factualidade típica), o problema é que
embora saiba tudo aquilo que está a fazer, a perceção que ele tem da realidade
é diferente daquilo que a OJ tem, porque a OJ qualifica aquilo como crime e ele
não tem essa perceção. O agente atua sem saber que aquilo que está a fazer é
crime. O erro sobre a factualidade típica exclui os outros, porque o dolo implica
uma censura. Para ser contra a OJ, é preciso que estejamos certos que o agente
tem um pleno conhecimento dos factos (temos de ter em atenção a culpa e a
hostilidade do agente).
Só podemos censurar o comportamento doloso se tivermos a certeza que
ele cometeu os factos com pleno conhecimento. Da maneira que quando
alguém representa a factualidade típica por via de regra isso será suficiente para
ele ser despertado para o problema da ilicitude penal. Há situações em que o
agente tem uma perceção integral de todos os factos, no entanto não tem noção
que está a cometer um crime, não atinge a noção da ilicitude. Põe-se a questão
de saber se ele deve ou não ser punido dolosamente.
Este problema entre nós tem uma resolução legal que vai ao encontro do
pensamento do Figueiredo Dias – artg.16º/1 2ª parte + artg.17º corresponde
fundamentalmente à proposta de dele. Basicamente o erro tem relevância,
podendo excluir a responsabilidade, pois nem sempre é exigível ao comum do
2018/2019 Rita Nina- FDUC 147
cidadão, que ele tenha conhecimento de todos os crimes e em alguns casos pode
nem ser censurado. Há que distinguir dois tipos de erros:
Erro intelectual
Erro de valoração
Figueiredo Dias fala da consciência psicológica e ética. Ele diz que num certo
caso, o conhecimento da factualidade típica se em si mesma, é suficiente que o
agente resolva o problema da ilicitude. O problema está em saber se a
representação plena de todos é suficiente para que os comuns dos cidadãos,
formem um juízo de ilicitude penal que a OJ estabelece. Ex.: uma pessoa que
dispara à queima roupa não vai dizer que não sabia que o homicídio era crime.
Mas por exemplo, se um dono do café não pagar música aos autores dela,
será crime ou contraordenação? O comum dos cidadãos provavelmente não sabe,
já que não é tão evidente a natureza ilícita do facto. A natureza do facto por vezes
não é de tal forma grave, que a generalidade das pessoas não tem consciência
desse facto, por exemplo alguém que contrata um guarda costas sem licença –
isso é crime, porém a maior parte das pessoas não o sabe. Isto para dizer que,
quando há situações em que o legislador tipifica como crime factos cuja
densidade ética, valoração axiológica está longe de ser evidente, ou seja, casos
que o facto em si mesmo está dissociado da proibição não têm relevância ética.
Casos dessa natureza, todavia sejam um crime, o simples conhecimento da
factualidade típica pode ser insuficiente para que o agente adquira a noção
ilícita do facto – ex.: caso do guarda costas, em que uma pessoa que o contrata
não sabe que ao contratá-lo sem licença isso é crime, ela não tem noção da
ilicitude.
Nesses casos, em que o facto em si mesmo é eticamente neutro quando
dissociado da proibição, então o conhecimento da factualidade típica em si
mesmo não é suficiente para que se afirme o dolo- 16º/1. Se estivermos perante
um caso em que o conhecimento da proibição for necessária para que o agente
exerça um juízo de ilicitude, então se ele atua sem ter essa noção ele atua sem
dolo.
Isto tem a ver com a relevância do facto. Se o facto for eticamente
relevante, então o enquadramento normativo é o artg.17º. Se o facto em si
mesmo for eticamente indiferente, para que o agente forme a ideia de ilicitude
2018/2019 Rita Nina- FDUC 148
ele tem que saber essa norma que proíbe o comportamento, então exclui-se o
dolo- 16º/1. Ex.: caso das viagens dos funcionários públicos ao euro de 2016, em
que se pagou essas viagens na totalidade e, entretanto, o MP abriu o processo de
crime de dar vantagens – na altura não havia uma perceção muito clara de que
essas viagens podiam constituir crime. De acordo com o nosso modelo legal, o
juiz por vezes é chamado a fazer esse juiz legal de saber se é eticamente
indiferente ou não.
O modo de resolver estes casos de erros é, quando, o tribunal se deparar
com uma situação em que se verifique o agente atuou sem saber da natureza
ilícita da conduta, nesses casos, o tribunal irá avaliar se esse ero caí sobre a
alçada do 16º ou do 17º. Quando o tribunal conclua (questão de prova), que o
agente de facto atuou em erro sem ter noção do carácter ilícito, ele vai ter de
decidir do enquadramento normativo desse erro (escolher entre o 16º ou 17º). O
critério de enquadramento segundo FD, é o de relevo axiológico ético da
conduta independentemente da proibição.
Se a conduta em si mesma for eticamente relevante então temos um carro
de erro sobre a ilicitude- 17º.
Se a conduta em si mesma for eticamente indiferente, ou muito baixa,
então temos um caso de erro sobre as proibições legais- 16º/1 2ª parte.
Excluí se o dolo, podendo o agente quanto muito responder por
negligência (16º/2).
II. Momento volitivo do dolo
Estivemos a ver até agora o elemento intelectual do dolo, mas o dolo
também é composto pelo elemento volitivo.
Para que haja dolo o agente tem que representar o facto objetivamente
típico, mas também necessário que ele atue com vontade de ele representar o
tipo. Neste plano, no da vontade, está em causa o elemento volitivo. Só há dolo se
ele também tiver atuado com vontade de realização desse ato. A demonstração
dessa vontade é essencial para ser possível dirigir a esse agente uma censura
dolosa. Assim a vontade é imprescindível do dolo, ela é exigida não só nesta
previsão global, mas também do ponto de vista legal no artg.14º, sendo que nas
várias modalidades do dolo estabelece-se uma exigência de vontade.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 149
Vamos ver que há uma espécie de dolo (dolo eventual) que é de difícil
demonstração e por isso de difícil avaliação, daí que haja uma corrente doutrinal
que procura desvalorizar o elemento volitivo e tentar edificar o dolo no elemento
intelectual, o que é muito difícil de conciliar com o princípio da culpa e que não
tem acolhimento no nosso sistema.
Vamos ver as várias fases do dolo, em função sobretudo da vontade do
agente, sendo esta classificação substantiva do direito material que está refletida
no artg.14º. Mas é uma classificação que não deixa de ter um grande relevo
processual, pois para que, possa ser aplicado um facto doloso é necessário que se
demonstre que o agente representou e quis a realização do facto e, essa,
demonstração acaba por ser de grande dificuldade. O dolo é uma realidade
psíquica, intangível enquanto que os factos da factualidade típica do tipo objetivo
são em larga medida, factos tangíveis, percecionáveis pelos sentidos, o dolo não.
Ex.: A disparou sobre B, o disparo é percetível pelos sentidos, o facto
objetivo é muitas vezes demonstrável por isso mesmo, já o facto do dolo
(conhecimento e vontade) são factos internos do agente e assim são de
difícil demonstração, essa avaliação passa em larga medida pela
compreensão das várias formas do dolo.
Nas sentenças, é usado o dolo uma forma canónica: o arguido atuou de
forma livre e consciente da punibilidade do crime- consciência e vontade. Mas
além disto, tem-se que ser claro nos critérios que vamos ver agora, do que é
exatamente a vontade. Estes critérios acabam por ser na prática forense, também
critérios de apreciação da prova.
A lei, no artg.14º acolhe aquela que é a tripartição clássica do dolo:
1) Dolo direto intencional ou de 1º grau
No dolo intencional, temos uma situação em que o agente tem um
conhecimento seguro e certo de que da sua conduta vai resultar uma
consequência e atua com intenção ou vontade direta dessa consequência. O seu
propósito é conseguir aquilo que representa o crime, portanto a realização do
tipo objetivo surge como o verdadeiro fim da contuda. Ex.: o agente, sabendo que
tem uma arma carregada e que se apontar essa arma à cabeça de outra pessoa e
disparar sobre ela, ele sabe perfeitamente que há uma probabilidade alta de a
matar, sendo que, ele atuou com essa intenção.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 150
Há situações em que o agente está seguro de que, da sua conduta irá advir
uma certa consequência, não que deseje, ou seja que não é o seu propósito, mas
aquilo constitui um degrau para aquilo que ele deseja. A realização típica não
constitui o seu fim último, mas é um pressuposto intermédio necessário do
seu conseguimento. Estas situações também aqui se enquadram. Ex.: senhor
quer assaltar a joalharia, sendo que para isso ele roubou o carro para ir contra a
montra da joalharia, em relação a esse dano de carro que não lhe pertence,
estamos ainda perante o dolo direto de 1º grau. Aqui é apenas relevante, a
necessidade de conexão entre o facto prévio e o fim último da conduta, as
motivações determinantes do comportamento do agente não desempenham
nenhum papel na classificação do dolo do tipo, todavia ela poderá ser relevante
para outros efeitos, como a culpa.
2) Dolo direto necessário ou de 2º grau
Previsto no artg.14º/2, temos o exemplo do Pablo Escobar que para matar
um político pôs explosivos no avião onde iam centenas de pessoas, a intenção
dele era de matar o político, mas naquelas circunstâncias ele sabia perfeitamente
que dessa explosão ia resultar na morte das outras pessoas todas que iam no
mesmo avião.
Assim, há este dolo quando o facto típico não é intencionado pelo
agente, mas ele aparece como consequência inevitável do facto intencionado, e
como “lateral” relativamente ao fim da conduta. Aqui não estamos a falar de um
facto pressuposto, mas sim de uma consequência que advém desse ato. Esta
inevitabilidade pressupõe já uma característica especial, a nível de elemento
intelectual do dolo tipo: a previsão do facto há-de ter ultrapassado a mera
representação da consequência como possível, para o ser como “certa” ou
“altamente provável”.
3) Dolo eventual
Previsto no 14º/3. A lei para caracterizar este dolo utiliza palavras
diferentes do que utiliza nos outros: representar o facto como consequência
possível na conduta.
Esta é uma conduta que nos aparece no plano volitivo, mas que se
contrapõe ao dolo direto logo no plano do momento intelectual. Enquanto que no
dolo direito, o agente sabe que certa factualidade típica vai acontecer, no dolo
2018/2019 Rita Nina- FDUC 151
eventual, o agente não está absolutamente seguro do que o resultado vai
produzir, ele apenas admite isso como possível, não está certo de que isso irá
acontecer, de todo o modo ele conta com essa possibilidade.
A questão está em saber se nesses casos se quando o agente só representa
o facto como possível, se o dolo poderá ou não ser afirmado, e este é um ponto
muito complexo e com uma relevância muito significativa, dado que tem vários
planos. O dolo eventual vive numa fronteira, dado que por um lado contrapõe-se
ao dolo direto e por outro lado, na outra face, contrapõe-se à negligência
consciente. Porque é que é tão importante esta identificação?
É importante em primeiro lugar o confronto do dolo direto e do dolo
eventual dado que há certos tipos legais de crime, em que a lei circunscreve a
relevância típica somente aos casos de dolo direto, porque se exige que o agente
represente o facto como certo. São crimes que não admitem uma tipificação a
nível do dolo eventual- 366º-- crime de simulação de crime, em que uma pessoa
fantasia um cenário criminoso e vai denunciar às autoridades (seguro por
exemplo, de modo a ser indemnizado), a lei só pune essa simulação quando sabe
que ela se verificou, conhecimento certo e seguro, por isso apenas se pune por
dolo direto; também acontece no 324º-- causar intencionalmente um prejuízo
patrimonial.
Além desta contraposição, a figura do dolo eventual contrapõe-se à
figura da negligência consciente. O dolo pode ser direto (conhecimento certo e
seguro) ou eventual (apenas uma mera possibilidade), já a negligência pode ser
consciente (15º a)-) ou inconsciente (15º b)-), em ambos os casos de dolo
eventual e consciência negligente o agente atua admitindo a possibilidade de
ocorrência de facto.
Ex.: A aposta com B que consegue entrar em contramão na entrada de auto
estrada e circular em contramão numa certa velocidade, sem ter qualquer
acidente. Num caso desses A claramente atua admitindo a possibilidade de
chocar com outra pessoa, ele admite o facto como possível e a questão é, se
nestas situações se atua com dolo eventual ou negligência inconsciente, não é
nada indiferente o enquadramento de um ou de outro, porque em certos crimes
o facto só é punível a título de dolo por força do artg.13º. Noutros casos, embora
o crime seja punível a título negligente em regra, a pena prevista para a
2018/2019 Rita Nina- FDUC 152
negligência será substancialmente mais baixa do que para o crime de dolo, e por
isso é relevante o enquadramento (ex.: homicídio). Em função disto, esta
contraposição assume um relevo prático muito grande no próprio processo,
dado que, a defesa vai tentar mostrar que não houve dolo, uma vez que, isso
implicará a absolvição ou a aplicação de uma pena mais baixa.
Houve um caso trágico em que a questão foi amplamente debatida, quer no
processo, quer na doutrina, no caso de uma final da taça de Portugal há mais de
15 anos em que da bancada dos adeptos de Benfica foi lançado um engenho
pirotécnico em direção à outra bancada que atingiu um adepto do Sporting, que
resultou na sua morte. Discutia-se se o adepto do Benfica atuou com dolo ou com
negligência e se atuou com a intenção e a vontade na morte da pessoa. Há
atualmente várias teorias sobre esta contraposição, mas essas reconduzem-se
essencialmente a 3 teorias:
Teorias da probabilidade- há que distinguir o grau de probabilidade da
verificação do facto. Se o agente representar o facto como provável a
fronteira está na probabilidade da realização do facto, se:
o Agente representar o facto como provável – dolo.
o Se for pouco provável – negligência.
Esta teoria é rejeitada, pois põe uma maior importância num elemento
intelectual (cognitivo) e não num elemento volitivo e, além disso, nem
sempre é fácil ver determinar qual é o grau dessa
probabilidade/possibilidade. Mas para além disto, há situações em que o
agente antecipa como pouco provável a verificação do facto, mas faz todo o
sentido punir com dolo – ex.: alguém que pretende matar outra pessoa
através de um tiro disparado a longa distância em que acha que a
probabilidade o atingir é baixa, mas ela consegue atingi-lo, neste caso dizer
que não há dolo não é visto como adequado.
Teorias da aceitação- já nesta teoria, ela parte para a análise do puro
elemento volitivo do dolo.
O dolo eventual faz-se quando o agente apresenta a verificação do facto como
possível e no seu íntimo aceita essa possibilidade, ou até lhe é indiferente se
acontece ou não. Nestes casos de aceitação ou de indiferença, o agente atua
com dolo. Já se o agente, avança para a realização da conduta típica
2018/2019 Rita Nina- FDUC 153
repudiando a produção do resultado diz-se que atua só com a negligência
consciente.
Estas posições acabam por pôr em evidência uma conexão particular
importante com a culpa dolosa: que o agente se tenha decidido contra o
direito, ou com indiferença perante ele será tanto mais seguro quanto tenha
considerado bem-vinda a realização do facto típica e, quanto mais duvidoso
quando a tenha considerado indesejável.
Contudo, em caso concreto, é muito difícil demonstrar esta repudiação ou
indiferença em tribunal.
Esta teoria também é rejeitada, porque torna-se difícil verificar-se na
prática, como está explicado acima, e porque pode conduzir-se a casos pouco
satisfatórios.
o Por exemplo – apostas, como uma rapariga que segura na mão um
objeto e um rapaz aposta que acerta no objeto e não nela, mas acaba
por acertar nela; ou o caso da aposta de ir em contramão na
autoestrada, se essa pessoa que realizar isso bater em alguém e por
ventura do embate mata-a, no seu intímo ela repudia o resultado,
então sendo assim segundo esta teoria não haveria dolo, quando
claramente houve.
Teorias da conformação (sendo esta a consagrada no artg.14/3 e 15ºa))- o
que está em causa é saber se o agente representou a produção do facto como
possível, se ele se conformou ou não com essa possibilidade. Se o agente se
conformou com isso então haverá dolo eventual, mas se ele não se conformou
haverá negligência consciente. Esta teoria parte da ideia de que o dolo
eventual pressupõe algo mais do que o conhecimento do perigo da realização
típica.
O problema está em saber quando é que o agente se conformou ou não:
o 14º/3 dolo eventual
o 15º a) negligência consciente
Atualmente a posição maioritária vai no sentido das teorias da
conformação, a ideia é de saber se o agente encarou o perigo efetivo, se ele
encarou a situação como risco sério, qualificado e se mesmo prevendo isto
ele se decidiu pela realização do facto. Nestas situações há uma indiferença
2018/2019 Rita Nina- FDUC 154
relativamente ao bem jurídico que vai levar à formação do dolo eventual,
pois apesar de ele ter representado a consequência como possível e a ter
tomado a séria, tal sobrepõe-se de forma clara a satisfação do seu interesse
ao desvalor do ilícito e por isso decide-se pelo risco contido na conduta e,
nesta aceção, conforma-se com a realização do tipo objetivo.
Roxin afirmou na sua formulação que “quando a verificação de um resultado
como possível é completamente indiferente, então tanto está bem a sua
verificação, como a sua não verificação; perante uma tal posição, uma decisão
pela violação do bem jurídico, existe já”.
Se por contrário, estivermos a falar de um risco baixo, desde que haja aquela
firme vontade intencional dir-se-á que o agente não se conformou com a
realização do facto – negligência consciente.
Naquele caso da autoestrada, uma coisa é ele saber que aquela é muito
frequentada, em que neste caso é claro o dolo eventual, outra coisa é o sujeito
andar numa estrada que sabe que é praticamente deserta, em que neste caso
já é mais discutível o dolo eventual.
1.5- Os especiais elementos subjetivos do tipo
Para concluir a matéria do tipo subjetivo ilícito, falta ainda falar de nos
crimes dolosos, o tipo incriminador integra o tipo objetivo e o tipo subjetivo
ilícito. No tipo subjetivo, só há preenchimento do tipo subjetivo se pelo menos o
agente atuar com dolo (representação e vontade do conhecimento do facto). Na
maior parte dos crimes, o tipo subjetivo é composto apenas pelo dolo
(preenchido apenas pelo dolo) como por exemplo o homicídio, em que o tipo
subjetivo do homicídio é compostos unicamente pelo dolo. Só que em certos
crimes o tipo subjetivo além do dolo, integra ainda elementos específicos:
203º/1 – furto, em que há o elemento específico da intenção por
apropriação, o tipo objetivo do furto é subtrair uma coisa nova que não
lhe pertence (realização com dolo), mas tal não é suficiente para que haja
furto. Não basta o dolo, é necessário a intenção por apropriação.
A distinção entre elementos pertencentes ao dolo de tipo e aos elementos
especiais subjetivos do tipo está, em que estes, ao contrário daqueles, não se
referem a elementos do tipo objetivo de ilícito, o seu objeto encontra-se fora
2018/2019 Rita Nina- FDUC 155
do tipo objetivo ilícito, não havendo por isso, uma correspondência ou
congruência entre o tipo objetivo e o tipo subjetivo de ilícito. Estes elementos
cumprem a função de individualizar uma espécie de delito, de tal forma, que
quando lhes faltam, o tipo de ilícito daquela espécie de delito não se encontra
verificado.
A questão mais delicada suscitada por estes especiais elementos
(intenções, motivos, pulsões afetivas) reside no facto de esses, pela sua própria
natureza, não serem quase nunca redutíveis a um qualquer acontecimento
exterior, mas pelo o contrário, se analisarem, em dados predominantemente
internos: sendo por isso difícil por vezes, de se afirmar, se um dado elemento
ainda respeita ao tipo ilícito ou antes ao tipo de culpa. Qual é o critério? O
elemento questionado pertence ainda ao tipo ilícito se ele serve ainda a definição
de uma certa espécie de delito e se refere, por esta via, ao bem jurídico protegido,
ou se visa ainda caracterizar o objeto da ação.
Há crimes que incorporam intenções que vão além do tipo objetivo. Como
vimos, a intenção pode constituir apenas uma das formas que assume o elemento
volitivo – dolo intencional/de 1º grau. Nestes casos, a intenção não assume, uma
autonomia especial como especial elemento subjetivo do tipo ilícito, sendo que,
ela pertence integralmente ao dolo do tipo. Noutros casos, porém, o tipo de ilícito
é construído de tal forma que, uma certa intenção surge como exigência
subjetiva que concorre com o dolo do tipo ou que, a ele se adiciona e dele se
autonomiza. Este é o caso da burla, do crime da falsificação de documentos, entre
outros. Há uma certa tendência em chamar a esses elementos de “dolo
específico”, designação essa que está errada. E é a este propósito que se faz
referência aos crimes de resultado cortado, são crimes em que o tipo subjetivo
vai para lá do tipo objetivo, para que haja crime é necessário que se verifique
uma intenção da faculdade típica – produção de um resultado que todavia não
faz parte do tipo do ilícito (ex.: -- burla- intenção de enriquecer).
Temos então um elemento específico que transcende o tipo objetivo, e
transcende pois o sujeito só incorre de crime se atuar com uma intenção, sendo
que esta não tem de se realizar, tendo como exemplo o crime de burla em que
uma pessoa vai enganar o terceiro, em que a pessoa vai atuar com a intenção de
enriquecer ilegitimamente. Ou por exemplo, o caso de falsificação de documentos,
2018/2019 Rita Nina- FDUC 156
em que existe a especial intenção de causar prejuízo a outra pessoa ou ao Estado,
ou de obter para si ou para outra pessoa, um benefício ilegítimo.
A doutrina costuma citar ainda, ao lado das intenções, os motivos,
impulsos afetivos e as características da atitude interna, como outras
categorias integrantes de especiais elementos subjetivos do tipo. Não é possível
na verdade, que num caso ou noutro, tais realidades possam ser exigidas como
co-fundamentadoras da ilicitude típica subjetiva. Duas notas:
Em primeiro lugar, cumpre dizer, que na maior parte das vezes, estes
elementos (especialmente as características da atitude interna), são utilizados
pela lei, na medida do grau de censurabilidade do agente: nesta medida deverão
então, ser imputados ao tipo de culpa, antes que ao tipo subjetivo de ilícito.
A segunda nota, é de que, nos casos em que tais elementos deverão ser
imputados ao tipo de ilícito, torna-se, na maior parte das vezes, uma tarefa difícil
e pouco compensadora determinar como eles se distinguem das intenções e
como é que eles se diferenciam entre si. Por exemplo, no caso em que um motivo
se torne determinante e atuante ele pode facilmente, confundir-se com o fim da
ação; na medida em que ele conduz e orienta a ação, não será fácil distingui-lo de
uma intenção.
Caso 18- A regressa de uma viagem de avião de uma país latino-americano e
recolhe uma mala, na convicção de ser a dele, por ser exatamente igual à sua e
ter sensivelmente o mesmo peso. A polícia manda-o abrir a mala e descobre 1 kg
de cocaína. Tendo A sido submetido a julgamento sob acusação da prática de um
crime de tráfico de estupefacientes, provou-se que a mala não era de A e que este
desconhecia o seu conteúdo. Quid juris?
Resolução 18:
Estamos perante um caso em que alguém que chega de viagem ao
aeroporto, pega numa mala, achando que é a sua e leva-a consigo, sendo que,
mais tarde, a polícia o manda parar e a mala tem droga lá dentro. Temos um
facto típico objetivo de tráfico de estupefacientes, mas o agente desconhece que
está a transportar os estupefacientes e, por isso, ele erra sobre um elemento de
facto do tipo incriminador e, por isso, exclui-se o dolo. Assim, sempre que o
agente atua desconhecendo, não representando algum elemento da factualidade
2018/2019 Rita Nina- FDUC 157
típica, o seu dolo é excluído. Ele poderá, quanto muito, responder por negligência
se o crime for punível a título negligente e se ele for descuidado.
III- Tipo Justificador
B. Tipo justificador
A fim de que, o facto seja ilícito, além de ser necessário que o agente
realize o facto típico, que o tipo incriminador esteja preenchido no plano objetivo
e subjetivo, é ainda preciso que a conduta do agente não corresponda a
qualquer circunstância suscetível de excluir a ilicitude desse facto.
A categoria do tipo incriminador no fundo tem um sinal mais, sendo que ao
invés, a categoria da ilicitude, tem um sinal de menos, de afastamento, de
exclusão de ilicitude. A categoria do tipo incriminador tem dois blocos
(objetivo e subjetivo), sendo que quando o facto preenche o tipo incriminador
está dado o elemento base da ilicitude – se A dispara sobre a cabeça de B
sabendo que a arma está carregada e com vontade de matar temos: um facto
objetivo e subjetivo de homicídio (objetivo- conduta, intenção, lesão do bem
jurídico) (subjetivo- vontade da morte da pessoa). Quando o tipo incriminador
está completo, em regra o facto será ilícito (daí dizer-se que tem um sinal mais
de afirmação de responsabilidade), mas há casos em que o agente pratica o facto
típico e está autorizado pela OJ a atuar como atuou – imagine-se que naquele
caso dado a cima, a pessoa que disparou foi um polícia para salvar a vida de um
terceiro, em que, o facto que o polícia realizou não é ilícito dado que ele atuou em
legítima defesa.
Essas circunstâncias que dão cobertura ao facto típico designam-se como
causas de exclusão de ilicitude, ou causas de justificação, ou tipos justificadores.
Se o agente que realizou o facto típico, está coberto por uma causa de
justificação, o facto é atípico, mas ele não atuou ilicitamente e não sendo o facto
ilícito, então ele não cometeu nenhum crime.
Quando em geral, alguém pratica um facto tipo ilícito, esse facto é um
típico, verificando-se a tipicidade, sendo que, essa em regra, indiciará a ilicitude
desse facto que será em regra ilícito. O juízo de ilicitude pode ser afetado pela
2018/2019 Rita Nina- FDUC 158
concreta verificação de circunstâncias que naquele caso são idóneas de excluir
aquele facto – causas de justificação/causas de exclusão de ilicitude.
As causa de justificação aparecem-nos de forma a complementar o juízo
de ilicitude e intervêm em situações conflituais, em casos em que alguém realiza
uma conduta típica, mas não o faz de forma gratuita, mas sim porque está
incluída num contexto em que se impõe a atuação. E em via de regra, essa
circunstância traduz-se numa situação de conflito entre duas ou mais pessoa,
que naquela situação têm interesses conflituantes. A OJ nessas situações afasta
a ilicitude, porque ela toma a opção entre dois interesses em confronto, sendo
que, ela dá prevalência ao interesse que se opõe ao interesse jurídico da norma
incriminadora, e, portanto, autoriza o agente a agir – prevalência do interesse
juridicamente mais preponderante (sendo este o princípio geral mais
relevante de toda a justificação, tendo sido, posto em evidência pela doutrina da
sistematização dualista).
Ex.: temos um caso em regra de confronto, uma situação em que um
polícia que se depara com alguém que acabou de cometer um assalto, em
que, se for possível o policia tem o dever de proceder à detenção da
pessoa, mas ao fazer isso ele está a fazer um sequestro, só que, ao fazer
isto ele tem a OJ ao seu lado, porque no CP está consagrado que nestas
situações ele tem um dever de atuar, de agir, assim ele está a dar
cumprimento àquilo que a OJ diz. Nessa situação de conflito, o agente tem
a expectativa de que se respeite a sua liberdade e o interesse do estado
(penal), como tal, a OJ dá prevalência ao interesse penal. O legislador, faz
uma ponderação de qual o interesse prevalente e autoriza o agente a
atuar praticando um facto típico.
Ao contrário dos tipos incriminadores, que em via de regra protegem um
específico e determinado bem jurídico, os tipos justificadores, têm uma proteção
mais ampla, podem proteger os mais variados interesses – legitima defesa, pode
proteger-se uma vida, propriedade, liberdade de movimentos, honra, etc. Os
tipos justificadores, pela sua natureza, caracterizam-se como, gerais e
abstratos, no sentido de que, eles em princípio, não se referem a um bem
jurídico determinado, antes valendo para uma generalidade de situações
independentes da concreta conformação do tipo incriminador em análise.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 159
Há outro contraponto relevante entre os tipos incriminadores e os
justificadores relevante para perceber uma discussão que se trava nesta matéria.
A norma incriminadora, a norma que dá corpo a um certo crime, engloba em
termos puramente normativos, ou uma norma de proibição ou uma de imposição
e quando o legislador tipifica um crime, ele proíbe um agente de fazer alguma
coisa ou impõe o agente a fazer alguma coisa – ex: crime de homicídio contém
uma norma de proibição; crime de omissão de auxilio impõe o dever de agir
(norma de imposição). Estas normas têm como substrato um desvalor de ação e
de resultado:
Desvalor de ação- conceção de facto como obra pessoal daquele
indivíduo (algo que resulta da sua pessoa), o agente põe-se contra a
norma, ele quebra a norma imperativa e ao agir contra ela está perante
um desvalor de ação;
Desvalor de resultado- quando alguém pratica um facto típico, acaba
por violar um bem jurídico ou ameaçar o bem jurídico. Esta ofensa ao bem
jurídico representa um desvalor do resultado, pois pelo, facto típico
resultado tem que se poder afirmar que o agente violou um bem jurídico.
Já o tipo justificador assenta numa norma de permissão, que é próprio
do tipo justificador, da sua natureza de permissão, em que o agente é autorizado
a agir. A lei ao permitir ao agente atuar desta maneira, é neutralizado quer o
desvalor de ação quer o desvalor de resultado. Por exemplo, no caso do polícia,
ele está a afetar um bem jurídico, porém à partida é neutralizado quer o desvalor
de ação e de resultado pois ele tem a permissão para agir (ele está a fazer
aquilo que a OJ espera que ele faça). Aquilo que ele faz é visto como algo positivo
pela OJ.
As causas de justificação têm esta faceta de neutralizar quer o desvalor de
ação, quer o de resultado - tal vai ser muito importante para a compreensão quer
dos elementos subjetivos das causas de justificação, quer para o erro sobre as
causas de justificação (pressupostos).
2018/2019 Rita Nina- FDUC 160
1.1- Questões de ordem geral das causas de justificação
1. Técnica legislativa
Vamos ver algumas questões de ordem geral das causas de justificação,
sendo a primeira a técnica legislativa usada para prever uma causa de
justificação. A técnica, passa pelo o legislador descrever uma certa situação
(situação justificante) e diz que verificadas essas situações, é excluída a ilicitude.
Veja-se o artg.36º (conflito de deveres) CP.
2. Fonte
Qual é a fonte das causas de justificação? É a totalidade do sistema jurídico.
Presente no artg.31º CP. É o sistema jurídico na sua totalidade que comanda as
causas de exclusão nos mais variados domínios, em que encontramos normas
que impõem ou autorizam a prática de factos típicos, sendo que nesses casos
dizemos que estamos perante causas de justificação.
Nas causas mais emblemáticas, é o próprio legislador que aponta a própria
natureza de justificação, em que ele diz expressamente que “não é ilícito”. Temos
aí várias circunstâncias:
Umas que excluem a ilicitude- causas de exclusão de ilicitude. Quando o
legislador diz que não é ilícito, ele está a querer consagrar uma causa de
exclusão de ilicitude.
Outras que excluem a culpa- causas de exclusão da culpa. No âmbito das
quais se pressupõe da prática de um facto ilícito típico, e o legislador
determina que quem atuar nesse âmbito, apesar de atuar ilicitamente ele
atua sem culpa.
Neste capítulo do CP o legislador é claro, mas há circunstâncias em que se
prevê uma exclusão da responsabilidade penal e em que, não é assim tão linear,
qual a natureza jurídica dessas situações. Por exemplo, se formos à interrupção
voluntária da gravidez (132º), pensa-se num conjunto de situações em que a OJ,
estabelece que não é punível a interrupção da gravidez. A lei não usou nem a
forma da exclusão da ilicitude nem a da exclusão da culpa, por isso discute-se na
doutrina qual é a natureza desta. Verificadas estas situações é legítimo matar o
nascituro.
Assim, temos causas de justificação na parte especial do CP e causas de
justificação espalhadas pela OJ. Temos atos que podem ter lugar no processo, em
2018/2019 Rita Nina- FDUC 161
que podem também ser vistos do prisma penal- ex.: escuta telefónica, quando o
CP autoriza uma escuta, ele está a autorizar que se realize um facto típico; prisão
preventiva a uma pessoa, o juiz está a praticar um ato de sequestro, mas pelo o
artg.202º autorize-se que tal se faça. Há muitas normas espalhadas pela OJ em
que se autoriza que se pratique factos ilícitos e, às vezes, a questão nem sequer é
pensada no plano penal, por exemplo, quando o juiz ordena a prisão preventiva
de um sujeito, é lógico que este facto não é criminoso.
Fala-se aqui do princípio da unidade da OJ, em que neste domínio das
causas de justificação vale este princípio. As causas de justificação não têm de
possuir caráter especificamente penal, aliás, elas podem provir da totalidade da
OJ e constarem, por conseguinte, de qualquer ramo de direito. Invoca-se este
princípio, a favor da ideia de que uma ação lícita face a um qualquer
ordenamento jurídico não pode constituir um ilícito jurídico-penal. Este
princípio deve ser entendido num sentido de que sempre que uma conduta é,
através de uma disposição de direito, imposta ou considerada como autorizada
ou permitida, está excluída sem mais a possibilidade de, ao mesmo tempo e com
base num preceito penal, ser tida como antijurídica e punível”.
Ex.: nomeadamente em sentido de hierarquia, vimos que o 31º/2 CP-
esclarece que nomeadamente não é ilícito o facto praticado, num exercício
do direito ou em cumprimento de um dever. Isto tem a ver com uma ideia
de congruência da OJ, seria ilógico que a OJ por um lado dissesse ao
cidadão que ele pudesse fazer isso, mas ao mesmo tempo que fosse ilícito.
Assim, ao autorizar o agente a agir, quando se impõe o dever de agir, essa
conduta nunca pode ser totalmente qualificada como ilícita. Aquilo que é
lícito para qualquer ramo de direito, não pode ser ilícito para penal.
Também temos de ver a natureza subsidiária da ratio do direito penal,
pois tendo em conta esta, não faria sentido que ele desse um desvalor a um facto
que é autorizado à OJ. Um caso particular é o das ordens para a prática de atos
ilegais, em que o artg.36º/2, nos diz que o dever de obediência hierárquica cessa
quando a ordem é um facto criminoso, mas há outros ramos do OJ em que se
prevê um dever de obediência a ordens ilegais, e a questão que se põe aí é, o
funcionário que obedece a uma ordem ilegal quando a OJ diz que ele tem de
obedecer disciplinarmente configura crime? Não, pois tal seria incongruente- ex.:
2018/2019 Rita Nina- FDUC 162
motorista recebe uma ordem para exceder um limite de velocidade sendo que
ele não está a pôr em risco a vida de ninguém, e como tal ele teria que obedecer,
não fazia sentido que ele fosse responsabilizado por isso, que ele fosse punido
por isso.
O facto de as causas de justificação terem de ser fonte da globalidade do
sistema jurídico, leva a que se afirme a inexistência de um numerus clausus
das causas de justificação. Há um número indeterminado de causas de
justificação e para elas não há o princípio da legalidade criminal. Vimos que este
princípio era basilar do direito penal, tinha a função de proteger o cidadão contra
o Estado. Contudo, no âmbito das causas de justificação, está em causa, o
afastamento da responsabilidade penal do agente que praticou um facto típico e,
por isso, a razão de ser deste princípio não faz aqui sentido, daí que, os vários
corolários ou subprincípios do princípio da legalidade não valem em sede de
causas de justificação. Ex.: por vezes a doutrina e a jurisprudência, chegam à
conclusão que num certo contexto seria injusto, a qualificação de uma certa
conduta como ilícita e em casos muito contados aceitam a justificação dessa
conduta apesar de existir uma norma legal que a preveja – direito de necessidade
de princípio, que é uma situação que contem a previsão da causa, entre o da
legítima defesa e o direito de necessidade e que a doutrina maioritária assume
como causa de justificação.
Uma vez que determinam a exclusão da ilicitude, a previsão de uma nova
causa de justificação valerá não só para o futuro, mas também para
comportamentos passados. As causas justificadoras, podem e devem ser
aplicadas a casos passados, não há qualquer proibição legal dessa aplicação,
porque preveem um regime mais favorável – princípio da retroatividade.
Ao contrário do que decorre dos princípios da legalidade, não há a
proibição do recurso da analogia para excluir a ilicitude de facto. Logo pode-se
aplicar analogicamente o regime de uma certa causa para a justificação a outras
situações análogas, de modo a excluir da ilicitude.
Como temos visto, o efeito imediato de uma causa de exclusão de ilicitude,
é a exclusão da ilicitude num caso. A causa de exclusão só entra em cena
quando nos deparamos com um facto típico. Ex.: há situações em que se
discute se uma certa conduta realiza ou não um tipo incriminador, se chegar-se à
2018/2019 Rita Nina- FDUC 163
conclusão que o facto nem sequer é típico então não temos um problema de
exclusão, por exemplo, é feita uma avaliação da conduta de um professor
incompetente, mas esse facto não é típico; agora se disser que o professor
maltrata os alunos, possivelmente pode ser um facto típico já que afeta as
pessoas, mas não será ilícito, por exemplo se tiver motivos para o fazer. Por
vezes, a questão sobre a ilicitude típica do geral resolve-se no plano da
tipicidade, e assim é excluída a tipicidade por falta de ilicitude. Este problema só
é discutido depois de se afirmar que o facto é típico, quando concluímos que o
facto é típico, depois de se analisar todo o tipo incriminador.
Se chegarmos à conclusão que estão reunidos os pressupostos de
justificação, o comportamento embora típico, é justificado. Esse é um efeito
imediato (exclusão de ilicitude), mas dessa exclusão da ilicitude, imediatamente
daí resultam várias consequências importantes e que permitem distinguir as
causas de justificação a outras circunstâncias que excluem a responsabilidade
penal, como por exemplo, as causas de exclusão da culpa. Pelo o facto de a
responsabilidade ser excluída em sede de ilicitude, por força da causa de
exclusão, traz um conjunto de consequências que não são as mesmas em causas
de exclusão de exclusão da culpa, sendo esta diferença de natureza muito
relevante na prática.
Por exemplo, na interrupção involuntária da gravidez discute-se a natureza
jurídica, há quem diga que se trata de uma causa de exclusão de ilicitude, o que
significa que todos aqueles que comparticipam no aborto, não terão de cumprir
pena. Desde logo, quando o agente do facto típico está deparado com uma causa
de justificação ele pode agir, e daí é, que, decorre que aquele afetado pela
conduta típica tem um dever de suportar, e o dever de não interferência de todos
os outros – ex.: o policia que precede à detenção do ladrão, tem o dever de agir e
o ladrão não pode opor-se ou resistir à detenção (dever de suportar) e as
pessoas que estão à volta não podem impedir o policia de o deter. Assim o direito
de agir, de intervir e àquele que é lesado, impõe o dever de suportar e impõe às
mais pessoas o dever de se abster e de não intervir.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 164
1.2- Diferenças entre as causas de exclusão de ilicitude e de exclusão
de culpa
Há uma diferença substancial entre uma causa de justificação e as causas
de exclusão de culpa – pois quem atua sobre uma causa de justificação vê
excluída a ilicitude do seu facto típico, e por isso não pode receber uma ação da
legitima defesa - aquele que é agredido, por exemplo, um ladrão, não pode agir
com legítima defesa. Já nas causas de exclusão de culpa, a pessoa pode receber
uma legítima defesa, pense-se num caso de um miúdo de 13 anos, o arguido pode
usar a legítima defesa, pois embora o miúdo não atue com culpa, ele atua
ilicitamente. Quando o afastamento da responsabilidade ocorre no plano da
culpa, aquele que atua pode sofrer uma resposta de legitima defesa pois atuou
ilicitamente. Daí a importância, da natureza jurídica que se atribua à interrupção
da gravidez:
Causa de exclusão da culpa- a polícia já pode impedir que se faça o aborto;
Não temos aqui o dever de agir.
Causa de exclusão da ilicitude- como impõe o dever de suportar, a polícia
não pode impedir o aborto.
Uma outra diferença muito importante entre as causas de exclusão da
ilicitude e as causas de exclusão da culpa está na comunicabilidade da
circunstância. Por vezes, o facto típico é praticado por várias pessoas
(comparticipação), quando se verifica uma causa de justificação, a exclusão de
ilicitude quando é elevada comunica-se aos outros participantes (efeito de
expansão das causas de justificação). Por exemplo, se o juiz mandar uma ordem
de busca a uma causa (157º), essa circunstância justificante, comunica-se aos
agentes que vão participar na busca. Já no âmbito das causas de exclusão da
culpa é diferente, pois a culpa é um juízo individual, cada agente será merecedor
de um juízo de culpa próprio, portanto a culpa não é comunicável. Se o agente
age sem culpa, essa sua desculpabilização não se comunica aos demais, por
exemplo: um rapaz de 15 anos que pratica um assalto em conjunto com um de 19
anos, a desculpabilidade em face da menoridade não se comunica ao maior.
Há uma outra diferença relevante entre estas duas. Se, o agente está
abrangido por uma causa de justificação, tendo a pessoa anomalia psíquica, não
lhe pode ser aplicada qualquer medida de segurança, pois uma sanção criminal
2018/2019 Rita Nina- FDUC 165
pressupõe pelo menos a prática de ilícito típico, só se pode aplicar sanção a
agentes que atuem ilicitamente. Já se a exclusão da responsabilidade, assenta na
exclusão da culpa, poderá ser aplicada uma medida de segurança, pela prática de
um facto ilícito típico. A medida de segurança tem como pressuposto a prática de
um facto ilícito típico, o que significa que, aquele que atuou ilicitamente se atuou
ao abrigo de uma causa de exclusão da culpa, essa eventual circunstância não é
suscetível de afastar a sanção de internamento (medida de segurança).
1.3- Problemas específicos das causas de justificação (elementos
subjetivos)
Para que uma causa de justificação produza o seu efeito normal, é
necessário verificar que a pessoa esteja uma situação de legítima defesa. O
funcionamento desta causa pressupõe desde mais que estejam, na realidade,
verificados pressupostos materiais e objetivos dessa causa de justificação – uma
situação justificante.
A questão que se coloca é de saber se além da situação objetiva justificante,
para que a exclusão de ilicitude se opere, se é necessário algo mais do que a
verificação objetiva. Nomeadamente, é necessário algum animo com intenção
específicos (elementos subjetivos) e se é necessário que o agente saiba que está a
atuar sobre uma causa de justificação. Isto coloca-se a propósito da necessidade
ou da desnecessidade da representação justificante – ex.: uma pessoa disparou
sobre outra, e depois veio a saber-se que a pessoa disparou sem saber que a
outra também ia disparar, coloca-se o problema da legítima defesa. São situações
em que a situação justificante está verificada, mas o agente não sabe que está
justificada, será que a simples situação objetiva é suficiente para excluir a
ilicitude? Não.
A resposta a este problema levou a que se entenda que não há lugar à
exclusão de ilicitude neste caso. De acordo com a doutrina, o entendimento
prevalecente vai daquele que resulta da lei penal, em que não há exclusão de
ilicitude quando embora verificados a situação justificante, o agente não sabe
que está amparado por esta causa. Durante muito tempo, entendeu-se que
bastava a verificação da situação objetiva (conceção normativista), em que era
uma conceção objetiva da ilicitude. Estando verificada, pouco importava se o
2018/2019 Rita Nina- FDUC 166
agente a conhecia ou não. De acordo com a teoria objetivista a verificação da
situação objetiva era suficiente para excluir a culpa.
Esta conceção foi posta em causa, porque desconsiderava o desvalor de
ação. Nós vimos que o juízo de ilicitude tem uma dupla dimensão de desvalor de
ação e de resultado. Quando o agente pratica um facto típico, há desvalor de ação
(conduta desaprovada pela OJ), sem que o agente saiba que está amparado por
uma causa de justificação, o desvalor da ação dele é o mesmo daquele, que, não
está amparado pela causa (ex.: a senhora que abortou nas 15 semanas, sendo que
o nascituro iria morrer à mesma, teve o mesmo desvalor de ação, de uma mulher
que abortou nas 15 semanas). Nestas situações não se pode excluir a ilicitude,
porque subsiste o desvalor de ação, nessa medida, entende-se que, o
conhecimento da verificação da situação objetiva é um requisito para a exclusão
de ilicitude. Só dessa maneira é que será neutralizado o desvalor da ação.
A situação é diferente daquela em que, não há qualquer causa justificante,
dado que estamos perante casos, em que, falta o desvalor do resultado, tal
como nas situações de mera tentativa. Dado isto, a doutrina dominante
(subjetivista mitigada), defende que nestas situações dada a similitude com
configuração do facto que é dado, embora o agente deva ser punido, porque atuou
à mesma com ilicitude, justifica-se uma punição menos grave. Defende-se que
nestas situações de desconhecimento da situação, há ilicitude à mesma, mas por
outro lado, entende-se que o agente não deve ser punido tão gravemente como o
agente que atua sem qualquer amparo de causa justificante. Esta solução está
consagrada entre nós, no artg.38º/4, que prevê que em caso do âmbito do
consentimento (causa justificativa), “se o conhecimento não for conhecido do
agente, este é punível com a pena aplicável à tentativa”. A doutrina maioritária
defende que esta norma deve ser aplicada analogicamente em todos os casos
de justificação sem conhecimento, o que significa que o facto é ilícito, mas a pena
aplicada é atenuada. Trata-se de uma aplicação analógica e não direta, já que, nos
casos aqui considerados, ao contrário de casos de verdadeiras tentativas, o tipo
de ilícito foi integralmente realizado.
Discute-se ainda, se, o artg.38º/4 remete para a aplicação do regime da
tentativa ou somente para a pena dela. A posição de Figueiredo Dias, vai no
sentido de que se deve aplicar os traços essenciais do regime. Isto porque, é
2018/2019 Rita Nina- FDUC 167
verdade que o traço mais relevante do regime da tentativa é a de a pena ser
especialmente atenuada, porém, não se afigura muito correto afirmar-se que em
“caso de faltar elementos subjetivos de uma causa de justificação o facto será
sempre punido, embora com pena especialmente atenuada”. Pois, a tentativa
apenas é punível, nos termos do 23º/1 – “se o crime consumado respetivo,
corresponder a pena superior a 3 anos de prisão”. Assim, nem se poderia invocar
qualquer lacuna intolerável de punibilidade: se o legislador entendeu não punir a
tentativa de certo crime, não se vê porque sejam maiores o desvalor da ação e o
dolo em casos de comportamentos objetivamente justificados do que o são em
caso de, por qualquer razão exterior, o resultado ter acabado por não se verificar.
Atenção, cumpre dizer, que o regime se aplica a todas as causa
justificativas, com exceção de a justificação ser constituída, somente pela
prossecução de um fim determinado. Nestes casos a ilicitude constitui-se logo
que a conduta seja levada a cabo sem que esteja motivada pela prossecução do
fim em causa. Ex.: polícia que detém um mero suspeito com outra intenção de se
vingar dessa pessoa– 158º CP e artg.29º/3 g) CRP.
Há outro problema que se segue, nas causas de justificação, chamado erro
sobre os pressupostos das causas de justificação. No caso do erro, temos o
problema da justificação putativa, em que o erro diz respeito a situações em que
o agente pensa que atue num quadro justificante, mas na realidade não está. Ex.:
foi discutido na África do Sul, atleta que matou a mulher porque achava que era
um ladrão que estava a entrar na casa. Se essa história procedesse, era um caso
de justificação putativa, pois na realidade o facto não estava justificado (matar a
mulher). Esta matéria está regulada no artg.16º/2 CP. (lecionado mais à frente).
1.4- Causas de justificação em particular (específicas)
Causas previstas entre o artg.31º e 39º. O artg.31º já vimos que, contém
uma cláusula geral de justificação que é concretizada por várias normas, e na
parte final do CP, está prevista:
A. Legitima defesa- artg.32º
B. Direito da necessidade- artg.34º
C. Conflito de deveres- artg.36º/1
2018/2019 Rita Nina- FDUC 168
D. A audiência justificante- artg.31º/2 c) parte final
E. Consentimento- artg.38º
F. Consentimento consumido- artg.39º
A. Legítima defesa
A legítima defesa surge historicamente como o tipo justificador mais
sedimentado, mais consensual e até há não muito tempo praticamente
inquestionado nos traços fundamentais do seu regime. Está prevista no 31º/2 a),
e está caracterizada no artg.32º, sendo aí definidos os pressupostos
fundamentais.
A primeira ideia importante a reter é o que é que justifica a legítima defesa
– é uma justificação que está entranhada na consciência das pessoas, desde
sempre que se excluiu a responsabilidade de quem atuava em legitima defesa. É
a causa de justificação clássica.
Todavia, nas últimas décadas, tem se havido uma grande discussão, a
propósito dos limites da legítima defesa (ex.: será legitimo matar alguém que
entra em sua casa?). Tradicionalmente a legitima defesa era fundamentada com
base na ideia de quem haja em legítima defesa atua no lado certo, do lado do
direito – o direito não deve ceder perante o ilícito. Assim a legítima defesa
corresponderia a uma prevenção geral importante, pois essa reação possível por
via da legítima defesa, é um fator de dissuasão da pessoa que vai cometer um
crime. Essa ideia de na legítima defesa se defender a OJ, justificava e de certo
modo ainda se justifica uma ideia de fundo essencial na legítima defesa, que é a
da inexistência de limites fundados na proporcionalidade dos bens. O
problema que se coloca é de saber se em legitima defesa, se pode sacrificar um
bem mais valioso do que aquele que se está a defender? De acordo com o nosso
OJ, a resposta é sim, porque aquele que se está a defender tem a OJ do seu lado,
enquanto que aquele que está atacar não tem o direito do seu lado – ex.: pode
matar-se um ladrão para evitar que ele fuja com milhares de euros e a vida do
ladrão é mais valiosa do que o montante; uma mulher que está a ser violada pode
matar o homem para tentar fugir, pois está a atuar em legítima defesa. Em regra,
em legítima defesa podem sacrificar-se bens mais valiosos do que aqueles que se
defendem, por ter a razão da OJ do seu lado.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 169
Esta visão tradicional leva a soluções chocantes. Nas últimas décadas tem-
se mitigado a legítima defesa, introduzindo-se limites ético-sociais e isso deve-
se a uma outra fundamentação da legítima defesa. Passou a ser menos vincada a
proteção da OJ e passou a ser mais valorizada a defesa pessoal, de um bem
jurídico. Essa valorização de uma autoproteção levou a que se suavizasse o
regime, de modo a ter menos riscos. Grande parte da doutrina, incluindo
Figueiredo Dias, aponta para o fundamento de uma posição mista, um
fundamento intersubjetivo- sendo a legítima defesa vista predominantemente na
defesa necessária, e desse modo, na preservação do bem jurídico agredido
(limitação da não proporcionalidade). Deste modo, considera-se esta causa
justificativa, como um instrumento socialmente imprescindível de prevenção, e
por aí, de defesa da OJ.
Podemos então afirmar dois fundamentos da força justificativa da legítima
defesa:
A necessidade de defesa da OJ- através da qual se justificará que se
sacrifiquem bens jurídicos de valor superior aos postos em causa pela
agressão (que a legítima defesa, assim não seja limitada por uma ideia de
proporcionalidade).
A necessidade de proteção dos bens jurídicos ameaçados pela
agressão
Estes dois fundamentos ligam-se e interpenetram através da ideia de que
na legítima defesa trata-se em último termo, de uma preservação do direito na
pessoa e no arguido. Mas também, não há fundamento para uma legítima defesa,
quando se verifica um interesse na preservação do direito, mas não há nenhum
bem jurídico ameaçado carecendo de proteção.
Enquanto que a legítima defesa em larga medida não está condicionada
pela proporcionalidade de bens, o direito de necessidade está (grande distinção).
Situação de legítima defesa – requisitos
Quais são os pressupostos? É necessário que se verifique uma situação
justificante, quer quanto à legitimação quer quanto à defesa- artg.32º.
Estruturalmente, o cenário da legítima defesa é entre duas pessoas, em que,
aquele que contra ataca pretende servir-se da legítima defesa para legitimar o
2018/2019 Rita Nina- FDUC 170
contra ataque. A questão está em saber, quando a resposta a um ataque atinge
algum bem jurídico que tem uma relevância típica, se ela pode qualificar-se como
não ilícita por via da legitima defesa. Para que se considere justificada em
legítima defesa, é necessário que se verifique vários pressupostos quanto à
legitimação e à defesa:
Agressão de interesses juridicamente protegidos do agente ou de
terceiro
Temos que estar perante um comportamento agressivo – ameaça
derivada de um comportamento humano a um bem juridicamente protegido.
Para que se possa dizer que estamos perante uma agressão passível de ser
objeto de legítima defesa, em primeiro lugar temos de verificar se se trata de
uma ação humana. A restrição ao comportamento humano, resulta do
fundamento da legítima defesa – só seres humanos é que podem violar o direito.
Quanto está em causa animais, o meio defensivo corresponde por exemplo à
morte ou ao dano, a causa justificativa poderá ser dada, mas não no âmbito da
legitima defesa (será talvez no âmbito do direito da necessidade defensiva).
Coisa diferente será naqueles casos em que o animal está a ser
instrumentalizado, em que aí podemos falar de ação humana, porque a conduta aí
terá algum domínio de vontade humana.
Logo não se pode agir em legítima defesa, em relação a pessoas
inconscientes ou que estejam a ser manietadas por outras pessoas – a
conduta humana terá que ser voluntária. Só atua aquele cujo comportamento for
dominado por um mínimo de vontade e, por isso, não faz qualquer sentido
considerar como agressão uma conduta não determinada por ela. Vai ser ao
abrigo de outra causa de justificação. Tem pressupostos mais apertados do que a
legítima defesa.
A conduta de ataque terá que atingir interesses jurídicos individuais,
como a vida, a honra, integridade física, autodeterminação sexual, propriedade,
crédito, etc. A justificação da legítima defesa, deve ter lugar também
relativamente a bens supra-individiduais sempre que a agressão a estes ponha
em sério perigo bens das pessoas. Ex.: aquele que impede pela força um
indivíduo completamente embriagado de se fazer à estrada com o seu
2018/2019 Rita Nina- FDUC 171
automóvel. Nestes casos pode-se afirmar que o defendente, como membro da
comunidade, é ele próprio “agredido”, para por esta via fundar a legítima defesa.
A agressão pode tomar várias formas, sendo que até pode ser uma
agressão por omissão, por exemplo, um pai que não alimenta o filho, dado que
está a pôr em causa a integridade física ou a própria vida do filho. Nestes casos
pode agir-se sobre o pai. Relativamente às omissões impróprias, não se põe
grande problema (caso do pai que se recusa a alimentar o filho), mas já
relativamente às omissões próprias, há quem não entenda que a legítima defesa
deve abranger essa. Este não é o nosso entendimento, dado que, nestes casos,
deparamo-nos com um omitir do qual resulta um perigo para bens jurídicos, e
relativamente ao qual, deve ser afirmada a possibilidade de legítima defesa.
Pode-se também responder em legitima defesa contra uma agressão
dolosa ou negligente – não se afigura qualquer limitação para os atos
negligentes no 32º, e além disso tal restrição introduziria uma grande margem
de incerteza e insegurança, dado que o agredido em várias situações, poderia ter
dificuldade em distinguir.
Atualidade da agressão
Apenas é admissível a legítima defesa contra agressões atuais. A agressão
apenas será atual quando é iminente, já se iniciou ou ainda persiste.
A agressão considera-se iminente, quando o bem jurídico encontra-se
imediatamente ameaçado. Parta da doutrina considera que se deveria ter em
atenção simplesmente o regime de tentativa, não sendo essa, contudo, a nossa
opinião, dado que restringiria demasiado casos em que a agressão não se teria
iniciado, mas que a sua agressão seria iminente – ex.: B dispara sobre A depois de
ver que A estava a tirar o revólver com o qual pretendia atirar sobre B, neste
caso, não poderíamos negar o direito de B de defender uma agressão que
embora, ainda não se tenha iniciado, se iria seguir imediatamente.
E relativamente àquelas situações em que já se sabe antecipadamente, com
certeza ou com um elevado grau de segurança que a agressão vai ter lugar? Tem
sido uma hipótese bastante discutida na doutrina, sendo há autores, que
admitem a justificação da legítima defesa pela teoria da defesa mais eficaz –
ex.: um dono de um estaleiro ouve 3 hóspedes a falaram do assalto à estalagem
2018/2019 Rita Nina- FDUC 172
que vão realizar logo à noite, e ele ouvindo isto, pretende reagir, drogando-lhes
as bebidas. Segundo a teoria, tal seria abrangido pela legítima defesa, dado que o
adiamento da reação para o momento em que ela fosse iminente tornaria a
reação do estaleiro impossível, ou então, porque os meios para reagir iriam ser
mais graves legítima defesa preventiva). Nós não concordamos com esta teoria,
porque dogmaticamente alargaria demasiado o conceito de atualidade; e em
segundo lugar, acabaria por legitimar formas de defesa privadas em substituição
da atuação das autoridades competentes. A legítima defesa, nestas situações,
deve assim, ser negada.
A defesa pode ter lugar até ao último momento em que a agressão ainda
persiste. Também aqui nem sempre se pode fazer coincidir esse momento com o
da consumação, uma vez que são numerosos os crimes em que a agressão e o
estado de antijuridicidade perduram para além da sua consumação típica – ex.: o
crime de sequestro (artg.158º) se consuma logo que A encerra B num local
contra a sua vontade, podendo B reagir em legítima defesa contra a privação da
sua liberdade enquanto o cativeiro durar.
Relevante para este efeito é o momento até ao qual, a defesa é suscetível
de pôr fim à agressão, pois só aí é que fica afastado o perigo de que ela possa
vir a revelar-se desnecessária para repelir aquela. Até esse último momento a
agressão deve ser considerada como atual.
A ilicitude da agressão
É este requisito que, permite melhor distinguir a legítima defesa das outras
causas de exclusão. A ilicitude da agressão afere-se à luz da totalidade da
ordem jurídica, não tendo de ser especificamente penal. Ex.: C põe termo
pela força às emissões de um ruido de um bar, que o impediam de descansar
durante a noite, que estava a funcionar para além do horário permitido e sem
condições de insonorização permitidas – violação de direitos de personalidade e
de normas administrativas.
Todavia, importa fazer uma restrição a esta unicidade entre a ilicitude geral
e a ilicitude da agressão para efeito de legítima defesa: a agressão não será ilícita
para este efeito relativamente a interesses para cuja “agressão” a lei prevê
2018/2019 Rita Nina- FDUC 173
procedimentos especiais, como no caso dos direitos de crédito e de natureza
familiar.
Não são deste modo ilícitas as agressões justificadas, não podendo contra
elas ser exercida legítima defesa. A quem atua ao abrigo de uma causa de
justificação é concedido um verdadeiro direito de intervenção na esfera de
terceiros, que faz impender sobre estes um dever de suportar aquela conduta e
impossibilita uma reação em legítima defesa (ex.: o ladrão não poderia reagir em
legítima defesa). Nestes casos, está claramente ausente a fundamentação da
legítima defesa na exigência da prevalência do lícito perante o ilícito.
Relativamente a condutas perigosas levadas a cabo com a diligência e o
cuidado devidos, mas de onde, resulta, todavia, uma lesão ou um risco iminente
de lesão de bens jurídicos – já vimos, segundo a teoria da conexão do risco, a
produção de um eventual resultado não pode ser imputada objetivamente ao seu
autor por não ter sido ultrapassado o limite do risco juridicamente permitido, e
como tal, as razões que utilizamos nesse ponto para negar a imputação objetiva,
também deverão ser aqui utilizadas, para negar a possibilidade de legítima
defesa.
A situação de legítima defesa pressupõe a ilicitude da agressão, mas não, a
culpa do agressor. Podem assim atuar em legítima defesa agentes, sendo que, o
agressor atuou sem culpa devido a uma causa de exclusão de culpa, ou de
inimputabilidade ou um erro sobre a ilicitude não censurável. Exigir a culpa do
agressor, constituiria uma restrição incompatível com a letra do 32º, que radica
numa interpretação contra legem.
A ação de defesa – requisitos
A ação de defesa, segundo o artg.32º, é caracterizada exclusivamente
através da necessidade do meio nela utilizado. Os fundamentos da justificação
têm a ver com a necessidade do meio empregado, mas também com a
necessidade da defesa como tal na situação – não há defesa legítima se ela for
desnecessária. Assim, é uma questão essencial a de saber, assenta a necessidade
da defesa como tal e existindo vários meios possíveis de defesa, de qual ou de
quais, é lícito lançar mão.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 174
1. A necessidade do meio
A justificação por legítima defesa pressupõe que na ação de defesa sejam
usados os meios necessários para repelir a agressão atual e ilícita. É por isso
importante determinar, os critérios pelos quais se deverá avaliar se numa
concreta situação os meios usados pelo defendente foram os necessários para
responder à agressão. O meio será necessário se for um meio idóneo para deter a
agressão e, caso sejam vários os meios adequados de resposta, ele for o menos
gravoso para o agressor.
O juízo de necessidade reporta-se ao momento da agressão, tem natureza
ex ante, e nele deve ser avaliada objetivamente toda a dinâmica do
acontecimento, merecendo especial atenção: as características do agressor
(porte físico, idade, perigosidade), os instrumentos que ele dispunha, a
intensidade e a surpresa do ataque, em contraposição com as características
pessoais do defendente e os instrumentos de defesa que ele poderia lançar mão.
Importa mencionar, que o recurso às autoridades policiais, configura-se
como o meio de resposta menos gravoso para o agressor, pelo que, sendo
possível recorrer em tempo útil às forças policiais, deve considerar-se esse como
o meio necessário à defesa.
Salvo em determinadas situações, não se pode exigir como meios
necessários:
Possibilidade de fuga- desta forma se precludiria à função de prevenção
geral a que a legítima defesa está adstrita, acabando a OJ por permitir que
se prevalecesse facticamente a “lei do mais forte” em detrimento do
agredido.
Quando o agressor esteja munido de uma arma de fogo, não se exige que o
agredido tenha de em primeiro lugar apenas ameaçá-lo e caso dispare que
apenas atinga zona não vitais.
Que o agredido se envolva numa luta corporal de resultado incerto para
afastar uma agressão física. Não se pode considerar como meio idóneo
aquele que não seja suficientemente seguro.
Também o agredido não estará obrigado a afastar a agressão física por
um meio mais leve, antes de fazer uso de um meio mais prejudicial, se
esse meio de defesa for incerto.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 175
Neste contexto, deve-se afirmar que meios de autoproteção (cães
perigosos, aparelhos eletrónicos, venenos, objetos perfurantes, etc.) podem ser
tidos como meios de defesa. Contudo, o risco de estes serem desnecessários
correm à conta de quem deles se serve. O meio há-de ser considerado
desnecessário sempre que se pudesse ter usado outro meio não agressivo com
êxito (alarmes, sirenes, etc.).
O uso de um meio não necessário à defesa representa um excesso de
meios ou um excesso intensivo de legítima defesa que, nos termos do 33º,
determina a afirmação da ilicitude do facto praticado (não justificação da
legítima defesa).
É de mencionar que a determinação dos meios necessários, acaba por na
prática, por vezes, gerar grandes dificuldades, especialmente porque se tratam
de situações de conflito que desencadeia sentimentos de intranquilidade e de
insegurança, que podem afetar o discernimento das pessoas. Consequentemente,
pode dar azo a que se use meios desnecessários, e embora tal não impede a
afirmação da ilicitude, pode, todavia, determinar uma diminuição de culpa e,
deste modo, permitir uma atenuação de pena.
2. A necessidade da defesa
Para que a defesa seja legítima, não é apenas necessário a necessidade do
meio, mas também, impõe-se que, ela própria, se revele normativamente
imposta, para que, possa ser vista como exigência de reafirmação do Direito face
ao ilícito na pessoa do agredido. A nossa conceção liga diretamente o requisito
da necessidade ao próprio fundamento da legítima defesa, sendo que, esta deve
ser feita em função de princípios diretamente retirados do fundamento de
justificação – eles conduzem à eleição de quatro grupos diferentes.
Agressões que não importa uma desatenção unívoca dos direitos do
agredido
Existem casos em que, sendo a agressão atual e ilícita, esta ocorre dentro
de um condicionalismo tal que faz com que ela não se apresente como uma
ofensa socialmente intolerável dos direitos do agredido. Daí que não deve
ser concedido um direito de legítima defesa “plena”, pois esta pode não surgir
como socialmente indispensável à afirmação do direito face ao ilícito na pessoa do
2018/2019 Rita Nina- FDUC 176
agredido, ou só o surgir, se for respeitada uma certa proporcionalidade dos bens
conflituantes. Neste conjunto de casos devemos considerar dois em especial –
agressões não culposas e agressões provocadas.
Relativamente às agressões não culposas, estas tratam-se de, agressões
ilícitas e atuais mas em que o agressor age sem culpa; seja porque se trata de um
inimputável (menor de 16 anos), seja porque o agressor atua com falta de
consciência do ilícito não censurável ou a coberto de uma situação de
inexigibilidade legalmente prevista ou situação análoga. Compreende-se que,
nestes casos quanto mais responsável for o agressor pela sua atuação, tanto mais
restritos serão os limites da necessidade de defesa. Assim, a defesa não será
necessária se o agredido se conseguir esquivar; se tal não for possível, a defesa
será necessária, mas deve manter-se dentro dos limites de compreensão objetiva
imposta perante atuações não culposas: ex.: já não será defesa necessária, a
defesa a tiro (mesmo que seja o único meio disponível) para evitar sucessivos
empurrões e insultos de um doente mental.
O que se disse para estes casos, vale mutatis mutandis, para os casos em
que o agressor atua com a culpa sensivelmente diminuída – ex.: em virtude de
embriaguez.
Pode acontecer que a agressão seja precedida de atitudes de provocação do
agredido sobre o agressor: é o agredido que dá azo à situação de confronto –
agressões provocadas -, através de injúrias, da prática de atos que afetam a
esfera jurídica do agressor, ou mesmo de atos lícitos, mas socialmente
reprováveis. Por exemplo, A insulta B e este responde-lhe a murro, será que se
deve conceder a necessidade de defesa para estes? A necessidade de defesa deve
ser negada se estiver em causa uma agressão pré-ordenamente provocada – ex.:
A pretendendo ajustar constas com B e sabendo que ele é bastante sensível a
determinados insultos, profere essas injúrias para provocar uma reação em B, e
para, ao abrigo da legítima defesa esfaqueá-lo. A defesa nesses casos não se
verifica como necessária, dado que, não se verifica neles qualquer necessidade
de afirmação da OJ na pessoa do agredido.
Nos casos mais frequentes, tem-se admitido hoje a necessidade de defesa,
embora com fortes limitações: na provocação, se trate de um facto ilícito
ofensivo de um bem jurídico do provocado- não basta uma mera ofensa moral
2018/2019 Rita Nina- FDUC 177
ou socialmente reprovável; tem que se exigir da provocação uma estreita
conexão temporal e uma adequada proporção com a agressão que provoca.
Crassa desproporção do significado da agressão e da defesa
Num outro grupo de casos a limitação da necessidade da defesa ocorre em
função da verificação de uma crassa desproporção do peso da agressão para o
agredido e da defesa para o agressor. Ex.: A, que na falta de outro meio, dispara
sobre B que quer furtar-lhe a carteira que contém 5€. Nestes casos não se pode
conferir a A um direito de intervenção com o relevo jurídico que este possui.
Há uma discussão na doutrina, sobre como tratar estes casos, mas a
perspetiva que pode conduzir à exclusão da necessidade da defesa, e que nos
parece mais próxima do seu fundamento justificante é a que se liga à ideia,
segundo a qual, a legítima defesa que se revele notoriamente excessiva face aos
bens agredidos e que, nessa medida, representa um abuso de direito de legítima
defesa. Trata-se de uma comparação objetiva do significado jurídico-social da
defesa com o peso da agressão para o agredido. A necessidade da defesa deve ser
negada sempre que se verifique uma insuportável relação de desproporção entre
ela e a agressão: uma defesa excessiva e abusiva nunca poderia constituir
simultaneamente uma defesa necessária.
Posições especiais
Um terceiro grupo de hipóteses que relativamente às quais, pode ser
questionada a necessidade da legítima defesa, é a de os participantes se
encontrarem numa mútua posição especial de proximidade existencial, criadora
de especiais laços de solidariedade juridicamente relevante (isto tem sido
sobretudo considerado em relação aos cônjuges e pais e filhos).
Também aqui parece razoável sustentar que a necessidade de defesa
diminui ou mesmo em certos casos, pode desparecer. Comprovada a efetiva
proximidade existencial, está justificada uma maior limitação da agressão: o
ameaçado deve sempre que possível evitar a agressão, escolher o meio menos
gravoso de defesa, ainda que esse represente o meio menos seguro, e renunciar a
uma defesa que ponha em perigo a vida ou a integridade física do agredido. De
todo o modo, esta limitação desaparecerá, se a agressão for de tal natureza e
gravidade que elimine o dever de solidariedade existente.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 178
Atos de autoridade
Um último grupo de casos, diz respeito a atuações da autoridade,
nomeadamente das forças policiais.
Entre nós a questão coloca-se especialmente a propósito do uso das armas
de fogo elos órgãos da polícia criminal (artg.1º c) CPP), objeto de
regulamentação específica pelo DL 457/99, sendo que, este diploma enuncia os
princípios que devem reger esta matéria, impondo fortes limitações ao uso de
armas de fogo, restringindo os casos em que elas são permitidas apenas se
deve admitir o seu uso contra pessoa quando tal se revele necessário para repelir
agressões que constituam um perigo iminente de morte ou de ofensa grave que
ameace vidas humanas (3º/2).
Tais preceitos prevalecem sobre a regulamentação geral da legítima defesa
(32º), revelando-se como explicitações legais do princípio da proporcionalidade
que rege toda a intervenção pública, e que encontram a sua justificação não só
numa posição especial do agente, mas também na preparação física e técnica que
ele tem, ao contrário do particular.
3. O elemento subjetivo
Desde há muito que suscita e continua a suscitar-se a questão de saber, se
será ainda de exigir, como requisito da ação de defesa, a existência no defendente
de um animus defendi, de uma atuação com vontade de defender os bens
jurídicos ameaçados pela agressão. Uma resposta afirmativa foi outrora
dominante na doutrina, porém, a doutrina dominante atualmente entende que,
existindo o conhecimento da situação de legítima defesa, não deverá fazer-
se a exigência adicional de uma co-motivação de defesa – tal faria depender a
existência de justificação da manifestação de um atitude interior que levaria a
conotar perigosamente a legítima defesa com conceções morais próximas de um
direito penal do agente.
4. Ação de defesa que recaía sobre terceiros
A defesa apenas é legítima se os seus efeitos apenas se fizerem sentir sobre
o agressor e não sobre um terceiro alheio à agressão. Isto porque, em relação
ao terceiro, não se pode falar de necessidade de afirmação do direito na pessoa
2018/2019 Rita Nina- FDUC 179
do agredido, e por isso sobre ele não impende, um dever de suportar os efeitos
danosos da ação de defesa.
Nesta linha também se resolvem as situações em que para afastar a
agressão se usam e eventualmente se danificam instrumentos que não
pertencem ao agredido – se pertencer a um terceiro, uma possível justificação
decorrerá não do direito de legítima defesa, mas do direito de necessidade (34º).
O auxílio necessário
O artg.32º estende a justificação da legítima defesa aos casos em que esta é
exercida para proteger interesses de terceiro – “auxílio necessário”. Assim, a
defesa necessária é consentida não só ao agredido, mas a qualquer pessoa. Os
requisitos de legítima defesa devem ser os mesmo quer se trate de legítima
defesa própria, quer do terceiro.
Um problema discutido neste âmbito, é o de o caso de o agredido não
querer ser defendido ou quer ser ele próprio a defender-se. A nossa opinião é de
que, perante uma agressão atual e ilícita, a defesa do terceiro levada a cabo
contra a vontade manifestada do agredido não poder reivindicar-se como
exercício da legítima defesa do artg.32º: ela não representa a defesa do direito na
pessoa do agredido.
2018/2019 Rita Nina- FDUC 180
Casos práticos não resolvidos
Caso 19- (Ac. do TRL de 14/12/1983, Coletânea de Jurisprudência, 1983, V, p.
157 e ss.) António, revisor da Carris, em Lisboa, envolveu-se em discussão com
um grupo de rapazes que o interpelaram em tom jocoso. No calor da contenda,
António disparou um tiro para o ar e depois lutou com Gomes, deixando cair a
pistola. José Heleno apanhou a pistola e devolveu-a a António. Logo de seguida, o
António fez um disparo procurando atingir e matar o Gomes. No entanto, por
erro de pontaria, com esse disparo acabou por atingir o José Heleno, que se
encontrava ao lado de Gomes. Do disparo resultou a morte do José Heleno. Quid
juris?
Caso 20- A, B e C planearam um roubo a um banco. No decurso do assalto foram
surpreendidos pelos seguranças privados e puseram-se em fuga. Durante a
perseguição, A, virando-se para trás, aponta e dispara contra uma pessoa que
corria atrás de si, que ele pensava ser um segurança. Afinal essa pessoa era o seu
colega B, que morreu. Quid juris?
2018/2019 Rita Nina- FDUC 181
Você também pode gostar
- Penal 1Documento133 páginasPenal 1Rosário QueirósAinda não há avaliações
- Direito Penal IDocumento25 páginasDireito Penal IBárbara GomesAinda não há avaliações
- Apostila de Direito Penal 1 - Teoria Do CrimeDocumento31 páginasApostila de Direito Penal 1 - Teoria Do CrimeFernanda AmaralAinda não há avaliações
- Teoria da Lei Penal (TLPDocumento15 páginasTeoria da Lei Penal (TLPBeatriz100% (1)
- Direito PenalDocumento17 páginasDireito PenalCastiço com BigodeAinda não há avaliações
- Direito Penal I-023-024 UGSDocumento167 páginasDireito Penal I-023-024 UGSPatricia CostaAinda não há avaliações
- Tema 1. Noções Fundamentais de Direito PenalDocumento21 páginasTema 1. Noções Fundamentais de Direito PenalAntónio Leão100% (1)
- Estruturas elementares do direito penalDocumento20 páginasEstruturas elementares do direito penalbruna teixeiraAinda não há avaliações
- Direito Penal 2011Documento119 páginasDireito Penal 2011Raquel FerreiraAinda não há avaliações
- Conceito e Fontes Do Direito PenalDocumento23 páginasConceito e Fontes Do Direito PenalMeunome SobrenomeAinda não há avaliações
- Apontamentos de Direito PenalDocumento96 páginasApontamentos de Direito PenalFilipa Neves Silva100% (2)
- Direito Penal IDocumento134 páginasDireito Penal IEduarda SilvaAinda não há avaliações
- Direito Penal: Fundamentos e AplicaçõesDocumento8 páginasDireito Penal: Fundamentos e AplicaçõesFernanda AmaralAinda não há avaliações
- Aula 1 03.08.2020Documento11 páginasAula 1 03.08.2020izabela ugolineAinda não há avaliações
- Teoria da Lei Penal: conceitos, características e funçõesDocumento72 páginasTeoria da Lei Penal: conceitos, características e funçõesMiaAinda não há avaliações
- Cultura Juridica Com Dário Gaspar 2023Documento9 páginasCultura Juridica Com Dário Gaspar 2023Jacinto DalaAinda não há avaliações
- Direito Penal I - Maria Fernanda Palma e Figueiredo DiasDocumento92 páginasDireito Penal I - Maria Fernanda Palma e Figueiredo Dias大象城堡100% (16)
- Teoria da Lei Penal: conceitos, características e funçõesDocumento70 páginasTeoria da Lei Penal: conceitos, características e funçõesMiaAinda não há avaliações
- Resumos Direito PenalDocumento76 páginasResumos Direito PenalEduarda SilvaAinda não há avaliações
- Direito Penal emDocumento10 páginasDireito Penal emFernando CastroAinda não há avaliações
- Aulas de Direito Penal: conceitos básicosDocumento4 páginasAulas de Direito Penal: conceitos básicosAlex ZeraAinda não há avaliações
- Definição e estrutura do Direito PenalDocumento24 páginasDefinição e estrutura do Direito PenalLindaAinda não há avaliações
- SEBENTA DP1, Maria Paixã oDocumento38 páginasSEBENTA DP1, Maria Paixã oSamuel Alfredo GomesAinda não há avaliações
- Guia Acadêmico - (Direito Penal - Parte Geral I)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Penal - Parte Geral I)Janssen KhallyoAinda não há avaliações
- Direito PenalDocumento143 páginasDireito PenalSalesso Ribeiro100% (4)
- O Direito Penal É Um Sistema de Normas Jurídicas Que Regulam o Poder de Punir Do EstadoDocumento8 páginasO Direito Penal É Um Sistema de Normas Jurídicas Que Regulam o Poder de Punir Do EstadoKarina BonfimAinda não há avaliações
- Crime organizado no Brasil e os meios de repressão e prevençãoNo EverandCrime organizado no Brasil e os meios de repressão e prevençãoAinda não há avaliações
- Direito Penal I A Doutrina Geral Do CrimeDocumento13 páginasDireito Penal I A Doutrina Geral Do Crimegradus_ptAinda não há avaliações
- DP I - Dani (Aulas Teóricas)Documento106 páginasDP I - Dani (Aulas Teóricas)Rosário QueirósAinda não há avaliações
- Sebenta Inês CarreiroDocumento80 páginasSebenta Inês CarreiroRaquel Duarte50% (2)
- Direito Penal I - Maria Fernanda Palma PDFDocumento90 páginasDireito Penal I - Maria Fernanda Palma PDFbellaportesAinda não há avaliações
- F. Sebenta (Rita Nina)Documento183 páginasF. Sebenta (Rita Nina)Helder LisboaAinda não há avaliações
- Aulas de Direito Penal: Conceitos FundamentaisDocumento101 páginasAulas de Direito Penal: Conceitos FundamentaisSophia VianaAinda não há avaliações
- DP II TeóricasDocumento63 páginasDP II TeóricasCarolina LagoelaAinda não há avaliações
- Sebenta - Penal I - Esquema de Resolução de Casos Práticos - Conceito Material de CrimeDocumento10 páginasSebenta - Penal I - Esquema de Resolução de Casos Práticos - Conceito Material de CrimeCélia SanchesAinda não há avaliações
- Direito Penal Pós - Aula 1Documento28 páginasDireito Penal Pós - Aula 1Herbert BarbieriAinda não há avaliações
- Conceito de Crime No Direito Penal BrasileiroDocumento15 páginasConceito de Crime No Direito Penal BrasileiroHiagoAinda não há avaliações
- Faculdade de Paulínia Curso de Direito Direito Penal - Teoria Geral Do Crime Parte I - Teoria Geral Do Direito PenalDocumento32 páginasFaculdade de Paulínia Curso de Direito Direito Penal - Teoria Geral Do Crime Parte I - Teoria Geral Do Direito PenalFelipe BredaAinda não há avaliações
- Direito Penal I: Conceitos FundamentaisDocumento90 páginasDireito Penal I: Conceitos FundamentaisElodie BecoAinda não há avaliações
- Apontamentos Direito PenalDocumento108 páginasApontamentos Direito PenalMargarida Tavares82% (17)
- Aulas PenalDocumento115 páginasAulas PenalMarina Ferreira SilvaAinda não há avaliações
- Teoria Jurídica Do Direito PenalDocumento17 páginasTeoria Jurídica Do Direito PenalAny CostaAinda não há avaliações
- Apontamentos Penal 1Documento73 páginasApontamentos Penal 1Margarida SerôdioAinda não há avaliações
- Resumos DPPDocumento68 páginasResumos DPPfsattutAinda não há avaliações
- Direito Penal IDocumento28 páginasDireito Penal IRaquel FerreiraAinda não há avaliações
- Sebenta DPP1Documento91 páginasSebenta DPP1Pedro FilipeAinda não há avaliações
- Noções de Direito PenalDocumento48 páginasNoções de Direito PenalDharly Oliveira100% (2)
- Conceito Direito PenalDocumento5 páginasConceito Direito PenalEduardo LópezAinda não há avaliações
- Criminologia, Direito Penal E Política Criminal: Diferenças e RelaçõesDocumento28 páginasCriminologia, Direito Penal E Política Criminal: Diferenças e RelaçõesRaquel RuteAinda não há avaliações
- Pocesso Penal MPaixãoDocumento82 páginasPocesso Penal MPaixãoMariana MoreirAinda não há avaliações
- Teoria do CrimeDocumento6 páginasTeoria do CrimeCaio C. Guamá SpeltaAinda não há avaliações
- DIREITO PENAL - UNAERPDocumento289 páginasDIREITO PENAL - UNAERPlucas gamaAinda não há avaliações
- Direito Processo Penal - 1º SemestreDocumento173 páginasDireito Processo Penal - 1º SemestreAlexandre SantosAinda não há avaliações
- Direito Penal IIDocumento15 páginasDireito Penal IIAmido RaziaAinda não há avaliações
- Conceito material de crime e perspectivas teóricasDocumento28 páginasConceito material de crime e perspectivas teóricasRita EscarpiadoAinda não há avaliações
- Delação Premiada: Uma abordagem a Partir das Políticas Criminais Garantista e antigarantista e da Constituição FederalNo EverandDelação Premiada: Uma abordagem a Partir das Políticas Criminais Garantista e antigarantista e da Constituição FederalAinda não há avaliações
- Autorresponsabilidade da Vítima e Imputação Objetiva: casos de contribuição à autocolocação e heterocolocação consentida em riscoNo EverandAutorresponsabilidade da Vítima e Imputação Objetiva: casos de contribuição à autocolocação e heterocolocação consentida em riscoAinda não há avaliações
- O princípio da lesividade como limite à ingerência penal no uso de drogasNo EverandO princípio da lesividade como limite à ingerência penal no uso de drogasAinda não há avaliações
- DPI Práticas Pág 22Documento25 páginasDPI Práticas Pág 22Rosário QueirósAinda não há avaliações
- DPI Casos Práticos Barbara GuedesDocumento45 páginasDPI Casos Práticos Barbara GuedesRosário QueirósAinda não há avaliações
- DPI - Tomás CunhasDocumento34 páginasDPI - Tomás CunhasRosário QueirósAinda não há avaliações
- Direito Família Menores-Mariana-MeloDocumento134 páginasDireito Família Menores-Mariana-MeloWormpt GiraoAinda não há avaliações
- Emenda 016-2019 - Lei Orgânica Municipal de Ivinhema/MSDocumento29 páginasEmenda 016-2019 - Lei Orgânica Municipal de Ivinhema/MSESTEFAN KAIRÓSAinda não há avaliações
- Joana Clara Freire Ribeiro - 2020118128Documento6 páginasJoana Clara Freire Ribeiro - 2020118128Joana Clara Freire RibeiroAinda não há avaliações
- BNCC Religião 7o ao 9o AnoDocumento2 páginasBNCC Religião 7o ao 9o AnoEMEIF NS Piedade GinásioAinda não há avaliações
- Igualdade de Género em PortugalDocumento3 páginasIgualdade de Género em PortugalJoao PereiraAinda não há avaliações
- Contrato EletricistaDocumento3 páginasContrato Eletricistakatia100% (1)
- III - Institutições Políticas e Jurídicas Da Antiga Grécia - JPDDocumento21 páginasIII - Institutições Políticas e Jurídicas Da Antiga Grécia - JPDEmily CostaAinda não há avaliações
- Jurisdição Voluntária e JEDocumento5 páginasJurisdição Voluntária e JEMiguel LucasAinda não há avaliações
- Portaria N 4 2020 CeeDocumento24 páginasPortaria N 4 2020 Ceetatiana_csiAinda não há avaliações
- Celso Mello - Curso de Direito Internacional - 14º EdiçãoDocumento810 páginasCelso Mello - Curso de Direito Internacional - 14º EdiçãoJoao Salgado100% (2)
- Diário Oficial traz decretos e nomeações de prefeituras do AmazonasDocumento112 páginasDiário Oficial traz decretos e nomeações de prefeituras do AmazonasaldrynAinda não há avaliações
- Métodos Adequados de Solução de ConflitosDocumento49 páginasMétodos Adequados de Solução de ConflitosFernanda PradoAinda não há avaliações
- TJMA Prova Objetiva Concurso Edital 001/2008Documento13 páginasTJMA Prova Objetiva Concurso Edital 001/2008Daniel PiresAinda não há avaliações
- Liberdade de Expressão e Tolerancia ReligiosaDocumento10 páginasLiberdade de Expressão e Tolerancia ReligiosaLeo JandreAinda não há avaliações
- Moçambique petróleo gás descobertas potencial exploraçãoDocumento4 páginasMoçambique petróleo gás descobertas potencial exploraçãoSónia PauloAinda não há avaliações
- Transformações da comunicação políticaDocumento15 páginasTransformações da comunicação políticaLucas Leonardo BrandãoAinda não há avaliações
- Educação alimentar nas escolasDocumento146 páginasEducação alimentar nas escolasCamila CubaAinda não há avaliações
- Redação Enem-LetrusDocumento42 páginasRedação Enem-LetrusIcaro Vitor Maximo Lira LinharesAinda não há avaliações
- Rescisão CLT títuloDocumento1 páginaRescisão CLT títuloAndriaria MeloAinda não há avaliações
- ABÍLIO, Ludmila Costhek. Uberização Do TrabalhoDocumento19 páginasABÍLIO, Ludmila Costhek. Uberização Do TrabalhoJuliana PereiraAinda não há avaliações
- Acao de Alimentos Gravidicos CC Tutela de Urgencia de Natureza AntecipadaDocumento6 páginasAcao de Alimentos Gravidicos CC Tutela de Urgencia de Natureza AntecipadaMaria Eduarda Porto De SouzaAinda não há avaliações
- O Direito Humano procura nova sedeDocumento9 páginasO Direito Humano procura nova sedesatteamAinda não há avaliações
- Direitos e garantias fundamentais na CF de 1988Documento238 páginasDireitos e garantias fundamentais na CF de 1988Patricia AlvarengaAinda não há avaliações
- Curso Ciências Da Natureza e Suas Tecnologias-Eixo IIDocumento23 páginasCurso Ciências Da Natureza e Suas Tecnologias-Eixo IIJoberNunesAinda não há avaliações
- Direito Comercial I - Aulas Práticas sobre Juros MoratóriosDocumento51 páginasDireito Comercial I - Aulas Práticas sobre Juros MoratóriosHugo RitaAinda não há avaliações
- A Escolástica - Olavo de CarvalhoDocumento51 páginasA Escolástica - Olavo de Carvalhoaldo hushleyAinda não há avaliações
- Regula processo administrativo PADocumento35 páginasRegula processo administrativo PAflavia lealAinda não há avaliações
- Audiencia Trabalhista PDFDocumento48 páginasAudiencia Trabalhista PDFanon_303547730Ainda não há avaliações
- Ulfd145212 TeseDocumento167 páginasUlfd145212 TeseAdoteAnjosAinda não há avaliações
- Legislação de Tributos EstaduaisDocumento590 páginasLegislação de Tributos EstaduaisWalber SodréAinda não há avaliações
- Responsabilidade Civil Ambiental - Danielle MoreiraDocumento34 páginasResponsabilidade Civil Ambiental - Danielle MoreiraAlcindo NetoAinda não há avaliações