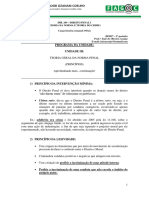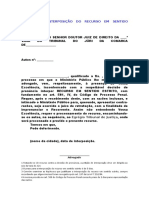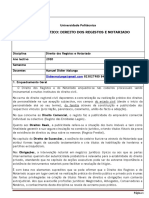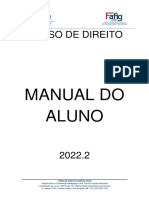Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
DPI Práticas Pág 22
Enviado por
Rosário QueirósTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
DPI Práticas Pág 22
Enviado por
Rosário QueirósDireitos autorais:
Formatos disponíveis
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
Aula dia 02 de outubro de 2018
Páginas do manual importantes:
- Função do DP: 43 a 64 e 78 a 85
- Conceito material de crime: 113 a 131
Aula dia 09 de outubro de 2018
QUAL É A FUNÇÃO DO DP? PARA QUE EXISTE?
O DP chega tarde de mais - Wezel. Não restitui a situação anterior.
O DP tem uma função e serve para tentar que as pessoas respeitem uma determinada
norma de comportamento, pelo menos no futuro essa norma de comportamento seja respeitada.
Qual a função do DP? Tem uma função de procura de garantir bens jurídicos, garantindo
comportamentos que não vão violar esses bens jurídicos, porque sem bem jurídicos em si o DP
não consegue protege-los. Tem sempre em conta o princípio da proporcionalidade (18º/2
CRP): o DP na medida em que a sua sanção restringe DLG's só pode ser usado para
salvaguardar DLG’s.
Figueiredo Dias diz que há bens, mas que o DP começa por olhar para os bens e
perguntar-se se esses bens têm dignidade penal, pois há bens jurídicos com dignidade penal e
bens jurídicos sem. Como se sabem quais são uns ou outros? O referente é a CRP. São bens
jurídicos com referência constitucional. São básicos para a vida comunitária, sem os quais a vida
comunitária podia ser vivida, mas de modo que não permitiria o livre desenvolvimento da
personalidade. Diz-se que o DP protege bens jurídicos (que têm uma referencia pelo menos analógica
com os bens constitucionais), mas protege subsidiariamente bens jurídicos, a função do DP é de
subsidiariamente tutelar bens jurídicos (princípio da subsidariedade). No entanto, mesmo os
bens jurídicos protegidos pelo DP não são protegidos de todos os ataques (ex.: a vida é protegida
normalmente de qualquer ataque; se formos ao bem jurídico património este não é protegido pelo DP de
qualquer ataque). Por isso se diz que o DP é fragmentado (princípio da fragmentariedade).
O DP é a ultima ratio. Do artigo 18º/2 CRP podemos retirar uma outra ideia de que sempre
que outro ramo do direito ou outra instância do controlo social conseguir proteger aquele bem
jurídico por um meio menos gravoso então o DP não pode intervir - princípio da carência ou
necessidade de tutela penal.
Assim, o DP serve para tutelar ou proteger subsidiariamente bens jurídicos, ou seja,
aqueles que têm dignidade penal e que não tenham outro modo menos gravoso de serem
protegidos.
O DP não pode ser só visto como um direito que aplica penas, antes de mais nada é o
direito que diz afinal quais são as regras da sociedade, é um direito que define as regras mínimos
do viver comunitário. O DP não tem normas arbitrárias, em princípio, tem normas que devem
corresponder aquilo sem o qual uma sociedade não prospera.
FINS/FINALIDADES DAS PENAS (estamos a pensar se a aplicação do mal pode trazer alguma
utilidade social)
Há duas doutrinas:
— Absolutas ou da retribuição: Trata-se de compensar o mal do crime com o mal
da pena. Traduz a ideia de expiação/retribuição. Tendo o autor do crime utilizado a sua liberdade
para fazer mal à sociedade isso merece um castigo. Se fizeste mal à sociedade, a sociedade faz
Filipa Ribeiro Gonçalves 1
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
mal a ti. Que utilidade se tira de uma pena assim? Nas teorias absolutas dos fins das penas,
vigora uma pura ideia de justiça: fazes, pagas. Uma das vantagens que vincou é o de dizer que
ninguém deve ser punido a cima da sua culpa. A pena deve corresponder à medida da culpa do
agente. A culpa é fundamento e limite da limite.
— Relativas ou de prevenção: A ideia é de que consigamos, a partir do castigo,
que outras pessoas da comunidade aprendam que o crime não compensa, não vale a pena
cometer crimes, ou então, pelo menos o autor do crime aprender com a pena que o crime não
compensa. A ideia de prevenção é de que se pune para afastar do futuro comunitário a prática de
crimes. A culpa é apenas limite.
- Prevenção geral: A grande crítica à sua própria lógica é de que não
contém qualquer ideia de culpa.
- Negativa ou de intimidação: A pena servia para mostrar a quem
tinha apetência pelo crime, a quem encontrava alguma vantagem na prática do crime, que a pena
trazer-lhe-ia um desprazer ou mal superior.
- Positiva ou de integração: (Takobs) Quando alguém comete um
crime, viola uma norma e quanto mais violada for essa norma ao fim ao cabo ela como que perde
validade. A maior parte dos cidadãos passa a achar que aquela norma não é tão importante
assim. Para que serve a pena? Para a reafirmação contrafáctica da norma violada, a pena serve
para que toda a gente faça através dela um exercício de fidelidade ao direito, para repor a
validade da norma. A lógica desta doutrina da prevenção geral positiva ou de integração da
validade da própria norma, integração desse valor na interioridade dos cidadãos, é passível da
mesma crítica à prevenção negativa, porque não se fala de considerações de culpa.
- Prevenção individual/especial: É uma prevenção que no fundo diz que a
pena é um instrumento, mas sobre a pessoa do delinquente com o fim de evitar que essa
pessoas cometa novos crimes no futuro. A ideia não é influenciar toda a comunidade, a ideia é de
olhar para uma concreta pessoa que praticou um crime. Como se consegue que alguém não
volte a cometer um crime?
- Negativa ou de neutralização ou de intimidação ou de inocuização:
A ideia é de colocar a pessoa numa situação tal que não cometerá mais crimes.
- Positiva ou de socialização ou de reinserção: Trata-se de tentar
que a pessoa se integre na comunidade, só que houve historicamente diferentes maneiras.
Houve uma ideia que era a ideia de converter a pessoa, de emenda/mudança, pretendia-se que
aderi-se intimamente aos valores da comunidade em geral. Outra ideia é não já de tratamento,
mas simplesmente como oferecimento ou oferta à pessoa dos meios que necessita para voltar a
entrar na vida em sociedade, oferecendo aos reclusos a possibilidade de terem um plano de
reinserção social.
O DP moderno é um DP que não pune alguém sem que esse alguém tenho violado um
facto com culpa: não há crime sem culpa. Não basta, para cometer um crime, praticar um crime
descrito em algum norma do código. Importa se alguém praticou um crime, praticou um facto
contrário as normas jurídicas, e se o praticou com culpa.
Filipa Ribeiro Gonçalves 2
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
Aula dia 16 de outubro de 2018
(continuação das finalidades)
Artigo 40º: 1 - A aplicação de penas e de medidas de segurança visa a proteção de bens
jurídicos e a reintegração do agente na comunidade. 2 - Em caso algum a pena pode ultrapassar
a medida da culpa.
Não é ao legislador que compete decidir qual a melhor teoria das finalidades das penas.
Rejeita uma ideia de retribuição.
Há de estar presente uma finalidade de prevenção especial.
+ artigo 74º CP
Aula dia 23 de outubro de 2018
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE CRIMINAL: Não há crime nem pena sem lei.
Razão de ser: questão de garantia em relação aos cidadãos.
Fontes do Direito Penal:
O costume é fonte do DP? Não, por uma razão garantística.
O DP só pode tem como fonte uma lei em sentido formal (lei da AR ou decreto-lei
autorizado do Governo). Para as normas penais há uma reserva relativa de competência da AR.
Para além do mais, tem de ser uma lei escrita, por força da ideia é que tem de haver a máxima
cautela.
Imagine-se que um violinista vai dar um concerto e um rival aproveita-se de um
momento para ficar com o violino. Ele furta-lhe o violino, mas ele não quer ficar com ele, o que
faz é esconde-lo durante o tempo do concerto e no final do concerto coloca o violino no sítio
onde o violinista o tinha deixado.
Com base no artigo 208º CP (furto de uso de veículo), o advogado do violinista interpõe
um queixa crime contra o rival, acusando-o com o crime de furto de uso do violino.
O furto de um instrumento musical não cabe na letra do 208º CP e, no entanto, o
advogado achou que haveria analogia. Para além do mais, aquele artigo pressupõe a intenção de
ficar com a coisa para si, o que não acontece no caso.
Condena-se o rival por furto de uso por analogia? Não.
Tudo aquilo em que se traduz o princípio da legalidade, todos os seus corolários têm a
mesma razão de ser, a questão de garantia em relação aos cidadãos. O problema da analogia é
que é feita no momento da aplicação da lei, portanto o cidadão não pode saber de antemão
quais as analogias que os tribunais vão eventualmente fazer. Este problema da analogia no direito
penal existe só quando a analogia vier alargar as margens da penalidade, ou seja, a analogia só é
proibida em direito penal quando for em desfavor do arguido. Quando for em favor do arguido aí
já não contraria o princípio da legalidade e já não há razão para não se poder aplicar, em
princípio.
Filipa Ribeiro Gonçalves 3
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
Em DP, do ponto de vista das incriminações, temos de pensar que uma lacuna
normalmente é uma coisa que o legislador faz de propósito.
No caso concreto, o MP queria acusar com base no artigo 208º por analogia, devemos
dizer que a analogia incriminatória é proibida em DP e que dentro do princípio da legalidade há
um corolário das fontes do DP: lei ou dl autorizado.
Imagine-se que há uma lei da ar que diz que quem se portar mal será punido com pena
de prisão até 2 anos. Há algum problema? Sim, o conteúdo da norma tem de ser determinado
ou determinável, aqui é indeterminado. Esta norma é inconstitucional porque viola o principio da
legalidade criminal
Suponha-se que alguém, o senhor A, praticou um determinado facto, o facto X, e que
uma semana depois saiu uma lei incriminadora que diz que quem praticar o facto X será
punido com pena de prisão até 2 anos. Então, o senhor A é levado da tribunal acusado da
prática do facto X.
Problema da proibição da retroatividade. O que tem a ver com o princípio da
legalidade? Na altura da prática do facto não havia lei que dissesse que a prática do facto X era
crime. Se a lei não tivesse de ser prévia ao momento da prática do facto não adiantava o
principio da legalidade, pois não havia segurança dos cidadãos. Do ponto vista da aplicação da
lei penal no tempo, rege um princípio fundamental o princípio da proibição da retroatividade da lei
penal ou princípio da irretroatividade da lei penal e que diz que ninguém pode ser punido por uma
lei que não esteja em vigor no momento da prática do facto. Diz-se que o princípio da legalidade
diz que não há crime sem lei escrita, determinada, certa e prévia. O princípio da legalidade
implica uma lei prévia ao momento da prática do facto.
No dia 08 de outubro de 2018, o senhor A disparou sobre o senhor B com a intenção
de o matar. O tiro tinha capacidade de matar e era previsível que com aquele tiro a vítima
acabasse por morrer e assim foi. No dia 22 de outubro, a vítima morreu.
No dia 15 de outubro entrou em vigor uma lei que alterava a moldura penal abstrata do
crime de homicídio. A moldura era de 8 a 16 anos e a nova lei estabeleceu que a partir de
então passaria a ser prisão entre 7 e 17 anos.
Problema de aplicação da lei no tempo e de sucessão de leis penais. A lei tem de ser
prévia à prática do facto que é o homicídio e o homicídio não é consumado antes da morte da
vítima.
O que se deve entender pelo momento da prática do facto? Há o momento da ação e o
momento do resultado material, momentos esses que podem nem sempre coincidir. Há
determinados crimes que são crimes que para a consumação é preciso um resultado material, ou
seja, que exigem a ocorrência de um resultado separável da ação. Para o homicídio ser perfeito e
merecer aquela pena, isto é, para se consumar, é preciso que, para além de uma ação que possa
levar à morte, ocorra também a morte. Posto isto, deve considerar-se para o momento da prática
do facto o momento da ação, o contrário seria contrariar a garantia de segurança. No artigo 3º
CP considera-se, para a aplicação da lei no tempo, que o momento da prática do facto é
momento em que agente atuou ou deveria ter atuado, independentemente do momento do
resultado.
Filipa Ribeiro Gonçalves 4
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
No caso, o momento da prática do facto era dia 8 de outubro de 2018 (L1). No momento
do julgamento, já posterior à morte, temos uma lei posterior (L2). Qual delas o tribunal deve
aplicar ao caso? A lei penal é, em princípio irretroativa, por isso deve aplicar-se a lei em vigor no
momento da prática do facto. E assim esgota-se o conteúdo do princípio da legalidade criminal.
Há, todavia, pode aplicar retroativamente uma lei posterior ao momento da prática do facto
quando for mais favorável ao arguido. Assim, se posteriormente à pratica do facto o legislador diz
que o homicídio não é crime, quando o senhor A for a julgamento e se essa lei já estiver em vigor
deve punir-se o senhor A? Deve aplicar-se a lei no momento da prática do facto ou a posterior
mais favorável? A mais favorável. Isto vale para um lei discriminante, mas também para aquela
que atenue, p. e., tornando apenas necessário a pena de multa. Aplica-se não só porque é a mais
favorável, mas também por força da nova valorização que a sociedade fez sobre aquela conduta.
No nosso caso, seria de aplicar a lei mais favorável (L 2). Todavia, o tribunal pode sempre
aplicar o máximo da moldura e aí o indivíduo não sairia favorecido. Como se faz no caso
concreto? O juiz julga o caso à luz de L1 e vê qual a pena concreta que na ponderação de todos
os fatores resultaria e faz o mesmo utilizando L2. Imaginando que numa seria, p. e., 5 anos e na
outra seria 4 anos e 8 meses, este última é que deve ser aplicada, porque é a lei concretamente
mais favorável.
Assim, em princípio, aplica-se a lei vigente no momento da prática do crime
(irretroatividade), todavia aplica-se retroativamente a lei posterior concretamente mais favorável.
A lei posterior ao momento da prática do facto pode ser mais favorável por duas razões:
(1) a lei posterior é uma lei descriminalizadora, a partir do momento que em vigor destrói o
crime e as suas consequências (artigo 2º/2 CP). São os casos de descriminalização. Quando
existe descriminalização e o agente está a cumprir pena de prisão o que lhe acontece? Cessa a
execução e os efeitos penais. E se já tivesse cumprido a pena ainda podia aproveitar a
descriminalização? Sim, o facto é apagado do registo criminal.
(2) pode acontecer que seja apenas uma lei que prevê uma consequência jurídica menos
gravosa, continua a ser crime, mas a pena concreta é mais favorável ao arguido (artigo 2º/4 CP).
São os casos em que há uma diminuição do regime penal. Antes da reforma de 2007, para estes
casos, o CP dizia que se já tivesse havido caso julgado não se mexe no caso, o caso julgado era
o limite para o aproveitamento do regime mais favorável. Em 2007, houve outra reforma e o
legislador trouxe esta nova solução. Quando a lei mudar, mesmo depois do transito em julgado
da sentença de condenação, ninguém poderia cumprir mais do que o máximo previsto nessa
nova lei. Além de que o artigo 371ºA CPP diz-nos que o condenado pode requerer a abertura da
audiência para que lhe seja aplicado o novo regime.
Aula dia 30 de outubro de 2018
Páginas importantes:
- DP no contexto jurídico global: páginas 155 a 176
- Princípio da legalidade e aplicação da lei penal no tempo: páginas 177 a 206
- Aplicação da lei penal no espaço: páginas 207 a 232
Filipa Ribeiro Gonçalves 5
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
O problema da aplicação da lei penal no tempo (cont.) - leis intermédias
COMENTE: A lei intermédia não deve aplicar-se uma vez que ainda não estava em
vigor no momento da prática do facto e já não vigorava à data do julgamento.
Intermédia: entre duas outras.
Suponha-se que está em vigor a lei 1 (L1) e o senhor A praticou um facto previsto
nessa lei. Depois entra em vigor a lei 2 (L 2) e passado mais tempo entra em vigor uma lei 3 (L
2). A lei 2 é a menos gravosa e a lei 3 a mais gravosa.
O senhor A foi julgado durante a vigência da lei 3.
Há alguma lei intermédia? A lei 2, que vigorou entre o momento da prática do facto e o
momento do julgamento e na altura do julgamento já não vigorava. Coloca algum problema?
Sendo a lei mais favorável iríamos aplicá-la, mas afinal esta lei 2 não tocou no facto, não era a lei
no momento da prática do facto, nem a lei no momento julgamento. Não era a lei com que o
senhor A contava e também não é a lei que espelha a valoração que naquela atualidade a
comunidade faz da conduta.
Que lei se aplica? O argumento mais forte é o argumento do artigo 2º/4 CP. A lei só fala
em leis posteriores ao facto e onde a lei não distingue, não devemos também distinguir, assim
qualquer lei posterior mais favorável deve ser aplicada. No caso, aplica-se a lei 2. Na realidade,
houve expectativa da parte do senhor A quando viu que viria uma nova lei mais favorável e a
expectativa era de ser julgado na vigência dessa lei. Sendo o momento do julgamento aleatório,
pois ninguém tem domínio sobre ele, ele não deve relevar para este efeito. Posto isto, a lei
intermédia aplica-se se mais favorável para o arguido.
Suponha-se as mesmas lei 1, 2 e 3. O senhor A praticou o facto na vigência da L 3 e vai
ser julgado no momento de uma L 4 que é mais gravosa. O advogado pretende se aplique a L
2 mais favorável. Pode ser? Não. A lei apenas fala em leis posteriores mais favorável.
Nota introdutória: Em Portugal a detenção de droga em pequena quantidade não é
crime, é uma contra-ordenação (Lei nº 30/2000).
O senhor A foi detido porque detinha determinada porção de droga, na altura em que
era crime (L1). A lei 2 vem dizer que o comportamento é apenas uma contra-ordenação.
Suponha-se que é na vigência da lei 2 que o senhor A é julgado.
Deve aplicar-se a lei 1 ou Lei 2?
Aplicamos o artigo 2º/2. E depois? Não se pune o senhor A? Haveria uma
descriminalização, se a lei 2 considera-se que essa conduta era lícita e isso não acontece, a
conduta passa a ser uma contra-ordenação. Continua a haver uma sanção, mas passa de pena
para uma coima.
Na lei das contra-ordenações também tem uma norma em que consagra o principio da
legalidade nos mesmos termos que o DP, ou seja, uma das coisas que diz é que ninguém pode
ser punido por contra-ordenação se o facto no momento em que foi praticado não era
considerado uma contra-ordenação. Pode-se dizer que não há contra-ordenação sem lei prévia.
No caso, a lei contra-ordenacional é posterior à conduta, logo, para alguns, o agente
ficaria absolvido. O problema deste raciocínio é que o facto não é lícito.
Filipa Ribeiro Gonçalves 6
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
Qual o fundamento da princípio da legalidade contra-ordenacional? Qual a razão de ser?
Garantia dos cidadãos. Aqui não há segurança do indivíduo a proteger, não faz sentido aplicar
aqui a não retroatividade quando isso, do ponto de vista material, não faz sentido. Além disso, a
própria lei penal vem consagrar essa solução. Há uma continuidade do fenómeno sancionatório e
há disposições sancionatórias posteriores mais favoráveis, pode aplicar-se aqui a lei contra-
ordenacional. Aplica-se o 2º/4 do CP.
Entre janeiro de 2016 e agosto de 2016 praticamente não choveu em Portugal. O
Parlamento aprovou uma lei, que entrou em vigor a 1 de abril, que punia, com prisão até 2
anos e enquanto durasse a seca, a utilização da água de serviços públicos em piscinas
particulares. No fim de maio choveu um bocado e então o legislador, através de nova lei (L 2),
com início de vigência a 20 de julho, diminui para multa até de 120 dias. Face a intensos
protestos o Parlamento aprovou uma terceira lei (L 3 - contra-ordenacional) que entrou em
vigor a 10 de junho e que sancionava tais condutas com coima até 250€. Todas estas leis
fixavam o limite de vigência para quando acabasse a seca e supõe-se que a seca acaba em
agosto. O senhor A praticou o facto em maio e vai ser julgado em outubro, quando já não
havia seca. Qual a lei que se aplica à conduta do senhor A?
Se a L1 fosse como outra lei qualquer o senhor A quando fosse julgado seria absolvido,
pois em outubro a conduta já não era crime. O problema é que a L1 é uma lei excecional ou
uma lei temporária ou de emergência, isto é, é uma lei que se destina a fazer face a uma
situação particular/concreta delimitada no tempo. São leis que marcam o seu próprio tempo de
vigência. A lei está a valorar os factos praticados naquelas circunstâncias, é uma lei que só vale
para o período da seca - artigo 2º/3 CP. Um facto praticado fora da vigência já não tem essa
gravidade.
Aplicava-se a lei 1, pois o legislador não mudou a sua valoração relativamente aos factos
praticados durante a seca.
Aula dia 06 de novembro de 2018
Ainda durante o período de exceção verificou-se que choveu algo, não o suficiente
para acabar a seca, mas o suficiente para a seca passar de grave a moderada. Então, o
Parlamento votou uma segunda lei (L 2) que dizia que o facto seria punido com uma pena de
multa.
O senhor A praticou uma conduta proibida em tempos de seca grave e vai ser julgado na
altura em que não há seca. Será que L 2, sendo mais favorável ao arguido, poderá aplicar-se ao
seu comportamento? Qual a lei que o tribunal deve aplicar? L 2 ainda se inscreve dentro do
período temporário e cessa a sua vigência quando terminar a seca. Aplica-se a L 1 ou L 2?
Normalmente, aplicar-se-ia a lei posterior mais favorável porque se alterou a valoração do facto,
isso significa que aquela margem de pena que ultrapassa o que o legislador passou a entender, é
uma pena desnecessária. Acontece que, no caso, o legislador não mudou a sua valoração desta
conduta. O contexto em que A atuou é um contexto de seca severa, quando se aprovou L 2 disse
que o contexto fáctico mudou, porque choveu e a seca ficou apenas moderada. O legislador
entendeu que no período de seca severa a conduta necessitava de prisão, mas em
circunstâncias menos gravosas basta ameaçar a conduta com pena de multa. O legislador valora
de maneira diferente a conduta tendo em conta a circunstância de seca severa ou moderada. Ele
Filipa Ribeiro Gonçalves 7
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
não mudou a valoração ao facto consoante as circunstâncias, o que mudou foi as próprias
circunstâncias. Deve, por isso, aplicar-se a L 1.
Imagine-se que não choveu nada, todo o período especial não sofreu qualquer
alteração. A circunstância fáctica/o contexto da ação (de encher a piscina) é o mesmo. Só que
supondo-se que o legislador, por força de manifestações porque se considerava a pena
demasiado exagerada, vem dizer que basta uma pena de multa. Neste caso, o que o tribunal
deve fazer?
Aplicar L 2. Se durante o período de exceção mudar a valoração da conduta então deve
aproveitar ao agente, aqui vamos estar dentro dos limites da vigência da lei temporária e, por
isso, não se vê razão para não aplicar a lei posterior mais favorável (artigo 2º/4 CP).
Quando há uma sucessão de lei temos de nos perguntar o que mudou para mudar a lei:
as circunstâncias ou a valoração do legislador?
A caraterística principal da lei temporária é que o agente continua a ser punido pela lei
temporária, mesmo que seja julgado no período normal.
Imagine-se que o senhor A pratica um facto na vigência de uma determinada lei e
durante um tempo em que a expectativa em relação à relação jurisprudencial é determinada.
Supondo que quando o senhor A vai ser julgado e os tribunais mudaram de opinião deve-se
aplicar a jurisprudência anterior ao momento da prática do facto?
Casos em que não muda a lei, mas muda a corrente jurisprudencial.
A doutrina diverge.
E se o agente pratica um facto na vigência de uma lei e depois muda a perceção de um
bem jurídico?
O facto ilícito cometido não variou, o que variou foi a explicação teórica porque se pune,
não houve ideia de deixar de punir, nem ficou mais ou menos gravosa, mas apenas diferente a
explicação teórica para a punição dos concretos factos ilícitos. Não há razão para dizer que já
não é crime. A substância da conduta permanece igual.
O senhor A começou um sequestro quando este tinha como sanção a pena de prisão
até 6 anos. Ele continuou com o sequestro até uma altura em que este passaria a ter como
sanção apenas 3 a 6 anos.
Trata-se dos crimes que se prolongam no tempo por vontade do agente, ou seja, os
crimes duradouros. Mas se durante o tempo em que se pratica o crime mudar a lei? A resposta
não é unânime. Nem toda a conduta foi pratica na vigência da segunda lei. Entende-se que se
deva aplicar a segunda lei desde que nela tenham concorrido elementos típicos do crime.
Filipa Ribeiro Gonçalves 8
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
Aplicação da lei penal do espaço
São normas de direto penal internacional que estabelecem quando Portugal tem
jurisdição sobre os factos.
Sobre que factos tem o tribunal jurisdição? Quando é que Portugal é competente para
julgar os casos? E quando é competente, que lei devem aplicar os tribunais portugueses? -
artigos 4º-7º CP
Quais são os casos que Portugal deve julgar?
• Os que ocorram em território nacional - princípio da territorialidade. Está previsto no
artigo 4º CP e diz que, em princípio, a lei penal portuguesa se aplica a factos praticados
em território português, independentemente da nacionalidade do agente ou da vítima;
• Aqueles que forem praticados por portugueses ou aqueles que foram praticados contra
portugueses - princípio da nacionalidade.
Que factos é que se consideram praticados em Portugal?
Artigo 7º CP.
Imagine-se que A dispara sobre B, em Espanha, com a intenção de matar. B acaba por
morrer em Portugal. Este crime foi praticado em Portugal ou não?
Os crimes são praticados em Portugal quer a ação tenha sido cá, quer tenha ocorrido cá
o resultado. Isto acontece para que não haja crimes que não se possam julgar por nenhum
Estado entender que tem jurisdição sobre ele.
No caso, tanto Portugal como Espanha se consideram que é competentes.
Supõe-se que um empresário português tem um inimigo em Inglaterra. Este resolve
mandar uma carta armadilhada. As autoridades resolvem fiscalizar todas as encomendas que
tivessem algum sinal de estarem armadilhadas e a carta não chega a sair de Inglaterra. Pode
considerar-se o facto praticado em Portugal?
Artigo 7º/2 CP: Considera-se que o facto (tentativa de homicídio) é praticado em Portugal,
porque o resultado teria ocorrido em Portugal.
Imagine-se que o senhor A é português e que viaja num avião português com destino a
Marrocos. A certa altura, esse avião há-de de ter passado por espaço aéreo internacional
(terra de ninguém). A bordo do avião português e em ares internacionais, o português agride
um marroquino. Onde foi praticado esse crime?
Podemos dizer que o facto foi praticado em território português. Para evitar crimes em
terra de ninguém haveria uma extensão do território português para efeitos do princípio da
territorialidade que é o princípio do pavilhão. O facto praticado a bordo de avião ou navio
português é considerado praticado em Portugal.
Filipa Ribeiro Gonçalves 9
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
Aula dia 13 de novembro de 2018
A, de nacionalidade portuguesa, viaja numa aeronave portuguesa com destino a
Espanha. Ao aterrar em Madrid, A, ainda a bordo, tem uma violenta discussão com outro
passageiro, de nacionalidade espanhola, acabando por agredi-lo, causando-lhe ofensas à
integridade física graves (art. 144º CP). Detido pelas autoridades, é julgado perante um
tribunal espanhol pelo crime cometido, sendo condenado na pena de 3 anos de prisão
efectiva. Ao fim de 1 ano, A evade-se da prisão espanhola e refugia-se em Coimbra.
a) Podem os tribunais portugueses julgar e eventualmente condenar A, de novo, pela
prática daquele facto? Responda à questão utilizando as referências legais e doutrinais
pertinentes.
Como se começa a tratar do caso? Qual a 1ª pergunta a fazer para saber se Portugal tem
ou não jurisdição sobre o caso?
1ª: Pode aplicar-se o princípio da territorialidade? O facto foi praticado em Portugal ou
não? O artigo 7º CP tem uma série de critérios, por algum desses se abrange o caso? O
resultado aconteceu em Portugal? Foi uma tentativa? Houve parte do facto praticado em
Portugal? Houve algum dos agentes do crime em Portugal? A resposta é não. A conclusão é de
que não há nada que faça com que se possa dizer, com base no artigo 7º, que o facto foi
praticado em Portugal.
2ª: Vê-se a extensão do território português que é o princípio do pavilhão. Se
considerarmos o avião território português então sim o facto terá ocorrido em território
português.
Problema: É lógica que o princípio do pavilhão ainda valha quando o avião está em
território de outro país/Estado? Aquilo que nos leva a adotar o critério do pavilhão é sobretudo
para que não haja conflitos negativos de jurisdição, que não haja factos praticados em terra de
ninguém. Neste caso concreto em que o avião está no aeroporto de Madrid haverá conflito
negativo de jurisdição? Há possibilidade de se dizer que o facto foi praticado em terra de
ninguém? Não, estamos em Espanha. Aqui o que pode acontecer é um conflito positivo de
jurisdição. Há quem pense que o princípio do pavilhão vale sempre, mas a maior parte da
doutrina diz que o princípio do pavilhão só vale quando o avião ou navio se encontra em território
de ninguém, em ares ou águas internacionais.
O facto foi praticado em Espanha e, por isso, não há principio da territorialidade do ponto
de vista de Portugal e não há princípio do pavilhão.
3ª: Este caso não poderia ser julgado em Portugal com base num princípio diferente da
territorialidade? Temos o DL 254/2003, de 18 de outubro (atos a bordo de aeronaves civis) que é
um DL nitidamente pós 11 setembro de 2001 (importa-nos o artigo 3º). Há princípios que são
complementares/subsidiários ao princípio da territorialidade e aqui temos de mudar de artigo. Do
artigo 4º CP passamos para o artigo 5º do CP, que tem uma série de princípios complementares/
subsidiários ao princípio da territorialidade. A ordem das suas alíneas não é indiferente, a ordem
tem como critério a apetência do estado português para julgar os factos. São enumerados crimes
que se consideram contra os interesses do estado português; são tipos legais de crimes:
• Alínea A: Princípio defesa dos interesses nacionais;
• Alínea B: Princípio da nacionalidade dupla (tanto o agente como a vitima são
portugueses);
• Alínea C e D: Crimes que são contra interesses universais;
• Alínea E: Princípio da nacionalidade ativa ou passiva;
Filipa Ribeiro Gonçalves 10
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
• Alínea F: Princípio da aplicação supletiva da justiça penal;
• Alínea G: Princípio da nacionalidade das pessoas coletivas.
No caso, chegamos à conclusão que não se aplica o princípio do pavilhão, pois está-se
em território espanhol. Qual será o outro princípio complementar do artigo 5º que torna a
jurisdição portuguesa legítima para este caso? Artigo 5º alínea e), ou seja, princípio da
nacionalidade ativa: A, português, é o agente do crime.
Supondo-se que Espanha não fez nada para o caso e que A, que praticou o facto fora
de Portugal, está em Portugal.
Cumpre-se todos os requisitos da alínea e do artigo 5º?
- Os agentes forem encontrados em Portugal. No caso, sim.
- Forem também puníveis pela legislação do lugar em que tiverem sido praticados,
salvo quando nesse lugar não se exercer poder punitivo. É o requisito da dupla
incriminação. Em princípio, a pessoa deve imputar-se de acordo com o país em
que está, todavia, neste requisito, só vamos punir o nacional português que
praticou facto no estrangeiro se esse facto seja crime quer no estrangeiro (onde o
praticou) quer em Portugal.
Problema: Alguém que praticou um facto num sítio onde não se exerce jurisdição
penal. A ideia é se a pessoa praticou um facto num sitio de terra de ninguém, onde
não há jurisdição penal, aí a pessoa não será condenada.
- Constituir em crime que admita extradição: Pensa-se no crime em si, qual o crime
que se praticou. Em princípio, a extradição é pedir a outro país alguém que lá se
encontra para ser julgado - artigo 33º CRP.
Intervém aqui outra legislação que é a Lei da Cooperação Judiciária Internacional
em matéria penal (Lei 144/99, de 31 de agosto, com alterações), na qual
interessa o artigo 7º/1/a e b.
Se se tratar de um crime político ou de um crime militar (em sentido estrito) não se
admite extradição. Se não for crime político ou militar em sentido estrito, temos
ainda de ver se se pode extraditar essa pessoa. Há ainda outras razões para não
se extraditar. São, p. e., os casos em que há pena de morte no país. E, nestes
casos em que não se extradita, julga-se.
Até aqui podíamos julgar o senhor A.
Há uma extradição simplificada para os países da UE. Nos países da UE há, em princípio,
uma certa harmonia entre as regras penais e há uma confiança recíproca entre os Estados da UE.
Simplificou-se, entre esses Estados, a ideia da extradição e reduziu-se à sua versão jurisdicional.
Na extradição há uma fase judicial, em que os tribunais devem ver se estão cumpridas os
requisitos, mas há também uma fase administrativa, que é uma parte política/administrativa, em
que o Governo tem uma palavra a dizer sobre cada extradição. No mandado de detenção
europeu, não há fase administrativa - artigo 33º CRP.
O senhor A vai ser julgado cá. No julgamento o advogado do senhor A requer ao
tribunal português que aplique a lei espanhola porque a lei espanhola é mais favorável ao seu
cliente do que a lei portuguesa.
O tribunal português pode aplicar lei estrangeira? Sim - artigo 6º/3 CP.
Filipa Ribeiro Gonçalves 11
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
No caso, porque haveremos de aplicar a lei espanhola? Se ela é mais favorável, Portugal
não tem interesse em aplicar-lhe uma lei menos favorável. Assim, aplicava-se a lei espanhola.
No verdadeiro caso, diz que o senhor A foi julgado em Espanha e condenado a 3 anos
de prisão efetiva. Ao fim de 1 ano o português A consegue fugir e vem para Portugal.
E agora? Continuamos a poder julga-lo? Há um princípio constitucional e penal que diz
que ninguém pode ser julgado duas vezes pela prática do mesmo crime - princípio ne bis in idem.
Este princípio pretende acautelar não que não se seja julgado outra vez, mas que não se seja
punido outra vez. Diz-se não julgado no sentido de que se já foi julgado e cumpriu a pena aí não
há mais julgamento.
Todavia, no caso, ele foi julgado, mas não cumpriu a pena toda e fugiu. Pode A ser
julgado outra vez em Portugal, dado que se não pode devolve-lo a Espanha, porque é nacional?
A nossa lei diz que vamos, sempre que se aplica o artigo 5º, necessariamente ter que ver o artigo
6º CP. Há restrições à aplicação da lei portuguesa (o artigo 6º só entra em ação quando o facto
que vai ser julgado for praticado fora de Portugal): artigo 6º/1 - Portugal é competente, mas só
pode julgar se o agente não tiver sido julgado pelo país da prática do facto e tendo sido ele
julgado se tiver subtraído ao cumprimento total ou parcial da condenação. Neste caso, podemos
voltar a julgá-lo.
Em todo o caso, ninguém pode ser privado da liberdade à custa do mesmo facto mais do
que a pena em que for efetivamente condenado. Supõe-se que alguém está em prisão preventiva
durante 1 ano e que é condenado a 2 anos de prisão. Aqui entra o instituto do desconto
(princípio do desconto) - artigos 80º a 82º CP: Desconta-se o tempo da privação da liberdade à
custa do mesmo facto. Se cumpriu 1 ano de prisão preventiva terá de cumprir agora apenas mais
1 de prisão.
No caso, ele cumpriu 1 ano no estrangeiro (Espanha), mas o artigo 82º CP diz que se a
privação da liberdade tiver sido sofrida no estrangeiro desconta-se também. Se o tribunal
português condenar a 3 anos de prisão subtraí-se 1 ano cumprido em Espanha e cumprirá,
consequentemente, 2 anos.
b) A resposta seria a mesma se A tivesse praticado o facto num corredor do aeroporto
de Barajas?
A resposta seria a mesma que a anterior.
Aula dia 20 de novembro de 2018
Matéria para a prova: Antes das causas de justificação; 4 casos práticos.
c) Estando em causa dois países membros da União Europeia, de que outro modo
poderia resolver-se o problema?
Estando em causa dois países membros da UE (Portugal e Espanha) podíamos resolver o
problema através do princípio do mandado de detenção europeu (Lei 65/2003) - dentro da UE
não funciona a extradição enquanto tal e não há a parte administrativa/política, tudo se passa nos
tribunais.
Filipa Ribeiro Gonçalves 12
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
No dia 10 de Janeiro de 2002, A, cidadão colombiano residente no Brasil, falsificou
moeda portuguesa (€), com a ajuda de B, empresário português, que lhe enviou tecnologia
sofisticada, a partir da sua residência em Coimbra.
Detido pelas autoridades brasileiras, A foi condenado a 10 anos de prisão, por
sentença transitada em julgado a 12 de Fevereiro de 2004.
a) A 1 de Junho de 2005, A evadiu-se para Portugal, sendo detido. No decurso do
inquérito, B foi igualmente detido. Os dois foram julgados e condenados por um tribunal
português. Comente esta decisão.
Em primeiro lugar, o facto foi praticado em Portugal? Artigo 7º CP. Se se considerar que
sim, o caminho será o do caso anterior.
Agora: No dia 10 de Janeiro de 2002, A, cidadão colombiano residente no Brasil,
falsificou moeda portuguesa (€). Detido pelas autoridades brasileiras, A foi condenado a 10
anos de prisão, por sentença transitada em julgado a 12 de Fevereiro de 2004.
Há alguma maneira de se considerar que o Estado português tem jurisdição sobre ele?
Artigo 5º CP (condições subsidiários do princípio da territorialidade) - artigo 5º/a e 262º CP
(contrafação de moeda). O que se pretende com esta alínea a) do artigo 5º (princípio da defesa
dos interesses nacionais) é defender interesses nacionais; há interesses portugueses que podem
ser afetados através de crimes praticados fora do território e, se são interesses portugueses que
em causa, então o Estado português tem interesse em julgá-los. Este artigo está hierarquizado
consoante os que têm mais interesse ser Portugal a julgar e não há quaisquer requisitos
suplementares.
Posto isto, Portugal é competente para julgar, através da aplicação do um princípio
subsidiário do artigo 5º CP, que não é um principio absoluto. Até porque o artigo 6º fala, logo de
seguida, das restrições da aplicação da lei penal portuguesa. O artigo 6º é aplicável a este caso?
Sim. Este só restringe a aplicabilidade da lei portuguesa quando se trate de factos praticados
fora do território nacional; se se aplicar o princípio da territorialidade não se aplica o artigo 6º,
pois não há restrições à aplicação da lei penal portuguesa. O tribunal português tinha jurisdição
sobre este caso? Sim, porque A não cumpriu toda a pena no Brasil.
b) Suponha que, no decurso do processo, o defensor requereu a aplicação, pelo
tribunal português, da lei brasileira, com base na ideia de que ela se mostrava concretamente
mais favorável. Quid iuris? Justifique.
A pode pedir que lhe seja aplicada a lei brasileira mais favorável? Não. O artigo 6º/3 CP
diz que o regime do 6º/2 não vale se Portugal for competente em virtude das alienas a) e b) do
artigo 5º e nós estamos a aplicar a alínea a). Entendemos ainda que o podemos voltar a julgar à
luz da nossa lei, porque os nossos interesses é que foram ofendidos.
Tem de se ter em conta ainda o princípio do desconto dos artigos 80º, 81º e 82º CP,
aplicando-se neste caso o artigo 82º.
Em conclusão, A vai ser julgado em Portugal, vai ser aplicada a lei portuguesa e é lhe
descontada à pena em a que for condenado os meses de prisão que já tiver sofrido no Brasil à
conta do mesmo facto.
Filipa Ribeiro Gonçalves 13
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
A, português, casa com B, portuguesa, fixando residência em Condeixa. Em Agosto de
2005, de férias no Irão, A maltrata habitualmente a mulher. Os pais de B denunciam o caso ao
Ministério Público.
Em julgamento, A defende-se dizendo que, no país onde praticou os factos, o que fez
considera-se um direito do marido sobre a mulher, nunca um crime.
Terá o tribunal português jurisdição sobre a conduta de A?
O facto não foi praticado cá, mas existe conexão com a ordem jurídica portuguesa/
Portugal? Sim, tanto o agente como a vítima são portugueses. Aplica-se o princípio da
nacionalidade? Para o 5º/1/e) ou o autor ou a vítima têm de ser portugueses. Mas não importa só
o princípio da nacionalidade (quer ativa ou passiva), existem ainda requisitos suplementares - no
caso falta o requisito da dupla incriminação, pois no Irão a conduta não é crime. Todavia, artigo
5º/1/b: são só os autores a viverem a Portugal ou as vítimas também têm de viver em Portugal?
Pelo sentido literal, só o autor, o que resolve o problema de algum português fazer mal a outro
português. Mas se o autor saiu de Portugal para praticar o facto num sítio onde ele não é
considerado crime? Só é necessário que o autor seja encontrado em Portugal.
Aplicando-se a alínea b), não se aplica a e).
Neste caso, não faz sentido a questão da possibilidade de ir ser julgado no Irão ou de ser
julgado de acordo com a lei de lá, até porque o artigo 6º diz que nos casos da alínea b) do artigo
5º não se pode aplicar o regime do artigo 6º/2, o regime da lei mais favorável.
Imputação do resultado à conduta do agente
1º. Tipo doloso: há tipo objetivo e tipo subjetivo, o dolo aparece no subjetivo.
Do ponto de vista das categorias, qual a categoria que nos situamos quando falamos da
imputação do resultado à conduta? As condutas para serem consumadas necessitam de um
resultado espácio-temporalmente sindível de uma ação. Nos casos em que não há resultado, não
há consumação do crime e há casos em que há resultado, mas isso não foi obra do agente, não
se pode imputar o resultado à conduta.
Aula dia 27 de novembro de 2018
A e B, amigos de longa data, passeavam numa zona comercial do Porto quando, sem
que qualquer um deles se tivesse apercebido, C, artista de rua, munido de uma máscara de
extraterrestre, os surpreendeu e assustou.
Em virtude do susto, A veio a falecer de ataque cardíaco. Provou-se que C actuara com
o único objectivo de «divertir os transeuntes» e que há cerca de cinco anos se dedicava a esta
atividade, sem que existissem registos de quaisquer incidentes.
a) Refira-se, fundadamente, à responsabilidade jurídico-penal de C.
A que tipo corresponderá este caso? Está em causa o tipo homicídio. O queremos saber
é se houve ou não um homicídio.
A morte do senhor A deve ser imputada à conduta do senhor C?
Se C não tivesse assustado A ele não teria morrido. A atuação de C foi uma condição sem
a qual a morte de A não teria ocorrido. A isto se chama a doutrina das condições equivalentes.
Filipa Ribeiro Gonçalves 14
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
A causa é a condição sem a qual o fenómeno não se teria verificado, mas não tem de ser só uma
a condição sem a qual aquele resultado não tenha ocorrido, podem ser várias. Assim, à luz desta
doutrina, pode-se imputar a morte de A à conduta de C, pois A morreu por força da conduta de
C (que o assustou).
O raciocínio que o juiz faz aqui é de supressão mental das condições (uma a uma) para
ver sem as quais resultado se teria ou não produzido.
Há problemas: Nós podemos ir andando para trás no tempo e encontrar sempre
condições sem as quais aquele resultado não se tinha produzido. Além disso, esta doutrina não
dá para explicar os crimes de omissão e, sobretudo, não serve como base para o queremos no
DP.
Houve, então, quem quisesse normativizar o nexo causal - doutrina da causalidade
adequada ou da adequação.
C poderia prever que alguém iria morrer? Não. Se não era previsível que da conduta de C
resultaria a morte de alguém, ele teria algum incentivo para deixar de o fazer? Ele poderia
dominar aquele nexo que resultou na morte do senhor A? Não, ele não poderia evitar, nem sequer
prever. Assim, no momento em que C atua, a morte de A é algo com que ele pode contar? Não,
por força das regras da experiência comum, ou seja, não é a experiência de C (agente), mas
antes a experiência geral que a comunidade sabe e conhece por viver em sociedade. Posto isto,
as regras da experiência comum não dizem que quando uma pessoa se assusta que ela costuma
morrer.
O juízo que a doutrina da adequação faz é de saber se era ou não previsível, perante
aquela atuação, acontecer aquele evento/resultado, o que não se faz de acordo com a
experiência do agente, mas de acordo com a experiência comum, integrando alguns
conhecimentos especiais que o agente detinha (que poderiam fazer com que as regras da
experiência comum concluíssem que, com essa caraterística, a ação levaria previsivelmente a
esse resultado). Posto isto, o juiz faz um juízo ex ante, ou seja, o que interessa é o que o agente
conhece no momento da prática da ação.
Aqui o juiz faz um prognóstico. Isto significa que o juiz, que se situa num tempo posterior
ao momento do resultado, tem que viajar ao passado, colocar-se mentalmente no momento em
que o agente atuou, e aí pergunta-se se era previsível, perante a atuação do agente, que o
resultado fosse aquele. Se sim, então, segundo a doutrina da adequação, é um resultado
imputável ao agente.
Assim, segundo a doutrina da adequação, não se imputaria o resultado à conduta do
agente.
b) Suponha agora que C sabia da gravíssima insuficiência cardíaca de A.
Neste caso, quando C atua já era previsível que A morreria.
A dispara contra B, com intenção de o matar.
a) Moribundo e abandonado na estrada, B é encontrado por C que, por compaixão,
desfere dois tiros certeiros, provocando-lhe a morte imediata. Quid iuris?
Segundo a doutrina da causalidade adequada, deve-se imputar a morte de B a A? Todo o
processo desde que o agente (A) atua até que o resultado (morte de B) aconteça tem de ser
adequado, ou seja, tem de ser previsível. Assim, não se imputa o resultado A, pois não era
previsível que aparece-se C. O que se deve dizer é que houve a interrupção do nexo causal: o
Filipa Ribeiro Gonçalves 15
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
nexo de adequação/causal, que previsivelmente levaria à morte de B, foi interrompido por um
terceiro (C).
Assim, só se imputa o resultado ao agente quando durante todo o processo se mantiver
normalmente o nexo, se for todo o processo for previsível. Neste caso, não se imputa o resultado
à conduta de A. A vai ser punido apenas por aquilo que é decorrente previsivelmente da sua ação
(tentativa de homicídio), da maneira que um homem médio diria que iria acontecer, de acordo
com as regras da experiência comum diriam que ia acontecer.
b) Suponha agora que A e B viajavam num combóio e foi durante a viagem que A
alvejou B. Poucos km depois, estando B ainda moribundo, dá-se um descarrilamento e B
morre no embate. Quid iuris?
Aqui não houve um terceiro a interromper um nexo causal. B morre por efeito de um
desastre. A morte de B não vai ser imputada a A. É o mesmo que o anterior. Existe uma
interrupção do nexo causal, pois tanto faz que tenha intervido um fato humano ou natural.
A, cirurgião, com o consentimento do seu paciente, B, submete-o a uma pequena
intervenção que necessita, contudo, de anestesia geral. C, o anestesista de serviço, engana-
se na dosagem do produto anestésico, vindo B a morrer. Analisado o relatório da autópsia,
prova-se que a morte de B ocorreria igualmente caso a anestesia tivesse sido corretamente
efetuada. Na verdade, em virtude de uma raríssima enfermidade congénita — desconhecida
até do próprio — a mais ínfima quantidade de anestésico era absolutamente incompatível com
o organismo de B.
Deve ou não imputar-se o resultado morte de B à conduta de C? Justifique.
De acordo com a doutrina da adequação, o critério é o da previsibilidade. É previsível a
que a um paciente a que seja administrada com uma doze exagerada de anestesia que venha a
levar à sua morte? Sim. Assim, a conduta que levou à morte imputa-se a C.
Todavia, B morreria de qualquer modo. Para a doutrina da adequação não tem relevo,
mas há quem diga que não se deve imputar o resultado à conduta de C. Já não estamos no
domínio da doutrina da adequação, mas antes da doutrina da conexão do risco.
Era preciso corrigir alguns resultados da doutrina da adequação. A ideia é que sempre
que utilizando a doutrina da adequação e chegando à conclusão que o resultado deve ser
imputado ao agente, nesse caso, podemos duvidar. E temos de ver se há algum critério da
doutrina da conexão do risco que diga que afinal não deve ser imputado a conduta do agente ao
resultado. Há 4 critérios/princípios que podem fazer que um resultado não seja imputado ao
agente, apesar da doutrina da adequação dizer que sim:
• Princípio do risco permitido;
• Princípio do risco diminuído;
• Principio do comportamento lícito alternativo;
• Principio do âmbito de proteção da norma:
- Âmbito de proteção de norma de cuidado;
- Âmbito de proteção do próprio tipo legal;
- Auto-colocação em perigo;
- Hetero-colocação em perigo.
Filipa Ribeiro Gonçalves 16
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
Assim, se o agente atua em risco permitido, mesmo que esse risco possa levar a um
dano, a uma lesão do bem jurídico, esse resultado desvalioso não lhe vai ser imputado - mesmo
que a adequação diga que era previsível.
Estes princípios decorrem de uma formulação geral: a ideia é que, partindo do risco,
imputa-se o resultado a uma conduta do agente quando esse agente criar ou potenciar um risco
não permitido e esse mesmo risco vier a concretizar-se num resultado típico.
C criou um risco não permitido com a sua dose elevada de anestésico e esse risco
concretizar no resultado típico proibido pelo tipo legal de crime. A consideração no caso é que se
o anestesista C tivesse atuado em risco permitido, se não tivesse abusado da anestesia, B morria
mesmo assim (o que se ficou a conhecer depois do resultado ter acontecido, através da
autópsia).
Segundo o juízo ex ante (doutrina da adequação) deve imputar o resultado a C, mas a
doutrina do risco faz um juízo ex post, ou seja, só depois das coisas acontecerem, depois do
resultado ter ocorrido. No caso, ficou provado na autópsia que afinal o mesmo resultado (morte
de B) se teria produzido se C tivesse atuado em risco permitido. Seria um cuidado inútil por parte
de C. Deve se imputar o resultado a alguém quando esse alguém, se tivesse atuado licitamente
(comportamento lícito alternativo), não teria evitado o resultado? Não, parece que não é justo
punir um agente quando afinal nunca teria evitado o resultado.
Aula dia 04 de dezembro de 2018
Como resolver um caso prático:
1º Identificação do problema;
2º Resolução;
3º Fundamentação legal e doutrinal.
B ia ser atingido na cabeça por uma pedra lançada por A e C viu e numa fração de
segundo pegou numa pedra e atirou-a à pedra lançada por A de modo a desviar o curso da
pedra de modo a atingir o braço de B.
Houve um resultado de ofensa à integridade física de B, o seu braço ficou afetado.
Imputa-se o resultado ao senhor C que desviou o decurso da pedra? Se A tivesse intenção de
matar poderia imputar-se tentativa de homicídio e a C pode-se imputar a ofensa à integridade
física? Era previsível que o desvio do decurso da pedra poderia não atingir a cabeça de B,
mas atingir outra parte do corpo? Sim, de acordo com a doutrina da adequação o resultado
poderia ser imputado a C. A solução parece justa? Não. Como se justifica que aquilo que era
previsível acontecer não seja imputável à conduta de C? A ideia base da doutrina da conexão
do risco diz que se imputa o resultado à conduta de alguém quando esse alguém cria ou
potencia um risco não permitido e que esse risco se concretiza no resultado típico. O princípio
exato é o princípio da diminuição do risco. Posto isto, no caso quem criou o risco foi A, bem
como foi ele que potenciou o risco não permitido e não C. Este, por sua vez, diminui o risco.
Assim, ainda que o risco fosse proibido, C nem criou nem potenciou o risco, logo não lhe deve
ser imputado o resultado, ainda que o risco seja diminuído por C que se traduziu no resultado
ofensa à integridade física.
Filipa Ribeiro Gonçalves 17
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
Nota: A doutrina da adequação convém aplicar sempre e a doutrina da conexão apenas
se aplica quando a doutrina da adequação disser que um resultado é imputável à conduta e não
pareça que faz sentido que isso aconteça. Nesse caso, então utiliza-se um dos 4 princípios
corretivos da doutrina da conexão do risco.
A matou B no aeroporto, quando este se preparava para embarcar. O avião em que B
teria viajado caiu, não tendo havido sobreviventes. B teria, pois, morrido, mesmo se A o não
tivesse matado. Quid iuris?
Imputa-se a morte de B à ação de A ou não? A doutrina da adequação diz que sim (juízo
ex ante). Não será caso de comportamento lícito alternativo, em alternativa ao comportamento
ilícito que A teve se ele tivesse um comportamento lícito o resultado ocorreria na mesma?
Sim, se A não tivesse matado B, B morreria na mesma por desastre de avião. Foi possível ver se
B morreria na queda do avião ou não? Não, ele não estava lá dentro, não foi a queda que lhe
causou a morte. Mas se não tivesse morrido por força de A ele morreria pela queda do avião -
causalidade virtual ou hipotética. A diferença entre comportamento lícito alternativo e a
causalidade hipotética está em que o evento morte não ocorre imediatamente, ele iria ocorrer
depois - há diferença do tempo e das circunstâncias da morte.
A conduzia o seu automóvel perto de uma casa de repouso. Nessa rua — e por causa
dessa instituição — estava colocado um sinal de trânsito proibindo buzinar. Ao ver um cão
atravessar vagarosamente a rua, à sua frente, A buzinou com força. Por azar, passava nesse
momento por ali uma septuagenária que caiu, ferindo-se com alguma gravidade, devido ao
inesperado da buzinadela. Deve imputar-se o resultado ofensa à integridade física à conduta
de A?
Se fosse a doutrina da causalidade naturalista imputava-se a A o resultado, porque se não
tivesse buzinado ela não teria caído e não teria partido o braço.
Ele atuou em risco proibido, porque havia o sinal para não buzinar e ele buzinou e o
processo foi desencadeado dessa maneira sem quaisquer dúvidas. O risco que ele criou,
supondo que era previsível que a senhora de idade com a buzinadela se assuste e caia, foi o
risco que se concretizou no resultado. A doutrina da conexão do risco tem outra ideia que é
perguntar: a norma de cuidado (no caso, o sinal de trânsito) foi posta para quê? Era para as
senhoras de idade não se assustarem e não caírem? Não, o sinal está posto para não perturbar
as pessoas da casa de repouso. O que tem a ver o resultado com o âmbito de proteção da
norma de cuidado? Nada. O âmbito de proteção da norma de cuidado é apenas proteger as
pessoas da casa de repouso, não é propriamente proteger as pessoas que vão a passar na rua,
não é isto que se quer evitar. Só se imputa o resultado se ele for aquele que a norma de cuidado
quis evitar. Qualquer outro diz-se que nada terá a ver com a violação da norma de cuidado, pois
não era essa a lesão do bem jurídico que a norma queria evitar. É mais um dos princípios corretos
da doutrina da conexão do risco, é o principio do âmbito de proteção da norma. Não se imputa o
resultado à conduta do agente.
Filipa Ribeiro Gonçalves 18
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
A provoca em B um ligeiro ferimento. No centro de saúde dizem a B que se deve
vacinar contra o tétano. B recusa e morre de tétano. Deve a morte de B imputar-se a A?
Segundo a doutrina da causalidade naturalista imputar-se-ia o resultado à conduta, se A
não tivesse provocado o ferimento ele não teria morrido.
Pela doutrina da conexão do risco entre a conduta de A e ao resultado morte de B
interpõem-se a auto-responsabilidade da vítima. Não é um terceiro que se interpõem entre a
ação e o resultado, B morre porque ele próprio recusou tomar aquilo que era adequado a que o
ferimento não tivesse consequências drásticas. Não pode alguém estar sujeito ao
comportamento de outra pessoa para saber se a morte lhe vai ser imputada e nada faria prever
que ele morreria se se tivesse vacinado. Foi a responsabilidade da vítima que determinou a sua
morte e conscientemente ele sabia isso poderia acontecer. Assim, o resultado não é imputável à
conduta do agente. O risco da morte foi determinado pela própria pessoa na recusa de se
vacinar. Quando se interpõe a auto-responsabilidade de alguém então cessa a responsabilidade
de alguém que praticou a primeira ação. Estamos no princípio do âmbito de proteção da
norma, mas não se concentra na norma de cuidado, mas antes na proteção da norma
infringida.
A para receber o prémio do seguro pega fogo a uma casa de sua propriedade. Um dos
bombeiros chamados para apagar o incêndio morre ao tentar salvar uma pessoa que estava
na casa. A morte do bombeiro é ou não imputável à conduta de A?
Na causalidade naturalista é imputável. Na conexão do risco na vertente do âmbito de
proteção da norma aqui não há uma auto-colocação em perigo, o bombeiro vai apagar o fogo
porque é o seu dever. Mesmo assim pode-se imputar a morte do bombeio a A? Isto configura
um homicídio do bombeiro por parte de A? Isto cabe dentro do tipo do homicídio? Há uma
hetero-colocação em perigo consentida. A ao colocar fogo à casa acaba por colocar em perigo o
bombeio que tentará apagar o fogo, mas o bombeiro foi de livre vontade e a partir do momento
em que o bombeiro vai ao fogo ela admite a possibilidade de morrer. O perigo foi criado por A
que colocou a casa a arder, agora o bombeiro sabe que pode queimar-se, morrer, conseguir
salvar as pessoas ou não, etc. A ideia é que quando ele vai ele não está a consentir em ser
morto, mas ele próprio sabe que a sua profissão põe a vida em risco, logo isso não deve ser
imputado à conduta de A. Aquilo que A fez, não entra dentro do âmbito de proteção do
homicídio.
O senhor A que é inimigo do senhor B resolve pegar num taco de madeira e atirá-lo em
direção ao carro de B com o objeto de estragar o carro. Aconteceu que de repente veio uma
rajada de vento e o taco foi arrastado pela rajada de vento e não bateu no carro de B, mas foi
bater numa criança que estava longe e feriu-a. Será o resultado - ferimento da criança (ofensa
à integridade física) - deve ser imputado à conduta de A?
Segundo a teoria da adequação, não era previsível que um taco de madeira atirado numa
determinada direção fosse acerta numa criança que estava longe. Assim, não há imputação do
resultado à conduta.
Filipa Ribeiro Gonçalves 19
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
Aula dia 11 de dezembro de 2018
Erro é sempre uma desconformidade entre a realidade em si mesma considerada e aquilo
que eu represento na minha mente que é essa realidade (entre a mente e a realidade).
— ERRO SOBRE A FACTUALIDADE TÍPICA/SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIA DE FACTO
(artigo 16º/1 CP)
O erro mais básico em DP será o caso em que o sujeito representa e quer praticar uma
conduta lícita e afinal quando faz aquilo que queria fazer acontece um crime. Ou seja, há um
projeto lícito, mas porque o agente representa mal a realidade em si mesma considerada, a ação
resultará num resultado proibido/típico.
A é ator de teatro e participa numa peça em que ocorre a prática de um homicídio na
pessoa de outra personagem, cujo desempenho cabe a B. Sabendo disso, C tira a arma que
servia de adereço e substitui-a por outra igual, mas verdadeira e carregada. Ignorando tal
facto, durante a representação A dispara sobre B, ocasionando a sua morte. Refira-se à
responsabilidade jurídico-penal de A.
É uma questão de saber se há ou não o dolo do tipo. O dolo tem um momento intelectual
que faz parte a representação de cada um dos elementos do facto descritivo ou normativo do
tipo legal de crime, uma factualidade típica. A questão é de saber se o agente representou ou não
todos os elementos da factualidade típica. Implica que se identifique o tipo de crime em causa.
Aqui é o tipo legal de homicídio.
Supõe-se que o resultado se imputa à conduta - tipo objetivo -, agora trata-se de um tipo
subjetivo, queremos saber se há ou não dolo na conduta do agente.
Quais os elementos da factualidade típica do homicídio? Haverá eventualmente
responsabilidade de A que tinha como projeto uma representação de que colabora numa peça de
teatro e representa que dispara a fingir? Ele sabe que aquilo não é uma ação adequada a matar.
O que teria de representar se realmente tivesse vontade de matar o outro? Quais os
elementos da factualidade típica do homicídio? Quais os factos descritos no tipo? Artigo 131º
CPC: “Quem matar outra pessoa”. O que tenho de representar é uma ação adequada a causar a
morte de outra pessoa. O ator representou uma ação adequada a matar? Não, ele representou
uma ação dramática/cénica. A representou que estava a dirigir uma pistola fingida, nunca
representou que aquele ato fosse um ato de matar.
O senhor A atuou com dolo ou não? Não. Se o senhor A não tem dolo, ele não praticou
um homicídio doloso, pois falta um elemento descritivo da factualidade típica. Significa que vai
ser absolvido? Não, artigos 13º e 16º CP. Ainda tem de se ver a possibilidade de ter agido com
negligência e só se é punido por negligência nos casos previstos na lei - tem de se ir à parte
especial.
Em principio, o que se pune são condutas dolosas, para se punir uma conduta negligente
é preciso previsão legal. O artigo 131º CP, lido à luz do artigo 13º CP, refere-se ao homicídio
doloso. Mas aqui já excluímos o dolo do agente. Já o artigo 137º CP, lido à luz do artigo 13º CP,
refere-se ao homicídio negligente. Neste caso, encontramos de facto um dos casos limitados em
que se pune a conduta negligente.
Filipa Ribeiro Gonçalves 20
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
No caso, o agente agiu por negligência ou não? A negligência implica não uma
representação de uma vontade de praticar um tipo de ilícito, mas uma falta do cuidado que leva o
agente à pratica do tipo de homicídio. No caso, não há elementos para poder aferir a negligência.
Posto isto, A não será responsabilizado a título de dolo porque age em erro sobre a
factualidade típica do homicídio e, de acordo com o artigo 16º/1 CP, exclui-se o dolo. Pode ser
punido a título de homicídio negligente porque existe um tipo de incriminador de homicídio
negligente (artigo 13º CP) e terá de se ver concretamente se houve negligência por parte do
agente.
A, médico, receita a B um determinado medicamento, ignorando que B se encontra
grávida. O remédio, adequado ao tratamento de B, era, porém, abortivo, se tomado na fase
inicial da gravidez. O filho que B esperava veio efetivamente a morrer, como consequência da
presença do tal químico no sangue materno. Qual a responsabilidade jurídico-penal de A?
O que aconteceu corresponde a um tipo legal de crime? Sim, tipo de crime de aborto.
O médico atuou com dolo? É uma situação igual à anterior, mas com a diferença de
quando se averigua-se haver ou não negligência não se encontra o tipo de aborto negligente.
Quando se passa do crime de aborto para o crime homicídio? Considera-se que o
momento mais crítico/perigoso da vida intra-uterina é a altura do parto. Por isso, considera-se
que deixa de ser aborto e passa a ser homicídio quando o ato de matar o feto ocorre no princípio
do processo de expulsão do feto e no caso de cesariana no princípio de anestesia.
É um erro sobre a factualidade típica e exclui-se o dolo.
— CASOS ESPECIAIS DE ERRO SOBRE A FACTUALIDADE TÍPICA (artigo 16º/1 CP)
Nestes casos, o agente tem um projeto criminoso e, por isso, ele já tem o dolo de algum
tipo legal de crime.
- ERRO SOBRE A IDENTIDADE DA PESSOA
A decide matar B. Sabendo que este se desloca habitualmente num Nissan encarnado,
com a matrícula X, espera-o logo de manhã, à saída da garagem de sua casa. Ao ver o carro,
A dispara sobre o condutor. Horrorizado, descobre que afinal, naquele dia, era C, filho de B,
que ia ao volante. Quid iuris?
O que A pensou? Em matar B e pensou ainda que B era a pessoa ao volante, mas afinal
era filho de B (C) e foi C que morreu. Neste caso, há uma diferença entre o crime projetado e o
crime acontecido, pois na realidade dos factos, não foi B que morreu, mas C.
A poderia chegar a tribunal e dizer que nunca representou nem quis matar C e poderia
afirmar que, por isso, não tinha dolo. Do ponto de vista de A ele tinha dolo de matar B e não tinha
dolo de matar C e é isso que quer convencer o tribunal, quer convencer o tribunal que não há na
sua conduta nenhum homicídio doloso.
A errou sobre a identidade da pessoa, sobre as qualidades dessa pessoa. Como se trata
este erro? Ele teve dolo de homicídio? Sim, mesmo que ele não tenha feito o que queria (que
Filipa Ribeiro Gonçalves 21
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
era matar B). Não se deve punir por homicídio negligente, porque o dolo de homicídio estava
verificado.
Nestes casos, temos de pensar que para A é diferente matar B ou C. Do ponto de vista do
agente, o crime projetado e o realizado não têm nada a ver. E para a ordem jurídica? Como a
ordem jurídica valora a morte de B ou de C? Do ponto de vista da ordem jurídica, é indiferente
que A tenha atingido B ou C. A ordem jurídica diz “quem matar pessoa” e, à partida, as pessoas
não são diferentes. O desvalor da conduta de A é exatamente igual se tivesse matado B ou C.
Para a ordem jurídica ambas as possibilidades cabem exatamente no mesmo tipo legal, no caso,
o homicídio.
A ordem jurídica considera que A tem dolo de matar outra pessoa: A matou outra pessoa
e representou e quis matar outra pessoa; A representou e quis todos os elementos da
factualidade típica. Logo este erro não releva e não exclui o dolo. A será punido por homicídio
doloso consumado.
- ERRO SOBRE A COISA
A furtou um cinzeiro a achar que era de ouro e afinal era de lata.
Existe furto simples e furto qualificado o que depende do valor da coisa. Furtar um
cinzeiro de lata será um furto simples e furtar um cinzeiro de ouro será um furto qualificado.
Existia dolo e não há identidade típica do objeto. Ele tinha dolo de furto qualificado, mas o
que aconteceu foi dolo de furto simples.
Na realidade dos factos a ideia é que vamos ver o que aconteceu por partes: A queria
furtar um objeto de ouro e não conseguiu, A tem um projeto e pratica atos para o realizar, mas o
que ele queria não se consumou - é a tentativa. Desta conduta de A temos uma tentativa de furto
qualificado. Mas a tentativa de furto qualificado esgota o conteúdo de ilícito do senhor A? Não,
porque há a consumação de um furto que não o qualificado. Pode-se dizer que houve um crime
que realmente se consumou que foi o furto simples - furto simples consumado. Ele tem dolo de
furto simples? Não, exclui-se o dolo. A não representou exatamente os elementos da
factualidade típica do furto simples, assim o que houve foi um furto simples consumado
negligente.
A seria, assim, punido por tentativa de furto qualificado + furto simples consumado
negligente. Não havendo furto simples negligente previsto no CP, A seria apenas punido por
tentativa de furto qualificado.
Um furto qualificado integra em si o furto simples e tem mais um bocado de conteúdo de
ilícito o que torna o facto mais desvalioso. Assim, pune-se por furto simples consumado doloso.
Aula dia 18 de dezembro de 2018
- ERRO DE EXECUÇÃO
Continuação do caso “A quer matar B…”
a) Imagine agora que B ia efetivamente ao volante, mas que o tiro de A lhe saiu pouco
certeiro. O atingido não foi B, mas sim D, mulher de B, que ia sentada a seu lado. Quid iuris?
Filipa Ribeiro Gonçalves 22
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
A não acertou no objeto (pessoa) da ação. A ação era dar um tiro a B, só que desta vez o
problema não foi que A erra-se sobre a identidade da pessoa, agora o alvo que era B não foi
atingido, mas foi atingida a sua mulher (D) que ia ao lado.
Há ou não identidade típica do objeto atingido? Sim, tanto faz do ponto de vista jurídico
matar B ou D, o tipo legal preenchido é o mesmo - homicídio simples. O que interessa é que
representou e quiz matar uma pessoa.
Neste erro, num erro na execução, há sempre uma solução de concurso, ou seja, A
representou e quiz faz matar B, mas acabou por matar D. A solução de concurso será que A será
punido por tentativa de homicídio da pessoa de B em concurso com homicídio negligente
consumado de D.
F.D. diz que a solução deve ser de concurso porque nestes casos o agente (no caso, A)
não deve suportar sozinho a álea e em atenção a isso é mais justo, de acordo com as
valorizações jurídico-penais, punir sempre o agente nos casos de erros de execução pela
tentativa do que quis fazer e pela consumação negligente do que realmente aconteceu.
Este erro releva excluindo o dolo do homicídio realmente acontecido - artigo 16º/3 CP.
Mas para isso é preciso que seja tipificado o crime por negligência e é preciso além disso a
negligência.
b) Pense agora que o erro de pontaria de A teve como consequência, não a morte, mas
ferimentos graves em D?
Que tipos legais de crime temos em causa? Homicídio (o que tentou fazer) e ofensa à
integridade física (o que aconteceu).
Como se resolve? A vai ser punido por homicídio tentado na pessoa de B e por ofensa à
integridade física consumada negligente na pessoa de D.
c) E, por último, quid iuris se a bala pouco certeira de A matou apenas o cão de B, que
ia também dentro do carro.
A será punido por tentativa de homicídio de B e tentativa de maus tratos a animais
negligente (se previsto em lei).
- ERRO SOBRE O PROCESSO CAUSAL
A quer matar B. A faz um plano que é afogar B. O plano era dar uma volta com B e
passar numa ponte e empurrá-lo da ponte e as previsões de A são de que B morreria afogado.
De facto A lançou B da ponte, mas B não chegou vivo à água porque bateu com a
cabeça num pilar da ponte. A não queria matar B por traumatismo, pois não era o seu projeto.
Todavia, B morreu, produzindo o resultado que A queria.
A tem dolo de homicídio em relação a B, o que é diferente entre o crime tentado e o
consumado é que B morreu por abater com a cabeça e não por afogamento.
Filipa Ribeiro Gonçalves 23
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
Como a ordem jurídico-penal valora a discrepância? Releva ou não? Se o erro não
relevar, A vai se punido por homicídio doloso qualificado. Ao CP interessa o modo de execução
do homicídio? É um crime de execução livre, sendo-o está incluída toda e qualquer ação
adequada a provocar a morte de outra pessoa. Assim, para o tipo legal de homicídio é indiferente
como a morte é provocada, também é indiferente que seja provocada exatamente como o agente
imaginou ou não. A morte de B é uma possível concretização pelo perigo criado pelo agente
atirando-o da ponte.
No caso, a imputação do resultado à conduta está preenchida. O que nos temos de
preocupar é se o crime é de execução livre ou de execução vinculada.
- DOLUS GENERALIS
No dolus generalis o que acontece é que o agente consumou um crime com uma ação
diferente da que tinha projetado, ação essa que esteja prevista como meio de encobrimento do
dolo.
A pensou matar B à paulada e para encobrir o crime pensou colocar o cadáver num
saco e atirá-lo ao rio. Houve de facto pauladas sobre B e B ficou inanimado. Pensado que B
estava morto, A executa o resto do plano e pega no que pensava ser cadáver de B, colocou-o
num saco e atirou-o ao rio. B, que ainda estava vivo, veio a morrer afogado.
No fundo, o agente projetou duas ações: uma primeira destinada a matar B (à apulada) e
uma segunda destinada a encobrir o crime (colocaria o cadáver num saco e o atiraria ao rio).
Acontece que A tinha projetado matar B e assim aconteceu. Só que na ação em que A
tinha dolo de matar, B não morreu e quando A executou a ação que era o ato de encobrimento
do crime, foi com essa ação, com a qual já não queria matar, que afinal B acabou por morrer.
A tinha dolo de matar com a 1ª ação, mas o resultado dessa ação não foi a morte e na 2ª
ação quando tinha dolo de encobrir o crime é quando B acaba por morrer,
Há uma espécie de cruzamento de dolos e nenhum encaixa com o resultado que veio a
ocorrer.
Chama-se dolus generalis porque basta ter dolo de matar e esse é um dolo geral, ou seja,
abrange tudo o que for feito.
Posto isto, pune-se o agente por homicídio doloso consumado.
F.D. diz que basta que o resultado seja consequência daquilo que esteva previsto desde a
primeira ação. O dolo pôs em andamento o homicídio, mas as ações que estavam desde o
princípio previstas criaram previsivelmente um risco e foi esse risco que desenvolveu o resultado.
— ERRO SOBRE AS PROIBIÇÕES LEGAIS (artigo 16º/1/2ª parte CP)
O agente faz aquilo que representou fazer e corresponde exatamente à realidade, à
factualidade típica, isto significa que não houve erros. O agente está consciente do que está a
fazer, por isso não há discrepância entre a ação projetada e a ação que vem a ocorrer, só lhe
faltava a consciência de que a ação era proibida criminalmente.
Há duas categorias de normas penais/proibições: há condutas/proibições em que a
pessoa conhece a norma e há condutas/proibições em que a pessoa não conhece a norma
(tratam-se de proibições cuja norma precisa de ser conhecida pela pessoa para esta tomar
consciência de que a conduta é crime; são proibições que não são conhecidas pela generalidade
Filipa Ribeiro Gonçalves 24
DIREITO PENAL I: Práticas
Profª. Cristina Maria Costa Pinheiro Líbano Monteiro
da sociedade, pois tratam-de a representação dessas condutas não é suficiente para criar nas
pessoas e ideia de ilicitude).
F.D. chega a dizer que nestes casos a proibição é parte do tipo, ou seja, é mais um
elemento do tipo, pois sem o conhecimento dessa proibição, da consciência jurídica e dos
valores da população nunca se chegaria à conclusão de que a conduta é crime. Logo, não
podemos dizer que quem atua contra as normas sem saber que e crime está a atuar com dolo.
Quanto muito a censura será de negligência.
Filipa Ribeiro Gonçalves 25
Você também pode gostar
- Direito Penal I Raquel Silveira PDFDocumento57 páginasDireito Penal I Raquel Silveira PDFRosário QueirósAinda não há avaliações
- Direito Penal Substantivo - Ana Rita AlfaiateDocumento29 páginasDireito Penal Substantivo - Ana Rita AlfaiateVanessa ValeAinda não há avaliações
- Análise de acórdão sobre conceitos de crimeDocumento23 páginasAnálise de acórdão sobre conceitos de crimeRodrigo RibeiroAinda não há avaliações
- Teorias da pena e do Direito PenalDocumento26 páginasTeorias da pena e do Direito PenalRodrigo Oliveira da SilvaAinda não há avaliações
- Aulas Prã¡ticas DPIDocumento26 páginasAulas Prã¡ticas DPISamuel Alfredo GomesAinda não há avaliações
- O Essencial do Direito Penal: Parte Geral (Arts. 1º ao 120)No EverandO Essencial do Direito Penal: Parte Geral (Arts. 1º ao 120)Ainda não há avaliações
- Resumo Direito PenalDocumento31 páginasResumo Direito PenalJoana MoreiraAinda não há avaliações
- Fins das penas e teorias penaisDocumento12 páginasFins das penas e teorias penaisdonald trumpAinda não há avaliações
- Mnemônicos de Direito PenalDocumento6 páginasMnemônicos de Direito PenalAlan FelixAinda não há avaliações
- Direito Penal - Gabriel Habib (Salvo Automaticamente)Documento13 páginasDireito Penal - Gabriel Habib (Salvo Automaticamente)Roger José MendesAinda não há avaliações
- Resumo Das Aulas - DELTA - CERS - Direito Penal.Documento24 páginasResumo Das Aulas - DELTA - CERS - Direito Penal.Otávio LendenguerAinda não há avaliações
- Teoria Do Crime ResumoDocumento3 páginasTeoria Do Crime ResumoaugustocgnAinda não há avaliações
- Sebenta - Penal I - Esquema de Resolução de Casos Práticos - Conceito Material de CrimeDocumento10 páginasSebenta - Penal I - Esquema de Resolução de Casos Práticos - Conceito Material de CrimeCélia SanchesAinda não há avaliações
- Direito Penal Parte GeralDocumento113 páginasDireito Penal Parte GeralmatusajrAinda não há avaliações
- Direito Penal emDocumento12 páginasDireito Penal emBea OliveiraAinda não há avaliações
- Direito Penal: Disposições Preliminares e PrincípiosDocumento241 páginasDireito Penal: Disposições Preliminares e PrincípiosAlexsandro PiresAinda não há avaliações
- Tutoria Dia 15Documento6 páginasTutoria Dia 15Teresinha DiasAinda não há avaliações
- Aulas de Direito Penal: Conceitos FundamentaisDocumento101 páginasAulas de Direito Penal: Conceitos FundamentaisSophia VianaAinda não há avaliações
- Resumo Teoria Geral Da PenaDocumento44 páginasResumo Teoria Geral Da PenaJulya de FrançaAinda não há avaliações
- Apontamentos Da LusiadaDocumento25 páginasApontamentos Da LusiadaSylvia Mes'Ainda não há avaliações
- Roxin - Meu ResumoDocumento29 páginasRoxin - Meu ResumoOton AssisAinda não há avaliações
- Direito Penal I A Doutrina Geral Do CrimeDocumento13 páginasDireito Penal I A Doutrina Geral Do Crimegradus_ptAinda não há avaliações
- Teoria da Lei Penal (TLPDocumento15 páginasTeoria da Lei Penal (TLPBeatriz100% (1)
- Princípio Da Insignificância Ou BagatelaDocumento12 páginasPrincípio Da Insignificância Ou BagatelaExander FerdinandoAinda não há avaliações
- Aula 3 Princípios Limitadores Do PoderDocumento3 páginasAula 3 Princípios Limitadores Do PodercabessauropobreAinda não há avaliações
- Anotações de Aula 2 - Penal I - ABDConstDocumento5 páginasAnotações de Aula 2 - Penal I - ABDConstRicardo Maimone LaurettiAinda não há avaliações
- Definição Direito Penal e suas funçõesDocumento57 páginasDefinição Direito Penal e suas funçõescarina nunesAinda não há avaliações
- PenalDocumento27 páginasPenalmaria.eduarda.paleariAinda não há avaliações
- Dir-209 MD 20170829164556Documento8 páginasDir-209 MD 20170829164556estercrystinabd18Ainda não há avaliações
- DIREITO PENAL: FONTES E CONCEITOSDocumento226 páginasDIREITO PENAL: FONTES E CONCEITOSAlexandre BorgesAinda não há avaliações
- Direito Penal e Processual PenalDocumento177 páginasDireito Penal e Processual PenalJessé LeonelAinda não há avaliações
- Direito Penal: princípios e conceitosDocumento22 páginasDireito Penal: princípios e conceitosmarceloAinda não há avaliações
- Princípios Gerais de DireitoDocumento12 páginasPrincípios Gerais de DireitoDavid SilvaAinda não há avaliações
- Direito Penal IDocumento28 páginasDireito Penal IRaquel FerreiraAinda não há avaliações
- Justiça Restaurativa E MediaçãoDocumento44 páginasJustiça Restaurativa E Mediação9zxwrtsqvdAinda não há avaliações
- Resumo - 2609415 Erico Palazzo - 102702780 Direito Penal Parte Geral 2019 Aula 23 Teoria Do Crime Conceito de Crime PDFDocumento5 páginasResumo - 2609415 Erico Palazzo - 102702780 Direito Penal Parte Geral 2019 Aula 23 Teoria Do Crime Conceito de Crime PDFJonas AraújoAinda não há avaliações
- Crime organizado no Brasil e os meios de repressão e prevençãoNo EverandCrime organizado no Brasil e os meios de repressão e prevençãoAinda não há avaliações
- Direito Penal MilitarDocumento4 páginasDireito Penal MilitarMarcos de Souza da Silva FilhoAinda não há avaliações
- Resumo Figueiredo DiasDocumento5 páginasResumo Figueiredo DiasMarina Lopes100% (5)
- Prova de Introdução Ao Direito Penal - Passei DiretoDocumento7 páginasProva de Introdução Ao Direito Penal - Passei DiretocarlosAinda não há avaliações
- Apostila Direito Penal 1 - Parte GeralDocumento201 páginasApostila Direito Penal 1 - Parte GeralKarol SalesAinda não há avaliações
- Direito Penal Iii - 2023Documento42 páginasDireito Penal Iii - 2023Larissa Tangerino RomeroAinda não há avaliações
- Direito Penal: Conceitos Introdutórios IIDocumento5 páginasDireito Penal: Conceitos Introdutórios IIRoger José MendesAinda não há avaliações
- Direito Penal IDocumento134 páginasDireito Penal IEduarda SilvaAinda não há avaliações
- Princípios do Direito PenalDocumento15 páginasPrincípios do Direito PenalJair Ferreira JuniorAinda não há avaliações
- Definição formal e material de crimeDocumento10 páginasDefinição formal e material de crimeMariana MartinsAinda não há avaliações
- Direito PenalDocumento4 páginasDireito PenalCarlos MendesAinda não há avaliações
- Resumo Masson Penal2Documento75 páginasResumo Masson Penal2ThaísSanderAinda não há avaliações
- Direito PenalDocumento428 páginasDireito PenalAlexandre Rosa Lopes100% (1)
- Direito Penal Parte GeralDocumento298 páginasDireito Penal Parte GeralSiqueira de BarrosAinda não há avaliações
- Direito Penal Por LeandroDocumento23 páginasDireito Penal Por LeandroJoão Paulo Bisaggio - advAinda não há avaliações
- Principios Penais PDFDocumento125 páginasPrincipios Penais PDFromildo jonatas feitosa santosAinda não há avaliações
- Princípios constitucionais do direito penalDocumento16 páginasPrincípios constitucionais do direito penalAndressa SchimankoAinda não há avaliações
- Conceitos de crimeDocumento21 páginasConceitos de crimeNubia BergaminiAinda não há avaliações
- Práticas Penal I PDFDocumento44 páginasPráticas Penal I PDFMaria SaraivaAinda não há avaliações
- DIREITO PENAL - TEORIA DO CRIMEDocumento6 páginasDIREITO PENAL - TEORIA DO CRIMEmilenaAinda não há avaliações
- Desapropriação para fins de política urbanaNo EverandDesapropriação para fins de política urbanaAinda não há avaliações
- Penal 1Documento133 páginasPenal 1Rosário QueirósAinda não há avaliações
- DPI Casos Práticos Barbara GuedesDocumento45 páginasDPI Casos Práticos Barbara GuedesRosário QueirósAinda não há avaliações
- DPI - Tomás CunhasDocumento34 páginasDPI - Tomás CunhasRosário QueirósAinda não há avaliações
- Direito Família Menores-Mariana-MeloDocumento134 páginasDireito Família Menores-Mariana-MeloWormpt GiraoAinda não há avaliações
- 5 Legítima Defesa AntecipadaDocumento12 páginas5 Legítima Defesa AntecipadaFabrício Mendonça MartinsAinda não há avaliações
- Guia completo para apelação criminalDocumento3 páginasGuia completo para apelação criminalGlauber100% (1)
- Aula 2 DC - Capacidade CivilDocumento18 páginasAula 2 DC - Capacidade CivilMiquéias SilvaAinda não há avaliações
- ApelaçãoDocumento20 páginasApelaçãoOdair Pedroso dos SantosAinda não há avaliações
- Relatorio 12 - Tribunal Do Juri 1Documento3 páginasRelatorio 12 - Tribunal Do Juri 1karinavitoriatoriaAinda não há avaliações
- Reintegração de PosseDocumento6 páginasReintegração de PosseLUCAS DE CASTRO BRITOAinda não há avaliações
- Coação no curso do processo: violência e ameaça para favorecer interesseDocumento13 páginasCoação no curso do processo: violência e ameaça para favorecer interesseLuísATAinda não há avaliações
- Direito das obrigações: elementos, prestações e princípiosDocumento24 páginasDireito das obrigações: elementos, prestações e princípiosVera GonçalvesAinda não há avaliações
- Conpej - Apostila Perito Judicial - DesbloqueadoDocumento82 páginasConpej - Apostila Perito Judicial - DesbloqueadoMonica FayadAinda não há avaliações
- Teoria Geral Do Crime 02Documento4 páginasTeoria Geral Do Crime 02edutec85Ainda não há avaliações
- Introducao Ao Estudo Do DireitoDocumento110 páginasIntroducao Ao Estudo Do DireitoLitoney MatosAinda não há avaliações
- Lei Complementar #001/02 de 27 de Dezembro de 2002.: Consolidação Do Código Tributário Municipal de TaguaíDocumento129 páginasLei Complementar #001/02 de 27 de Dezembro de 2002.: Consolidação Do Código Tributário Municipal de TaguaíEngenheiro ModernoAinda não há avaliações
- Recurso contra decisão de pronúnciaDocumento5 páginasRecurso contra decisão de pronúnciaedmar-bnbAinda não há avaliações
- LiturgiaDocumento123 páginasLiturgiaDemetrius Barreto TeixeiraAinda não há avaliações
- Caso Concreto 11 Pratica Simulada I RDocumento5 páginasCaso Concreto 11 Pratica Simulada I RVitória MendesAinda não há avaliações
- Matos JorgeDocumento19 páginasMatos JorgeNéria FïgueiraAinda não há avaliações
- Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais contra fundo de investimentoDocumento14 páginasAção declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais contra fundo de investimentoNeivaldo BrunoAinda não há avaliações
- Teoria da Posse em 40Documento10 páginasTeoria da Posse em 40Wyslla Odenillo PassosAinda não há avaliações
- Habeas Data: direito à informação e retificação de dados pessoaisDocumento10 páginasHabeas Data: direito à informação e retificação de dados pessoaisDaniel JannottiAinda não há avaliações
- Curso Direito IBMEC trata ArbitragemDocumento6 páginasCurso Direito IBMEC trata ArbitragemEduardo KairallaAinda não há avaliações
- Crime e Sociedade 2020 1 PDFDocumento107 páginasCrime e Sociedade 2020 1 PDFEduardo PradoAinda não há avaliações
- Verbo Jurídico - Formulário - Impugnação Judicial de Sanção Inibitória de ConduzirDocumento2 páginasVerbo Jurídico - Formulário - Impugnação Judicial de Sanção Inibitória de ConduzirJose Manuel DuarteAinda não há avaliações
- Direito Registal e NotariadoDocumento6 páginasDireito Registal e NotariadoCiências juridicas 2017Ainda não há avaliações
- Cronograma Curso Direito 2022Documento36 páginasCronograma Curso Direito 2022A Toca da MarmotaAinda não há avaliações
- Direito ConstitucionalDocumento226 páginasDireito ConstitucionalXerox Mil GrauAinda não há avaliações
- Justiça em Rawls: liberdade, igualdade e véu da ignorânciaDocumento3 páginasJustiça em Rawls: liberdade, igualdade e véu da ignorânciaClaudia SilvaAinda não há avaliações
- A esfera político-jurídica de Kant segundo Wolfgang KerstingDocumento15 páginasA esfera político-jurídica de Kant segundo Wolfgang KerstingLuciano Duarte da SilveiraAinda não há avaliações
- LindbDocumento4 páginasLindbFelipe BRAinda não há avaliações
- Caso Sales PimentaDocumento64 páginasCaso Sales Pimentascribdscribd710Ainda não há avaliações
- Teoria Geral Dos Direitos HumanosDocumento4 páginasTeoria Geral Dos Direitos HumanosSd jurisadv - Sandra DobjenskiAinda não há avaliações